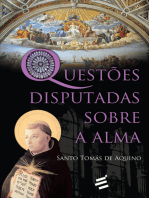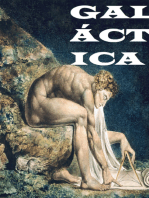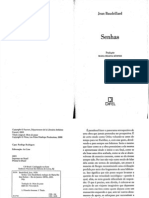Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
A desforra de Hume
Transféré par
Victor HugoTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
A desforra de Hume
Transféré par
Victor HugoDroits d'auteur :
Formats disponibles
A DESFORRA DE HUME
Renan Springer de Freitas
Alexandre Koyr sugeriu uma vez que a revoluo cientfica do sculo XVII foi a desforra de Plato. Quero sugerir que o sculo XX tem assistido a uma desforra bem menos espetacular: a do projeto naturalista de David Hume. Como sabido, a grande realizao de Hume foi ter mostrado que a inferncia indutiva no se justifica logicamente. Hume ensinou que no h conexo necessria entre os fenmenos da natureza, isto , que no h conexo necessria entre, por exemplo, beber gua e saciar a sede, ou comer e saciar a fome e, portanto, que o fato de termos tido at hoje a nossa sede saciada pela gua e a nossa fome saciada pela comida no nos autoriza a concluir que no futuro isto se repetir. Se no h conexo necessria entre beber gua e saciar a sede, ou entre comer e saciar a fome, ento no h qualquer razo especial para algum acreditar que a gua sacia a sede e a comida sacia a fome. Mas, usualmente, as pessoas acreditam nisto. Como isto possvel? Que linha de raciocnio as conduz a tais concluses? Nenhuma linha de raciocnio, responde Hume. Se as pessoas acreditam que tero a sede saciada pela gua e a fome saciada pela comida simplesmente porque se habituaram a ver uma coisa (ter a sede ou a fome saciada) seguir-se outra (beber gua ou comer). Esta resposta aponta para um paradoxo colossal: nossa capacidade de raciocinar no nos ajuda a estabelecer uma conexo entre aquilo que j experimentamos (termos sempre tido o apetite saciado por um prato de comida, por exemplo) e aquilo que ainda no experimentamos (a expectativa de ter o apetite saciado pelo prximo prato de comida) mas, no obstante, estamos sempre estabelecendo tal conexo. Embora no haja raciocnio que autorize a inferncia de que a gua sacia a sede e a comida sacia a fome, no hesitamos em procurar gua quando temos sede e em procurar comida quando temos fome. Willard Quine, em seu clebre artigo "Naturalized epistemology", pronunciou-se a este respeito dizendo que o paradoxo humiano o paradoxo humano. A tese de Hume de que vital para as pessoas acreditar naquilo em que nenhum raciocnio ou argumento pode lev-las a acreditar encerra dois convites. O primeiro, a investigar empiricamente como as pessoas vm a acreditar no que acreditam (ou a inferir o que inferem) em circunstncias determinadas. O segundo, bem mais ousado, a renunciar a qualquer projeto epistemolgico em favor de tal investigao, isto , a assumir que no h nada a ser dito a respeito do conhecimento a no ser aquilo que possa vir a resultar de alguma investigao, seja de carter sociolgico, psicolgico ou biolgico, sobre a formao de hbitos (de associar certas coisas a outras) e de crenas. Estes convites, sobretudo o segundo, constituem aquilo que no pargrafo anterior chamei de "o projeto naturalista de David Hume". A filosofia transcendental de Kant teve fora para impedir que eles viessem a ser aceitos nos sculos XVIII e XIX. Mas revelou-se impotente no sculo XX, em razo de ter tido um de seus principais pilares a idia de que s possvel perceber as coisas localizando-as no tempo e no espao da fsica newtoniana seriamente abalado com o advento da teoria da relatividade. O colapso do projeto transcendental de Kant abriu espao para o desenvolvimento de projetos alternativos, e este espao veio a ser
ocupado pelo projeto naturalista de Hume. At onde consigo perceber, os herdeiros mais importantes do naturalismo de matriz humiana so Dewey, Wittgenstein, Quine (j citado) e, obviamente, Thomas Kuhn. A trajetria do projeto naturalista de Hume um tema que mereceria um trabalho parte. Neste artigo concentrar-me-ei naquilo que considero ser a sua culminao. Refiro-me ao pragmatismo wittgensteiniano de Richard Rorty (1994), por ele prprio denominado "behaviorismo epistemolgico", e "antropologia simtrica", tambm de matriz wittgensteiniana, de Bruno Latour (1997). Bons naturalistas que so, Rorty e Latour no poderiam se furtar a uma radical rejeio da epistemologia. Ambos se concentram justamente na principal realizao da "filosofia transcendental", a saber, aquilo que o prprio Kant chamou de sua "revoluo coperniciana": a tese de que o conhecimento no resulta do modo como o mundo se apresenta aos sentidos mas, ao contrrio, do modo como a mente humana o "representa" ou o "constitui" ao organizar a experincia sensorial. Rorty rejeita esta tese por consider-la a mera culminao do projeto epistemolgico de Descartes-Locke, o qual, em razo de ser tributrio do "princpio platnico", isto , da tese de que algumas coisas podem ser conhecidas diretamente e outras no, com seu corolrio de que s conta como conhecimento o conhecimento daquilo que diretamente cognoscvel (porque s real aquilo que diretamente cognoscvel), j nasceu fadado ao fracasso. Latour, por sua vez, a rejeita por consider-la a formulao cannica da viso moderna de que h uma ciso completa entre a natureza e a cultura, ou entre a cincia e a ideologia, viso que, segundo ele, esgotou-se recentemente em decorrncia da excessiva proliferao de fenmenos que no podem ser classificados nem como naturais nem como sociais (o buraco na camada de oznio, por exemplo). A expresso "behaviorismo epistemolgico" refere-se idia de que no h nada a ser dito a respeito do conhecimento a no ser aquilo que possa vir a resultar de alguma investigao scio-histrica sobre os modos pelos quais as pessoas justificam suas crenas ou sobre os modos pelos quais elas vm a ser autorizadas a acreditar no que acreditam. De acordo com Rorty, no h muito o que escolher. Ou seguimos o "behaviorismo epistemolgico" que, em ltima anlise, remonta aos sofistas (para quem nossas certezas so uma questo de conversao entre as pessoas e no de interao com uma realidade no-humana), ou seguimos o "princpio platnico". Para a nossa infelicidade, ele continua, os filsofos optaram por este ltimo, e o resultado foi a epistemologia, esta disciplina devotada " natureza, origem e limites do conhecimento", como dizem os livros-textos. A idia de que existe uma coisa chamada "a natureza do conhecimento", passvel de ser estudada por uma metacincia, no faria sentido sem a noo de que conhecer representar acuradamente o que est fora da mente, e tal noo uma inveno do sculo XVII, mais especificamente, de Descartes e Locke. A contribuio de Descartes est em ter postulado, em conformidade com o princpio platnico de que algumas coisas so diretamente cognoscveis e outras no, que aquilo a que temos acesso imediato so as "idias claras e distintas" que Deus colocou em nossas mentes notadamente, o cogito. Ao postular que aquilo a que temos acesso imediato no outra coisa seno a nossa prpria mente, Descartes abriu caminho para a concepo lockiana do conhecimento como representao interna, isto , para a idia, inconcebvel antes do sculo XVII, de que existe "dentro" de ns um rgo imaterial, "a mente", em que "se passa" alguma "coisa" (seja uma sensao crua tal como uma dor, ou uma imagem, ou um pensamento, ou uma lembrana, ou um raciocnio etc.) de natureza mental que pode representar alguma outra coisa de natureza fsica. Descartes, segundo Rorty, abriu caminho para a (equivocada) tese lockiana de que "dentro" de ns
existe um rgo no qual "se passa", por exemplo, a imagem de um relgio capaz de representar acuradamente o prprio relgio. Se a contribuio de Descartes para o aparecimento da epistemologia est em ter inventado a noo de "a mente" como um espao interno povoado por representaes (e dotado de um "olho interno" que as inspeciona em busca de "algum sinal que testemunhe sua fidelidade" Rorty, 1994, p. 58) e, nessa medida, como o rgo que faz de cada ser humano um sujeito conhecedor, a contribuio de Locke, conforme sugeri no pargrafo anterior, est em ter procurado estabelecer uma conexo entre este rgo e o mundo externo. Como sabido, Locke acreditava que se nossas mentes so povoadas por representaes (a imagem de um relgio, por exemplo), apenas porque estas foram ali imprimidas em razo do nosso contato com o mundo. A mente, este espao interno que Descartes "esculpiu", s representa a realidade externa porque como um tablete de cera sobre o qual os objetos materiais deixam suas impresses. Como s podemos ter acesso a esses objetos atravs dos sentidos, o conhecimento a que temos acesso atravs dos nossos sentidos e no o conhecimento das "idias claras e distintas", de procedncia divina que constitui o verdadeiro conhecimento genuno, a verdadeira base de inferncia para qualquer outro conhecimento. Para a historiografia "cannica" da filosofia, Kant no pode ser posto lado a lado com Locke porque sua "revoluo coperniciana" significou uma ruptura radical com o empirismo lockiano acima descrito. Rorty, entretanto, objeta que a diferena entre eles no to significativa assim. Em um sentido bvio, Kant foi mesmo um divisor de guas: antes dele, uma inquirio sobre "a natureza e a origem do conhecimento" era uma busca por representaes internas privilegadas; com ele, passou a ser a busca pelas regras que a mente havia colocado para si mesma os "princpios do entendimento puro" (Rorty, 1994, p. 167). No obstante, continua Rorty, Kant manteve-se preso ao quadro de referncia cartesiano e, tanto quanto Locke, empenhou-se em resolver o problema de como passar do "espao interno" para o "espao externo"; isto , ambos estavam em busca daquilo que compele a mente a crer to logo trazido sua presena. Locke responde que so as qualidades primrias dos objetos. Kant responde que so os juzos sintticos a priori. As respostas so, evidentemente, diferentes mas a pergunta a mesma. E em razo de estar empenhado em dar uma resposta para esta m pergunta, s tornada possvel em razo das fantasias de Descartes, que o projeto epistemolgico do sculo XVII, do qual Kant foi apenas a culminao, j nasceu fadado ao fracasso. Quanto a Latour, este quer se livrar do kantismo por um caminho diferente, a saber, convidando-nos a estudar, empiricamente, como "actantes" determinados vm a ser conectados uns com os outros de forma a se tornarem segmentos de uma mesma "rede". Para que tal convite tenha algum interesse necessrio que algo importante emerja dessas "redes". De acordo com Latour, este "algo importante" justamente aquilo que a "revoluo coperniciana" assume como dado: o sujeito que conhece, por um lado, e a "coisa em si", qual Kant nos veda o acesso, por outro. Latour se vale do termo "actante" para se opor idia kantiana de que a atividade mental "constitui" o objeto do conhecimento. equivocado supor, ele diz, que uma faculdade humana, "a mente", est sempre "constituindo" e os objetos inertes, "no-humanos", esto sempre sendo "constitudos". No privilgio dos seres humanos "constituir" o objeto do conhecimento (seja este objeto uma chave, uma bactria, as leis que regem o movimento dos planetas ou o prprio comportamento humano). Os objetos tambm podem "constituir" o sujeito que conhece. Para tomar um exemplo do prprio Latour
(1995), no privilgio de um Pasteur "constituir" o fermento do cido ltico. Este ltimo pode tambm "constituir" o primeiro. Na verdade, no h nem sujeito nem objeto, mas apenas "actantes" em rede.1 Pasteur, seu microscpio, a bactria que ele estuda, as placas de Petri que ele utiliza para criar estas bactrias, o fermento do cido ltico, sua teoria da fermentao, so todos "actantes", e nenhum deles tem, a priori, privilgio na "constituio" do outro. Quem (ou o que) "constitui" e o que (ou quem) "constitudo" depende da maneira como cada "actante" reage ao outro em um estgio especfico de formao da "rede". E para entender como o comportamento de cada "actante" contribui para a estabilizao da rede e, por extenso, os fatos (incluindo-se a as "leis da natureza") que resultam desta estabilizao irrelevante saber se este "actante" um "humano" ou um "no-humano". Abandonemos, portanto, a "revoluo coperniciana" e concentremo-nos no estudo emprico dessas redes. Ao invs de fazermos, a exemplo de Kant, o objeto girar em torno do sujeito, faamos ambos, objeto e sujeito, girarem em torno das redes. Discutir o interesse e a pertinncia do "behaviorismo epistemolgico" envolve discutir se a crtica de Rorty ao projeto de Descartes-Locke-Kant uma boa crtica e se, de fato, na hiptese de ser mesmo este projeto o fracasso que Rorty afirma ser, qualquer projeto epistemolgico concebvel isto , qualquer esforo no sentido de dizer alguma coisa sobre o conhecimento que seja algo mais do que um relato sobre os hbitos ou sobre as crenas das pessoas est, de sada, fadado ao fracasso. Quanto "antropologia simtrica" (ou "comparada"), trata-se de discutir aonde o convite de Latour para estudar como as "redes" se estabelecem pode nos levar no mnimo, se pode nos levar concluso de que tudo o que h para ser dito a respeito do conhecimento que ele o resultado da estabilizao de certas redes por certas prticas sociais. Discutirei cada ponto separadamente. Eu no ousaria discutir os mritos de A filosofia e o espelho da natureza depois de ter lido um artigo intitulado "Philosophy and the mirror of Rorty", de Peter Munz (1987). No obstante, em conexo com o que foi exposto na seo anterior, ouso sugerir que h ainda lugar para desenvolver as seguintes teses: a) Admitindo-se que haja mesmo entre Descartes, Locke e Kant a continuidade que Rorty diz haver, e que o projeto epistemolgico comum aos trs deve mesmo ser rejeitado, a rejeio merecida em razo do carter subjetivista e justificacionista deste projeto, ao qual Rorty, no por acaso, no faz qualquer meno, e no em razo de estar este projeto empenhado em "transpor o fosso" ("bridge the gap") entre o sujeito conhecedor e o objeto do conhecimento. Rorty, importante que se diga, ancora-se em Dewey, em Heidegger e em Wittgenstein na sua opinio, os trs maiores filsofos deste sculo para decretar a impossibilidade de tal transposio. b) Ironicamente, Rorty partilha com o projeto epistemolgico do sculo XVII a referida viso subjetivista e justificacionista do conhecimento. Nos marcos desta viso, o fosso entre o sujeito e o objeto no pode mesmo ser transposto, uma vez que no h mesmo nenhum meio de saber se algo "mental" (digamos, a imagem "interna" de um relgio) representa ou espelha acuradamente algo "no-mental" (o prprio relgio). Mas disto no decorre que devamos desistir de transpor o fosso que devamos retornar aos sofistas e fazer do conhecimento uma mera questo de conversao. Rorty extraiu da idia correta de que a mente no espelha a natureza a tese equivocada de que o conhecimento no envolve nenhuma forma de espelhamento.
c) Embora, em princpio, no me parea haver nada de errado em aceitar o convite de Rorty para discutir como diferentes padres de justificao de crenas se estabelecem (no fim das contas, o "behaviorismo epistemolgico" ou o que Rorty mais tarde chama de "filosofia edificante" um convite a tal discusso), eu vejo a realizao desta tarefa como um consolo muito pobre em relao ao que a epistemologia pode oferecer, uma vez livre do subjetivismo e do justificacionismo cartesiano. d) Rorty no fez nenhum esforo para mostrar que Descartes, Locke e Kant esgotaram as possibilidades da epistemologia e que, portanto, a rejeio da epistemologia comum aos trs nos deixa o "behaviorismo epistemolgico" como a nica alternativa disponvel. e) O pragmatismo wittgensteiniano de Rorty (e o projeto naturalista de Hume de um modo geral) resulta de uma m compreenso das implicaes filosficas da teoria darwiniana da evoluo. Vou iniciar pelo item "e", o mais importante, posto que conduz, quase que automaticamente, a todos os outros. Com a tradio cartesiana-kantiana fora do caminho, Rorty est pronto para expor a concepo de conhecimento que lhe entusiasma, a de Dewey: Se temos uma concepo deweiana do conhecimento como algo em que estamos justificados em acreditar, ento no iremos imaginar que haja injunes duradouras sobre o que podemos contar como conhecimento, uma vez que veremos a "justificao" antes como um fenmeno social do que como uma transao entre o "sujeito conhecedor" e a "realidade". (Rorty, 1994, p. 24) A concepo de conhecimento como "aquilo em que estamos justificados em acreditar" a coluna vertebral da verso wittgensteiniana do pragmatismo que Rorty recomenda, isto , de seu "behaviorismo epistemolgico". No obstante, a nica razo que Rorty apresenta para recomendar esta concepo que, aceitando-a, podemos nos furtar a "imaginar que haja injunes duradouras sobre o que podemos contar como conhecimento". Concordo que sair em busca de tais "injunes duradouras" ("enduring constraints"), isto , "daqueles itens privilegiados do conhecimento" que poderiam ser considerados "a pedra de toque da verdade" (Rorty, 1994, p. 212), no um caminho promissor. Mas disto no se segue que precisamos recorrer concepo deweiana do conhecimento que Rorty recomenda. Na verdade, muito antes que Rorty investisse contra o projeto de sair em busca das referidas "injunes duradouras", sejam elas as "qualidades primrias" de Locke ou os "juzos sintticos a priori" de Kant, Popper, a quem Rorty jamais faz qualquer meno, j o havia demolido com um argumento que, curiosamente, o prprio Rorty veio a expor em seu livro, ao citar a seguinte passagem do livro Science, perception and reality, de Wilfred Sellars: [...] a cincia racional no porque tenha um fundamento, mas porque um empreendimento autocorretivo que pode colocar qualquer afirmao em risco, embora no todas de uma s vez. (apud Rorty, 1994, p. 185; grifos no original) Concordo inteiramente com tal afirmao (que Popper aperfeioaria substituindo a expresso "colocar qualquer afirmao em risco" pela expresso "submeter qualquer
afirmao crtica") mas no vejo como conciliar a idia, a meu ver absolutamente correta, de que a cincia um empreendimento autocorretivo com a idia, que Rorty recomenda, de que conhecimento aquilo em que estamos justificados em acreditar. Penso que se a cincia um empreendimento autocorretivo exatamente porque o que h de importante em relao s teorias cientficas o fato de no ser necessrio "estarmos justificados em acreditar" nelas. Necessrio, em relao a essas teorias, que sejamos capazes de critic-las, o que envolve compreender algumas de suas implicaes, derivar-lhes algumas conseqncias testveis, compar-las com outras teorias e explicar por que elas exibem a trajetria que exibem ao longo do tempo. Posto de outra forma, a idia popperiana, qual Sellars e Rorty tardiamente chegaram, de que a cincia um empreendimento autocorretivo demole no s o projeto cartesianokantiano contra o qual Rorty se insurge, mas tambm a idia por este advogada de que conhecimento tem alguma coisa a ver com crena ou com justificao de crena. Tal como a entendo, a tese de que a cincia um empreendimento autocorretivo resulta de uma aplicao do modelo biolgico darwiniano a uma teoria do crescimento do conhecimento. Darwin, como sabido, props que as espcies evoluem por meio de mutaes cegas em organismos individuais e da reteno daquelas poucas mutaes que apresentam algum valor seletivo. Por "valor seletivo" entende-se a capacidade de gerar descendentes em razo de espelhar as regularidades que de fato existem no ambiente. Popper, seguindo esta pista, props que o conhecimento avana por meio de conjecturas (o correlato epistemolgico de mutaes cegas) e refutaes (o correlato epistemolgico de reteno seletiva). "Autocorreo", nesta perspectiva, significa uma progressiva capacidade de gerar problemas novos cujas solues (isto , as conjecturas ou teorias) s merecem este nome porque encerram alguma informao verdadeira sobre o mundo. Nesse sentido, teorias espelham, ainda que precariamente, as regularidades que realmente se verificam no ambiente. Como, para Rorty, conhecimento no pode ter qualquer relao com espelhamento, ou com encerrar informao verdadeira sobre o mundo ("verdade", Rorty no cansa de repetir, ancorando-se em Sellars, em Dewey e em Wittgenstein, mesmo "a verdade" de ter tido uma pontada no estmago, apenas aquilo que nossos pares nos deixam falar sem nos contestar), eu no entendo o que significa "autocorreo" em sua perspectiva. No obstante tudo isto, Dewey conhecido por sua adeso a uma viso darwiniana do conhecimento, e Rorty, quase no fim de seu livro, em uma nota de p de pgina, o elogia justamente por ser "suficientemente naturalista para pensar os seres humanos em termos darwinianos" (Rorty, 1994, p. 356). H, entretanto, um enorme problema aqui: a recomendao de "pensar os seres humanos em termos darwinianos" incompatvel com a recomendao anterior de conceber o conhecimento como "aquilo em que estamos justificados em acreditar" porque a prpria noo de justificao, ou, para ser mais preciso, a prpria noo deweiana de que uma afirmao ou crena precisa ser justificada para contar como conhecimento uma noo pr-darwiniana, isto , uma noo anloga tese lamarckista de que aprendemos por instruo. Se seguimos a viso instrucionista de Lamarck, somos mesmo levados a ser justificacionistas, isto , somos mesmo levados a pensar que h uma justificao para, por exemplo, o fato de a girafa ter um pescoo to comprido. Diremos que isto se justifica porque o ambiente "instruiu" algumas girafas a espichar o pescoo para alcanar as folhas no topo das rvores e esta instruo foi passada s geraes seguintes. Na viso de Darwin, entretanto, o ambiente no "instrui" os organismos mas apenas viabiliza mutaes. Estas ocorrem primeiro, em abundncia, e sem qualquer justificao. Elas surgem independentemente das
caractersticas do ambiente que as viabilizaro ou no. De acordo com esta viso, o pescoo longo o resultado de uma mutao cega, injustificvel, e no de um aprendizado por instruo. Darwin diria que as girafas tm o pescoo longo porque aquelas (de uma mesma prole) que tiveram a sorte de nascer com o pescoo comparativamente longo tiveram mais chance de alcanar o topo das rvores e, portanto, foram selecionadas e viveram o suficiente para ter uma prole com as mesmas caractersticas. Nos marcos deste raciocnio, pretender justificar o pescoo comprido da girafa, ou, digamos, a corcova de um camelo to fora de propsito quanto pretender justificar uma mutao gentica e, por extenso, seu correlato epistemolgico: as teorias. Assim, se seguimos Darwin, como Popper o fez, somos levados a ver as teorias como variaes ou "mutaes" sofridas por algum corpo de conhecimento, muito poucas da quais so seletivamente retidas ao longo do tempo. Em outras palavras, se seguimos Darwin, somos levados a postular que as regularidades que realmente existem no ambiente no instruem os organismos a lidar com ele, mas refutam as informaes falsas que estes encerram a seu respeito. E, da mesma forma que tais informaes falsas podem estar presentes no formato anatmico de um organismo (um camelo que venha a nascer sem a corcova, por exemplo, estar encerrando uma informao falsa sobre o deserto), elas podem estar presentes nas teorias cientficas. Da que, mesmo admitindo, em acordo com Rorty, que a mente no espelha a natureza, no pode haver conhecimento sem alguma forma de espelhamento. Voltando ao exemplo do camelo, este "espelha" o deserto no no sentido de que se olharmos para um camelo veremos um deserto refletido ali (a nica concepo de espelhamento que o pragmatismo admite), mas no sentido de que um camelo encerra, em si, um conjunto enorme de informaes verdadeiras sobre o deserto tais como, por exemplo, a de que o deserto rido, sujeito a enormes variaes de temperatura, a tempestades de areia etc. Um camelo que venha a nascer sem encerrar tais informaes, isto , um camelo cujas caractersticas nos levasse a concluir, por exemplo, que no deserto no tem areia, no viveria o suficiente para deixar descendentes. Este camelo no seria um "espelho da natureza". O mesmo raciocnio aplica-se s teorias. Uma teoria que nos levasse a concluir que no deserto no tem areia teria tanta chance de sobreviver quanto um camelo mutante cujas caractersticas anatmicas nos conduzissem a esta mesma concluso um camelo cujas patas, por exemplo, no espelhassem o carter movedio do solo do deserto. Mas, uma teoria que nos leve expectativa de haver no deserto apenas alguns poucos osis, de a temperatura ser extremamente elevada durante o dia e extremamente baixa durante a noite, de haver tempestades de areia, e de mais uma meia dzia de coisas verdadeiras sobre o deserto teria tanta chance de sobrevivncia quanto esses simpticos e saudveis camelos que vemos pela televiso. Tal teoria seria um espelho do deserto, no um espelho to bom quanto um camelo, admito, mas um espelho ainda assim. Antes de ir adiante, devo um esclarecimento. O leitor est mais do que justificado em objetar que entende bem o que seja um camelo sobreviver mas no entende o que seja "uma teoria sobreviver". Devo logo dizer que isto nada tem a ver com haver pessoas convencidas de sua validade. Com o que tem a ver ento? Ningum melhor do que Albert Einstein para responder: tem a ver com ser capaz de indicar o caminho para uma teoria mais abrangente, na qual possa continuar a viver como um caso-limite. Se, por exemplo, a fsica newtoniana est ainda viva, no por continuar a ser ensinada aos estudantes secundaristas, ou porque os engenheiros ainda se valem dela para fazer seus clculos, mas em razo de ser um caso-limite da fsica einsteiniana, para a qual ela
prpria abriu o caminho. Nesta perspectiva, uma teoria pode "estar viva" ainda que ningum mais acredite nela, e pode "estar morta" ainda que tenha uma legio de adeptos. Feito o esclarecimento, retomo a discusso. Se se admite que o conhecimento envolve alguma forma de espelhamento, e que isto s pode ser compreendido com a ajuda de Darwin, ento, "pensar os seres humanos em termos darwinianos" envolve, sobretudo, e exatamente ao contrrio do que Rorty sugere, admitir que o fosso entre o sujeito que conhece e o objeto do conhecimento pode ser transposto.2 Se, no obstante, Rorty nega to enfaticamente a possibilidade de tal transposio porque, uma vez tendo ele associado conhecimento a justificao de crena, nada mais lhe restou a discutir a no ser se a justificao um "fenmeno social" ou uma "transao entre o sujeito conhecedor e a realidade". Como, obviamente, a justificao um fenmeno social, porque envolve sobretudo obter o assentimento dos nossos pares, ento o caminho ficou livre para o seu "behaviorismo epistemolgico": se a justificao no uma "transao entre o sujeito conhecedor e a realidade", e se a justificao o que importa, ento esqueamos a "transao entre o sujeito conhecedor e a realidade". Rorty fez bem em ignorar Popper, e teria feito melhor se tivesse tambm ignorado Darwin, porque o que ambos nos convidam a dizer exatamente o oposto: se a justificao no uma "transao entre o sujeito conhecedor e a realidade", e se o que importa tal "transao", ento esqueamos a justificao ou, se no der para esquecer, que a tomemos pelo o que : um frustrante prmio de consolao. Mas, como tornar tratvel a "transao entre o sujeito conhecedor e a realidade" sem nos envolver com os problemas comuns a Descartes, Locke e Kant, os quais, bem ou mal, Rorty apontou? Popper tem um palpite: substituindo-se a concepo subjetivista de conhecimento comum a esses trs autores (e, diga-se de passagem, comum a Rorty tambm), segundo a qual conhecimento aquilo que as pessoas sabem ou supem saber Maria sabe que est com dor de dente, Pedro sabe que o fmur o maior osso do corpo humano, Galileu sabe que a Terra gira em torno do Sol, Darwin sabe que o homem e o macaco tm um ancestral comum , por uma concepo objetivista do conhecimento, segundo a qual no importa Pedro, Maria, Galileu ou Darwin mas, sim, a trajetria exibida, ao longo do tempo, pelas informaes encerradas em proposies tais como "estar com dor de dente", "o fmur o maior osso do corpo humano", "a Terra gira em torno do Sol" ou "o homem e o macaco tm um ancestral comum" (Popper, 1992). Para desenvolver essa idia de que uma viso objetivista do conhecimento pode nos ajudar a transpor o fosso que Rorty decretou intransponvel, vou retomar uma tese crucial de Rorty, a de que a epistemologia tomou o caminho errado ao se incomodar com a pergunta do ctico epistemolgico, qual seja: como saber se nossas representaes internas so acuradas? Esta, h de se admitir, mesmo uma m pergunta. A questo, entretanto, est em saber por que esta uma m pergunta. De acordo com Rorty, porque encerra o pressuposto de que existe algo como "a mente", que "representa" a realidade de forma mais ou menos "acurada", e, em decorrncia, que nossas crenas resultam de um "confronto" com a realidade, e no de uma "conversao" com nossos pares. Na viso de Popper, em contraste, esta uma m pergunta porque, em razo de encerrar uma viso subjetivista do conhecimento, remete discusso, irrelevante, sobre se as nossas crenas derivam da "conversao" com os nossos pares ou de nosso "confronto" com o mundo. Popper, como sugeri acima, pensa que h coisa mais importante a fazer em relao a afirmaes como "estar com dor de
dente", "o fmur o maior osso do corpo humano", "a Terra gira em torno do Sol" etc. do que discutir como pessoas determinadas vm a ser autorizadas a acreditar em tudo isto em circunstncias determinadas. Retorno a este ponto oportunamente. Por ora devo dizer que a preocupao humiana em discutir se as nossas crenas decorrem das nossas faculdades cognoscitivas ou da nossa vivncia social to central para Rorty que, em ltima anlise, aquilo que ele considera ser o principal defeito do "princpio platnico" e, como corolrio, de todo o projeto epistemolgico do sculo XVII que o resgatou ter suposto que nossas crenas decorrem das nossas faculdades cognoscitivas. Em outras palavras, se, para Rorty, a tradio cartesiana-kantiana fracassou sobretudo por ter sido incapaz de explicar corretamente a origem das nossas crenas. A passagem abaixo mostra isto com excepcional clareza: Estar marcado pelo carter especial da verdade matemtica to parte do "pensar filosoficamente" que difcil livrar-se da fora do Princpio Platnico. Se, entretanto, pensamos na "certeza racional" como uma questo mais de vitria na argumentao que de relao com um objeto conhecido, devemos olhar antes na direo de nossos interlocutores do que na de nossas faculdades para a explicao do fenmeno. Se pensamos em nossa certeza sobre o Teorema Pitagrico como nossa confiana, baseados em experincia com argumentaes sobre tais assuntos, que ningum ir encontrar uma objeo s premissas das quais o inferimos, ento no devemos procurar explic-lo pela relao da razo com a triangulidade. Nossa certeza ser antes uma questo de conversao entre pessoas que uma questo de interao com uma realidade no humana. (Rorty, 1994, p. 163) Nota-se, de imediato, a estreiteza das opes que Rorty oferece: ou olhamos para as nossas faculdades, ou olhamos para os nossos interlocutores. Rorty no vislumbra uma terceira possibilidade: a de olharmos para a trajetria que os produtos do nosso pensamento, isto , nossas conjecturas exibem, procurando entender por que eles exibem a trajetria que exibem. Nesse sentido, o exemplo do Teorema de Pitgoras vem a calhar. Enquanto Rorty est preocupado em saber o que nos d o direito de acreditar que este teorema verdadeiro, um autor como, digamos, Whitehead (1953, pp. 42-43) empenhou-se em mostrar o que foi feito do pensamento de Pitgoras ao longo do tempo. Isto o levou a traar uma linha direta de Pitgoras a Einstein. Einstein, ele explica, tributrio da idia pitagrica de que a forma da figura uma entidade matemtica impura, pois tal idia fundamental para a tese de que fatos fsicos tais como a gravitao devem ser reconstrudos como revelaes de peculiaridades locais de propriedades espao-temporais. Se insistirmos, como o faz Rorty, em vincular a pergunta "como transpor o fosso entre ns e o Teorema de Pitgoras?" pergunta "o que determina (ou o que autoriza) a nossa crena neste teorema?" vamos inevitavelmente descobrir que a nossa crena determinada por uma forma peculiar de conversao entre ns e nossos mestres e colegas e, em decorrncia, chegar concluso de que o fosso intransponvel. Mas, se vincularmos essa mesma pergunta pergunta que a concepo objetivista de Popper nos convidaria a fazer, qual seja, como possvel haver um vnculo entre o referido teorema e um conjunto enorme de proposies formuladas posteriormente, dentre elas a proposio einsteiniana de que a gravitao deve ser reconstruda como uma revelao de peculiaridades locais de propriedades espao-temporais, ento poderemos ter alguma esperana de estar transpondo o fosso entre ns e o Teorema de Pitgoras. Isto nos traz
de volta a um ponto que anteriormente s pude mencionar. Rorty tem razo quando diz que a mente no espelha o mundo. Mas isto no significa que o conhecimento no envolva alguma forma de espelhamento. Se a mente no espelha o mundo, os produtos objetivos da mente podem faz-lo. Se a mente de Pitgoras no espelha o mundo (ela apenas produz conjecturas em abundncia, como qualquer outra mente), o pensamento pitagrico, este clebre habitante do mundo 3 popperiano, o faz, na medida em que abre caminho para um pensamento mais abrangente no qual pode viver como um caso particular. Assim, se tomamos o Teorema de Pitgoras como exemplo, trs perguntas bem diferentes podem ser feitas. A do ctico: como saber se este teorema verdadeiro? A do pragmatista: como explicar a crena das pessoas em seu carter verdadeiro? A de Popper: o que torna possvel uma continuidade entre este teorema e todo um conjunto de proposies formuladas posteriormente? Rorty anunciou a morte da epistemologia porque a identificou com um esforo no sentido de responder primeira pergunta. Mas, desde a publicao de A lgica da pesquisa cientfica, cuja verso original apareceu, salvo engano, em 1934, a epistemologia no precisa ser identificada com tal esforo. Uma vez livre do justificacionismo e do subjetivismo, ela pode se ocupar da terceira pergunta. Ela pode se perguntar, como Popper o faz, bom leitor (e interlocutor) de Einstein que , como uma teoria vem a abrir caminho para teorias mais abrangentes dentro das quais pode viver como um caso particular. E, caso o empenho em responder tal pergunta venha a se frustrar, a pergunta naturalista dos pragmatistas (como as pessoas justificam suas crenas?) est sempre mo. Podemos sempre nos empenhar em respond-la, sem que por isto tenhamos de pensar que no h mais nada a fazer da mesma forma que um cego pode recorrer a uma bengala sem que por isto tenha de pensar que no existe o sentido da viso. A bem da verdade, Rorty no se descuidou de perguntas referentes trajetria de idias ou teorias. Afinal, boa parte de seu livro um esforo no sentido de explicar como o "princpio platnico" veio a culminar na "revoluo coperniciana" de Kant ou mesmo no "consenso neokantiano" do sculo XIX. Por outro lado, posto que o que h de comum a Plato e a Kant a crena na existncia de fundamentos ltimos de validao do conhecimento, isto , na existncia de entidades particularmente "talhadas" para um conhecimento de primeira mo, passvel de ser tomado como premissa a partir da qual o conhecimento de outras entidades pode ser inferido, e sem a qual este conhecimento posterior pode ser considerado sem fundamento, Rorty, bom pragmatista que , empenhou-se em explicar a origem desta crena. Em ambos os casos, quero argumentar, o resultado foi um darwinismo mutilado ou mesmo um pr-darwinismo. A viso darwiniana, conforme j mencionei e amplamente sabido, postula a existncia de dois mecanismos evolucionrios complementares: a mutao, que acidental, e a reteno seletiva de determinadas mutaes. No darwinismo de Rorty, entretanto, s h lugar para os acidentes. Como, por exemplo, o "princpio platnico" veio a culminar no neokantismo? Por uma acumulao de erros, responde Rorty. O "princpio platnico" , em si, um erro, ao qual posteriormente se somou outro erro, a "inveno" de "a mente" por Descartes, que posteriormente se juntou a mais um erro, o de Locke (que equivocadamente sups ser possvel haver uma conexo entre "a mente" e o mundo externo), que, por sua vez, conduziu a mais um erro, o de Kant, que equivocadamente sups ser possvel "transpor o fosso" entre a mente e o mundo, postulando a existncia de conceitos capazes de organizar, a priori, a nossa intuio sensorial. Finalmente, o
neokantismo do sculo XIX deu a este erro uma nova feio ao buscar na linguagem, em substituio aos conceitos abstratos que povoam a mente humana, a conexo entre o sujeto conhecedor e o mundo. Nesse sentido, o neokantismo "o produto final de um desejo original de substituir confrontao por conversao como o determinante de nossa crena" (Rorty, p. 169; grifos no original). Como pde tantos erros serem acumulados sem que nada se viesse a aprender com eles (nos marcos de uma viso darwiniana isto seria inconcebvel!), e por que foram esses erros, e no quaisquer outros (o naturalismo humiano, por exemplo), que, digamos assim, "fizeram a histria" da filosofia moderna? Se bem entendi o argumento de Rorty, sua resposta seria a seguinte: os erros acima puderam no s prosperar como, tambm, "fazer" a histria da filosofia moderna porque esto enraizados em uma certa metfora para falar sobre o conhecimento, uma metfora grega que equivocadamente associa conhecer a perceber visualmente, a metfora ocular (ou perceptual) que, no obstante ser imprpria (uma metfora apropriada seria aquela que associasse conhecer a justificar crenas junto aos pares, e no a perceber visualmente), conta com o aval da cultura ocidental. Existe, em princpio, um leque variado de metforas para falar sobre o conhecimento (podemos, por exemplo, associar conhecer a "esmagar algo com os ps" ou a alternativas ainda mais interessantes, que o leitor de Rorty pode achar na pgina 51 de seu livro), mas, para o nosso azar, "a imaginao dos fundadores do pensamento ocidental" veio a ser "capturada" pela referida metfora ocular ou perceptual. Posto que a "mente ocidental" veio a ser dominada por esta metfora infeliz, qualquer noo filosfica que nela esteja enraizada , no importa quo imprpria, uma serssima candidata posio de noo filosfica dominante. Ora, no h nada to enraizado na metfora ocular quanto a idia de "olho da mente" de Descartes, ou a distino, vital para a "revoluo coperniciana" de Kant, entre intuies e conceitos. Portanto, so estas as noes que fizeram a histria da filosofia moderna. Ao oferecer esta resposta Rorty acaba por responder, por implicao, pergunta que todo bom pragmatista tem a obrigao de se empenhar em responder: o que d aos filsofos modernos o direito de acreditar na existncia de fundamentos ltimos de validao do conhecimento, isto , de algum conhecimento que esteja acima de qualquer necessidade de justificao? Resposta: o fato de terem tido suas "imaginaes capturadas" pela metfora ocular. Na medida em que os ocidentais se habituaram a tomar a percepo visual como um modelo para falar sobre (ou mesmo para conceber) o conhecimento, eles passaram a pensar que, da mesma forma que no possvel duvidar daquilo que o olho do corpo v, tambm no possvel duvidar daquilo que o "olho interno" v (das sensaes cruas aos axiomas da geometria) e, portanto, que a verdade daquilo que o olho v (seja o olho propriamente dito ou o "olho interno") se impe de forma to absoluta que nenhuma justificao adicional se faz necessria. Podemos agora compreender por que o esforo de Rorty para explicar, por um lado, como o "princpio platnico" culminou na "revoluo coperniciana" e, por outro, a crena dos filsofos modernos na idia de fundamentos ltimos do conhecimento o resultado de um darwinismo mutilado, isto , de um darwinismo que enfoca os acidentes mas desconhece o mais importante: o processo seletivo que retm alguns desses acidentes. Para Rorty, tanto a sucesso de erros que culminou em Kant quanto a crena dos filsofos modernos na existncia de fundamentos do conhecimento decorrem exclusivamente de um acidente, qual seja: o fato de terem os ocidentais optado, "sem qualquer razo especial", por uma maneira peculiar de falar sobre o conhecimento a
metfora ocular. Se a discusso de Rorty sobre a metfora ocular fosse informada por uma viso genuinamente darwiniana do conhecimento ele no teria apontado nesta metfora os efeitos danosos que apontou, nem a teria visto como um mero acidente. De acordo com Rorty, so dois os efeitos danosos da metfora ocular. O primeiro o de nos levar a supor que nossas crenas derivam do fato de termos sido trazidos diretamente presena do objeto da crena "a figura geomtrica que prova um teorema", por exemplo, como ele diz na pgina 169. O segundo o de nos levar a crer que somos capazes de apreender universais, isto , que da mesma forma que o olho humano registra a presena de entidades singulares tais como este ou aquele sapo, a mente humana registra aquilo que seria prprio de "o sapo". Quero argumentar que a metfora ocular inocente em relao primeira acusao e que embora talvez seja mesmo "culpada" em relao segunda, no h nada nem de acidental nem de danoso em relao a isso. Vejamos cada acusao por vez. No que concerne primeira, o prprio exemplo de Rorty a prova da inocncia da metfora ocular: ao contrrio do que ele afirma, figuras geomtricas no provam teoremas. Quem pensa que uma figura geomtrica prova um teorema no uma vtima da metfora ocular, um ignorante em matemtica. Se recorremos a uma figura geomtrica para demonstrar um teorema por uma limitao cognitiva (que um computador, por exemplo, no tem), perfeitamente explicvel em termos evolucionrios, e no porque somos subservientes (segundo Rorty, arbitrria) prescrio cultural de que no podemos duvidar do carter verdadeiro daquilo que imediatamente trazido nossa presena. Em outras palavras, se recorremos viso para compensar nossa incapacidade de abstrair alm de um certo ponto nossa incapacidade, por exemplo, de entender o que seja um tringulo retngulo sem "sermos trazidos presena" da figura de um tringulo retngulo no porque a "mente ocidental" veio a ser "dominada" por uma metfora infeliz, como sugere o darwinismo mutilado de Rorty, mas porque o papel da viso na evoluo humana fundamental, como explica, por exemplo, Jacob Bronowski em seu livro As origens do conhecimento e da imaginao. De acordo com Bronowski (1997), somos, sim, cativos da metfora do olho interno no por um acidente, mas pela razo muito simples de que nossas atividades intelectuais so enormemente condicionadas quilo que o olho humano pode e quilo que o olho humano no pode fazer. Nessa perspectiva, o efeito importante de sermos "trazidos frente a frente a um determinado objeto" no , como sugere Rorty, o de acreditar neste objeto mas, sim, o de nos tornarmos capazes de criar imagens na mente, isto , de imaginar (o prprio uso deste verbo mostra quo cativos somos da metfora ocular) aquilo que no pode ser literalmente trazido nossa presena. Em ltima anlise, o livro de Bronowski mostra que Rorty rejeita a metfora ocular por imputar-lhe uma culpa que ela no tem. Rorty a rejeita por pensar que ela nos induz ao erro de supor que a percepo responde diretamente pelas nossas crenas. Mas no este o efeito desta metfora. Seu efeito no nos levar a acreditar em "idias claras e distintas", Descartes, ou em "qualidades primrias", Locke, ou em verdades necessrias, Kant, mas, sim, o de estabelecer um nexo entre a nossa capacidade de perceber visualmente e a nossa capacidade de imaginar aquilo que no possvel perceber visualmente. Em resumo, a metfora ocular nos ajuda a entender que o que h de importante em relao percepo visual no , como sugere Rorty, o fato de ela nos conduzir a algum tipo de crena equivocada mas, sim, o de viabilizar a nossa imaginao. O segundo crime da metfora ocular , segundo Rorty, o de no subscrever o nominalismo sellarsiano que ele recomenda, isto , o de nos levar a supor que quando
temos, por exemplo, uma sensao dolorosa "reconhecemos" uma certa entidade singular, "a dor", qual nosso "olho interno" foi previamente "apresentado" (algo anlogo a reconhecer algum que nos foi previamente apresentado), ao invs de nos levar a supor, como o nominalismo de Sellars nos convidaria a fazer, que a dor no mais que um nome ao qual as pessoas recorrem, sem que seus pares as contestem, para descrever um estado particular de sensao dolorosa. Penso que esta acusao a metfora ocular pode assumir sem qualquer sentimento de culpa. Aps o advento da teoria da evoluo por seleo natural difcil entender que algum possa pensar que seja obra do acaso, ou da ignorncia dos gregos, a suposio de que existe algo alm deste ou daquele sapo, ou desta ou daquela sensao dolorosa. A menos que a idia de evoluo por seleo natural seja insustentvel, no h nada de errado em postular que conhecer envolve "reconhecer" em entidades singulares particulares um universal "previamente conhecido", pois o referido "reconhecimento" um mecanismo seletivo fundamental. Em outras palavras, Darwin mostrou que Plato no estava to enganado quanto Rorty supe: conhecer envolve mesmo "reconhecer" algo a que fomos previamente "apresentados". Uma galinha "conhece" um gro de milho na medida em que capaz de "reconhecer" em um gro de milho uma instncia do universal "o milho". Uma galinha incapaz de tal "reconhecimento" comeria, se tanto, o primeiro gro de milho. Ela no comeria o segundo, pois no teria como "saber" que o segundo , tambm, um gro de milho. Ela ento morreria de fome. Assim, uma galinha que no apreende o universal "o milho" no selecionada para a procriao. Eu no sei se a metfora ocular de alguma forma responsvel pela nossa suposio de que somos capazes de apreender universais, mas, se for, isto no algo do que ela precisa se envergonhar. Se Rorty a condena por isto apenas porque, apesar de elogiar o (alegado) naturalismo darwiniano de Dewey, raciocina como se Darwin jamais tivesse existido. A maior evidncia de que, para Rorty, Darwin nunca existiu est em sua recomendao de que os filsofos devam se "limitar a apontar estados de coisas particulares" (Rorty, 1994, p. 51), ao invs de apontar as regularidades a que esto sujeitos estes estados particulares. Ele recomenda que nos limitemos, por exemplo, a falar de pessoas sentindo dor, ou de pessoas tendo crenas, ao invs de falar da dor e de crenas. Isto remete diretamente "antropologia simtrica" de Bruno Latour. No sei se Latour j leu Rorty, mas ele segue risca o conselho de que devemos nos "limitar a apontar estados de coisas particulares". Para ele no existe o vcuo, um de seus temas favoritos, mas apenas Boyle, Hobbes, a bomba de vcuo e outros "actantes" "falando" sobre o vcuo (no modelo semitico de Latour cada "actante" "fala" sua maneira mas, no obstante, "fala" Latour, para a alegria de Rorty, parece no ser cativo da metfora ocular mas, talvez, do que pudesse ser denominado "a metfora oral"), no existe o fermento do cido ltico, mas apenas Pasteur e outros "actantes" "falando" sobre o fermento do cido ltico, e no existe o buraco na camada de oznio, mas apenas cientistas e outros "actantes" "falando" sobre o buraco na camada de oznio. A "antropologia simtrica", assim chamada por recomendar que o antroplogo estude no s as culturas mas tambm "as naturezas" (no plural),3 , segundo o prprio Latour, uma generalizao do chamado "princpio da simetria", de David Bloor. Este "princpio" a mais pura expresso do naturalismo humiano. Bloor est preocupado em saber se o que determina nossas crenas so as nossas faculdades cognoscitivas ou a nossa vivncia social. Sua resposta, evidentemente, a de que a nossa vivncia social. Assim, h pessoas, como o meu caso e, suponho, tambm o do leitor, que acreditam que o homem chegou Lua. H outras que no acreditam nisto. Diante deste exemplo, o
"princpio da simetria" prescreve: "no suponha que a crena na chegada do homem Lua seja o resultado da nossa capacidade de raciocinar e que a descrena, o erro, seja o resultado de certas formas de insero na vida social. Tanto a crena quanto a descrena resultam de formas determinadas de convvio social. Estude, portanto, estas formas de convvio. Em resumo, procure a explicao para a crena no mesmo lugar em que voc procuraria a explicao para a descrena, a saber, naquilo em que as pessoas se habituaram a acreditar (ou a no acreditar) em razo de viverem nas sociedades em que vivem." Para Latour, este "princpio" no de todo satisfatrio porque no "simtrico" o suficiente. Ele parte da distino entre natureza e cultura (ou sociedade) e concede segunda um injustificvel privilgio sobre a primeira. Em outras palavras, Bloor rejeita a idia de que existe uma realidade "l fora" ("out-there") que explica nossas crenas mas aceita a idia de que existe uma cultura "l fora" capaz de faz-lo. Vamos corrigir isto, prope Latour. No existe nem uma natureza nem uma cultura "l fora" nos conduzindo a acreditar no que quer que seja. A prpria dicotomia natureza/cultura uma inveno dos modernos uma inveno, diga-se de passagem, com os dias contados. O que existe, sempre existiu, e sempre existir, em qualquer lugar, so "actantes" em rede,4 exercendo certos efeitos uns sobre os outros, e tanto a natureza (isto , tudo aquilo que considerado "natural"), quanto a cultura (isto , tudo aquilo que considerado "cultural"), quanto a separao (ou a no separao) entre elas so o resultado da maneira peculiar pela qual certas redes so traadas em certas circunstncias. Tudo o que temos a fazer , ento, estudar essas redes empiricamente. Mas, aonde o convite de Latour para "estudar empiricamente" as redes pode nos levar? Receio dizer que a nada muito importante, e nada melhor do que os prprios exemplos de Latour para mostrar isto. Na pgina 9 de Jamais fomos modernos Latour informa que seu amigo Mackenzie "desdobrou toda a Marinha americana e mesmo os deputados para falar dos giroscpios"; seu outro amigo, Callon, "mobilizou a EDF e a Renault, assim como grandes temas da poltica energtica francesa, para compreender as trocas de ons na ponta de um eletrodo"; outro amigo, Hughes, "reconstruiu toda a Amrica em torno do fio incandescente da lmpada de Edison". Na pgina seguinte ele explica aonde seus caros amigos chegaram. Mackenzie: "a organizao da Marinha americana ser profundamente modificada pela aliana feita entre seus escritrios e suas bombas". Callon: "A EDF e a Renault se tornaro irreconhecveis de acordo com sua deciso de investirem na pilha de combustvel ou no motor a exploso". Hughes: "A Amrica no ser a mesma antes e depois da eletricidade". Talvez esses no sejam bons exemplos. Vejamos ento o estudo que o prprio Latour considera a base da sua "antropologia simtrica", um livro de Steven Shapin e Simon Schaffer, de 1985, intitulado Leviathan and the air-pump. Esse livro procura mostrar como, na segunda metade do sculo XVII, os cavalheiros da Royal Society de Londres vieram a se convencer de que possvel existir um espao sem ar o vcuo. Algum que nunca tenha lido Quine ou Bloor diria que Boyle, o inventor da bomba de vcuo, convidou esses cavalheiros a testemunhar o funcionamento de sua bomba e, ao mostrar que a bomba funciona, os convenceu. Como Shapin e Schaffer leram Quine e Bloor, eles argumentam que no bem assim. Obter o assentimento desses cavalheiros, eles dizem, envolveu muito mais do que convid-los a testemunhar o funcionamento de uma bomba no caso, a testemunhar um pssaro morrendo asfixiado em um recipiente transparente da bomba, cujo ar foi succionado. Para que os referidos cavalheiros se
convencessem foi necessrio que viessem a abandonar certas convenes e a aderir a outras. Eles tiveram de deixar de "jogar o jogo" do racionalismo cartesiano, segundo o qual s conta como conhecimento aquilo que pode ser deduzido de axiomas cuja validade est acima de qualquer dvida, e passar a jogar outro jogo, o da cincia experimental, cujas convenes reservam para o experimento a to aspirada condio de fonte segura do conhecimento. Os autores mostram, ento, como tal passagem se deu. Embora eu no tenha objeo a nada disto, penso que o referido livro um tiro na gua. Os autores fizeram um esforo fora do comum para mostrar como o vcuo veio a ser aceito como um fato experimental bem estabelecido (um "matter of fact") isto , para mostrar que a aceitao do vcuo como um fato incontestvel no foi e nem poderia ser uma mera questo de render-se s evidncias, mesmo porque a prpria noo de que alguma coisa conta como uma evidncia de alguma outra coisa , em si, contingente a circunstncias sociais determinadas mas no discutiram se a cincia depende de fatos experimentais bem estabelecidos. Eles simplesmente supuseram que depende e, nisto, erraram completamente. A cincia no depende de fatos experimentais (bem ou mal estabelecidos), mas de problemas e de teorias. Nada melhor do que recorrer a Alexandre Koyr para ilustrar isto. Suponhamos que algum historiador quisesse mostrar como as pessoas vieram a se convencer de que h mesmo manchas no Sol (algo inconcebvel at o sculo XVII, porque, at ento, aceitar que o Sol tem manchas seria duvidar da perfeio divina). Ele certamente iria descobrir que a aceitao de que h manchas no Sol no foi uma mera questo de olhar para o Sol atravs do telescpio de Galileu mas foi, sobretudo, uma questo de aderir a certas convenes em detrimento de outras. Este historiador poderia escrever um livro inteiro mostrando como tal processo se deu, isto , mostrando como o uso do telescpio se generalizou (da mesma forma que Shapin e Schaffer se empenharam em mostrar como o uso da bomba de vcuo se generalizou) e como a comunidade cientfica veio, no fim das contas, a aceitar que o telescpio uma fonte confivel de conhecimento e, por extenso, que h mesmo manchas no Sol. Entretanto, tudo isto no seria mais que uma curiosidade se o autor no discutisse em que a feio que a cincia moderna veio a assumir dependeu da aceitao do telescpio como uma fonte "autorizada" de conhecimento e do "fato bem estabelecido" de que h mesmo manchas no Sol. Ao contrrio deste hipottico historiador, cuja hipottica obra bem poderia ser a fonte de inspirao do citado livro de Shapin e Schaffer (estes dois, a exemplo do nosso hipottico historiador, jamais discutiram em que a feio que a cincia moderna assumiu dependeu da aceitao da bomba de vcuo como fonte autorizada de conhecimento e/ou do "fato bem estabelecido" de que o vcuo existe), Koyr empenhou-se em fazer tal discusso. Em sua obra monumental ele mostrou que a marca da revoluo cientfica do sculo XVII no , como usualmente se supe, o telescpio de Galileu, que mostrou as manchas do Sol e os anis de Saturno,5 mas, sim, a lei da inrcia, cuja formulao jamais dependeu de qualquer matter of fact, de qualquer fato experimental bem ou mal estabelecido, mas, sim, da substituio, operada por Galileu, do espao concreto de Aristteles pelo espao abstrato da geometria euclidiana.6 A obra de Koyr, na medida em que mostra que a cincia no depende de matters of facts, esvazia a hipottica discusso do referido hipottico historiador sobre como os cientistas vieram a acreditar na existncia de manchas no Sol e, por implicao, a discusso de Shapin e Schaffer sobre como a comunidade cientfica veio a acreditar na existncia do vcuo ou vem a acreditar na existncia de matters of facts de um modo geral. Apesar de fazerem barulho com afirmaes do tipo "solues para o problema do conhecimento so solues para o problema da ordem social",7 estes autores, ao fim e ao cabo, no foram alm da tese, trivialmente correta, de que crer no uma mera
questo de ver, de que nossas crenas esto sempre atreladas adeso a certas convenes. Mas Latour (1997, p. 30) v no livro desses autores "um exemplo marcante da fecundidade dos novos estudos sobre a cincia". Ele louva esses seus "dois amigos" (como tem amigos, o nosso amigo Latour!) por terem deixado "os confins da histria intelectual" e passado "do mundo das opinies e da argumentao para o da prtica e das redes" (idem, p. 26). To louvvel passagem os tornou capazes de responder pergunta que Latour considera crucial: [...] se verdade que a cincia no est fundada sobre idias, mas sim sobre uma prtica, se ela no est do lado de fora, mas sim do lado de dentro do recipiente transparente da bomba de ar, se ela tem lugar no interior do espao privado da comunidade experimental, ento como ela poderia estender-se "por toda a parte", a ponto de tornar-se to universal quanto as "leis de Boyle"? (Latour, 1997, p. 30) Para pergunta to brilhante, uma resposta igualmente brilhante: Bem, ela no se torna universal, ao menos no maneira dos epistemlogos! Sua rede se estende e se estabiliza. A brilhante demonstrao deste fato est em um captulo que [...] um exemplo marcante da fecundidade dos novos estudos sobre a cincia. Ao seguirem a reproduo de cada prottipo da bomba de ar atravs da Europa e a transformao de um equipamento custoso, pouco confivel e atravacante em
Vous aimerez peut-être aussi
- Duns Scot o Ancestral Da Modernidade - Sidney Silveira PDFDocument4 pagesDuns Scot o Ancestral Da Modernidade - Sidney Silveira PDFBruno TierPas encore d'évaluation
- O Nascimento Da FilosofiaDocument4 pagesO Nascimento Da FilosofiaDebora ReisPas encore d'évaluation
- Atividade 1 de FilosofiaDocument6 pagesAtividade 1 de FilosofiaJuan HeringerPas encore d'évaluation
- 1º Anos - Sintese para Prova Bimestral - Filosofia 3º Bim 2019Document3 pages1º Anos - Sintese para Prova Bimestral - Filosofia 3º Bim 2019ara4oPas encore d'évaluation
- O que é o senso comumDocument13 pagesO que é o senso comumRan OmeletePas encore d'évaluation
- Da razão à experiência: os grandes pensadores da filosofia modernaDocument6 pagesDa razão à experiência: os grandes pensadores da filosofia modernaRoberto NunesPas encore d'évaluation
- Filosofia Moderna e ContemporâneaDocument8 pagesFilosofia Moderna e ContemporânealorraynePas encore d'évaluation
- E-Book Teoria Do ConhecimentoDocument73 pagesE-Book Teoria Do Conhecimentotarcisio junqueiraPas encore d'évaluation
- (Fichamento) Châtelet, François. Uma História Da Razão.Document7 pages(Fichamento) Châtelet, François. Uma História Da Razão.Bruno WontrobaPas encore d'évaluation
- Esboco de Uma Historia Da Doutrina Do Ideal e Do Real PDFDocument16 pagesEsboco de Uma Historia Da Doutrina Do Ideal e Do Real PDFThiago Rafael FernandesPas encore d'évaluation
- Chaves - A Filosofia Moderna e DescartesDocument17 pagesChaves - A Filosofia Moderna e DescartesPedro LituraterrePas encore d'évaluation
- Epistemologia 160928133318Document37 pagesEpistemologia 160928133318uandersonPas encore d'évaluation
- Do Mito À RazãoDocument7 pagesDo Mito À RazãomarcoheliosPas encore d'évaluation
- A Revolução do Método na ModernidadeDocument5 pagesA Revolução do Método na ModernidadeCláudia AndradePas encore d'évaluation
- Criticismo KantianoDocument5 pagesCriticismo KantianoRodolpho BastosPas encore d'évaluation
- GOMES - Wilson Poetica - Do.cinemaDocument71 pagesGOMES - Wilson Poetica - Do.cinemaCarol AlvesPas encore d'évaluation
- O realismo hermenêutico reformado contra o ceticismo pós-modernoDocument12 pagesO realismo hermenêutico reformado contra o ceticismo pós-modernoSeth SethPas encore d'évaluation
- Filosofia Moderna e DescartesDocument18 pagesFilosofia Moderna e DescartesMicheilane FariasPas encore d'évaluation
- Texto Racionalismo e EmpirismoDocument3 pagesTexto Racionalismo e EmpirismoJulliany GomesPas encore d'évaluation
- Rudolf Steiner - Verdade e CienciaDocument25 pagesRudolf Steiner - Verdade e CienciaCarlos Roberto de SousaPas encore d'évaluation
- Os limites da Razão em Kant segundo BeckerDocument22 pagesOs limites da Razão em Kant segundo BeckerClaudemir OliveiraPas encore d'évaluation
- David Chalmers e A Refutação Do Materialismo 2 PDFDocument23 pagesDavid Chalmers e A Refutação Do Materialismo 2 PDFGabriela LoulyPas encore d'évaluation
- Vida e Obra de Immanuel KantDocument7 pagesVida e Obra de Immanuel KantRoge Cavalcante0% (2)
- Fundamentos da Psicologia na HistóriaDocument5 pagesFundamentos da Psicologia na HistóriaFelipe GustavoPas encore d'évaluation
- Ensino Médio Filosofia Idade ModernaDocument5 pagesEnsino Médio Filosofia Idade ModernahfarneyPas encore d'évaluation
- Bases Fenomenologicas e Suas Aplicações No DireitoDocument18 pagesBases Fenomenologicas e Suas Aplicações No DireitoCésar RikidōPas encore d'évaluation
- Uma História Da RazãoDocument7 pagesUma História Da RazãoAura MeloPas encore d'évaluation
- Aula 05 - FILOS - Renascença - Parte IDocument12 pagesAula 05 - FILOS - Renascença - Parte IbritodealmeidarenataPas encore d'évaluation
- Filosofia Aula 3Document19 pagesFilosofia Aula 3Ana Paula MarquesPas encore d'évaluation
- John Locke e A SensibilidadeDocument14 pagesJohn Locke e A SensibilidadeCésar RikidōPas encore d'évaluation
- Duns Scot (1266-1308)Document5 pagesDuns Scot (1266-1308)Tiago TomistaPas encore d'évaluation
- Santo Agostinho Entre A Fé e A Razão: Racionalismo Cristão de Bases Neoplatônicas e A Construção de Uma Filosofia Da História "Humana"Document4 pagesSanto Agostinho Entre A Fé e A Razão: Racionalismo Cristão de Bases Neoplatônicas e A Construção de Uma Filosofia Da História "Humana"Douglas Pinheiro BezerraPas encore d'évaluation
- A influência de Descartes na concepção do eu na cultura ocidentalDocument4 pagesA influência de Descartes na concepção do eu na cultura ocidentalDiego VillelaPas encore d'évaluation
- A filosofia de Sartre e a ciênciaDocument13 pagesA filosofia de Sartre e a ciênciabrunoPas encore d'évaluation
- A Filosofia Na Idade ModernaDocument13 pagesA Filosofia Na Idade ModernaMarcelo Hagime Mukai100% (1)
- Teorias do Conhecimento de Descartes e HumeDocument15 pagesTeorias do Conhecimento de Descartes e HumeMatheus Ferreira CastroPas encore d'évaluation
- Posfácio À Obra "A Primeira Graça: Redescobrindo o Direito Natural em Um Mundo Pós-Cristão", de Russell HittingerDocument44 pagesPosfácio À Obra "A Primeira Graça: Redescobrindo o Direito Natural em Um Mundo Pós-Cristão", de Russell Hittingeramauri.saad4112Pas encore d'évaluation
- Freud, Piaget e Vigotski - Concepções de InfânciaDocument9 pagesFreud, Piaget e Vigotski - Concepções de InfânciaDavid TeixeiraPas encore d'évaluation
- A História Da Ciência Do ConhecimentoDocument7 pagesA História Da Ciência Do ConhecimentoLucasBassPas encore d'évaluation
- EmpirismoDocument6 pagesEmpirismoMauricio Costa100% (1)
- Influências Filosóficas Na PsicologiaDocument12 pagesInfluências Filosóficas Na PsicologiaGabriel RossiPas encore d'évaluation
- O Conhecimento PDFDocument6 pagesO Conhecimento PDFGerson MonteiroPas encore d'évaluation
- Trabalho Sobre PlataoDocument10 pagesTrabalho Sobre PlataoAbujate Amade CasimroPas encore d'évaluation
- A fundação da metafísica na filosofia de PlatãoDocument13 pagesA fundação da metafísica na filosofia de PlatãoEduardo PessoaPas encore d'évaluation
- Misticismo Científico ou Mistificação da CiênciaDocument12 pagesMisticismo Científico ou Mistificação da CiênciaJoseJunembergPas encore d'évaluation
- A Dinâmica Entre o Passado e o FuturoDocument14 pagesA Dinâmica Entre o Passado e o FuturoUlysses PinheiroPas encore d'évaluation
- Conhecimento, Moralidade e a Experiência da RealidadeDocument7 pagesConhecimento, Moralidade e a Experiência da Realidadeedson100% (1)
- Trabalho de FilosofiaDocument7 pagesTrabalho de Filosofiaerikapinheiro1232Pas encore d'évaluation
- Filosofia busca unidade conhecimentoDocument3 pagesFilosofia busca unidade conhecimentoDiego VillelaPas encore d'évaluation
- Os principais empiristas Bacon, Hume e sua crítica do conhecimentoDocument11 pagesOs principais empiristas Bacon, Hume e sua crítica do conhecimentoANNA KARIENINAPas encore d'évaluation
- Aula 4 - HORKHEIMER, Max. Da Discussão Do Racionalismo Na Filosofia ContemporâneaDocument43 pagesAula 4 - HORKHEIMER, Max. Da Discussão Do Racionalismo Na Filosofia ContemporâneaDiego LemboPas encore d'évaluation
- Flávio Gordon - Darwinismo e Religião PDFDocument6 pagesFlávio Gordon - Darwinismo e Religião PDFDiodoro CirinoPas encore d'évaluation
- 09354216102017historia Da Filosofia Moderna II Aula 2Document15 pages09354216102017historia Da Filosofia Moderna II Aula 2Gina S. ReisPas encore d'évaluation
- PóshumanoDocument12 pagesPóshumanoVictor HugoPas encore d'évaluation
- Cifra TaManQueroDocument1 pageCifra TaManQueroVictor HugoPas encore d'évaluation
- MENINOS - Zé Geraldo CifraDocument2 pagesMENINOS - Zé Geraldo CifraVictor HugoPas encore d'évaluation
- Mídias Sociais No Processo de Ensino AprendizagemDocument10 pagesMídias Sociais No Processo de Ensino AprendizagemGomes GomesPas encore d'évaluation
- SubsistemaDocument9 pagesSubsistemaVictor HugoPas encore d'évaluation
- O Pensamento de Niklas LuhmannDocument374 pagesO Pensamento de Niklas Luhmannkurlin100% (2)
- Manual de BioconstruçãoDocument64 pagesManual de Bioconstruçãoapi-3704111100% (5)
- O Olhar ComplexoDocument11 pagesO Olhar ComplexoVictor HugoPas encore d'évaluation
- Jean Baudrillard SenhasDocument41 pagesJean Baudrillard SenhasVelda TorresPas encore d'évaluation
- Arte Ciência TecnologiaDocument68 pagesArte Ciência TecnologiaVictor HugoPas encore d'évaluation
- Ebook EcoSanDocument24 pagesEbook EcoSanDa Ni100% (1)
- AntiDocument19 pagesAntilohangraPas encore d'évaluation
- A Horta Intensiva FamiliarDocument32 pagesA Horta Intensiva FamiliarVictor HugoPas encore d'évaluation
- Educarnadiversidade 2006Document268 pagesEducarnadiversidade 2006Rosanita MoschiniPas encore d'évaluation
- Futuro do humanoDocument16 pagesFuturo do humanoGiha DlzPas encore d'évaluation
- William Blake - PoemasDocument56 pagesWilliam Blake - PoemasEduardo AndradePas encore d'évaluation
- IOF 27 de Dezembro de 2013Document1 pageIOF 27 de Dezembro de 2013Victor HugoPas encore d'évaluation
- JCL If and ElseDocument25 pagesJCL If and ElseVictor HugoPas encore d'évaluation
- Apresentação 31000 - Victor HugoDocument67 pagesApresentação 31000 - Victor HugoVictor HugoPas encore d'évaluation
- Manual Dados Abertos Desenvolvedores WebDocument150 pagesManual Dados Abertos Desenvolvedores WebVictor HugoPas encore d'évaluation
- A história de CanudosDocument8 pagesA história de CanudosVictor HugoPas encore d'évaluation
- Data Warehouse X Data MartDocument8 pagesData Warehouse X Data MartVictor HugoPas encore d'évaluation
- Sistemas de Informação - Redes IIDocument2 pagesSistemas de Informação - Redes IIVictor HugoPas encore d'évaluation
- Encontro de Culturas Tradicionais Da Chapada Dos VeadeirosDocument42 pagesEncontro de Culturas Tradicionais Da Chapada Dos VeadeirosVictor HugoPas encore d'évaluation
- Armadilhas Do KanbanDocument4 pagesArmadilhas Do KanbanVictor HugoPas encore d'évaluation
- Comandos CiscoDocument3 pagesComandos CiscoVictor HugoPas encore d'évaluation
- A Adaptação Literária para Cinema e TelevisãoDocument7 pagesA Adaptação Literária para Cinema e TelevisãoVictor HugoPas encore d'évaluation
- A Tradição EsquecidaDocument18 pagesA Tradição EsquecidaVictor HugoPas encore d'évaluation
- Modelo de WBSDocument2 pagesModelo de WBSMateus BelluzzoPas encore d'évaluation
- Fórmulas e Subformulas Proposicionais - MonteiroDocument10 pagesFórmulas e Subformulas Proposicionais - MonteiroLeandro CunhaPas encore d'évaluation
- Pragmatismo: verdade e açãoDocument22 pagesPragmatismo: verdade e açãoLETE87100% (2)
- 7 CeticismoDocument1 page7 CeticismodanielPas encore d'évaluation
- Teste de Filosofia 1 Logica e o Que e A FilosofiaDocument5 pagesTeste de Filosofia 1 Logica e o Que e A FilosofiaRita CamiloPas encore d'évaluation
- Raciocínio Lógico e Questões LógicasDocument3 pagesRaciocínio Lógico e Questões LógicasJorge Alberto CardosoPas encore d'évaluation
- Resenha A Origem Das EspéciesDocument5 pagesResenha A Origem Das EspéciesOséiasMartinsMagalhãesPas encore d'évaluation
- O Que É Filosofia Da BiologiaDocument26 pagesO Que É Filosofia Da BiologiaMiguel Sette E CamaraPas encore d'évaluation
- Método Científico: Da Observação à ExperimentaçãoDocument17 pagesMétodo Científico: Da Observação à ExperimentaçãoViviane BatistaPas encore d'évaluation
- Lógica Básica para Ensino MédioDocument15 pagesLógica Básica para Ensino MédioBrenda Korczagin HernandesPas encore d'évaluation
- O que motiva o nominalistaDocument16 pagesO que motiva o nominalistaLuiz HenriquePas encore d'évaluation
- Teste de Filosofia 10ºano - ESFRLDocument4 pagesTeste de Filosofia 10ºano - ESFRLVera JesusPas encore d'évaluation
- Debate Dos Filósofos e CientistasDocument3 pagesDebate Dos Filósofos e CientistasjoaoPas encore d'évaluation
- A dialética na pesquisa educacionalDocument11 pagesA dialética na pesquisa educacionalSandro Alexandre OlmedoPas encore d'évaluation
- Filosofia - As Concepções Da Verdade - SlideDocument10 pagesFilosofia - As Concepções Da Verdade - SlideNilson Camargo OliveiraPas encore d'évaluation
- Provas de Matemática 2016Document43 pagesProvas de Matemática 2016Nelson Bantene100% (1)
- A Vida e As Obras PLATÃODocument5 pagesA Vida e As Obras PLATÃORobert50% (6)
- (10 Ano) Negar Proposições e A Classificação Das Proposições CategóricasDocument1 page(10 Ano) Negar Proposições e A Classificação Das Proposições CategóricasleonorPas encore d'évaluation
- Doxa e Episteme FeitoDocument2 pagesDoxa e Episteme FeitoItalo DurvalPas encore d'évaluation
- Teoria do ConhecimentoDocument9 pagesTeoria do Conhecimentotomazxx50% (2)
- DOOYEWEERD, Herman - Introdução A Uma Critica Transcendental Do Pensamento FilosóficoDocument11 pagesDOOYEWEERD, Herman - Introdução A Uma Critica Transcendental Do Pensamento FilosóficovieirasantoswilliamPas encore d'évaluation
- Rac LogicDocument37 pagesRac LogicFernando RcpPas encore d'évaluation
- Introducao A Logica Exercicios ResolvidoDocument257 pagesIntroducao A Logica Exercicios ResolvidoTedson MarcosPas encore d'évaluation
- PHD ResendeDocument278 pagesPHD ResendeLeonardoPas encore d'évaluation
- ARTIGO PROLOG A Linguagem Da LógicaDocument8 pagesARTIGO PROLOG A Linguagem Da LógicaMatheusCarvalhoPas encore d'évaluation
- Teoria Sincronica e Diacronica ScotusDocument61 pagesTeoria Sincronica e Diacronica ScotusGabriel ReisPas encore d'évaluation
- Filosofia 10o A/B/E/F prova avaliaçãoDocument1 pageFilosofia 10o A/B/E/F prova avaliaçãoLeonor QueirósPas encore d'évaluation
- 3 A PESQUISA CIENT+ìFICA InstrumentalizaçãoDocument7 pages3 A PESQUISA CIENT+ìFICA InstrumentalizaçãoLelecoYorkPas encore d'évaluation
- Conceitos sobre elaboração de escalas psicológicasDocument15 pagesConceitos sobre elaboração de escalas psicológicasHeloísa SousaPas encore d'évaluation
- Giulio Giorello Teoria Leninista Do Reflexo Parte IVDocument4 pagesGiulio Giorello Teoria Leninista Do Reflexo Parte IVpaulgustavomPas encore d'évaluation
- BERTI, Enrico. As Razões de Aristóteles. São Paulo. Editora Edições Loyola, 1998 PDFDocument203 pagesBERTI, Enrico. As Razões de Aristóteles. São Paulo. Editora Edições Loyola, 1998 PDFMárcio RubenPas encore d'évaluation