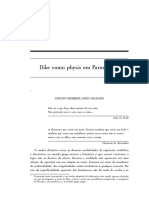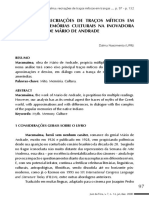Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Torrano
Transféré par
Gustavo Lopes MachadoTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Torrano
Transféré par
Gustavo Lopes MachadoDroits d'auteur :
Formats disponibles
A IMAGEM DA CAVERNA NA REPBLICA DE PLATO Jaa Torrano (DLCV-FFLCH-USP) O livro VII da Repblica comea com a imagem da caverna, que
retoma as imagens anteriores do sol e da linha, retoma os elementos que entraram na construo da imagem do sol e da linha, e desenvolve e explicita esses elementos. O livro VI comea com a questo quem so os filsofos e quem no so. Analisam-se as qualidades caractersticas dos filsofos: os filsofos so os que amam o saber, amam a cincia em sua totalidade, e nisso se distinguem dos muitos, que permanecem nas aparncias, ficam no horizonte da opinio, no ultrapassam o horizonte da aparncia, do sensvel, da opinio, enquanto os que so filsofos se distinguem por esse amor do conhecimento e da cincia em sua totalidade. Enumeram-se as virtudes que caracterizam os filsofos, conseqentes desse amor do conhecimento, e afirma-se que nas cidades esses que so dotados de natureza filosfica so os que encontram as condies mais adversas para o desenvolvimento de suas virtudes e de sua natureza filosfica, e por isso nas cidades os filsofos parecem inteis, quando no perversos. necessrio, ento, mostrar que os filsofos so os mais aptos para governar a cidade, e assim enfrentar no sexto livro a terceira onda, a mais temvel das trs ondas de resistncia e at mesmo de repulsa, suscitadas pelas trs doutrinas que proclamam as condies necessrias para a realizao da cidade justa e que encontram a maior resistncia, e por isso so chamadas ondas. A primeira das mulheres guardis, que compartilham com os homens as tarefas da defesa da cidade; a segunda a da comunidade das mulheres e das crianas; e a terceira a doutrina que diz que a cidade deve ser governada pelo filsofo, o filsofo que deve estar no governo da cidade para garantir as condies necessrias realizao da justia na cidade. Por que o filsofo deve ser o guardio e o governante da cidade? Por que ele contemplou a idia do bem. O filsofo se eleva do sensvel, ultrapassa o horizonte da opinio, adquire os conhecimentos que lhe permitem afinal contemplar a idia do bem. Porque ele contemplou a idia do bem ele capaz de em cada caso saber o que est bem, tomar a deciso pelo que o bem duradouro e permanente da cidade, e conservar a integridade das leis e da ordem da cidade. Impe-se ento a pergunta o que o bem? Se o filsofo esse que tem as virtudes necessrias para a aquisio do conhecimento e para chegar finalmente ao conhecimento supremo que a idia do bem, e se a contemplao do bem que qualifica o filsofo para o governo da cidade, impe-se a Scrates a questo que pergunta o que o bem. O bem a suprema cincia, mas o que o bem? Scrates, na Repblica VI, 506 e, diz que o bem em si lhe parece grandioso demais para, com o impulso que os move na presente conversao, poder atingir o seu pensamento a respeito dele, mas que deseja expor o que lhe parece ser o filho do bem e muito semelhante a ele. E dada a anuncia do interlocutor, que prope que numa outra vez seja paga a explicao devida a respeito do pai, Scrates faz um jogo entre as palavras kgonos e tkos, que significam ambas filho, mas tkos, alm de filho significa tambm juros, no sentido de rendimento de um dinheiro dado a juros, e diz: Tomara que eu a pudesse pagar e vs receb-la, e no como agora, dar-vos s os juros. Recebei, portanto, este juro e este filho do bem em si. Mas tende cuidado em
que no vos engane sem querer, entregando-vos falsas as contas do juro. (Rep. VI 507 a). Tn lgon to tkou significa o discurso do filho e as contas do juro. Com esse jogo de palavras se faz um alerta, que pe o ouvinte de sobreaviso com relao imagem. Isso condizente com a descrio que se far da imagem, na imagem da linha, onde se diz que a imagem o grau do conhecimento menos verdadeiro e menos claro. Se o grau do conhecimento menos verdadeiro e menos claro, faz sentido que se alerte o interlocutor para que se acautele relativamente imagem, que o grau do conhecimento no qual se apresentar o discurso a respeito do bem em si. A imagem do sol se constri mediante uma distino prvia. Scrates recorda o que anteriormente disseram em muitas outras ocasies e acordaram entre si sobre a distino do sensvel e do inteligvel. Que h muitas coisa belas, e muitas coisas boas e outras da mesma espcie, que dizemos que existem e que distinguimos pela linguagem. (...) E que existe o belo em si, e o bom em si, e, do mesmo modo, relativamente a todas as coisa que ento postulamos mltiplas, e, inversamente, postulamos que a cada uma corresponde uma idia, que nica, e chamamos-lhe a sua essncia. (...) E diremos ainda que aquelas so visveis, mas no inteligveis, ao passo que as idias so inteligveis, mas no visveis. (Rep. VI 507 b). Essa distino se faz entre a multiplicidade visvel das muitas coisas belas, das muitas coisas boas, e a unidade inteligvel do belo em si mesmo, do bem em si mesmo. Visvel aqui significa, por metonmia, sensvel: na seqncia Scrates argumenta e mostra como e por que a viso o mais perfeito dos sentidos. No s fala da viso como o mais perfeito dos sentidos, mas estranhamente justifica essa perfeio da viso relativamente aos outros sentidos com o seguinte argumento: A audio e voz precisam de qualquer coisa de outra espcie para respectivamente ouvir e fazer-se ouvir, de tal modo que se esse terceiro fator no estiver presente a primeira no ouvir e a segunda no ser ouvida? No, no precisam de nada. Julgo que no h muitas outras faculdades, para no dizer nenhuma, que necessitem de tal coisa, ou podes mencionar alguma? Eu no, respondeu ele. Mas quanto de ver e de ser visto, no pensas que necessite disso? Como assim? Ainda que haja nos olhos a viso e quem a possui tente servir-se dela, e ainda que as cores estejam presentes nas coisas, se no se lhes adicionar uma terceira espcie, criada expressamente para o efeito, sabes que a vista no ver e que as cores sero invisveis? O que isso a que se refere? aquilo a que chamas luz. Dizes a verdade. Por conseguinte, o sentido da vista e a faculdade de ser visto esto ligados por um lao de uma espcie bem mais preciosa do que todos os outros, a menos que a luz seja coisa para se desprezar. A verdade que est longe de ser desprezvel. Qual , dentre os Deuses do cu, aquele a que atribuis a responsabilidade desse fato, de a luz nos fazer ver, da maneira mais perfeita que possvel, e que seja visto o que visvel? O mesmo que tu e os restantes, pois evidente que ests a perguntar do sol. (Rep. 507 c 508 a). Estabelecem-se estas distines, de que o sol no nem a viso, nem a luz, mas a causa tanto da viso quanto da luz, e d s coisas visveis no s a visibilidade delas, mas tambm a sua nutrio e sustento. E estabelece-se esta correlao: o que o sol no plano visvel para as coisa visveis, a idia do bem no plano inteligvel para as idias. A idia do bem a causa da cognoscibilidade das coisas cognoscveis, de sua verdade e de seu ser, sem que a idia do bem seja ser nem cincia, mas a causa do ser, da cincia e da verdade. Nessa imagem do sol, apresenta-se, e de certa maneira define-se, a idia do bem por uma trplice causalidade: o bem a causa do conhecimento, da verdade e do
ser. Ou seja, as idias so o que so, e so cognoscveis, e so verdadeiras, na medida que participam da idia do bem, e s por essa participao. Distinguem-se tambm graus diversos de participao do ser, na medida que se distinguem, por um lado, o ser, conhecimento e a verdade e, por outro lado, como causa disso, o bem. O bem, causa do ser, no o ser, mas est acima e alm da essncia, pela sua dignidade e poder ( Rep.509 b). Logo, para os objetos do conhecimento dirs que no s a possibilidade de serem conhecidos lhes proporcionada pelo bem, como tambm por ele que o ser e a essncia lhes so adicionados, apesar de o bem no ser uma essncia, mas estar acima e alm da essncia, pela sua dignidade e poder. (Rep. 509 b). Essa idia surpreendente oferece a oportunidade de o interlocutor de Scrates fazer uma brincadeira. Scrates se defende dizendo que o culpado por ele estar falando desse assunto o seu interlocutor, que lhe pediu que falasse de algo a respeito de que ele tinha alertado que no estava preparado para falar. E o interlocutor ento pede que no se detenha, mas verifique se no lhes escapou nenhum dos elementos, que entraram na construo dessa imagem (Rep. 509 c). Ento, para retomar esses elementos que entraram na construo da imagem do sol, Scrates prope a imagem da linha, em que se imagina o conhecimento como se fosse uma linha: a imagem (eikn) da linha imitao (mmema) do conhecimento. A imagem da linha retoma essa distino prvia imagem do sol, entre o sensvel e o inteligvel. Em Repblica VI, 509 d, Scrates pede a seu interlocutor: Imagina ento comecei eu que, conforme dissemos, eles so dois e que reinam, um na espcie e no mundo inteligvel, o outro no visvel. Dada a interpretao que desde a antigidade se apoderou da obra filosfica de Plato, na traduo que citamos de Maria Helena da Rocha Pereira figura a palavra mundo, como equivalente do grego tpos, quando o texto de Plato fala em gnous te ka tpou, o gnero e o lugar, que se descrevem como o mbito do inteligvel e o mbito do visvel; mas no h a a palavra ksmos, que esta sim mais bem se deixaria traduzir por mundo. Tendo imaginado a linha com uma diviso em partes desiguais, cujos segmentos correspondem um ao inteligvel e o outro ao visvel, imagine-se cada um desses segmentos dividido por sua vez segundo a mesma proporo. A primeira seo do segmento do sensvel a das imagens. Chamo imagens (eiknes), em primeiro lugar, s sombras; seguidamente, aos reflexos nas guas, e queles que se formam em todos os corpos compactos, lisos e brilhantes, e a tudo o mais que for do mesmo gnero, se ests a entender-me. Entendo, sim. Supe agora a outra seo, da qual esta era imagem, a que nos abrange a ns, seres vivos, e a todas as plantas e toda a espcie de artefatos. Suponho. Acaso consentirias em aceitar que o visvel se divide no que verdadeiro e no que no o , e que, tal como a opinio est para o saber, assim est a imagem para o modelo? Aceito perfeitamente. (Rep. 509 e 510 b). No dilogo Sofista 239 e, l-se que uma tal enumerao de sombras e reflexos nas guas e em espelhos no seria, para um verdadeiro sofista, aceitvel como definio de imagem. Quando o sofista chamado produtor de imagens (eidolopoin, Sof. 239 d), o Estrangeiro de Elia diz que o sofista facilmente reverteria contra ns essas palavras que o descrevem como um produtor de imagens, perguntando-
nos o que imagem. Teeteto responde: evidentemente lhe responderemos lembrando as imagens das guas e dos espelhos, as imagens pintadas ou gravadas, e todas as demais, da mesma espcie. Bem se v, Teeteto, que jamais viste um sofista. Por qu? Ele te parecer um homem que fecha os olhos ou que, absolutamente, no tem olhos. Como assim? Quando assim lhe responderes, ao lhe falar do que se forma nos espelhos ou do que as mos amoldem, ele se rir de teus exemplos, destinados a um homem que v. Fingir ignorar espelhos, guas e a prpria vista e te perguntar, unicamente, o que se deve concluir de tais exemplos.(Sof. 239 d 240 a). Ento, Teeteto se v obrigado a dar uma definio conceitual de imagem, que em Repblica VI, 509 e 510 a, no vem ao caso, porque se se tivesse que apresentar a uma definio conceitual de imagem, interromper-se-ia a construo da imagem da linha. Passa-se, ento, para o segmento seguinte da imagem da linha; mas, de qualquer forma, esses segmentos da linha, correspondentes imagem e ao de que h imagem, so desde j definidos como o no verdadeiro e o verdadeiro. No Sofista 240 a, a primeira caracterstica da imagem consiste em no ser verdadeira, o que traz como conseqncia todas as aporias, como em primeiro lugar ter que admitir a contragosto que o no-ser de certo modo (Sof. 240 e). Na Repblica VI 509 e 510 b, descreve-se a imagem mediante a enumerao de exemplos, e passa-se j para a primeira seo do segmento do inteligvel, no qual a alma, servindo-se, como se fossem imagens, dos objetos que ento eram modelos, forada a investigar a partir de hipteses, sem poder caminhar para o princpio, mas para a concluso; ao passo que, na outra parte, a que conduz ao princpio absoluto, parte da hiptese, e, dispensando as imagens, que havia no outro (segmento da linha) faz caminho s com o auxlio das idias (Rep. 510 b c). Esse resumo se explica a seguir: as cincias superiores descritas mais tarde e enumeradas como aritmtica, geometria, a cincia dos volumes, a astronomia, e ainda a harmonia essas cincias partem de hipteses a saber, as noes comuns dos gemetras, por exemplo, o par e o mpar, as figuras, os trs tipos de ngulos e outras doutrinas irms dessas e, partindo dessas hipteses, que por serem evidentes no requerem demonstrao, essas cincias caminham unicamente em direo concluso dessas hipteses, sem poder remontar ao fundamento no hipottico. Eis a primeira caracterstica dessas cincias. A segunda caracterstica que essas cincias, no seu procedimento discursivo, servem-se de imagens. Na outra seo do inteligvel, est a cincia suprema, que a dialtica, cujo procedimento assim se descreve: fazendo das hipteses no princpios, mas hipteses de fato, uma espcie de degraus e pontos de apoio, pode ir at aquilo que no admite hiptese, mas que o princpio de tudo, atingindo o qual desce, fixando-se em todas as conseqncias que da decorrem, at chegar concluso, sem se servir em nada de qualquer dado sensvel, mas passando das idias umas s outras, e terminando em idias. (Rep. 511 b c). Definem-se, ento, claramente quatro modalidades de objetos do conhecimento, duas sensveis e duas inteligveis; e estabelece-se uma correlao entre cada uma dessas modalidades de objetos do conhecimento e o correspondente estado da mente, quando esta marcada pela apreenso de determinada modalidade de tais objetos. Esses estados da mente, ou afeces da alma, em grego pathmata en ti psykhi, so quatro, a saber: nesis, dinoia, pstis, eikasa. (Rep. 511 d c). Entre esses pathmata en ti psykhi, a nesis que Maria Helena da Rocha Pereira traduz por inteligncia corresponde dialtica; a dinoia que ela traduz por entendimento, mas que s vezes tambm possvel
traduzir por raciocnio corresponde s cincias superiores: aritmtica, geometria, estereometria, astronomia e harmonia; a pstis que ela traduz por f, e outros por crena, mas que tambm se explica como certeza sensvel corresponde a isso de que h imagens, o segmento onde estamos includo ns mesmos, e os seres vivos, as plantas, e toda espcie de artefatos. O estado da mente correspondente apreenso das imagens chama-se eikasa que Maria Helena da Rocha Pereira traduz por suposio, sendo imaginao uma outra possibilidade de traduo que naturalmente traz tantas vantagens quantas desvantagens. Com essa enumerao dos estados da mentes correspondentes s diversas modalidades de objetos do conhecimento, conclui o livro VI, e chegamos terceira imagem, a da caverna, que abre o livro VII. Essa terceira imagem recupera como j disse todos os elementos constitutivos dessas duas imagens anteriores, e d a essas distines assim estabelecidas uma dimenso existencial e o carter de um drama. Scrates introduz a imagem da caverna com as seguintes palavras, no incio do livro VII: Depois disso prossegui eu imagina a nossa natureza, relativamente educao ou sua falta, de acordo com a seguinte experincia (514 a). Imagina apekason, do verbo eikzo, donde eikasa, a afeco na alma resultante da apreenso de imagens. A construo desta terceira imagem visa, pois, descrever a nossa natureza, relativamente paidia (educao) e apaideusa (falta de educao); e assim se faz construo: suponhamos uns homens numa habitao subterrnea em forma de caverna, com uma entrada aberta para a luz, que se estende a todo o comprimento dessa gruta. Esto l dentro desde a infncia, algemados de pernas e pescoos, de tal maneira que s lhes dado permanecer no mesmo lugar e olhar em frente; so incapazes de voltar a cabea, por causa dos grilhes; serve-lhes de iluminao um fogo que se queima ao longe, numa eminncia, por detrs deles; entre a fogueira e os prisioneiros h um caminho ascendente, ao longo do qual se construiu um pequeno muro, no gnero dos tapumes que os manipuladores de marionetes colocam diante do pblico, para mostrarem as suas habilidades por cima deles. Estou a ver disse ele. Visiona tambm ao longo deste muro, homens que transportam toda a espcie de objetos, que o ultrapassam: estatuetas de homens e de animais, de pedra e de madeira, de toda espcie de lavor; como natural, dos que os transportam, uns falam, outros seguem calados. (Rep. 514 a 515 a). O interlocutor de Scrates o interrompe com este comentrio: estranho quadro e estranhos prisioneiros so esses de que tu falas. topon (...) eikna ka desmtas atpous. topos descabido, extravagante, e ainda, como nesta traduo de que nos servimos, estranho. Semelhantes a ns responde Scrates. (Rep. 515 a_ H neste drama, cujo protagonista a nossa prpria natureza, colocada entre os extremos da educao e da falta que esta nos faz, quatro episdios que se representam diante de diversos cenrios. O primeiro episdio, diante do primeiro cenrio, se descreve com as seguintes palavras: Em primeiro lugar, pensas que, nestas condies, eles tenham visto, de si mesmo e dos outros, algo mais que as sombras projetadas pelo fogo na parede oposta da caverna? Como no respondeu ele se so forados a manter a cabea imvel toda a vida? E os objetos transportados? No se passa o mesmo com eles? Sem dvida. Ento, se eles fossem capazes de conversar uns com os outros, no te parece que eles julgariam estar a nomear objetos reais, quando designavam o que viam? foroso. E se a priso tivesse tambm um eco na parede do fundo? Quando algum dos transeuntes falasse, no te parece que
eles no julgariam outra coisa, seno que era a voz da sombra que passava? Por Zeus, que sim! De qualquer modo afirmei pessoas nessas condies no pensavam que a realidade fosse seno a sombra dos objetos. (Rep. 515 a c). No primeiro episdio do drama, o cenrio do drama o das sombras. S kis, sombras, uma das muitas palavras que compem a riqussima sinonmia da imagem, eikn: na enumerao dos exemplos de imagem, eikn, o primeiro dado ski, sombra. Nesse primeiro episdio, segundo toda necessidade, os prisioneiros no reconhecem outra verdade seno a das sombras dos artefatos e a dos ecos das vozes dos que os transportam (Rep. 515 a c). O segundo episdio assim se descreve: Considera pois continuei o que aconteceria se eles fossem soltos das cadeias e curados da sua ignorncia, a ver se, regressados sua natureza, as coisas se passavam deste modo. Logo que algum soltasse um deles, e o forasse a endireitar-se de repente, a voltar o pescoo, a andar e a olhar para a luz, ao fazer tudo isso, sentiria dor, e o deslumbramento impedi-lo-ia de fixar os objetos cujas sombras via outrora. Que julgas tu que ele diria, se algum lhe afirmasse que at ento ele s vira coisas vs, ao passo que agora estava mais perto da realidade e via de verdade, voltado para objetos mais reais? E se ainda, mostrando-lhe cada um desses objetos que passavam, o forassem com perguntas a dizer o que era? No te parece que ele se veria em dificuldades e suporia que os objetos vistos outrora eram mais reais do que os que agora lhe mostravam? Muito mais afirmou. Portanto, se algum o forasse a olhar para a prpria luz, doer-lhe-iam os olhos e voltar-se-ia, para buscar refgio junto dos objetos para os quais podia olhar, e julgaria ainda que estes eram na verdade mais ntidos do que os que lhe mostravam? Seria assim disse ele. (Rep. 515 c e) Nesse segundo episdio, o cenrio o dos artefatos e da luz do fogo. Nesse episdio, observamos uma certa confuso e uma certa distino entre graus de conhecimento, de verdade e de ser. Utiliza-se, ento, o grau comparativo de superioridade do advrbio (mais perto do ser, mllon eggytro to ntos), do particpio (o que mais, mllon nta), e dos adjetivos (mais corretamente, orthteron; mais verdadeiros, aletstera; mais ntidos, saphstera): mais perto do ser e voltado para o que mais, veria mais corretamente . H, no entanto, confuso e perplexidade a respeito do que mais verdadeiro e mais real: suporia que os objetos vistos outrora eram mais verdadeiros do que os que agora lhe mostravam e julgaria ainda que estes que ele via outrora eram mais ntidos do que os que lhe mostravam (Rep. 515 d e). Nesse segundo episdio, em torno desse segundo cenrio, ainda no interior da caverna, impem-se a questo e a perplexidade a respeito dos graus da verdade, do conhecimento e do ser. O terceiro episdio se d fora da caverna, onde o cenrio conhece a variao desde a luz noturna at a luz do dia. O terceiro episdio assim se descreve: E se o arrancassem dali fora e o fizessem subir o caminho rude e ngreme, e no o deixassem fugir antes de o arrastarem at luz do sol, no seria natural que ele se doesse e agastasse, por ser assim arrastado, e, depois de chegar luz, com os olhos deslumbrados, nem sequer pudesse ver nada daquilo que agora dizemos serem os verdadeiros objetos? No poderia, de fato, pelo menos de repente. Precisava de se habituar, julgo eu, se quisesse ver o mundo superior. (Rep. 515e 516 a).
O terceiro episdio, fora da caverna, compreende quatro atos: dois atos com o cenrio noturno, e dois atos com o cenrio diurno. Primeiro ato: Em primeiro lugar, olharia mais facilmente para as sombras, depois disso, para as imagens do homens e dos outros objetos, refletidas na gua, e, por ltimo, para os prprios objetos. (Rep. 516 a ) Segundo ato: A partir de ento, seria capaz de contemplar o que h no cu, e o prprio cu, durante a noite, olhando para a luz das estrelas e da lua, mais facilmente do que se fosse o sol e o seu brilho de dia. Pois no! (Rep. 516 a b) Terceiro ato: Finalmente, julgo eu, seria capaz de olhar para o sol e de contemplar, no j a sua imagem na gua ou em qualquer stio, mas a ele mesmo, no seu lugar. Necessariamente. (Rep. 516 b) Quarto ato: Depois j compreenderia, acerca do sol, que ele que causa as estaes e os anos e que tudo dirige no mundo visvel, e que o responsvel por tudo aquilo de que eles viram um arremedo. evidente que depois chegaria a essas concluses. (Rep. 516 b c) No terceiro ato, h uma percepo do sol mesmo visvel no cu, mas no quarto ato h a percepo intelectual do significado dessa percepo do sol: percebe-se que o sol a causa das estaes, dos anos e que dirige todo o mbito do sensvel. Parece evidente que no terceiro episdio so retomados condensadamente todos os elementos constitutivos da imagem do sol, e tambm todas as distines estabelecidas na imagem da linha. O quarto episdio o retorno ao fundo da caverna. Esse retorno ao fundo da caverna retoma o cenrio do primeiro episdio, mas introduz nele novos elementos: os concursos de perspiccia e acuidade do olhar, a disputa pelo poder e as honrarias no fundo da caverna constituem a matria prima da ao e da reflexo poltica. E ento? Quando ele se lembrasse da sua primitiva habitao, e do saber que l possua, dos seus companheiros de priso desse tempo, no crs que ele se regozijaria com a mudana e deploraria os outros? Com certeza. E as honras e elogios, se alguns tinham ento entre si, ou prmios para o que distinguisse com mais agudeza os objetos que passavam, e se lembrasse melhor quais os que costumavam passar em primeiro lugar e quais em ltimo, ou os que seguiam juntos, e quele que dentre eles fosse mais hbil em predizer o que ia acontecer parece-te que ele teria saudades ou inveja das honrarias e poder que havia entre eles, ou que experimentaria os mesmos sentimentos que em Homero, e seria seu intenso desejo servir junto de um homem pobre, como servo da gleba, e antes sofrer tudo do que regressar quelas iluses e viver daquele modo? Suponho que seria assim respondeu que ele sofreria tudo, de preferncia a viver daquela maneira. (Rep. 516 c d) Descreve-se ento uma disputa pelo poder no fundo da caverna, que passa pelo conhecimento das sombras, pela perspiccia de poder prever o comportamento das sombras. Num primeiro momento, o que veio de fora da caverna teria os olhos ofuscados e perderia nesse certame, e seria acusado de ter as suas vistas destrudas por ter sado fora da caverna e se diria que sair fora da caverna destri a vista. Um segundo momento do quarto episdio descrito em Repblica VII 520 c, no qual os olhos de quem regressa ao fundo da caverna se acostumam novamente s trevas e, cessada a ofuscao provocada pelas trevas, sereis mil vezes melhores do que os
que l esto e reconhecereis cada imagem, o que ela e o que representa devido a terdes contemplado a verdade relativa ao belo, ao justo e ao bom. (Rep. 520 c) Passada a ofuscao do regresso da luminosidade s trevas, com os olhos acostumados novamente s trevas, recuperada a perspiccia e a acuidade do olhar, esse que saiu fora da caverna teria as melhores condies de conhecer a verdadeira natureza do que se v e de poder avaliar corretamente qual o grau de realidade, a natureza e o comportamento do que se v. Mas em Repblica 517 a, depois do primeiro momento do quarto episdio, Scrates j tira esta concluso: Meu caro Glauco, este quadro (taten... tn eikna) prossegui eu deve agora aplicar-se a tudo o que dissemos anteriormente, comparando o mundo visvel atravs dos olhos caverna da priso, e a luz da fogueira que l existia fora do sol. Quanto subida ao mundo superior e viso do que l se encontra, se a tomares como a ascenso da alma ao mundo inteligvel, no iludirs a minha expectativa, j que teu desejo conhec-la. O Deus sabe se ela verdadeira. Pois, segundo entendo, no limite do cognoscvel que se avista, a custo, a idia do bem; e, uma vez avistada, compreende-se que ela para todos a causa de quanto h de justo e belo; que, no mundo visvel, foi ela que criou a luz, da qual senhora; e que, no mundo inteligvel, ela a senhora da verdade e da inteligncia, e que preciso v-la para se ser sensato na vida particular e pblica. (Rep. 517 a c) At o final do livro VII, so explicitados todos esses elementos e mostra-se como essa imagem da caverna constitui uma verdadeira sinopse, uma viso de conjunto, do curriculum do filsofo e da relao entre essas quatro modalidades de objetos do conhecimento, e ainda como e por que a relao entre essas quatro modalidades do objetos do conhecimento perpassada pelo jogo do poder. H um jogo do poder implicado na relao entre essas quatro modalidades de objetos do conhecimento, porque h indivduos que se notabilizam na apreenso das modalidades de objetos do conhecimento correspondentes ao sensvel, mas a apreenso dos objetos inteligveis demanda as qualidades especficas do filsofo, e isso implica a disputa e o exerccio do poder. Nessa imagem da caverna, podemos observar que, por um lado, estabelecem-se distines entre diversos graus de participao na verdade, no conhecimento e no ser; e, por outro lado, estabelece-se um nexo necessrio entre a verdade, o conhecimento e o ser. isso que a imagem da caverna encerra como doutrina, expondo e ressaltando os traos que o pensamento platnico, mais propriamente a dialtica, tem em comum com o pensamento mtico. Em resumo, por um lado, o nexo necessrio entre a verdade, o conhecimento e o ser, e, por outro, a distino entre os diversos graus de participao na verdade, no conhecimento e no ser. Como que isso aparece no pensamento mtico? Lendo a Ilada de Homero, observamos que entre os mortais distinguem-se os homens de outrora e os homens de hoje. Quem eram os homens de outrora? Os homens de outrora so esses de quem falam os cantos, e os homens de hoje so os que escutam ou lem os cantos. Os homens de outrora so os heris, cujas faanhas se contam nos cantos. Embora mortais, esses heris tm uma fora, inteligncia e perspiccia sobrehumanas, que lhes so comunicadas pelo favor divino, dada a proximidade em que vivem com os Deuses e a afinidade que tm com eles. Em geral, essa proximidade e afinidade dos heris com os Deuses e Deusas expressa-se em termos mticos com as imagens da genealogia, nascidos de npcias de um Deus e uma mortal, ou de uma Deusa
e um mortal. Alm dessa distino no interior do gnero dos mortais, entre heris e meros mortais, vigora tambm a bem mais importante distino entre os Deuses imortais e os homens mortais. Ambas essas distines implicam necessariamente por um lado as distines de graus de participao no ser, na verdade e no conhecimento, e por outro lado um nexo necessrio entre ser, verdade e conhecimento. Segundo a cronologia consensual estabelecida pela filologia moderna o Fdon um dos primeiros dilogos em que Plato apresenta explicitamente a teoria das idias. O tema do dilogo o ltimo dia de vida de Scrates. Condenado morte, chegado o dia da execuo, para consolar os amigos presentes, Scrates define a morte como a separao do corpo e da alma, e o estar morto como a alma estar concentrada sobre si mesma, separada do corpo, e o corpo parte da alma. Nessa definio de morte e de estar morto, a palavra corpo, como a palavra alma, so usadas num sentido ambguo. Por qu? Porque alma significa no s a identidade espiritual, mas tambm toda a regio do ser a que temos acesso atravs da inteligncia, da razo, do raciocnio, e que conhecemos unicamente atravs da alma, e que a alma investiga com os seus prprios recursos, constitudos pela inteligncia, pela razo, pelo raciocnio. E corpo significa no s a unidade orgnica que constitui o indivduo, mas tambm essa regio do ser correspondente ao sensvel, que ns conhecemos servindo-nos do corpo como um instrumento do conhecimento, e cujo conhecimento sempre precrio, sujeito a equvocos, a enganos, ao contrrio do conhecimento que a alma adquire por seus prprios meios, independentemente do corpo, e que um conhecimento permanente, permanentemente vlido e estvel. Depois, Scrates, no Fdon, diz que o filsofo o verdadeiro iniciado, usando esse termo tirado dos mistrios de Elusis, um termo religioso, de que ele se apropria. Os mistrios de Elusis, conexos noo de iniciao, conduziam, mediante a contemplao da cerimnia, aquisio de um saber relativo ao post-mortem; essas cerimnias estavam associadas a uma noo religiosa de purificao, e a um ritual de purificao. Scrates diz que o filsofo o verdadeiro iniciado porque a filosofia a verdadeira iniciao e a verdadeira purificao. A morte, ento, se torna uma metfora do processo do conhecimento. Por qu? Porque a purificao justamente a depurao dos elementos sensveis do pensamento, quando a alma se concentra sobre si mesmo e abstrai, prescinde dos elementos da sensao, prescinde do auxlio do corpo na investigao da verdade. Scrates diz ainda que o filsofo, como o verdadeiro iniciado, depois da morte conhecer os Deuses verdadeiros, enquanto que o no-iniciado vai para o lodaal. Nessa imagem, quem so esses Deuses que o filsofo conhecer depois da morte? Se a morte uma metfora do processo do conhecimento, que justamente a depurao dos elementos sensveis contidos no inteligvel, uma depurao em que os elementos inteligveis so separados do sensvel, ento o que o filsofo conhecer so as idias. Essa purificao, que o exerccio da filosofia, consiste justamente na depurao dos elementos sensveis do pensamento. Em seguida, Scrates apresenta os argumentos em prol da imortalidade da alma. A partir do segundo argumento, comea a apresentar de modo cada vez mais explcito a teoria das idias. Elaborando e apresentando pela primeira vez essa noo filosfica de idia, recorre aos eptetos que a poesia pica tradicionalmente associava aos Deuses, apropriando-se desses eptetos para descrever essa noo filosfica de idia. Primeiro diz da idia que a idia sempre, que sempre , apropriando-se do epteto hesidico dos Deuses ain enton, sempre vivos, os que so sempre. Depois diz que as idias so imortais, imperecveis, divinas. Essa correlao, que no Fdon se estabelece entre as
10
idias e essa noo mtica de Deuses, no se restringe ao Fdon; em muitos outros dilogos se diz que as idias so divinas, e sempre se considera que o filsofo um theos anr (homem divino). Theos anr como Homero se refere aos heris, que so homens divinos ou por que so filhos dos Deuses, ou porque so prediletos dos Deuses, e tm uma relao especial com os Deuses, pelo exerccio da arte divinatria ou da arte do canto. Nos Dilogos, especialmente no Fedro e no Sofista, o filsofo declarado um homem divino, um theos anr. Ele um theos anr porque ele contempla as idias, e as idias de uma maneira geral nos Dilogos sempre so associadas a t thea, as coisas divinas. Verificamos que a imagem da caverna constitui uma grande sinopse que, com elementos sensveis, descreve a totalidade do conhecimento, e a relao entre o filsofo e o poder, e resume os livros da Repblica anteriores, e particularmente o livro VI. Nessa grande sinopse, mostram-se esses traos comuns entre a dialtica platnica e o pensamento mtico. Concluindo, gostaria de chamar ateno para uma propriedade dessa imagem. No Sofista, 240 a 240 e, h uma definio de imagem, que constrangedora porque obriga-nos a contragosto a reconhecer que o no-ser de certa forma . Essa definio conceitual de imagem que aparece no Sofista coloca o problema do psedos (que se traduz ora por falsidade, ora por erro, ora por mentira), impe a necessidade de reconhecer a possibilidade do erro, da opinio falsa, e do discurso falso. A anlise das doutrinas a respeito do ser mostra as dificuldades inerentes a essa noo de ser; e mostra tambm que se para ns h dificuldade para compreender a noo de ser, igualmente difcil compreender a noo de no-ser, e que, se um dia a questo que pergunta o que ser se esclarecer para ns, h de se esclarecer tambm a outra correlata questo que pergunta o que o no ser. No Sofista se apresenta a doutrina da comunidade dos gneros, que est implcita nesse reconhecimento de que o ser de certo modo no e o no-ser de certo modo . Analisando a noo de ser, o Estrangeiro de Elia analisa a relao entre ser, movimento e repouso, e mostra que o movimento , e o repouso , mas o movimento no repouso, nem o repouso movimento, e que portanto necessrio distinguir entre ser, repouso e movimento, mas tambm necessrio reconhecer que tanto o movimento quanto o repouso participam do ser. Assim se apresenta essa doutrina da participao como condio da comunidade dos gneros, e analisando essa relao entre ser, repouso e movimento, descobre-se que o repouso outro que o movimento e o mesmo que si mesmo, assim como o ser outro que o repouso e outro que o movimento e o mesmo que si mesmo; e o mesmo se diz do movimento, e do repouso e do ser. Assim se revela que os gneros supremos, ser, repouso e movimento, implicam tambm os gneros o mesmo e o outro, que se distinguem mas se implicam. Coloca-se a questo da relao entre os gneros, entendidos como idias, formas inteligveis. Propem-se as trs possibilidades, de que nenhuma idia se associe a nenhuma idia, ou que toda idia se associe a toda idia, ou ainda que algumas idias se associem e outras no. Consideramse as conseqncias dessas trs possibilidades: nas duas primeiras, no possvel a cincia nem o discurso, porque se todas as idias se associam a todas as idias, possvel dizer tudo de tudo, possvel atribuir qualquer predicado a qualquer sujeito, e ento no possvel a cincia. E tambm se nenhuma idia se associa a nenhuma idia, no possvel dizer nada de nada, nem atribuir nenhum predicado a nenhum sujeito, e tambm no possvel a cincia. Para que a cincia e o discurso sejam possveis, necessrio que algumas idias se associem a algumas idias, e outras no. E quem pode
11
decidir que idia se associa a que idia? Quem tem essa acuidade do olhar para perceber que idia se associa a que idia? O dialtico. No final do dilogo Sofista, retomada a definio do sofista como produtor de imagem, e distingue-se entre a boa imagem e a m imagem, entre a imagem no sentido positivo e a imagem no sentido negativo. A boa imagem se diz eikn, que Jorge Paleikat traduz por cpia, e a m imagem se diz phntasma, que ele traduz por simulacro. A boa imagem, a cpia, guarda a mesma proporo entre os elementos constitutivos do modelo. A m imagem, o simulacro, distorce essa relao entre os elementos constitutivos do modelo, no sentido de enganar a vista. Isso pode nos parecer muito estranho e desconcertante, j que a arte da poca de Plato trabalha com a perspectiva. O Partnon, a grande obra arquitetnica do perodo clssico, cuja construo contempornea de Scrates, no tem as colunas e o fronto com as mesmas medidas em cima e em baixo, mas altera as suas medidas de modo a corrigir a distoro provocada pela distncia de quem contempla de baixo. Essas obras de arte seriam a m imagem, e isso to desconcertante quanto o que se diz sobre literatura e pintura e arte em geral nos livros II, III e X da Repblica. O que seria essa imagem que guarda essa mesma relao entre os elementos constitutivos do modelo? Penso que justamente a imagem nesse sentido em que a palavra eikn usada aqui, por exemplo, no livro VII da Repblica, onde se constroem imagens que designadas eiknes, com um sentido eminentemente positivo e laudatrio procuram ressaltar e mostrar a relao que h entre os diversos elementos constitutivos de diversos objetos inteligveis, que so os modelos, e dos quais essas imagens so as boas imagens e por isso se chamam eiknes. Resumo Como se descreve a noo de imagem, no dilogo Repblica de Plato? Como a noo de imagem assim descrita se integra, se se integra, na apresentao da noo de dialtica, nesse mesmo dilogo? Se sim, por que sim? Se no, por que no? Como e por que essas noes, a saber, a de imagem e a de dialtica, entram na composio do dilogo Repblica de Plato? Referncias bibliogrficas: PLATO Repblica, Sofista, Fdon, Fedro. (Citam-se levemente modificadas as tradues de Repblica de Maria Helena da Rocha Pereira, e de Sofista de Jorge Paleikat). BENOIT, Hector Scrates. O nascimento da razo negativa. So Paulo, Editora Moderna, 1996. GOLDSCHMIDT, Victor D) Rpublique Les Dialogues de Platon. Structure et mthode dialectique . Paris, P.U.F. 1971 (3 ed.), p. 274-304 (Traduo brasileira de Dion Davi Macedo. So Paulo, Loyola, 2002). La ligne de la Rpublique et la classification des sciences. Questions Platoniciennes. Paris, Vrin, 1970, p. 203-219. Le paradigme dans la dialectique platonicienne . Paris, P.U.F. 1971. HEIDEGGER, Martin La Doctrine de Platon sur la vrit, Questions II. Tr. fr. Andr Prau. s.l. Gallimard, s.d. LAFRANCE, Yvon La Rpublique, Le Sophiste, La thorie platonienne de la Doxa. Montral/Paris, Bellarmin/Les Belles Lettres, 1981, p. 117-196, 305-392. KRAUT, Richard (ed.) The Cambridge Companion to Plato.Cambridge University Press, 1996. TORRANO, Jaa Imagem imitante e imitado na imitao. O sentido de Zeus. O mito do mundo e o modo mtico
12
de ser no mundo. So Paulo, Iluminuras, 1996, p. 37-49. VERNANT, Jean-Pierre Raisons du mythe, Mythe et socit en Grce ancienne. Paris, Maspero, 1974. WATANABE, Ligia Plato, por hipteses e mitos. So Paulo, Editora Moderna, 1996. http://plato-dialogues.org/plato.htm.
Vous aimerez peut-être aussi
- ARTIGO 10: O Pensamento de Marx e As Opressões - Gustavo MachadoDocument3 pagesARTIGO 10: O Pensamento de Marx e As Opressões - Gustavo MachadoGustavo Lopes MachadoPas encore d'évaluation
- Socrates de Platão: Entre A Retorica e A Filosofia - Gustavo MachadoDocument16 pagesSocrates de Platão: Entre A Retorica e A Filosofia - Gustavo MachadoGustavo Lopes MachadoPas encore d'évaluation
- ARTIGO 1: Karl Marx: Uma Vida A Serviço Da Classe Operária - Gustavo MachadoDocument3 pagesARTIGO 1: Karl Marx: Uma Vida A Serviço Da Classe Operária - Gustavo MachadoGustavo Lopes MachadoPas encore d'évaluation
- Marx e A China: O Problema Da Expansão Do Capitalismo - Gustavo MachadoDocument18 pagesMarx e A China: O Problema Da Expansão Do Capitalismo - Gustavo MachadoGustavo Lopes MachadoPas encore d'évaluation
- Physis Como Dike em Parmenides - Gustavo MachadoDocument12 pagesPhysis Como Dike em Parmenides - Gustavo MachadoGustavo Lopes MachadoPas encore d'évaluation
- ARTIGO 9: Um Marx Desfigurado Pelo Stalinismo - Gustavo MachadoDocument3 pagesARTIGO 9: Um Marx Desfigurado Pelo Stalinismo - Gustavo MachadoGustavo Lopes MachadoPas encore d'évaluation
- ARTIGO 10: O Pensamento de Marx e As Opressões - Gustavo MachadoDocument3 pagesARTIGO 10: O Pensamento de Marx e As Opressões - Gustavo MachadoGustavo Lopes MachadoPas encore d'évaluation
- A Necessidade de Um Programa Fundado em Bases Científicas - Gustavo MachadoDocument5 pagesA Necessidade de Um Programa Fundado em Bases Científicas - Gustavo MachadoGustavo Lopes MachadoPas encore d'évaluation
- A Concepcao de Natureza em Marx - Gustavo MachadoDocument10 pagesA Concepcao de Natureza em Marx - Gustavo MachadoGustavo Lopes MachadoPas encore d'évaluation
- A Concepção de Natureza em Marx - Gustavo MachadoDocument11 pagesA Concepção de Natureza em Marx - Gustavo MachadoGustavo Lopes MachadoPas encore d'évaluation
- Fascismo: de Direita Ou de Esquerda? Gustavo MachadoDocument8 pagesFascismo: de Direita Ou de Esquerda? Gustavo MachadoGustavo Lopes MachadoPas encore d'évaluation
- Escritas e Escribas: o Cuneiforme No Antigo Oriente Proximo - KATIA MARIA PAIM POUERDocument20 pagesEscritas e Escribas: o Cuneiforme No Antigo Oriente Proximo - KATIA MARIA PAIM POUERGustavo Lopes Machado0% (1)
- A Necessidade de Uma Organização Independente Do Proletariado - Gustavo MachadoDocument6 pagesA Necessidade de Uma Organização Independente Do Proletariado - Gustavo MachadoGustavo Lopes MachadoPas encore d'évaluation
- Ritual Do Décimo Primeiro Grau Sublime Cavaleiro EscolhidoDocument26 pagesRitual Do Décimo Primeiro Grau Sublime Cavaleiro EscolhidoFrancisco Cassio LimaPas encore d'évaluation
- Prova Primeiro Ano Medio GréciaDocument8 pagesProva Primeiro Ano Medio GréciaBrincando com AliciaPas encore d'évaluation
- Anaxágoras - Vida, Obras e Relação Com Demócrito - Brasil EscolaDocument2 pagesAnaxágoras - Vida, Obras e Relação Com Demócrito - Brasil EscolaRobson LimaPas encore d'évaluation
- Nexus 2.5 - Éride - Biblioteca ÉlficaDocument195 pagesNexus 2.5 - Éride - Biblioteca ÉlficaDiogo MeloPas encore d'évaluation
- 2 Um Toque de Ruína Scarlett ST. ClairDocument294 pages2 Um Toque de Ruína Scarlett ST. ClairMaria Luiza RibeiroPas encore d'évaluation
- Apostila de Cultura Religiosa SiteDocument80 pagesApostila de Cultura Religiosa Sitejoaovalom0% (2)
- TATUAGEM E COMUNICAÇÃO O Corpo Como Meio e A Tatuagem Como Mensagem.Document15 pagesTATUAGEM E COMUNICAÇÃO O Corpo Como Meio e A Tatuagem Como Mensagem.Fernanda RaquelPas encore d'évaluation
- A Magia Do VinhoDocument106 pagesA Magia Do VinhoLudianderson LazzarottoPas encore d'évaluation
- BAKHTIN, Mikhail - Questões de Literatura e de Estética - Sem Epos e RomanceDocument20 pagesBAKHTIN, Mikhail - Questões de Literatura e de Estética - Sem Epos e RomanceVanessa Almeida100% (1)
- O Monte OlimpoDocument7 pagesO Monte OlimpoAnabela MachadoPas encore d'évaluation
- Exercícios Do Texto FilosofiaDocument2 pagesExercícios Do Texto FilosofiaisabelladaysPas encore d'évaluation
- Introdução À FilosofiaDocument8 pagesIntrodução À FilosofiaMatheus Freitas100% (1)
- Mitologia Germano EscandinavaDocument90 pagesMitologia Germano Escandinavarafaelwho100% (2)
- City of Sin Livro 05 - Flames of The Eternal NightDocument400 pagesCity of Sin Livro 05 - Flames of The Eternal Nightbrenok967Pas encore d'évaluation
- Joyce Orion - Conhece-TeDocument288 pagesJoyce Orion - Conhece-TemllabatePas encore d'évaluation
- Malévola e A Redenção Do Feminino FeridoDocument4 pagesMalévola e A Redenção Do Feminino FeridoJorge HegelPas encore d'évaluation
- Ficha de Filosofia 6o Ano MaristaDocument22 pagesFicha de Filosofia 6o Ano MaristaLorena MeiraPas encore d'évaluation
- Modulo 1 - HistóriaDocument75 pagesModulo 1 - HistóriaSalma CortezPas encore d'évaluation
- O Ator Cidadão PDFDocument11 pagesO Ator Cidadão PDFAmarildo de AlmeidaPas encore d'évaluation
- Seres Do Submundo GregoDocument57 pagesSeres Do Submundo GregoExpresión Mágica100% (1)
- Hades - Deus Do Submundo e Dos Mortos Da Mitologia Grega - SignificadosDocument5 pagesHades - Deus Do Submundo e Dos Mortos Da Mitologia Grega - SignificadosdavidfreitasdwfPas encore d'évaluation
- O Homem Metafísico (Dalmo Duque Dos Santos)Document5 pagesO Homem Metafísico (Dalmo Duque Dos Santos)Clauber LuizPas encore d'évaluation
- Extensivo Enem - Semana 01 PDFDocument202 pagesExtensivo Enem - Semana 01 PDFAmanda Amado100% (1)
- O Rito de Seus Fogos SagradosDocument4 pagesO Rito de Seus Fogos SagradosJuliana Sousa TavaresPas encore d'évaluation
- Caderno Atividades RMG 03SETDocument21 pagesCaderno Atividades RMG 03SETGustavo OsamaPas encore d'évaluation
- 6º Ano B: MensaisDocument68 pages6º Ano B: MensaisIlza Kelly RagalcePas encore d'évaluation
- Levando A Sério A PalhaçadaDocument95 pagesLevando A Sério A Palhaçadalucas473201Pas encore d'évaluation
- 07 Macunaima-2Document36 pages07 Macunaima-2Myrian SantosPas encore d'évaluation
- Jostein Gaarder - O Mundo de Sofia-PensadoresDocument33 pagesJostein Gaarder - O Mundo de Sofia-PensadoresFernando ZemorPas encore d'évaluation
- Sciam - Especial EvoluçãoDocument63 pagesSciam - Especial Evoluçãolisepd5748Pas encore d'évaluation