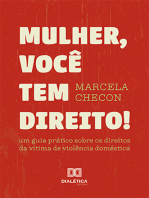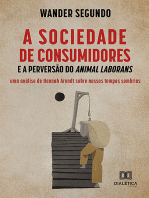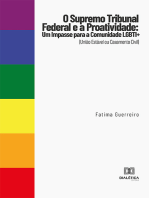Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Hannah Arendt e A Banalidade Do Mal
Transféré par
Vanderlei Lima100%(1)100% ont trouvé ce document utile (1 vote)
539 vues148 pagesTitre original
Hannah Arendt e a Banalidade Do Mal
Copyright
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formats disponibles
DOC, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formats disponibles
Téléchargez comme DOC, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
100%(1)100% ont trouvé ce document utile (1 vote)
539 vues148 pagesHannah Arendt e A Banalidade Do Mal
Transféré par
Vanderlei LimaDroits d'auteur :
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formats disponibles
Téléchargez comme DOC, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 148
Hannah Arendt e a banalidade do mal
Dissertao de Mestrado - UFMG - Ndia Souki
Prefcio
Este livro trata do caminho de Hannah Arendt na direo do
esclarecimento do fenmeno do mal. Tal como ocorreu com outros autores do
nosso sculo, a reflexo da filsofa tem origem em uma experincia de espanto e
de choque.
Em 1943, Hannah Arendt tomou conhecimento da existncia dos
campos de extermnio. Os anos seguintes, at a publicao de As Origens do
Totalitarismo (1951), constituem o primeiro momento do seu empreendimento
compreensivo. A obra, um clssico do pensamento poltico, descreve o macabro
funcionamento da mquina totalitria e prope aproxim-la do mal absoluto ou do
mal radical, tal como Kant havia formulado.
O segundo passo deste percurso o da publicao de Eichmann em
Jerusalm um Relato sobre a Banalidade do Mal (1963). A novidade do livro
reside em que o mal visto no mais vinculado a algo de absoluto e com razes
profundas, mas, do ponto de vista do seu agente, em sua banalidade. Os crimes
cometidos por Eichmann foram monstruosos, sua personalidade era apenas
ordinria. Da a idia de que o mal nunca radical, no possui profundidade nem
dimenso demonaca.
A terrvel banalidade da figura de Eichmann manifestava-se ainda na
total incapacidade de pensar. O pensamento uma abertura pela qual o mundo
se nos afigura e surpreende. Eichmann, ao contrrio, recorria, para lidar com as
situaes, a comportamentos padronizados e se expressava usando clichs e
frases feitas.
Foi isto que motivou Hannah Arendt a formular a pergunta que abre A
Vida do Esprito, sua ltima obra, e que orienta o terceiro passo do percurso:
"Ser possvel que o problema do bem e do mal esteja conectado com nossa
faculdade de pensar?".
A resposta passa pela desconsiderao de todo intelectualismo moral:
o pensamento no produz nenhuma sabedoria prtica. Mas possvel, adianta
Hannah Arendt, localizar na prpria estrutura dual do pensar implicaes morais.
Alm disso, tomado em sua natureza estritamente crtica, o
pensamento tem o poder de liberar o caminho para o juzo, a faculdade com a
qual distinguimos o que certo do que errado. Neste ponto reside a importncia
maior deste livro apontar para o fato de Hannah Arendt ter recolocado o
problema central da relao entre teoria e prtica.
Eduardo Jardim de Moraes
Introduo
O mal sempre constituiu um desafio filosofia, chegando, muitas
vezes, a ser considerado um enigma; por isso, tem correspondido a um convite a
no ser pensado. Mas o fato de ignor-lo, expurg-lo do pensamento no o
esconjura e nem o retira do universo dos problemas humanos. Por outro lado,
exatamente esse carter enigmtico do mal que pode representar urna
provocao para que o pensemos melhor ou de forma diferente.
Para Ricoeur, o que fornece o carter enigmtico ao mal, pelo menos
na tradio judaico-crist do Ocidente, a nossa tendncia de colocar, numa
primeira abordagem e num mesmo plano, fenmenos dspares como pecado,
sofrimento e morte. De acordo com esse ponto de vista, a nossa proposta, neste
trabalho, dissociar a noo de mal da de pecado, de sofrimento e de morte.
Tentaremos abord-lo dentro da perspectiva da ao que nos conduz a uma
abordagem da tica e da poltica, pois, sendo o mal, nessa perspectiva, sinnimo
de violncia, combat-lo, por meio da ao tica e poltica, diminu-lo no mundo.
A experincia poltica do sculo XX revelou-nos o surgimento de uma
nova modalidade de mal at ento desconhecida. A emergncia do fenmeno
totalitrio obrigou-nos a reavaliar a ao humana e a histria, na medida em que
esta revelou novas figuraes do homem, inclusive em algumas de suas formas
monstruosas. , precisamente, no contexto da reflexo sobre a experincia das
sociedades totalitrias do nosso sculo que Hannah Arendt retoma a questo do
mal na filosofia.
Segundo a autora, quando tentamos compreender o fenmeno
totalitrio que nos impe essa realidade e que contraria todas as normas que
conhecemos no temos apoio na experincia da tradio. Para ela, essa falta
de apoio se deve tanto ao fato de a emergncia de tal fenmeno constituir algo
novo, que no se ajusta s nossas categorias de pensamento, quanto
constatao de que toda tradio filosfica se recusa a conceber um mal radical.
Acrescenta que at mesmo Kant o recusou. Sobre ele, Hannah Arendt
diz que foi "(...) o nico filsofo que, pela denominao que lhe deu, ao menos
deve ter suspeitado de que esse mal existia; embora logo o racionalizasse no
conceito de uma 'perversidade do corao', que podia ser explicada por motivos
compreensveis".
Apesar dessa observao, Hannah Arendt passa a seguir a trilha
aberta por Kant, apoiando-se no conceito de mal radical em sua investigao
acerca do surgimento dessa nova forma de violncia e do seu alastramento e
plena realizao enquanto realidade poltica. O fio condutor de seu pensamento
a indagao sobre o mal radical, sobretudo na sua dimenso tica e poltica. O
pano de fundo o totalitarismo, visto como um paradigma da destruio do
poltico.
Sobre isso, Hannah Arendt diz:
Podese di!er "ue esse mal radical surgiu em rela#$o a um sistema%
no "ual todos os homens se tornaram supr&luos' Os "ue manipulam esse
sistema acreditam na pr(pria super&luidade tanto "uanto na de todos os outros% e
os assassinos totalit)rios s$o os mais perigosos% por"ue n$o se importam se
est$o *i*os ou mortos+ se ,amais *i*eram ou se nunca nasceram'
Na sua concepo, o surgimento dessa nova modalidade de mal tem,
como meta, no o domnio desptico dos homens, mas sim, um sistema em que
todos os homens sejam suprfluos. O primeiro passo essencial no caminho desse
domnio total a destruio da pessoa jurdica do homem. O passo seguinte a
anulao da individualidade e da espontaneidade, de forma que seja eliminada a
capacidade humana de iniciar algo novo com seus prprios recursos. O objetivo
dessa destruio a transformao da pessoa humana em coisa.
Tendo em vista nossa preocupao com a atualidade da ocorrncia
desse tipo de mal, somos obrigados a admitir que este risco sobrevive queda
dos estados totalitrios. Nas, sociedades burocrticas modernas, os
acontecimentos polticos, sociais e econmicos de toda parte conspiram,
silenciosamente, com os instrumentos totalitrios inventados para tornar os
homens suprfluos.
Hannah Arendt mostra-nos que o modelo do "cidado" das sociedades
burocrticas modernas o homem que atua sob ordens, que obedece cegamente
e incapaz de pensar por si mesmo, pois essa supremacia da obedincia
pressupe a abolio da espontaneidade do pensamento. E nessa ausncia de
pensamento, nessa expresso humana opaca, nessa rarefao das conscincias
aparece a tragdia, batizada por Hannah Arendt de a "banalidade do mal".
O lugar da formulao do problema do qual pretendemos nos ocupar
neste trabalho o livro Eichmann em Jerusalm- .m Relato sobre a Banalidade
do Mal (1963). A formulao do problema do mal, nessa obra de Hannah Arendt,
pareceu-nos profundamente atual e pertinente, alm de instigante e motivadora
de pesquisas e de novas leituras. O ncleo da nossa investigao o conceito de
banalidade do mal, que pensamos estar revestido de grande importncia no
quadro da filosofia poltica, no apenas por sua atualidade, como se disse, mas
tambm por estar ligado a uma preocupao tica.
interessante observar no exame da obra de Hannah Arendt uma
preocupao com o fenmeno do mal norteando toda uma indagao poltica, que
se inicia em Origens do Totalitarismo, passa por Eichmann em Jerusalm para
chegar, finalmente, em A Vida do Esprito. Esse fio condutor revela uma
continuidade e uma coerncia num pensamento que vai sendo ampliado,
reformulado e acrescido, sem que se perca de vista o ponto eleito corno
fundamental: a indagao sobre o mal no quadro poltico contemporneo.
importante lembrar que, apesar da clareza sobre o mbito de seu
pensamento, Hannah Arendt no se declarava filsofa, mas dizia: "Meu ofcio (...)
a teoria poltica" (1964). Ao final de sua vida, no contexto do seu ltimo trabalho,
A Vida do Esprito, quando se volta para a vida contemplativa, Hannah Arendt
admitiu seu retorno filosofia.
Esse "retorno" ocorreu devido a dois fatores. Em primeiro lugar,
curioso observar que, ironicamente, o fenmeno do mal em sua manifestao na
esfera poltica deve ter-lhe recordado os interesses metafsicos da sua juventude.
Contudo, no momento em que usou na obra Eichmann em Jerusalm, o subttulo
"a banalidade do mal", ela no pretendeu se referir a nenhuma teoria filosfica.
O conceito foi evocado pelo fato de perceber a extraordinria
inabilidade de Eichmann em pensar. Assim, ao superficial Eichmann, em
primeira instncia, que ns devemos o fato de Hannah Arendt ter resolvido, ao
final da vida, explorar o lado invisvel da *ida acti*a, isto , a vicia do pensamento.
Em segundo lugar, est o fato de que, se, inicialmente, ela via uma
incompatibilidade entre a filosofia e a poltica,' esse pensamento foi sendo
reformulado ao longo de seu percurso e aparece resolvido, explicitamente, em
seus ltimos escritos.
No percurso de seu pensamento poltico, seus principais guias,
conforme ela mesma declarou, foram Scrates, Kant e Jaspers. Scrates era,
para ela, o modelo do puro pensador, talvez o "mais puro pensador do Ocidente".
Quanto a Kant, encantou-se pelo seu pensamento desde a
adolescncia. Em toda a sua vida, Kant serviu-lhe de mentor e, como dizia
freqentemente, ele parecia ficar atrs de seu ombro, em sua escrivaninha,
inspirando-a e advertindo-a alternadamente, como um tipo de daimon socrtico.
Assim, seu "heri filosfico" foi Kant, e isso se deve principalmente ao fato de ele
ter repudiado a doutrina platnico-aristotlica da supremacia do "sbio" sobre o
"vulgar". Com isso, a filosofia passa a falar a lngua da Cidade, e o problema da
Cidade um problema filosfico. Ao abandonar a hierarquia entre bios politi/os e
bios torti/os, Kant faz desaparecer a contradio entre a filosofia e a poltica.
Karl Jaspers, "o nico discpulo que Kant teve"," foi, para Hannah
Arendt, o nico, tambm, a perceber a dimenso)poltica da obra de seu mestre.
Nesses dois filsofos, a atividade de pensar exigia a solido, mas uma solido
que no exclua as demais, pois no centro das obras de Jaspers se encontram
noes como as de comunidade, de amizade, de dilogo e de pluralidade.
Movida pela indagao sobre o mal radical, que aparece no final de
Origens do Totalitarismo, e pelo desejo ardente de compreender o que, para ela,
significava "(...) encarar a realidade sem preconceitos e ateno, e resistir a ela
qualquer que seja", Hannah Arendt quis ver de perto Eichmann, o mal encarnado
no julgamento em Jerusalm. At a, ento, sua expectativa era de se defrontar
com um monstro, um perverso ou, no mnimo, um fantico poltico.
Mas, alm de sua expectativa frustrar-se, esse confrontamento revelou
um homem desprovido de qualquer grandeza malfica ou qualquer caracterstica
peculiar que o diferenciasse dos demais, a no ser o que ela denominou de um
"vazio de pensamento". exatamente a partir dessa experincia de perplexidade
e espanto que se d o percurso do pensamento arendtiano, da formulao da
idia de banalidade do mal de vazio de pensamento. no bojo dessas reflexes
que pretendemos acompanhar o pensamento de Hannah Arendt.
Portanto, o objeto deste livro a indagao acerca do mal no percurso
do pensamento poltico de Hannah Arendt, tendo como centro da questo a idia
de banalidade do mal.
No Captulo , intitulado "O Mal Radical como Ponto de partida",
tomaremos o conceito kantiano para iniciarmos a reflexo. nicialmente,
pretendemos situar a doutrina do mal radical em seu contexto histrico, realando
a polmica e a existncia que esse conceito suscitou desde a poca em que foi
formulado at os nossos dias. A seguir, procuraremos fundamentar o conceito em
seus pontos principais e tratar da possibilidade da converso como
restabelecimento da lei moral, ferida depois da ocorrncia desse tipo de mal.
Finalmente, tomaremos o mal radical em sua dimenso poltica na qual
considerado em sua dinmica de expanso.
Ao tratarmos de sua expanso, situamos a questo do totalitarismo, da
qual passaremos a tratar no Captulo , denominado "A Novidade Totalitria".
Comearemos discutindo o conceito de novidade no pensamento arendtiano, para
podermos tratar do fenmeno totalitrio como uma novidade poltica
contempornea que rompe com um pensamento situado no quadro de referncia
dado pela tradio. Para ocuparmos dessa novidade, seguiremos a trilha traada
por Hannah Arendt na busca das origens desse fenmeno, que passa pelo anti-
semitismo e pelo imperialismo. Finalmente, apoiaremos a reflexo sobre o
totalitarismo nos dois pontos fundamentais que o caracterizam: a ideologia e o
terror.
No Captulo , "A Banalidade do Mal - Uma nveno
Contempornea", comentaremos, primeiramente, a polmica e a repercusso
suscitada por Eichmann em Jerusalm: Um Relato sobre a Banalidade do Mal,
bem como o significado de tais reaes. Depois, trataremos do "caso Eichmann" e
as reflexes desencadeadas com base na forma como esse processo foi
conduzido.
Em seguida, refletiremos sobre as teses que Hannah Arendt. rejeitou a
propsito do "homem Eichmann" e do espanto que lhe provocou a observao
desse homem "em carne e osso". Finalmente, trabalharemos, em seu contexto
original, o conceito de "banalidade de mal", propriamente dito, tentando captar seu
significado articulando-o com o conceito de mal radical em Kant, at chegarmos
ao seu ncleo que aponta para o vazio de pensamento.
No Captulo V, "O Vazio de Pensamento", seguiremos os passos de
Hannah Arendt em suas reflexes sobre a faculdade do pensar, em A Vida do
Esprito. Partiremos da atividade do pensamento, que cuidadosamente
investigada por Hannah Arendt, dentro do universo filosfico, at chegarmos ao
que ela denominou "vazio de pensamento", conceito pouco delimitado em si
mesmo, mas o tempo todo associado atividade de pensar.
Concluindo, tentaremos articular os trs conceitos essenciais esse
percurso de reflexo: o mal radical, a banalidade do mal e o vazio de pensamento.
O objetivo dessa articulao final tentar chegar, primeiramente, ao ncleo
essencial de cada um desse conceitos, atravs de uma anlise comparativa entre
eles, e, por fim, a uma viso mais ampla do pensamento arendtiano sobre o mal,
viso essa que possa nos apontar novas direes para a investigao sobre o mal
na filosofia.
(....)
Concluso
Mas ningum deve cantar vitria antes do tempo: ainda est fecundo o ventre de
onde surgiu a coisa imunda. B. Brecht
Ao final deste percurso, em que tentamos acompanhar o pensamento
arendtiano em seus desdobramentos na investigao acerca da questo do mal
na poltica, queremos destacar alguns pontos deste, antes de passarmos s
concluses especficas. importante assinalar que a banalidade do mal foi eleita
ponto de ancoragem do percurso. Nela nos apoiamos, permitindo-nos,
simultaneamente, o deslocamento constante e a volta ao ponto de referncia na
explorao desse pensamento.
mpressiona a persistente preocupao de Hannah Arendt com o
problema do mal no quadro poltico contemporneo, desencadeada, ao que
parece, j no prenncio do fenmeno totalitrio) A constncia desse envolvimento
semelhante a um fio que a conduz e a orienta em sua obra, ao longo de vinte e
quatro anos; a fidelidade a essa questo permitiu-lhe avaliar, reformular e ampliar
seu pensamento, de forma que nunca perdesse a continuidade e a coerncia.
A questo do mal foi explicitada pela primeira vez em 1951, no final de
Origens do Totalitarismo, quando ela indagou a respeito do mal extremo que
apareceu no final do terror totalitrio e questionou a suficincia do conceito
kantiano de mal radical, na explicao de tal fenmeno. Doze anos depois, em
1963, retomou o assunto em Eichmann em Jerusalm, quando lanou a idia de
banalidade do mal. Essa idia, em sua fecundidade, vitalizou sua pergunta
original sobre o problema do mal e, ao mesmo tempo, desencadeou uma srie de
novas e atualizadas colocaes sobre a questo. Ao final da recolocao,
formulou a idia de um vazio de pensamento instalado no bojo do problema do
fenmeno da banalidade do mal. Com isso, inaugurou uma outra abordagem
sobre a questo que, assim situada, foi responsvel pelo seu retorno filosofia.
Nos anos que se seguiram ao julgamento de Eichmann, duas
questes, derivadas da idia de banalidade do mal, passaram a ocupar,
obstinadamente, a sua ateno: as atividades de pensar e de julgar. A pergunta
que motivou essa preocupao foi a seguinte: ser que a atividade de pensar e a
de julgar tm algum componente que possa impedir a prtica do mal? Essa
indagao, que explorada na primeira parte de A Vida do Esprito, ao ser
ampliada, exigiu, em sua continuidade, a investigao sobre o querer e o julgar,
que marcou o seu trabalho at 1975, final de sua vida.
Quando Hannah Arendt escreveu Lies sobre a Filosofia de Kant, a
idia que norteou sua investigao foi essa vigorosa reflexo voltada para a
elucidao das condies das possibilidades do juzo crtico. A discusso das
implicaes desse ato de julgar os eventos polticos perpassa e alinhava sua obra
do comeo ao fim, remetendo-nos ao prprio mago de sua reflexo: a sua
indagao sobre o mal.
Observamos, nitidamente, que o fio que costura o pensamento poltico
de Hannah Arendt o problema cio mal, recolocado e renovado o tempo todo,
mas sempre dentro do contexto de uma preocupao tica e poltica. Pergunta-
se: por que o mal?
Pensamos que o mal foi escolhido por Hannah Arendt porque ele
sempre nos remete referncia oposta que , em seu pensamento, a idia de
liberdade. Hannah Arendt sempre trabalhou, pari passu, o mal e a liberdade.
Para ela, a idia de liberdade foi inspirada em Santo Agostinho, para
quem o initium significa que, para cada homem, h um comeo relativo, o
nascimento. O conceito de natalidade e a importncia do nascimento
fundamentais para Hannah Arendt fazem com que a natalidade seja a
categoria central da poltica, em contraposio morte que a categoria central
da metafsica. So, em suma, a natalidade e o initium que permitem a liberdade
de criao no inundo das aparncias, das coisas novas.
Essa contraposio de idias, alis, parece ser uma caracterstica do
pensamento arendtiano e se faz notar em diversos momentos de sua obra:
totalitarismo versus revoluo; quebra da tradio versos brecha entre o passado
e futuro; vazio de pensamento versus o pensar. Contudo, no uma simples
contraposio; ela sempre tentou dar uma consistncia aos dois lados. No
entanto, nessa caracterstica do pensamento arendtiano que podemos
compreender o porqu de ela no chegar a tratar explicitamente de conceitos
chaves como o de banalidade do mal ou do vazio de pensamento as
referncias cio mal.
Observamos que os temas mais recorrentes em Hannah Arendt no
so tratados em sua individualidade e especificidade; ao contrrio, ela investiga o
seu oposto. Por exemplo, o pensar e o julgar so abordados como os antdotos do
mal, aquilo que evitaria a banalidade do mal. Ela inaugura, enuncia, aponta urna
idia, mas no a trabalha explicitamente, de forma a estabelecer seus contornos
definidos; ela no as esgota.
No entanto, essa caracterstica, longe de desvalorizar o pensamento
arendtiano, confirma a coerncia de quem tem, como preocupao primordial, a
liberdade de comear, o novo e a experincia inicial do pensamento, que o
espanto, o thaumatzein reforado na sua concepo de poltica.
Como sabemos, Hannah Arendt no deixou escola; deixou questes a
serem trabalhadas, questes em aberto que permitem a continuidade de suas
investigaes e, ao mesmo tempo, a inovao, a criao de novas categorias de
pensamento.
Foi consistente com essa valorizao da inovao a forma como ela
sempre recorreu filosofia de Kant. No percurso do pensamento arendtiano, Kant
foi a referncia, porque sempre foi ele quem a guiou em sua concepo de
poltica. Principalmente porque nele desaparece a contradio entre filosofia e
poltica. Para Arendt, Kant no concebia a poltica a partir dos preconceitos
tradicionais, pois, para ele, "o filsofo permanece um homem como vocs e eu,
vivendo entre seus companheiros e no entre filsofos".
Essa idia de uma "igualdade" fundamental entre os homens revelou
em Kant um estilo de pensamento aberto s preocupaes polticas. por isso
que Kant no dissocia suas preocupaes filosficas das questes e
preocupaes polticas. No entanto, constatamos que Hannah Arendt fez uma
leitura muito particular de Kant, na medida em que sua interpretao autonomiza-
se em relao ao texto kantiano, tomado por ela mais como ponto de partida para
suas prprias reflexes.
Hannah Arendt no faz uma leitura de Kant ao p da letra, pois no l
Kant em termos de histria da filosofia, mas de reapropriao hermenutica. Essa
forma de leitura se justifica na crena arendtiana de que o gesto filosfico, com
relao tradio, no o de revocar as velhas verdades para, ilusoriamente,
solucionar os novos questionamentos, mas sim, de fazer um certo uso do
pensamento fundado sobre uma idia do contato do filsofo com a poltica. Aqui,
importante lembrar que uma interpretao vale pelo que ela sugere, no pelo
que reproduz.
Passemos, ento, s concluses a que chegamos em nossa pesquisa,
relativamente ao pensamento arendtiano sobre o mal em seus pontos
fundamentais. Observamos que, no que concerne ao mal, h urna ntida
aproximao entre o pensamento arendtiano e o kantiano. Alm de no haver
divergncia entre banalidade do mal e mal radical, observam-se convergncias
importantes no que diz respeito s referncias que esses dois pensadores utilizam
para se pensar sobre esse problema.
O primeiro ponto de convergncia o da recusa da malignidade no
homem. Em ambos, o mal no abordado como um princpio original no homem,
como algo que faz parte de sua natureza sensvel. Se assim fosse, o mal seria
necessrio, e o homem, ento, teria uma essncia maligna. Ao contrrio, o mal
considerado como urna possibilidade humana, uma contingncia e, sendo assim,
acha-se inscrito na sua liberdade. O bem e o mal so possibilidades humanas
radicais, isto , enraizadas na liberdade do homem, na liberdade radical que o
fundo de sua vida. Por essa razo, a abordagem que ambos fazem do mal no
ontolgica, pois no se trata de perguntar sobre a sua essncia. Mas o que lhes
interessa so as contingncias em que aparece o mal: por isso ele objeto da
tica e cia poltica.
O segundo ponto de convergncia diz respeito referncia que se
ope ao mal: a dignidade humana. Em ambos, a dignidade humana garantida
quando o homem livre, isto , quando ele considerado como um fim em si
mesmo. Essa garantia alcanada em Kant atravs da lei moral, e em Arendt,
pela ao, notadamente a ao poltica. Nos dois pensadores, paralela idia de
liberdade, encontra-se a de igualdade.
Em ambos, todo ser humano tem um apelo igual dignidade humana,
que se faz em Kant, pelo igualitarismo moral e aperfeioada, em Arendt, pela
cidadania isonmica. Liberdade e igualdade so, pois, os pontos de referncia
comuns para se pensar a dignidade humana. Contudo, em Kant, o homem
pensado, originalmente, em sua moralidade e, em Arendt, em sua ao poltica.
Finalmente, devemos considerar o ponto no qual divergem esses dois
pensamentos. Vimos que Hannah Arendt elegeu o "vazio de pensamento" como
sendo o ncleo do problema da "banalidade do mal", o que significa que ela toma,
como referncia, o vazio, a falta, enfim um negativo, para se pensar o mal. Em
Kant, o mal no apenas uma falta de determinao positiva, mas sobretudo uma
afirmao de oposio ao bem, ou lei moral. Entretanto, esse princpio positivo
do qual o mal portador no tem um estatuto originrio, ele no representa uma
qualidade de carter do homem e, por isso, no pe em risco a lei moral.
Para concluir, podemos entender que Hannah Arendt distancia-se de
Kant muito mais em razo de sua interpretao contempornea do problema do
mal do que em decorrncia de diferenas estruturais entre o pensamento de
ambos. Em Hannah Arendt, vimos o interesse pela aparncia,' donde se pode
inferir que ela faz uma poltica do fenmeno. Por isso, ao realar o vazio, aponta
para a presena dessa dimenso no mundo contemporneo a "era do vazio"6
que se caracteriza por marcas inconfundveis: a dissoluo do espao poltico,
a diminuio do senso comum (o senso do real), o esvaziamento da tradio e o
vazio de pensamento.
Em meio bruma dessa sociedade de massa esvaziada de valores,
Hannah Arendt lana um foco de luz sobre a questo do mal contemporneo,
definindo-o como um tipo de esvaziamento que se produz na ao e no
pensamento humanos. a, precisamente, que reside o carter pontual de um
pensamento que se preocupa em compreender e desvelar a novidade do nosso
tempo.
Estes so os pontos fundamentais que se puderam, aqui, ser
descritos. Nossa abordagem certamente no esgotou a questo sobre o mal na
obra de Hannah Arendt. Se fomos capazes de identificar as direes que o
pensamento arendtiano apontou e a fecundidade de seus caminhos, j atingimos
o nosso objetivo, principalmente num momento em que o tema do mal e,
sobretudo, o da "banalidade do mal" esto longe de serem questes superadas.
O mal radical como ponto de partida
Dissertao de Mestrado - UFMG - Ndia Souki
A histria da natureza comea pelo bem, pois obra de Deus; a histria da liberdade
comea pelo mal, pois obra do homem. Kant
A DOUTRINA DO MA RADICA
A doutrina kantiana do mal radical apareceu, em 1793, na primeira
parte da obra A Religi$o dentro dos 0imites da 1imples Ra!$o. Nela, Kant situa a
doutrina da igreja em seu sistema j elaborado, e tudo gira em torno do mal
radical.
Aparentemente, o mal radical apresenta-se como um corpo estranho,
embora, de algum modo, j tivesse sido tratado em sua filosofia e antropologia
antes do aparecimento de seu sistema crtico. Na verdade, ele se incorpora
profundamente filosofia kantiana, porque, de fato, j estava enraizado nela. A
teoria do mal radical tornou-se um dos fundamentos da religio e da moral
kantianas, moral que no encontra seu fundamento na religio, mas que, ao
contrrio, pode fundar e justificar uma religio.
Essa doutrina apresenta, j no ttulo, uma demanda polmica e, de
acordo com as trs crticas, quer sujeitar razo, o mximo atributo humano,
todos os campos da cincia e tambm da f. Nenhuma outra obra de Kant
suscitou tantas crticas, e a tese mais difcil de ser aceita exatamente a do mal
radical: seu ponto convergente.
A teoria do mal radical apareceu no sistema kantiano como um fato
novo e imprevisto que surpreendeu e, de maneira geral, indignou seus
contemporneos.
Bruch comenta essa reao da poca e, tambm, as crticas que
atravessaram o sculo XX at o incio do sculo XX. No contexto iluminista, a
concepo moralizante da religio estava ligada a um otimismo moral que levava
a recalcar o dogma do pecado original. Assim, a teoria de Kant teve um efeito de
surpresa e escndalo junto aos contemporneos esclarecidos que acreditavam
conhecer o kantismo e no suspeitavam que ele pudesse levar a conseqncias
to contrrias o esprito da Aufklrung. Assim, essa nova teoria pareceu-lhes unia
traio.
Goethe expressa bem a medida de sua indignao quando, em carta a
Herder, diz: 23ant% depois de ter de*otado urna longa *ida de homem a limpar seu
manto &ilos(&ico de todos os tipos de preconceito "ue o macula*am% su,ouo
ignominiosamente com a mancha *ergonhosa do mal radical% a &im de "ue os
crist$os tambm se sentissem enga,ados a tomar seu partido'2
Herder afirma que Kant foi alm das escrituras, na afirmao de uma
natureza pecadora do homem. Para ele, o mal radical o prprio diabo que reside
em ns, condenando o imperativo categrico a ser apenas uma lei puramente
formal, da qual o poder radical do mal tira toda eficcia. Schiller tambm acusa a
teoria kantiana do mal de se juntar religio revelada e de dar ortodoxia urna
garantia filosfica da qual ela se apodera sem se tornar, contudo, mais
esclarecedora.
Ainda, segundo o comentrio de Bruch, indignao ou reprovao
dos contemporneos sucederam-se as crticas do sculo XX. Segundo Troeltsch
(1904), a teoria do mal radical aparece dentro de um escrito de circunstncia
destinado a reencontrar um compromisso entre a filosofia e o cristianismo.
Fittbogen (1924) resume a antipatia da maior parte dos comentadores
deste texto, ao afirmar que esta doutrina a mais impopular de toda a filosofia
kantiana e que ela soa mal aos ouvidos tanto de ontem quanto de hoje.
Foram necessrios mais de um sculo e a experincia das guerras do
sculo XX para que a teoria do mal radical deixasse de escandalizar os filsofos;
estes, juntamente com os telogos, renunciaram ao leibnizianismo, no tendo
medo de afrontar o mal.
sso nos leva a concluir que Kant foi, sem dvida, um precursor, pois
conseguiu ver mais longe que seus contemporneos e, se ele um dos filsofos
da Aufklrung, tambm um decidido crtico dela. A razo a instncia suprema
no homem, mas essa mesma razo essencialmente finita. Reconhecer essa
limitao um dos maiores servios prpria razo.
Em relao ao termo "mal radical", Kant o tomou de Baumgarten
(Prelees, 1773). J o termo radical vem de toda uma tradio neoplatnica,
agostiniana, sem esquecermos tambm de Leibniz e toda a escola que o segue.
Radical significa limitatio. O radical , conforme Leibniz, a finitude original da
criatura.
Segundo Philonenko na imagem da curvatura, que tem origem
luterana, encontramos a primeira manifestao, no pensamento de Kant, do mal
radical (prefigurando esta noo). A curvatura simboliza o egosmo, o
redobramento do eu sobre si mesmo. Kant diz:
2Assim dentro de uma &loresta% as )r*ores% cada uma por si% tentam
roubar o ar e o sol umas das outras e se es&or#am% pela in*e,a% em se
ultrapassarem+ para% em seguida% crescerem belas e retas' Mas ao contr)rio%
a"uelas "ue lan#am em liberdade seus ramos a seu belpra!er% apesar das outras
)r*ores% se tornam retorcidas% tortas e cur*adas'2
A interpretao que Philonenko d a esse texto a seguinte: atravs
do jogo das paixes, insocivel sociabilidade do homem se assiste a uma
anulao das paixes, constituio de urna totalidade moral. Em compensao,
a paixo no refreada, que se desenvolve na solido, como a solido do tirano,
no encontra nenhuma compensao: a rvore torta, retorcida, curvada. Assim,
a solido o princpio da tirania e, essa ltima, o princpio do vcios.
Para Lutero, como para Kant, o homem egosta; como um galho
que se curva sobre si mesmo retornando a seu ponto de origem. Por outro lado,
como o mal, a curvatura radical, mas no definitiva, desde que os homens se
endireitem no seio do jogo das paixes. Para Kant, o homem curvo por
natureza, mas pode ser recuperado atravs da sociabilidade. O homem curvo
como ponto de partida.
Mas Kant recusou o escndalo do mal ao situ-lo dentro dos limites da
simples razo e, com isso, rompe com a tradio filosfica ocidental que definia o
mal como negatividade ou ausncia de bem (Agostinho, Leibniz). J em 1763, no
Ensaio para 4ntrodu!ir em 5iloso&ia o 6onceito de 7rande!as 8egati*as, o autor
afirmava que o mal, assim corno o vcio, no era apenas urna ausncia de bem,
no tinha apenas um carter negativo, mas devia ser pensado em termos de
resistncia ao bem corno algo que tinha urna positividade. E a fonte dessa
positividade era a nossa prpria vontade, algo ligado liberdade do homem.
Nesse ensaio, Kant distingue o mal por falta e o mal por privao. O
mal por falta (de&ectus% absentia) pura negatividade, pura ausncia de bem,
caracterizando, assim, a ausncia de um princpio positivo; j o mal por privao
tem positividade prpria, implica um verdadeiro princpio semelhante ao que lhe
oposto.
Sobre a positivao do negativo, Kant diz:
21e o bem 9 a% o "ue se lhe op:e contraditoriamente o n$obem'
Este % pois% o resultado da simples car;ncia de um &undamento do bem 9 O% ou
de um &undamento positi*o de seu contr)rio 9 a' 8o <ltimo caso% o n$obem pode
chamarse mal positi*o'2
Essa distino tem, como correlato, outra: a distino entre oposio
lgica e oposio real. A primeira a expresso direta do princpio da no
contradio, segundo o qual dois predicados opostos no podem pertencer,
simultaneamente, ao mesmo sujeito; a segunda, oposio real aquela que
expressa a efetividade de suas realidades opostas, porm coexistentes no mesmo
sujeito, uma tentando suprimir ou negar a outra, sem que, no entanto, sejam
contraditrias.
Essa diferenciao possibilitou a Kant a ruptura com a tradio
filosfica que considerava o mal apenas como negao. O mal como privao,
corno oposio real ao bem, implica um princpio positivo, supe urna razo
positiva que supera o bem. O mal j no mais ausncia, mas oposio real,
posio; no um simples fenmeno, um acontecimento que se esvaeceria com
a intuio das coisas, tais como elas so em si.
Kant deixa entender, claramente, que o princpio do mal pertence s
coisas em si. Comentando sobre isso, Weil nos diz: "Kant, neste ponto,
platnico: o mal nasce de uma deciso pr-temporal, de uma escolha anterior a
todas as escolhas, origem de tudo o que vai querer o indivduo temporal,
fenomenal, observvel."
Na 6rtica da Ra!$o Pura, Kant afirmava, veementemente, a realidade
metafsica noumenal do mal moral e sua heterogeneidade ao princpio do bem.
Mais tarde, a reflexo sobre a moral conduziu Kant a uma outra concepo do
noumeno: a obrigao moral nos d, ento, um acesso, no terico mas prtico,
ao mundo noumenal, e o termo noumeno toma aqui um lugar nitidamente mais
positivo: o lugar de inteligvel.
A lei moral nos revela, com nossa liberdade, a presena em ns de
uma causalidade tangvel, de um carter inteligvel." No conhecemos a nossa
liberdade, mas temos conscincia dela atravs da obrigao da lei moral, esta a
ratio cognoscendi da liberdade, e esta ltima a ratio essendi da lei moral. Aqui, a
causalidade livre que permite a passagem do nvel terico para o prtico.
A filosofia prtica de Kant rompe, tambm, com a tradio moral do
Ocidente, ao fundar a moral a partir da razo pura, na medida em que esta,
enquanto faculdade legisladora, isto , uma faculdade que d a si mesma sua lei,
d, assim, ao homem, uma lei universal (a lei moral), uma lei que tem a forma de
um imperativo categrico. Ao fundar a moral nesses termos, Kant procura
ressaltar a autonomia da vontade. A tarefa da razo prtica ser a de encontrar os
fundamentos de determinao desta ltima.
O plano da Religio dentro dos Limites da Simples Razo tem a
inteno de seguir exatamente o desenvolvimento do conflito do bem
(determinado j desde muito tempo pela filosofia prtica) e do mal. Esse drama
entre o bem e o mal se torna o fio condutor dessa obra.
O! "UATRO PONTO! #UNDAMENTAI!
Para responder o que a essncia do mal radical, Kant apia seu
argumento em quatro pontos fundamentais, e a discusso desses pontos passa a
construir uma concepo de natureza do homem e de como o mal est inscrito
nela. So eles: a disposio original para o bem na natureza humana, a
propenso para o mal na natureza humana, o homem mau por natureza e a
origem do mal na natureza humana.
Kant parte da afirmao de uma disposio original para o bem na
natureza humana: "Sob disposio de um ente entendemos tanto as partes
constituintes necessrias como as formas de sua conjugao para ser um tal
ente.
Disposio original significa, aqui, predisposio primeira, de origem
anterior, ou melhor dizendo, no incio de sua histria o homem era bom, tendia
para o bem. Original porque pertence, necessariamente, possibilidade da
natureza humana. "Natureza" do homem aqui significa o "fundamento subjetivo do
uso de sua liberdade (sob leis morais objetivas) que antecede toda a ao que cai
nos sentidos".
Para Kant, existem trs elementos de determinao do homem: ele
est disposto sua animalidade (como ente vivo), sua humanidade (como ente
vivo e ao mesmo tempo racional) e sua personalidade (como ente racional e ao
mesmo tempo responsvel). Dentre as trs disposies, a primeira no tem
qualquer gnero de razo por raiz; a segunda tem, por raiz, a razo prtica,
subordinada apenas a outros motivos; s a terceira tem, como raiz, a razo
prtica por si mesma, isto , incondicionalmente legisladora.
Todas estas disposies no homem no so apenas (negativamente)
boas (no se opem lei moral), mas so tambm disposio para o bem (elas
promovem o seguimento do mesmo). Elas so originais, pois pertencem
possibilidade da natureza humana.
Kant supe que haja uma lei moral universal e necessria. Declara, em
seguida, que um princpio suficiente existe de fato (pois o imperativo categrico
no pode ser deduzido), e este no pode ser compreendido da forma como
compreendemos os fatos do mundo da experincia, pois ele fato ltimo e fato,
no no sentido da experincia sensvel, mas "fato da razo", presente unicamente
razo, fato noumenal. A lei moral um fato, um dado imediato, a priori e
necessrio.
A razo , por si s, legisladora, autnoma e determinante da vontade.
Essa autonomia a propriedade que a vontade tem de ser, ela prpria, a sua lei
(independentemente de qualquer propriedade do querer). importante ressaltar
que, para Kant, a vontade livre e a vontade submetida lei moral so a mesma
coisa.
Ele no estabelece o contedo da lei, mas, apenas esclarece a forma
de lei geral que deve apresentar infinidade de contedos possveis de nossa
conduta, para que essa seja moral. Esta a forma do mperativo categrico: "Age
de tal forma que a mxima de tua ao possa se converter em lei universal."
importante, aqui, diferenciar a vontade legisladora (Wille) da qual
procedem as leis, da vontade arbitrria (Willkuhr) da qual procedem as mximas.
Vontade legisladora e vontade arbitrria so dois aspectos complementares da
vontade humana. Enquanto a primeira o poder legislativo, pois se refere
capacidade da vontade de editar as prprias leis, a segunda o poder executivo,
pois se refere s aes. A vontade necessria, o arbtrio livre para obedecer
ou no lei. , exatamente, nessa possibilidade do arbtrio humano que se
inscreve o problema do mal radical.
Como esclarece Weil, a crtica funda a moral, mas no a contm, o
imperativo categrico diz o que no fazer, mas nos deixa bem legitimamente,
segundo Kant, na ignorncia de nossos deveres positivos. Deveres que se
determinam de acordo com a natureza do homem, e no segundo a natureza de
seus afetos individuais, das tradies de seu grupo, de seu temperamento etc.
mas, segundo a relao dessa natureza enquanto que simples natureza ao dever,
enquanto tal.
Em outros termos, a lei moral inerente natureza da razo, mas no
natureza humana, pois essa, devido sua finitude, no segue necessariamente
essa lei. Uma tenso atravessa toda a reflexo moral kantiana: nos seres
razoveis e finitos, a lei editada pela vontade pode ou no determinar o arbtrio.
Se o homem aceita a determinao vinda de fora, ele est eliminando sua
vontade como vontade, isto , como faculdade do homem de determinar-se a si
mesmo para a ao: em outras palavras, sua autonomia.
Ele est sendo heternomo, pois heteronomia toda determinao da
vontade por representaes materiais, porque, aqui, a lei, segundo a qual se
produzem Os efeitos, a lei da necessidade da natureza. Tambm heternoma
a moral que prescreve preceitos a realizar, baseados na idia de prmio ou
castigo. O mvel cia ao tambm sensvel. J a autonomia mostra que o
homem tem em si mesmo a possibilidade de ser dono de si e de ser livre de toda
dependncia diferente de sua razo. A vontade humana tem a propriedade de ser,
ela prpria, a sua lei, e o homem realiza sua essncia quando obedece lei
moral.
O homem, para Kant, um ser finito e razovel, definio que
responde quarta questo crtica: "Que o homem?". Enquanto o animal
determinado somente pela sensibilidade, o ser divino o somente pela razo. O
ser humano um ser hbrido, ao mesmo tempo razovel e sensvel: enquanto ser
razovel, ele dotado de um poder de escolher a sua prpria conduta e de no
estar ligado, como os outros animais, a uma conduta nica.
Enquanto ser sensvel, ele possui uma vontade dotada da faculdade
de escolher uma mxima, em conformidade ou contrria ao princpio moral e que
no , pois, determinada. O homem, por sua liberdade, pertence ao mundo
inteligvel e, por sua natureza, pertence ao mundo sensvel: um s e o mesmo.
Para Kant, o homem um ser que age livremente, que faz a si mesmo, ou pode e
deve faz-lo. Por isso, podemos dizer que, em Kant, a condio humana tem uma
essncia ambgua e trgica.
exatamente neste contexto da liberdade que se inscreve o conflito
entre o bem e o mal moral. Liberdade para o bem moral que a confirma e para o
mal moral que acaba por coloc-la em risco. O conceito de bem construdo
mediante uma livre determinao da razo por si mesma, o bem significando
liberdade. J o de mal nasceria aqui do abandono do ato de liberdade, de um
deixar fluir -no nvel da satisfao imediata. Mas a liberdade, no sistema kantiano,
permanecer sempre insondvel, no apreensvel totalmente. Por no existir no
mundo emprico, a liberdade no um conceito e, portanto, no pode ser
conhecida teoricamente, mas apenas postulada; sua realidade noumenal, trata-
se de um fato da razo prtica.
Quando Kant nos fala Da propenso para o mal na natureza humana,
ele nos esclarece que ela resultado da liberdade, ou seja, uma propenso
moral e no uma propenso fsica fundada sobre impulses sensveis, pois, o que
moralmente mau, o mal que imputvel ao homem, diz respeito sua prpria
ao. Por "propenso" Kant entende "o fundamento subjetivo da possibilidade de
uma inclinao (apetite habitual, concupiscenlia) enquanto contingente para a
humanidade em geral".
Por propenso entendemos, tambm, o fundamento subjetivo da
possibilidade de desviar-se das mximas da lei moral, o que s possvel pela
determinao do livre arbtrio. Como esse fundamento tem de ser, j, um ato de
liberdade, a propenso ao mal vista como o mal e no apenas como seu
pressuposto. Essa propenso ao porque procede da liberdade, mas, em
relao ao ato que aparece na experincia, apenas fundamento.
Por "natureza"," se entende aqui no o indivduo isolado, mas o gnero
humano: o mal como uma realidade universal. Ele inerente natureza humana
e est "entretecido'' e arraigado nela. A propenso ao mal pode, assim, ser
chamada de propenso natural para o mal.
Para Kant a propenso para o mal inata, porque no pode ser
extirpada. Para ele, nada nos faz crer que o progresso tcnico, as cincias e
mesmo os costumes podem extirpar esta "perversidade enraizada na natureza
humana". Fica claro que, aqui, o cristianismo influenciou Kant com sua afirmao
do pecado original em sua universalidade. Kant, evoca So Paulo ao afirmar: "Em
Ado todos pecaram", e acrescenta que os homens "ainda pecam".
A propenso ao mal pode comportar trs nveis. O mais baixo a
Fragilidade (&ragilitas) da natureza humana diante da tentao. Num nvel
superior, a mpureza (impuritas) do corao, ou a predisposio em misturar
mveis imorais aos morais. Enfim, o terceiro nvel, a Maldade (*iliositas% gra*itas)
ou Corrupo (corruptio) do corao humano, ou seja, esta predisposio do livre
arbtrio que lhe faz adotar, como mxima, a subordinao do mvel da lei moral
aos outros mveis. Aqui h uma inverso de mveis e pode se chamar
perversidade.
O primeiro grau de propenso trata da fraqueza do homem diante da
tentao exercida pelas inclinaes sobre a vontade humana, a qual pode, no
entanto, se deixar influenciar por esses mveis sensveis. Nas palavras do prprio
Kant: "(...) acolho o bem (a lei) na mxima de meu arbtrio; mas este bem, que na
idia (in thesi) objetivamente um motivo invencvel, subjetivamente (in
h=pothes), quando a mxima deve ser seguida, o mais fraco (em comparao
com a inclinao).
No segundo grau de propenso para o mal na natureza humana, ou
seja, na impureza de mveis na adoo de mximas, a mxima no puramente
moral, pois no acolhe, nela, apenas a lei moral corno mvel suficiente e recorre,
portanto, sempre a outros mveis para determinar, por meio deles, o que deve ser
feito. A impureza do corao humano consiste, ento, na contaminao da
vontade: age-se conforme o dever, mas no por dever.
A maldade, corrupo, ou ainda, perversidade do corao humano,
situada por Kant corno o terceiro grau de propenso para o mal na natureza
humana, a propenso do arbtrio para mximas que fazem passar outros mveis
que no os morais como fundamento da ao. Trata-se de urna inverso da
ordem moral: o arbtrio humano adota uma mxima que coloca a lei moral como
mvel subordinado a mveis no-morais.
Com tal inverso, as aes ms podem at ser conforme lei; no
entanto, em relao ao modo de pensar, essas aes esto pervertidas "em sua
raiz"' e por isso que se diz, ento, que o homem mau. Esse terceiro grau j
nos permite elucidar o que a essncia prpria dessa propenso dos mveis que
o homem admite em suas mximas.
Nota-se que os trs graus de propenso ao mal constituem, em
realidade, a explicao progressiva dessa propenso. Se considerarmos cada um
dos mveis separadamente, o homem no seria mau, segundo cada um deles. Se
no tivesse inclinaes, seguiria a lei moral, seria bom sem luta, porque a lei
moral imposta sua disposio pela personalidade. Sem a lei moral, o homem
seguiria, simplesmente, sua disposio natural para a humanidade, sem ser mau.
Tomados em si mesmos, os dois mveis so bons.
Logo, o mal no pode estar em qualquer um deles por si mesmo; A
possibilidade do mal est apenas na forma de relao dos mveis. A vontade
m quando a satisfao de seu desejo de felicidade condio do seguimento da
lei moral. exatamente nessa inverso da relao correta dos dois mveis de
determinao da vontade que reside o verdadeiro mal radical.
importante, aqui, diferenciar uma ao m de uma ao
radicalmente m. A primeira ocorre quando o mvel da lei moral subordinado,
ocasionalmente, ao mvel do desejo de felicidade; a segunda, quando h urna
inverso de mveis como fundamento de todas as mximas e aes. Essa
subordinao, em si, da lei moral a interesses egostas, esta propenso a se
servir da lei para se justificar no lugar de a servir, constitui a verdadeira perverso
do corao.
Segundo o comentrio de Reboul, 2uma propens$o ao mal pode% muito
bem% se encontrar no cora#$o de um homem e>teriormente bom' 1$o estes
&ariseus% estes ?sepulcros caiados?% "ue se con&ormam estritamente @ lei nos seus
atos mas sem &a!er da lei moral seu m(*el su&iciente'2
O mal moral est, aqui, na legalidade tomada pela moralidade. A
legalidade o fato de seguir a lei por mveis estranhos a ela, como o interesse,
medo da polcia ou do inferno, tornando a vontade heternoma. A legalidade, em
si, no m; pelo contrrio, ela excelente para o seu prprio plano, que o da
vida social. O que mau confundir os planos, pois "se eu obedeo lei moral
pelos mveis que lhe so estranhos, a ambio, o egosmo, at mesmo a
compaixo, minha obedincia cessar com o desaparecimento dos mveis".
Para poder afirmar que o homem realmente mau necessrio
conhecer no somente seus atos, ou mesmo as mximas, mas a deciso
inteligvel que os adota. Ora, este fundamento universal de todas as mximas,
somente Deus pode sondar. O mal moral no est, pois, no ato, mas no agente,
mais precisamente na sua inteno. Toda inteno , para Kant, qualificvel do
ponto de vista moral. A inteno, isto , o primeiro fundamento subjetivo da
admisso das mximas, s pode ser nica e se relacionar, de maneira geral,
imagem interior da liberdade.
Ao admitir que o homem, mesmo tendo conscincia da lei moral, aceita
mximas que, ocasionalmente, o desviam dela, Kant lembra: O homem mau por
natureza. sso quer dizer que o gnero humano dominado pela maldade. O mal
radical universal, inerente natureza humana, contudo tem seus limites.
O supremo fundamento subjetivo da liberdade est corrompido, mas
essa corrupo no malignidade, no o mal pelo mal, mas sim "perverso" do
corao, "(...) porque a disposio originria para o bem permanece no homem
em toda a sua pureza". A lei moral um dever incondicional que a ao do
homem no pode extinguir jamais.
Com base nessa afirmao, fica excluda, para Kant, a malignidade ou
as formas extremas de mal, pois admitir a malignidade pressupe que a liberdade
corrompe o prprio pressuposto do "dever", pondo em risco a lei moral em seu
sentido ltimo. Se a vontade se levantasse contra sua lei interna, seu poder seria,
na verdade, um "no-poder", ou melhor, um poder de destruir a si prprio. Para
Kant, o mal no absoluto, isto , ele no pode destruir a lei moral nem a
disposio para o bem.
Precisamente porque o bem essencial liberdade, a presena de um
contra-princpio, que tenta destruir essa afinidade, mostra que a liberdade, assim
determinada, no mais liberdade, mas uma destruio de si mesma. Com isto,
Kant elimina as teorias que situam o mal como originrio de uma depravao da
razo legislativa nela mesma, a qual elevaria a oposio a lei categoria de
motivo supremo e faria do homem um ser diablico.
Bruch observa que existe, no texto kantiano, uma expresso bastante
matizada da idia de maldade. Kant afirma que o homem mau (base) e admite a
maldade (Bsartigkeit) caracterizando-a como uma corrupo (Verderbtheit) ou
uma perverso do corao (Ver/ehrtheit des Aer!ens), mas ele recusa consider-
la como uma malignidade (Bosheil), no sentido rigoroso da palavra, o que
consistiria em admitir o mal enquanto motivo de sua mxima e exprimiria uma
inteno diablica.
H, pois, um limite que Kant no ultrapassa: o homem, mesmo o mais
malvado, no um rebelde. No h uma vontade m simtrica vontade boa.
Ainda de acordo com Bruch, nesse ponto, Kant recusa considerar a experincia
que poderia conduzi-lo s concluses mais sombrias e, como observa Delbos,
"ele guarda do racionalismo socrtico, platnico e leibniziano essa idia de que a
vontade do homem no pode jamais deliberadamente perseguir o mal pelo mal".
Para Kant, o mal radical est aderido nossa existncia ordinria, no sendo
jamais um abismo de malignidade. A moral pode admitir o diabo; pelo menos,
como hiptese, mas no que o homem seja diablico. Para Kant, nossa razo
prtica no pode anular sua prpria lei; uma vontade m que recusasse
deliberadamente a lei moral seria absurda.
exatamente aqui, nessa recusa a se considerar a malignidade, que
se inscreve a questo posta por Hannah Arendt, em relao insuficincia do
conceito de mal radical kantiano, para explicar a nova modalidade de mal que
apareceu na experincia totalitria do sculo XX. Essa questo ser retomada
posteriormente, aps apresentarmos outros pontos relevantes em relao ao mal
radical.
Ao tratar do quarto ponto, Ba origem do mal na nature!a humana, Kant
recusa, logo de incio, a soluo que considera o mal como uma doena
hereditria, incluindo tambm a que o considera uma dvida transmitida pelos
pais. Kant busca, ento, a origem racional de uma ao m no uso originrio do
arbtrio humano. No se trata, pois, de buscar a origem temporal de uma ao
m, mas apenas a sua origem racional, para determinar o fundamento subjetivo
universal, que nos leva a admitir uma transgresso em nossa mxima e, se
possvel, para explicar, segundo essa origem racional, esse fundamento.
No entanto, no possvel chegar origem inteligvel, tanto do bem
quanto do mal. Para Kant, o homem no pode chegar, por via natural, a uma
certeza convincente neste ponto; nem atravs de sua conscincia imediata, nem
apoiando-se em sua forma de vida at o momento: a profundidade do seu
corao inescrutvel para ele mesmo. Como nos diz Jaspers, este "no saber"
de Kant jamais nos abandona; desconsider-lo impureza e ignorncia, e estas
so verdadeiras fontes do mal radical.
A narrao bblica do pecado original estaria de acordo, para Kant,
com essa origem. Porm, para ele, no se trata de um relato histrico, mas uma
fbula, um mito relatado sob a forma temporal, fora da histria e do
encadeamento das causas, um fato universal que se compreende como a histria
de Ado: a histria de cada um de ns. Para Reboul:
2O mito representa o pecado como um 2come#o2% o "ue signi&ica "ue
ele primeiro logicamente+ ele n$o precedido por uma disposi#$o culp)*el% o
"ue e>cluiria a responsabilidade e a liberdade do pecador' Bi!endo de outra
&orma% o mal radical contingente+ um surgimento absoluto% para cada um de
n(s como para Ad$o% ele destr(i um estado de inoc;ncia'2
A histria de Ado a histria da humanidade; a diferena que, para
ele, o mal precedido de uma inocncia absoluta, enquanto que, para ns, o mal
j inerente nossa existncia de seres conscientes, embora, do ponto de vista
cronolgico, ele no tenha um comeo. A explicao que se usa aqui no
cronolgica, mas moral: j que ns somos responsveis pelo mal cometido, ele
irredutvel a seus antecedentes empricos; sua existncia radicalmente
contingente.
Para Herrero, "aquilo que para a Bblia o primeiro pecado, para Kant
o comeo da histria humana, a passagem do instinto para a razo". E o
surgimento da histria se d quando a razo se desprende de sua ligao com a
natureza e com a animalidade, e o homem realiza pela primeira vez uma ao
livre. Da a clebre frase de Kant: "A histria da natureza comea pelo bem, pois
a obra de Deus; a histria da liberdade comea pelo mal, pois obra do homem."
A CON$ER!%O
O ensaio sobre o mal radical termina por um apelo converso ao
tratar Do restabelecimento da disposio original para o bem em sua fora.
Se o mal consiste em uma inverso dos mveis (a perverso), a
converso significa, no a apario em ns de um mvel novo, mas o
restabelecimento, em sua pureza, do bom mvel que o mal no destruiu, mas
subjugou e, sem o qual, nenhum melhoramento verdadeiro ser possvel. Esse
restabelecimento consiste, pois, em remeter ao primeiro lugar o respeito pela lei
moral, ao faz-lo nosso mvel incondicional. Se a converso consiste na adoo
do mvel moral e esse nico esta s pode dar-se em ato tambm nico.
Por isso Kant a chama de "revoluo" na mentalidade, em oposio a uma
"reforma progressiva". E isso s possvel atravs de uma deciso irrevogvel,
pois urna transformao do prprio querer.
Para Kant, o homem deve superar o estado do mal, e esse dever
concretizado como um dever de todos e no apenas pelo esforo de um indivduo.
Sem o esforo de todos no existe urna autntica possibilidade de superao do
mal. Esse dever, portanto, especial, no de homens diante de homens, mas do
gnero humano diante de si mesmo.
Para combater o mal no possvel enfrent-lo como a um objeto,
mas, como estamos envolvidos no processo de super-lo, temos que procur-lo
dentro de ns mesmos. De acordo com Jaspers, a presena do mal em ns
uma s provocao: " O mal no procedimento kantiano se converte em um
aguilho quando eu vejo claramente em mim, no me deixa um minuto de
descanso e me restitui, com pertinaz insistncia, s minhas fontes originrias para
que eu no me perca no perifrico. Tudo que seja tratar do mal no mundo com
investigaes psicolgicas ou especulativas de carter metafsico distrai."
O sentido do mal radical kantiano no se limita somente sua
descoberta, mas tambm revelao de sua funo positiva. Sua dialtica
interior, que mostra apoio slido, radical,
no otimismo histrico de Kant. No para desvalorizar o homem, mas para lhe
dar a chance de humanizao que Kant fala do mal radical.
Podemos concluir com Weil que 2C'''D o bem se desenha sobre o &undo
do mal+ mas a &un#$o do mal precisamente permitir ao bem aparecer% aparecer
a n(s tal "ual n(s somos% seres &initos e racionais% racionais em nossa &initude%
bons e maus% mas bons em nossa maldade e capa!es de progredir% uma *e! "ue
reconhecemos o inimigo em n(s'??
Urna questo importante a ser retomada aqui a da obstinao de
Kant na recusa da admisso da malignidade no homem, quando a oposio
prpria lei moral passa a ser elevada a motivo do arbtrio. Essa posio tem um
carter inarredvel, pois, para ele, "o homem (mesmo o pior) no renuncia,
quaisquer que sejam as mximas, lei moral, nunca de maneira rebelde (com-
recusa da obedincia). Esta impe-se, muito antes, a ele, de uma maneira
irresistvel".
Fica excluda, definitivamente, a aceitao da malignidade, pois essa
poria em risco a prpria lei moral incondicional e, portanto, o prprio edifcio da
moral kantiana. Kant no formulou o conceito de uma vontade maligna; mas o
processo de elaborao conceituai que o levou a enunciar uma tal hiptese tornou
possvel outra visibilidade quanto ao ser do homem e s formas de suas
racionalidades. O conceito de mal radical , nesta perspectiva, um conceito-limite,
pois ele fez ver a possibilidade de uma oposio da liberdade consigo mesma.
O MA RADICA E A PO&TICA
necessrio levantar, ainda, urna questo importante no que diz
respeito ao mal radical, quando o consideramos dentro de uma abordagem
poltica. Como situao-limite, ele est sempre atrelado histria dos homens e
constitui risco maior se considerado na possibilidade de sua dinmica de
expanso, quando pode ser transformado em autntica realidade social. Ora,
esse risco, sempre presente, culmina quando o homem, no seu desejo de
realizao total, que tem origem na prpria razo pura quanto na razo prtica,
perverte esse desejo e se lana ao totalitarismo.
Sabemos que a razo a faculdade da totalidade, do incondicionado,
do absoluto. A totalidade incondicionada do absoluto no dada razo
especulativa, mas resta a possibilidade de realiz-la na prtica. Porm essa
exigncia de totalidade e da incondicionalidacie da razo pura no alcana o real.
Por outro lado, h um limite na razo pura prtica. Por ser o imperativo categrico
totalmente abrangente e incondicionado, ele nunca pode ser realizado no
fenmeno; sendo assim, a totalidade nunca pode ser concretizada.
A razo prtica expressa, no plano do desejo, a demanda, a exigncia
que a razo pura constitui em seu uso especulativo e prtico; a razo exige a
totalidade absoluta das condies para um condicionado dado. O que a vontade
quer chamado por Kant de "objeto inteiro da razo pura prtica". A idia de
soberano bem o conceito pelo qual se pensa o acabamento da vontade que,
como sabemos, no realizado; mas, segundo Ricceur, permanece no plano da
esperana. Soberano no s supremo, mas tambm completo e acabado. O
requerimento de todo objeto da vontade , no fundo, antinmico. O mal nasce no
lugar dessa antinomia.
Ora, essa totalidade no nos dada, mas ns a exigimos. Novamente
recorrendo a Ricceur, a vontade est constituda no somente pela relao entre
a arbitrariedade e a lei (pela relao entre Willkr e Wille). Ela est constituda, de
maneira mais fundamental, por um desejo de cumprimentoou realizao total. Se
a meta da totalizao , desse modo, a meta da vontade, no se chega ao fundo
do problema do mal, enquanto ele for mantido dentro dos limites de uma reflexo
sobre as relaes entre a arbitrariedade e a lei.
Continuando com Ricceur: 2O *erdadeiro mal% o mal do mal% se mostra
com as &alsas snteses% isto % com as &alsi&ica#:es contemporEneas das grandes
empresas de totali!a#$o da e>peri;ncia cultural% nas institui#:es polticas e
eclesi)sticas' F% ent$o% "ue o mal mostra seu *erdadeiro rosto% o mal do mal
sendo a mentira das snteses prematuras% das totali!a#:es *iolentasG2
Nessa perspectiva o mal aparece como perverso inerente
problemtica da realizao e da totalizao. Em outras palavras, o verdadeiro mal
radical aparece somente no Estado e na greja, enquanto instituies de reunio,
de recapitulao, de totalizao.
Dentro dessa interpretao, a doutrina do mal radical pode oferecer
uma estrutura de acolhimento a novas figuras de alienao, distintas da iluso
especulativa ou do desejo de consolo. A alienao dos poderes culturais, tais
como a greja e o Estado, pode favorecer, no centro de seus poderes, o
acontecimento de uma expresso falsificada de sntese.
A teoria do mal radical culmina, no com as transgresses, mas com
as snteses frustradas da esfera poltica e religiosa. a, exatamente, que esto a
pertinncia e atualidade deste conceito kantiano que, lanado dentro de um
contexto de preocupao essencialmente moral e religiosa, toma novas formas e
se atualiza numa abordagem poltica.
Para se pensar o surgimento de fenmenos histricos inteiramente
novos que revelaram formas inditas de violncia poltica, necessrio questionar
acerca do mal e do homem, precisamente em sua faculdade de criar regras para
si mesmo.
O conceito de mal radical abarca a explicao acerca destas novas
modalidades de mal que apareceram na histria poltica de nosso sculo, ou ele
se prova insuficiente? Se a segunda hiptese for verdadeira, ento necessrio
criar novos conceitos para se explicar tais fenmenos e, ao mesmo tempo,
formular outra concepo sobre o homem. exatamente nessa forma de se
interrogar a respeito dessa possibilidade que se inscreve a questo posta por
Hannah Arendt, quanto extenso do conceito de mal radical.
Para Hannah Arendt, o mal radical, que apareceu no totalitarismo,
transcende os limites do que foi definido por Kant como o mal radical, pois trata-se
de "uma nova espcie de agir humano", uma forma de violncia que "vai alm dos
limites da prpria solidariedade do pecado humano", de "um mal absoluto porque
no pode ser atribudo a motivos humanamente compreensveis". O fenmeno
totalitrio revelou que no existem limites s deformaes da natureza humana e
que a organizao burocrtica de massas, baseada no terror e nas ideologias,
criou novas formas de governo e dominao, cuja perversidade no se pode
medir.
Segundo Hannah Arendt,
2C'''D nossa tradi#$o &ilos(&ica n$o pode conceber um 2mal radical2
corno tambm a teologia crist$ "ue concedeu ao diabo uma origem celestial'
1omente 3ant% o <nico &il(so&o "ue% pela denomina#$o "ue lhe deu% ao menos
de*e ter suspeitado de "ue esse mal e>istia% embora logo o racionali!asse no
conceito de 2*ontade per*ertida2 "ue poderia ser e>plicada por moti*os
compreens*eis'2
Para ela' (uando (ueremos e)*licar o fen+meno totalitrio' no
contamos com a*oio *ara com*reender um fen+meno (ue se a*resenta e
(ue contraria todas as normas (ue con,ecemos- .anna, Arendt e)*lica (ue
o /erdadeiro mal radical sur0iu em um sistema onde todos os ,omens se
tornaram 1su*2rfluos1' isto 2' eles se tornaram meios- E essa
1su*erfluidade1 atin0iu tanto os (ue foram mani*ulados (uanto os
mani*uladores e 1os assassinos totalitrios so os mais *eri0osos' *or(ue
no se im*ortam se esto /i/os ou mortos' se 3amais /i/eram ou se nunca
nasceram1-
Podemos *ensar (ue essa no/a modalidade de mal radical
a*arecer toda /e4 (ue o ,omem for transformado em 1su*2rfluo1' e este
risco *ode muito 5em so5re/i/er 6 (ueda dos re0imes totalitrios-
A nossa interpretao sobre tal problema posto por Hannah Arendt se
baseia na prpria histria da trajetria do seu pensamento filosfico. De 1947 a
1951, perodo em que transcorreu o trabalho de pesquisa, elaborao e
publicao de Origens do Totalitarismo, Hannah Arendt, chocada com os
acontecimentos polticos do momento, os horrores da guerra e do holocausto,
tentava encontrar explicaes mais no nvel moral, dentro da filosofia, para esses
fatos e se sentia "sem apoio" (segundo sua prpria expresso) para compreender
tal fenmeno.
Doze anos depois, em 1963, ao assistir ao julgamento de Eichmann,
em Jerusalm, e publicar o seu relato sobre a banalidade do mal sua reflexo
acerca de tal fenmeno j tinha sofrido uma mudana decisiva, pois se apoiou em
outro contexto de reflexo. Antes de ir para o julgamento de Eichmann, Hannah
Arendt tinha o pressuposto de que iria encontrar um homem, no mnimo perverso
ou at mesmo um monstro ou um exemplar de malignidade humana, como fazia
crer a mdia da poca.
Diante de sua sur*resa ao encontrar um ,omem a5solutamente
comum' (ue a*enas *odia ser caracteri4ado como tendo um 1/a4io de
*ensamento1' sua refle)o so5re o mal 0an,a outra fi0ura- Eic,mann no
era um monstro' mas um ,omem com e)tremo 0rau de ,eteronomia' um
indi/7duo (ue era um -*roduto t7*ico do Estado totalitrio- A 1(uesto
ori0inria sofre a7 um deslocamento radical8 no se trata de e)*licar o
fen+meno focando9se na (uesto moral ou na antro*ol:0ica' mas sim de
com*reender' num enfo(ue *ol7tico' como um Estado *ode ser ca*a4 de
*rodu4ir a0entes ,eter+nomos (ue funcionam' to eficientemente' como
a0entes re*rodutores de seus o53eti/os-
O problema do mal passa, ento, a ser questionado dentro de sua
dimenso poltica, numa viso original que a da sua "banalidade". Com isso,
ocorre uma ampliao do pensamento poltico de Hannah Arendt. E, atravs
desse deslocamento, ela pode renovar suas esperanas no homem, resgatando o
papel de agente transformador da histria, ou; em outras palavras, de agente
poltico.
A nosso ver, nesse enfoque poltico do problema do mal, o argumento
acerca da insuficincia do conceito do mal radical kantiano, proposto em 1951, cai
por terra, pois no h incompatibilidade entre tal conceito e o de banalidade do
mal arendtiano. Este o ponto de partida para apoiar essa reflexo sobre o
conceito de banalidade do mal.
O conceito de mal radical pode abarcar as novas modalidades do mal
que aparecem no totalitarismo, desde que se parta do princpio de que, para Kant,
o mal pode destruir a legalidade na sua contingncia, mas no a moralidade na
sua incondicionalidade.
Em uma obra de 1797, Doutrina da Virtude, cinco anos aps ter escrito
o Ensaio sobre o Mal Radical, Kant interroga se possvel o homem mentir para
si mesmo e conclui que isso fcil de se constatar, mas difcil de explicar. Este
fato nos leva a afirmar que o homem, ser noumenal, pode se servir de si mesmo
como ser fenomenal, assim como de uma simples mquina que fala, sem colocar
sua fala de acordo com seus pensamentos.
Reboul, a esse respeito, nos diz:
2F do meu ser emprico "ue eu me sir*o para enganar a mim mesmo
pois essa m)& como a oblitera#$o da consci;ncia nos tempos% pelo h)bito e
pelo es"uecimento+ mas o autor desse logro o eu intelig*el% "ue se ser*e de
seu eu emprico mas ra!o)*el como de um simples meio% "ue &a! do ser de seu
2logos2 um instrumento n$o de comunica#$o mas de trai#$o' Mas% como mentir @
sua pr(pria consci;ncia se essa 2in&al*el2G En"uanto ,ulgamento sobre nossos
atos e>teriores% ela pode muito bem ser incerta% mas en"uanto 2,u!o do ,u!o2 em
n(s% ela n$o se engana'2
E complementa:
2C'''D essa 2&alta de consci;ncia2 a &uga diante de seu *eredicto
inelut)*el% a recusa de saber o "ue se sabe% como di! a e>press$o- eu n$o "uero
o saber' Essa a &alta das &altas% a mentira a si mesmo% "ue% ao destruir o
princpio de toda a *ida moral% a sinceridade% &a! o homem perder todo o car)ter%
e engendra todas as mentiras e todos os *cios'2
Mas Kant, quando usa o exemplo da m-f, a encontra, em geral, no
que os homens chamam de f. Ele afirma que aquele que confessa a existncia
de um Deus revelado, sem ter consultado o seu foro ntimo para saber se h
verdadeiramente a menor conscincia dessa convico, comete a mentira mais
criminosa, pois tal mentira solapa, pela base, a sinceridade, o fundamento de toda
resoluo virtuosa. No se trata de uma crtica religio, mas ele aponta para um
ponto crucial sobre o mal radical: o de que a pior corrupo a corrupo do
melhor. Em outras palavras: o mal o farisasmo, o fato de se crer justificado
pelos seus atos, de se tomar sua no-culpabilidade exterior pela inocncia.'"
Fazendo um paralelo entre o que acabamos de expor e o conceito
arendtiano de banalidade do mal, encontramos muitos pontos de convergncia,
que justificam estabelecermos "o mal radical como ponto de partida", tal qual o
ttulo desse nosso captulo. Ponto de partida se refere, aqui, a fundamento, no
no sentido temporal, mas terico, que vai nos possibilitar a compreenso, a
explorao e, em seguida, uma leitura contempornea do conceito. A nosso ver, o
mal radical kantiano, pela sua pertinncia e contemporaneidade, se presta a isso.
Alm disso, o conceito de mal radical, na sua atualidade, continua
sendo emergente e se prestando sempre a atualizar-se realidade. E o que
novo, e essencialmente novo, no pensamento religioso de Kant e no seu conceito
de mal, sua referncia histria e poltica. Para Weil, "(...) no campo da
poltica, assim como em todos os outros campos da reflexo filosfica, Kant
marca uma virada na histria da filosofia".
Para ele: "a novidade de Kant consiste em que a reflexo poltica
desenvolvida com relao ao seu sistema e em funo dele. Kant no se
interessa tanto pelos problemas polticos quanto pelo problema da poltica. a
sua filosofia que o conduz reflexo sobre a poltica, e de tal modo que a sua
metafsica e a sua moral ficariam incompletas se elas no dessem urna resposta
ao problema que elas pem e impem ao filsofo."
Portanto, dentro do sistema crtico que se deve compreender a
reflexo de Kant sobre a poltica e a histria. O interesse ltimo de Kant a
moral constitui a sua fraqueza, quando ele quer compreender positivamente a
histria e a poltica. Mas, ao mesmo tempo, isso mesmo que funda a grandeza
do seu pensamento poltico: os problemas que levantou continuam sendo ainda
hoje Os problemas da filosofia poltica, cujas questes no se tornam
compreensveis seno no contexto da filosofia.
Kant foi o primeiro a formular esses problemas e a colocar a questo
do sentido da histria e da poltica para o homem: 2A poltica cessa% com 3ant% de
ser uma preocupa#$o para os &il(so&os+ ela se torna% ao mesmo tempo "ue a
hist(ria% problema &ilos(&ico% agindo na% e sobre a totalidade do pensamento- n$o
se trata mais de compor hist(ria e poltica% tratase de compreender o seu sentido
comum% o sentido "ue de*e decidir sobre sua composi#$o'2
Para concluir, reafirmando a importncia da virada que Kant d na
histria da filosofia e da poltica, recorremos expresso de Belaval quando diz
que, em matria de filosofia poltica, "ns somos todos ps-kantianos". E essa
herana no uma pura casualidade histrica."
Depois de apoiar-nos no conceito de mal radical, passaremos a tratar
agora do mal no pensamento poltico de Hannah Arendt, onde ele considerado
dentro do quadro do totalitarismo.
Quando tudo permitido, tudo possvel . Hannah Arendt
O CONCEITO DE NO$IDADE
O conceito de novidade um dos pontos mais expressivos de toda a
obra de Hannah Arendt, e a compreenso profunda das implicaes disso nos faz
reconhecer a pertinncia do conceito de banalidade do mal, no quadro da filosofia
contempornea. Embora o conceito de novidade no seja tratado com
especificidade, isto no impede que ele perpasse de ponta a ponta todo o
pensamento poltico da autora.
Lembramos que no procedemos a uma releitura da obra de Hannah
Arendt caa do substantivo em causa, pois ele nem precisa aparecer, tamanha
a fora de sua presena. O conceito de novidade lanado, pela primeira vez, em
Origens do Totalitarismo, s sendo devidamente trabalhado em Entre o Passado
e o Futuro. A a inovao aparece como sinnimo de criao que, por seu lado, se
origina do conceito de ao. Ao e criao esto indissociadas.
Ao comentar a tenso entre filosofia e poltica, Hannah Arendt reflete
sobre o espanto e cita Plato, para quem o incio de toda filosofia thaumadzein,
o espanto maravilhado face a tudo que como , "pois do que o filsofo mais
sofre do espanto, pois no h outro incio para a filosofia seno o espanto (...)"
(Teeteto). Thaumadzein, segundo Plato, um pathos, algo que se sofre e, como
tal, muito diverso da doxadzein, da formao de opinio sobre alguma coisa. O
espanto que o homem experimenta ou que o acomete no pode ser relatado em
palavras, por ser geral demais. Tornou-se um axioma que, tanto para Plato
quanto para Aristteles, esse espanto o incio da filosofia. Diante de tudo o que
corno jamais se liga a qualquer coisa especfica e, por isso, Kierkegaard
interpretou-o corno a experincia da coisa-nenhuma, do nada. O choque filosfico
de que fala Plato permeia todas as grandes filosofias e separa o filsofo que o
experimenta daqueles com quem vive.
A diferena entre os filsofos (que so poucos) e a multido no
consiste, de modo algum como Plato j indicara no fato de que a maioria
nada sabe do pathos do espanto, mas, muito pelo contrrio, que ela se recusa a
experiment-lo. Essa recusa se expressa em doxadzein, na formao de opinies
a respeito de questes sobre as quais os homens no podem ter opinio, porque
os padres comuns e normalmente aceitos do senso comum a no se aplicam.
O filsofo distingue-se dos seus concidados no por possuir alguma
verdade especial da qual a multido esteja excluda, mas por permanecer sempre
pronto para experimentar o pathos do espanto e, portanto, para evitar o
dogmatismo dos que tm suas meras opinies.
Hannah Arendt conclui que a filosofia, a filosofia poltica e todos os
demais ramos originam-se do thaumadzein, do espanto diante daquilo que
como . Se os filsofos, apesar de seu afastamento necessrio do cotidiano dos
assuntos humanos, viessem um dia a alcanar uma filosofia poltica, teriam que
ter, como objeto de seu thaumadzein, a pluralidade do homem, da qual surge, em
sua grandeza e misria, todo o domnio dos assuntos humanos.
Mas, qual o motivo da recusa em experimentar o espanto? Por que o
homem comum, ou o "homem da multido", como nos fala Plato, resiste a essa
experincia? Estas so questes que, por hora, ficam sem respostas mas que, ao
mesmo tempo, nos serviro de fio condutor at ao Captulo , quando iremos
tratar da banalidade do mal.
Por ora importante observar que se pode fugir ao pathos do espanto
negando-o, atravs da formao de opinio, doxadzein, ou evocando, como
resposta, algo j conhecido pela tradio. De qualquer maneira recusando-o na
novidade que ele traz, ainda que deforma emergente. A nosso ver, esta novidade
ir se inscrever exatamente no mesmo estatuto que o espanto ocupa no
pensamento filosfico.
Hannah Arendt levanta uma curiosidade a respeito do fato de que
tanto a lngua grega quanto a latina, na cultura clssica, possuam dois verbos
para designar aquilo que chamamos uniformemente de "agir". As duas palavras
gregas so rkhein: comear, conduzir e governar, e prttein: levar a cabo alguma
coisa. Os verbos latinos correspondentes so altere: pr alguma coisa em
movimento, e gerere: que exprime a continuao permanente e sustentadora de
atos passados cujos resultados so os atos e eventos que chamamos de
histricos.
Em ambos os casos, a ao ocorre em duas etapas diferentes: a
primeira um comeo atravs do qual algo de novo vem ao mundo e a segunda,
a continuao dessa ao. A palavra grega rkhein, que abarca o comear, o
conduzir, o governar, ou seja, as qualidades proeminentes do homem livre,
testemunha de urna experincia em que o ser livre e a capacidade de comear
algo novo -coincidem. Aqui, ao e liberdade coexistem. Se o agir, corno vimos,
corresponde faculdade humana de comear, de empreender, de tomar iniciativa,
ento agir e novidade esto em relao estreita.
significativo o fato de Hannah Arendt invocar a autoridade de Santo
Agostinho para sustentar sua teoria, pois, tambm em Agostinho, o homem livre
porque o comeo. No nascimento de cada homem, esse comeo reafirmado,
pois em cada caso vem a um mundo j existente alguma coisa nova, que
continuar a existir depois da morte de cada indivduo. Porque um comeo, o
homem pode comear; ser homem e ser livre a mesma coisa. Para Agostinho,
Deus criou o homem para introduzir no mundo a faculdade de comear: a
liberdade.
Consoante a esse pensamento, mesmo nas pocas de petrificao e
runa inevitvel, a faculdade da prpria liberdade, normalmente, permanece
intacta, como a pura capacidade de comear que anima e inspira todas as
atividades humanas e que constitui a fonte oculta de todas as coisas grandes e
belas. Nesse caso, a fonte da liberdade permanece presente, mesmo quando a
vida poltica se tornou petrificada e a ao poltica impotente para interromper
processos automticos.
Mas, enquanto essa fonte permanece oculta, a liberdade no unia
realidade tangvel e concreta; isto , no poltica. A liberdade parece ser o maior
dom que o homem possa ter recebido, e encontramos sinais e vestgios dela em
quase todas as suas atividades; entretanto s se desenvolve, com plenitude, onde
a ao tiver criado seu prprio espao concreto, onde possa sair de seu
esconderijo e fazer sua apario.
No contexto da idia de liberdade, a criao se encontra na prpria
histria. Todo agir uma inovao que imprime urna reviravolta na histria, urna
criao continuada do mundo que sofre suas conseqncias. A ao verdadeira
um primeiro movimento sem nenhum outro antecedente seno o querer humano.
Ser livre e agir unia coisa s. Os processos histricos so criados e
constantemente interrompidos pela iniciativa humana, pelo initium que o homem
enquanto ser que age. Por outro lado, o homem um incio e um iniciador.
Em Hannah Arendt o sentido da histria a atualizao do conceito de
liberdade. Mas a criao histrica nos coloca diante da desconcertante
perplexidade vinda da exigncia da compreenso dos novos acontecimentos. E a
nos indagamos: corno pensar as novas realidades? Corno se constri a novidade
histrica e qual o estatuto que a pensa?
Para Hannah Arendt a novidade se constri dentro da ao poltica
que constitui o mundo pblico. A criatividade da ao poltica assinalada pelo
exerccio contnuo cia liberdade pblica, que faz avanar e viver as instituies. O
campo da poltica o do pensamento plural, o pensar no lugar e na posio do
outro. No mais o eu consigo mesmo, mas o dilogo com os outros com os quais
devo chegar a um acordo.
Este dilogo requer um espao: a poltica e a ao. Em toda questo
de ordem estritamente poltica, a importncia fundamental do conceito de comeo
e de origem deriva do simples fato de que a ao poltica, como todo outro tipo de
ao, sempre o comeo de qualquer coisa de novo; enquanto tal, este comeo
, em termos de cincia poltica, a essncia mesma da liberdade humana. No
pensamento poltico grego, os conceitos de comeo e de origem ocupam um lugar
central, como o indica a palavra arch, que significa, ao mesmo tempo, comeo e
princpio.
A essncia de toda ao, em geral, e da ao poltica em particular,
de engendrar um novo comeo. Por sua vez, a compreenso e a poltica andam
juntas na medida em que compreender dar sentido a essa criao, criar
significados. Mas, diante disso nos encontramos muitas vezes frente a um
impasse: como compreender as criaes na poltica e na histria do homem
que o colocam forosamente na perplexidade e na estranheza diante delas? O
homem um incio e um iniciador, e as possibilidades que ele tem de criar e
desencadear formas degeneradas de ao uni fato incontestvel. Fato este que
nos incita a compreender, compreender no sentido arendtiano de nos reconciliar
com o real, pois "a compreenso tem por objetivo nos fazer aceitar o irrevogvel e
nos reconciliar com o inevitvel".
no contexto do conceito de liberdade que fica mais ntida a
identificao do pensamento de Hannah Arendt com o mal radical kantiano, pois,
para Kant, o homem um ser que age livremente, que faz a si mesmo, ou pode e
deve faz-lo. A liberdade est na autonomia da vontade, e a vontade "a
faculdade de iniciar de forma espontnea unia srie no tempo". Em ambos os
autores, a liberdade se refere capacidade humana de iniciar, j que o homem
mesmo o comeo. Mas a liberdade introduz sempre o conflito entre o bem e o
mal moral, liberdade para o bem moral que a confirma e para o mal moral que
acaba por coloc-la em risco.
Ao refletir acerca do aparecimento da terrificante originalidade do
totalitarismo e, diante da necessidade irrevogvel de compreender essa novidade,
Hannah Arendt diz:
2A domina#$o totalit)ria como um &ato estabelecido% "ue% em seu
ineditismo% n$o pode ser compreendido mediante as categorias usuais do
pensamento poltico% e cu,os 2crimes2 n$o podem ser ,ulgados por padr:es morais
tradicionais ou punidos dentro cio "uadro de re&er;ncia legal de nossa ci*ili!a#$o%
"uebrou a continuidade da hist(ria ocidental' A ruptura em nossa tradi#$o agora
um &ato acabado' 8$o o resultado da escolha deliberada de ningum% nem
su,eita a decis$o ulterior'2
Essa afirmao mostra que h sempre uma tenso entre o
acontecimento novo e o conceito que o pensa. Significa que necessrio criar
conceitos novos, novas categorias de pensamento para se compreender a
novidade totalitria. Compreender no no sentido de combater, pois compreender
uma atividade sem fim, sempre mutante e variada, pela qual ns nos ajustamos
ao real, reconciliamo-nos com ele e nos esforamos para estar em harmonia com
o mundo.
Hannah Arendt diz que compreender o totalitarismo no , de forma
alguma, perdoar, mas nos reconciliar com um mundo onde esses acontecimentos
so simplesmente possveis. Para ela, a maneira mais fcil de nos enganar a
respeito de urna novidade histrica consiste em assimil-la a algo j conhecido
pela tradio; por exemplo, assimilar o governo totalitrio a um mal bem
conhecido do passado como agressividade, tirania, conspirao etc. A sabedoria
do passado se mostra insuficiente no momento em que ns nos esforamos em
aplic-la aos problemas polticos fundamentais de nossa poca.
Tudo o que sabemos do totalitarismo prova uma originalidade no
horror, sem que nenhum paralelo histrico aproximativo nos permita atenuar. No
se pode escapar ao impacto do totalitarismo recusando-se a fixar a ateno sobre
sua verdadeira natureza e se abandonando s semelhanas e aproximaes que
certos aspectos da doutrina totalitria oferecem com as teorias familiares do
pensamento ocidental.
A terrificante originalidade do totalitarismo no se refere a urna nova
"idia" que apareceu no mundo, mas a atos em ruptura com toda a nossa
tradio. Esses atos, literalmente, pulverizaram nossas categorias polticas e
nossos critrios de julgamento moral. O mais assustador, pois, na ascenso do
totalitarismo no a novidade do fenmeno, mas o fato de que ele pe em
evidncia a runa de nossas categorias de pensamento e de nossos critrios de
julgamento.
Sobre isto, Castoriadis diz:
2Est) implcito na an)lise de Arendt o pressuposto de "ue n(s
en&rentamos a"ui algo "ue n$o apenas transcende as 2teorias sobre a hist(ria2
herdadas% mas transcende "ual"uer 2teoria2' 8a *erdade% o totalitarismo % a esse
respeito% o e>emplo monstruosamente pri*ilegiado e e>tremo da"uilo "ue
*erdade para toda a hist(ria e para todos os tipos de sociedade'2
A novidade est no domnio do historiador que, diferentemente do
cientista preocupado com os fatos recorrentes da natureza, estuda o que aparece
somente uma vez. Essa novidade pode ser desfigurada se o historiador, insistindo
sobre a causalidade, pretende explicar os acontecimentos por um encadeamento
causal que o provocou.
ao historiador que cabe a tarefa de descobrir essa novidade
imprevista, de separ-la das implicaes por um perodo dado e de revelar toda
sua fora significante. Mas, na verdade, o historiador s "explica" parcialmente a
histria. Na melhor das hipteses, essas explicaes descobrem algumas
conexes muito parciais, fragmentrias e condicionais. A razo disto que a
histria a criao de significado, e no pode haver "explicao". de urna criao,
apenas um entendimento e> post &acto de seu significado. E isso , de modo
especial, verdadeiro para a criao indiscriminada de significados originais e
irredutveis, os quais esto no prprio cerne das vrias formas de sociedades e
culturas.
Mas Hannah Arendt viu, na percepo de Castoriadis, muito
claramente que, com o totalitarismo, ns nos defrontamos com algo diferente:
com a criao do sem significado (meaningless). A histria, como tal, no "faz
sentido": a histria no "possui significado".
Ela o lugar de onde emerge o significado, onde ele criado. Os
seres humanos criam significados; e eles so capazes de criar aquilo que
completamente desprovido de significado. "Ningum na poca das revolues
americana e francesa poderia de alguma forma ter previsto que a 'natureza' do
homem, definida e redefinida por dois mil anos de filosofia, contivesse
possibilidades imprevisveis e desconhecidas."
Tais possibilidades imprevisveis e desconhecidas levariam criao
do absolutamente insignificante, sem sentido, que ela chamou de mal absoluto.
"Quando o impossvel foi tornado possvel, acabou se tornando o mal
imperdovel, impunvel absoluto, o qual no podia mais ser explicado pelos
motivos de interesse pessoal." sso nos mostra que o homem cria o sublime, mas
pode tambm criar o monstruoso.
Nesse confronto com o indito, e com o espanto e a perplexidade que
ele nos inspira, que Hannah Arendt tenta compreender o fenmeno cio
totalitarismo e suas manifestaes. Essas so, s vezes, explcitas e, outras
vezes, mais perversas, camufladas sob urna aparncia familiar j conhecida, a
ponto de se tornarem transparentes, ao serem atravessadas pelo nosso olhar
desavisado. Os fenmenos totalitrios que escapam, daqui cm diante, ao senso
comum e desafiam todos os critrios do julgamento "normal" so os exemplos
mais evidentes do desmoronamento desta sabedoria que nossa herana
comum. Um fato perturbador o silncio de nossa imponente tradio, to
totalmente desprovida de solues construtivas face ao desafio das interrogaes
morais e polticas de nosso tempo.
Ainda segundo Hannah Arendt:
2C'''D a escolha de um termo indito indica o acontecimento de urna
realidade no*a e decisi*a% reconhecida por todos% en"uanto "ue o uso "ue se &a!
em seguida H a identi&ica#$o de um &ato% ao mesmo tempo espec&ico e no*o%
com uma realidade geral e &amiliar H testemunha retic;ncias "ue se mani&estam
&ace aos acontecimentos "ue saem do ordin)rio'2
No caso do totalitarismo, somente a queda definitiva do imperialismo
(Hannah Arendt compreende o imperialismo como a inverso de valores que d
economia a prioridade sobre a poltica, no perodo entre 1884 e 1914) pode levar
a admitir que um novo fenmeno vem substituir o imperialismo no centro dos
problemas polticos de nossos tempos. Se verdade que nos confrontamos com
urna realidade que aniquilou nossas categorias de pensamento e critrios de
julgamento, a tarefa de compreender isso se apresenta como imprescindvel.
preciso, pois, a inaugurao de novos conceitos para poder se
pensar a novidade totalitria em todas as suas formas expressivas. preciso a
inovao de conceitos e categorias de pensamento para poder compreend-las
na originalidade de suas nuances e para isto necessria uma forma de pensar
que rompa com a tradio, com urna forma j dada de conhecimento. neste
contexto que ir aparecer,posteriormente, na obra de Hannah Arendt, o conceito
de banalidade do mal.
Mas, como dizer ento sobre o que no tem nome? Como medir o que
no tem escala? possvel acreditar que se possa produzir um acontecimento
que escape tomada de nossas ferramentas conceituais?
Para Hannah Arendt, compreenso e julgamento so ligados e
imbricados um ao outro. Podemos descrever os dois como esta atitude de
subsumir (o particular sob uma regra universal) que, para Kant, est na definio
mesma de julgamento e onde a ausncia , magistralmente, qualificada de
"estupidez", "enfermidade sem remdio"?' A ausncia do julgamento que
demonstraremos ser um ponto fundamental para o conceito de banalidade do mal
ser retomada e desenvolvida, posteriormente, no Captulo V.
O TOTAITARI!MO EM "UE!T%O
Abordemos, ento, a questo do totalitarismo no pensamento poltico
de Hannah Arendt. importante ressaltar que no nos interessa aqui fazer urna
teoria do totalitarismo, mas apontar para uma idia do totalitarismo como
novidade, uma vez que esta essencial para a questo que nos orienta: que o
conceito de banalidade do mal.
Hannah Arendt trata com especificidade esse tema na obra 'Origens
do Totalitarismo. Na verdade o prprio ttulo enganoso, pois, de fato, o
totalitarismo um fenmeno sem precedentes, e nenhuma evoluo histrica,
perfeitamente articulada, pode dar conta plenamente de suas origens.
Trata-se, na verdade, de "uma enquete mais sociolgica do que
histrica", pois este livro no desenvolve uma seqncia histrica. prefervel
falar de uma relao de convergncias, convergncia de acontecimentos que
culmina por "cristalizar-se" em totalitarismo, e convergncia de conceitos que
esclarecem esta evoluo.
Hannah Arendt no procede a uma enquete histrica a propsito do
fato totalitrio, porque o estatuto da novidade radical, a assinalado, interdita o
recurso s seqncias histricas tradicionais e causalidade linear. Os
"elementos" ou "origens" do totalitarismo no so, pois, as causas no sentido da
causalidade histrica pela qual um acontecimento pode ser sempre explicado por
um outro: os elementos no "causam" nada, eles se "cristalizam" em certas
formas determinadas.
O anti-semitismo, o imperialismo e o totalitarismo tm, em comum o
rompimento com toda tradio, e os paralelos histricos que bloqueiam o acesso
sua especificidade devem, pois, ser banidos. Por exemplo, no caso do anti-
semitismo moderno, ideologia leiga do sculo XX, ele se distingue radicalmente
do antijudasmo secular de origem religiosa, com o qual a tradio judaica errou,
segundo Hannah Arendt, em confundir.
, tambm, em sentido bastante restrito e cronologicamente limitado
que se define o imperialismo, desde que o termo se encontre reservado
expanso colonial europia que tomou seu impulso no ltimo tero do sculo XX;
os imperialistas modernos no so, pois, os inauguradores do imprio no sentido
amplo; da mesma forma a expanso no uma conquista; o trao especfico do
fenmeno a separao mantida entre as instituies nacionais c a administrao
colonial.
Finalmente, como j foi observado, o totalitarismo um tipo distinto de
dominao sob uma roupagem moderna. A dominao total bastante inslita
para se referir s formas antigas e, embora uma quantidade de fatores lhe sirvam
de preldio, impossvel no se reconhecer, em seu advento, um brusco
despregamento que no corresponde imagem continusta que se faz,
normalmente, da evoluo histrica. Aqui temos uma figura que no espcie de
nenhum gnero, quer seja o despotismo oriental, a tirania grega, ou ainda a
simples exacerbao do poder do Estado que revela, subitamente, sua verdadeira
face, graas ao apoio da tcnica.
Mas, se por um lado, essa dominao no remete a nenhum modelo
conhecido, por outro, o totalitarismo , para Hannah Arendt, uma fraqueza
momentnea a ser classificada dentro das aberraes polticas:" ela cr que no
h aqui uma figura durvel a acrescentar ao registro das formas de governo
classicamente repertoriadas.
Mas qual o fio que liga os fenmenos do anti-semitismo ao
imperialismo e ao totalitarismo? O tema central que une os fios esparsos da obra
, sem dvida, a histria da dissoluo das sociedades nacionais em agregados
de homens suprfluos: " necessrio recolocar o anti-semitismo moderno no
quadro mais geral do desenvolvimento do Estado-nao," onde a desintegrao
coincide com a investida imperialista e se encontra selada com o surgimento dos
regimes totalitrios.
Para Hannah Arendt, o anti-semitismo aparece como um fenmeno
moderno que se distingue radicalmente do "dio aos judeus" de origem religiosa.
deologia leiga ligada histria poltica e social do Estado-nao do ltimo sculo,
ela no se inscreve nos prolongamentos de uma perseguio secular, como
tambm o anti-semitismo no polariza um ressurgimento irracional de barbrie
sobre um grupo, vtima emissria, quase que fortuita, servindo de derivativo de
um ressentimento desviado em dio racial. Hannah Arendt insiste em
compreender o anti-semitismo como um problema poltico, ligado a uma
conjuntura histrica, diferentemente de todas as teorias que tendem a dissolver a
especificidade de um fenmeno na histria transcorrida de milnios, ou, ainda,
absolver a violncia por inscrev-la em uma fatalidade vitimria. Essa posio
tpica ser bastante comentada, quando tratarmos da controvrsia em torno da
obra Eichmann em Jerusalm'
A autora insiste na ocorrncia das relaes que, desde a poca dos
"judeus da corte", os judeus tiveram com o aparelho do Estado, a ttulo de
financiadores das transaes. Depois, a partir da era do imperialismo, eles
perderam sua situao privilegiada, no fazendo mais parte de nenhuma das
classes de urna sociedade, permanecendo distncia. Eles foram, assim,
constantemente identificados com o poder estatal, e Hannah Arendt tenta mostrar
que a hostilidade em relao aos judeus se confundia com a hostilidade
estrutura do Estado como alvo de ataque de grupos nacionais.
Este anti-semitismo foi atiado, ainda, pelos escndalos financeiros do
fim do sculo XX e pelo ressentimento de uma pequena burguesia, persuadida
da existncia de uma fora internacional judia manipulando as alavancas da
poltica mundial. O anti-semitismo, que aparece em 1870, se exerce, pois, em
direo a esse grupo que conservou seus privilgios e que depois perdeu as
funes pblicas, o poder; seu destino , segundo Hannah Arendt, ligado ao
declnio do Estado-nao que se quebra sob o avano imperialista.
Ainda segundo Hannah Arendt, o anti-semitismo poltico se duplica em
anti-semitismo social, no qual as causas so exatamente inversas, visto que ele
apareceu justamente quando os judeus, passando do Estado sociedade,
adquirem a igualdade de condies com os outros grupos sociais. A fim de ser
aceito, o judeu tem que se distinguir, compondo um personagem nico, excntrico
ao mximo possvel, e ao preo de mil extravagncias surpreendentes que ele
escapa excluso que atinge o grupo. O judeu, em geral, se faz adotar como ser
de exceo. Esta condio paradoxal de pria e de par*enu profundamente
tratada por Hannah Arendt.
Claude Lefort, em uma anlise consagrada a Origens do Totalitarismo,
reconhece que "neste descentramento da histria dos judeus, no deslocamento
do foco da questo, do lugar do anti-semitismo ao lugar do totalitarismo, de urna
maneira geral ao lugar do poltico, que residem a originalidade e a audcia da
tentativa de Hannah Arendt"." A nosso ver, essa originalidade consiste justamente
no fato cicia ter captado a novidade do fenmeno cio anti-semitismo moderno, ao
diferenci-lo do antigo dio religioso antijudaico e de ter-lhe dado o tratamento de
um problema poltico ligado a uma conjuntura histrica.
Quanto ao imperialismo, ele se reveste de um alcance mais geral. Na
obra Origens do Totalitarismo, esse fenmeno, como j foi dito anteriormente,
interpretado como a inverso dos valores que d economia a prioridade sobre a
poltica, no perodo entre 1884 e 1914, que ser o preldio da devastao da
Europa. Resumido no slogan "a expanso pela expanso", o imperialismo
promove a extenso geogrfica apenas em nome de urna crescente economia
que abraa o modelo da acumulao capitalista, encarregada de um dinamismo
infinito, visando partilhar o planeta. Com a frase de Cecil Rhodes, "Eu ane)aria
os *lanetas se o *udesse", Hannah Arendt ilustra o princpio dessa lei de
expanso, onde se encontra, sob forma apenas disfarada, a idia de processo
ilimitado no qual ela ver o triunfo do totalitarismo.
Uma das teses centrais que o imperialismo deve ser compreendido
como a primeira fase da dominao poltica da burguesia, mais do que como o
ltimo estgio do capitalismo, pois ele marca "a emancipao poltica da
burguesia" cujos interesses privados so camuflados em princpios polticos,
desde que os investimentos tm necessidade de uma proteo governamental.
Os homens de negcios se transvestem em polticos, para os quais a poltica
representa apenas uma fora de polcia bem organizada. O poder apenas seguiu
a intendncia alm das fronteiras, o que explica que o Estado apenas exportou os
instrumentos de coero exrcito, polcia e burocracia, e que o governo da
fora ocupou o lugar da fundao do corpo poltico.
Os traos distintivos do imperialismo so, segundo ela, as teorias
racistas que substituram a raa pela nao, como base da estrutura poltica e da
organizao burocrtica que serviu de instrumento. Quanto instituio
burocrtica, ela se caracteriza pelo culto da distncia e o gosto pelo secreto. Ela
d a seus agentes o sentimento de embriaguez de servir s foras superiores e
aos vastos desgnios nos quais eles no so eles mesmos, mas apenas
instrumentos to dceis quanto irresponsveis. Esta "poltica infantil" que
acreditava no fardo do "homem branco" realizar a idia de "massacres
administrativos".
Ao abordarmos o totalitarismo, no entraremos no mrito da questo
sobre os impasses polmicos em torno das variaes conceituais do termo, nem
discutiremos as polmicas surgidas em torno do tratamento que Hannah Arendt
d ao tema. Apenas importante atentar para o ponto mais contestado de
Origens do Totalitarismo" que precisamente o paralelo, que se julgou escabroso,
entre o nazismo e o stalinismo.
Hannah Arendt se omite de estudar os mecanismos da tomada de
poder e de analisar o recrutamento das elites dirigentes e no pode, por isso,
sustentar que nazismo e stalinismo foram apoiados por constelaes de foras
diferentes. O que ela faz acentuar as similaridades reveladoras de uma
essncia totalitria, deixando de lado, na categoria de variaes no essenciais,
uma multido de diferenas bastante significativas. Deste desequilbrio ela foi
perfeitamente consciente ao admitir, em 1952, que "a falta mais grave de 'Origens
do Totalitarismo' a ausncia de uma anlise histrica e conceituai do pano de
fundo ideolgico do bolchevismo"."
Na verdade, o totalitarismo permanece uma noo genrica que
recobre uma grande variedade de elementos, da a impossibilidade de se fornecer
uni critrio no ambguo aplicao deste conceito. Por isso Hannah Arendt
delimita estritamente a extenso do fenmeno "totalitarismo" no tempo e no
espao, sendo que ele apenas concerne aos regimes de Stalin e Hitler, j que o
nazismo s se tornou autenticamente totalitrio em 1938 e o stalinismo, a partir de
1930. Quanto ao problema da extenso do conceito de totalitarismo, Bobbio" faz a
mesma opo de Arendt, quando delimita o campo de aplicao do conceito aos
regimes de Hitler e Stalin.
Comentando a opo conceituai de Hannah Arendt, Bobbio diz:
"Em Arendt o totalitarismo aparece como uma tendncia-limite da ao
poltica na sociedade de massa, um certo modo extremo de fazer poltica,
caracterizado por um grau mximo de penetrao e de mobilizao monopolstica
da sociedade, que ganha corpo na presena de determinados elementos
constitutivos. O totalitarismo, enquanto tal, assume diversos aspectos e est
associado a diversos fins e diversas metas, conforme o sistema poltico particular
no qual encarna o relativo ambiente econmico-social."
Quanto s revises crticas e aos pontos mais eficazes das teorias do
totalitarismo, Bobbio conclui e resume que o fenmeno pode ser descrito
sinteticamente, com base em sua natureza especfica, nos elementos
constitutivos que contribuem para form-lo e nas condies que o tornaram
possvel em nosso tempo.
importante situar, no amplo quadro de pesquisa sobre o
totalitarismo, onde se localiza o pensamento poltico de Hannah Arendt. Para
Chtelet, "essa obra se inscreve no espao crtico do liberalismo, do qual ela
partilha as principais perspectivas. Todavia ela o ultrapassa a fim de pr o acento
nessa banalidade do mal que ameaa o sculo XX". E continua: "Distinguindo
entre o fenmeno totalitrio em movimento e o totalitarismo no poder, Hannah
Arendt opera uma anlise sistemtica da massificao, idia j explorada
diferentemente pelo 'liberalismo'."
Marxistas e liberais tm conceitos irredutivelmente antagnicos de
totalitarismo. Os marxistas argumentam que o termo totalitrio inscreve-se,
inicialmente, num contexto de guerra fria, e acompanhado pelo projeto,
deliberadamente polmico, de assimilar nazismo e comunismo. J o pensamento
liberal coloca nazismo e stalinismo na rubrica de "totalitarismos", apoiando a idia
de que o Estado sempre Estado de Direito, e que o fenmeno totalitrio o
dissolve. Por outro lado, as caractersticas reais do termo totalitarismo no esto
de modo algum em oposio forma de Estado liberal propriamente dita: ao
contrrio, os fenmenos reais mascarados por essa ideologia poltica se
encontram na forma do Estado liberal.
Enquanto uns, como Giovani Sartori e Raymond Aron, consideram o
totalitarismo como um acidente superado, outros, como Claude Lefort, j o vem,
em sua atualidade, como um fato poltico e "nada nos permite dizer que no
reaparecer no futuro".
Conforme Castoriadis: "O totalitarismo 'clssico' foi ou destrudo
externamente, ou exaurido internamente; nenhum desses dois destinos foi
inevitvel ou fatal." Todavia uns e outros tm cm comum o fato de verem o
totalitarismo como um certo modo extremo de fazer poltica na sociedade de
massa, bem real e claramente identificvel, que se manifestou em nosso sculo
com conotaes de novidade e de grande relevncia histrica.
Enfim, o debate sobre o totalitarismo est em aberto: um fato atual,
de urna atualidade cujas razes e marcas devem ser esclarecidas. Trata-se de um
conceito importante que no podemos nem devemos minimizar, porque denota
urna experincia poltica real, nova e de grande relevo, que deixou marca
indelvel na histria e na conscincia dos homens do sculo XX.
Mas, afinal, qual a diferena de princpio que permite ao governo
totalitrio ser uma natureza impossvel de se relacionar a um tipo de governo j
existente? Qual a sua originalidade?
IDEOO;IA E TERROR
Para Hannah Arendt, o totalitarismo est apoiado em dois pilares:
ideologia e terror. Enquanto a ilegalidade a essncia do governo tirnico, o
terror a prpria essncia do domnio totalitrio. Tal regime no abole somente a
liberdade pblica, mas visa eliminao total da espontaneidade nela mesma e,
contrariamente tirania que autoriza ainda a ao motivada pela crena, o
totalitarismo consegue suprimir toda a ao. O isolamento tirnico que no atinge
a esfera da vicia privada se ope desolao totalitria, definida como "a
experincia absoluta de no pertinncia ao mundo". Esta desolao o efeito de
uma violncia que se difunde do prprio interior do corpo social, lugar onde se
pode analisar o mecanismo de sua difuso.
Para Hannah Arendt, o primeiro trao da dominao totalitria a
destruio das redes de comunicao que prendem o homem a um tecido
sociopoltico, a fim de promover a mobilizao das massas despolitizadas. O
volume de pessoas, a apatia e o mutismo poltico so suficientes para definir
essas massas, vindas cia atomizao social consecutiva Primeira Guerra
Mundial, ao desemprego e inflao, os quais esmagaram todas as distines,
aplainando, assim, o caminho do totalitarismo. Nenhum interesse comum, seja
econmico, social ou poltico, liga os elementos desse agregado para fazer deles
uma comunidade; mas, ao contrrio, a atomizao e o extremo individualismo
que o princpio da massa no como formao social, mas como sociabilidade
amorfa.
Para ilustrar o sistema de dominao, Hannah Arendt usa a imagem
da "estrutura da cebola", em oposio ao modelo piramidal autoritrio. O dirigente
age, a partir do interior de uma estrutura, composta de muitas camadas formadas
de simpatizantes, adeptos, de membros das formaes da elite ou cio ncleo dos
iniciados em torno do lder. O estrato mais exterior tem uma aparncia de
normalidade, ao mesmo tempo para as massas e para o estrato imediatamente
interior e assim por diante. Essa estrutura permite a filtragem cia realidade,
criando um abismo entre a fico ideolgica central e o mundo perifrico,
possibilitando sempre desmentir o que transpira da. Assim compreende-se
porque a mentalidade totalitria uma "mistura de credulidade e cinismo",
credulidade da massa e cinismo dos iniciados, indiferentes aos fatos e
resguardados por uma lealdade suicida em relao ao chefe.
Esse tipo de organizao contribui para extirpar todo esprito de
responsabilidade e reforar a dominao total do lder, pois o desdobramento das
instncias de autoridade (partido ou Estado, polcia ou burocracia) e a proliferao
das autoridades concorrentes, entre as quais, o poder efetivo, se deslocam sem
cessar.
Os campos de concentrao representam os laboratrios do
totalitarismo, nos quais se verifica a dupla crena de que tudo possvel e de que
tudo permitido. Permitido, no no sentido das liberdades individuais, mas, ao
contrrio, do ponto de vista dos detentores do poder. E, se verdade que os
campos de concentrao so a instituio que caracteriza mais especificamente o
governo totalitrio, ento, deter-se nos horrores que eles representam
indispensvel para compreender o totalitarismo. Neles, a inveno imperialista
encontra sua realizao acabada, pois essa instituio central de poder totalitrio
exprime a perfeio de dominao, onde o objetivo no o de transformar o
mundo, mas de modificar a natureza humana. Ao extermnio de pessoas se junta
o das memrias das vtimas e de grupos humanos inteiros.
Para Hannah Arendt: 2Os campos de concentra#$o n$o s$o apenas
destinados ao e>termnio de pessoas e @ degrada#$o de seres humanos- ser*em
tambm @ horr*el e>peri;ncia "ue consiste em eliminar% em condi#:es
cienti&icamente controladas% a pr(pria espontaneidade en"uanto e>press$o do
comportamento humano% e em trans&ormar a personalidade humana em simples
coisa% em alguma coisa "ue nem mesmo os animais possuemI2'
isso que lhe faz compreender por que, tanto na Unio Sovitica
quanto na Alemanha, esses campos no foram estabelecidos tendo-se em vista a
possibilidade de maior produtividade: sua nica funo econmica foi financiar a
sua aparelhagem. Para alm de sua prpria inutilidade, persegue-se um objetivo
fundamental: a destruio da pessoa jurdica e moral do indivduo at obter, nessa
destruio, a cumplicidade entre vtima e carrasco.
Segundo Primo Levi, o aspecto mais perverso, o crime mais
demonaco da experincia do nazismo foi o de ter concebido e organizado as
"equipes especiais", esta cumplicidade, esta confuso, estrategicamente fabricada
e estruturada entre vtima e carrasco, chamada por ele de "zona cinzenta", com
base em sua experincia de sobrevivente de Auschwitz. A cumplicidade
conscientemente organizada de todos os homens, nos crimes dos regimes
totalitrios, estendida s vtimas e, assim, torna-se realmente total. A linha
divisria entre o perseguidor e o perseguido, entre assassino e vtima, desaparece
medida que os internos dos campos de concentrao eram obrigados, pela SS,
a colaborar, forados a agir como assassinos. Morta a pessoa moral, esses
homens foram transformados em mortos-vivos. Aqui nos encontramos diante de
uma analogia paradoxal entre vtima e opressor. O nazismo degrada suas vtimas,
torna-as semelhantes a ele mesmo.
Outro aspecto a ser ressaltado sobre os campos de concentrao, e
que se situa no quadro das caractersticas essenciais do totalitarismo, o da
atmosfera de irrealidade e seu equivalente clima de fico e a fluidificao da
conscincia. Convm lembrar que os campos so, no apenas a sociedade mais
totalitria j realizada,30 mas tambm o modelo social perfeito para o domnio
total. Os campos constituem a verdadeira instituio central do poder
organizacional totalitrio.
Da mesma forma como a estabilidade do regime totalitrio depende do
isolamento do mundo fictcio criado pelo movimento em relao ao mundo
exterior, tambm a experincia dos campos de concentrao depende de seu
fechamento ao mundo de todos os homens, o mundo dos vivos em geral. Todos
os relatos vindos dos campos de concentrao so caracterizados por uma
peculiar irrealidade e incredibilidade, tanto da parte de quem ouve como da parte
do autor, que permanece sempre como uma vtima de dvidas quanto sua
prpria veracidade, como se pudesse ter confundido um pesadelo com a
realidade. Essa atmosfera de loucura e irrealidade, criada pela aparente ausncia
de propsitos, a verdadeira cortina de ferro que esconde dos olhos do mundo
todas as formas de campo de concentrao.
Vistos de fora, os campos e o que neles acontece s podem ser
descritos com imagens extraterrenas, como se a vida neles fosse separada das
finalidades deste mundo. Mais do que qualquer barreira material, a irrealidade
dos detentos que provoca uma crueldade to incrvel que termina por levar
aceitao do extermnio como soluo perfeitamente normal. Os homens so
condicionados para aceitar, no importa o qu, e eles terminam por no reagir a
nada mais.
Nem a vida nem a morte lhes importa mais verdadeiramente, e eles
desempenham as tarefas absurdas com uma resignao absoluta. David Rousset,
em seu relato, assinala que as condies sociais da vida nos campos
transformaram a grande massa de internos e dos deportados, independentemente
de sua antiga posio social e sua formao, em "uma turba degenerada,
inteiramente submetida aos reflexos primitivos do instinto animal". Esta idia
corroborada por outros relatos de sobreviventes que reforam este aspecto da
regresso ao comportamento humano primitivo entre os prisioneiros.
Para Hannah Arendt, a experincia dos campos de concentrao
demonstra que "os seres humanos podem transformar-se em espcimes do
animal humano, e que a 'natureza' do homem s 'humana' na medida em que d
ao homem a possibilidade de tornar-se algo eminentemente no natural, isto ,
um homem".
Se pudermos falar que os campos tinham um objetivo, este seria
somente o de minar a individualidade dos prisioneiros e transform-los em massa
dcil, da qual no pudesse surgir nenhum ato de resistncia individual ou coletiva.
Outro objetivo era espalhar o terror entre o restante da populao, utilizando os
prisioneiros tanto como refns quanto como exemplos de intimidao do que
aconteceria se algum tentasse reagir. Alm do mais, os campos eram local de
treinamento da SS. L os guardas eram ensinados a livrar-se de suas emoes e
atitudes anteriores mais humanas, para adotar os modos mais eficazes de
quebrar a resistncia de uma populao civil indefesa; assim, os campos
tornaram-se um laboratrio experimental para se estudar os meios mais efetivos
de fazer o terror.
Vistos fora da perspectiva do terror, o mundo dos campos no tem
objetivo utilitrio, um mundo que funciona sob a ausncia de sentido. A
realidade dos campos permanece impenetrvel imaginao e ao entendimento
normais; as descries dos sobreviventes chocam por sua caracterstica de
irrealidade e fico, e precisamente esta atmosfera de loucura e irrealidade que
esconde e protege, como uma rede espessa, a hedionda realidade dos campos
aos olhos do mundo exterior.
Dizendo de outra maneira: os campos tm urna aparncia de fico,
pois eles realizam, efetivamente, o absurdo; e exatamente este absurdo que os
torna invulnerveis. E, se existe uma instituio que consegue realizar isso,
porque os homens normais se recusam a acreditar no absurdo e a ignorar que
tudo possvel. Pode-se dizer que, ao se recusar a crer na loucura, apesar desta
ser traduzida em fatos efetivos, o homem normal se torna cmplice da demncia
totalitria; ironicamente torna-se aliado objetivo da ideologia do mentiroso, e
exatamente aqui que reside a amplitude desse poder perverso.
Sendo assim, o motivo pelo qual os regimes totalitrios podem ir to
longe na realizao de um mundo invertido e fictcio que o mundo exterior no-
totalitrio s acredita naquilo que quer e foge realidade ante a verdadeira
loucura. A repugnncia do bom senso, diante da f no monstruoso,
constantemente fortalecida pela censura das informaes e pela propaganda
totalitria. Para Hannah Arendt: "O que contraria o bom senso no o princpio
niilista de que 'tudo permitido' j delineado no conceito utilitrio de bom senso
do sculo XX. O que o bom senso e as 'pessoas normais' se recusam a crer
que tudo seja possvel."
Com o surgimento da sociedade totalitria, de seus crimes imensos e
absurdos, ns nos encontramos diante do surgimento de urna espcie de mal
radical. Hannah Arendt, corno grande leitora de Kant, prefere a designao de
"radical" de "absoluto" para evitar a tentao bastante metafsica de hipostasiar,
em princpio, um fenmeno essencialmente efmero e instvel a seu ver. O
regime totalitrio realiza o irreal, faz funcionar efetivamente um mundo privado de
sentido; por conseqncia, ele a impossibilidade existente. E se esta
impossibilidade, uma vez atualizada, d a aparncia de maior solidez que o
mundo "normal" dos fatos no manipulados, ela permanece, no obstante,
bastante vulnervel. O mal radical essencialmente frgil, c essa fragilidade, ao
invs de contradizer a noo, decorre dela.
Por outro lado, o poder totalitrio no poderia ser exercido sem o
contravalor do ideal que lhe fornecido pela ideologia. deologia definida por
Hannah Arendt como sendo "a lgica de uma idia" e tendo por objeto "a histria,
qual a idia aplicada". O resultado dessa aplicao no um conjunto de
postulados acerca de algo que , mas a revelao de um processo que est em
constante mudana.
A ideologia trata do encadeamento dos acontecimentos, como se eles
obedecessem mesma "lei" adotada na exposio lgica da sua "idia". No
pensamento ideolgico encontram-se elementos totalitrios, pois este
pensamento dispe os fatos sob a forma de um processo absolutamente lgico
que se inicia a partir de uma premissa aceita axiomaticamente. Tudo mais
deduzido dela, operando com uma coerncia que no existe em parte alguma da
realidade. Essa lgica persuasiva como guia da ao impregna toda a estrutura
dos movimentos e governos totalitrios.
O preparo das vtimas e dos carrascos no atravs da ideologia em
si, cio racismo ou do materialismo dialtico, mas atravs de sua lgica inerente. A
fora coercitiva dessa lgica, segundo Hannah Arendt, emana do nosso pavor
contradio. Para a mobilizao das pessoas, o governante totalitrio conta com a
compulso que as impele para a frente; e essa compulso interna alimenta a
tirania da lgica, contra a qual nada se pode erguer seno a grande capacidade
humana de comear algo novo. A tirania da lgica comea com a submisso da
mente a ela, como processo sem fim, no qual o homem se baseia para elaborar
os seus pensamentos. Atravs dessa submisso ele renuncia sua liberdade
interior, tal como renuncia liberdade quando se curva a urna tirania externa.
No contexto da averso contradio de que fala Hannah Arendt, a
contribuio de Miklos Vet magistral. Segundo sua anlise sobre o papel da
coerncia na ideologia totalitria, pela mentira poltica que o regime estabelece
uma grade que permite a organizao e a explicao "coerentes" desse mundo. A
iniciativa dessa coerncia terrvel no provm somente do alto, do lado dos
governantes.
O desejo da coerncia no obceca somente os chefes, mas ele
profundamente vivido pelas prprias massas. Desenraizados, sacudidos em um
mundo onde eles no esto mais organicamente integrados, os homens so
privados dessa segurana que lhes permitiria desembaraar-se e se reencontrar
num universo em mudana contnua. Da para frente, incapazes de suportar o
carter acidental, incompreensvel desse mundo em constante reviravolta, esses
milhes de indivduos, que constituem as massas modernas, no aspiram seno a
escapar em direo a esse paraso artificial que seria um universo completamente
coerente.
Desorientados e aterrorizados diante do crescimento anrquico que
caracteriza a vida das sociedades modernas, , seguindo seu instinto de
segurana, pelo seu desejo de um mnimo de respeito a si, que as massas
apostam to fortemente em uma aparncia de racionalidade no mundo e se fiam
coerncia totalitria na forma mais absurdamente fictcia. A imposio de um
sistema de explicao lgico-matemtico de coerncia no mundo moderno
perniciosa medida que ela suprime esses espaos intermedirios onde poder-
se-iam abrigar a imaginao, o bom senso e, mesmo, o senso. Para Hannah
Arendt, "(...) cada vez que o senso comum, o sentido poltico por excelncia, deixa
de atender a nossa necessidade de compreenso, muito provvel que
aceitemos a lgica como seu substituto, pois a capacidade de raciocnio lgico
tambm comum a todos".
Vet diz que a explicao totalitria tem a particularidade de no se
limitar a uma interpretao terica, mas age tambm para que o mundo se
submeta, efetivamente, s suas dedues. A ideologia aplica sobre o mundo
contingente dos homens urna grade de leitura coerente e sem falha e se previne
em relao queles que no aceitam docilmente as articulaes fantasmticas.
prprio dos movimentos totalitrios explicar o mundo (sobretudo as dificuldades
que eles encontram) pela atividade secreta e permanente, e onipresente, dos
conspiradores. Contudo a teoria da conspirao enquanto princpio de explicao
do imprevisto, da falta e do fortuito, marca a mania da perseguio.
Hannah Arendt afirma a perfeita compatibilidade da loucura com uni
sistema de lgica acabada. A loucura no baseada na ausncia de coerncia no
raciocnio; ela se destaca, ao contrrio, (em concordncia com Kant) dessa
"obstinao lgica" que se exerce para o indivduo que perdeu o bom senso
humano pelo fato de ser excludo do mundo pluralista das opinies e dos fatos
concretos. A propsito da compatibilidade da loucura com a coerncia,
entendemos que a parania nada mais do que as dedues sistemticas
efetuadas por um esprito isolado, por conseqncia desregrado, a partir de urna
premissa erigida em absoluto.
Tambm nas ideologias totalitrias, tudo parte de uma premissa a qual
no seno uma mentira descarada ou urna tese pseudo-cientfica. No entanto, a
demncia dos sistemas totalitrios no decorre somente de sua premissa, mas
consiste, sobretudo, na lgica pela qual ela construda. O verdadeiro delrio no
a escolha extraviada de um princpio, mas a confirmao constante dessa
escolha pelo fechamento rgido em direo ao mundo, pela recusa de se recorrer
a toda facticidade que poderia se mostrar dissonante.
Para Hannah Arendt, a demncia criminosa da explicao totalitria
ter trocado a liberdade inerente ao pensamento pela "camisa de fora da lgica".
A explicao totalitria se quer infalvel e, para poder no ser jamais refutada
pelos fatos, ela congela toda espontaneidade susceptvel de deter a sua marcha e
liquida, sem piedade, os indivduos recalcitrantes a seu movimento.
O que torna a coerncia lgica um fator de violncia no a
transparncia sem falha do encadeamento de seus movimentos, mas, sobretudo,
a transformao dessa transparncia em urna corrente irresistvel. Enegrn
observa que o totalitarismo pode ser descrito como unia obsesso de movimento.
De fato, o regime vive em uni estado de requisio permanente, permitindo urna
marcha constante para frente, na qual acessao significaria o entorpecimento, a
esclerose cio terror transformado em simples governo absoluto.
Toda tentativa de estabilizao deve ser sufocada na origem. O
exemplo disto a revoluo permanente do stalinismo que tornou nitidamente a
forma de depurao e de transferncia de populao; no caso do nazismo, tomou
a forma de abertura a uma seleo racial sem trgua. A mobilidade est, pois, na
ordem do dia; na descrio de Hannah Arendt, ela corresponde a uma vertigem
gratuita, ao movimento que entranha a evoluo da histria naturalizada e da
natureza historicizada: a histria engolida no fluxo da vida e absorvida em
processo invisvel.
Eichmann fala, a propsito da organizao burocrtica nazista, que
"(...) tudo estava em um estado de flutuao permanente, um rio contnuo"' e esse
rio no tem os meandros de uni rio pacfico, mas, sobretudo, de urna torrente que
inunda e destri. Uma "flexibilidade" extraordinria caracteriza os regimes
totalitrios, o que no tem nada a ver com prudncia, com o fato de se submeter
aos desejos e aos interesses dos outros ou com uma autolimitao qualquer.
Essa flexibilidade unia "fluidez" diablica que tende, precisamente, a contornar
todo limite, a evitar todo constrangimento que emana do exterior ou de suas
prprias profundezas.
No Estado totalitrio, o movimento se encontra erigido em princpio
absoluto, enquanto movimento, sem nenhuma articulao estrutural. Ele se liberta
de toda lei e de toda regra positiva, visto que pretende representar uma legalidade
superior a todo preceito particular; e isto em virtude de sua identidade ao
movimento que veicula, de uma maneira infalivelmente eficaz, o ser-lei da
humanidade. Perdendo, ento, sua condio normativa e coincidindo, da em
diante, com o movimento onde antes estava designada a ser o critrio e a regra, a
lei passa por estranhas transposies. Ela no tem a condio formal do
universal, nem a positividade concreta do particular, mas ela , ao mesmo tempo,
indefinida e instantnea, abstrata e fluida. Daqui em diante a humanidade como
tal que encarna a lei.
Quanto ideologia totalitria, esta se acha livre da fidelidade a
qualquer coisa de objetivo, pois no est submetida a nenhum fato, mesmo ao
fato fictcio, a mentira, que se encontra em seu comeo. Ela livre em relao a
seu prprio contedo e at mesmo com relao a todo contedo. Por exemplo: os
nazistas jamais levaram a srio seu prprio programa, pois eles sabiam, com
pertinncia, que um movimento no deve estar ligado a qualquer coisa de imvel,
a uma srie de preceitos e princpios. O que importa o movimento em si mesmo
no sentido fsico e biolgico do termo, e a noo de movimento acaba por levar
apario de um programa.
A lei dos movimentos totalitrios fundada em critrios exteriores e
flutuantes definidos pela direo do movimento, e o sucesso do movimento
totalitrio, sua eficcia assustadora, depende, em grande parte, da suprema
liberdade de seu chefe, que no obrigado a respeitar nenhuma regra fixa, nem
mesmo suas prprias decises e declaraes anteriores. A extraordinria
ausncia de lei e de forma, que caracteriza as sociedades totalitrias, no um
acidente, mas alguma coisa de inerente dinmica mesma do totalitarismo e
serve para a destruio desta segurana que permite ao indivduo se mover, se
deslocar e fazer projetos: em uma palavra, de estar ao abrigo que sua
personalidade jurdica.
Os homens se ressentem duramente promulgao de leis cruis e
injustas, mas, na medida em que estas leis definem seus contornos, acabam por
se acomodar a elas. Mas o que no possvel de ser tolerado por eles a
ausncia de toda lei. O assalto permanente contra a identidade jurdica do
indivduo e o controle absoluto do cidado uma poltica consciente e essencial
do governo totalitrio.
A personalidade jurdica e moral a estrutura do indivduo,
insubstituvel e nica, de onde emanam decises, julgamentos e aes, enfim, de
onde surge toda a novidade no mundo. A eliminao da personalidade visa secar
as fontes da espontaneidade, a fim de permitir ao regime regulamentar, sempre
mais eficazmente, o comportamento dos cidados. A destruio dos direitos do
homem, a morte de sua pessoa jurdica, a condio primordial para que ele seja
inteiramente dominado, e a finalidade do sistema arbitrrio destruir os direitos
civis de toda a populao, que se v, afinal, to fora da lei em seu prprio pas
como os aptridas e refugiados.
Podemos dizer que a propaganda totalitria a outra face do terror.
Mas isto s verdadeiro nos estgios iniciais, pois, quando o regime totalitrio
detm o poder absoluto, ele substitui a propaganda pela doutrinao, e a violncia
no usada mais com o objetivo de assustar o povo (quando ainda existe
oposio), mas para dar realidade s suas doutrinas ideolgicas e s suas
mentiras utilitrias. Quando o terror atinge a perfeio, como nos campos de
concentrao, a propaganda desaparece inteiramente. A propaganda um
instrumento cio totalitarismo, possivelmente o mais importante, para enfrentar o
mundo no-totalitrio, e o seu objetivo no a persuaso, mas a organizao
(organizao aqui definida como o "acmulo de fora sem a posse dos meios de
violncia").
A eficcia desse tipo de propaganda evidencia uma das principais
caractersticas das massas modernas. Elas no acreditam em nada visvel, nem
na realidade da sua prpria experincia; no confiam em seus olhos e ouvidos,
mas apenas em sua imaginao que pode ser seduzida por qualquer coisa ao
mesmo tempo universal e congruente em si. O que convence as massas no so
os fatos, mesmo que sejam fatos inventados, mas apenas a coerncia com o
sistema cio qual esses fatos fazem parte.
O que as massas se recusam a compreender a fortuidade de que a
realidade feita. Predispem-se a todas as ideologias, porque estas explicam os
fatos como simples exemplos de leis e ignoram as coincidncias inventando uma
onipotncia que a tudo atinge e que, supostamente, est na origem de todo
acaso. A propaganda totalitria prospera nesse clima de fico, eliminando tudo o
que fortuito em detrimento da coerncia. A propaganda totalitria cria um mundo
fictcio capaz de competir com o mundo real, cuja principal desvantagem no
ser lgico, coerente e organizado.
O solo frtil para o comeo do terror totalitrio se encontra no
isolamento. Podemos dizer que o isolamento pr-totalitrio, sua caracterstica
a impotncia, na medida cm que a fora surge quando os homens trabalham em
conjunto; os homens isolados so impotentes por definio. Nos governos
tirnicos os contatos polticos entre os homens so barrados, mas nem todos os
contatos entre eles so interrompidos e nem todas as capacidades humanas so
destrudas. Toda a esfera da vicia privada permanece intacta.
J no terror total, o espao para essa vida privada eliminado, e a
autocoero da lgica totalitria destri a capacidade humana de sentir e pensar,
to seguramente corno destri a capacidade de agir. O domnio totalitrio novo
como forma de governo na medida em que no se contenta com esse isolamento
e destri tambm a vida privada. Baseia-se na solido, na experincia de no se
pertencer ao mundo, que uma das mais radicais e desesperadas experincias
que o homem pode ter.
O desarraigamento e a superfluidade que atormentam as massas
modernas desde o comeo da Revoluo ndustrial,43 tornaram-se cruciais com o
surgimento do imperialismo no fim do sculo passado e com o colapso das
instituies polticas e tradies sociais do nosso tempo. Na verdade, as massas
surgiram dos fragmentos da sociedade atomizada, cuja estrutura competitiva e
concomitante solido do indivduo eram controladas, apenas, quando se pertencia
a uma classe.
A principal caracterstica do homem de massa no a brutalidade nem
a rudeza, mas seu isolamento e a sua falta de relaes sociais normais." Os
movimentos totalitrios so organizaes macias de indivduos atomizados e
isolados, distinguem-se dos outros partidos e movimentos pela exigncia de
lealdade total, irrestrita, incondicional e inaltervel de cada membro individual.
No se pode esperar essa lealdade a no ser de seres humanos completamente
isolados que, desprovidos de outros laos sociais de famlia, de amizade e de
camaradagem, s adquirem o sentido de terem lugar neste mundo quando
participam de um movimento, pertencem ao partido.
No ter razes significa no ter no mundo um lugar reconhecido e
garantido pelos outros; ser suprfluo significa no pertencer ao mundo de forma
alguma. O desarraigamento pode ser a condio preliminar da superfluidade, tal
como o isolamento a condio preliminar da solido.
A solido, para Hannah Arendt, , em sua essncia (sem atentar para
as suas recentes causas histricas e o seu novo papel na poltica), ao mesmo
tempo, contrria s necessidades bsicas da condio humana e uma das
condies fundamentais de toda vida humana.
(O isolamento e a solido no so a mesma coisa: enquanto o isolamento se refere
ao terreno poltico da vida, a solido se refere vida humana como um todo. sto bastante
discutido em Origens do totalitarismo, p. 528-529. Em qual medida a faculdade de pensar, que se
exerce na solido, se estenderia esfera puramente poltica onde eu estou sempre com outros;
uma questo que Hannah Arendt ir desenvolver em A *ida do esprito, sua ltima obra.)
A solido passou a ser, em nosso sculo, a experincia diria das
massas cada vez maiores, o que nos ameaa nas condies em que vivemos
hoje no terreno da poltica. Tal como o medo e a impotncia que vm cio medo
so princpios antipolticos e levam os homens a uma ao contrria a uma ao
poltica, tambm a solido e a deduo mecnica da lgica ideolgica
representam uma situao anti-social e contm um princpio que pode destruir
toda forma de vicia humana em comum.
(A questo da solido nas sociedades contemporneas discutida, de forma
pertinente, por David Riesman. O autor faz uma anlise dos problemas que defronta o indivduo
em toda parte onde a moderna civilizao industrial e de massas instalou seu ritmo e seus
processos. Riesman - A multid$o solit)ria)
O que as ideologias totalitrias visam no a transformao do mundo
exterior ou a transmutao revolucionria da sociedade, mas a transformao da
prpria natureza humana. Para Arendt, o totalitarismo , no fundo, o mundo
invertido enquanto proclama a destruio de toda ao, enquanto inaugurao.
Monopolizao do poder, isolamento de um indivduo totalmente
abarcado e privado de ao, amnsia, clandestinidade, destruio de toda
faculdade de julgamento, delrio lgico, vontade de transformar a natureza
humana: eis as caractersticas da inverso dos valores efetuadas pelo universo
totalitrio onde tudo possvel e nada verdadeiro.
a partir de um movimento que abafa a ao em sua origem e torna
os homens suprfluos que necessrio repensar o poltico precisamente como
um antdoto a urna dominao que, rompendo as referncias tradicionais
(esquerda-direita, capitalismo-socialismo) impe um novo critrio: a liberdade.
A questo do totalitarismo o pano de fundo do pensamento poltico
de Hannah Arendt. De uma certa maneira, o totalitarismo marca tudo d relevo ao
poltico arendtiano: obturao radical de uma dominao total, ela ope um
esquema normativo sem governantes nem governados onde reconhecido a
cada um o direito de agir, julgar, decidir em comum; ao fluxo totalitrio que
desenraiza e arrasa, ela responde por uma reflexo centrada na estabilidade da
lei que rege o poder, e na autoridade como memria prpria a fixar o poltico na
permanncia de um mundo diferenciado. Quando o totalitarismo se remete a uma
lgica inflexvel, sempre inclinada a resolver os acontecimentos dentro de uma
ordem superior, ela confia no visvel, na opinio e no julgamento que somente
permitem enfrentar o desabamento da tradio.
Segundo Chteletf no amplo quadro de pesquisa sobre o totalitarismo,
Hannah Arendt ultrapassa o espao crtico do liberalismo, do qual ela partilha as
principais perspectivas. sto porque, ao pr o acento nessa "banalidade do mal",
que ameaa o sculo XX, ela opera uma anlise sistemtica da massificao.
Ao dizer que o sdito ideal do reino totalitrio no nem o nazista
convicto nem o comunista convicto, mas sim o homem desolado, esse homem
moderno cuja condio vem sendo preparada desde a Revoluo ndustrial,
Hannah Arendt mostra que, nessa condio de homem de massa, o indivduo
perdeu seu status poltico, foi desindexado da histria real e destitudo como
sujeito poltico. A despolitizao o transformou em tomo annimo entre os
tomos annimos da massa para transform-lo em um "homem qualquer", sem
capacidade poltica, sem conscincia moral, sem vontade, sem julgamento e,
assim, capaz de sofrer e de fazer banalmente o mal.
sobre essa condio do homem de massa, ainda na esteira do
totalitarismo, que Hannah Arendt persiste na sua reflexo sobre o mal totalitrio.
O mal de que ela trata em Eichmann em Jerusalm no tem brilho particular.
Seus praticantes so os pais de famlia que Pguy designava como os
aventureiros do sculo XX. Ora, no se encontra aventura alguma no
funcionamento da maquinaria do terror totalitrio.
, precisamente, a ausncia de tudo que aventureiro, at mesmo da
tentao, o que torna particularmente lgubre esse mundo. Poucos homens foram
responsveis por tantas mortes quanto Adolf Eichmann, mas, pela repetio de
clichs abstratos, de lugares comuns os mais banais, o expert dos transportes do
Terceiro Reich testemunha sobretudo a "assustadora, a indizvel, a impensvel
banalidade do mal". O mal, essa lio que ensina a histria dos terrores nazistas e
stalinistas, no o fruto de uma espontaneidade transbordante ou de uma busca
apaixonada, cheia de rupturas e transbordamentos dramticos, mas aparece,
sobretudo, sob os traos de uma assustadora normalidade.
A verdade desconcertante que no necessria a existncia de uma
maldade particular para que se possa causar um grande mal. Os crimes
totalitrios no foram cometidos pelos perversos, mas pelos indivduos privados
de todo motivo particular e que so, precisamente por essa razo, capazes de um
mal infinito. Nas palavras de Hannah Arendt: 2 8$o estamos a"ui interessados na
maldade% com a "ual a religi$o e a literatura tentaram lidar% mas com o mal+ n$o
com o pecado e com os grandes *il:es% "ue se tornaram her(is na literatura e
normalmente agiram por in*e,a ou ressentimento% mas com este todomundo "ue
n$o per*erso% "ue n$o tem moti*os especiais% e ,ustamente por isso capa! de
um mal in&inito+ ao contr)rio do *il$o% ele ,amais encontra sua mortal meianoite'2
O que Hannah Arendt tenta apontar, no seu relato sobre a banalidade
do mal, que o mal no fruto do exerccio, mas sobretudo do no-exerccio da
liberdade. O mal, numa escala gigantesca poltica e social, tem, mais
freqentemente, sua origem na omisso. nesta concepo arendtiana do mal
que pretendemos apoiar nossa reflexo sobre a banalidade do mal, no prximo
captulo.
Os homens normais no sabem que tudo possvel. David Rousset
A CONTRO$<R!IA
Em carta a Jaspers, em 1951, Hannah Arendt diz: 2Eu n$o sei o "ue
o mal radical% mas sei "ue ele tem a *er com este &enJmeno- a super&luidade dos
homens en"uanto homens'2 Essa declarao nos faz pensar em algumas
questes fundamentais acerca desse assunto: primeiro, que ela no deixou de
pensar sobre o mal radical; em suas concluses, no final de Origens do
Totalitarismo, essa questo no ficou encerrada, mas, ao contrrio, continuou
presente e na pauta de suas preocupaes.
Em segundo lugar, que ela no recusa o conceito kantiano de mal
radical, como pode revelar uma anlise superficial dessa mesma concluso, mas
ainda o toma como ponto de partida para pensar o fenmeno do mal. Ao mesmo
tempo, com essa afirmao feita a Jaspers, a autora nos indica a mudana que
vai se operar em sua concepo de mal radical, prenunciando, mesmo de forma
embrionria, seu conceito de banalidade do mal que apareceu dez anos depois.
A questo esboada por ela, em Origens do Totalitarismo (1951),
retomada em Eichmann em Jerusalm (1963). Em1961, Hannah Arendt vai a
Jerusalm a fim de assistir ao processo Eichmann como correspondente do jornal
New Yorker. Retomados no livro Eichmann em Jerusalm, seus artigos vo
desencadear uma tempestade polmica que contribuir para a celebridade da
autora, mas no para a compreenso de seu pensamento.
Acusada de *isar em tum5as ainda frescas = *or ter *osto em
causa a atitude dos consel,os 3udeus face ao na4ismo = ela sus*eita de
cum*licidade destes com o carrasco' ao *intar o retrato de um Eic,mann em
nada sdico' somente caracteri4ado *or uma terrificante 1su*erficialidade1-
Por isso' .anna, Arendt foi *osta no inde) *or 0rande *arte da comunidade
3udaica (ue (uis /er nela uma encarnao contem*or>nea do 1:dio de ser
3udeu1' teori4ado *or essin0-
Antes mesmo de abordar os temas essenciais do livro Eichmann em
Jerusalm, necessrio evidenciar a controvrsia que ele suscitou,
principalmente entre alguns setores da comunidade judaica. Essa controvrsia
significativa para a discusso que aqui faremos, na medida em que revela a
extenso das questes morais levantadas por Hannah Arendt no livro.
Essa discusso durou aproximadamente trs anos, desde sua
publicao e continua episodicamente at hoje, enquanto que o livro, at 1982,
nos E.E.U.U., j se encontrava na vigsima edio. Quase todos os livros que
tratam do holocausto, desde 1963, referem-se explcita ou implicitamente a essa
controvrsia e s violentas paixes que ela suscitou. Por que as mesmas pessoas
que receberam to bem Origens do Totalitarismo foram to refratrias em relao
a Eichmann em Jerusalm? O que suscita tantas reaes? E qual o seu
significado?
A anlise dessas questes nos possibilita a compreenso da mudana
decisiva que se opera, durante esse perodo, no conceito arendtiano de mal e a
radicalidade de suas implicaes tericas e polticas. Por outro lado, essa
polmica oculta a forma com que Eichmann em Jerusalm estabelece conexes
com Origens do Totalitarismo, extraindo da a lio sobre o crime funcional e os
"massacres administrativos".
Hannah Arendt se encontrava empenhada, de um lado, no problema
dos vestgios do totalitarismo e, de outro, na sua pesquisa histrica que culminou
com as "consideraes morais" que inspiraram A Vida do Esprito. Um dos pontos
de partida de sua reflexo, que se estendeu por 30 anos, a partir de 1945, foi a
constatao da facilidade com que um povo, na sua grande maioria, cedeu ao
apelo do carrasco.
Em entrevista televisada concedida a Thilo Koch, Hannah Arendt
comenta que a controvrsia suscitada por seu livro, infelizmente, gira, em grande
parte, em torno de fatos e no de teses e opinies; fatos que, segundo ela, foram
disfarados em teorias a fim de lhes tirar seu carter de fatos.
Para ela' *odemos esca*ar a essa realidade fatual de muitas
maneiras diferentes8 se3a ne0ando9a' se3a de maneira reati/a' ao fa4er
confiss?es de cul*a5ilidade *at2ticas (ue no le/am a nada e onde tudo (ue
2 es*ec7fico 2 destru7do@ *ode9se esca*ar' i0ualmente' in/ocando uma
res*onsa5ilidade coleti/a do *o/o alemo' ou' ainda' afirmando (ue o (ue
se *assou em Ausc,Ait4 no foi a*enas a conse(BCncia do :dio imemorial
aos 3udeus' o maior *o0rom de todos os tem*os-
Os fatos, para ela, por mais horrveis que sejam, devem ser
preservados no s para garantirmos sua memria, mas tambm para que
possamos julg-los. O preservar e o julgar no justificam o passado, mas revelam
sua significao. Hannah Arendt se persuadiu de que sua cura posteriori
(expresso usada por ela para se referir ao efeito que lhe trouxe a experincia de
ter escrito Eichmann em Jerusalm) lhe havia ensinado o valor do julgamento e a
reconciliao que o ato de julgar opera.
Mas qual foi o ponto nevrlgico, tocado por Hannah Arendt que
deflagrou essa controvrsia? Quais foram os fatos relatados que tiveram o poder
de mobilizar tamanha crtica? E quais os principais argumentos para as
acusaes feitas ao livro e, at mesmo, para as acusaes de cunho pessoal?
Quais setores da comunidade judaica se sentiram agredidos pelo livro? Essas so
algumas questes colocadas para tentarmos a compreenso dessa controvrsia.
As pginas incriminadas tratam da estranha docilidade com a qual os
conselhos judaicos (Judenrte) cooperaram com as autoridades nazistas,
participando indiretamente do extermnio de seu prprio povo.
Hannah Arendt resume suas prprias concluses em algumas linhas:
2Onde "uer "ue *i*essem ,udeus% ha*ia lderes ,udaicos reconhecidos% e essa
lideran#a% "uase sem e>ce#$o% coopera*a de uma maneira ou outra% por uma
ra!$o ou outra% com os na!istas' Be &ato% a *erdade "ue se o po*o ,udeu ti*esse
estado realmente desorgani!ado e sem lder% teria ha*ido o caos e muita misria%
porm o n<mero total de *timas mal teria chegado de "uatro e meio a seis
milh:es de pessoas'2
Durante o interro0at:rio de Eic,mann ficou claro (ue os na4istas
encara/am essa coo*erao como a *edra an0ular da sua *ol7tica 3udaica' o
(ue e/idencia a afirmao de .anna, Arendt e de outros ,istoriadores nos
(uais ela se a*:ia- O sucesso da *ol7tica na4ista no teria sido *oss7/el sem
a ascenso de um sistema totalitrio e a con3uno da *assi/idade e da
cola5orao das /7timas-
necessrio acrescentar, tambm que, de um ponto a outro da
Europa, a atitude das pessoas no foi idntica. Esta questo da colaborao (que
Primo Levi chama de "zona cinzenta"), qualquer que seja ela, entre as vtimas, os
prisioneiros e os prprios conselhos judeus, constitui um fenmeno de importncia
fundamental para os historiadores, psiclogos e socilogos.
A cr7tica (ue .anna, Arendt fa4 aos consel,os 3udeus trata do
seu com*ortamento antes da *rimeira eta*a' ou se3a' antes (ue o re0ime
na4ista do terror se tornasse total' (uando' em al0uns casos *elo menos'
uma recusa de coo*erao *oderia ter li/rado al0umas *essoas da
,ecatom5e- Ela no co5rou uma resistCncia ou uma recusa 6 coo*erao
(uando isto era im*oss7/el' *ois sa5ia muito 5em o (ue era *oss7/el e o (ue
no era' em cada eta*a-
Esses fatos, portanto, no trazem nada de novo, mas foi, sem dvida,
a apreciao que ela fez dos mesmos que provocou o escndalo. No que ela
tenha sido categrica ao afirmar sobre os resultados de uma possvel no-
cooperao, ou de uma desorganizao, mas isso uma questo que "(...)
merece ser retomada, embora no se possa decidir sobre ela desde que esteja
situado no terreno do que os anglo-saxos chamam a "histor= i& ", indefinidamente
aberta argumentao".'
O ponto mais nevrlgico do livro, que desencadeou mais reaes foi,
sem dvida, a crtica a Leo Baeck, o grande rabino de Berlim, em 1932, e sua
postura. Segundo Margareth Young-Bruehl, aqui Hannah Arendt mistura o melhor
e o pior do seu livro. A crtica a Leo Baeck condensa os aspectos mais speros da
polmica.
O 0rande ra5ino eo DaecE tin,a sido o c,efe dos 3udeus
5erlinenses' *residia o Reic,s/ereini0un0' controlado *elos na4istas'
inst>ncia (ue tin,a sucedido ao Reic,s/ertretun0 so5 controle
e)clusi/amente 3udeu' dissol/ido em FGHG-
Os liberais admiravam-no sem reservas, e Hannah Arendt admirava-o
dentro de uma certa medida. Apoiando-se nas testemunhas do processo e no livro
de Raul Hilberg, ela critica as tomadas de posio de Leo Baeck, quando
silenciou informaes a respeito de Auschwitz ao se recusar a fugir, tendo
ocasies para isso, alegando no poder abandonar seu povo.
Ela critica tam52m a conduta de DaecE durante seus Iltimos
meses em Derlim' (uando ne0ociou com a ;esta*o constituindo ele mesmo
uma *ol7cia 3udia' encarre0ada de a3udar na de*ortao de 3udeus- Isso fica
claro ao afirmar8 1eo DaecE' erudito' de 5oas maneiras' muito educado' o
(ual acredita/a (ue os *oliciais 3udeus seriam Jmais 0entis e *restati/osJ e
tornariam Jessa *ro/a to *enosa' mais fcilJ Ken(uanto na realidade eles
foram os mais 5rutaisL-1
Ela acusa um homem que foi, muitas vezes, qualificado de "santo", de
ser o "Fhrer judeu" (expresso usada por Dieter Wisliceny, o assessor de
Eichmann). Young Bruehl fala que, nesse caso, a forma de ironia usada por
Hannah Arendt no ajudou a esclarecer a denncia e, alm disso, apesar de ela
ter exposto um verdadeiro problema moral desencorajava a argumentao.
Outro ponto crucial da controvrsia foi a imagem que Hannah Arendt
traa de Eichmann, desfazendo uma imagem bem estabelecida. Ela jamais
recorreu ao recurso das categorias confortveis de monstro e de mrtir, como
tambm no pactuou com as teorias da culpabilidade ou da inocncia coletivas.
procura de seu prprio julgamento, ela no evitou os julgamentos
difceis e foi o que ela fez, desde o instante em que viu Eichmann "em carne e
osso", no tribunal de Jerusalm. Acreditava que esse julgamento era bem
verificvel e que ela tinha a responsabilidade de dizer aquilo que no havia sido
dito: seu tom revelava sua prpria clera diante do que lhe parecia ser uma
dissimulao.
De sada duas teses gmeas, mas contrrias, so rejeitadas por
Hannah Arendt, em relao ao processo: uma oficial (Adenauer), de uma
cumplicidade limitada a raros responsveis, e outra, amplamente divulgada, da
culpabilidade coletiva.'' Se essa ltima tese admitida a que culpa um povo em
bloco ningum se sente realmente culpado.
Porque, diludos nas entidades coletivas, os crimes reais tornam-se
descaracterizados enquanto, de fato, um abismo separa os atos reais dos crimes
potenciais que todos poderiam ter cometido. Recusando minimizar a
responsabilidade alem, Hannah Arendt se prende "mentira", denegao que
a Alemanha ps-totalitria oferece do espetculo, a que ela atribui "urna recusa
semi-consciente ou uma autntica incapacidade de nada ressentir", trao deixado
pela mentalidade totalitria que pulveriza a realidade e engendra o cinismo e a
incredulidade.
Num artigo intitulado "A Responsabilidade Coletiva", ela estabelece a
distino bem ntida entre culpabilidade e responsabilidade. Essa discusso vai
desaguar na questo mais ampla sobre tica, moral e direito, levando-a a concluir
que a nica atividade que parece corresponder s proposies morais seculares e
valid-las o pensamento, que pode ser definido, segundo Plato, no sentido
mais geral e menos especializado do termo, como um dilogo silencioso de mim
comigo mesmo. Em que medida essa faculdade de pensar, que se exerce na
solido, se estende esfera puramente poltica, na qual eu estou sempre com o
outro? Essa outra questo.
Vrias instituies judaicas, como o Conselho dos Judeus da
Alemanha, a Liga Anti-difamao da B'nai B'rith, e vrios representantes da
imprensa judia americana, como J. Robinson, para citar os mais importantes,
decretaram verdadeira guerra a Hannah Arendt e acusaram-na de lanar idias
difamatrias sobre o povo judeu.
A Liga Anti-difamao da B'nai B'rith se ps em guarda contra a idia,
de Hannah Arendt, considerada difamatria, de uma "participao judia no
holocausto nazista", ressaltando que "no h nenhuma dvida de que os anti-
semitas utilizaram o texto de Arendt como prova de que os judeus no so menos
culpados que os outros quanto ao que aconteceu com seis milhes deles".'"
No livro The 6roo/ed shall be Made 1traigh, (citando a bigrafa
Young-Bruehl), J. Robinson fornece os argumentos mais freqentemente
utilizados pela crtica ao trabalho de Hannah Arendt. Segundo ela, "este foi o front
mais duradouro e o mais complexo de todos desta guerra".
Depois de se estender por toda Nova York, das reunies pblicas s
discusses privadas, essa controvrsia culmina com o acontecimento mais
espetacular: o procurador israelense do processo Eichmann, Gideon Hausner, em
sua estada em Nova York para um encontro dos sobreviventes de Bergen Belsen,
declara sua inteno de "responder bizarra defesa de Eichmann que Arendt
havia feito".
Diante de uma assistncia de quase mil pessoas, ao lado de Nahum
Goldmann, presidente do Congresso Judeu Mundial, Gideon declara que Hannah
Arendt havia acusado os judeus europeus de terem se deixado massacrar pelos
nazistas e de terem dado prova de "covardia e ausncia de vontade de
resistncia".
Hannah Arendt recusa-se a engajar na controvrsia pblica e no
responde aos seus detratores, limitando-se apenas a responder s crticas de
amigos e antigos colaboradores e companheiros. Ao ser aconselhada por um
amigo" (que veio diretamente de srael para isso) a interromper a publicao de
seu livro, ela se recusa, mostrando que as crticas dos judeus podiam fazer de
seu livro uma cause clebre, provocando assim mais erradamente a comunidade
judia do que tudo o que ela poderia dizer por si mesma.
Para ela, ficou claro que esse livro, mesmo antes de sua publicao,
se tornou tanto o centro de uma controvrsia quanto o objeto de uma campanha
organizada. Mas tal campanha, levada a efeito com todos os aperfeioados meios
criadores-de-imagens e manipuladores-de-opinio, chamou muito mais a ateno
do que a controvrsia, de maneira que esta ltima foi engolida e suplantada pelo
rudo artificial da primeira.
No meio de tantas crticas inconsistentes, poucas de um nvel altura
da dignidade do assunto suscitaram a necessidade de uma resposta pblica,
como foi o caso da crtica de Gershom Scholem. Depois de tanto elogiar Origens
do Totalitarismo, ele se chocou, mais do que com o contedo, com o tom de
Hannah Arendt, conforme se v nas seguintes palavras: "O que eu reprovo em
seu livro sua insensibilidade e sua falta de herzentakt (tato de corao)."
Ele acusa "'armai] Arendt de no ter Ahahat srael, amor ao povo
judeu. Ao que ela responde, em carta, afirmando que "o mal feito pelo meu prprio
povo me afeta evidentemente mais que o mal feito por outros povos",
denunciando a campanha de calnias lanada pelo "establishment judeu de
srael e da Amrica".
Eichmann em Jerusalm parece ter revelado tambm um conflito de
gerao no seio da comunidade judaica. Este conflito se manifesta publicamente
quando Norman Fruchter divulga "O Eichmann de Arendt e a dentidade Judaica"
em Studies on the Left. Fruchter o porta-voz dos jovens judeus radicais que
compartilham do pensamento de Hannah Arendt e encontram, em seu livro, ao
mesmo tempo, uma revolta "contra o mito da vtima", o qual os judeus tendiam a
substituir por sua prpria histria e uma anlise da "responsabilidade de cidado
necessria dentro de todo o Estado moderno para prevenir a reapario de um
movimento totalitrio anlogo quele que assolou a Alemanha". No momento em
que se escreveram essas linhas, as comparaes entre a Alemanha dos anos 30
e os E.E.U.U. dos anos 60 se tornaram correntes nas anlises da New Left.
Outros intelectuais fi4eram este mesmo *aralelo@ nesse conte)to'
Eic,mann se tornou um s7m5olo- Como tantos militares 5urocratas
americanos' ele a*arece como um ,omem cu3o en0a3amento ideol:0ico era
muito limitado- No momento em (ue os Estados Unidos esta/am em 0uerra
com o $ietn' este s7m5olo re*resenta/a todos os ,omens (ue or0ani4a/am
a(uela 0uerra@ a(ueles (ue estuda/am os ma*as' a(ueles (ue da/am as
ordens' a(ueles (ue a*erta/am os 5ot?es e a(ueles (ue conta/am os
mortos' como MacNamara' RusE' ;old5er0 e o Presidente Jon,son- Eles
no eram moralmente monstruosos' eram todos *essoas ,onradas- Eles
eram todos 1li5erais1-
Havia um fosso profundo que separava os jovens judeus radicais e a
gerao daqueles que haviam sido marxistas nos anos 30 e depois anti-marxistas
nos anos 50. Esses jovens estavam em desacordo, tanto com a poltica seguida
pelo Estado de srael e a sustentao que lhes dava a comunidade judaica
americana quanto com a evoluo da sociedade americana e seu estado atual.
Por outro lado, os sionistas acusavam Hannah Arendt de anti-sionista
e esta ltima faco procurava alici-la. Na verdade, ela no compartilhava as
posies de nenhuma dessas faces, pois, por princpio, ela no era hostil ao
Estado de srael, mas se colocava contra certos aspectos importantes da poltica
desse Estado. Ela fazia uma crtica ao sionismo, prpria de quem tem "um ideal
internacional mais amplo".
A despeito das acusaes injustas e, muitas vezes, ofensivas, essa
controvrsia, alm de sua importncia como debate poltico, trouxe a Hannah
Arendt uma grande contribuio. Na intimidade, ela admitiu, francamente, que seu
livro tinha implicaes morais que ela no tinha imaginado. "Foi de uma certa
maneira para mim uma cura posteriori escrever (esse livro); mas o fazendo, eu
efetivamente 'lancei as bases de uma nova moral poltica'. Embora isso seja
inteiramente exato, no me jamais permitido diz-lo, por modstia."
No esforo de responder a seus detratores, ela despertou, de fato,
para a importncia das implicaes que suas questes haviam levantado. A partir
de ento, essas questes passam a sustentar toda a sua reflexo sobre a "moral
poltica", servindo-lhe de fio condutor.
O CA!O EIC.MANN
Hannah Arendt diz que o livro sobre Eichmann no contm nenhuma
tese, mas "(...) um comentrio de um processo e no a exposio desta histria"
e "(...) um comentrio que se limita a expor todos os fatos que estavam em
questo na corte do processo em Jerusalm".
E ainda sobre a controvrsia suscitada por esse livro, ela diz que "(...)
gira em grande parte em torno de fatos e no em torno de teses e opinies em
torno de fatos que foram transformados em teoria a fim de lhes tirar o seu carter
de fatos." Esse livro no um ensaio nem tem uma motivao terica primordial;
trata-se, em princpio, de um relato sobre um julgamento.
Em Eichmann em Jerusalm os debates se polarizam em torno de trs
questes principais: o retrato que Hannah Arendt fez de Eichmann, como um
indivduo banal; as notas dela sobre os conselhos judeus europeus e o papel
desses conselhos na soluo final nazista; e as discusses, sobretudo no primeiro
e no ltimo captulos, sobre a conduo do processo, as questes.
Jurdicas que esse levantou e os interesses polticos que foram postos
em jogo.
O livro trata, inicialmente, da descrio do tribunal, do acusado, de seu
cargo e atribuies; a seguir faz urna descrio do contexto histrico e poltico
onde se passaram os acontecimentos dos quais fizeram parte os atos do
acusado. Nessa descrio, Hannah Arendt se apia no esquema seguido pelo
historiador Raul Hilberg sua principal fonte de referncias. No eplogo e no ps-
escrito, ela discute criticamente as principais questes jurdicas levantadas por
esse julgamento.
Hannah Arendt comea sua reportagem pela descrio da corte do
tribunal de Jerusalm onde Eichrnann foi julgado e ope aqueles que serviam a
justia queles que serviam a Ben Gurion e ao Estado de srael. Os primeiros
eram os juzes, os segundos, o procurador Hausner e sua equipe. Ela procura
mostrar como Ben Gurion e o Estado de srael tentam usar o processo como uma
arma de propaganda, transformandoo em espetculo. Por muito tempo, ela
tinha criticado os esforos dispensados tanto pelos judeus quanto pelos no-
judeus de substituir a psicologia pela poltica e sublinha os perigos dessa atitude.
Ela se mostra menos crtica do que poderia ter sido em relao s circunstncias
exteriores que envolveram o processo e no esclarece que a retrica efetiva
mascara um outro motivo israelense, no-pblico! Os leitores judeus ficaram
particularmente chocados com o incio do livro, que foi uma carga bastante crtica
contra um dos dirigentes de srael, dos mais considerados.
Hannah Arendt, ao contrrio da posio oficial do Estado de srael, v
no processo Eichmann um procedimento que ocorre no interesse da justia e do
direito, uma questo jurdica na sua simplicidade e profundeza. sso que lhe
permite, de um lado, evitar o engano de julgar Eichrnann uma vtima, bode
expiatrio de um regime; e de outro, enfrentar as questes jurdicas do genocdio,
da soberania estatal, da responsabilidade funcional, diante dos atos concretos de
um homem. Nas prprias palavras de Hannah Arendt:
26omparado com esses debates "ue tanto se estenderam% o li*ro em
si relacionase com um assunto penosamente limitado' O relat(rio de um
,ulgamento s( pode discutir a matria "ue &oi tratada no interesse da ,usti#a' Este
li*ro ent$o n$o se relaciona com a hist(ria do maior in&ort<nio "ue ,amais caiu
sobre o po*o ,udeu% nem tampouco a narrati*a do totalitarismo ou a hist(ria do
po*o alem$o% na poca do Terceiro Reich' 5inali!ando% n$o % tambm% um
tratado sobre a nature!a do mal'2
Tambm sua postura difere da oficial. Numa forma lmpida e isenta, ela
parece refrear sua prpria passionalidade ao relatar, com firmeza e profundidade,
como se portaram os lderes judeus e o acusado Adolf Eichmann, nas tentativas
de administrar "bem as deportaes e os massacres. Alis, esta sua postura
diante do tema, sua compreenso do julga mento como o juzo sobre o
comportamento de um ser humano, o que nos permite entender o subttulo do
livro: sobre a banalidade do mal.
O tema nuclear do livro o julgamento. O processo Eichmann
ressaltou a questo do julgamento, ao mesmo tempo na sua relao com o
domnio pblico da ao com o pensamento propriamente dito. Este segundo
aspecto o que veremos especificamente no Captulo V. "No ponto central desta
obra est um processo judicial, e nele, um ser de carne e osso, uma pessoa corno
outra qualquer, ela e sua circunstncia, como diria Ortega y Gasset.
E claro que, por conta desta' circunstncia, todo o contexto se torna
relevante: o aparelho de dominao burocrtica, a ideologia anti-semita, a guerra,
a responsabilidade dos estados e dos povos. Mas tudo isto , para Hannah
Arendt. analisado como circunstncia. Ela recusa a assumir a postura do prprio
Estado dc srael que, de certo modo, quis fazer de Eichmann um acusado-smbolo
e, do seu processo, o cenrio de um espetculo por onde desfilariam, de uma s
vez, os piores e os mais representativos espcimes do totalitarismo nazista.
Para ela: 21e o ru &or tomado como um smbolo e o ,ulgamento como
um prete>to para tra!er @ tona assuntos "ue s$o% aparentemente% mais
interessantes do "ue a culpa ou inoc;ncia de uma pessoa% ent$o a consist;ncia
e>ige "ue nos inclinemos diante da a&irmati*a &eita por Eichmann e seu ad*ogado-
"ue ele &oi tra!ido @ cena por"ue era necess)ria uma *)l*ula de escape% n$o s(
para a Rep<blica 5ederal Alem$% como tambm para os acontecimentos como um
todo e% para a"uilo "ue os tornou poss*el H isso % para o antisemitismo e o
go*erno totalit)rio% como para a ra#a humana e o pecado original'2
Para Hannah Arendt, no h dvida de que o ru e a natureza de seus
atos, assim como o prprio julgamento, despertam problemas de natureza geral,
que vo muito alm dos assuntos considerados em Jerusalm. Mas nos
processos de julgamento e, conseqentemente, no seu relatrio, tudo aquilo com
o qual o ru no entrou em contato ou que no o influenciou, habitualmente, deve
ser omitido; por isso ela mantm a posio de que este julgamento deveria se
realizar nos interesses da justia e nada mais.
Sob o aspecto jurdico, o julgamento levantou questes importantes a
serem discutidas, as quais o processo deixou sem resposta plena, questes que
ficaram sombra, como, por exemplo: qual a responsabilidade do cidado por
atos cometidos nos quadros da licitude de um Estado soberano e reconhecido
pelos demais? Julgar, condenar, absolver a algum, em nome de que
parmetros?
Segundo Errera," trata-se de um processo inacabado, exatamente
porque o julgamento, apesar das inumerveis sesses, no respondeu s
questes fundamentais e nem mesmo as patenteou; por isso, o processo deixa
um sentimento de incompletude e de profunda insatisfao.
O autor discute as questes fundamentais sobre os aspectos jurdicos,
histricos e polticos levantados pelo processo e conclui que nem a acusao,
nem os juzes foram alm da acusao do homem Eichmann acusado de um
crime determinado e este homem era importante na medida em que ele
remontava ao sistema totalitrio, sendo dele um mediador indispensvel. No se
esclareceu como funcionava tal sistema; se, por exemplo, as ordens recebidas
pelos executantes eram bastante precisas quanto ao que tinham de fazer. Desde
que o processo tinha um fim pedaggico, este no foi atingido.
Para Hannah Arendt esse processo foi marcado pela omisso, porque
deixou sem esclarecimentos questes sobre a passividade, a ausncia de
resistncia e a dolorosa passagem da "colaborao" dos conselheiros judeus. O
processo calou-se particularmente no ponto da colaborao judaica, e somente
Hannah Arendt revela essa omisso voluntria, criticando-a. Para ela, a reao de
horror no suficiente, e o silncio desonra.
Por isso deve-se perguntar: no possvel se compreender agora o
que passou, notadamente luz da histria? Ao praticarem a fuga no silncio, os
juzes de Jerusalm perderam a ocasio nica, seno a ltima, ao menos a mais
importante, de esclarecer a significao dos fatos, at ento conhecidos s por
uma minoria. Os juzes se recusaram a se tornar historiadores, quando omitiram
questes sobre a colaborao das vtimas e sobre a resistncia.
Conforme Errera, deve-se perguntar se um tribunal internacional no
estaria mais bem equipado para dar uma plena significao a esse
acontecimento. Pois se legitimo, em teoria, preferir a universalidade
particularidade, lastima-se que a evoluo do direito internacional no seja feita
ao ritmo da histria contempornea e que um fenmeno, radicalmente novo, tal
qual o genocdio, no tenha suscitado, at hoje, a apario de conceitos e de
instituies jurdicas que o fazem objeto de um consenso.
Para o autor, parece adequada a explicao segundo a qual os limites
polticos e jurdicos, atribudos s instituies judicirias nos regimes liberais,
tornam muito difcil o xito total dos processos polticos, na medida em que se
atribui a esses, como fim, alm da condenao ou eliminao dos acusados, um
contedo pedaggico determinado. Os juzes dos Estados liberais tendem a
jamais satisfazer plenamente aqueles que acreditam que a justia possui fins
didticos, isto , polticos, ao julgar os processos prprios dos regimes totalitrios.
Neste sentido, o fracasso do processo de Jerusalm j est inscrito nos seus
princpios.
Na viso de Bruno Bettelheim, a obra Eichmann em Jerusalm trata da
incongruncia, porque h uma impossibilidade de se julgar o totalitarismo atravs
de nosso sistema de pensamento, incluindo o sistema legal: primeiramente, por
ser Eichmann um homem "normal". Foi o que seis psiquiatras atestaram sobre
ele. Um deles espantou-se como seu comportamento com a famlia, amigos,
irmos era no somente "normal" mas tambm "desejvel". E o pastor que o
visitava na priso relatava que ele era "um homem com muitas idias positivas".
Obviamente, nossos padres de normalidade no se aplicam a
sociedades totalitrias. uma incongruncia, tambm, o assassinato de milhes,
e um s homem ser acusado disso tudo. bvio que nenhum homem pode
exterminar milhes de outras pessoas. A incongruncia est entre os horrores
relatados e esse homem no banco dos rus, pois o que ele fez, essencialmente,
foi escrever memorandos, dar ordens e permanecer por trs de uma mesa. esta
a incongruncia entre nossa concepo de vida e a burocracia do Estado
totalitrio.
Em segundo lugar, uma incongruncia entre a imagem de homem
que ns temos, originada do pensamento renascentista e das doutrinas liberais do
sculo XV e as realidades da existncia humana no meio de nossa atual
revoluo tecnolgica. Neste contexto, Eichmann no pode ser considerado um
homem em sua maldade, mas um instrumento de destruio de milhes. Tudo o
que ele e outros fizeram pareceu-lhes perfeitamente legal; tudo estava de acordo
com o quadro de referncia do Estado totalitrio. O termo "assassino" no serve
para eles, porque diz respeito orientao humana.
Bettelheim, assim como Hannah Arendt, no se satisfaz em ver a
personalidade de Eichmann como um fenmeno nico, mas devota ateno igual
ao sistema, pois para ambos muitas das caractersticas do Reich so inerentes
ao totalitarismo moderno. Bettelheim finaliza afirmando que a incongruncia desse
julgamento consiste no fato de nossas leis existentes serem incongruentes para
lidar com o totalitarismo, e como ns tambm somos despreparados, como
indivduos, para enfrentarmos este desafio.
A dificuldade que a maioria das pessoas vivencia em pensar sobre o
processo Eichmann diz respeito a "fazer a punio adaptar ao crime", pois no h
pena compatvel com o crime de Eichmann. A desproporo existente entre o
autor do crime e a ao um fato inquietante da histria contempornea um
efeito da tecnologia avanada, como a automao.
Fica evidente, ento, que Hannah Arendt se recusa a ocupar um lugar
comum, tanto na sua viso do que possa ser um julgamento quanto na postura e
anlise desse julgamento a que estamos nos referindo. Para ela, a corte vacilou
entre julgar um homem e julgar a histria. O que estava em julgamento
ultrapassava a responsabilidade individual. Eles julgaram Eichmann como um
destruidor especial; um monstro, um anti-semita especial, e no o sistema nazista.
Nenhuma corte do mundo pode julgar uma idia (anti-semitismo) nem a histria
do anti-semitismo.
Para Bettelheim, assim como para Hannah Arendt, este no foi o
ltimo captulo do anti-semitismo, mas, principalmente, o primeiro captulo do
totalitarismo moderno, e por isso seria necessrio que Eichmann fosse julgado em
um tribunal internacional. Pode-se pensar, pois, que a real monstruosidade dos
acontecimentos fica "atenuada" diante de um tribunal que representa apenas uma
nao.
Jean-Claude Eslin comenta a respeito do mtodo de Hannah Arendt
nesse julgamento: 2O car)ter &ora do comum% perigoso% do seu mtodo brilha
"uando ela trata do caso Eichmann% em "ue ela n$o &oi compreendida' Eis uma
,udia "ue comenta o processo Eichmann como se comentasse "ual"uer outro
processo% e o trata como um caso de crime contra a humanidade% sem pathos%
sem indulg;ncia% como pareceu aos ,udeus C'''D'2
O autor nos convida a compreender e admirar o rigor que ela usa para
distinguir os conceitos, mostrando como esse rigor , para ela, um ato de f. luz
da razo no se consegue analisar os crimes humanos mais incompreensveis.
Uma tal preciso jurdica vale mais que o pathos, a piedade e, sobretudo, a
impreciso perigosa, pois "aquilo que sem precedente, uma vez surgido, pode
se tornar um precedente para o futuro".;` Ela explica que o povo judeu no pode
crer em si mesmo; ou bem cr em Deus, se isto possvel, ou bem cr em uma
lei, mas uma lei que valha para todos. Uma lei que valha para a humanidade.
Para Eslin, a concluso do livro Eichmann em Jerusalm ressalta a
recusa da confuso entre afetividade e razo. Por outro lado, para Hannah
Arendt, a afetividade deve ser usada na relao com as pessoas; e o rigor
jurdico, na discriminao dos conceitos. Esta confuso de domnios obscurece o
sentido da responsabilidade individual. A glria de Deus e o amor ao povo mais
do que a mstica ou o fervor se atestam, nestes tempos, pela preciso
conceituai e pela vontade de uma linguagem clara.
Segundo Enegrn, Hannah Arendt, a despeito de sua preocupao
tica, uma autora que recusou toda "poltica do corao", pois para ela "a
bondade absoluta apenas menos perigosa que o mal absoluto". Ela denuncia a
virtude que, estimulada por um amor paranico pela humanidade, cede "furiosa
tentao de ser bom". Criticando a compaixo, ela v nessa paixo uma
insistncia na desigualdade, sugerindo que cada um , ou deveria ser, mais do
que conseguiu fazer ou realizar; enquanto a justia exige a igualdade de todos. A
compaixo a face pblica de um humanitarismo que, voltado para o interior, se
torna um sentimentalismo. Por este gnero de introverso, Hannah Arendt no
tinha simpatia alguma; ela admirava, tanto quanto outra virtude, a que consiste em
no se apiedar de si mesmo.
Hannah Arendt representou uma crtica dura aos escritores que falam
de "deformao psicolgica, de tortura social, de frustrao pessoal e de
desiluso generalizada", os quais no eram mesmo nem dignos do ttulo de
niilistas. Estes escritores "no foram muito longe por estarem muito
preocupados com eles mesmos para verem as verdadeiras questes; eles se
lembraram de tudo e esqueceram o essencial"?
Para Hannah Arendt esse julgamento escapou realidade de vrias
maneiras, assumindo como argumentos as seguintes teses a respeito do caso
Eichmann: primeiramente vendo-o como um episdio do antigo anti-semitismo, do
imemorial dio ao judeus, o maior pogrom de todos os tempos, argumento este
que j discutimos no Captulo . Em segundo lugar, com a tese de que se trata de
uma reflexo universal sobre o homem, um modelo shakespeareano da maldade
na sua grandiosidade mesquinha. Ela nos leva a reconhecer no acusado um
homem banal, sem grandes motivaes ideolgicas nem engajamento poltico,
apenas um homem comum.
Mas, como isso pode ser possvel? Como pode um homem comum ser
responsvel pelo massacre de milhes de pessoas? esse espanto que nos pe
a pensar diante do ineditismo da novidade totalitria. No julgamento de Eichmann
ela nos prope a pensar os fatos como se estivssemos frente a uma novidade: o
que aconteceu ao povo judeu no foi um momento de um processo que comeou
em 1939, mas o primeiro captulo do totalitarismo moderno; diferentemente de
Scholem e de todos os que protestaram contra essa tese da novidade. A
propsito, bom lembrar, mais uma vez, o que citamos anteriormente: "(...) aquilo
que sem precedente, uma vez surgido, pode-se tornar um precedente para o
futuro".
O .OMEM EIC.MANN
nteressa-nos agora tratar, sobretudo, das teses que Hannah Arendt
rejeitou a respeito do homem Eichmann, que possibilitaram a construo da idia
de uma banalidade do mal.
Para ela, intolervel tanto a tese de Eichmann como pea da
engrenagem, quanto a da culpa coletiva," esta ltima servindo para encobrir os
verdadeiros culpados como tambm a idia de um "Eichmann no fundo de ns".
como se cada um, pelo simples fato de ser homem, encobrisse inelutavelmente
um "Eichmann" em si.
Em sua volta Alemanha aps a guerra, Hannah Arendt espantou-se
com a assustadora indiferena das pessoas, como se nada ou quase nada tivesse
se passado. Para ela, a aceitao destas teses exime o povo alemo da
responsabilidade poltica. E, por outro lado, a tese oposta, "ns somos todos
culpados", serve, de muitas formas, para encobrir os verdadeiros culpados; com
estas posies no se pode efetivamente descobrir o crime perpetrado.
intolervel, para ela, encontrar os bodes expiatrios cujo preo eximiria o povo
alemo da culpa. Este povo deve assumir, de uma vez, de maneira poltica, a
responsabilidade dos crimes perpetrados em seu nome e pelos membros de sua
nao. At hoje, somente uma pequena minoria foi capaz de faz-lo.
Essas teses oscilam entre a acusao total e o inocenta-mento total;
de qualquer forma indicam uma dificuldade em se exercer o julgamento do caso
Eichmann. Na verdade, essas trs teses esto profundamente entrelaadas e, a
nosso ver, fundamentadas em uma outra que a do "homem demonaco".
Hannah Arendt incisiva ao tirar de Eichmann seu carter demonaco.
Para ela " justamente este carter, por assim dizer, demonaco do Mal, do qual
pode ainda por tal razo lembrar a lenda de Lcifer, o anjo decado, que exerce
uma fora de atrao to extraordinria sobre os homens". Ela relembra aqui os
versos de Stefan George no poema "O Culpado": "Aquele que jamais considerou
no seu irmo o lugar do golpe de punhal/ Quo pobre sua vida e fraco o seu
pensamento."
Hannah Arendt nega a malignidade, quando ela, admite que
precisamente porque os criminosos no so movidos por mveis maus e
assassinos eles mataram no por matar, mas porque isto fazia parte do mtier
e que isto no fcil de compreender. Pelo desconforto em confrontar-se com
o absurdo, mais fcil invocar os demnios (a propsito desta infelicidade), ou
descobrir uma significao histrica sobre ela.
Nas suas prprias palavras:
2Eu con&esso "ue mais &)cil ser *tima de um diabo com &orma
humana ou% no sentido do procurador da corte do processo Eichmann% de uma lei
"ue e>iste historicamente desde Pharaon e Aaarmann% "ue ser a *tima de um
princpio meta&sico% e mesmo de um palha#o "ual"uer "ue n$o nem um louco
nem um homem particularmente mau' O "ue nenhum de n(s chega a superar no
passado n$o tanto o n<mero de *timas% mas% sobretudo% a mes"uinharia desse
assassinato coleti*o sem consci;ncia da culpabilidade e da mediocridade
despro*ida de pensamento de seu pretendido ideal'2
Hannah Arendt no foi quem tirou o carter demonaco de Eichmann,
mas ele prprio, e com tal obstinao, que a situao chegou ao limite da mais
pura comicidade. Ela leu o interrogatrio de polcia de 3.600 pginas e diz que, de
sua parte, ficou efetivamente convencida de que ele era um palhao, e mais, que
no saberia dizer quantas vezes ela riu, riu s gargalhadas. No havia nele
nenhuma grandeza satnica, mas simplesmente uma horrorosa e burguesa
banalidade. Estas so exatamente as reaes que as pessoas interpretaram mal,
pois precisamente o tom irnico de Hannah Arendt que choca. Mas ela assume,
de bom grado, sua ironia quando diz que "quanto a isso no posso fazer nada",
pois para ela o tom, nesse caso, efetivamente indissocivel de sua pessoa.
Segundo Hannah Arendt, o interrogatrio policial de Eichmann
"constitui uma verdadeira mina de ouro para um psiclogo desde que ele seja
suficientemente hbil para perceber que o 'horrvel' pode ser no apenas cmico
mas tambm muito divertido".46 No nosso objetivo aqui fazer uma anlise da
personalidade do indivduo Eichmann, apesar de sermos tentados pela atrao
que isto exerce e pela quantidade de material disponvel. Porm, importante
marcar alguns traos de sua personalidade, que so fundamentais para se
compreender como o horrvel pode estar associado ao cmico, ou seja, como o
mal pode se tornar banal.
O homem Eichmann era o perfeito instrumento para levar a cabo a
"soluo final": organizado, regular e eficiente tal qual a empreitada de que ele
estava encarregado. Na sua funo de encarregado do transporte, ele era normal
e medocre e, no entanto, perfeitamente adaptado a seu trabalho que consistia em
"fazer as rodas deslizarem suavemente", no sentido literal e no figurativo. Sua
funo era tornar a "soluo final", normal. Com sua vaidade e exibicionismo e
seus clichs pretensiosos, ele era, ao mesmo tempo, ridculo e ordinrio.
Eichmann representava o melhor exemplo de um assassino de massa que era, ao
mesmo tempo, um perfeito homem de famlia. Chamar algum de monstro no o
torna mais culpado, da mesma forma que cham-lo de besta ou demnio.
Eic,mann no era um monstro' em5ora seus atos fossem
monstruosos- !ua *ersonalidade destaca/a9se unicamente *or uma
e)traordinria su*erficialidade- Por mais e)traordinrios (ue fossem os
atos' neste caso' o a0ente no era nem monstruoso' nem demon7aco@ a
Inica caracter7stica es*ec7fica (ue se *odia detectar em seu *assado' 5em
como em seu com*ortamento' durante o 3ul0amento e o in(u2rito *olicial
(ue o *recedeu' afi0ura/a9se como al0o totalmente ne0ati/o8 no se trata/a
de estu*ide4' mas de uma curiosa e 5astante autCntica inca*acidade de
*ensar-
Eichmann no era um insano que odiava os judeus ou adepto fantico
do anti-semitismo ou de qualquer outro tipo de doutrinao. Para ele, o contedo
da ideologia nazista e sua lgica destrutiva eram menos importantes que a
"famlia" que ele tinha encontrado no movimento nazista. Na verdade, segundo
mostram suas notas biogrficas, sua principal motivao era a ascenso na
carreira; ele era um jovem ambicioso, que estava farto do seu trabalho de
vendedor ambulante. Filiou-se S.S. por oferecimento de um amigo do pai. No
conhecia o programa do partido e nunca leu Mein Kampf. Como ele salientou na
corte, "era como ser engolido pelo partido contra todas as expectativas e sem
deciso prvia. Aconteceu to rpida e inesperadamente".
Na corte' ele deu a im*resso de um mem5ro t7*ico da 5ai)a
classe m2dia' e essa im*resso foi com*ro/ada em cada sentena (ue falou
ou escre/eu' en(uanto este/e na *riso- Ele era' na /erdade' o fil,o
d2class2 de uma s:lida fam7lia de classe m2dia' e essa situao era
indicati/a da sua descida no status social- Ele nunca dei)ou de ser tratado
*ela elite da !-!- como *essoa socialmente inferior e nunca conse0uia falar
de sua m0oa em relao aos 1ca/al,eiros1 da alta classe m2dia' a*esar de
conse0uir mandar mil,?es de *essoas *ara a morte- Era im*ressionante o
a*e0o de Eic,mann 6 educao e 6s re0ras de 5om com*ortamento'
mostrando /er0on,a e constran0imento face 6 lem5rana de *e(uenos
desli4es sociais cometidos no seu *assado' o (ue 2 um dado inteiramente
contradit:rio no conte)to de seus atos-1
Sobre o que representava para ele o seu novo papel, como membro
da S.S., Hannah Arendt assim comenta: "De uma vida vulgar, sem significado e
conseqncia, o vento o fizera voar para dentro da Histria, como ele a
compreendia, a saber, um movimento contnuo e no qual, algum como ele um
fracasso total aos olhos da sua classe social, cia sua famlia, e da, at aos seus
prprios olhos poderia comear do marco zero e ainda fazer uma carreira."
O que Eichmann almejou at o fim foi o sucesso, o principal estandarte
da "boa sociedade", como ele bem o sabia. Ele comenta, atravs de sua genuna,
ilimitada e imoderada admirao por Hitler o homem que ascendera "de
lanceiro a chanceler do Reich": "(...) ele pode ter errado em toda linha, mas uma
coisa fora de dvida: o homem teve capacidade para abrir seu caminho, de
cabo de esquadra do exrcito alemo a Fhrer de um povo de quase oitenta
milhes de pessoas. Somente esse sucesso j provara que eu deveria submeter-
me a ele."
Dentre as caractersticas mais chocantes da personalidade de
Eichmann est a sua linguagem. A linguagem administrativa era a nica que
conhecia, pois ele era incapaz de pronunciar uma s frase que no fosse um
clich. Quando conseguia formar uma frase que exercia algum efeito, ele a repetia
at que se transformasse em frase feita. Parece que a fraqueza de Eichmann por
frases bombsticas sem sentido real era anterior ao julgamento em Jerusalm.
Ele jamais se preocupava com qualquer "inconsistncia" no que dizia.
Em um exemplo brilhante isto fica claro: em sua mente no havia
contradio entre as seguintes frases: "Eu pularei, rindo, para dentro da minha
cova, se souber que consegui mandar para a morte quatro milhes de judeus"
prpria do fim da guerra, e "Eu me enforcarei alegremente, em pblico, como
advertncia para todos os anti-semitas desta terra" pronunciada, posteriormente,
na priso. Frases que, em circunstncias to diferentes, o auxiliaram de igual
maneira Para ele, isso era apenas questo de mudana de humor e, enquanto
conseguisse encontrar em sua memria um chavo para dar as suas respostas,
ou mesmo cri-los de improviso, ele se sentia satisfeito, mesmo que seu fraseado
caracterstico se tornasse incompatvel com o momento.
Como vimos, esse horrvel dom de se consolar com clichs no o
abandonou, nem mesmo na hora de sua morte. No h um exemplo melhor para
isso do que a grotesca tolice de suas ltimas palavras antes de ser enforcado: ele
comeou afirmando que era um Gouglattbiger (termo nazista para aqueles que
romperam com o cristianismo), para em seguida expressar, moda comum
nazista, que ele no era cristo e no acreditava na vida aps a morte. Ento
prosseguiu: "Dentro de pouco tempo, cavalheiros, todos vamos nos encontrar
outra vez. Esse o destino de todos os homens. Viva a Alemanha, viva a
Argentina, viva a ustria. Eu no as esquecerei." Ele emitiu clichs prprios de
discurso funerrio, esquecendo-se que ali o "eleito" era ele mesmo. sso mostra
como a banalidade do mal desafia palavra e pensamento.
A grande sensibilidade de Eichmann para captar palavras e chaves,
combinada com sua incapacidade para a fala comum, tornou-se, naturalmente,
um meio ideal para guardar "regras de linguagem" que se constituam de mentiras
sobre a realidade. A linguagem de Eichmann o tipo perfeito do que se pode
chamar de "linguagem burocrtica", aquela cuja funo fundamental criar uma
apaziguadora iluso para os executantes e para os executados, pois estes ltimos
nem de longe entendem o significado dessas palavras.
Refletindo sobre as conseqncias do uso desse tipo de linguagem,
Vidal-Naquet levanta as seguintes questes: 2Kuem pode di!er "uantas *timas
&i!eram as e>press:es como 2tratamento especial2 para designar a morteG
Kuantos &ranceses &oram tran"Lili!ados sobre os campos so*iticos%
simplesmente por"ue eles eram chamados 2campos de reeduca#$o2+
simplesmente por"ue eles ade"uaram as pala*ras% @s simples pala*ras com
aspasG2
Fica claro que , de fato, um trao essencial do totalitarismo, este uso
mistificante da linguagem; sua funo criar e manter o afastamento da
realidade, e ela criada no s para o uso da polcia, mas passa tambm a ser
uma linguagem comum imposta a todos.
No decorrer do processo, e atravs de uma ateno curiosa e anlise
aguda do que via e ouvia de Eichmann, Hannah Arendt parece ter chegado ao
ponto nodal de suas observaes quando concluiu: "Quanto mais se o ouvia, mais
claro se tornava que sua inabilidade de falar estava intimamente relacionada com
a sua inabilidade de pensar, especialmente de pensar em relao ao ponto de
vista de outras pessoas." E o que era mais chocante, e parecia ser uma
decorrncia dessa incapacidade de pensar, do qual dava prova este personagem,
era a impossibilidade de se comunicar com ele devido s barreiras que ele
mesmo levantava, "(...) no porque mentisse, mas porque estava 'fechado' s
palavras e presena de terceiros e, portanto, realidade como tal"."
Chegamos aqui a um ponto concludente, onde podemos dizer que o
personagem Eichmann, encarnando a "banalidade do mal", associa claramente
"inconscincia", "afastamento da realidade" e "obedincia". "Ele apenas ",
segundo Hannah Arendt, "nunca compreendeu o que estava fazendo".56 Essa
incapacidade de pensar, potencializada pelo afastamento da realidade, gerava tal
inconscincia. Quanto obedincia, o prprio Eichmann falou de
kadavergehorsam (obedincia dos cadveres); este termo j existia antes de
Hitler e foi tomado do exrcito imperial prussiano.
sto era esperado de todo soldado alemo e considerado uma das
suas principais virtudes. Eichmann no somente escolheu tal flagrante negao
de qualquer coisa humana, mas tambm imps isto aos outros. Ele fala que teria
mandado at seu prprio pai morte, se isso lhe tivesse sido ordenado; com isso,
ele mostrava como estava sujeito s ordens e pronto a obedec-las, mas tambm
evidenciava que espcie de "idealista" sempre fora. Para ele, o perfeito "idealista",
como todo mundo, tinha sentimentos e emoes pessoais, mas ele nunca
permitiria que elas interferissem nos seus atos ou conflitassem com sua "idia"."
Outro ponto, que nos parece ser de essencial importncia, a
confuso que Eichmann fazia entre ordem e lei, embora ele parecesse ter uma
vaga idia de que havia uma diferena importante nisso. Ele disse ter lido a
Crtica da Razo Prtica e ter vivido toda sua vida de acordo com os preceitos
morais de Kant e com a definio kantiana do dever, mas apesar disso, no
momento em que foi encarregado da "soluo final", ele parou de viver, segundo
os princpios de Kant, e consolou-se em pensar que no era mais "senhor de seus
atos" e que, portanto, ele no poderia "nada mudar".
Quando interrogado, ele soube inclusive dar uma frmula aproximada
do imperativo categrico: "Na minha observao sobre Kant, eu quis ressaltar que
o princpio da minha vontade, deve ser sempre de tal modo que possa
transformar-se em princpios de leis gerais". sso foi uma afronta diante dos fatos,
incompreensvel, uma vez que a filosofia moral de Kant est intimamente ligada
faculdade de julgamento do homem e no aprova a obedincia cega. Na verdade,
ele no disse que, alm de ter se afastado da frmula kantiana, ele tambm a
pervertera para: "Age de tal maneira que se o Fhrer soubesse da sua ao a
aprovaria", frmula conhecida como o "imperativo categrico do Terceiro Reich",
formulado por Hans Frank.
Kant jamais pretendeu dizer isso; para ele, cada homem era um
legislador e, a partir do momento em que comeasse a agir, usando sua razo
prtica, o homem encontraria os princpios que poderiam e deveriam ser Os
princpios da lei. A fonte de onde surge a lei, para Kant, a razo prtica; para
Eichmann, era a vontade do Fhrer. Em momento algum Eichmann se perguntou
sobre o "princpio de sua vontade" ou a mxima na qual fundamentava sua ao.
Ele aceitou a determinao vinda de fora, eliminou sua vontade como
vontade, isto , como faculdade do homem de determinar-se a si mesmo para a
ao: cm outras palavras, sua autonomia. Sua vontade foi heternoma, porque
determinada por representaes materiais, nas quais a lei a da necessidade da
natureza, onde o mvel da ao o sensvel.
Para Kant, como j discutimos anteriormente no Captulo , a vontade
humana tem a propriedade de ser, ela prpria, a sua lei, e o homem realiza sua
essncia, quando obedece lei moral. Conclumos, ento, que, a partir do
instante em que o princpio dos atos de Eichmann no se enraizava mais na sua
vontade, mas na do Fhrer, isto significava que ele estava dedicado a exterminar,
em si mesmo, a sua prpria vontade, e assim, por conseguinte, sua prpria
humanidade. Ora, para que esta servilidade permanea ignorante de sua
degradao, necessrio conjug-la com a "inconscincia".
nconscincia a, no no sentido de uma ignorncia sobre os atos e
suas conseqncias, mas no sentido de uni afastamento da realidade. Pois
quanto sua conscincia, Eichmann se lembrava, perfeitamente bem, de que s
teria tido m conscincia se no tivesse feito o que lhe ordenavam. E, conforme
ele mesmo admitiu, "naquele momento", (na reunio onde se decidiu sobre a
"soluo final") "eu tive uma espcie de sensao de Pncio Pilatos, pois sentia-
me livre de qualquer culpa". Sobre isto Hannah Arendt diz: "Kue se possa estar a
este ponto a&astado da realidade% a este ponto inconsciente+ "ue o inconsciente
possa &a!er mais mal do "ue todos os instintos destruidores reunidos+ "ue tal*e!
se,am inerentes ao homem H eis uma das li#:es "ue se pode tirar do caso
Eichmann'2
E esta lio, que no pretende servir de explicao ao fenmeno, nem
de teoria a seu respeito, no implica, evidentemente, que aquele que se deixa
levar por uma tal inconscincia no seja responsvel.
O grande problema que se coloca com Eichmann que "havia muitos
iguais a ele e que a maioria no era nem perversa nem sdica, era e ainda
terrvel e aterradoramente normal". sto implica que "este tipo de criminoso, que
na realidade hostis generis humani, comete seus crimes sob circunstncias tais
que se torna quase impossvel, para ele, saber ou sentir que est agindo mal".
Se, para Hannah Arendt, a pessoa do acusado ocupa o centro do seu
livro, e do processo, porque Eichmann um paradigma do homem de massa, e
este homem que precisa ser conhecido. Eichmann o paradigma do homem
contemporneo, este homem que prisioneiro da necessidade, o animal
laborans que tem apenas uma vida social "gregria", pois perde toda noo de
pertinncia a um mundo que o lugar onde, outrora, a palavra e a atividade livres
dos homens se conjugavam. A vida social "de massa", mas "sem mundo" devora,
ao mesmo tempo, a vida privada e a vida poltica estreitada desse homem, at
apagar todo espao poltico.
O homem da modernidade conhece, assim, o isolamento, que o
impasse para o qual so conduzidos os homens, a partir do momento em que a
esfera poltica de sua vida comum destruda. Soma-se a isso o
desenraizamento, que cria a desagregao das relaes humanas. Ora, o que vai
constituir o sujeito ideal do totalitarismo precisamente esse homem desolado,
desagregado, que no se religa mais aos outros homens. Este sujeito destitudo
como sujeito poltico, transformado em tomo annimo entre os tomos annimos
da massa, um homem qualquer, sem capacidade poltica, sem conscincia moral,
sem vontade, sem julgamento e, por essa razo, capaz de seguir ou de fazer
banalmente o mal.
Desde que esse homem se torna um ser suprfluo, ele no mais um
fim em si mesmo, e o seu valor como homem se encontra relativizado; ele passa
a ser, ao mesmo tempo, a vtima e o agente desse mal banal. Ao admitir "Eu no
sei o que o mal radical, mas eu sei que ele tem a ver com esse fenmeno: a
superfluidade dos homens enquanto homens",67 Hannah Arendt est exatamente
se acercando do ncleo do conceito do mal radical kantiano, onde ela parece
ancorar, a nosso ver, o seu pensamento sobre o mal na poltica.
A DANAIDADE DO MA = UM CONCEITOM
no estatuto da novidade, que rege a compreenso do totalitarismo,
que Hannah Arendt lana a idia da banalidade do mal. Sabe-se que dentro do
relato do caso Eichmann que ela fez, pela primeira vez, meno "banalidade do
mal", a fim de designar "a falta de profundidade evidente" que caracterizou o
culpado, de forma que o mal inegvel e extremo, ao qual organizou seus atos,
no podia ser atribudo nem s suas convices ideolgicas slidas, nem s suas
motivaes especificamente malignas.
No prefcio de seu ltimo livro A Vida do Esprito, ela fala que, atravs
dessa expresso, no sustenta nenhuma tese ou doutrina, "ainda que fosse
confusamente consciente de que ia contra nossa tradio de pensamento literrio,
teolgico ou filosfico sobre o fenmeno do mal." Falar da banalidade do mal
interdita, de fato, toda dimenso demonaca, toda maldade essencial, toda
maldade inata e, mais amplamente, todo mvel ancorado na depravao, na
cobia e em outras paixes obscuras.
Para ela, falar de banalidade do mal falar sobre "(...) algo bastante
fatual, o fenmeno dos atos maus cometidos em propores gigantescas atos
cuja raiz no iremos encontrar em uma espcie de maldade, patologia ou
convico ideolgica do agente".
Segundo Scholem,'" se Hannah Arendt jamais tirou da banalidade do
mal um conceito susceptvel de "encontrar seu lugar em filosofia moral ou em
tica poltica", por outro lado, ela recusa a idia de que se trata de um slogan ou
um refro. Scholem convidou Hannah Arendt a atribuir ao que era apenas um
slogan a consistncia de um "conceito que encontra seu lugar em filosofia moral
ou em tica poltica".
Ao responder-lhe "ningum, que eu saiba, utilizou esta expresso
antes de mim", ela ainda admitiu que isso era sem importncia. Tambm jaspers
reconhecia que a noo era esclarecedora e at mesmo percuciente, mas alertou
Hannah Arendt para que ela elucidasse verdadeiramente a questo filosfica
subjacente a essa "frmula"."
De fato, Hannah Arendt jamais reelaborou o conceito de "banalidade
do mal", apenas concluiu sobre a falta de "profundidade" e a ausncia de
enraizamento das razes e das intenes do indivduo Eichmann, ao recusar o
carter "radical" do mal.
Na verdade, uma reelaborao teria exigido, segundo Myriam R.
D'Allones, uma anlise bem mais aprofundada da doutrina kantiana do mal radical
e de suas implicaes: inescrutabilidade da origem, excluso da perversidade
diablica, indeterminao do sujeito moral.
Alm de estarmos de acordo com a autora acima citada, pensamos
tambm que existem outras leituras particulares do conceito de mal radical
kantiano no pensamento de Hannah Arendt. Essas leituras se referem a questes
sobre o mal radical j discutidas no Captulo e que sero retornadas nesse
contexto. Tomaremos um exemplo bastante significativo, onde elas aparecem de
maneira condensada: quando Scholem a critica por ter mudado de opinio por
no falar mais de "mal radical", ela concorda, afirmando: "Atualmente, minha
opinio que o mal no jamais 'radical', que ele somente extremo, e no
possui nem profundidade nem dimenso demonaca."
Ao afirmar que "o mal no jamais radical", ela est usando radical, no
sentido de essencial, absoluto e total, sentido que no corresponde
absolutamente ao do conceito kantiano, pervertendo, assim, inteiramente, seu
significado verdadeiro. Um reexame do conceito de "radical", diretamente no
pensamento kantiano, evitaria esta leitura. Com isso se evitaria a confuso, que
parece-nos ser feita no s por Hannah Arendt mas tambm entre alguns de seus
comentadores" e, certamente, entre muitos de seus leitores.
No tocante "dimenso demonaca", aparece um outro preconceito
que est associado ao primeiro, sendo inclusive uma decorrncia desse.
preconceito, pois Kant categrico em relao recusa da malignidade; e uma
decorrncia, pois se o radical significasse absoluto, o homem seria, de fato,
demonaco.
E esse no jamais o homem na concepo iluminista de Kant; se,
para ele, o homem finito, ele , ao mesmo tempo, razovel. sso significa que,
se o homem tem uma propenso para o mal, isto no exclui o fato de que ele
tenha uma disposio original para o bem. O bem e o mal coexistem no contexto
da liberdade sob a forma de um conflito sempre presente. E isso faz com que, em
Kant, o homem tenha uma essncia ambgua e trgica, embora jamais
demonaca. interessante observar que, em relao recusa da malignidade, o
pensamento de Hannah Arendt est inteiramente consistente com o mal radical
kantiano, embora ela parea no ter percebido isso.
Hannah Arendt pressupe que o mal, embora no sendo radical,
possa ser, contudo, extremo. Se, para ela, radical e extremo esto em relao de
excluso, para Kant o conceito de mal radical no exclui as formas extremas de
mal. Quando Kant admite a possibilidade de uma dinmica de expanso do mal
radical, ele est, exatamente, levando isso em conta. Embora ele no se refira a
isso de forma explcita, a idia de um mal extremo aparece quando ele se refere a
um "estado tico natural", descrito como "um combate pblico mtuo contra os
princpios da virtude e um estado de carncia interna de moralidade".
O "estado tico natural" no significa ausncia de lei, mas
arbitrariedade, na qual cada um se d a sua prpria lei. Pode-se pensar, tambm,
na possibilidade dessa arbitrariedade ir alm do plano individual, atingir grupos e
culminar no Estado, quando ele se encontra revestido de caractersticas
totalitrias. Esse um ponto bastante significativo, pois se refere ao mal radical
exatamente na sua dimenso poltica. Mais uma vez o pensamento de Hannah
Arendt sobre a banalidade do mal parece convergir para o de mal radical
kantiano, sem que, contudo, ela tenha se dado conta disso. Sobre essa dimenso
poltica do mal, em sua dinmica de alastramento, Hannah Arendt assim se
refere: "Ele pode invadir tudo e assolar o mundo inteiro precisamente porque
propaga-se como um fungo."
Para finalizar essa questo, vale relembrar o fato curioso, j
mencionado anteriormente, no Captulo , referente aos preconceitos que o mal
radical enfrentou, em sua poca, ao atravessar o sculo XX e chegar at os
nossos dias. Embora seja uma questo que merea ser mais amplamente
discutida, no nosso objetivo aqui faz-lo.
Passaremos, agora, a tratar de confuses que podem ser feitas a
respeito do uso do termo banal, no contexto da discusso sobre a banalidade do
mal. Sobre isso, Hannah Arendt esclarece: 28ada est) t$o distante do meu
prop(sito "ue o de minimi!ar o maior so&rimento do nosso sculo' O "ue banal
n$o por conse"L;ncia nem uma bagatela% nem "ual"uer coisa "ue se produ!
&re"Lentemente' Eu posso achar um pensamento ou um sentimento 2banal2
mesmo se ningum n$o o e>primiu desta maneira at ent$o% e mesmo se as
conse"L;ncias condu!em a uma cat)stro&e'2
Hannah Arendt cita, como exemplo, o fato de Tocqueville que reagiu,
no meio do sculo passado, s teorias raciais de Gobineau, nas quais, na poca,
passavam ainda inteiramente como originais, mas, simultaneamente, tanto
"nefastas" quanto superficiais. A catstrofe teve conseqncias pesadas. Mas
teria ela, portanto, significao pesada? "Que alguma coisa possa sair, por assim
dizer do riacho, sem corrente profunda, e ganhar poder sobre quase todos os
homens, precisamente isto que assustador no fenmeno."
Ao recusar o mal radical, ela cr estar recusando uma interpretao
em profundidade, pois v, na banalidade do mal, no um absoluto, um escondido
ou uma essncia: "(...) o mal no possui nem profundidade nem dimenso
demonaca (...)", e "(...) essa sua 'banalidade'. Somente o bem tem profundidade
e pode ser radical." Ela se ope a uma idia de profundidade do mal e prope
uma curiosa interpretao em superfcie. Mas essa interpretao cria um impasse
medida que o mal "(...) 'desafia o pensamento', porque o pensamento tenta
atingir a profundidade, tocar as razes, e no momento em que se ocupa do mal,
ele se frustra porque no encontra nada. Eis sua `banalidade'. Pode-se concluir
que: a aporia do mal precisamente seu efeito de superfcie, sua prpria
banalidade.
Outro esclarecimento se faz necessrio em relao a uma certa
confuso gerada pelo uso do termo banal; falar de uma banalidade do mal no
afirmar sobre sua essncia, pois o mal, se possvel consider-lo do ponto de
vista ontolgico, no jamais banal. Juntamente com Paul Ricceur,82 pensamos
que ele sempre um escndalo. O banal a se refere sua aparncia, enquanto
fenmeno que se d a aparecer. Essa questo nos remete a Hannah Arendt,
quando ela diz que as aparncias no s revelam; elas tambm ocultam, ao citar
Merleau-Ponty: 'Nenhuma coisa, nenhum lado de uma coisa mostra-se sem que
ativamente oculte os demais." Para ela, "as aparncias expem e tambm
protegem da exposio e, exatamente porque se trata do que est por trs delas,
a proteo pode ser sua mais importante funo".
sto significa que a aparncia de banalidade tem justamente a funo
de ocultar o verdadeiro escndalo do mal. Podemos dizer, portanto, que o mal
pode ser banalizado por determinadas contingncias histricas, o que significa
que o mal cometido pelo homem pode-se mostrar banal, no que, por si mesmo,
seja banal. A questo do mal, no , assim, uma questo ontolgica, uma vez que
no se apreende uma essncia do mal, mas uma questo da tica e da poltica.
Quando conclui que Eichmann um "homem banal", como muitos
torturadores, Hannah Arendt retira-lhe o carter demonaco fazendo um
verdadeiro deslocamento em sua questo sobre o mal. O problema do mal sai,
verdadeiramente, dos mbitos teolgico, sociolgico e psicolgico e passa a ser
focado na sua dimenso poltica. A nosso ver, exatamente no momento em que
ela, respondendo a Scholem, diz: "De fato voc tem razo: eu mudei de opinio e
no falo mais de mal radical" que, na verdade, est mais prxima do pensamento
de Kant sobre o mal.
Tendo admitido anteriormente "eu no sei o que o mal radical, mas
eu sei que ele tem a ver com esse fenmeno: a superfluidade dos homens
enquanto homens", ela mostra, de forma transparente, que est inteiramente
identificada com o ncleo do pensamento kantiano, pois o mal radical surge,
exatamente, quando o homem deixa de ser considerado como um fim em si
mesmo.
Podemos afirmar que o "conceito de banalidade do mal", iluminado
pelo de "mal radical", possibilita a Hannah Arendt fazer uma releitura poltica de
Kant, pois o mal radical a prpria destruio do poltico. Embora ela no
explicite isto em momento algum, o que parece estar contido na sua reflexo. O
relato sobre a "banalidade do mal" pe para Hannah Arendt o desafio de escrever
sua moral poltica, embora saibamos que no estava dentro de seu estilo escrever
"um tratado de moral". O que ela aspirou fazer foi "uma crtica do julgamento
poltico", pois para ela as regras morais estritas no poderiam prestar nenhuma
ajuda.
Podemos dizer que o conceito de mal radical de Kant abarca o de
banalidade do mal e, ainda mais: que a banalidade do mal uma roupagem
contempornea do mal radical. A banalidade do mal no seria uma novidade
enquanto essncia, mas seria uma novidade enquanto fenmeno (aparncia).
Na verdade, o "conceito" de banalidade do mal, apesar de todo o seu
valor polmico, parece no ter sido devidamente delimitado, no deixando, por
isso, de ter valor filosfico. Ele parece estar em uma posio particular na obra cia
autora e, por sua fertilidade e valor polmico, se mostra mais provocador de
reflexo e definidor de questes fundamentais do que propriamente um conceito
formalizado. A nosso ver, esta particularidade no diminui o valor do conceito,
mas o ressalta na sua fecundidade.
A partir de agora, interessa-nos tratar a banalidade do mal enquanto
fenmeno humano que transcende a essa situao contingente do julgamento de
Eichmann. claro que esse fenmeno da banalidade do mal, na condio do
homem moderno, alimenta-se de temas diversos, que devem ser analisados, de
uma tal forma que superem, ao mesmo tempo, os argumentos da fatalidade e do
acaso.
No esforo desta anlise, so interessantes os trs parmetros usados
por Chalier, para pensar como a banalidade do mal se organiza: "a necessidade,
a irrealidade e a ausncia do pensamento". Em primeiro lugar, a necessidade
seria, no caso de Eichmann, a da existncia de um sistema que intima cada um a
aderir, atravs de sua funo ou de seu posto, um ponto tal que implicaria a perda
da identidade pessoal e de toda a possibilidade de reivindicar a responsabilidade
de seus atos.
Nas histrias de Kafka, to admiravelmente comentadas por Hannah
Arendt, " (...) os encarregados, os empregados, os trabalhadores e os funcionrios
agem na hiptese de uma eficcia sobre-humana (...)" que " (...) o motor
escondido que serve maquinaria da destruio" (..) "responsvel pelo
desenvolvimento sem choque daquilo que por si insensato".
Os atores da sociedade nazista se conformaram, de corpo e alma, s
regras desastrosas de um jogo fundado sobre os princpios criminais, os quais
ningum parecia fazer parar. Esta necessidade no provm somente do reino da
tcnica, como na filosofia de Heidegger. Hannah Arendt no concorda com essa
viso puramente tcnica da prepotncia nazista que se torna cega a seus
componentes essenciais: o anti-semitismo e o crime.
de fato o crime, e o crime anti-semita, que seria o princpio do
Estado nazista. E jamais os autores dos tormentos, os mais srdidos que este
Estado comandou, perceberam-se como criminosos. Para Hannah Arendt, eles
"(...)se limitaram a obedecer s ordens e fiados em sua fria eficcia, apareciam de
maneira inquietante, como os instrumentos 'inocentes' dos acontecimentos
impessoais e desumanos". A extremidade do mal seria atingida nesta plena
adeso necessidade da pavorosa norma "Tu matars", nesta total submisso a
uma heteronomia extrema, que no permite que o tremor de um escrpulo venha
fazer hesitar o brao levantado e pronto a abater, que no permite, ainda, se
lanar um olhar sobre o rosto dos seres entregues mais absoluta desorientao.
A exaltao da lei, no Estado nazista, transformou os homens ordinrios em
criminosos, abolindo esse olhar, o nico que poderia ainda ter possibilitado o
rasgo da memria do antigo preceito que probe o assassinato aos assassinos.
Quanto irrealidade, podemos dizer que a ignorncia deliberada das
solicitaes da realidade dispensa respostas. Os clichs, as frases prontas, os
cdigos de expresso padronizados e convencionais servem para proteger os
indivduos da realidade levando-os a viver e agir em um mundo totalmente irreal.
precisamente a isto que os sistemas totalitrios visam. Os indivduos mostram a
necessidade de se submeterem aos princpios superiores e tentam modelar a
realidade imagem destes. Pouco importa que sejam as "leis da histria" ou as
"leis da natureza". A partir da, a realidade deve se adaptar a esta necessidade,
pois "os fatos dependem inteiramente do poder daqueles que os podem fabricar".
O que caracteriza, ento, esses indivduos, cegos por esta
propaganda, aterrorizados tambm por sua prtica, no mais suportar o que no
cabe no quadro da ideologia dominante e, atravs dela, fugir ainda mais da
realidade.
O que as massas recusam reconhecer o carter fortuito que banha a
realidade; elas so predispostas a todas as ideologias porque explicam os fatos
como sendo simples exemplos de leis e eliminam as coincidncias ao inventar um
poder supremo e universal que reputado ser a origem de todos Os acidentes.
O abandono necessidade e o afastamento da realidade se reforam
um ao outro e preparam o caminho para o mal to banal e to abominvel que
ser cometido pelos indivduos mais comuns. A ausncia de pensamento desses
indivduos vem ainda facilitar sua sujeio, tornando-os incapazes da menor
resistncia ao mundo que a ideologia constri.
Esse estado de no pensar ensina as pessoas a se agarrarem
solidamente s regras de conduta (quaisquer que elas sejam) de uma sociedade
e de uma poca dadas. O que elas se habituam, ento, a obedincia s regras
sem o exame rigoroso de seus contedos. Conclui-se que a anlise da banalidade
do mal se articula em torno destes trs plos essenciais: a necessidade, a
irrealidade e a ausncia de pensamento. Podemos considerar, portanto, que a
ausncia do pensar uma decorrncia dos outros dois pontos, decorrncia
psicolgica ou ideolgica da condio poltica deste homem de massa, to bem
descrito em sua alienao por Hannah Arendt.
exatamente nessa "ausncia de pensar", articulada questo da
banalidade do mal, o ponto do qual Hannah Arendt parte prosseguindo sua
indagao. ndagao essa, agora retomada em uma dimenso mais poltica.
Nesse mesmo ponto pretendemos apoiar nossa reflexo no prximo captulo.
Nunca um homem est mais ativo do que quando nada faz,
nunca est menos s do que quando a ss consi!o mesmo. Cato
O RETORNO N #IO!O#IA
Na epgrafe de seu ltimo livro A Vida do Esprito, na qual tambm nos
inspiramos, Hannah Arendt retoma a ltima frase de A Condio Humana.'
necessrio ver, nesse gesto, no uma escolha arbitrria, mas uma continuidade
subjacente, reaparecida aps todos esses anos consagrados filosofia poltica e
onde a expresso se tornou urgente pelo sentimento de aproximao da morte.
Ela confessa a Flans Jonas: "Em poltica, eu fiz o que eu tinha a fazer; a partir de
agora, durante o tempo que me resta, eu me consagrarei ao que est alm da
poltica (a filosofia).
A filosofia foi o ponto de partida e de chegada de Hannah Arendt.
Comeando com sua tese de doutorado, em 1929, sobre o conceito de amor em
Santo Agostinho, seu percurso intelectual e pessoal fez um longo mas explicvel
desvio pela reflexo poltica, instigado pelos tempos sombrios que sua gerao foi
obrigada a viver e compreender; ao fim de sua existncia, no entanto, retornou
reflexo filosfica vita contemplativa. Nessa volta, no deixa de lado a
preocupao com a poltica; ao contrrio, esta permanece no seu horizonte como
estmulo poderoso reflexo. Se no fim de seu percurso intelectual, Hannah
Arendt retorna ao seu comeo a filosofia no se trata de um movimento em
crculo fechado, mas sim em espiral, porque chega a uma filosofia enriquecida e
problematizada por uma experincia histrica incontornvel que revelou os limites
da filosofia como simples busca do cognoscvel.
A Vida do Esprito, que marca o retorno de Hannah Arendt filosofia,
composto de trs partes: O Pensar, O Querer e O Julgar. Esta tripartio
arendtiana tem como horizonte inspirador as trs criticas kantianas e representa o
contraponto reflexo sobre o labor, o trabalho e a ao, discutidas em A
6ondi#$o Aumana. O conceito de esprito que aparece nesta obra no nem no
sentido psicolgico, nem no espiritualista, muito menos no sentido hegeliano ou
no sentido positivista de processador de estmulos externos.
Este mind nos remete no a unia unidade passiva de uma alma, mas
pluralidade ativa de uma faculdade, antes de tudo marcada pela espontaneidade.
Nessa tica, a atividade do pensamento, a iniciativa da vontade, a imparcialidade
do julgamento no so submetidas s engrenagens do intelecto, s pulses dos
desejos, s regras da lgica; e o esprito arendtiano a articulao destes trs
poderes. Por outro lado, Hannah Arendt toma o cuidado de no hierarquizar esses
trs poderes que tm suas prprias leis.
impressionante constatar que, desde as primeiras linhas do livro A
Vida do Esprito, Hannah Arendt retoma a referncia a Eichmann e o tema da
banalidade do mal, como se esse fosse a fonte mesma, jamais esgotada, de sua
reflexo. Esse o problema que a perseguiu e, alm disso, sempre retomado
em toda sua fora e assustadora simplicidade. Segundo ela, sua preocupao
com o pensar ou com "as atividades esprituais teve origem em duas fontes
bastante distintas, O impulso imediato veio quando assistiu ao julgamento de
Eichmann, em Jerusalm, pois foi este processo que a fez interessar pelo tema, e
suas dvidas se renovaram, ento, a partir daquele momento.
2A"uilo com "ue me de&rontei% entretanto% era inteiramente di&erente e%
no entanto% inega*elmente &actual' O "ue me dei>ou aturdida &oi "ue a conspcua
super&icialidade do agente torna*a imposs*el retra#ar o mal incontest)*el de
seus atos% em suas ra!es ou moti*os% em "uais"uer n*eis mais pro&undos' Os
atos eram monstruosos% mas o agente H ao menos a"uele "ue esta*a agora em
,ulgamento H era bastante comum% banal% e n$o demonaco ou monstruoso' 8ele
n$o se encontra*a sinal de &irmes con*ic#:es ideol(gicas ou de moti*a#:es
especi&icamente m)s% e a <nica caracterstica not(ria "ue se podia perceber% tanto
em seu comportamento anterior "uanto durante o pr(prio ,ulga mento e o sum)rio
da culpa "ue o antecedeu% era algo de inteira mente negati*o- n$o era estupide!%
mas irre&le>$o'2
Segundo ela, foi essa falta de pensamento, uma experincia to
comum em nossa vida cotidiana, em que dificilmente temos tempo e muito menos
desejo de parar e pensar, que despertou seu interesse. Diante disso, ela passa a
levantar as questes que guiam todo o seu pensamento, ao escrever A Vida do
Esprito.
So elas:
21er) o &a!eromal Cpecados por a#$o e omiss$oD poss*el n$o
apenas na aus;ncia de moti*os torpesM Ccomo a lei os denominaD% mas de
"uais"uer outros moti*os% na aus;ncia de "ual"uer estmulo particular aiD
interesse ou *oli#$oG 1er) "ue a maldade H como "uer "ue se de&ina este estar
Ndeterminado a ser *il$oO H n$o uma condi#$o necess)ria para o &a!eromalG
1er) poss*el "ue o problema do bem e do mal% o problema de nossa &aculdade
para distinguir o "ue certo do "ue errado% este,a conectado com nossa
&aculdade de pensarG 1eria poss*el "ue as ati*idades do pensamento como tal
H o h)bito de e>aminar o "ue "uer "ue aconte#a ou chame a aten#$o
independentemente de resultados e conte<do espec&ico H esti*essem dentro
das condi#:es "ue le*am os homens a se absterem de &a!er o mal% ou mesmo
"ue ela os NcondicioneM contra eleG2
Alm do julgamento de Eichmann, uma outra questo inspirou-lhe o
interesse pelo terna. o que se v em:
2Essas "uest:es morais "ue t;m origem na e>peri;ncia real e se
chocam com a sabedoria de todas as pocas H n$o s( com as *)rias respostas
tradicionais "ue a 2tica2% um ramo da &iloso&ia o&ereceu para o problema do mal%
mas tambm com as respostas muito mais amplas "ue a &iloso&ia tem% prontas%
para a "uest$o menos urgente NO "ue o pensarG2
Este questionamento renovou, em Hannah Arendt, certas dvidas que
ela diz ter desde que terminou A 6ondi#$o Aumana onde ela faz uma
investigao sobre a *ita acti*a (termo cunhado por homens dedicados a um
modo de vida contemplativo). Enquanto a *ita acti*a representa o modo laborioso
dos homens, a *ita contemplati*a se refere pura quietude, devotada viso de
Deus. E essa idia de contemplao como o mais alto estado de esprito to
antiga quanto a filosofia ocidental.
A partir dessas reflexes sobre "o pensar que constituem a primeira
parte de A Vida do Esprito, pretendemos acompanhar o desenvolvimento do
pensamento de Hannah Arendt sobre essa atividade do esprito e, ento,
prosseguiremos at chegarmos ao que ela batizou de vazio de pensamento,
expresso bastante usada em sua reflexo sobre a banalidade do mal, mas que
no se encontra localizada em um lugar especfico de sua obra, tampouco est
demarcada como "o pensar. O 'vazio de pensamento mencionado por ela em
diversos contextos sem estar, contudo, delimitado como um conceito. Atravs de
suas referncias, sobre "o pensar, como um positivo, tentaremos chegar ao que
poderia ser o vazio de pensamento, por oposio, seu negativo. Nossa reflexo,
portanto, se localizar em torno da primeira parte de a vida do Esprito.
O PEN!AR
Hannah Arendt inicia sua reflexo sobre o pensar recorrendo histria
da filosofia e fazendo, atravs dela, o rastreamento do conceito desta atividade do
esprito. Ela comea com Plato, para quem a atividade do pensamento o
dilogo silencioso que cada um mantm consigo mesmo servindo apenas para
abrir os olhos do esprito.
Por outro lado, o nous aristotlico um rgo para ver e contemplar a
verdade. O pensamento visa contemplao e nela termina, e a prpria
contemplao no uma atividade, mas uma passividade; o ponto em que as
atividades espirituais entram em repouso. Na tradio crist o pensar estava
relacionado meditao e, por seu lado, era uma contemplao, o estado
abenoado da alma em que o esprito no se esfora para conhecer a verdade.
Nessa tradio, a filosofia tornou-se serva da teologia. Na era moderna o
pensamento tornou-se servo da cincia, do conhecimento organizado.
Uma das teses principais do seu livro a que diferencia os processos
do pensamento (derivados da Vernunft kantiana) que buscam o sentido das
coisas e daquelas provenientes do interesse pela cognio (derivados da
Verstand) que almejam o conhecimento de alguma verdade. Para Hannah Arendt,
seguindo a trilha aberta pela distino de Kant, o pensamento a expresso de
uma necessidade do esprito humano de pensar para alm da possibilidade de
todo conhecimento, pois os homens tm uma inclinao, talvez uma necessidade
de pensar para alm desse limite e de fazer dessa habilidade algo mais do que
um instrumento para conhecer e agir.
Segundo ela, devemos a Kant a distino entre pensar e conhecer,
entre a razo, vista com a premncia de pensar e de entender, e o intelecto, que
almeja o conhecimento certo e verificvel, Segundo esse autor, a necessidade
urgente da razo "mais do que a mera busca e o desejo de conhecimento, pois
o homem tem uma necessidade de pensar alm dos limites do conhecimento, de
fazer com suas habilidades intelectuais, sua potncia cerebral, algo alm de um
instrumento para conhecer e agir. Kant no negou o conhecimento, mas distinguiu
o conhecer do pensar, abrindo espao para o pensamento.
Hannah Arendt nota que todas as questes que se tornam os temas
principais da filosofia surgem das experincias ordinrias do senso comum; da
"necessidade da razo", isto , da busca de significado que instiga o homem a
perguntar.
A necessidade da razo (invocada por Kant para a justificao da
impossibilidade da indagao da metafsica) no inspirada pela busca da
verdade, mas pela busca do significado. E verdade e significado no so a
mesma coisa. Por isso, ela diz que a mais importante falcia da metafsica
interpretar o significado dentro do modelo da verdade.
Ela observa que, quando Kant disse ser necessrio negar o
conhecimento para dar espao f, na verdade ele no estava negando o
conheci mento de coisas que no eram passveis de ser conhecidas e dando
lugar f. Ao contrrio, dava lugar ao pensamento. O lamentvel, observa
Hannah Arendt, que o idealismo alemo no soube aproveitar a herana
kantiana, pois seguiu Descartes, procurando a certeza e confundindo de novo
essa linha de demarcao.
No entanto, necessrio marcar, aqui, que existe uma certa relao
dialtica entre significado e verdade, j que ns percebemos urna constante
interao entre pensar e conhecer. A busca do intelecto pela verdade dos fatos
tem o poder de alterar nossa interpretao da realidade, a cada estgio de nossas
vidas. E isso dificilmente menos radical em seus efeitos sobre ns do que a
capacidade de pensar em quebrar todas as regras e doutrinas convencionais.
Apesar da busca da verdade ser diferente da procura do significado,
uma suporta a outra e, para avanar em cada uma, ns continuamente fazemos o
movimento de ir e vir entre elas, descobrindo, na verdade, uma na outra. A
qualidade do nosso pensamento modificada pela nossa compreenso de
assuntos concretos e essa ltima, por seu lado, pela atividade de interpretao.
Nessa relao dialtica entre pensamento e conhecimento h uma mutualidade e
uma sutil reciprocidade.
Arendt observa que uma das falcias da metafsica a de priorizar a
verdade sobre o significado, como j afirmamos anteriormente; a outra a de no
valorizar o fenmeno e, sim, o que ele oculta, que, segundo a crena dos
filsofos, onde est o ser. O pressuposto de que a causa deve ocupar um lugar
mais elevado do que o efeito encontra-se entre as mais antigas falcias
metafsicas; ela se fundamenta na falcia lgica elementar que se apia em urna
dicotomia entre o ser e a aparncia. Segundo o sofista Grgias: "O Ser no
manifesto, j que no aparece; o parecer fraco, j que no consegue ser".
Ao comentar sobre a morte da metafsica, to propalada pelos
"filsofos profissionais, ela se posiciona, afirmando que o que chegou ao fim no
foi a metafsica, mas a distino bsica entre sensorial e supra-sensorial,
juntamente com a noo de que tudo o que no seja dado aos sentidos Deus,
ou o Ser, ou as dias mais real, mais verdadeiro, mais significativo do que
aquilo que aparece, que no est apenas alm da percepo sensorial, mas
acima do mundo dos sentidos, O que "morreu no foi apenas a localizao de
tais "verdades eternas, mas a prpria distino. Hannah Arendt se apia aqui,
como Merleau-Ponty, nas teses do bilogo antifuncionalista A. Portmann que
denuncia o preconceito metafsico no qual "o essencial se encontra por baixo da
superfcie e a superfcie superficial.
A propsito disso Hannah Arendt observa: "Neste mundo em que
chegamos e aparecemos vindos de lugar nenhum, e do qual desaparecemos em
lugar nenhum, Ser e Aparecer coincidem. No h ser alm do que aparece, nada
o dissimula 'por trs' das manifestaes do mundo, mesmo a vida do esprito
derivada da, e nada a condiciona aos bastidores.
Por isso, Hannah Arendt diz que o ponto de partida para o pensar o
senso comum, que ela toma da definio de So Toms como "um sentido
interno que funciona como a "raiz comum e o princpio dos sentidos exteriores).
Esse sexto sentido atravs do qual o homem rene em uma coisa, em um
mesmo objeto, as diversas sensaes heterogneas que vm dos diferentes
rgos sensoriais que torna possvel o compartilhamento de um mundo
comum; um sexto sentido necessrio coeso dos outros cinco.
O pensar significa, antes de mais nada, abandonar momentaneamente
o terreno do senso comum, praticando, espontaneamente, a epoch, ao pr-se
diante do que aparece. Atravs do senso comum ns podemos confiar na
imediaticidade de nossa experincia sensvel, pois ele d acesso ao real, e nosso
senso do real depende inteiramente da aparncia. Por seu lado, o espao da
aparncia o nosso mundo comum, ou a realidade ou o espao poltico.
Humanamente e politicamente, a realidade no se distingue da
aparncia, pois a realidade do mundo garantida aos homens pela presena do
outro; e o que aparece a todos o que ns nomeamos o ser. O pensar, que o
que permite ao esprito tomar distncia do mundo, um poder paradoxal, pois o
homem do mundo e no pode sair dele ou transcend-lo. Para Hannah Arendt,
a retirada (deliberada e sempre momentnea) do mundo e a solido caracterizam
a atividade de pensar.
Ao perguntar: "o que o pensamento faz?, Hannah Arendt responde:
ele descobre ou cria 'significado Mas, por seu lado, "significado, quando
vislumbrado, no uma resposta segura. uma vez que a atividade de pensar no
deixa nada de tangvel para trs de si. Vista da perspectiva do mundo das
aparncias e das atividades por ele condicionadas, a principal caracterstica das
atividades espirituais a sua invisibilidade. Elas nunca aparecem, embora se
manifestem para o ego pensante, volitivo ou judicativo, percebendo-se ativo,
embora lhe falte a habilidade ou a urgncia para aparecer como tal.
Scrates usa a metfora do vento para explicar a atividade de pensar:
Os ventos so eles mesmos invisveis, mas o que eles fazem mostra-se a ns e,
de certa maneira, sentimos quando eles se aproximam. Para Hannah Arendt,
Scrates o modelo do puro pensador talvez o mais puro do Ocidente, como
M. Heidegger uma vez o chamou. A razo disso que, durante toda a vida e
mesmo na morte, este filsofo exps aos ventos do pensamento e no buscou
para si nenhum refgio das tempestades fortes.' Alis, para Lebrun, essa
reabilitao do socratismo constitui o centro do livro A Vida do Esprito, e em
funo dessa que Hannah Arendt delimita o conceito de pensamento de que
necessita para sua demonstrao.
Trs coisas fascinaram Hannah Arendt na semelhana socrtica do
vento com o pensamento.
Primeiro: a aparente inutilidade do pensamento no sentido de que
ele no tem resultados. A esse respeito, ele bem distante da poltica. O
pensamento como a teia de Penlope, tecida durante toda a noite para
desmanchar na manh seguinte. Esse pensamento do tipo meditativo para
Hannah Arendt paradigmtico em contraste com o do tipo deliberativo e o
calculista nunca chega a lugar nenhum. O exerccio do pensa mento constitui para
si o seu prprio fim: o pensamento no produz nenhum resultado final que
sobreviva atividade. Assim, a sua melhor imagem no o movimento retilneo,
que termina em algum ponto mas o crculo e o movimento circular, sem
comeo nem fim.
Segundo: o que a meditao faz, por outro lado, paralisar-nos
temporariamente, fazendo parar qualquer coisa que estivermos fazendo para agir
sobre ns, segundo a metfora socrtica,' como a arraia-eltrica que paralisa
seus interlocutores e a si mesma por levantar simples questes que nenhum
deles poderia responder sem auto-contradio.
A paralisia induzida pelo pensamento dupla: ela inerente ao parar
para pensar, interrompendo todas as atividades e pode ter tambm um efeito
atordoante; depois que a deixamos, sentimo-nos inseguros sobre o que nos
parecia acima de qualquer dvida. No entanto, aquilo que, do lado de fora, visto
como paralisia (do ponto de vista da aparncia) sentido como o mais alto grau
de atividade.
Terceiro: a despeito da falta de resultados e da paralisia por ele
induzida, o pensamento exerce um efeito na vida interior que momentneo,
embora perigoso. Aqueles que se engajam nisto so transportados do mundo
das aparncias para o mundo invisvel das idias, onde as fidelidades prvias a
cdigos de conduta so gradualmente dissolvidas, e todas as coisas estveis so
postas em movimento, abrindo as questes. Em suma, o pensamento nos faz
cientes de outra ordem da realidade diferente daquela que tnhamos antes de
pensar, tomada da experincia sensvel e de nossos semelhantes.
Ele desestabiliza todos os critrios estabelecidos, valores e medidas
de bem e de mal, pois ele tem o poder de dissolver toda certeza. Por isso Hannah
Arendt diz: 'No h pensamentos perigosos; o prprio pensamento perigoso, e
este perigo surge do desejo de encontrar resultados que dispensariam o pensar.
Seu aspecto mais perigoso, do ponto de vista do senso comum, que o que era
significativo durante a atividade do pensamento, dissolve-se no momento em que
se tenta aplic-lo vida cotidiana.
Se, "na prtica, pensar significa que temos que tomar novas decises
cada vez que somos confrontados com alguma dificuldade,' o pensar significa,
ento, sempre um novo comeo, um apropriar-se, do homem, de sua prpria
essncia que a do fui (Agostinho). Se o pensar sempre um incio, o produto do
pensamento , ento, sempre uma novidade. Fica aqui patente como a idia de
novidade, que percorre todo o pensamento arendtiano sobre a ao humana,
atinge tambm, dessa forma, a vida do esprito.
Onde ns estamos quando pensamos? Para Hannah Arendt, o lugar
do homem que pensa oposto ao do homem que age. A retirada deliberada do
mundo das aparncias, do mundo do senso comum, a condio subjetiva para
pensar. Mas a retirada do mundo das aparncias acompanhada por um retorno
em direo a si mesmo.
Assim, faz parte da herana humana comum essa condio paradoxal
do ser humano que pode se isolar desse mundo de aparncias sem, contudo, ser
capaz de deix-lo ou transcend-lo. A estranha invisibilidade do pensamento se
ope eminente e resplandecente visibilidade da ao. Hannah Arendt observa
que, historicamente, esse tipo de retirada do agir a mais antiga condio
postulada para a vida do esprito; em sua forma original, funda-se na descoberta
de que somente o espectador, e nunca o ator, pode conhecer e compreender o
que quer que se oferea como espetculo.
E qual o lugar do ego pensante? Hannah Arendt responde que, da
perspectiva do mundo cotidiano das aparncias, em lugar nenhum. Se
respondida, na perspectiva do tempo, a resposta : na lacuna entre o passado e o
futuro, e essa lacuna s se abre na reflexo, cujo tema aquilo mesmo que est
ausente ou porque j desapareceu ou porque ainda no apareceu.
A reflexo traz essas regies ausentes presena do esprito, porque
todo ato mental repousa sobre a faculdade que o esprito tem de ter em sua
presena o que est ausente para os sentidos. A representao tambm
caracteriza a vida do esprito; e o pensar tem uma prioridade sobre os outros atos
mentais: ele deve preparar os dados oferecidos aos sentidos a fim de que esse
seja capaz de os considerar em sua ausncia. A representao deve
"dessensoriaiz-los' A primeira etapa do processo de "dessensorializao se
refere imaginao, rapacidade para transformar objetos sensveis em
imagens ou "faculdade das intuies fora da presena dos objetos, segundo a
definio kantiana. Sem essa faculdade, que torna presente o que est ausente,
no se processa nenhum pensamento.
Mas o pensamento, que est alm da privacidade de cada um, s
pode ser conhecido atravs de sua expresso na linguagem. As atividades
mentais invisveis e ocupadas com o invisvel tornam-se manifestas somente
atravs da palavra, pois, "seres pensantes tm o mpeto de falar, seres falantes
tm o mpeto de pensar! mplcita no mpeto da fala est a busca de significado e
no, necessariamente, a busca da verdade.
O pensar tem o objetivo de comunicar consigo mesmo, e comunicao
ao no mundo. Ningum negar a retirada do pensamento do mundo das
aparncias e o retorno cm direo a si mesmo; mas o contra-movimento visvel, a
expresso oral, pertence a ele por natureza.
Para Kant, a linguagem metafrica o nico modo pelo qual a razo
especulativa, que aqui chamamos pensamento, pode se manifestar! A metfora
fornece ao pensamento abstraio' e sem imagens uma intuio colhida do mundo
das aparncias, cuja funo a de 'estabelecer a realidade de nossos conceitos,
como que desfazendo a retirada do mundo, pr-condio para as atividades do
esprito. A metfora faz a ponte invisvel sobre o abismo do invisvel e o mundo
das aparncias.
Para Hannah Arendt, "todos os termos filosficos so metforas,
analogias congeladas, cujo verdadeiro significado se desvela quando dissolvemos
o termo em seu contexto original(...)". Continuando, 'a linguagem, prestando-se ao
uso metafrico, torna-nos capazes de pensar, isto , de ter trnsito em assuntos
no sensveis, pois permite uma transferncia (METAPHEREN) de nossas
experincias sensveis".
Se por um lado ns nos encontramos retirados e na solido quando
pensamos, por outro, no estamos isolados. Como sabemos, Hannah Arendt
adotou a famosa definio de Plato sobre o pensamento: 'O dilogo silencioso
de mim comigo mesmo.
Mas essa definio foi compreendida por ela em termos da experincia
de Scrates da estranha diviso em sua vida interna no fato dele ser,
paradoxalmente, um "dois-em-um, que , para ele, a essncia do pensamento.
Scrates era ciente da diferena entre conscincia e ego pensante, pois ele
percebia que o pensamento introduz unia dualidade na identidade.
Se lhe perguntssemos: de que serve pensar em alguma coisa? ele
diria que era, simplesmente, para tentar no se contra dizer, para manter-se em
consonncia com o espectador (ou o juiz) que nele residia, com "o parceiro que
aparece quando estamos ss.
Existencialmente, o pensamento um "estar s, mas no solido; o
estar s a situao em que me fao companhia. J a solido ocorre quando
estou sozinho, mas incapaz de dividir-me no dois-em-um, incapaz de fazer-me
companhia.
Para Hannah Arendt, 2o &ato de "ue o estar s(% en"uanto dura a
ati*idade do pensar% trans&orma a mera consci;ncia de si H "ue pro*a*elmente
compartilhamos com os animais superiores H em uma dualidade tal*e! a
indica#$o mais con*incente de "ue os homens e>istem essencialmente no plural'
E essa dualidade do eu comigo mesmo "ue &a! do pensamento uma *erdadeira
ati*idade na "ual sou ao mesmo tempo "uem pergunta e "uem responde'2
A realizao, especificamente humana, da conscincia no dilogo
pensante de mim comigo mesmo sugere que a diferena e a alteridade,
caractersticas to destacadas do mundo das aparncias tal como dado ao
homem, seu habitat em meio a uma pluralidade de coisas, so tambm as
mesmas condies da existncia do ego mental do homem, j que ele s existe
na dualidade. O pensar no dilogo silencioso, mas um dilogo antecipado com
os outros, e esta a razo de ser essencialmente polmico. Essa forma de
pensamento dialgico no necessita "(...) de pilares ou arrimos, padres ou
tradies, para se mover livre e sem muletas por terrenos desconhecidos ".
A conscincia no o mesmo que o pensamento; os atos da
conscincia tm em comum com a experincia dos sentidos o fato de serem atos
"intencionais e, portanto, cognitivos, ao passo que o ego pensante no pensa
alguma coisa, mas sobre alguma coisa e este ato dialtico: ele se desenrola sob
a forma de um dilogo silencioso. Sem a conscincia, no sentido da conscincia
de si mesmo, o pensamento seria impossvel. "Do mesmo modo que a metfora
preenche a lacuna entre o mundo das aparncias e as atividades do esprito que
ocorrem dentro dele, o dois-em-um socrtico cura o estar s do pensamento; sua
dualidade inerente deixa entrever a infinita pluralidade que a lei da Terra.
O critrio do dilogo espiritual no a verdade; o nico critrio do
pensamento socrtico a conformidade o ser consistente consigo mesmo, O seu
oposto, o estar em contradio consigo mesmo, de fato significa tornar-se seu
prprio adversrio. Para Scrates, a dualidade do dois-em-um significa apenas
que quem quer pensar precisa tomar cuidado para que os parceiros do dilogo
estejam em bons termos, para que eles sejam amigos.
Hannah Arendt recorre aqui a um dilogo socrtico onde h uma
afirmao clara, que ilustra bem o dois-em-um.' Scrates diz a Hpias que, ao
voltar para casa, aguardado por um sujeito muito irritante que vive a interrog-lo.
Fe diz: "Ele meu parente prximo e vive na mesma casa.J Hpias um sujeito
afortunado porque, quando volta para casa, permanece uni, pois embora viva s,
no busca fazer-se companhia. No que, certamente, Hpias perca a
conscincia, s que ele no costuma exercit-la. Quando Scrates vai para casa,
ele no est solitrio, est junto a si mesmo. Evidentemente, Scrates tem que
entrar em alguma espcie de acordo com o sujeito que o espera, j que eles
vivem sob o mesmo teto, O que Scrates descobriu que podemos ter interao
com ns mesmos, bem como com os outros, e os dois tipos de interao esto de
alguma maneira relacionados.
Para Hannah Arendt, o pensamento pode tornar-se "dialtico e crtico
justamente porque consiste nesse dilogo rpido e silencioso de pergunta e
resposta entre "amigos, cuja nica regra a "regra da coerncia, a exigncia de
que o pensador no seja contraditrio. Essa a chave para a com preenso das
implicaes prticas do pensamento que no se referem quilo que se pensa,
mas ao prprio carter dia- lgico da atividade de pensar: para que se possa
pensar, preciso cuidar "para que os parceiros do dilogo estejam em bons
termos.
A conscincia moral, tal como a entendemos em assuntos morais ou
legais, observa Hannah Arendt, "L.) est, supostamente sempre presente em ns,
assim como a mera conscincia, E essa conscincia moral, supostamente nos diz
o que fazer e do que se arrepender; antes de se tornar o lumen naturale, ou a
razo prtica de Kant, ela era a voz de Deus.
A autora identifica este acordo de uma pessoa consigo mesma com o
imperativo categrico de Kant. Pois, subjacente ao imperativo "Aja apenas
segundo uma mxima tal que voc possa ao mesmo tempo querer que ela se
torne uma lei universal est a ordem "no se contradiga. Devemos concluir,
da, que Hannah Arendt reduz o "pensamento conscincia da lei moral? No.
De acordo com Lebrun, antes fonte da lei moral que ela pretende fazer-nos
remontar exigncia solitria e espontnea que desabrochar na MoralitPt.
Assim, para este ltimo, "C..) o pensamento a condio, em cada pessoa, para
o exerccio da razo prtica: bastar viver este pensamento no dia-a-dia,
humildemente, ironicamente, assim tornando manifesta a sua finalidade prtica.
O pensamento, em seu sentido no-cognitivo, como uma necessidade
natural da vida humana, como a realizao da diferena dada na conscincia, no
uma prerrogativa de poucos, mas uma faculdade sempre presente em todo
mundo; do mesmo modo, a inabilidade de pensar no uma imperfeio
daqueles muitos a quem falta inteligncia, mas uma possibilidade sempre
presente para todos incluindo a os cientistas, os eruditos e outros especialistas
t'm tarefas do esprito. Todos podemos vir a nos esquivar daquela interao com
ns mesmos, cuja possibilidade concreta e cuja importncia Scrates foi o
primeiro a descobrir, O pensamento acompanha a vida e ele mesmo a essncia
desmaterializada do estar vivo, tina vida sem pensamento possvel, mas ela
fracassa em fazer desabrochar a sua prpria essncia ela no apenas sem
sentido; ela no totalmente viva, Homens que no pensam so como
sonmbulos.
Depois de termos visto como o pensamento abordado, na concepo
arendtiana, passaremos a tratar, agora, da possibilidade de sua no-utilizao
dentro da experincia humana e as implicaes ticas e polticas advindas desse
fato. Referimo-nos no-utilizao, pois seria inadequado falar em ausncia ou
privao de pensamento, desde que essa faculdade, como j marcamos
anteriormente, no prerrogativa de alguns, mas um atributo essencial do ser
humano. Tal qual a faculdade de pensar est sempre presente em todos, tambm
a inabilidade de pensar no prerrogativa de alguns, mas sim a possibilidade,
sempre presente em todos, de esquivar- se da interao consigo mesmo.
O $AOIO DE PEN!AMENTO
Duas questes se colocam como ponto de partida na discusso sobre
o que Hannah Arendt batizou como "vazio de pensamento. Primeiramente, para
poder se pensar o "vazio de pensamento, necessrio interrogarmos sobre seu
significado. Em seguida, sobre suas implicaes ticas e polticas.
Para respondermos primeira questo, importante observar que o
termo "vazio de pensamento no se encontra suficientemente delimitado e nem
localizado especificamente na obra de Hannah Arendt. M:is ele pode ser
destacado sempre apresentando as seguintes caractersticas: encontra-se
salpicado em diversos pontos de sua reflexo sobre o mal com os nomes de
ausncia de pensamento, "superficialidade e 'irreflexo e se acha sempre
associado banalidade do mal. Alm disso, como um vazio, um negativo, ele no
definido por si, mas a partir de seu positivo: o pensar. J que o que Lemos em
mos so essas trs caractersticas, passaremos ento a segui-las como pistas
para se chegar a uma possvel descrio do fenmeno. Com isso no queremos,
evidentemente, esgotar a significao do conceito arendtiano mas, sim, fazer uma
leitura particular desse conceito dentro do contexto em que ele sempre aparece: o
da banalidade do mal.
Mas o que exatamente esse vazio? Como o "vazio de pensamento
se associa "banalidade do mal'?
Pensar sobre um "vazio de pensamento implica pensar sobre uma
falta, um no ser. Mas no nosso objetivo perguntar sobre sua realidade
ontolgica, mas sobre o seu significado. A propsito disso, Hannah Arendt
observa que Scrates'' (em quem ela parece se apoiar) no trata explicitamente
do mal. Em seus dilogos, o feio e o mal excluem-se, embora possam, de vez em
quando, surgir como deficincias, corno falta de beleza, de justia e como mal, na
qualidade de falta de bem.
sso significa que, para o filsofo, esses temas no tem razes em si,
no apresentam nenhuma essncia que o pensamento possa apreender.
Tambm para Hannah Arendt, o mal no pode ser feito voluntariamente, em
funo de seu estatuto ontolgico; mas consiste em uma ausncia, em algo que
no . Se o pensamento dissolve conceitos normais e positivos at encontrar seu
sentido original, o mesmo processo dissolve conceitos negativos (como o mal, a
feiura) at encontrar sua falta de sentido original, at o nada. A propsito, essa
opinio de que o mal naf) passa de privao, negao ou exceo regra no
exclusiva de Scrates; trata-se de uma opinio quase unnime entre os
pensadores (Agostinho, Leibniz, Hegel).
Uma segunda considerao deve ser feita sobre o vazio. Se o pensar
uma atividade prpria do homem, de qualquer um e no uma prerrogativa de
poucos, no existe, por isso, a possibilidade de um no-pensar absoluto; deve-se
considerar, ento, o no-pensar como relativo, contingencial. Tambm no se
pode considerar um no-pensar natural, como algo que se d na espontaneidade
do homem, j que o espontneo , exatamente, a atividade de pensar. Assim, o
no-pensar uma experincia humana artificial, algo forjado pelas contingncias.
Por isso mais adequado perguntar: a quais contingncias pode-se atribuir o
vazio de pensamento? e qual o seu significado nesse contexto?
Retomemos, ento, a reflexo arendtiana, quando esta nos aponta a
faculdade de pensar como uma atividade que est sempre presente em todos
ns. Segundo ela, "para o filsofo, o homem muito naturalmente no apenas
verbo, mas pensamento feito carne, a encarnao sempre misteriosa, nunca
totalmente elucidada da capacidade do pensamento. Em decorrncia disso,
Hannah Arendt nos remete a Kant quando este se refere necessidade da razo
e lhe az um elogio, pois, segundo ela, Kant, diferentemente de todos os filsofos,
aborrecia-se com a opinio corrente de que a filosofia apenas para uns poucos,
principalmente pelas implicaes morais dessa idia.
Ainda dentro do mesmo argumento, se o pensamento uma atividade
que tem seu fim em si mesmo, e se a nica metfora da nossa experincia
sensorial comum que a ele se adequa a sensao de estar vivo, ento "(...)
pensar e estar completamente vivo so a mesma coisa, e isto implica que o
pensamento tem sempre que comear de novo; uma atividade que acompanha
a vida (...)" O que se pode dizer, a partir disso, que unia vida sem pensamento
seria uma vida sem sentido. Sobre isso, Hannah Arendt cita Scrates, quando ele
afirma: No vale a pena viver uma vida sem reflexo e conclui: "O pensar
acompanha o viver.
Scrates d a essa busca o nome de Eros, um tipo de amor que ,
antes de tudo, uma falta deseja o que no possui. Se o pensar uma atividade
inerente vida humana e lhe confere sentido, conclumos ento que a
possibilidade do "vazio de pensamento seria, logo de incio, uma ao humana
moralmente degenerada, pois desrespeitaria a prpria necessidade humana.
Diante dessa concluso o "vazio de pensamento uma atividade
humana pervertida. Voltamos a nos interrogar a respeito das implicaes ticas e
polticas dessa questo. Quais as contingncias histricas e polticas que
possibilitam a experincia humana do "vazio de pensamento'? Baseados nas
reflexes que fizemos at aqui, ao tentarmos seguir a trajetria do pensamento
arendtiano, resgataremos os pontos que nos parecem significativos para o
reconhecimento dessa experincia. importante relembrarmos que o pano de
fundo dessa reflexo o totalitarismo, e o "ponto de conexo a banalidade do
mal. Articularemos, ento, essa reflexo em torno de dois parmetros: a perda do
senso comum e a ideologia do movimento.
Vimos, anteriormente, que a principal caracterstica do "homem de
massa, e sobre a qual o totalitarismo se apia elegendo-a como condio sine
"ua non do seu sucesso, o isolamento e a falta de relaes sociais normais. O
totalitarismo, apoiando-se em uma massa atomizada, procura torn-la sempre
mais atomizada e amorfa; massa de indivduos isolados, annimos, sem
interesses pessoais, sem poder, pois homens isolados sem interesses em comum
no tm nenhum poder.
Nesse contexto, o senso comum uma categoria capital para a
reflexo sobre o fato poltico, porque ele , precisamente, o contrrio do
isolamento que age sobre a via da aniquilao da esfera poltica. Aqui o senso
comum se caracteriza como o sentido do real, condicionando o indivduo a se
relacionar com a realidade do mundo em que vive, a domin-la, julg-la, a se
adaptar, a modific-la, enfim, de ser ele. Assim, a dominao totalitria passa pela
destruio desse sentido da realidade, dessa faculdade que se apia na presena
do outro.
Por outro lado, a propaganda totalitria explora o desejo de escapar da
realidade que as massas tm, pois elas so desenraizadas, desorientadas, e o
mundo em torno parece- lhes incompreensvel, sem sentido. Por isso o homem de
massa foge da realidade. A propaganda totalitria pode-se permitir insultar o
senso comum tirando-lhe o valor, pois sua fora repousa sobre a capacidade de
interditar s massas o real.
E essa total separao da realidade, vivida pelas massas, s
possvel porque elas crem, simultaneamente, em tudo e em nada, porque
pensam que tudo possvel, e nada verdadeiro, O homem isolado na massa,
privado do sentido do real por causa desse isolamento, no tem mais a medida
para julgar um discurso; no interior do movimento totalitrio, as palavras do Chefe
"no podem ser desmentidas pela realidade. Em suma, o objetivo do movimento
totalitrio eliminar a capacidade de distinguir a verdade da falsidade, a realidade
da fico, ou seja, abolir a capacidade de "sentir em comum e pensar por si
mesmo.
O senso comum o que nos d acesso ao real, e a realidade
apreendida por nossos sentidos garantida pela segurana constante com que os
outros percebem e manipulam os mesmos objetos, num mundo em que nos
percebemos em comum. Sem essa garantia o real se esvaece, d lugar fico e
d espao crena de que tudo possvel. Somente o senso comum vivaz, a
percepo e a ao em comum num mundo compartilhado podem resistir a essa
eliminao da objetividade do mundo real. Para Hannah Arendt, o senso comum
ocupa o lugar mais elevado na hierarquia das qualidades polticas, porque ele a
nica caracterstica que nos permite medir a realidade, sendo comum a todos.
Numa coletividade dada, uma diminuio notvel do senso comum ,
pois, um sinal quase infalvel de alienao em relao ao mundo. importante
notar que essa atrofia do senso comum, no sculo XX, no se atribui somente ao
totalitarismo, mas ela se enraza mais profundamente na tradio ocidental. Em A
6ondi#$o Aumana Hannah Arendt mostra como a alienao em relao ao
mundo e o "desaparecimento do senso comum caracterizam a modernidade.
Se o senso comum o ponto de partida para a realizao do
pensamento, a sua eliminao j traz, de incio, a impossibilidade do pensar. O
pensamento se retira do mundo das aparncias, do mundo do senso comum,
momentnea e deliberadamente, e retorna a ele para julgar os dados concretos,
recuperando o senso comum, a realidade de um mundo compartilhado pela
pluralidade dos homens. Enquanto o pensamento a atividade que busca o
significado, que d sentido ao mundo no qual ns aparecemos, o julgamento
opera o retorno aos objetos dos sentidos que se referem ao mundo real. Ele
ancora o pensamento ao real. O senso comum , ent ponto de partida e ponto de
chegada do pensamento.
Finalmente, podemos dizer que atravs da desvalorizao do senso
comum (o senso do real) estimulada pela propaganda totalitria e possibilitada
pela condio de isolamento do homem de massa que o vazio de pensamento
se torna uma realidade.
Passemos ento anlise do segundo parmetro, para se pensar as
contingncias em que se d o "vazio de pensamento: a ideologia do movimento.
O totalitarismo uma ideologia em que tudo movimento e em que tudo possvel.
O regime totalitrio pode ser descrito como uma obsesso de movimento. De fato,
esse regime vive em estado de requisio permanente, forando uma marcha
constante para a frente, e toda tentativa de estabilizao deve ser sufocada na
origem. Como j vimos no Captulo l, no Estado totalitrio o movi mento se
encontra erigido como princpio absoluto.
Voltemos ento a Eichmann nosso paradigma para se pensar o
homem de massa. Ao se referir organizao burocrtica nazista, assim se
expressa: "(..) tudo estava sempre em um estado de contnuo fluxo, uma corrente
constante. Se todo pensar exige um pare-e-pense, tal movimento permanente
incompatvel com a atividade de pensar. Nessa pausa onde o homem pode
suspender, provisoriamente, seus juzos de valor e suas certezas prvias, "parar-
para-pensar o primeiro ato de resistncia a uma imposio externa, a uma
exigncia de obedincia. exatamente nessa parada, momentnea mas decisiva,
que o homem pode comear a realizar sua autonomia. E esse fluxo contnuo, que
interdita qualquer parada, qualquer pensamento, tem como objetivo, exatamente,
o automatismo em que os homens deixam de interrogar para, prontamente,
obedecer.
Em decorrncia disso, como o pensar no produz resultados prticos,
ele passa a ser desprezado, pois a multido quer ver resultados imediatos. Alm
de no produzir resultados, o pensamento faz dissolver todas as verdades
previamente estabelecidas, por isso se diz que ele perigoso. O pensamento
'fora de ordem no s porque interrompe todas as demais atividades necessrias
para os assuntos vitais e para a manuteno da vida, mas tambm porque inverte
todas as relaes habituais. Disso resulta que a ausncia de pensa mento, ao
proteger os indivduos contra os perigos da investigao, ensina-os a aderir
rapidamente a tudo o que as regras de conduta possam prescrever em
determinada poca para uma determinada sociedade essa ausncia induz ao
conformismo. Essas so contingncias que obrigam o homem a no-pensar e, ao
mesmo tempo, a se submeterem.
Pensemos ento como estes pontos aqui arrolados organizados
sucessivamente, interditam, a cada passo, a espontaneidade do homem na
atividade de pensar. Primeiramente, h uma supresso do senso comum
interditando o contato com a realidade; a seguir, uma impossibilidade de se "parar
para-pensar, engolida por uma ideologia do movimento e, finalmente, a induo
ao conformismo. Com a experincia desse percurso, o homem passa condio
de "ser que no pensa, a um autmato, sem memria, sem identidade e sem
responsabilidade. Nesse contexto de deteriorao humana, dissolvem-se os
parmetros de bem e de mal, de certo e de errado, de justo e injusto; o homem
no pensa e no julga, s age, indiferentemente, como um "instrumento do mal,
como nos fala Kant Nessa situao extrema e perversa o homem , ao mesmo
tempo, vtima e instrumento desse mal.
Este , pois, o contexto no qual aparece a banalidade do mal. E o
Estado totalitrio favorece o vazio de pensamento, na medida em que tenta
preencher este vazio forjado artificialmente com a sua ideologia. Na
verdade, um falso vazio, porque est recoberto com o pensamento ideolgico.
Este esvaziamento do pensar, operado pela ideologia, produz a indiferena ao
mal, permitindo aos governantes totalitrios, alm da transmutao das
percepes histricas de bem e mal, a inverso total do quadro de valores de uma
sociedade. Hannah Arendt nos lembra que esses governantes conseguiram
inverter os mandamentos bsicos da moral ocidental: "No matars, no caso da
Alemanha de Hitler e "No levantars falso testemunho, na Rssia de Stalin.
Mais outra considerao se faz necessria ao se analisar a atividade
de pensar, na sua implicao tica e poltica. Podemos questionar se a faculdade
de distinguir o que bom e o que mal estando em relao com nossa capa
cidade de pensar seria a condio suficiente para a garantia de no se fazer o
mal.
nicialmente, podemos afirmar que condio necessria, mas no
suficiente. sso porque o pensamento no cria valores, ele no pode descobrir o
que "o bem e no confirma as regras aceitas de conduta; mas, antes, dissolve-
as. Se h algo no pensamento que possa impedir os homens de fazer o mal, esse
algo alguma propriedade inerente prpria atividade, independentemente dos
seus objetos.
Hannah Arendt nos adverte mostrando que ao transcendermos os
limites do prprio tempo de vida e comearmos a refletir sobre o passado
(julgando-o) e sobre o futuro (formando projetos da vontade), o pensamento deixa
de ser uma atividade politicamente marginal. E essas reflexes surgem sempre
em emergncias polticas, quando aqueles que pensam so forados a mostrar-
se e, com isso, se diferenciam daqueles que se deixam levar, impensadamente,
pelos outros. Nessas circunstncias, a recusa em aderir torna-se patente e, por
isso, passa a ser um tipo de ao. Em tais emergncias, entra em jogo o
elemento depurador do pensamento (a maiutica socrtica) que
necessariamente poltico.
Para Hannah Arendt, esse elemento traz tona as implicaes de
opinies no examinadas e, portanto, as destri valores, doutrinas, teorias e
at mesmo convices. Essa destruio tem um efeito liberador sobre outra
faculdade a faculdade do juzo que podemos chamar de a mais poltica das
capa cidades espirituais humanas. Ela a capacidade que julga particulares sem
subsumi-los a regras gerais.
Essa faculdade, tal como foi revelada por Kant, no igual faculdade
de pensar. Enquanto o pensamento lida com invisveis, com representaes de
coisas que esto ausentes, o juzo sempre se ocupa com particulares e coisas
que esto prximas. Apesar de distintas, as duas faculdades esto
interrelacionadas, do mesmo modo como a conscincia moral e a conscincia. O
juzo o derivado do efeito liberador do pensamento. Ele realiza o prprio
pensamento, tornando-o manifesto no mundo das aparncias. A manifestao da
invisibilidade do pensamento no o conhecimento, mas a habilidade de
distinguir o certo do errado, o belo do feio.
Atravs do julgamento, resgata-se o senso comum, a realidade de um
mundo partilhado pela pluralidade dos homens. O julgamento, ao contrrio do
pensamento, imparcial, mas no independente do ponto de vista dos outros.
Atravs do que Kant chama de "mentalidade alargada, o julgamento leva em
conta o que o "outro pensa. Pensar com a mentalidade alargada significa treinar
a imaginao para visitar os outros, ou seja, mover-se em um espao
potencialmente pblico.
Aqui est, pois, a ligao entre a faculdade de pensar e a atitude de
distinguir o bem do mal, a mesma que havia sugerido a ausncia conjunta dessas
duas capacidades em Eichmann. O julgamento o que reconcilia pensamento e
senso comum. nseparveis, senso comum e julgamento constituem a dobradia
que articula a vida ativa e a vida espiritual do homem, sua vida poltica e sua vida
solitria. "Faculdade do esprito e somente atravs dela a ao tem sentido por
uni lado, sentido que permite ancorar o pensamento ao real, por outro lado.
Conclumos que existe uma ordem de prioridades entre as atividades
do esprito. O pensar, "C..) embora incapaz de mover a vontade ou de prover o
juzo com regras gerais, deve preparar os particulares dados aos sentidos de tal
modo que o esprito seja capaz de lidar com eles na sua ausncia, ele deve
desensorializ-los. A faculdade de julgar que apenas a capacidade que tem o
pensar por si mesmo e, como tal, atividade solitria, apoiada nos objetos
invisveis de retornar, enriquecido por seu momento de isolamento do mundo
comum, aos objetos e acontecimentos prximos, sensveis, isto , presentes a
cada um. Julgar relacionar seu pensamento aos objetos do senso comum.
Por outro lado, Hannah Arendt observa que a filosofia no se ocupa
com particulares, nem com as coisas dadas aos sentidos, mas com universais,
com coisas que no podem ser localizadas. Seria um grande erro procurar tais
universais em assuntos poltico-prticos que sempre tratam de particulares. A
ao se exerce sobre particulares e apenas afirmaes particulares podem ser
vlidas no campo da tica ou da poltica. nesse quadro de referncia que o
tema do juzo pode ser visto como sendo de essencial importncia para o
pensamento arendtiano, j que uma questo filosfica de implicaes polticas
imediatas.
Embora no seja nosso objetivo discorrer aqui sobre o tema do juzo,
desde que nossa prioridade o tema do pensamento, no podemos deixar de
marcar sua importncia no pensamento poltico arendtiano. O julgar, como
culminncia do pensamento arendtiano sobre as atividades do esprito, iria
constituir a ltima parte de A Vida do Esprito, se Hannah Arendt pudesse t-la
concludo. Sobre esse tema ficaram algumas notas que apontam direes
importantes e decisivas para seu pensamento. Trata-se de uma abordagem
poltica da terceira crtica de Kant, em que "C..) sua concepo de poltico se
alarga progressiva mente a ponto de se tornar um analagon do esttico.
Tambm o tema da vontade, apesar de concludo e de constituir a
segunda parte de A Vida do Esprito, no ser abordado aqui; no entanto,
importante assinalar que "o querer considerado, por Hannah Arendt, num
contexto poltico, como espontaneidade, ruptura da ordem das razes, liberdade
verdadeira que est na raiz do agir: a vontade no livre arbtrio que escolhe
entre os objetos e delibera sobre os meios, mas o poder de comear aparecendo
como a assinatura da liberdade em ns. A vontade faculdade de originar,
faculdade de introduzir uma brecha no curso dos aconteci mentos, faculdade de
revoluo.
Finalizando, podemos reafirmar que o pensamento, reflexo sobre o
significado das coisas, uma condio necessria, mas no suficiente para se
resistir ao mal; e somente em sua relao com o juzo, que uma faculdade
prpria, ele pode efetivar sua plena realizao como capacidade de autonomia,
em contraposio ao conformismo de todos os tipos.
O MA RADICA 9 A DANAIDADE DO MA 9 O $AOIO DE
PEN!AMENTO
Tomaremos como fio condutor, para a concluso deste captulo, o nexo entre mal
radical, banalidade do mal e o vazio de pensamento na sua gravitao em torno
das questes ticas e polticas. A banalidade do mal ser o conceito central,
nosso elemento de conexo, que ir estabelecer relaes, por um lado, com o mal
radical e, por outro, com o vazio de pensamento.
Como os trs conceitos enunciados so instrumentos para se pensar a
questo do mal, questionaremos ento: como o conceito kantiano pode se
articular com os conceitos arendtianos? ou seja, quais os pontos de conexo
entre eles? Tentaremos, assim, estabelecer relaes de semelhana e de
diferena entre os pensamentos de Kant e de Hannah Arendt com relao a esse
tema.
Retomaremos uma afirmao de Hannah Arendt sobre o mal radical, a
nosso ver extremamente significativa para esta discusso. Ela diz, em carta a
Jaspers: "Eu no sei o que o mal radical, mas sei que ele tem a ver com esse
fenmeno: a superfluidade dos homens enquanto homens. Embora esta
afirmao se apresente sob a forma de uma confisso de um no saber, ela nos
parece ter uma concentrao muita alta de compreenso e sntese. Podemos
pensar que esse "no saber revela, no um desconhecimento ou incompreenso
do tema, mas, muito mais, uma identificao com a afirmao socrtica do
'apenas sei que nada sei. No estaria ai, exatamente, a confirmao da
identificao de Hannah Arendt com aquele que ela elegeu como o modelo de
pensador?
Quando ela aponta a "superfluidade dos homens enquanto homens
como o ncleo do significado do mal radical, est reconhecendo, primeiramente,
que a referncia kantiana para se pensar o problema do mal a dignidade
humana. Em segundo lugar, est se identificando com o conceito kantiano, na
formulao do seu conceito de banalidade do mal, na medida em que esse ltimo
tem, como ncleo, exatamente, a experincia contempornea da destruio da
dignidade humana atravs da transformao do homem em ser suprfluo.
Passemos agora a examinar, nesse contexto, a significao do termo
"suprfluo. O mal se realiza tanto para Kant quanto para Hannah Arendt, quando
o homem deixa de ser um fim em si mesmo, quando ele deixa de ter a primazia
sobre tudo mais e torna-se um meio, um instrumento. Sua existncia j no se
justifica por si mesma, mas se torna condicionada a um valor utilitrio, a um valor
relativo s necessidades definidas pelas contingncias histricas e polticas.
Nessa relativizao de valor a vida humana perde, tambm, seu
significado, deixando de ser necessria e essencial, para ser inconseqente e
banal. A, onde o homem destrudo em sua humanidade, a ao humana,
conseqentemente, se degenera. A ao humana, que essencialmente
caracterizada pela espontaneidade e pela possibilidade de sempre poder iniciar,
poder perene de comear e de fundar a novidade, interditada em sua prpria
fonte: a liberdade.
Tanto o tema da liberdade como o da crueldade so pontos de referncia em
comum para se pensar o problema do mal, em Kant e em Arendt. Se a concepo
de igualdade central para a dignidade humana tanto na filosofia clssica quanto
na moderna, vamos tom-la como referncia para se examinar a concepo de
homem nesses dois autores.
Para Kant, o ser humano realmente igual com respeito ao mais
fundamental, que o acesso lei moral, O ponto de vista de Kant que todo ser
racional tem, em princpio, acesso igual apreenso da lei moral; e porque todas
as outras facetas da experincia humana so infinitamente insignificantes em
relao grandeza da lei moral, os seres humanos so realmente iguais em
relao ao mais fundamental.
J para Hannah Arendt, o ser humano deve compensar suas vrias
desigualdades inatas atravs da igualdade artificial oferecida pela cidadania
poltica. O que ela diz que a experincia da isonomia contribui poderosamente
para a perspectiva da dignidade humana na medida em que, atravs dela, os
seres humanos podem compensar suas desigualdades inatas. A igualdade um
trabalho do artfice humano, motivada pelo amor liberdade poltica. sto fornece
uma discrepncia substancial entre os argumentos de Hannah Arendt e Kant.
Contudo, as duas posies no so simplesmente contraditrias como pode
parecer (isto , os seres humanos so ou no so iguais por natureza). Embora
Hannah Arendt, certa mente, no situe a nfase na lei moral que Kant claramente
faz, sua noo de que todo ser humano tem um igual apelo dignidade humana,
aperfeioada na cidadania isonmica, equivale reafirmao do igualitarismo
moral de Kant.
Para Hannah Arendt, o que impulsiona a afirmao da poltica e da
cidadania ativa no romantismo nem utopismo, mas temor e medo. A partir de
suas reflexes sobre o totalitarismo, ela v que o homem moderno tem uma
capacidade, sem precedentes, de ser como carneiro, facilmente pastoreado por
pastores cruis, ou de se tornar burocrata com 'vazios de pensamento, como
Eichmann.
Para Hannah Arendt, a vida moderna, em si mesma, um assalto
dignidade humana: atomizada, massificada e desenraizada. Toda a sua reflexo,
subseqente do fenmeno totalitrio, sobre as possibilidades de uma ao
coletiva como uma resposta a essa terrvel perspectiva com o objetivo de
identificar os meios pelos quais os seres humanos, na idade Moderna, possam
recuperar um sentido de eficcia e auto-respeito.
Liberdade e igualdade so, pois, os pontos de referncia comuns a
Hannah Arendt e Kant para se pensar o homem. Contudo, o homem de Kant
pensado, originalmente, em sua moralidade e o de Arendt, em sua ao poltica.
Passemos, ento, ao segundo ponto a ser destacado nesta reflexo
acerca do pensamento de Kant e Hannah Arendt, sobre o problema do mal. Ao
eleger o "vazio de pensamento como o ncleo do problema da banalidade do
mal, Hannah Arendt toma, como referncia, o vazio, a falta, a ausncia, enfim,
uma negatividade, para se pensar acerca do mal. Ela se refere ao pensamento de
Scrates, em quem parece se apoiar, mais uma vez, ao refletir sobre esse tema.
Comentando Scrates, diz:
2Os ob,etos do pensamento s( podem ser coisas merecedoras de
amor H bele!a% sabedoria% ,usti#a etc' O mal e a &ei<ra% "uase por de&ini#$o%
est$o e>cludos da considera#$o do pensamento' Eles podem apresentarse
como de&ici;ncias% consistindo a &ei<ra na aus;ncia de bele!a e o mal% /a/ia% na
aus;ncia de bem' Em si% n$o t;m ra!es pr(prias nem essenciais onde o
pensamento possa se &irmar' 1e o pensamento dissol*e conceitos positi*os at o
seu signi&icado original% ent$o o mesmo processo tem "ue dissol*er estes
conceitos Nnegati*osO at a sua aus;ncia de signi&icado original% isto % at o nada
C'''D2'
Na concluso, aponta que "o mal no tem estatuto ontolgico: ele
consiste em uma ausncia, um algo que no . Esse argumento corroborado
por outro, usado noutro contexto, afirmando: "Somente o bem tem profundeza e
pode ser radical. "
Se, para Hannah Arendt, o mal apenas uma negatividade, para Kant,
ele no apenas uma negatividade, mas sobretudo uma positividade. Em Kant, o
mal nasceria tanto do abandono do ato de liberdade quando o homem entrega-
se no nvel da satisfao imediata no sendo a seno ausncia, falta de uma
determinao positiva, como tambm nasceria de uma ao de confrontao com
o bem, colocando-se como a sua negao, isto , uma posio.
Neste segundo caso, da inverso das mximas, no se trata somente
de uma inverso de contedo, mas de um ato de transgresso da forma da lei, de
tal modo que o conceito de mal radical designa essa sujeio que se introduz na
liberdade. Neste sentido, passamos de uma determinao do mal, como falta ou
ausncia, no proveniente de nenhum princpio positivo, a uma segunda
significao: o fato de que o mal tem um princpio verdadeiro, cria uma posio,
sendo essencialmente positivo, enquanto se ope realmente quilo que lhe faz
face.
No entanto, este princpio positivo do qual o mal portador no
recebe, por isso, um estatuto originrio, pois ele jamais poderia definir, segundo
Kant, uma qualidade de carter do homem. Se assim fosse, ele seria elevado
para o nvel formal de um verdadeiro princpio, de uma origem: o mal seria
diablico.
neste ltimo aspecto que reside, exatamente, o ponto de
convergncia do pensamento de Hannah Arendt e de Kant. pois em ambos o mal
no tem um estatuto ontolgico. A hiptese da existncia de um princpio
originrio do mal no homem seria contraditria a um conjunto de proposies que
o definem e colocaria em jogo tanto a lei moral, em Kant, quanto a idia de ao,
em Hannah Arendt.
Concluindo, levantaremos uma questo que pensamos ser de
fundamental importncia na considerao desta abordagem do problema do mal,
como, apenas, negatividade. Quais as conseqncias tericas e prticas de se
considerar o mal apenas como vazio ou falta?
Pensamos que considerar o mal apenas como uma negatividade,
como "falia de seria urna referncia questionvel. sso porque. se o ser humano
finito, ele , a princpio, o ser da falta, da incompletude; sendo assim, o mal,
considerado apenas como "uma falta de, estaria inscrito em sua essncia e desta
forma seria justificado. O mal, neste contexto, seria um destino do homem e,
diante desta noo trgica, seramos obrigados a aceitar o argumento que
Hannah Arendt tanto repudiou: o do "Eichmann no fundo de cada um de ns.
Do ponto de vista prtico, essa restrio na viso do mal traz, como
conseqncia, importantes implicaes ticas e polticas, isto porque teramos
que justificar toda a violncia da ao humana como necessria, pois estaria
inscrita na prpria natureza do homem. E se a violncia necessria e no-
contingente, corno ficaria, ento, a questo da responsabilidade?
Ora, se admitimos que o mal no uma contingncia na condio humana, ento
j no podemos trat-lo dentro do contexto da poltica, que o reino da
contingncia na qual ele est inscrito no estatuto da liberdade. exatamente
neste deslocamento da questo do mal considerado como simples negatividade,
para a possibilidade de abord-lo, sobretudo, como uma positividade, como um
ato de liberdade humana, que est a relevncia e o vigor do conceito de mal
radical.
O pensamento kantiano da moralidade permitiu-nos passar a um
pensamento poltico do homem na histria que, por sua vez, criou conceitos que
se abrem para outra visibilidade sobre o homem. O conceito de mal radical, que
deu um passo a mais na filosofia moderna, continua sendo um instrumento atual e
pertinente para se pensar o problema do mal na tica e na poltica no mundo
contemporneo. Podemos dizer, assim, que partimos do mal radical para a ele
retornarmos ao fim deste trabalho.
.anna, Arendt
P:s9escrito
Este livro contm o relato de um julgamento, e sua fonte principal a
transcrio dos trabalhos da corte, distribuda imprensa em Jerusalm. A no
ser pelo discurso de abertura do promotor e pela apresentao geral da defesa, o
registro do julgamento no foi publicado e no de fcil acesso. A lngua da corte
era o hebraico; as matrias fornecidas imprensa eram, dizia-se, "uma
transcrio no editada e no revisada da traduo simultnea", que "no devia
ser considerada estilisticamente perfeita e isenta de erros lingusticos". Usei a
verso inglesa do comeo ao fim, exceto nos pontos em que os trabalhos eram
realizados em alemo; quando a transcrio alem continha as palavras originais,
dei-me a liberdade de fazer minha prpria traduo.
A no ser pelo discurso introdutrio do promotor e pelo veredicto final,
cujas tradues foram preparadas fora da sala do tribunal, sem recursos
traduo simultnea, nenhum dos registros deve ser considerado absolutamente
confivel. A nica verso precisa o registro original em hebraico, que no
utilizei. No entanto, todo esse material foi dado oficialmente aos reprteres para
seu uso, e, at onde sei, ainda no foi apontada nenhuma discrepncia
significativa entre o registro oficial hebraico e a transcrio. A traduo simultnea
para o alemo era ruim, mas pode-se considerar que as tradues para o ingls e
o francs eram confiveis.
Nenhuma dvida sobre a confiabilidade das fontes se aplica aos
seguintes materiais da sala do tribunal que com uma exceo. tambm
foram fornecidos imprensa pelas autoridades de Jerusalm:
1. a transcrio em alemo do interrogatrio de Eichmann pela polcia,
gravado em fita, depois datilografado. e as folhas datilogra-adas apresentadas a
Eichmann, que as corrigiu de prprio punho. Ao lado da transcrio dos trabalhos
do tribunal, este foi o documento mais importante.
2. documentos apresentados pela acusao, mais o "material legal"
distribudo pela acusao.
3. dezesseis declaraes sob juramento de testemunhas chamadas
originalmente pela defesa, embora partes de seus testemunhos fossem
posteriormente utilizadas pela acusao. Essas testemunhas eram: Erich von dem
Bach-Zelewski, Richard Baer, Kurt Becher, Horst Grell, dr. Wilhelm Htl, Walter
Huppenkothen, Hans Jiittner. Herbert Kappler, Hermann Krumey, Franz Novak,
Alfred Josef Slawik, dr. Max Merten, professor Alfred Six, dr. Eberhard von
Thadden, dr. Edmund Veesenmayer, Otto Winkelmann.
4. por fim, tive tambm minha disposio um manuscrito de setenta
pginas datilografadas, escrito pelo prprio Eichmann. Foi apresentado como
prova pela acusao e aceito pela corte, mas no divulgado imprensa. No
cabealho se l, em traduo: "Re: Meus comentrios sobre o assunto da
'questo judaica e medidas do Governo Nacional Socialista do Reich alemo com
relao soluo desse assunto durante os anos 1933 a 1945"'. Esse manuscrito
contem anotaes feitas por Eichmann na Argentina como preparao para a
entrevista dada a Sassen (veja Bibliografia).
A Bibliografia lista apenas o material que efetivamente usei. no os
inmeros livros, artigos e matrias de jornal que li e colecionei durante os dois
anos entre o rapto de Eichmann e sua execuo. Lamento essa incompletude s
no que diz respeito s reportagens de correspondentes da imprensa alem, sua,
francesa, inglesa e norte-americana, visto que tinham muitas vezes nvel bem
superior ao tratamento mais pretensioso do assunto em livros e revistas, mas
preencher essa lacuna teria sido um trabalho desproporcionalmente grande.
Contentei-me, portanto, com acrescentara Bibliografia desta edio revisada um
nmero seleto de livros e artigos de revistas que apareceram depois da
publicao de meu livro, quando eles contm mais do que uma verso requentada
da promotoria.
Entre esses, dois relatos do julgamento que com frequncia chegam
acon-cluses incrivelmente semelhantes s minhas, e um estudo das figuras
importantes do Terceiro Reich, que acrescentei agora s minhas fontes de
material de fundo. So eles: Morder undErmordete. Eichmann unddie Judenpolitik
des Dritten Reiches, de Robert Pendorf, que leva em conta tambm o papel dos
Conselhos Judeus na Soluo Final; Strafsache 40/61, do correspondente
holands Har-ry Mulisch (utilizei a traduo alem), que praticamente o nico
escritor sobre o assunto a colocar a pessoa do acusado no centro de sua
reportagem e cuja avaliao de Eichmann coincide com a minha em alguns
pontos essenciais; e finalmente os excelentes retratos dos principais nazistas em
Das Geslcht des Dritten Reiches, de T. C. Fest, recentemente publicado; Fest
muito confivel e seus juzos so sempre de nvel extremamente alto.
Os problemas enfrentados pelo autor de uma reportagem podem ser
mais bem comparados queles de quem escreve uma monografia histrica. Em
ambos os casos, a natureza do trabalho exige uma distino deliberada entre o
uso dos materiais primrio e secundrio. Fontes primrias s podem ser usadas
no tratamento de assuntos especiais neste caso, o julgamento em si ,
enquanto o material secundrio utilizado para tudo o que constitui o pano de
fundo histrico. Assim, mesmo os documentos que citei eram, com pouqussimas
excees, apresentados como provas no julgamento (em cujo caso constituam
fontes primrias) ou foram tirados de livros srios sobre o perodo em questo.
Como se pode ver pelo texto, utilizei The Final Solution, de Gerald Reitlinger, e
recorri ainda mais a The Destruction of the European Jews, de Raul Hilberg, que
foi publicado depois do julgamento e constitui o mais exaustivo e solidamente
documentado relato das polticas judaicas do Terceiro Reich.
Mesmo antes de sua publicao, este livro se tornou foco de
controvrsia e objeto de uma campanha organizada. Nada mais natural que a
campanha, levada a cabo por bem conhecidos meios de fabricao de imagem e
manipulao de opinio, tenha tido muito mais ateno que a controvrsia, de
forma que esta ltima foi um tanto engolida e sufocada pelo barulho artificial da
primeira. sso ficou especialmente claro quando uma estranha mistura das duas,
em palavreado quase idntico como se as coisas escritas sobre o livro (e mais
freqentemente sobre sua autora) sassem de "um mimegrafo" (Mary McCarthy)
, foi levada dos Estados Unidos para a nglaterra e depois para a Europa, onde
o livro ainda no estava disponvel. Tudo isso foi possvel por causa do clamor
centralizado ria "imagem" de um livro que nunca foi escrito e que supostamente
versava sobre assuntos que muitas vezes no s no foram mencionados por
mim, mas que nunca me ocorreram antes.
O debate se disso se tratava no foi de modo algum despido de
interesse. Manipulaes de opinio, na medida em que so inspiradas em
interesses bem definidos, tm objetivos limitados; seu efeito, porm, se acontece
de tocarem num assunto de autntico interesse, escapa a seu controle e pode
facilmente produzir conseqncias nunca previstas ou tencionadas. Hoje parece
que a era do regime de Hitler, com seus crimes gigantescos e sem precedentes,
constituiu um "passado indomado" no apenas para o povo alemo ou para os
judeus do mundo inteiro, mas tambm para o resto do mundo, que tampouco
esqueceu essa grande catstrofe no corao da Europa, e tambm no
conseguiu aceit-la. Alm disso e isso foi talvez o mais inesperado ,
questes morais gerais, com todo seu intrincamento e complexidades modernas,
que nunca suspeitei que fossem assombrar as mentes dos homens de hoje e
pesar tanto em seus coraes, repentinamente passaram para o primeiro plano
da opinio pblica.
A controvrsia comeou chamando ateno para a conduta do povo
judeu durante os anos da Soluo Final, na trilha da questo, levantada pela
primeira vez pelo promotor israelense, quanto a saber se os judeus podiam ou
deviam ter se defendido. Eu havia descartado a questo como tola e cruel, porque
atestava uma fatal ignorncia das condies da poca. Ela agora foi discutida at
a exausto, chegando-se s mais incrveis concluses. A bem conhecida
inveno histrico-sociolgica da "mentalidade de gueto" (que em srael assumiu
seu lugar nos livros de histria e que neste pas vem sendo adotada
principalmente pelo psiclogo Bruno Bettelheim levantando um furioso protesto
do judasmo oficial norte-americano) vem sendo usada insistentemente para
explicar um comportamento que no se limitava ao povo judeu e que, portanto,
no pode ser explicado por fatores especificamente judeus.
Proliferaram as sugestes at que algum, evidentemente achando a
discusso muito tediosa, teve a brilhante idia de evocar teorias freudianas e
atribuir a todo o povo judeu um "desejo de morte" inconsciente, claro. Essa
foi a inesperada concluso a que certos crticos escolheram chegar sobre a
"imagem" de um livro criada por certos interesses grupais no qual eu teria
dito que os judeus haviam matado a si mesmos. E por que eu teria dito uma tal
monstruosa e implausvel mentira? Por "auto-dio" sem dvida.
Desde que o papel da liderana judaica veio baila no julgamento, e
desde que eu o comentei, foi inevitvel que ele fosse discutido. sso, em minha
opinio, era uma questo sria, mas o debate pouco contribuiu para seu
esclarecimento. Pelo que se pode concluir do recente julgamento em srael de um
certo Hirsch Birn-blat, antigo chefe da polcia judaica numa cidade polonesa e
agora maestro da pera israelense, que foi primeiro condenado por uma corte
distrital pena de cinco anos de priso e depois exonerado pela Suprema Corte
de Jerusalm, cuja opinio unnime indiretamente exonerou os Conselhos Judeus
em geral, o establishment judeu est amargamente dividido sobre o assunto.
No debate, porm, os participantes mais acalorados eram aqueles que
ou identificavam o povo judeu com sua liderana em gritante contraste com as
claras distines feitas em quase todos os relatos de sobreviventes, que podem
ser resumidas nas palavras de um antigo prisioneiro de Theresienstadt: "o povo
judeu como um todo se comportou magnificamente. S a liderana falhou" ou
justificavam os funcionrios judeus citando todos os louvveis servios que eles
prestaram antes da guerra, e acima de tudo antes da era da Soluo Final, como
se no houvesse diferena em ajudar judeus a emigrar e ajudar os nazistas a
deport-los.
Essas questes tinham de fato ligaes com este livro, embora
infladas alm de qualquer proporo, mas houve outras que no tinham
absolutamente nenhuma relao. Houve, por exemplo, uma acalorada discusso
sobre o movimento de resistncia alem do comeo do regime de Hitler em
diante, que eu naturalmente no discuti, uma vez que a questo da.conscincia
de Eichmann e da situao a sua volta diz respeito s ao perodo da guerra e
Soluo Final. Mas surgiram questes mais fantsticas. Um bom nmero de
pessoas comeou a discutir se as vtimas da perseguio no seriam sempre
mais "feias" que seus assassinos; ou se algum que no estava presente tem o
direito de "julgar" o passado; ou se o acusado ou a vtima que ocupa o lugar
central num julgamento. Sobre este ltimo ponto, alguns chegaram a afirmar no
s que eu estava errada em me interessar no tipo de pessoa que era Eichmann.
mas ainda que no deviam ter deixado que ele falasse nada ou seja. que o
julgamento fosse conduzido sem defesa.
Como quase sempre o caso em discusses conduzidas com grande
demonstrao de emoo, os interesses concretos de certos grupos, cuja
excitao se deve inteiramente a questes factuais e que, portanto, tentam
distorcer os fatos, acabam rpida e inextricavelmente entremeados com a
inspirao desenfreada de intelectuais que, ao contrrio, no esto nada
interessados em fatos, mas os tratam simplesmente como um trampolim para
"idias". Mas mesmo nesses combates simulados, se podia muitas vezes detectar
uma certa seriedade, um certo grau de autntica preocupao, e isso at mesmo
na contribuio de gente que se gabava de no ter lido o livro e prometia no o ler
nunca.
Comparado a esses debates, que tanto se expandiram, o livro em si
lida com um assunto tristemente limitado. O relato de um julgamento s pode
discutir as questes que foram tratadas no curso do julgamento ou que, no
interesse da justia, deveriam ser tratadas. Se a situao geral de um pas em
que o julgamento ocorre importante para a conduo do julgamento, ela
tambm deve ser levada em conta. Este livro, portanto, no trata da histria do
maior desastre que se abateu sobre o povo judeu, nem um relato sobre o
totalitarismo, nem uma histria do povo alemo poca do Terceiro Reich, nem ,
por fim e sobretudo, um tratado terico sobre a natureza do mal. O foco de todo
julgamento recai sobre apessoado acusado, um homem de carne e osso com
uma histria individual, com um conjunto sempre nico de qualidades,
peculiaridades, padres de comportamento e circunstncias. Tudo o que vai alm
disso, tal como a histria do povo judeu na Dispora e do anti-semitismo, ou a
conduta do povo alemo e de outros povos, ou as ideologias da poca e o
aparato governamental do Terceiro Reich, s afeta o julgamento na medida em
que forma o pano de fundo e as condies em que o acusado cometeu seus atos.
Todas as coisas com que o acusado no entrou em contato, ou que no o
influenciaram, devem ser omitidas dos trabalhos de um tribunal e
conseqentemente da reportagem sobre ele.
Pode-se discutir que todas as questes gerais que involuntariamente
suscitamos assim que comeamos a falar desses assuntos por que tinha de
ser com os alemes? por que tinha de ser com os judeus? qual a natureza do
regime totalitrio? so muito mais importantes que a questo do tipo de crime
pelo qual um homem est sendo julgado e da natureza do acusado sobre o qual a
justia deve se pronunciar; mais importantes tambm que saber como o nosso
atual sistema de justia capaz de lidar com o tipo especial de crime e criminoso
que teve de enfrentar repetidamente depois da Segunda Guerra Mundial.
Pode-se afirmar que a questo no mais um ser humano particular,
um nico indivduo distinto no banco dos rus, mas sim o povo alemo em geral,
ou o anti-semitismo em todas as suas formas, ou o conjunto da histria moderna,
ou a natureza do homem e o pecado original a ponto de no fim das contas toda
a espcie humana estar sentada atrs do acusado no banco dos rus. Tudo isso
foi discutido com freqncia, principalmente por aqueles que no descansam
enquanto no descobrem um "Eichmann dentro de cada um de ns". Se o
acusado tomado como um smbolo e o julgamento um pretexto para levantar
questes que so aparentemente mais interessantes que a culpa ou inocncia de
uma pessoa, ento a coerncia exige que nos curvemos assero feita por
Eichmann e seu advogado: que ele foi levado a julgamento porque era preciso um
bode expiatrio, no s para a Repblica Federal alem, mas tambm para os
acontecimentos como um todo e para o que os possibilitou isto , para o anti-
semitismo e o regime totalitrio, assim como para a espcie humana e o pecado
original.
Nem preciso dizer que nunca teria ido a Jerusalm se pensasse assim.
Eu era e sou da opinio que esse julgamento devia acontecer no interesse da
justia e nada mais. Penso tambm que os juizes esto muito certos quando
enfatizam em seu veredicto que "o Estado de srael foi fundado e reconhecido
como o Estado dos judeus". c portanto tem jurisdio sobre um crime cometido
contra o povo judeu; e em vista da atual confuso dos crculos legais sobre o
sentido e a utilidade da punio, fiquei contente ao ver que a sentena citava
Grotius, que explica, citando por seu lado um autor mais antigo, que a punio
necessria "para defender a honra ou a autoridade daquele que foi afetado pelo
crime, de forma a impedir que a falta de punio possa causar sua desonra".
Evidentemente no h dvida de que o acusado e a natureza de seus
atos, assim como o julgamento em si, levantam problemas de natureza geral que
vo muito alm das questes consideradas em Jerusalm. Tentei abordar
algumas delas no Eplogo, que j no um simples relato. Eu no me
surpreenderia se achassem meu tratamento inadequado, e teria apreciado uma
discusso sobre a significao geral de todo o conjunto dos fatos, que seria tanto
mais significativa quanto mais diretamente se referisse aos eventos concretos.
Posso tambm imaginar muito bem que uma controvrsia autntica
poderia ter surgido do subttulo do livro; pois quando falo da banalidade do mal,
falo num nvel estritamente factual, apontando um fenmeno que nos encarou de
frente no julgamento. Eichmann no era nenhum lago, nenhum Macbeth e nada
estaria mais distante de sua mente do que a determinao de Ricardo de "se
provar um vilo". A no ser por sua extraordinria aplicao em obter progressos
pessoais, ele no tinha nenhuma motivao. E esse aplicao em si no era de
forma alguma criminosa; ele certamente nunca teria matado seu superior para
ficar com seu posto.
Para falarmos em termos coloquiais, ele simplesmente nunca
percebeu o que estava fazendo. Foi precisamente essa falta de imaginao que
lhe permitiu sentar meses a fio na frente do judeu alemo que conduzia o
interrogatrio da polcia, abrindo seu corao para aquele homem e explicando
insistentemente como ele conseguira chegar s patente de tenente-coronel da
ss e que no fora falha sua no ter sido promovido. Em princpio ele sabia muito
bem do que se tratava, e em sua declarao final corte, falou da "reavaliao de
valores prescrita pelo governo [nazista]". Ele no era burro. Foi pura irreflexo
algo de maneira nenhuma idntico burrice que o predisps a se tornar um
dos grandes criminosos desta poca. E se isso "banal" e at engraado, se nem
com a maior boa vontade do mundo se pode extrair qualquer profundidade
diablica ou demonaca de Eichmann, isso est longe de se chamar lugar-comum.
Certamente no nada comum que um homem, diante da morte e,
mais ainda, j no cadafalso, no consiga pensar em nada alm do que ouviu em
funerais a sua vida inteira, e que essas "palavras elevadas" pudessem toldar
inteiramente a realidade de sua prpria morte. Essa distncia da realidade e esse
desapego podem gerar mais devastao do que todos os maus instintos juntos
talvez inerentes ao homem; essa , de fato, a lio que se pode aprender com o
julgamento de Jerusalm. Mas foi uma lio, no uma explicao do fenmeno,
nem uma teoria sobre ele.
Aparentemente mais complicada, mas na verdade muito mais simples
que examinar a estranha interdependncia entre inconscincia e mal, a questo
relativa aos tipos de crime de que se tratava ali um crime, alm do mais, que
todos concordam ser sem precedentes. Pois o conceito de genocdio, introduzido
especificamente para cobrir um crime antes desconhecido e embora aplicvel at
certo ponto, no inteiramente adequado, pela simples razo de que os
massacres de povos inteiros no so sem precedentes. Eram a ordem do dia na
Antiguidade, e os sculos de colonizao e imperialismo fornecem muitos
exemplos de tentativas desse tipo, mais ou menos bem-sucedidas. A expresso
"massacres administrativos" a que parece melhor definir o fato. O termo surgiu
em relao ao imperialismo britnico; os ingleses deliberadamente rejeitaram
esse procedimento como meio de manter seu domnio sobre a ndia.
A expresso tem a virtude de dissipar a suposio de que tais atos s
podem ser cometidos contra naes estrangeiras ou de raa diferente. bem
sabido que Hitler comeou seus assassinatos em massa brindando os "doentes
incurveis" com "morte misericordiosa", e que pretendia ampliar seu programa de
extermnio se livrando dos alemes "geneticamente defeituosos" (os doentes do
corao e do pulmo). Mas parte isso, evidente que esse tipo de morte pode
ser dirigido contra qualquer grupo determinado, isto , que o princpio de seleo
dependente apenas de fatores circunstanciais. bem concebvel que na
economia automatizada de um futuro no muito distante os homens possam
tentar exterminar todos aqueles cujo quociente de inteligncia esteja abaixo de
determinado nvel.
Em Jerusalm essa questo foi discutida inadequadamente por ser de
fato muito difcil de captar juridicamente. Ouvimos os protestos da defesa dizendo
que Eichmann era afinal apenas uma "pequena engrenagem" na mquina da
Soluo Final, bem como os da acusao, que acreditava ter descoberto em
Eichmann o verdadeiro motor.
Eu mesma no atribu s duas teorias importncia maior do que a que
lhes atribuiu a corte de Jerusalm, visto que toda a teoria da engrenagem
legalmente sem sentido e portanto no importa nada a ordem de magnitude que
se atribui "engrenagem" chamada Eichmann. Em sua sentena a corte
naturalmente concedeu que tal crime s podia ser cometido por uma burocracia
gigante usando os recursos do governo. Mas na medida em que continua sendo
um crime e essa , de fato, a premissa de um julgamento todas as
engrenagens da mquina, por mais insignificantes que sejam, so na corte
imediatamente transformadas em perpetradores, isto , em seres humanos. Se o
acusado se desculpa com base no fato de ter agido no como homem, mas como
mero funcionrio cujas funes podiam ter sido facilmente realizadas por outrem,
isso equivale a um criminoso que apontasse para as estatsticas do crime que
determinou que tantos crimes por dia fossem cometidos em tal e tal lugar e
declarasse que s fez o que era estatisticamente esperado, que foi um mero
acidente ele ter feito o que fez e no outra pessoa, uma vez que no fim das
contas, algum tinha de fazer aquilo.
Claro que importante para as cincias polticas e sociais que a
essncia do governo totalitrio, e talvez a natureza de toda burocracia, seja
transformar homens em funcionrios e meras engrenagens, assim os
desumanizando. E se pode debater prolongadamente e com proveito o governo
de Ningum, que o que de fato significa a forma poltica conhecida como
bureaucracia. Mas preciso entender com clareza que as decises da justia
podem considerar esses fatores s na medida em que so circunstncias do
crime como num caso de roubo em que a condio econmica do ladro
levada em conta sem desculpar o roubo e muito menos apagar sua existncia.
verdade que a psicologia e sociologia modernas, sem falar da
burocracia moderna, nos acostumaram demais a explicar a responsabilidade do
agente sobre seu ato em termos deste ou daquele determinismo. Mas discutvel
se essas explicaes aparentemente profundas das aes humanas so certas
ou erradas. O que indiscutvel que nenhum procedimento judicial seria
possvel com base nelas, e que a administrao de justia com base nessas
teorias seria uma instituio muito pouco moderna, para no dizer ultrapassada.
Quando Hitler disse que viria o dia em que na Alemanha se consideraria uma
"desgraa" ser jurista, ele estava falando com absoluta coerncia de seu sonho de
uma burocracia perfeita.
At onde entendo, para tratar de toda essa batelada de questes a
jurisprudncia s tem duas categorias a seu dispor, ambas, em minha opinio,
bastante inadequadas para tratar do assunto. H os conceitos de "atos de Estado"
e de atos "por ordens superiores". De qualquer forma, essas so as nicas
categorias em cujos termos essas questes so discutidas nesse tipo de
julgamento, geralmente por moo do acusado. A teoria de ato de Estado tem por
base o argumento de que um Estado soberano no pode julgar outro, par in
parem non habet jurisdictionem.
Em termos prticos, esse argumento j havia sido descartado em
Nuremberg; no servia desde o comeo porque, se fosse aceito, nem mesmo
Hitler, o nico realmente responsvel no sentido total, poderia ser acusado um
estado de coisas que teria violado o mais elementar senso de justia. No entanto,
um argumento vencido de antemo no plano prtico no est necessariamente
demolido no terico. As costumeiras evasivas de que a Alemanha na poca do
Terceiro Reich estava dominada por um bando de criminosos para quem
soberania e paridade no se aplicam no servem. Pois, por um lado, todo
mundo sabe que a analogia com um bando de criminosos s aplicvel com tal
limitao que no possvel realmente aplic-la, e por outro lado esses crimes
inegavelmente ocorreram dentro de uma ordem "legal". Essa era, de fato, a sua
caracterstica mais notvel.
Talvez possamos chegar mais perto da questo se nos dermos conta
de que por trs do conceito de ato de Estado existe a teoria de raison d 'tat.
Segundo essa teoria, as aes do Estado, que responsvel pela vida do pas e
portanto tambm pelas leis vigorantes nele, no esto sujeitas s mesmas regras
que os atos dos cidados do pas. Assim como o domnio da lei, embora criado
para eliminar a violncia e a guerra de todos contra todos, sempre precise dos
instrumentos da violncia para garantir sua prpria existncia, tambm um
governo pode se ver levado a cometer atos que so geralmente considerados
crimes, a fim de garantir sua prpria sobrevivncia e a sobrevivncia da
legalidade. As guerras so freqentemente justificadas nessas bases, mas atos
criminosos de Estado no ocorrem apenas no campo das relaes internacionais,
e a histria das naes civilizadas conhece muitos exemplos disso do
assassinato do duque d'Enghien por Napoleo ao assassinato do lder socialista
Matteotti, pelo qual o prprio Mussolini considerado responsvel.
A raison d'tat apela corretamente ou no, dependendo do caso
para a necessidade, e os crimes de Estado cometidos em seu nome (que so
inteiramente criminosos nos termos do sistema legal dominante no pas em que
eles ocorrem) so considerados medidas de emergncia, concesses feitas s
severidades da Realpolitik, a fim de preservar o poder e assim garantir a
continuao da ordem legal como um todo.
Num sistema poltico e legal normal, tais crimes ocorrem como uma
exceo regra e no esto sujeitos s penas legais (so gerichtsfrei, como diz a
teoria legal alem) porque a existncia do Estado em si est em jogo, e nenhuma
entidade poltica externa tem o direito de negar a um Estado sua existncia ou de
prescrever-lhe como preserv-la. No entanto, num Estado fundado em princpios
criminosos, a situao se inverte, como podemos aprender com a histria da
poltica judaica do Terceiro Reich.
Ento um ato no criminoso (como, por exemplo, a ordem de Himmler
suspendendo a deportao dos judeus no final do vero de 1944) se torna uma
concesso necessidade imposta pela realidade, neste caso a derrota iminente.
Aqui surge a questo: qual a natureza da soberania de uma tal entidade? No
ter sido violada a paridade {par in parem nin habet jurisdictionem) que a lei
internacional garante? Ser que o "par in parem'" no significa mais que a
parafernlia da soberania? Ou ser que traz implcita tambm uma substantiva
igualdade ou semelhana? Podemos aplicar o mesmo princpio que aplicado a
um aparato governamental em que crime e violncia so excepcionais e
marginais a uma ordem poltica em que o crime legal e constitui a regra?
A inadequao dos conceitos jurdicos para lidar com os fatos
criminosos que foram objeto desses julgamentos aparece talvez mais
notavelmente no conceito de atos desempenhados por ordens superiores. A corte
de Jerusalm contraps ao argumento da defesa longas citaes de compndios
legais penais e militares de pases civilizados, principalmente a Alemanha; pois
sob o governo de Hitler os artigos pertinentes no foram de forma alguma
repelidos.
Todos eles concordam num ponto: ordens manifestamente criminosas
no devem ser obedecidas. A corte, alm disso, se referiu a um caso surgido
anos antes em srael: soldados foram levados a julgamento por massacrar
habitantes civis de uma aldeia rabe na fronteira, pouco antes do comeo da
campanha do Sinai. Os habitantes foram encontrados na frente de suas casas
depois do toque de recolher militar, de que aparentemente no tinham
conhecimento. nfelizmente, a um exame mais minucioso a comparao parece
deficiente sob dois aspectos. Antes de mais nada, devemos considerar que a
relao entre exceo e regra, que de primordial importncia para reconhecer a
criminalidade de uma ordem executada por um subordinado, foi invertida no caso
dos atos de Eichmann.
Portanto, com base nesse argumento poderamos efetivamente
defender a negativa de Eichmann a obedecer certas ordens de Himmler, ou sua
hesitao em obedecer: elas eram manifestas excees regra dominante. O
julgamento concluiu que isso era especialmente incriminador para o acusado, o
que certamente era muito compreensvel, mas no muito coerente. sso se pode
ver com facilidade nas concluses pertinentes das cortes militares israelenses que
foram citadas como apoio pelos juizes. E que dizem o seguinte: para ser
desobedecida, a ordem precisa ser "manifestamente ilegal"; a ilegalidade "deve
tremular acima dela "como uma bandeira negra, como um aviso dizendo
'proibido'".
Em outras palavras, a ordem, para ser reconhecida pelo soldado como
"manifestamente ilegal", tem de violar, por sua excepcionalidade, os cnones do
sistema legal ao qual ele est acostumado. E a jurisprudncia israelense
concorda nesses pontos com a de outros pases. Sem dvida, ao formular esses
artigos, os legisladores estavam pensando em casos como o de um oficial que
repentinamente enlouquece e ordena, digamos, a seus subordinados que matem
outro oficial. Em qualquer julgamento comum de um caso assim ficaria claro
imediatamente que o que foi ordenado ao soldado no foi que consultasse a voz
da conscincia ou um "sentido de legalidade que existe no fundo de toda
conscincia humana, at daqueles que no esto familiarizados com os livros de
leis [...] contanto que o olho no seja cego e o corao no seja duro e
corrompido". Ao contrrio, o que se espera do soldado que seja capaz de
distinguir entre a regra e a notvel exceo regra.
O cdigo militar alemo, de qualquer forma, determina explicitamente
que a conscincia no basta. O pargrafo 48 diz assim: "A punio de uma ao
ou omisso no fica excluda com base no fato de a pessoa considerar seu
comportamento necessrio por sua conscincia ou pelos preceitos de sua
religio". Um trao notvel da linha de argumentao da corte de srael que o
conceito de um sentido de justia enraizado no fundo de cada homem
apresentado apenas como substituto para a familiaridade com a lei. Sua
plausibilidade se apia na suposio de que a lei expressa apenas o que a
conscincia de todo homem lhe diria de uma forma ou de outra.
Se aplicarmos todo esse arrazoado ao caso de Eichmann de forma
significativa, somos forados a concluir que Eichmann agiu inteiramente dentro
dos limites do tipo de discernimento que se esperava dele: agiu de acordo com a
regra, examinou a ordem expedida para ele quanto sua legalidade "manifesta",
sua regularidade; no teve de depender de sua "conscincia", uma vez que no
era daqueles que no tm familiaridade com as leis do seu pas. O caso era
exatamente o contrrio.
A segunda razo para que o argumento baseado na comparao se
mostre deficiente diz respeito prtica das cortes de admitir a declarao de
"ordens superiores" como importante circunstncia atenuante, e essa prtica foi
mencionada explicitamente no julgamento. O julgamento citou o caso que
mencionei acima, do massacre dos habitantes rabes de Kfar Kassem, como
prova de que a jurisprudncia israelense no livra um acusado da
responsabilidade em vista da "ordem superior" que recebeu.
E de fato, os soldados israelenses foram condenados por assassinato,
mas as "ordens superiores" constituram uma argumento de tamanho peso como
circunstncia mitigante que eles foram sentenciados a perodos de priso
relativamente curtos. Sem dvida esse caso se refere a um ato isolado, no
como no caso de Eichmann a uma atividade que se prolongou durante anos,
na qual houve crime sobre crime. Mesmo assim, era inegvel que ele sempre agiu
por "ordens superiores", e se as provises da lei israelense ordinria fossem
aplicadas a ele, seria realmente difcil aplicar-lhe a pena capital. A questo que
a lei israelense, em teoria e na prtica, assim como a jurisprudncia de outros
pases, no podem seno admitir que as "ordens superiores", mesmo quando sua
ilegalidade manifesta, podem perturbar severamente o funcionamento da
conscincia de um homem.
Esse s um exemplo entre muitos para demonstrar a inadequao
do sistema legal dominante e dos conceitos jurdicos em uso para lidar com os
fatos de massacres administrativos organizados pelo aparelho do Estado. Se
olharmos mais de perto a questo veremos sem muita dificuldade que os juizes
de todos esses julgamentos realmente sentenciaram exclusivamente com base
nos atos monstruosos.
Em outras palavras, julgaram com liberdade, por assim dizer, e no se
apoiaram realmente nos padres e nos precedentes legais com que mais ou
menos convincentemente procuraram justificar suas decises. sso j era evidente
em Nuremberg, onde os juizes por um lado declararam que o "crime contra a paz"
era o mais grave de todos os crimes, mas por outro lado efetivamente
sentenciaram morte apenas aqueles acusados que tinham participado do crime
novo de massacre administrativo em princpio uma ofensa menos grave que a
conspirao contra a paz. Seria realmente tentador procurar essas e outras
incoerncias semelhantes num campo to obcecado com a coerncia como a
jurisprudncia. Mas evidentemente isso no pode ser feito aqui.
Resta, porm, um problema fundamental, que est implicitamente
presente em todos esses julgamentos ps-guerra e que tem de ser mencionado
aqui porque toca uma das grandes questes morais de todos os tempos,
especificamente a natureza e a funo do juzo humano. O que exigimos nesses
julgamentos, em que os rus cometeram crimes "legais" que os seres humanos
sejam capazes de diferenciar o certo do errado mesmo quando tudo o que tm
para gui-los seja apenas seu prprio juzo, que, alm do mais, pode estar
inteiramente em conflito com o que eles devem considerar como opinio unnime
de todos a sua volta.
E essa questo ainda mais sria quando sabemos que os poucos
que foram suficientemente "arrogantes" para confiar em seu prprio julgamento
no eram, de maneira nenhuma, os mesmos que continuavam a se nortear pelos
velhos valores, ou que se nortearam por crenas religiosas. Desde que a
totalidade da sociedade respeitvel sucumbiu a Hitler de uma forma ou de outra,
as mximas morais que determinam o comportamento social e os mandamentos
religiosos "No matars!" que guiam a conscincia virtualmente
desapareceram. Os poucos ainda capazes de distinguir certo e errado guiavam-se
apenas por seus prprios juzos, e com toda liberdade; no havia regras s quais
se conformar, s quais se pudessem conformar os casos particulares com que se
defrontavam. Tinham de decidir sobre cada caso quando ele surgia, porque no
existiam regras para o inaudito.
A controvrsia gerada por este livro, assim como a controvrsia,
semelhante em muitos aspectos, sobre O deputado, de Hochhuth, revelou o
quanto os homens de nosso tempo so perturbados por essa questo do juzo
(ou, como se diz muitas vezes, pelas pessoas que ousam "julgar"). O que veio
luz no foi nem niilismo, nem cinismo, como se poderia esperar, mas uma
confuso bastante extraordinria sobre questes elementares de moralidade
como se um instinto em tais questes fosse realmente a ltima coisa que se
pudesse esperar de nosso tempo. As muitas notas curiosas surgidas no correr
dessas disputas parecem particularmente reveladoras.
Por exemplo, alguns literatos norte-americanos professaram sua
simplria convico de que tentao e coero so realmente a mesma coisa,
que no se pode exigir de ningum que resista tentao. (Se algum encosta
um revlver em seu corao e manda voc matar seu melhor amigo, voc
simplesmente deve mat-lo. Ou, como se discutiu alguns anos atrs em relao
ao escndalo do programa de perguntas em que um professor universitrio
engambelou o pblico: quando existe muito dinheiro em jogo, quem pode
resistir?). O argumento de que no podemos julgar se no estivemos presentes e
envolvidos parece convencer todo mundo em toda parte, embora parea bvio
que, se fosse verdadeiro, nem a administrao da justia, nem a historiografia
jamais seriam possveis.
Em contraste com essas confuses, a censura moralista levantada
contra aqueles que efetivamente julgam velha como o tempo; mas isso no a
torna vlida. Mesmo um juiz que condena um assassino pode dizer quando vai
para casa: "E com a graa de Deus, l vou eu". Todos os judeus alemes
condenaram unanimemente a onda de consenso que tomou conta do povo
alemo em 1933 e que de um dia para outro transformou os judeus em prias.
Ser concebvel que nenhum deles jamais tenha perguntado a si mesmo quantos
de seu prprio grupo teriam feito a mesma coisa se apenas pudessem? Mas a
condenao deles hoje ser menos correta por essa razo?
A reflexo de que qualquer um prprio poderia ter feito o mal nas
mesmas circunstncias pode animar um esprito de perdo, mas aqueles que hoje
se referem caridade crist parecem estranhamente confusos a esse respeito
tambm. Na declarao de ps-guerra da Evangelische Kirche in Deutschland, a
greja protestante, podemos ler o seguinte: "Por nossa omisso e nosso silncio,
afirmamos que perante o Deus de Misericrdia partilhamos a culpa pelo ultraje
cometido contra os judeus por nosso prprio povo".* Parece-me que um cristo s
culpado perante o Deus de Misericrdia quando ele paga o mal com o mal,
portanto as grejas teriam pecado contra a misericrdia se milhes de judeus
fossem mortos como castigo por algum mal que eles tivessem cometido. Mas se
as grejas partilham a culpa por um ultraje puro e simples, como elas prprias
atestam, ento deve-se ainda considerar que a questo fica dentro do mbito do
Deus da Justia.
Esse deslize de linguagem, por assim dizer, no acidental. A justia,
mas no a misericrdia, pode ser objeto de nosso juzo, e entretanto a opinio
pblica parece pronta a concordar que ningum tem o direito de julgar o outro. O
que a opinio pblica nos permite julgar e at condenar so as tendncias ou
grupos inteiros de pessoas quanto maiores, melhor, em resumo, algo to
geral que no se podem mais fazer distines ou dar nomes. Nem preciso
acrescentar que esse tabu se aplica duplamente quando os atos ou palavras de
pessoas famosas ou homens em altas posies esto sendo questionados.
sso se expressa atualmente nas pretensiosas asseres de que
"superficial" insistir nos detalhes e mencionar indivduos, quando sinal de
sofisticao falar em generalidades segundo as quais todos os gatos so pardos e
somos todos igualmente culpados. Dessa forma, a acusao que Hochhuth fez
contra um nico papa um homem, facilmente identificvel, com um nome
prprio foi imediatamente compensada com uma condenao de toda a
cristandade. A acusao contra o cristianismo em geral, com seus 2 mil anos de
histria, no pode ser provada, e se pudesse ser provada, seria horrvel. Ningum
parece se importar com isso na medida em que nenhuma pessoa est envolvida,
e bastante seguro ir um passo adiante e afirmar: "Sem dvida existe razo para
graves acusaes, mas o acusado a humanidade como um todo" (afirma Robert
Weltsch em Summa niuria, citado acima, grifo meu).
Uma outra fuga dos fatos confirmveis e da responsabilidade pessoal
so as incontveis teorias, baseadas em concluses hipotticas, abstratas e
inespecficas do Zeitgeist ao complexo de di-po , que so to gerais que
explicam e justificam todos os eventos e todos os atos: nenhuma alternativa para
o que efetivamente aconteceu sequer considerada e nenhuma pessoa poderia
ter agido de modo diverso. Entre as construes que "explicam" tudo
obscurecendo todos os detalhes, encontramos idias como "mentalidade de
gueto" entre os judeus europeus; ou a culpa coletiva do povo alemo, decorrente
de uma interpretao ad hoc de sua histria; ou a assero igualmente absurda
de um tipo de inocncia coletiva do povo judeu. Todos esses clichs tm em
comum o fato de tornarem suprfluo o juzo e de que se pode pronunci-los sem
nenhum risco.
E embora se possa entender a relutncia daqueles imediatamente
afetados pelo desastre alemes e judeus em examinar muito de perto a
conduta de grupos e pessoas que pareciam estar ou deveriam ter permanecido a
salvo da totalidade do colapso moral isto , a conduta das grejas crists, a
liderana judaica, os homens da conspirao contra Hitler de 20 de julho de 1944
, essa indisposio compreensvel insuficiente para explicar a relutncia
evidente em toda parte em julgar nos termos da responsabilidade individual.
Muitas pessoas hoje concordariam que no existe algo como culpa
coletiva ou inocncia coletiva, e que se algo assim existisse, nenhum indivduo
poderia jamais ser culpado ou inocente. sso evidentemente no significa negar
que existe algo como responsabilidade poltica, que porm existe completamente
parte daquilo que o membro individual do grupo fez e que portanto no pode
nem ser julgada em termos morais nem ser levada perante uma corte criminal.
Todo governo assume responsabilidade poltica pelos mandos e desmandos de
seu predecessor, e toda nao, pelos feitos e desfeitos do passado.
Quando Napoleo, ao tomar o poder na Frana depois da Revoluo,
disse "Assumo a responsabilidade por tudo o que a Frana j fez, de so Lus ao
Comit de Segurana Pblica", ele estava apenas formulando um tanto
enfaticamente um dos fatos bsicos de toda a vida poltica. Em termos gerais,
significa pouco mais que afirmar que toda gerao, em virtude de ter nascido num
continuum histrico, recebe a carga dos pecados dos pais assim como
abenoada com os feitos dos ancestrais. Mas esse tipo de responsabilidade no
o que estamos discutindo aqui; no pessoal, e s num sentido metafrico
algum pode dizer que sente culpa por aquilo que no ele, mas seu pai ou seu
povo fizeram. (Moralmente falando, no menos errado sentir culpa sem ter feito
alguma coisa especfica do que sentir-se livre de culpa tendo feito efetivamente
alguma coisa.) bastante concebvel que certas responsabilidades polticas entre
naes possam algum dia ser julgadas cm uma corte internacional; o que
inconcebvel que tal corte venha a ser um tribunal criminal que declare a culpa
ou a inocncia de indivduos.
E a questo da culpa ou inocncia individuais, o ato de aplicar a justia
tanto ao acusado quanto vtima, so as nicas coisas que esto em jogo numa
corte criminal. O julgamento de Eichmann no foi exceo, mesmo que a corte se
tenha visto confrontada com um crime que no podia encontrar nos livros de leis e
com um criminoso que no tinha similar conhecido por nenhuma corte, pelo
menos antes do julgamentos de Nuremberg. A presente reportagem no trata de
nada alm da medida em que a corte de Jerusalm esteve altura das exigncias
da justia.
Vous aimerez peut-être aussi
- Rousseau e o Evangelho dos Direitos do HomemD'EverandRousseau e o Evangelho dos Direitos do HomemPas encore d'évaluation
- A Maldição da Lei e a Esperança da Graça: Direito, Religião e Economia em Franz HinkelammertD'EverandA Maldição da Lei e a Esperança da Graça: Direito, Religião e Economia em Franz HinkelammertPas encore d'évaluation
- A Banalidade Do Mal em Hannah ArendtDocument5 pagesA Banalidade Do Mal em Hannah ArendtViviane TorquatoPas encore d'évaluation
- Preconceito contra homossexualidades: a hierarquia da invisibilidadeD'EverandPreconceito contra homossexualidades: a hierarquia da invisibilidadePas encore d'évaluation
- A Serviço de Deus?: a resistência da bancada da bíblia ao reconhecimento legal da família homoafetivaD'EverandA Serviço de Deus?: a resistência da bancada da bíblia ao reconhecimento legal da família homoafetivaPas encore d'évaluation
- Juristas em resistência: memória das lutas contra o autoritarismo no BrasilD'EverandJuristas em resistência: memória das lutas contra o autoritarismo no BrasilPas encore d'évaluation
- Bertrand Russell: 3 em 1: No que acredito, Por que não sou cristão, ensaios céticosD'EverandBertrand Russell: 3 em 1: No que acredito, Por que não sou cristão, ensaios céticosPas encore d'évaluation
- A identidade envergonhada: Imigração e multiculturalismo na França hojeD'EverandA identidade envergonhada: Imigração e multiculturalismo na França hojePas encore d'évaluation
- Política e Fé: o abuso do poder religioso eleitoral no BrasilD'EverandPolítica e Fé: o abuso do poder religioso eleitoral no BrasilPas encore d'évaluation
- Os livres podem ser iguais?: Liberalismo e DireitoD'EverandOs livres podem ser iguais?: Liberalismo e DireitoPas encore d'évaluation
- O valor da liberdade de expressão: uma perspectiva econômica sobre a limitação do livre exercício da garantia fundamental da fala e pensamento e a censura judicialD'EverandO valor da liberdade de expressão: uma perspectiva econômica sobre a limitação do livre exercício da garantia fundamental da fala e pensamento e a censura judicialPas encore d'évaluation
- A Introdução da Lei Antiterrorismo no BrasilD'EverandA Introdução da Lei Antiterrorismo no BrasilPas encore d'évaluation
- Odeio, logo, compartilho: O discurso de ódio nas redes sociais e na políticaD'EverandOdeio, logo, compartilho: O discurso de ódio nas redes sociais e na políticaPas encore d'évaluation
- As fake news como crime no Brasil pós-pandemia: introdução à verdade sobre as notícias fraudulentas a partir da Psicologia das MassasD'EverandAs fake news como crime no Brasil pós-pandemia: introdução à verdade sobre as notícias fraudulentas a partir da Psicologia das MassasPas encore d'évaluation
- Mulher, você tem direito!: um guia prático sobre os direitos da vítima de violência domésticaD'EverandMulher, você tem direito!: um guia prático sobre os direitos da vítima de violência domésticaPas encore d'évaluation
- Léopold Senghor e Frantz Fanon: Intelectuais (pós) coloniais entre o político e o culturalD'EverandLéopold Senghor e Frantz Fanon: Intelectuais (pós) coloniais entre o político e o culturalPas encore d'évaluation
- Ateísmo e Niilismo: Reflexões sobre a morte de deusD'EverandAteísmo e Niilismo: Reflexões sobre a morte de deusÉvaluation : 3.5 sur 5 étoiles3.5/5 (3)
- Declaração dos Direitos da Mulher e da CidadãD'EverandDeclaração dos Direitos da Mulher e da CidadãÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (2)
- Matizes Da DireitaD'EverandMatizes Da DireitaPas encore d'évaluation
- Interpretações, paixões e Direito: O sentimento trágico do Direito e seu ignorado aspecto fenomenológicoD'EverandInterpretações, paixões e Direito: O sentimento trágico do Direito e seu ignorado aspecto fenomenológicoPas encore d'évaluation
- Delírio do poder: Psicopoder e loucura coletiva na era da desinformaçãoD'EverandDelírio do poder: Psicopoder e loucura coletiva na era da desinformaçãoPas encore d'évaluation
- O segredo democrático: nem transparência, nem opacidadeD'EverandO segredo democrático: nem transparência, nem opacidadePas encore d'évaluation
- Por que gritamos Golpe?: Para entender o impeachment e a crise política no BrasilD'EverandPor que gritamos Golpe?: Para entender o impeachment e a crise política no BrasilPas encore d'évaluation
- Contra a realidade: A negação da ciência, suas causas e consequênciasD'EverandContra a realidade: A negação da ciência, suas causas e consequênciasPas encore d'évaluation
- Sociedade Midíocre. A Passagem ao Hiperespetacular: O Fim do Direito Autoral, do Livro e da EscritaD'EverandSociedade Midíocre. A Passagem ao Hiperespetacular: O Fim do Direito Autoral, do Livro e da EscritaPas encore d'évaluation
- Vida e Liberdade: Entre a ética e a políticaD'EverandVida e Liberdade: Entre a ética e a políticaÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Crepúsculo dos ídolos: (Ou como filosofar com o martelo)D'EverandCrepúsculo dos ídolos: (Ou como filosofar com o martelo)Pas encore d'évaluation
- Discurso de Ódio, Jurisdição Constitucional e PragmatismoD'EverandDiscurso de Ódio, Jurisdição Constitucional e PragmatismoPas encore d'évaluation
- Bala perdida: A violência policial no Brasil e os desafios para sua superaçãoD'EverandBala perdida: A violência policial no Brasil e os desafios para sua superaçãoPas encore d'évaluation
- Da família sem pais à família sem paz: violência doméstica e uso de drogasD'EverandDa família sem pais à família sem paz: violência doméstica e uso de drogasPas encore d'évaluation
- A Sociedade de Consumidores e a Perversão do Animal Laborans: uma análise de Hannah Arendt sobre nossos tempos sombriosD'EverandA Sociedade de Consumidores e a Perversão do Animal Laborans: uma análise de Hannah Arendt sobre nossos tempos sombriosPas encore d'évaluation
- O Supremo Tribunal Federal e a Proatividade: um impasse para a comunidade LGBTI+ (União Estável ou Casamento Civil)D'EverandO Supremo Tribunal Federal e a Proatividade: um impasse para a comunidade LGBTI+ (União Estável ou Casamento Civil)Pas encore d'évaluation
- Nós, sobreviventes do ódio: Crônicas de um país devastadoD'EverandNós, sobreviventes do ódio: Crônicas de um país devastadoPas encore d'évaluation
- Aporias do conceito de vontade em Santo AgostinhoD'EverandAporias do conceito de vontade em Santo AgostinhoPas encore d'évaluation
- Por uma Segurança Pública Democrática, Cidadã e AntirracistaD'EverandPor uma Segurança Pública Democrática, Cidadã e AntirracistaÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- O TSE e o "kit gay": respostas do Direito à desinformação sobre questões LGBTQIA+D'EverandO TSE e o "kit gay": respostas do Direito à desinformação sobre questões LGBTQIA+Pas encore d'évaluation
- A Teoria da Ponderação de Interesses e sua Aplicação na Tutela dos Direitos FundamentaisD'EverandA Teoria da Ponderação de Interesses e sua Aplicação na Tutela dos Direitos FundamentaisPas encore d'évaluation
- Tolices sobre Pernas de Pau: um comentário à Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789D'EverandTolices sobre Pernas de Pau: um comentário à Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789Pas encore d'évaluation
- Democracia e risco: perspectivas da Filosofia do DireitoD'EverandDemocracia e risco: perspectivas da Filosofia do DireitoPas encore d'évaluation
- O Conceito de Liberdade Na Teoria Política de Norberto BobbioDocument24 pagesO Conceito de Liberdade Na Teoria Política de Norberto BobbioAna Elisa Silva Fernandes Vieira100% (1)
- Minorias e Grupos Vulneráveis - Políticas Públicas PDFDocument16 pagesMinorias e Grupos Vulneráveis - Políticas Públicas PDFdaniloPas encore d'évaluation
- MAITINO, Martin. Populismo e BolsonarismoDocument20 pagesMAITINO, Martin. Populismo e BolsonarismoVinícius Pedreira100% (1)
- A Poeira e A NuvemDocument7 pagesA Poeira e A NuvemVanderlei LimaPas encore d'évaluation
- Javé, o Senhor Um Deus Patriarcal e LibertadorDocument7 pagesJavé, o Senhor Um Deus Patriarcal e LibertadorVanderlei Lima100% (1)
- LIMITES E POSSIBILIDADES DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NA PERIFERIA CAPITALISTA - J. Furno P. 116-127Document303 pagesLIMITES E POSSIBILIDADES DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NA PERIFERIA CAPITALISTA - J. Furno P. 116-127Vanderlei LimaPas encore d'évaluation
- Liberdade e IgualdadeDocument18 pagesLiberdade e IgualdadeVanderlei LimaPas encore d'évaluation
- Alain Touraine - O Que É A DemocraciaDocument15 pagesAlain Touraine - O Que É A DemocraciaVanderlei Lima100% (2)
- Aula de SociologiaDocument12 pagesAula de SociologiaVanderlei LimaPas encore d'évaluation
- Trabalho de Geografia-Power PointDocument7 pagesTrabalho de Geografia-Power PointVanderlei LimaPas encore d'évaluation
- A Construção Social Do Conceito de InfânciaDocument15 pagesA Construção Social Do Conceito de InfânciaVanderlei LimaPas encore d'évaluation
- Rosdolsky Roman Genese e Estrutura de O Capital de Karl Marx PDFDocument615 pagesRosdolsky Roman Genese e Estrutura de O Capital de Karl Marx PDFamaralisPas encore d'évaluation
- O Bebê de Rosemary: Bruxaria, Seitas e Feitiçaria Nos Anos 1960Document16 pagesO Bebê de Rosemary: Bruxaria, Seitas e Feitiçaria Nos Anos 1960Vanderlei LimaPas encore d'évaluation
- Teoria Musical Aplicada A Atividades Práticas MusicaisDocument9 pagesTeoria Musical Aplicada A Atividades Práticas MusicaisneanderbonaPas encore d'évaluation
- Resumo MEH 2Document4 pagesResumo MEH 2Michelle LealPas encore d'évaluation
- Manual MAT1 AL2Document60 pagesManual MAT1 AL2dudunegaoPas encore d'évaluation
- Ficha de Geometriaplanos Cir e Vetores A 5Document4 pagesFicha de Geometriaplanos Cir e Vetores A 5eduardaPas encore d'évaluation
- Apostila PDFDocument127 pagesApostila PDFWillian Nunes100% (1)
- Guia Academico 2017Document48 pagesGuia Academico 2017Rompassos serviçosPas encore d'évaluation
- Historia Da Educacao - Cap1 - Nelson PilettiDocument8 pagesHistoria Da Educacao - Cap1 - Nelson PilettiRaquel Zanini100% (1)
- Reflexão Crítica Sobre Um Documentário Nº1 - Gabriela 12ºCDocument3 pagesReflexão Crítica Sobre Um Documentário Nº1 - Gabriela 12ºCGabriela GonçalvesPas encore d'évaluation
- Manual Atc BookDocument36 pagesManual Atc BookDiego D ToledoPas encore d'évaluation
- Machado Lousada Abreu-Tardelli - ResumoDocument13 pagesMachado Lousada Abreu-Tardelli - ResumoCarla Bertuleza100% (1)
- Lucas Gonçalves - ARTE E COSMOVISÃO EM TOLKIEN E SCHAEFFERDocument6 pagesLucas Gonçalves - ARTE E COSMOVISÃO EM TOLKIEN E SCHAEFFERJoão Nelson C FPas encore d'évaluation
- Sociodiversidade e MulticulturalismoDocument16 pagesSociodiversidade e MulticulturalismoWillame FranciscoPas encore d'évaluation
- Terapia Dos EsquemasDocument15 pagesTerapia Dos EsquemasHelen Coutinho100% (2)
- Julgados Do STJ Sobre Direitos AutoraisDocument2 pagesJulgados Do STJ Sobre Direitos AutoraisJuliana SilvaPas encore d'évaluation
- Concurso CBEF-24 - bg23241 (Anexo)Document19 pagesConcurso CBEF-24 - bg23241 (Anexo)Lucas MartineliPas encore d'évaluation
- Projeto Integrador Interdisciplinar Terá Como Tema Norteador O Canvas para RH e o Canvas Pessoal.Document7 pagesProjeto Integrador Interdisciplinar Terá Como Tema Norteador O Canvas para RH e o Canvas Pessoal.trabalhos nota10spPas encore d'évaluation
- Resultado Preliminar Edital 64 2023 Educação InfantilDocument49 pagesResultado Preliminar Edital 64 2023 Educação InfantilPodCast - POD ConversarPas encore d'évaluation
- Ufpel: Universidade Federal de PelotasDocument367 pagesUfpel: Universidade Federal de PelotasGabriel de Oliveira XavierPas encore d'évaluation
- Os 100 Pensadores Essenciais Da FilosofiaDocument2 pagesOs 100 Pensadores Essenciais Da FilosofiaTárcio Vinícius de Brito0% (1)
- Tema 3-Ferramenta e Funcionalidades No Moodle PDFDocument6 pagesTema 3-Ferramenta e Funcionalidades No Moodle PDFM. AguiarPas encore d'évaluation
- CMM 2019 2020 Portugues FundamentalDocument10 pagesCMM 2019 2020 Portugues FundamentalMariana Pereira GuidaPas encore d'évaluation
- Nivelamento - Questões ObjetivasDocument5 pagesNivelamento - Questões ObjetivasMarcia Marchiori100% (1)
- Currículo e Formação de ProfessoresDocument11 pagesCurrículo e Formação de ProfessoresrloureiroPas encore d'évaluation
- STJ Resp 1.218.510Document9 pagesSTJ Resp 1.218.510Júlia AnaPas encore d'évaluation
- Barbie Molde de LetrasDocument20 pagesBarbie Molde de LetrasGeraldo TrindadePas encore d'évaluation
- Cartilha ApabbDocument52 pagesCartilha ApabbMarco AlcantaraPas encore d'évaluation
- Relatório de Estágio III - 2016Document35 pagesRelatório de Estágio III - 2016Christian ReisPas encore d'évaluation
- Relatorio Final de Estagio Anos Iniciais PDFDocument37 pagesRelatorio Final de Estagio Anos Iniciais PDFEder CarvalhoPas encore d'évaluation
- Programação Completa 8 Edição Da Fecit-1Document6 pagesProgramação Completa 8 Edição Da Fecit-1Sofia bertalha JablosnkiPas encore d'évaluation
- Educacao Pelos Tambores-A Transmissao Da TradicaoDocument15 pagesEducacao Pelos Tambores-A Transmissao Da TradicaoportoppPas encore d'évaluation