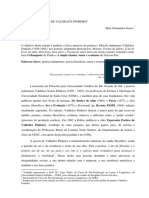Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Sina e Criação (Reformatado)
Transféré par
Gilfranco Lucena Dos Santos100%(1)100% ont trouvé ce document utile (1 vote)
28 vues96 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
100%(1)100% ont trouvé ce document utile (1 vote)
28 vues96 pagesSina e Criação (Reformatado)
Transféré par
Gilfranco Lucena Dos SantosDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 96
SINA E CRIAO
Fontes Existenciais da Inquietao
Filosfica e da Criatividade Potica
Este livro visa desenvolver uma reflexo dialogante e meditativa a respeito da
experincia existencial fundamental, que conduz criao potica. Partindo de
um mtodo filosfico sem pretenses analticas, procura-se aqui se instalar na
perspectiva de uma reflexo meditativa, levando em conta os aspectos
mstico, potico e filosfico da existncia, presentes especialmente em obras
de autores brasileiros como Carlos Drummond de Andrade, Ariano Suassuna e
ngelo Monteiro, alm de aprofundar o que a se mostra a partir do
pensamento filosfico de Raimundo Farias Brito e Evaldo Bezerra Coutinho.
Procurando aprofundar e dar a compreender o sentido existencial
fundamental do labor potico, e tomando como ponto de partida que o
prprio filosofar tem suas razes profundas na experincia mstica e potica,
busca-se primeiro compreender como a tristeza se faz solo originrio e
fecundo da criao; em seguida procura-se enxergar em que medida a
antecipao da morte instaura, como possibilidade de sentido finita, a
liberdade criadora; depois se verifica como a existncia aprisionada nos limites
de sua finitude sente o primeiro lampejo de sua liberdade na experincia da
criao potica; e, por fim, procura-se mostrar exemplarmente como o labor
potico possui, em ltima instncia um carter redentor da experincia finita
do homem no mundo.
2013
Gilfranco Lucena dos Santos
Universidade Federal do Recncavo da Bahia
Amargosa/BA
2
3
Fontes Existenciais da Inquietao Filosfica e da Criatividade Potica
Gilfranco Lucena dos Santos
4
5
APRESENTAO
O que em ns empurra-nos criao potica e inquietao filosfica? Por que
efetivamente fazemos poesia, literatura, arte e construmos ideias e conceitos
filosficos? Como uma ininterrupta vibrao de corda tencionada, tais indagaes
sobrevoam ao mesmo tempo distantes e rasantes os meandros argumentativos
encravados nos cinco ensaios que constituem a presente obra. Longe de qualquer
compromisso com o modo de filosofar imperante em nossa poca, cuja praxe parece
transmutar a filosofia em uma simples ancilla scientiae, o que nela percorre bastidores e
proscnio um debruar-se quase um atirar-se no velho-novo problema das origens.
Nessa caudalosa tarefa, os prprios olhos autobiografantes de seu autor recolhem no
mrmore de sua existncia uma experincia potico-filosfica capaz de ousadamente
danar por sobre os tnues limites que separam o mstico, o artstico e o filosfico.
Sina e Criao de Gilfranco Lucena dos Santos nos guia pelas sendas de uma
elaborao intelectual densa e profundamente ntima, ancorada no pressuposto de que
Arte e Filosofia, ambas tomadas como modos de compor, possuem uma fonte originria
comum: a existncia. Em outras palavras, a trama criadora que se desdobra em obra de
arte ou construto filosfico sempre faz referncia a um horizonte existencial de sentido,
a uma tradio, ou quilo que o autor precisamente denomina verbo herdado. Destarte,
o poeta um criador e o criar potico (ou mesmo filosfico) uma re-orquestrao do j
orquestrado, do repositrio e lugar mesmo de resguardo de toda criao possvel ao
existente humano. Visto dessa maneira, todo compor poetizante compreendido desde
as razes telricas da vida em tudo que ela abarca, peremptoriamente flechando cada um
de ns e engendrando dilaceraes configuradoras.
No pano de fundo e sudrio mesmo dos processos criativos que arrebatam o
artista e o filsofo o autor encontra uma primeira fonte: a tristeza humana enquanto
revrbero e centelha da tristeza criadora do Deus judaico-cristo. Juntando-se a
Drummond e Farias Brito, com os quais se coloca em ntida contiguidade intuitiva, faz-
nos reconhecer no dorso do fazer potico e da compreenso filosfica as cinzas da
tristeza csmico-divina. No ato artstico e filosfico de composio, segundo Gilfranco
L. dos Santos, repete-se o gesto-sntese de Deus em sua incomensurvel solido, pois
Nele tristeza e criao consubstanciam-se. No olvidando seu sentido simblico, o autor
revela a face mtica do contedo dessa tristeza criadora suscitando o modo comum de
6
representao da criao nesse domnio, a procriao, e nesta as figuras da dor, da
gerao, da transmutao, da regenerao.
Noutra senda, a vez da abertura antecipatria para finitude experienciada
como vspera de morte estatuir-se em fonte existencial da produo artstica e
filosfica. Schopenhauer j teria dito que a morte a musa da filosofia, sem a qual
jamais se teria filosofado, e tal assero parece incorporar-se s argutas palavras do
autor quando busca retratar, nas raias do pensamento de Evaldo Coutinho e Farias Brito,
o carter trgico do existir em sua condio de propulsor da criao potica. Porquanto
cnscios de estarmos mergulhados na sina da morte inexorvel, pomo-nos a criar.
Porquanto vivemos com a lancinante conscincia de estar a um passo de morrer, no
hesitamos em esculpir esttuas erigidas em nome de nossa vontade de eternizao.
Engravidados pela morte, esta inseparvel sombra da existncia, libertamo-nos dando
luz a obras mediante as quais anelamos perpetuarmo-nos.
Para alm dos epitfios, poesia jazigo! Qui seja essa a mais penetrante
considerao filosfica desse livro. O dilogo construdo com Ariano Suassuna e
ngelo Monteiro , nesse sentido, bastante profcuo. No mundo como crcere, e na
morte como carcereira, um Quaderna acorrentado exibe o seu destino potico que no
fundo o nosso: somente no onrico da elaborao potica desencarceramo-nos. Com a
lucidez prpria de quem filosofa com altivez, o autor nos coloca ante a tarefa mesma da
poesia: reter o instante, pereniz-lo no perecvel. A poesia no sendo mais que o dstico
perenizado da finitude entrega existncia uma possibilidade remissiva. Demiurgo s
avessas, o poeta-filsofo arranca do transitrio aquilo que captura e cristaliza em obra
de arte, e nesse atrevimento fundamental, vive e se redime da finitude!
A escrita ensastica fincada nas pginas que se seguem exala uma atitude ao
mesmo tempo particular e universal de seu autor: particular em vista do anseio por
generosamente comunicar uma abissal vivncia prpria revertida sobretudo em poesia, e
universal pela tentativa a nosso ver exitosa de compreend-la na perspectiva do
drama existencial humano em franca correspondncia com um circuito reflexivo
consolidado na tradio filosfica desde os antigos gregos. Essa dupla valncia permite
ao livro abrigar a densidade tpica de quem tem com a sabedoria uma profunda amizade,
e a beleza lrica de algum que ao escrever versa sobre todos ns, falando de si.
Jos Antnio Feitosa Apolinrio
Serra Talhada, Setembro de 2013.
VI
7
Existenciar para a morte,
eis o dstico que aponho fachada do meu templo.
Evaldo Coutinho
8
9
A meu Pai,
in memoriam,
que sempre sofreu as dores de estar arremessado para a morte
e entregue angustiosa vida errante, prpria da existncia em agonia.
10
11
PREFCIO
Este livro um inventrio. uma prestao de contas com o que para mim tem
se tornado mais essencial, em minha precria experincia filosfica. um inventrio do
que tenho recebido de herana e, portanto, a nica coisa que posso deixar de herana.
Visa desenvolver uma reflexo dialogante e meditativa a respeito da experincia
existencial fundamental, que conduz s inquietaes filosficas e criao potica.
Partindo de um mtodo filosfico, sem pretenses analticas, procura-se aqui se instalar
na perspectiva de uma reflexo meditativa, levando em conta os aspectos mstico,
potico e filosfico da existncia, presentes especialmente em obras de autores
brasileiros como Carlos Drummond de Andrade, Ariano Suassuna e ngelo Monteiro,
alm de aprofundar o que a se mostra a partir do pensamento filosfico de Raimundo
Farias Brito e Evaldo Bezerra Coutinho.
Trata-se de uma interpretao interativa, que inclui necessariamente uma
penetrao de sentido e significao, no caracterizada por uma mera compartilha
intersubjetiva de objetividades exteriores, mas uma contemplao unitiva,
correspondente; prolongamento de um sentido comum. Trata-se, pois, da interpretao
de intuies filosficas inquietantes e criaes poticas sugestivas, mas no no sentido
de alcanar a sua completude, mas apenas no mbito em que um determinado sentido
comum pode ser compreendido em seu elemento nico, singular e pleno por si. Por isso,
uma meditao, no uma exposio analtica.
Este mtodo de exposio, caracterizada aqui como uma penetrao de sentido
no nenhuma inveno. Trata-se de um modo como se constitui a interpretao de
uma herana verbal, de um sentido comunicado, compreendido e passvel de ser
prolongado e aprofundado; que pode ir alm do sentido comunicado, passvel de
interpretao. Interpretar no analisar o que se disse, mas elaborar o compreendido.
No se pode confundir interpretao com anlise e, com isso, no estou estabelecendo
nenhuma hierarquia entre ambos. A diferena bsica entre interpretao e anlise que,
nesta ltima, a fidelidade consiste em unicamente apreender o mais objetivamente
possvel o que foi dito e o modo como foi dito, criando meta-estruturas de apreenso
que se diferenciam objetivamente da estrutura em que o verbo herdado foi comunicado.
Na penetrao de sentido, prpria da interpretao que aqui almejo empreender, a
fidelidade ao dilogo participativo, em que se pode ir alm do que j foi dito, mesmo
12
que se parta claramente dele. Ir alm do j comunicado significa prolongar e aprofundar
o sentido da palavra comunicada. Trata-se de uma repetio ou retomada revisionista,
luz de um sentido compreendido, em que, de incio, parece no haver nada de novo,
mas, ao fim e ao cabo, chega-se a um patamar de sentido, que no se imaginaria
alcanar no incio da interpretao.
Procurando aprofundar e dar a compreender o sentido existencial fundamental
do labor potico, e tomando como ponto de partida que o prprio filosofar tem suas
razes profundas na experincia mstica e potica, busca-se primeiro compreender como
a tristeza se faz solo originrio e fecundo da criao; em seguida procura-se enxergar
em que medida a antecipao da morte instaura, como possibilidade de sentido finita, a
liberdade criadora; depois se verifica como a existncia aprisionada nos limites de sua
finitude sente o primeiro lampejo de sua liberdade na experincia da criao potica; e,
por fim, procura-se mostrar exemplarmente como o labor potico possui, em ltima
instncia um carter redentor da experincia finita do homem no mundo.
Espero que este livro seja recebido, em ltima instncia caso se perceba que
ele se tornou digno disto como uma homenagem a esses grandes poetas e pensadores
brasileiros, que muito marcaram minha experincia meditativa sobre a vida e sobre a
experincia de pensar e criar, as quais caracterizam a filosofia e a arte.
O Autor
Amargosa, maio de 2013.
XII
13
SUMRIO
INTRODUO ................................................................................................. 15
PRIMEIRO CAPITULO
TRISTEZA E CRIAO ...................................................................................
31
SEGUNDO CAPTULO
VSPERA DE MORTE E CRIAO ...............................................................
41
TERCEIRO CAPTULO
A EXISTNCIA APRISIONADA E SEU DESTINO POTICO .....................
59
QUARTO CAPTULO
A FUNO REDENTORA DO LABOR POTICO ........................................
69
QUINTO CAPTULO
O RESGUARDO ARTSTICO DA EXISTNCIA HISTRICA ....................
81
CONCLUSO ...................................................................................................
91
REFERNCIAS ................................................................................................
93
14
15
INTRODUO
Filosofar aqui no consiste em outra coisa, seno em recolher vestgios para a
elaborao de uma s composio. Neste sentido, Filosofar compor. E nisto se
assemelha arte.
A diferena entre o filsofo e o artista est em que o artista v assim como o
religioso cr sem ter visto, confiando apenas no testemunho dos antepassados e em
funo do que sente em seu ntimo. Desse modo, enquanto o artista v e o religioso cr,
o filsofo quer ver para crer e, por isso, mergulha em suas inquietaes, que so sua
fonte de inspirao.
Mas as inquietaes do filsofo e dos filsofos no so sempre as mesmas. Elas
despertam o filosofar e, tomado por elas, o filsofo inquire e persegue as indicaes e
pistas de seus questionamentos, enquanto procura ver mais e melhor.
O filsofo procura ver mais e melhor aquilo que de algum modo sente, mas no
sabe. Por isso, segue o faro de suas inquietaes, enquanto se sente impulsionado a
caminhar em direo a si mesmo. As inquietaes se constituem como uma espcie de
inspirao que o convocam para si, a fim de que ele possa descobrir e ver o que
realmente no sabe, mas, de algum modo, sente. Assim, o filsofo quer ver para crer
naquilo que de algum modo sente, mas no sabe propriamente. O filsofo, portanto, no
um sbio, mas um ser anelante pela sabedoria, que reconhece no ter.
Por isso, conta a tradio que Pitgoras no quis ser chamado de sbio (oc,c,),
mas de amigo da sabedoria (,|+coc,c,). Ao anoitecer da filosofia, Hegel cometeu esse
ledo engano em sua proposta filosfica: O verdadeiro aspecto (Gestalt), em que a
verdade existe, s pode ser o seu sistema cientfico. Colaborar para que a filosofia se
aproxime da forma da cincia da meta em que se possa tirar-lhe o nome de Amor ao
Saber para ser saber efetivo isto o que me proponho
1
. Por outro lado, ao alvorecer
da longa noite em que mergulhou o pensamento filosfico com Hegel, preciso tentar
corrigir esse erro e, retomando a postura pitagrica, comear de novo a pensar,
reconhecendo-se no como sbio, nem como tolo, mas como filsofo.
Comear de novo a pensar, cultivando a amizade pela sabedoria, implica
redescobrir em que consiste a philia, e quais atitudes a constituem.
1
Friedrich HEGEL. Fenomenologia do Esprito, trad. Paulo Menezes, 3 ed. Petrpolis: Vozes, 1997, p.
23.
16
Era em funo desta amizade, de certo modo desprezada por Hegel em seu
prefcio Fenomenologia do Esprito, que Pitgoras considerava-se praticante da
filosofia, a qual no havia certamente de ser compreendida como saber efetivo
(wirkliches Wissen), como o quis Hegel, mas como amizade pela sabedoria (,|+|a :c:
oc,c:).
Heidegger caracterizou bem, certa vez, esta espcie de amor, isto , a amizade.
Traduziu o verbo grego ,|+c| por presentear o favor, ou conceder a graa (die
Gunst schenken), entendendo o favor no sentido originrio de propiciar e preservar.
Segundo ele:
A propiciao originria uma preservao do que convm ao outro, do que
pertence sua essncia, medida que o sustenta. A amizade, fili,a, , assim, o
favor que favorece ao outro a essncia que ele j possui, de maneira que nessa
apropriao a essncia favorecida possa florescer em sua prpria liberdade. Na
amizade, a essncia reciprocamente propiciada e favorecida libera-se para si
mesma.
2
Desse modo, o amigo da sabedoria, em sua amizade por aquilo que sente, mas
no sabe, e quer ver para crer, pois se enche de espanto com o que sente, com o que
fareja, um propiciador do florescimento da sabedoria, esta que, por sua vez, se anuncia
em cada filsofo de um modo diferente, a partir de suas inquietaes. Este, ao procura-
la, almeja encontra-la, resguard-la, cultiv-la, preserv-la e mant-la em sua essncia.
H uma tendncia contempornea, especialmente em virtude da fragmentao do
saber cientfico, a buscar se inteirar de tudo aquilo que se tornou objeto da cincia, e
pode ser apreendido segundo seu mtodo. Esta tendncia conduz no s busca de um
saber fragmentrio e disperso em muitas justas especialidades, mas, acima de tudo, a um
processo de especializao em que a filosofia j no tem grande relevncia, se no se
prestar a estabelecer fundamentos lgicos, qui ontolgicos, desses outros campos do
saber. Resta filosofia fornecer o arcabouo profundo em que se insere, como algo
justificado e bem fundamentado, o saber especializado da cincia. Chegou-se mesmo a
anunciar o fim da filosofia, com vistas a deixar um caminho aberto para a tarefa do
pensamento nesse clima atual. Mas aqui interessa-me a questo de um recomeo, em
que j esteja de antemo decidido como faz-lo. De um recomeo em que esteja em
jogo, acima de tudo, suscitar essa experincia de aproximao de um saber que est
2
Martin HEIDEGGER. Herclito, trad. Mrcia S Cavalcante Schuback. Rio de Janeiro: Relume
Dumar, 1998, p. 128.
17
muito longe daquele j consagrado e firmemente constitudo na concepo cientfica
do mundo. Como faz-lo? Tentemos comear com um breve retorno experincia
inicial da filosofia.
Pela tradio, segundo a qual se conta que o termo filosofia advm de Pitgoras,
no se pode imaginar que ele tenha sido simplesmente aquilo que quiseram fazer dele:
um mero sabedor de muitas coisas, apesar de, certamente, ter investigado muitas coisas,
impelido por suas inquietaes e, at mesmo, aprendido muitas coisas. O essencial na
atitude pitagrica mostra-se no fato de ele se colocar numa atitude de contnua busca e,
s por isso, poder ter feito alguma descoberta. esta busca que caracteriza o termo
,|+c| na palavra filosofia.
Depois de Pitgoras, Herclito considerava ser bem necessrio [serem] os
homens amantes da sabedoria para investigar muitas coisas
3
, e considerou que
Pitgoras, filho de Minesarco, procurou investigar (|o:cp|p pokpoc) mais do que
todos os homens, tendo, com isso, atravs de suas composies escritas e por ele
escolhidas, constitudo para si uma sabedoria (crc|poa:c ca::c: oc,|p) a partir das
inquiries por ele levadas a cabo
4
. Porm, apesar do que j dissemos acima sobre
Pitgoras, esta sabedoria alcanada por Pitgoras foi caracterizada por Herclito como
sendo rc+:uac|p, isto , aprendizado de muitas coisas. esta expresso e este tipo de
saber que, a meu ver, pode ter sido injustamente aplicado a Pitgoras e melhor se
aplica quilo que fizeram ou quiseram fazer dele que est sob o olhar crtico de
Herclito no fragmento 40, assegurando que rc+:ua|p, isto , muito aprendizado no
ensina ao intelecto (cc c: o|oaokc|), seno teria ensinado Hesodo e Pitgoras, e
tambm Xenfanes e Hecateu
5
.
V-se, pois, atravs da conexo desses dois fragmentos, que a crtica de
Herclito dirige-se a esse aprendizado de muitas coisas, que ele atribui tanto a Pitgoras,
a quem quiseram chamar de sbio, e que entrou na tradio como sabedor ou aprendiz
de muitas coisas, assim como o faz com Hesodo, Xenfanes e Hecateu. preciso notar,
porm, que, ao tentar pensar-se como filsofo, Pitgoras quer, certamente, rejeitar ser
3
HERCLITO, fragm. 35, in ANAXIMANDRO, HERCLITO e PARMNIDES. Os Pensadores
Originrios. Trad. Emanuel Carneiro Leo e Srgio Wrublewski. 3 ed. Petrpolis: Vozes, 1999, p. 67.
4
Cf. HERCLITO, fragm. 129, in Charles H. KAHN. A arte e o pensamento de Herclito. Uma edio
dos fragmentos com traduo e comentrio. So Paulo: Paulus, 2009, p. 68. Cito o nmero do fragmento
de acordo com Diels, indicado pela letra D nesta edio de Kahn.
5
HERCLITO, Fragm. 40, in C. H. KAHN, op. cit., p. 65.
18
chamado de sabedor de muitas coisas; uma caracterstica que Herclito, como filsofo
que foi, tambm haver de evitar.
De fato, para Herclito, a autntica busca do saber no se coaduna com o
aprendizado de muitas coisas. Tentando recompor o seu discurso, ainda que de maneira
relativamente arbitrria, a partir de alguns dos vestgios de seus escritos que chegaram
at ns, demos-lhe a palavra para ouvir o que significava para ele a filosofia e o
filosofar. Quem propriamente o sbio na perspectiva heraclitiana? Segundo Herclito,
Um somente o sbio, proclamado, queira ou no queira, pelo nome de Zeus
6
. O que
reafirma em outros fragmentos: Um o sbio, conhecendo o plano pelo qual dirige
todas as coisas atravs de tudo
7
. O raio comanda todas as coisas
8
. Para Herclito, o
divino se mostra como um mbito no qual se situa a sabedoria, e s a ele se pode
propriamente chamar de sbio.
Esse divino, proclamado, aqui, pelo nome de Zeus, o raio que governa todas as
coisas , porm, em outro passo, interpretado do seguinte modo: O deus: dia noite,
inverno vero, guerra paz, saciedade e fome, que muda como se misturando a
perfumes e nomeado segundo o prazer de cada um
9
. V-se por a a rbita em torno
da qual gravita o que Herclito nomeia como deus, Zeus, o raio: dia e noite, guerra e
paz, saciedade e fome, inverno e vero; esta mudana contnua que sendo, ao mesmo
tempo, um s, recebe dos homens, porm, vrios nomes, por uma limitao do homem,
e no por causa da divindade mesma imanente ao cosmos. Este cosmos proclamado por
Herclito o novo Zeus dos filsofos, como diz Charles Kahn, e que remete ideia
de deus csmico, ordenando a regularidade do sol e das estrelas, da luz do dia e das
estaes, por um ato de inteligncia csmica
10
.
Para o homem, que dito tolo por um deus, tal como a criana dita tola
por um homem
11
, as mudanas da natureza, seus tempos, mostram-na como mltipla,
quando, na verdade, essas mudanas contnuas so uma unidade divina. Nisso erra os
homens, segundo Herclito, pois s veem o mltiplo no um, segundo opinies diversas
e a seu bel prazer, o que atesta contra sua presumida sabedoria. Pois, assegura Herclito,
6
Ibidem, Fragm. 32, p. 104.
7
Ibidem, Fragm. 41, p. 80.
8
Ibidem, Fragm. 64, p. 104.
9
Ibidem, Fragm. 67, p. 105.
10
Charles KAHN, A arte e o pensamento de Herclito; uma edio dos fragmentos com traduo e
comentrio, trad. lcio de Gusmo Verosa Filho. So Paulo: Paulus, 2009, p. 262.
11
HERCLITO, Fragm. 79, op. cit., p. 81.
19
as opinies humanas so brinquedos para crianas
12
. Segundo Herclito, a maioria
dos homens no pensa coisas como as encontra, nem reconhece o que experimenta, mas
acredita em suas prprias opinies
13
. E se pergunta: Que juzo ou compreenso eles
tm? Creem nos poetas do povo e adotam a multido como seu professor, no sabendo
que muitos so sem valor, homens bons so poucos
14
.
Ento, podemos ver Herclito passar em revista queles considerados como
sbios das multides. Sua posio rudemente crtica, e certamente tem em vista mais
atacar o modo como os poetas eram tomados pelas multides do que propriamente os
poetas em si. Fato que, numa genuna antecipao da concepo e da atitude socrtica,
Herclito reluta em falar dos seres humanos como sbios
15
, compreenso vulgar que
estava arraigada na tradio grega de ento, e que se conservava nas lendas dos Sete
Sbios, que atribua a poetas, artesos, estadistas e mestres de moralidade
16
o ttulo
de sbios
17
.
Assim, Herclito zomba dos que creem nos poetas do povo (opua ac|oc|o|) e
adotam a multido como seu professor. Pensando desse modo, e tentando mostrar
porque no se deve aplicar aos homens o ttulo de sbios, Herclito comea a
sarcasticamente demonstrar a impropriedade da atribuio de sbio aos homens,
tornando patente, recorrendo prpria tradio, os equvocos, enganos e problemas
daqueles que a multido considera como sbio. E assegura:
Os homens se enganam no reconhecimento do que bvio, como Homero, que
era o mais sbio de todos os gregos. Pois ele foi enganado por meninos que
12
Ibidem, Fragm. 70, p. 81.
13
Ibidem, Fragm. 17, p. 60.
14
Ibidem, Fragm. 104, p. 82.
15
Charles KAHN, op. cit., p. 262.
16
Ibidem.
17
No Protgoras de Plato figura uma lista de sete, caracterizados como indivduos de educao
esmerada: Entre esses, diz Plato, contam-se Tales de Mileto; Ptaco de Mitilene; Biante de Priene;
nosso Solo; Clebulo, de Lindos; Miso de Queneu, e o lacedemnio Quilo, que tido como o stimo
do grupo (PLATO, Protgoras, 343a, trad. Carlos Alberto Nunes, Belm: EDUFPA, 2002, p. 95).
Digenes Larcio, em seu Vidas e Doutrinas dos Filsofos Ilustres, apresenta uma lista de sete idntica
de Plato, exceto pelo fato de substituir o nome de Mson pelo de Periandros (cf. DIGENES
LARTIOS, Vidas e Doutrinas dos Filsofos Ilustres, 13, trad. Mrio da Gama Kury, 2 ed. Braslia:
UNB, p. 16). Mas traz tona outras referncias a eles em outras obras antigas, nas quais no somente se
mudam os nomes, mas tambm o nmero dos reconhecidos como sbios (cf. DIGENES LARTIOS,
Vidas 40-41, op. cit., p. 23).
20
matavam piolhos, que disseram: o que vemos e apanhamos deixamos para trs;
o que no vemos nem apanhamos levamos embora
18
.
Trata-se, de fato, de uma ironia sinistra, que Homero, tendo sido o mais sbio
de todos os gregos, tenha sido enganado por garotos que catavam piolhos, fazendo,
como contava a tradio, que o poeta tivesse morrido de desgosto por no ter sido
capaz de adivinhar a resposta da charada
19
.
Pitgoras foi um daqueles renomados ditos Sbios da Grcia pela tradio. Seu
nome figurava entre os sbios na obra de Hrmipos, intitulada Sobre os Sbios, e
melhormente como filsofo na sua Lista de Filsofos de Hipbotos
20
. Herclito observa
sua capacidade investigativa, mas em nome de sua crtica atribuio de sbio aos
homens, destaca em que consiste o aprendizado de Pitgoras, dizendo ainda de maneira
sarcstica e mesmo irnica: Pitgoras, filho de Minesarco, levou a inquirio alm de
todos os homens e, escolhendo o que gostava dessas composies, forjou uma sabedoria
para si: muito aprendizado, arte malfica
21
. Para Herclito, muito aprendizado no
ensina ao intelecto, seno teria ensinado Hesodo e Pitgoras, e tambm Xenfanes e
Hecateu
22
, e assegura ainda que Homero merece ser retirado da competio e
espancado com vara e Arquloco tambm
23
. Ou seja, como um aedo, que tinha seus
poemas recitados por rapsodos em competies pblicas nos jogos e festivais (agones),
em conexo com os torneios atlticos
24
, Homero, tal como Arquloco poeta lrico e
autor de invectivas cmicas do sc. VII a. C. mais que ser aclamado como sbio,
deveria mesmo era ser punido com o seu prprio smbolo, a vara ou rhabdos
25
, isto ,
o instrumento padro utilizado pelos bardos e rapsodos que competiam em torneios de
poesia
26
. Pois, para Herclito, o que esses ditos sbios constituam tratava-se mais de
um aprendizado mltiplo, do que propriamente de sabedoria.
Por isso, numa ausculta ao senhor, cujo orculo est em Delfos, e que no
declara nem oculta, mas d sinal
27
, Herclito assegura: fui em busca de mim mesmo
18
Ibidem, Fragm. 56, p. 67.
19
C. KAHN, op. cit., p. 147.
20
DIGENES LARTIOS, Vidas, 42, op. cit., p. 23.
21
Ibidem, Fragm. 129, p. 68.
22
Ibidem, Fragm. 40, p. 65.
23
Ibidem, Fragm. 42, p. 67.
24
C. KAHN, op. cit., p. 146.
25
Ibidem.
26
Ibidem, p. 67, n. XXI.
27
HERCLITO, Fragm. 93, op. cit., p. 71.
21
28
. A sentena concisa, que, segundo Plato, foi posta de comum acordo entre os Sete
Sbios, entrada do templo de Delfos, oferecendo a Apolo as primcias de sua
sabedoria
29
e atribuda a Tales
30
, d sinal sobre o que de fato essencial: la|
oa::c, isto : Conhece-te a ti mesmo. Com boca delirante, a Sibila declara coisas sem
sorrisos, sem adornos, sem perfume, e a sua voz ressoa por mil anos por causa do deus
que fala atravs dela
31
, assevera Herclito. E assegura, quanto a este dito, que: No
descobrirs os limites da alma mesmo se percorreres todos os caminhos, to profundo
o seu dito (+cc,)
32
. E ouvindo no a mim, mas ao dito (+cc,), que sinaliza e
indica, sbio condizer ser tudo um
33
. E assegura:
Embora este dito seja sempre, os homens sempre falham em compreend-lo,
tanto antes quanto depois de t-lo ouvido. Embora todas as coisas se passem de
acordo com este dito, homens so como descrentes quando experimentam
semelhantes palavras e obras, como agora empreendo, distinguindo cada uma
segundo a natureza e dizendo como ela . Mas outros homens se esquecem do
que fazem despertos, assim como se esquecem do que fazem dormindo
34
.
Desses homens, que se esquecem do que fazem acordados, assim como se
esquecem do que fazem dormindo, diz Herclito que Hesodo o professor da
maioria. ele que conhecem como o maior conhecedor, ele que no reconheceu a
natureza do dia e da noite: ambos um
35
. Pois, sustenta Herclito, Hesodo
considerava alguns dias bons, outros como ruins, porque no reconhecia que a natureza
de todos os dias era uma e a mesma
36
. Para Herclito, o dia e a noite so ambos um,
aquele proclamado pelo nome de Zeus. No ter reconhecido isso , para Herclito, um
limite na expresso de Hesodo, que tambm no poder ser chamado de sbio. O relato
de Hesodo estava apoiado no padro de oposio mais firmemente ancorado na
experincia bsica da humanidade entre a luz do dia e a escurido da noite
37
. O
28
Ibidem, Fragm. 101, p. 64.
29
PLATO, Protgoras, 343a. op. cit., p. 95.
30
De acordo com Digenes Larcio dele o provrbio conhece-te a ti mesmo, que Antstenes, em sua
obra Sucesses dos Filsofos, atribui a Femonoe, embora admitindo que o mesmo fora plagiado por
Qulon (DIRGENES LARTIOS, Vidas 40, op. cit., p. 23).
31
HERCLITO, Fragm. 92, op. cit., p. 72.
32
Ibidem, Fragm. 45, p. 72.
33
Ibidem, Fragm. 50, p. 72.
34
Ibidem, Fragm. 1, p. 59.
35
Ibidem, Fragm. 57, p. 66.
36
Ibidem, Fragm. 106, p. 66.
37
C. KAHN, op. cit., p. 143.
22
relato de Hesodo a respeito da natureza do dia e da noite
38
algo com o qual s um
tolo pode se empolgar, pois, para ele, um homem tolo ama empolgar-se com qualquer
relato
39
. Mas declara: de todos os relatos que ouvi, nenhum foi mais longe do que
este: reconhecer o que sbio, separado de tudo
40
.
V-se por esta tentativa arbitrria de acompanhar numa certa ordem de
recomposio, que no teve, de modo algum, a inteno de ser correta, que a
compreenso de Herclito relativamente filosofia superar o mito do sbio, para
seguir o caminho da busca da sabedoria, indicada pelo Orculo de Delfos: nisto consiste
o filosofar: ir em busca de si mesmo, da singularidade da existncia, at ao ponto de
poder, com o orculo, condizer ser tudo um.
Este retorno, ressignificado, o retorno singularidade da existncia. Sendo a
existncia singular, no adianta muito sair em busca de aprender muitas coisas, porque
somente ao caminhar para si mesmo, que tudo pode ser descoberto e fazer algum
sentido.
Por isso, mais do que ser sbio, importa ser amigo da sabedoria. Mais do que
investigar muitas coisas, importa condizer ser tudo um. Mas que este um, que os
homens resolveram chamar pelo nome de deus?
Antes que os filsofos gregos resolvessem sair procura desse um, por meio da
busca de si mesmos, orientados pelo Orculo de Delfos, os poemas homricos
ressoavam pelos becos e vielas e praas das antigas cidades gregas. As aes eram
compreendidas como movidas pelo impulso divino, e a prpria natureza era
compreendida como estando cheia de deuses. Os mitos povoavam as mentes e coraes
dos povos, que vieram depois, pelo domnio de um s, a constituir a Hlade. A
Teogonia de Hesodo fazia-os ver a terra e seus elementos constitudos por deuses, at
que as tragdias e as comdias fizessem os gregos voltarem seus olhos para os dois
principais modos como os homens aprenderam a enfrentar os dramas da vida: o choro e
o riso.
Tudo isto se deu, antes que os filsofos aparecessem e, quando eles chegaram, o
que fizeram no foi propriamente romper com toda a tradio dos povos dos quais
fizeram parte, apesar do que disse Herclito; mas, mais propriamente, o que fizeram foi
38
Cf. HESODO, Teogonia, 748-757.
39
Ibidem, Fragm. 87, p. 82.
40
Ibidem, Fragm. 108, p. 69.
23
aprofundar ainda mais, tudo aquilo que nos mitos, teogonias, tragdias e comdias era
genuinamente digno de ser pensado. Sua crtica no se voltava tanto para o passado,
mas para o modo como a sabedoria de seus ancestrais cara em circulao. Romperam,
desse modo, propriamente, mais com seu presente, que com seu passado. Mas, nessa
crtica e ruptura, o passado era retomado de uma maneira nova, em que no restava mais
espao para fetiches e iluses.
Os filsofos conservaram a piedade. Mas no se podia continuar a crer que o
caos originado das paixes humanas, pensados antes como foras no dominveis, fosse
imputado aos deuses, como sendo tudo culpa deles. Segundo Xenfanes, aos deuses
Homero e Hesodo atriburam tudo o que entre os homens injurioso e censurvel
41
;
referem-se inmeras vezes a atos ilcitos dos deuses: roubar, cometer adultrio e
enganar uns aos outros
42
. Os filsofos deslumbravam-se e ficavam estupefatos com os
fenmenos do mundo; mas sentiam que era preciso ter a conscincia de que o mundo,
o mesmo em todos, nenhum dos deuses e nenhum dos homens o fez, mas sempre foi,
e ser, fogo sempre vivente, acendendo segundo medidas e segundo medidas
apagando, como disse Herclito
43
. Sentiam que os deuses conclamavam os homens a
uma s coisa, enunciada por dois nomes, mas que, no fundo, era uma s coisa:
sabedoria e justia.
A mera busca de compreender o mundo por oposio ou superao por meio do
discurso no o solo que sustenta a passagem do u:c, ao +cc,. Nesta passagem, cujo
convite e atitude no mais o de aplaudir o repetir e cantar dos mitos, o que faziam com
os griot do povo chamados aedos e rapsodos, no est em jogo a dessacralizao do
mundo ou seu desencantamento. Era preciso decantar o sentido dos mitos e escutar o
dito que a concentrao no que de fato se mostra como divino, para no perd-lo de
vista. Assim, nesta passagem do u:c, ao +cc,, no se trata de uma ruptura
descontnua, mas de um fluxo contnuo, em que o mito decantado para se escutar nele
o sentido profundo do que est dito nele e do que no mundo, sob o cu e sobre a terra,
consiste esta autntica comunho entre o humano e o divino.
Aristteles se deu conta desse fluxo, na passagem do u:c, ao +cc,, e f-lo
emergir de uma mesma fonte ou nascente: ck a:uao|c, da admirao, da estupefao,
41
XENFANES, Fragmentos, trad. Daniel Rossi Nunes Lopes. So Paulo: Olavobrs, 2003, Fragm. 11,
p. 23.
42
Ibidem, Fragm. 12, p. 23
43
HERCLITO, Fragm. 30, in C. H. KAHN, op. cit., p. 73.
24
da perplexidade, do espanto humano diante do mundo. J Plato se mostra adepto da
concepo segundo a qual a filosofia tem a admirao por sua fonte. Diz Plato: a
admirao a verdadeira caracterstica do filsofo. No tem outra origem a Filosofia.
Ao que parece no foi mal genealogista quem disse que ris era filha de Taumante
44
.
Por isso, para Aristteles, c ,|+cu:c, ,|+coc,c , ra, co:|
45
, isto , o amante dos
mitos , de algum modo, amante da sabedoria, pois os mitos esto cheios de elementos
admirveis, maravilhosos, dignos de admirao, a mesma admirao que fonte da
filosofia.
Qual , ento, o sentido da passagem do u:c, ao +cc,? O logos comea por
ser, de certo modo, um mito dialogado, isto , o canto da tradio dos antepassados
dialogado e refletido. H um sentido de mundo que se resguarda no labor potico
expresso da comunho humano-divina sob o cu e sobre a terra que o filsofo,
dialogando com sua tradio, torna patente na esfera do conceito, que agarra ou recolhe
esse sentido de mundo. Esta reflexo ou recolhimento dialogante no se reduz, porm, a
uma mera projeo especular da imagem do sentido que reflete. Ela contm, ainda,
fundamentalmente, um gesto, que, de algum modo, transforma o sentido ou, pelo
menos, torna a manifest-lo de outro modo: o logos procura agarrar o sentido e fixa-lo
para resguard-lo melhor e de maneira definitiva na conversa em torno das coisas; e
assim que se torna conceito, ou, mais propriamente, que se torna |oca, isto , a
evidncia ou c|oc, do sentido apreendido e guardado na ]:p, isto , na mente. Esta a
raiz de toda autntica abstrao terica, de todo aprendizado, de toda reflexo
especulativa, que nada mais do que a transformao do smbolo em conceito. este
ato que se constitui em toda passagem genuna do labor simblico (mtico ou mstico), e
por isso potico em sentido lato, ao labor conceitual (lgico) e por isso filosfico, ou at
cientfico, quando se abandona o filosfico. O que no se quer, porm, nesse ato,
perder de vista o mistrio revelado, descoberto e contemplado. Quem pode manter-se
encoberto e escondido face ao que a cada vez j no declina?, perguntava-se Herclito.
para apreender o mistrio que nasce essa amizade pelo saber, at ao ponto de sua
transformao em muito aprendizado, no qual, de certo modo, o mistrio j se perdeu.
Este o caminho, que conduz do ato de recolher, prprio do potico, ao ato de
44
PLATO, Teeteto, 155d, trad. Carlos Alberto Nunes. Belm: EDUFPA, 2001, p. 55.
45
ARISTTELES, Metafsica A, 2 981b, 28-29, 2 ed., trilngue, prep. Valentin Garca Yebra. Madrid:
Gredos, 1998.
25
apreender, prprio do cientfico, passando pelo filosfico, cujo ato resguardar por
meio de uma especulao, de uma reflexo, para ver mais e melhor.
Em funo disso, ngelo Monteiro, ao cantar o seu louvor filosofia como
sonho do homem, refletindo sobre essa copertena entre Mito e Logos, assegura:
O Mito no passa da face misteriosa e oculta do Logos, que ter de ser
continuamente por ns desvelada, para aclarar nosso prprio destino sobre a
Terra. Pois do Mito que fala o Logos. Das iluminaes, dos pressgios, das
foras do inconsciente que se querem incorporadas e assumidas pela
Conscincia para, cada vez mais, ativar o milagre do Ser nas suas mais
surpreendentes epifanias, o milagre do ser manifesto nos arqutipos, nos
sonhos, nas prodigiosas utopias concebidas pelo homem.
46
Por isso, mesmo se tiver de ser contra Herclito, temos que dizer que j na
inteno homrica de registrar por meio da escrita os poemas que constituam a
memria coletiva, no se encontrava outra coisa, seno esse desejo de pela poesia
salvar o que vai perecer; prender a onda na praia, antes que a onda caia.
Jos Trindade Santos nos faz ver brilhantemente como, por isso, era fundamental
a invocao divina; e diz que o bardo homrico, ao lanar por escrito os seus poemas,
recolhe cantos que h longos anos circulam na memria coletiva
47
. Para tanto, a
escrita exerceu um papel fundamental no processo de fixao de um patrimnio
comum, de que o poeta o guardio
48
. Enquanto os poemas no estavam ainda
fixados pela escrita, a memria oral cumpria o papel de resguard-los. O poeta era o
responsvel pela memria coletiva
49
tendo que conservar e recitar os cantos que
celebravam os feitos antigos
50
. Como a memria no estava ainda fixada no modelo
invarivel que a escrita representa, a declamao desses feitos antigos pelo poeta
compunha, improvisava e organizava o material herdado, adaptando-o s exigncias da
ocasio
51
. O poeta era, alm disso, um vaticinador, um adivinho, na medida em que,
por sua dignidade era investido de funes sacrais, pois o conhecimento do passado
permitia-lhe antever o futuro
52
. Apesar de alguns desses aspectos terem mudado,
depois que os poemas passaram a ser fixados pela escrita, eternizando assim em texto
46
ngelo MONTEIRO. Escolha e Sobrevivncia. So Paulo: Realizaes, 2004, p. 64.
47
Jos Trindade SANTOS. Antes de Scrates. 2 ed. Lisboa: Gradiva, 1992, p. 38-39.
48
Ibidem, p. 39.
49
Ibidem.
50
Ibidem.
51
Ibidem.
52
Ibidem.
26
rgido e sem vida a memria do poeta e dos feitos que cantava, o auditrio dessa
memria comunicada passou a escut-la pela boca dos rapsodos, declamadores
profissionais preparados para se exibirem nas ocasies festivas
53
, os quais se
limitavam a repetir, a pedido, extensas passagens decoradas
54
dos poemas homricos.
Segundo Jos Gabriel Trindade Santos, esta sobrevivncia da oralidade prolongar-se-
ainda por muitos sculos
55
.
Na poca de Plato, vemos, pelo on, como era com dignidade que se
valorizavam os rapsodos, ainda que a se verifique como Plato os considerava
mensageiros dos mensageiros dos deuses, j que eram mensageiros dos poetas
56
. Nesse
dilogo, Scrates colocado diante de on, a considerar, ainda que, certamente, no tom
irnico que lhe prprio, e demonstrar sua inveja dos rapsodos, por causa da profisso
deles. Pois sua arte exigia no somente que se apresentassem ricamente vestidos e com
a mais bela aparncia imaginvel
57
, mas principalmente porque como declamadores
dos poetas lhes era foroso viver sempre na companhia de excelentes poetas
58
,
destacando-se a figura de Homero, considerado o maior e mais divino dos poetas
59
. E
Plato, pela boca de Scrates, louva os rapsodos no somente pelo fato de estes serem
declamadores dos versos dos poetas, mas porque eram capazes de penetrar o sentido
profundo
60
desses versos. Plato reconheceu que ningum poderia tornar-se rapsodo
sem ter compreendido o que o poeta quer dizer
61
, uma vez que, acima de tudo, o
rapsodo teria de ser intrprete entre o poeta e seus ouvintes, o que no lhes seria
possvel sem o conhecimento exato do pensamento do poeta
62
.
E como a rapsdia, tal como a arte dos aedos, implicasse a inspirao divina,
justificava-se o pedido de auxlio Memria, tomada no como uma capacidade
psquica, mas como uma deusa que consente aos homens cantarem acontecimentos que
no presenciaram
63
. O poeta precisava dela para registar um verso herdado de outros
53
Ibidem.
54
Ibidem.
55
Ibidem.
56
Cf. PLATO, on, ed. J. Burnet, Platonis opera, vol. 3. Oxford: Clarendon Press, 1903, 535a.
57
PLATO, Io, 530b, trad. Carlos Alberto Nunes. Belm: EDUFPA, 2007, p. 217.
58
Ibidem.
59
Ibidem.
60
Ibidem, 530c.
61
Ibidem.
62
Ibidem.
63
J. G. T. SANTOS, op. cit., p. 39.
27
tempos
64
. O rapsodo, por seu turno, dela precisava para no se enganar na restituio
das passagens que tinha decorado
65
. Vale, porm, ressaltar com Jos Trindade Santos,
que, ao ato escritural que cumpre determinar a correta relao entre esses dois polos
difusores da memria coletiva
66
; porque, de fato, com a fixao do poema memorial
na palavra escrita se distinguem claramente a quem pertence o ato criador e o ato
revigorante da histria: o bardo tambm chamado aedo um criador, pois, mesmo
recitando de memria, recria e transforma o verso ancestral no seu dizer
67
. Por outro
lado, o rapsodo, que se constitui como o repetidor inspirado, que retoma e transmite, por
uma espcie de afinidade divinalmente congnita, uma verso do poema j fixada pela
escrita, s entrar em cena quando a palavra, que voa de ouvido em ouvido em ouvido,
tiver ficado definitivamente esculpida pela escrita
68
.
Trindade insiste, como ele mesmo o diz, numa interpretao dos poetas
[gregos] que os tome como obras recolhidas, a partir de um ciclo de cantos transmitidos
atravs dos sculos pela tradio oral
69
. E, neste sentido, assegura que o poeta no
est a inventar o argumento e o verso da histria que relata, mas a record-los
invocando uma memria ancestral e um verbo herdado
70
.
verdade que Trindade diz isso referindo-se epopeia homrica, mas penso
realmente que esta convico que ele exprime pode ser aplicada a todo labor potico
fundante, originrio ou genuno. Pergunto-me se todo labor potico no consistiria
justamente na composio de uma memria ancestral. Ele assegura ainda que num
universo comandado pela oralidade, no se espera do poeta que apresente concepes
originais, mas antes que d forma s noes que a tradio veiculou, como aquisies de
um saber ancestral
71
. Fico me perguntando, porm, se no justamente onde h
originalidade e genuinidade, seja na poesia, na filosofia ou na religio, que se constitui
essa recordao e composio memorativa de uma memria ancestral e de um verbo
herdado. Creio que sim. E mesmo na filosofia, na tradio reflexiva grega, isto est, de
algum modo, a acontecer. E onde quer que haja filosofia original e genuna, penso que
64
Ibidem.
65
Ibidem.
66
Ibidem.
67
Ibidem, p. 39-40.
68
Ibidem, p. 40.
69
Ibidem, p. 97.
70
Ibidem.
71
Ibidem, p. 98.
28
isso tem que acontecer. Toda criao original carrega as marcas de sua origem, mais
ainda quando o que lhe compete dar forma a noes que a tradio veiculou.
neste sentido que convm considerar que todo ato de pensar por meio da
criao, do questionamento crtico e da crena , por natureza, tnico. Desde que seja
genuno, o pensar criativo da arte, questionador da filosofia e crente da religio no
rfo em sua origem, e sempre acaba por manifestar seu carter ancestral. Como disse,
certa vez, um poeta: s cantador quem traz no peito o cheiro e a cor de sua terra, a
marca de sangue de seus mortos e a certeza de luta de seus vivos (Franois Silvestre,
cantador). Esta assertiva no se aplica somente ao cantador, mas a todo genuno poeta,
filsofo ou mstico. O cheiro e a cor da terra e a marca do sangue dos mortos e certeza
de luta dos vivos o que caracteriza o aspecto tnico de todo pensamento autntico.
Mesmo a dita filosofia grega deve muito antes ser reconduzida, para ser
compreendida, aos lugares e pocas desde onde e desde quando seus pensadores a
constituram, e sem nenhuma pretenso de unificao do pensamento em uma tal
filosofia grega. A pretenso imperiosa da poltica no deveria precisar se constituir no
critrio primaz para a compreenso do pensamento filosfico. Sua universalidade
consiste apenas na criatividade singular, que emerge livremente, e pode ser retomada na
experincia histrica dos indivduos de qualquer lugar, desde que consigam fazer a
experincia de seu verbo herdado. Da pluralidade dos lugares e pocas, povos e
culturas, emergiram homens e mulheres singulares, que passaram a se expressar a partir
de suas razes ancestrais e dos lugares onde viveram e por onde andaram. Assim que
de Mileto, mas como cidado do mundo, emergiu um Tales, e, do mesmo modo de
Colofon um Xenfanes, de Samos um Pitgoras, de feso um Herclito e de Elia um
Parmnides. Em todos eles, especialmente em Xenfanes, Herclito e Parmnides,
herdeiros da tradio mitopotica grega, emergia uma recomposio profunda e
refixadora de uma memria ancestral e de um verbo herdado. Em Tales e Pitgoras, h
de se considerar tambm no somente Mileto e Samos, mas, fundamentalmente, os
lugares de suas andanas Egito, Babilnia, Fencia carregados tambm de uma
milenar memria ancestral e um verbo herdado.
Toda esta reflexo foi estabelecida aqui no sentido de dizer que neste livro, o
que est efetivamente em jogo no a constituio de uma filosofia cientfica, de um
saber efetivo, mas justamente a tentativa de, a partir de um verbo herdado, conceder a
graa de poder meditar em torno de uma herana potica e filosfica em que mais
29
importante do que a conquista do saber efetivo, est em questo colocar-se a caminho
de um saber, de uma maneira amigvel, se quiser ainda apaixonada e mesmo
enamorada, sem preocupar-se demasiado com a noite de npcias.
Neste sentido, o livro que se segue um ensaio filosfico, no uma obra de arte,
pois tenho conscincia de que uma coisa a reflexo do Filsofo e outra a imaginao
criadora do Artista, se bem que ambas tenham uma fonte comum
72
. E, sabendo disso,
no pretendo, tambm, de modo algum, oferecer um breve tratado de filosofia da arte,
porque disso tambm eu no seria capaz. A nica coisa que aqui ser possvel sondar
essa fonte comum, de onde emerge a composio artstica e a composio filosfica.
Trata-se, assim, de uma composio filosfica em torno da fonte de onde emergem
tanto a Filosofia quanto a Arte. E enquanto composio um arranjo de sentido e
significao. Um sentido que se alcana tambm por meio e atravs da arte.
72
Ariano SUASSUNA. Iniciao Esttica. 11 ed. Rio de Janeiro: Jos Olmpio, 2011, p. 123.
30
31
PRIMEIRO CAPTULO
TRISTEZA E CRIAO
Este captulo um prembulo. Uma elaborao dialgica de carter mstico,
potico e filosfico, s para comear. a exposio de uma experincia um tanto
infantil e pessoal em demasia. Deve-se ter pacincia com as coisas de criana, quando
se adulto. Mas peo aos leitores pacincia se aqui, de um passado to longnquo
emerge uma existncia inocente, que a vida adulta j h muito tempo aprisionou no
calabouo do corao. Alguns espritos mais crticos diro que piegas... outros mais
cticos diro ser ingnuo, outros mais srios diro ser ntimo demais. Em todo caso,
pacincia: o que aqui digo apenas a ttulo de prembulo... s um umbral para uma
reflexo mais consistente.
Tenho guardada de mim uma foto em preto e branco de quando eu ainda era
apenas uma criana de colo. Era eu pequenino. o vestgio imagtico mais antigo que
tenho de mim. Eu mesmo no me lembro de mim assim. Mas vejo que o sorriso de Deus
me habitava... Deus sorria... estava sorrindo... estava feliz! Que bom!
Fazia pouco tempo que eu tinha comeado a existir. Deus certamente ficou feliz
quando me viu feito... Era o consolo de sua tristeza. Deus estava contente. Ele fica
contente tambm.
bom saber que Deus me habita... eu queria que todos tivessem essa
conscincia... mas no preciso esse querer... cada um sabe tudo a seu tempo... mesmo
eu, se estiver errado.
Mas ao contemplar essa foto, lembro-me que, certa vez, fui envolvido de uma
profunda tristeza, uma tristeza inconsolvel. Um dos meus irmos no Carmelo estava
comigo e me perguntava por que eu estava to triste e por que chorava; de onde vinha
tal tristeza? E eu no sabia responder. Eu estava como algum que sabe que dentro em
pouco ir morrer, e no h o que fazer, e est profundamente s diante da morte, mas se
sente feliz que tenha algum ao seu lado, naquele momento de profunda solido. Meu
amigo estava comigo, junto minha solido; queria ajudar, mas no tinha o que fazer
seno permanecer comigo.
Eu me via ali s e profundamente triste e no sabia de onde provinha tal tristeza.
Quando meu amigo me perguntara de onde ela provinha, esperava, talvez, que eu lhe
apresentasse algum motivo objetivo, exterior, para minha tristeza: eu, porm, no via
32
que encontrava exteriormente a sua verdadeira origem, mas confesso que no sabia de
onde vinha. O que eu via era como que uma pequena criana sozinha, sentada de
joelhos, com as mos, como quem reza, coladas aos lbios, e chorando muito, muito
triste.
Isso um prato cheio para os psiclogos de planto, eu suponho. Mas o que
pude descobrir mais tarde sobre os motivos dessa tristeza tinha outra natureza, diferente
daquela, passvel de ser explicada psicologicamente. Ceticamente falando, pelo menos o
modo como a signifiquei, tinha o carter de um pensamento teologal, fundado em uma
experincia mstica, por assim dizer. Agora, falando como quem cr, minha tristeza era
de natureza mstica, o que continua um prato cheio para os psiclogos de planto, mas
s podero ver nisto um mecanismo psquico. Para mim, porm, minha tristeza era de
ordem teologal: era Deus que chorava em mim. Eu com Ele e Ele comigo ramos um.
A origem de minha tristeza est em Deus. Foi isto o que pensei e, at, escrevi:
Deus quis neste mundo algum que fosse marcado profundamente por sua dor e
por sua tristeza, a me fez. Deus estava triste quando me fez, porque Ele estava vendo
muita dor no mundo. Muita maldade tinha se espalhado no mundo e, apesar de ele ter
criado com sua mo amorosa tantos homens e mulheres cheios de seu amor, continua a
no ver realizado no mundo o seu projeto salvfico de amor.
Posso, assim, arrogar-me o direito de compreender de algum modo, os
sentimentos de Jesus, quando chorou diante de Jerusalm, como nos narra So Lucas:
Jesus caminhava frente, subindo para Jerusalm. (...) E, como estivesse perto,
viu a cidade e chorou sobre ela, dizendo: Ah! Se neste dia tambm tu
conhecesses a mensagem de paz! Agora, porm, isso est escondido a teus
olhos. Pois dias viro sobre ti, e os teus inimigos te cercaro com trincheiras, te
rodearo e te apertaro de todos os lados. Deitaro por terra a ti e a teus filhos
no meio de ti, e no deixaro de ti pedra sobre pedra, porque no reconheceste o
tempo em que foste visitada. (Lc 19, 28b. 41-44)
Este choro de Jesus sobre Jerusalm, que no soube reconhecer o tempo em que
foi visitada, representa o mesmo choro de Deus ao olhar para o mundo por Ele criado, e
que fica desolado, por no acolher a visita de Deus. Para os cristos das primeiras
comunidades, este choro de Jesus mostrava-se como o prenncio da Jerusalm
devastada pela guerra e pela fome; uma desolao j cantada no passado pelo Profeta
Jeremias, quando dizia:
33
Os meus olhos, noite e dia, chorem lgrimas sem fim; pois sofreu um golpe
horrvel, foi ferida gravemente a virgem filha do meu povo! Se eu saio pelos
campos, eis os mortos espada; se eu entro na cidade, eis as vtimas da fome!
At o profeta e o sacerdote perambulam pela terra sem saber o que se passa.
Rejeitastes, por acaso, a Jud inteiramente? Por acaso a vossa alma desgostou-
se de Sio? Por que feristes vosso povo de um mal que no tem cura?
Espervamos a paz, e no chegou nada de bom; e o tempo de reerguer-nos, mas
s vemos o terror! (Jr 14, 17-19).
Devastada uma vez pelos Babilnios, outra vez pelos Romanos, Jerusalm
mostra-se aos cristos das primeiras comunidades como um sinal da perdio humana
no mundo e o choro de Jeremias ou o choro de Jesus nada mais representa do que o
desgosto de Deus. Conforme nos narra So Mateus, clamou Jesus diante de Jerusalm:
Jerusalm, Jerusalm, que matas os profetas e apedrejas os que te so enviados,
quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha recolhe os pintinhos debaixo
das asas, e no o quiseste! Eis que a vossa casa ficar abandonada (Mt 23, 37s). Como
haveria Deus de no chorar, ao ver seus filhos carem mortos pela maldade e injustia, e
ao ver a terra, que fez com tanto carinho, subsistir na desolao?
Entendi, portanto, imerso nessa tradio religiosa muito especfica, e imbudo
desse sentido muito preciso que alguns chamariam de ingnuo, outros de piegas, que
nisso consistia a tristeza de Deus pela qual fui profundamente marcado.
E imediatamente compreendi, porm, que sua tristeza no o abate, porque
conhece profundamente seu plano, seu sonho, seu projeto... o reino, aquele, no qual
acreditamos que nos aguarda... E entendi que, por causa disso, Deus trabalha
incansavelmente e, por conta disso, foi com muito amor, com muito ardor e fora de
vontade que Ele me fez...
Compreender, portanto, a origem da minha tristeza como uma participao na
dor de Deus consolou-me e trouxe serenidade ento minha alma...
Esta experincia pessoal de significao, interpretada, aqui, no interior de uma
reflexo de carter teologal, prpria da tradio crist, de teor estritamente mstico.
No tem nada de propriamente potico e muito menos de filosfico. Mas serviu-me de
ponte ou porta de entrada para a compreenso do que Carlos Drummond de Andrade
fala a respeito de Deus e da criao, numa passagem do mstico para o potico. Eu
achava que somente eu tinha tido aquela intuio de que Deus estava triste quando me
34
fez e me surpreendi quando deparei dois poemas de Drummond: um ele chamou Deus
triste, e est no livro As Impurezas do Branco; o outro ele deu o nome de Tristeza
no Cu, e est no livro chamado Jos.
Deus triste fala de um momento de descoberta. Identifiquei-me logo, pois
comigo foi assim tambm. S que o meu tom era outro; parece-me que Drummond
mais grave. Eu descobri assim: Deus estava triste quando me fez. Drummond
descobriu assim: Deus triste. E continuou:
Domingo descobri que Deus triste
pela semana afora e alm do tempo.
A solido de Deus incomparvel.
Deus no est diante de Deus.
Est sempre em si mesmo e cobre tudo
tristinfinitamente.
A tristeza de Deus como Deus: eterna.
Deus criou triste.
Outra fonte no tem a tristeza do homem.
73
Nas primeiras palavras de Drummond, percebi logo: mais grave do que eu
pensei. Para mim Deus estava triste quando me fez. A palavra de Drummond era
muito forte: Deus triste. A mim pareceu ento que Drummond viu e eu senti. E
pareceu-me que Drummond no sentiu e eu no consegui s ver! Drummond refletiu e
representou, eu percebi e me comovi... Afinal de contas, a verdade no que
Drummond no sentiu, mas que sentiu e pensou de modo diferente, talvez de modo
mais prprio, metafsico. Ele sentiu empaticamente e refletiu com conceitos... Eu senti
comovido, profundamente comovido, e descrevi. Os ltimos versos de Drummond me
deixaram, porm, estupefato, porque vimos o mesmo: ele viu o que eu vi: Deus criou
triste./ Outra fonte no tem a tristeza do homem, outra fonte no tem a tristeza
profunda do homem.
Tristeza no Cu era profunda; l Drummond diz:
No cu tambm h uma hora melanclica.
Hora difcil, em que a dvida penetra as almas.
Por que fiz o mundo? Deus se pergunta
73
Carlos Drummond de ANDRADE, As Impurezas do Branco, in Carlos Drummond de ANDRADE,
Nova Reunio: 23 livros de poesia. v. 2. Rio de Janeiro: BestBolso, 2009, p. 188.
35
e se responde: No sei.
Os anjos olham-no com reprovao,
e plumas caem.
Todas as hipteses: a graa, a eternidade, o amor
caem, so plumas.
Outra pluma, o cu se desfaz.
To manso, nenhum fragor denuncia
o momento entre tudo e nada,
ou seja, a tristeza de Deus.
74
Diante disso, nada consigo dizer a mais. No h o que discordar. Exceto que,
desde uma perspectiva dogmtica, talvez se deva dizer que nem todos os anjos olharam
para deus com reprovao, s um: o rancoroso, o ressentido e descompassado. Gabriel,
Rafael e Miguel olharam-no comovidos.
Como se no bastasse tanta correspondncia com um existente com quem, de
repente, senti afinado comigo, l veio outro, para marcar a passagem do potico ao
filosfico. Fiquei impressionado quando, lendo o Ensaio sobre o Conhecimento, de
Raimundo Farias Brito, ao l-lo falando da matria, vi que ele teve a mesma intuio.
Como se explica a existncia da matria?, perguntava-se o ilustre filsofo
cearense, dizendo ser esta a questo das questes, a questo suprema; e pensa que
a existncia dos corpos e existncia da matria, que ele j tinha dito antes ser a
existncia inconsciente e, no ser vivo, a conscincia da morte, um fato que s se
poder explicar como consequncia de algum drama colossal, de alguma monstruosa
tragdia passada no seio da existncia primordial, explicitando esse drama como uma
revoluo de ordem csmica, que mudou toda a base primitiva do ser, e chegou, por
assim dizer, a agitar o corao mesmo de Deus. Essa revoluo , ento, mtico-
filosoficamente, caracterizada por ele como a queda de uma parte da criao luminosa,
puramente espiritual, que, segundo ele, deve ter precedido existncia do mundo
corpreo; queda que teria se dado pelo fato de um deslocamento dessa parte puramente
espiritual de sua rbita prpria, que, sentindo e pensando elevar-se ainda mais, e
subindo, subindo sempre, em to alta eminncia se viu, que por fim veio a pensar em
substituir o incriado mesmo. E assegura que nessa carreira vertiginosa para o alto,
74
Carlos Drummond de ANDRADE, Jos, in Carlos Drummond de ANDRADE, Nova Reunio: 23
livros de poesia. v. 1. Rio de Janeiro: BestBolso, 2009, p. 24.
36
esse esprito puro que era filho do prprio Deus, terminou por se perder no infinito,
isto , terminou por se perder e ficar suspenso no vcuo, de tal modo que sem
encontrar nenhum ponto de apoio, ou seja nenhum princpio de equilbrio, e perdendo
ao mesmo tempo a conscincia de si mesmo para obedecer exclusivamente s leis do
peso, desprendeu-se no abismo. Isto o que, segundo ele, se pode chamar de morte
do esprito ou transformao do esprito em matria, sendo a matria, pois,
fundamentalmente concebida como esprito morto
75
.
Assim comea Farias Brito a descrever o drama pelo qual se pode compreender
o princpio da tristeza de Deus. Trata-se da imaginao filosfica de um mito da queda
do esprito para explicar a matria como morte do esprito. E de uma maneira brilhante
ao menos para aqueles que ainda conseguem perseguir, com um pouco de pacincia,
uma reflexo filosfica em que religio, arte e filosofia se misturam em um pensamento
mstico, potico e filosfico Farias Brito continua dizendo que se a matria , pois,
morte, preciso distinguir duas espcies de morte, uma vez que a matria se
apresenta de dois modos, isto , como matria orgnica e como matria organizada,
havendo, portanto, correspondentemente a esses dois tipos de matrias duas espcies de
morte: a matria inorgnica a morte absoluta; a matria organizada uma morte
relativa. Chama, assim, a morte absoluta de morte inconsciente e, por conseguinte,
nada em relao conscincia e quase nada em relao ao ser. E, marcado pelo
dualismo moderno, que cinde a experincia do ser vivente em uma realidade interna e
externa, fala que a segunda morte, a morte relativa, inconsciente e consciente ao
mesmo tempo, sendo inconsciente em sua realidade externa e consciente no
sentimento de sua realidade interior: logo, no sofrimento e na dor; logo, no sentimento
de sua degradao e misria.
Para Farias Brito, no horizonte dessa conscincia no sentimento de sua
realidade interior, isto , de sua realidade no sofrimento e na dor, que se constitui,
vem tona e se deixa sentir, no sentimento de sua degradao e misria, a tristeza de
Deus. Para ele, esta a fonte da tristeza de Deus: pois vendo a queda do esprito, vendo
o cadver de seu filho morto, Deus se sentiu triste. E assim, segundo Farias Brito,
desde ento a tristeza se fez me de todas as coisas. Continuando ainda a matria na
vertigem da queda, tudo era confuso e desordem em toda a extenso do infinito e,
75
Raimundo Farias BRITO. O mundo interior. (Ensaio sobre os dados gerais da filosofia do espirito). 3
ed. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2003, p. 457-458.
37
com isso, constituindo-se o caos e a treva; o silencio e a morte, Deus sofreu... e Deus
chorou...
76
.
Que o esprito humano-divino desfalea e caia uma tragdia monstruosa que
chega a agitar o corao mesmo de Deus. Pensando em elevar-se ainda mais, por
uma espcie de transbordamento de ser que busca superar-se a si para alcanar-se como
outro, chegando at tentao de ser substitudo e no amado, acolhido e vindo a
tornar-se como um gerado que no se sente mais livremente aberto a compartilhar sua
vida com aquele que o gerou (certamente o demonaco em ns esse desejo), faz que
este esprito divino, que se torna humano enquanto criado imagem e semelhana do
divino, perdendo seu equilbrio e ponto de apoio, perca-se ao perder a conscincia de si
mesmo para obedecer exclusivamente s leis do peso, despendendo-se no abismo.
assim que vendo a queda do esprito humano-divino, Deus se sente triste. Mas como
disse Drummond, e eu pude sentir em minha experincia individual, o choro de Deus
to profundo quanto criativo. Deus criou triste, disse Drummond. Deus estava triste
quando me fez, disse eu. Deus se sentiu triste e desde ento a tristeza se fez me de
todas as coisas, disse Farias Brito; e acrescenta:
O pranto divino, deixando-se a princpio perceber um som vago e indistinto,
como uma melodia longnqua, amargurada, mas fascinadora e sublime, logo se
desfez em lgrimas de dolorosa tristeza e dilacerante amargura. E estas lgrimas
espalhando-se como uma chuva de ouro por toda a extenso do espao infinito,
lgrimas de sangue, ou lgrimas de fogo, instantaneamente se fizeram perceber
como suave claridade e consoladora manh, nas profundezas da noite ilimitada
do caos, curando como um blsamo sagrado, todas as feridas da morte e
restabelecendo por toda a parte a harmonia e a ordem. a significao do fiat
lux. Desde ento ficou toda a existncia material dotada de um contnuo
desenvolvimento e sujeita ao domnio de leis invariveis e eternas. Tal a
origem da luz exterior; tal provavelmente a significao do que se
convencionou chamar a harmonia das esferas. Era uma nova criao a que Deus
se resolvia; criao que era uma obra de amor e piedade, pois o que o Criador
tinha em vista era unicamente habilitar o seu filho a libertar-se da morte.
77
Se pensarmos que, assim, miticamente, nasceu o sol e os luminares celestes, que
brilham para todos os habitantes da terra, lgrimas de fogo da tristeza profunda e
amargura dilacerante de Deus, pois, em todo caso, tudo j teria nascido mesmo da
amargura fundamental de sua solido profunda, que, para superar-se precisa entregar-se
76
Ibidem.
77
Ibidem, p. 459.
38
at doer, transmutar-se, gerar-se e produzir-se em outro semelhante, mas, ao mesmo
tempo, diferente de si mesmo como no pensar que toda criao , afinal de contas a
regenerao, que tambm acontece na criao de cada um de ns e at de cada ser vivo?
Que Deus se resolveu a uma nova criao por amor e piedade e que o pranto divino foi
o veculo sagrado para a obra de regenerao (... que significa criar de novo), fato de
que nos faz o Pentateuco a narrao simblica
78
.
Por isso, talvez, no foi difcil, para mim, pensar que fora modelado por Deus
em meio sua tristeza regeneradora, esperanosa e persistente. Em meio a essa situao,
por isso, encontraram-se esse testemunho de um mstico, de um poeta e de um filsofo.
Pois foi misticamente que vi que Deus estava triste quando me fez; foi poeticamente
que Drummond disse que Deus criou triste; e foi filosoficamente que Farias Brito
concebeu que Deus se sentiu triste e, desde ento, a tristeza se fez a me de todas as
coisas. Aqui, o mstico, o poeta e o filsofo encontram-se diante de um mesmo
Mistrio, e , sem dvida, com surpresa, estupefao e fascinao que o contemplamos
e o procuramos descrever e pensar. Diante do mistrio, estamos certamente destinados a
repetir o gesto da criao por meio da liberdade, a fim de superar a solido, isto ,
compreend-la e tornar-se capaz de colocar-se acima dela, mesmo sabendo que ela nos
constitui de uma maneira inexorvel e incontornvel. pela assuno de nossa
liberdade criadora que a tristeza da solido que nos invade consegue repousar em paz.
J gerou, cumpriu o que podia arrancando-se de si, agora pode descansar, pode se
despedir.
Quando li Farias Brito dizer de como as lgrimas de fogo de Deus
instantaneamente se fizeram perceber como uma suave claridade e consoladora
manh, logo recordei-me do poema Quando eu lembro a minha terra, que compus
pensando na minha gente sertaneja, na minha famlia, no meu pai... e escrevi:
Quando eu lembro a minha terra
Vejo o Sol no horizonte a brilhar;
E, num choro de criana,
A Vida, assim, renasce pra sofrer;
Porque o Povo, l, se cala, meu irmo.
E esse Povo, a sorrir, chora,
78
Ibidem.
39
Mas chora s por dentro... lgrima no cai...
Seca se faz... Chuva no cai.
E a Terra fica dura... dura feito a Vida.
Pensei, ento, que assim que o sertanejo ressente a amargura dilacerante da
tristeza de Deus, sob as lgrimas de fogo de seu choro inconsolvel. E, ao me lembrar
da outra estrofe do poema, que foi composta por mim a partir da pergunta de um amigo
meu de composies, Gustavo Vila Verde, que, ao mostrar-lhe aquela estrofe
interpelou-me, perguntando: Mas o Serto s isso?; pensando que no, respondi: ,
voc tem razo; o Serto no s isso no!. E escrevi:
Quando eu lembro a minha Terra,
Vejo a Lua sobre a Serra a iluminar
O sereno de uma Noite
Onde um Homem se reclina a pensar
Na escurido da Vida a declinar.
Mas uma tenra Luz o envolve,
E inspira em Silncio
A Aurora que a Vida traz... fora refaz... canto perfaz...
E no abrigo desse Dia, lhe doa nova Vida.
Vejo que essa outra estrofe reflete justamente o que diz Farias Brito, para quem,
ao mesmo tempo em que a lgrima de fogo fruto do choro dilacerante de Deus, que
chora pelo povo que, a sorrir, s chora por dentro, pois Deus chora por ele, essa lgrima
de fogo se deixa perceber tambm como fonte de regenerao, como suave claridade e
consoladora manh.
Quando escrevi sobre aquele Homem que v a aurora, pensava em meu pai, que
viveu muitas noites de angstia profunda, porque era atormentado com o declinar da
vida, e reclinado chorava na escurido da noite. Mas as lgrimas de fogo da tristeza de
Deus tambm se mostram como aurora de regenerao que doa nova vida, inclusive na
criana que nasce, faz sorrir e sorri. a lgrima de fogo de Deus fazendo-se aurora de
regenerao. Eu nasci em um domingo, s oito horas da manh: enquanto eu chorava,
como reflexo da tristeza de Deus, fazia Deus sorrir. Certamente tambm meu pai, minha
me, meu av e minha av... tambm sorriram... diante da lgrima de fogo hmida,
fruto da tristeza profunda de Deus, que acabara de nascer.
40
Acabemos aqui, porm, esse prembulo. Cruzamos o umbral para uma reflexo
mais segura e consistente. Seja concedido, porm, que, com o que aqui ficou dito,
pudemos ter um acesso preliminar existncia em seu nascedouro, a agonia de ser em
busca mais da alteridade que do repouso no mesmo
79
, fonte de toda criao. No
fundo, esta a fonte tanto do que Drummond exprimiu, quando falou da tristinfinita e
incomparvel solido de Deus a partir da qual cria, quanto do que Farias Brito
mencionou, quando se referiu elevao do esprito divino que, procurando ser mais,
transbordou em gratuidade doadora at perda do equilbrio, para encontrar-se em
outro, e no estatizar-se no repouso de sua solido tristinfinita. Pois sua solido
tristinfinita , certamente, de algum modo, o motivo primordial, pelo qual o esprito
divino no repousa em si mesmo, mas eleva-se em doao livre, gratuita e criadora de
outro de si mesmo. Este o nascedouro de toda criatura e de toda criao. Pois,
marcada por essa tragdia tremenda de sua criao, que a criatura, num gesto mimtico,
sente em si a dor profunda de sua solido, e, em memria saudosa da solido divina no
interior da qual foi criada, busca elevar-se em ato criador at cair e tombar na morte
incontornvel da qual j sabe e pela qual espera, pois tambm, de algum modo, almeja
descansar, repousar. A triste solido inexorvel e incontornvel na criatura destinada a
morrer, a cair, a tombar, isto , marcada pela morte, a fonte do movimento para
entregar-se sua obra criadora, numa tentativa de, s assim, participar da obra criadora
divina, e eternizar-se.
Desse modo fique descrita a relao entre tristeza e criao.
79
ngelo MONTEIRO. Escolha e Sobrevivncia, op. cit., p. 51.
41
SEGUNDO CAPTULO
VSPERA DE MORTE E CRIAO
Entre nascimento e morte, ou seja, da agonia de ser em busca mais de
alteridade que do repouso no mesmo
80
e frente perspectiva da morte vizinha
81
, a
existncia estabelece uma luta entre o prprio pensamento e o prprio sentimento para
compreender-se como existncia criadora, criativa e pronta para criar, fixando-se na lida
potica. a atitude criadora em vsperas de morte.
Neste captulo, tendo cruzado os umbrais da entrada para uma reflexo mais
consistente, pretendo falar da relao entre a vspera de morte e a criao, com base em
uma reflexo sobre a antecipao da Morte em Farias Brito e Evaldo Coutinho. Mas,
antes disso, considerei importante comear com uma breve digresso sobre o modo
como a morte foi tomada por alguns filsofos gregos, com vistas a perceber a leve
alterao que ocorre na percepo daqueles filsofos brasileiros.
Na Apologia de Scrates, Plato estabelece, pela boca de seu personagem
principal, uma assertiva importante a respeito da morte, e caracteriza uma relao
extremamente fecunda com ela. Uma relao fecunda e livre. Durante o seu julgamento
injusto e na perspectiva de ser levado morte, por um tribunal que considerava ser esse
o maior dos males a ser impingido a Scrates, Plato faz ressoar, pela boca de Scrates,
uma fascinante compreenso e reflexo a respeito desse fato. Ningum sabe o que seja
a morte, diz Scrates, e, ignorando at mesmo se porventura no ser para os homens
o maior dos bens, temem-na como se soubessem com certeza que o maior dos males
82
. Hora, esta expectativa face morte, acompanhada do sentimento de medo , na
perspectiva do esprito socrtico, caracterizada por Plato na Apologia, como nada mais
nada menos do que a expresso de um querer demonstrar saber o que no se sabe. Por
isso, acrescenta: E como poder deixar de ser censurvel semelhante ignorncia, isto ,
imaginar algum que sabe o que no sabe?
83
. Apresentando de outro modo a pergunta
socrtica: Como manter essa expectativa amedrontada diante daquilo que no se sabe?
Tal atitude considerada uma sndrome da ignorncia.
80
ngelo MONTEIRO, Escolha e Sobrevivncia, op. cit., p. 51.
81
QUENTAL apud ngelo MONTEIRO, Escolha e Sobrevivncia, op. cit., p. 52.
82
PLATO. Apologia de Scrates, trad. Carlos Alberto Nunes. Belm: EDUFPA, 2001, p. 129.
83
Ibidem.
42
O tribunal, diante do qual Scrates se encontra, interpreta a morte como o maior
dos males, como algo de que se pudesse saber por um lado e, por outro, cego para o que
Scrates alerta como sendo um maior mal. Diz ele ao tribunal: Maior mal no fazer o
que ele faz agora: procurar matar injustamente um homem?. Scrates, diante da morte,
antecipando-a, no a teme. O que teme fazer o mal, mais que ser morto injustamente,
argumento que vai ser refletido por Plato ainda mais tarde, no dilogo Grgias, quando
pe em questo o que seja pior: sofrer injustia ou pratic-la? Entendendo, tambm a,
que melhor sofrer injustia que pratic-la. Porm o difcil, senhores, diz Scrates,
no fugir da morte, que mais cedo ou mais tarde nos atinge; e continua: muito mais
difcil fugir da maldade, porque esta corre mais do que a morte
84
. Mas, entende que:
Agora, tambm, por tardo e velho, fui apanhado pelo mais lerdo, isto , a morte,
enquanto meus acusadores, por arrebatados e geis, o foram pelo mais rpido, a
maldade
85
. E testemunha poder sair do tribunal julgado por seus algozes como
merecedor da pena de morte, enquanto eles foram julgados pela Verdade como
culpados de maldade e de injustia
86
. E diz ainda, num tom de conformidade aterrador
com o destino sagrado que consuma sua prpria existncia ao dizer: Conformo-me
com a minha pena, como eles devem conformar-se a deles.
87
. E acrescenta num tom
de tremenda resignao e serenidade, perpassada pela gravidade da incerteza mais
prpria e mais profunda da existncia humana: Talvez tudo devesse terminar por essa
forma e creio que assim mesmo est bem
88
.
Alm disso, quanto morte iminente que abraa, ao lhe sobrevir injustamente,
Scrates assegura no tem-la, tambm por entender o seguinte: Consideremos
tambm quantas razes temos para esperar que a morte seja um bem, pois Morrer
uma de duas coisas: ou quem morre nada , e carece da menor sensao seja do que for,
ou ento, como se diz, uma mudana e a passagem da alma deste lugar para outro
89
.
E acrescenta a seguinte explicao a respeito do porque considera um bem, caso quem
morra nada seja e nada carea da menor sensao seja do que for: Se se tratar, de fato,
da privao total de sensao, como no sono, quando quem dorme no perturbado nem
84
Ibidem, p. 143.
85
Ibidem.
86
Ibidem.
87
Ibidem.
88
Ibidem.
89
Ibidem, p. 145
43
pelos sonhos: ter de ser a morte um ganho maravilhoso
90
. E acrescenta por fim: Se a
morte for isso, considero-a um grande lucro, porque todo o tempo no parecer mais
longo do que uma nica noite
91
.
Considero importante fazer aqui um comentrio pessoal: desde que li essa
pgina de Plato, fiquei fascinado com essa compreenso. Certa vez, depois de uma
dessas noites fascinantes e reconfortantes de sono, e quando j tinha tentado escrever
uma ode morte, aps aquela noite acordei com entusiasmo, refletindo sobre essas
consideraes a respeito dessa primeira possvel caracterizao socrtica da morte, e
escrevi:
Morte, em dura Sorte nos confirmas,
Na Vida, que, por ti, vem, nos conforta,
s Portas de uma Noite escura e fria,
De um Dia, que, ao surgir, pra ti se volta.
Num Dia claro e quente de cansaos,
A Noite chegar pra seu repouso.
E a Vida, toda cheia de embaraos,
Na Morte encontrar supremo gozo.
E o gozo repouso, em Noite afvel,
Do Dia que, exausto, se despede.
E a Morte o Sono imperturbvel
Da Vida, cujo sangue j no ferve.
Por que no te cantar, Morte serena?
Por que no te chorar, Vida infeliz?
Pois, do Calor do Dia, a Chama amena
Se foi, para te dar Noite feliz.
E quem, vivendo um Dia sem descanso,
No quer, Noite, um Sono imperturbado?
A Vida encontrar seu Pouso manso
Em ti, Morte fiel, preu ser velado.
90
Ibidem.
91
Ibidem.
44
E a Vela, que ilumina este Velrio
o Sol que brilha Luz do Meio-Dia.
E o Canto, Cantilena que imploro,
choro, que transforma Morte em Vida.
A Vida, que floresce, l no Campo,
Do meu Corpo-Semente, enterrado,
Se prende firmemente ali, num Canto...
Na Terra fico, assim, bem resguardado
92
.
O Dia e a Noite... A Vida e a Morte podem, talvez, ser apenas faces de uma
mesma moeda. Mas este jeito de falar apenas um modo de antecipao amena da
morte. Para Scrates, o tom era mais grave. A morte no era s antecipao: era
iminente! Por isso, a caracterizao socrtica no assim to amena... Ela assume o tom
de uma dor resignada perpassada pela incerteza numa expectativa apenas confiante.
Mesmo assim, Scrates enxergava outra possibilidade: a morte pode no ser somente
aquele sono profundo, que eu me senti inspirado a cantar e louvar. A morte pode
tambm ser outra coisa. Havia ainda, para Scrates, outro modo como a morte poderia
ser considerada: se for a morte o trnsito daqui para um lugar diferente, sendo certo,
como se diz, que todos os mortos l se renem: que maior bem poder haver, senhores
juzes?
93
. E, aps meditar sobre quem l poderia encontrar, assegura:
Eu, pelo menos, desejo morrer mil vezes, se tudo isso for verdade. Como seria
admirvel viver em um lugar onde fssemos encontrar Palamedes e Ajaz
Telamnio, e os outros heris da Antiguidade que pereceram vtimas de
julgamento injusto! Comparar minha sorte com a deles, segundo penso, no
seria pequena satisfao. [...] Conviver com eles, conversa-los e examin-los:
que indescritvel felicidade! Decerto no matam l ningum por isso, pois, alm
de serem os que l demoram mais felizes do que os daqui, so imortais o tempo
todo, a ser verdade o que nos contam
94
.
92
Neste poema, a rima no perfeita, mas a mantive de propsito, porque se resguarda, nalgumas
palavras combinadas, certo tom... uma leve semelhana de sonoridade e sentido, e um ritmo, que podem
sustentar a combinao. Dia e Vida no rimam, mas combinam... Campo e Canto no rimam, mas no
cemitrio esto l, os dois juntos: um Canto, no Campo Santo e o Canto, Cantilena que imploro.
93
PLATO, op. cit., p. 145
94
Ibidem, p. 145-146.
45
Assim se pronunciava Scrates diante da morte iminente, na certeza de que
para o homem de bem, nenhum mal pode acontecer na vida nem na morte, e que os
deuses no se descuidam de seu destino
95
. Permanece verdade, porm, que havemos
de considerar, que esta a expresso do homem diante da morte iminente e injusta.
Ainda que, em todo caso, nada mais conforme expresso da verdade sobre a morte,
especialmente daquele vivente, que est para morrer injustamente, de morte matada e
no morrida. Por isto tudo, no se haveria de tremer, mesmo diante da morte
iminente. E o que dizer da antecipao da morte pelo simples saber que algum dia vai
morrer, mesmo que a no se tenha imediatamente em vista?
Na Retrica, Aristteles faz referncia morte em uma perspectiva que se torna
fundamental para o modo como de maneira decadente o vulgo impessoalmente se
comporta frente a ela. Ao falar do temor, Aristteles acentua que todos sabem que vo
morrer, mas, pelo fato de nunca perceber isto como um fato iminente, no se preocupam
(c:oc ,pc:|,c:o|) com a morte. O que causa preocupao o perigo (ki,o:c,) ou
mau iminente (c:,). A morte, da qual todos sabem que vir um dia, mas no vivida
como prxima no iminente (c:k c:,). Aristteles refere-se ao temor e diz ser o
temor certa dor (+:,ph) ou preocupao (:apap,) em vista do que se mostra num futuro
iminente (ck ,a:ao|a, uc++c:c,... o:c:,) como mau, danoso ou doloroso
(kakc: ,ap:|kc: p +:rcpc:/)
96
. A morte, sobre a qual todos sabem que vir um dia,
no vivida como prxima, pois no iminente, por isso, no se h de tem-la por uma
mera antecipao por meio do saber. A morte, nessa perspectiva aristotlica, s se torna
temvel caso se constitua como um mal iminente. Com isso passa-se por cima do
fenmeno da angstia, engendrada quando da antecipao da morte, mesmo no a
sabendo como possibilidade imediata.
Epicuro tendeu a afastar ainda mais a antecipao criativa da morte, e passou
tambm por cima do fenmeno da angstia, quando se ateve a buscar afastar o medo da
morte, que, ao mesmo tempo, favorecia o desvio da angstia que sua antecipao nos
proporciona. Para Epicuro, a morte no constitui, de modo algum, motivo para o temor,
uma vez que no se pode esperar sofrimento de algo para o qual nenhum sofrimento
existe, ao mesmo tempo em que se desvencilha daquela expectativa segundo a qual a
95
Ibidem, 146.
96
Cf. ARISTTELES. Retrica B 5, 1382a 20-25, trad. Isis Borges B. da Fonseca. So Paulo: Martins
Fontes, 2003, p. 30.
46
morte possa ser uma passagem para um lugar de reencontro com os antepassados. Para
Epicuro, no h realmente nada de terrvel na vida para quem tem a conscincia de que
nada existe de terrvel na cessao da vida, considerando, assim, ser insensato quem
diz que teme a morte no porque sua presena pode causar sofrimento, mas porque sua
perspectiva faz sofrer (EPICURO, Carta a Meneceu, 125)
97
. Ora, para Epicuro, sofrer
por causa da perspectiva de que vai morrer insensato, pois aquilo que no perturba
quando est presente causa somente um sofrimento infundado quando esperado
98
.
Ele considera, logicamente que o mais pavoroso dos males a morte nada para ns,
pois enquanto existimos a morte no est presente, e quando a morte est presente j
no existimos.
99
. Com base neste argumento, Epicuro conclui que: Nada , ento, a
morte para os vivos, e nada para os mortos, porque para os vivos ela no existe, e os
mortos j no existem
100
. Apesar disso, procura caracterizar, por fim, o modo como o
vulgo se relaciona com a morte: a maioria ora foge da morte como o maior dos males,
ora a procura como a cessao dos males da vida
101
.
Assim, na herana grega conclama-se superao do temor diante da morte
antecipada. E esse destemor diante da morte se faz conveniente em funo dos seguintes
aspectos bsicos que esses filsofos acima citados cuidaram de tentar elucidar: 1) Por
que temer a morte se ela for a penetrao em um sono profundo e imperturbvel? 2)
No h tambm motivo para teme-la se ela, em vez disso, for um reencontro com os
antepassados; 3) Alm disso, tendemos j naturalmente a no teme-la, uma vez que ela
no se apresente como algo iminente; 4) E, por que, mesmo assim, haveramos de teme-
la, se ela mal nenhum pode nos fazer, pois enquanto vivemos, ela ainda no est a, e
quando ela se d, j no estamos a para experiment-la, uma vez que ela a cessao
de toda sensao por meio da qual unicamente experimentamos aquilo de que
efetivamente fugimos enquanto vivemos, isto , a dor. Ora, por todos esses argumentos,
no temos motivo para temer a morte, ainda que a antecipemos e a nica forma de
desenvolvermos uma relao correta com a morte pela superao do medo. Haveria,
porm, outra forma, mais correta, de relacionar-se com a morte, na medida em que
97
EPICURO, Carta a Meneceu, in Digenes LARTIOS, Vidas e Doutrinas dos Filsofos Ilustres, trad.
Mario da Gama Kury, 2 ed. Braslia: UNB, 2008, p. 312.
98
Ibidem.
99
Ibidem.
100
Ibidem.
101
Ibidem.
47
temos dela um saber necessrio de sua vinda, ainda que nos seja de algum modo
interditado, a determinao do quando de sua chegada?
Em todo caso, essa herana grega de uma reflexo sobre a morte e o sentimento
de temor que ela engendra, trazendo tona o fenmeno da antecipao da morte, como
fenmeno prprio da experincia de existir como ser finito, e a vivncia do sentimento
de temor, que praticamente se apresenta como uma tendncia na existncia comum,
deixou para a posteridade filosfica a possibilidade de aprofundar o significado
existencial da morte para o ser que se compreende finitamente.
Na contemporaneidade, no Brasil, Farias Brito torna a voltar seu olhar para o
fenmeno da morte na perspectiva criativa e criadora que ela instaura. No filosofar de
Farias Brito, emerge a ideia de que filosofia cumpre a tarefa de tomar este fenmeno
fundamental e abord-lo em sua significao existencial profunda. Para ele, importa
filosofia compreender a realidade mesma, a realidade com todas as suas lutas e
terrores, com todas as suas incertezas e mistrios; e acrescenta ainda: a realidade em
toda a sua dureza e em toda a sua inexorabilidade, a realidade nua e crua, como seria
preciso dizer;
102
. Ora, evidente que Farias Brito tem em vista aqui a realidade vivida
e sentida como a realidade trgica da dor de existir, diante da qual no se pode fugir.
Essa irirm firina, ou seja, a dor, como canta Elomar, decisiva para a experincia de
existir e pensar. A dor no est a somente para que dela fujamos o tempo todo, ou
busquemos fugir. Ela est a e isso passa a nos dizer que, de algum modo, importa
contempl-la e pensa-la, ou ainda melhor, pensar a realidade por ela constituda.
Na primeira parte do poema Gabriela, composto e cantado por Elomar Figueira
Melo, compositor baiano, esta realidade, da qual fala Farias Brito decantada nos
seguintes termos:
So treis sorte, so treis sina,
Na istrada desse cristo;
So treis irirm granfina
E de punhal na mo.
Dua madrasta avarenta
O home num iscapa no;
Cuma o cego na trumenta
L vai o cristo
102
Raimundo Farias BRITO, A Base Fsica do Esprito. 2 ed. Rio de Janeiro: Representaes Dias
LTDA., 1953, p. 71
48
So treis sorte, so treis sina,
Ai pobre cantad
So treis irirm firina
A Morte, a Saudade e a D [...]
103
.
No glossrio ao poema, Jerusa Pires Ferreira ressalta que, nesta Carta
Catingueira, a estrada o motivo no um percurso com retorno, mas uma ida ao
encontro das Parcas, ou seja, as trs irirms firinas que fiavam o tecido da vida e
aqui recebem o os nomes de Morte, Saudade e D
104
. Ao reler o poema Melhor
Destino, das Odes de Ricardo Reis, fiquei-me imaginando se no era efetivamente
dessas mesmas trs irms felinas, tal como Jerusa deixa entrever, que Fernando Pessoa
est a falar, quando diz:
Melhor destino que o de conhecer-se
No frui quem mente frui.
Antes, sabendo,
Ser nada, que ignorando:
Nada dentro de nada.
Se no houver em mim poder que vena
As Parcas trs e as moles do futuro,
J me deem os deuses o poder de sab-lo;
E a beleza, incrivel por meu sestro,
Eu goze externa e dada, repetida
Em meus passivos olhos,
Lagos que a morte seca.
Quando reli este poema, um tempo depois de t-lo conhecido pela primeira vez,
fiquei pensando neste enigma: que sero as Parcas trs? Eu no conhecia ento a
referncia mitologia grega, e pensei: So certamente as mesmas Irms Felinas,
cantadas por Elomar: a Morte, a Saudade e a Dor; Sina e Destino aos quais estamos
fadados. Mas, na verdade, ao referir-se s Parcas trs, Fernando Pessoa est se
referindo, por esse nome romano: Parcas, s Moiras gregas responsveis por tecer o fio
da vida dos humanos, e que Elomar interpreta como sendo a morte, a saudade e a dor,
numa carta sert que transmite os desgnios da morte e aponta para as fontes da vida
103
Elomar Figueira MELO in XANGAI (Eugnio Avelino), Xangai canta cantigas, incelenas, puluxias
e tiranas de Elomar. Rio de Janeiro: Kuarup Discos, 1986, encarte, p. 3.
104
Jerusa Pires FERREIRA in XANGAI, op. cit., encarte, p. 3.
49
105
. Realidade para a qual Farias Brito tinha os olhos voltados; olhos... lagos que a
morte seca.
Esta a realidade contemplada pelo olhar de Farias Brito; pelo olhar do
sertanejo que, como um flagelado, vestindo pobres roupas de algodo, calando
alpercatas de couro e puxando um burrico carregado de velhas malas...
106
, chega a
Fortaleza, com sua famlia em 1878, para ali iniciar a histria de um estudioso e
pensador, e fez da metafsica o caminho para pensar a tragicidade da realidade humana;
pois, como ele mesmo diz no poema ltimo Canto de um Suicida:
Acabou-se a comdia: eu tinha nalma
Os sonhos ideais da fantasia.
Logo envolveu-me o anjo do infortnio
Nas dobras de seu manto de agonia.
Quero chorar: ningum me compreende,
Ningum conhece ainda a minha dor.
E eu sinto que minhalma se consome
Nas chamas de um incndio abrasador.
Mostrou-me a luz da aurora uma esperana,
Supus o mundo um poema de harmonia:
Mas depressa passou bem como a nuvem
Que desfaz-se ao volver da ventania.
Quero chorar: lgrimas saudosas
Que me queimais as faces descoradas,
Minha nica luz, sede benditas,
filhas do sofrer abenoadas!
Tenho no meu peito a luz que vem da morte
E faz ficar meu peito congelado;
Tenho na mente o horror do desespero
E sinto-me de tudo abandonado.
Ningum conhece ainda o meu segredo,
Ningum conhece ainda o meu sofrer...
Quero chorar: correi, lgrimas tristes,
lgrimas, correi, que eu vou morrer.
Quero morrer. morte s a esperana;
morte, s o futuro, a liberdade;
s o princpio, a fora que triunfa
105
Ibidem.
106
Laerte Ramos de CARVALHO. A Formao Filosfica de Farias Brito. So Paulo: EDUSP/ Saraiva,
1977, p. 98.
50
Da batalha cruel da humanidade.
Mas ai! Como profunda a dor que sinto!
Como grande e cruel minha aflio!
Quero chorar: correi lgrimas tristes
Quisera ter o gnio dos profetas,
Quisera ter a inspirao de Homero,
Para cantar as lgrimas que choro,
Para cantar a morte e o desespero.
Quisera transformar-me em dura rocha
Pra levantar a esttua da aflio;
Para dizer aos povos do futuro:
Somente a dor domina a criao!
Mas oh! Ningum me escuta: o que padece
Por toda a natureza repelido!...
Ai daquele que sofre e pelos golpes
Da cega tirania foi ferido!...
Resta-me a dor, meu nico tesouro,
Resta-me o pranto triste, amargurado.
Quero chorar; correi, lgrimas tristes,
Deixei meu corao aniquilado.
Quero chorar, chorar t que desfaa
Minhalma em puras gotas cristalinas.
Talvez que ao perpassar de brancas nuvens,
Assim me eleve a regies divinas.
Correi, lgrimas tristes, copiosas
Correi, trazei alvio ao meu sofrer.
Quero chorar: a morte se aproxima.
lgrimas, correi, que eu vou morrer.
Acabou-se a comdia: o tempo foge,
Vou me perder no seio da natureza,
Vou procurar a essncia do insondvel
Em busca da verdade e da grandeza.
Vou me elevar aos paramos infindos,
Vou me perder no seio do imortal;
Na regio sublime das esferas
Vou ver tambm se predomina o mal.
107
107
Raimundo Farias BRITO. Inditos e Dispersos. Notas e Variaes sobre assuntos diversos. So Paulo:
Grijalbo, 1966, p. 509-510.
51
Faz-se mister, segundo Farias Brito, pensar a realidade na sua inclemncia e no
seu determinismo fatal: a vida com sua ligao necessria ao sofrimento e dor e com
seu desenlace fatal na dor suprema da morte
108
O filsofo dinamarqus Soren A. Kierkegaard refletia j, no sculo XIX, de uma
maneira extremamente curiosa e fecunda, o sentido em que se constitui essa nova
compreenso da realidade da vida e, com ela a prpria morte; nas palavras de Farias
Brito, a vida, sua dor e seu desenlace final. Segundo Kierkegaard, a contemplao
tradicional da realidade da vida no compreendia a condio na qual esta se encontra
como o fenmeno decisivo, pois importava o ideal a ser realizado, sem que fosse
possvel se perguntar se esta realidade no impedia, por algum motivo e de algum
modo, a possibilidade de realizao do ideal contemplado pelo intelecto humano. Farias
Brito est atento e procura no se desleixar na tarefa de tentar compreender o fenmeno
decisivo da realidade humana, consciente de que, como na perspectiva do que falou
Fernando Pessoa, no frui melhor destino, quem pensa o ideal, e se esquece de pensar a
prpria realidade, ignorando o nada que a constitui e a cerca por todos os lados; no frui
melhor destino, quem antes no vislumbra as trs sortes e as trs sinas da estrada pela
qual deambula a vida humana; antes, frui melhor destino, quem sabe ser nada...: nada
dentro de nada, para, s ento, poder abrir-se ao potico contrapeso caracterstico da
poesia, eficaz ao pessimismo que nasce de uma estada exclusiva na realidade
109
, que
atravessando a dor, tendo sido perpassado por ela, possa finalmente encontrar-se no
mbito do utpico com o qual sonha e da idealidade prtica que almeja. Pois, no pode
deixar de ser tambm verdade que, tal como o sonho a percepo de quem dorme, e a
percepo a viso da realidade de quem est acordado, a utopia a concepo de
quem est em repouso (potico e pensante), e a ideia prtica a concepo da realidade
de quem age. Por isso, dizia Gandhi: No sou um utpico; sou um idealista prtico.
Conceber gerar, no criar. A concepo emerge da ao, que um processo de
gerao, enquanto a percepo emerge do afazer, que um processo de criao. Por
isso, Farias Brito procura estar atento realidade que constitui fundamentalmente a vida
humana para, a partir dela, em meio a uma experincia de contemplao criativa, chegar
a, atravessado pela dor de existir e atravessando-a, vislumbrar o horizonte em vista do
qual a existncia pode sair de seu repouso para emergir livremente na ao.
108
Raimundo Farias BRITO. A Base Fsica do Esprito, op. cit., p. 71-72.
109
R. F. BRITO apud L. R. DE CARVALHO, op. cit., p. 100.
52
Assim que, imerso na doentia atitude metafsica, porque imerso na dor de
existir como vspera de morte, sem ainda deixar-se levar pelas veredas do sonho e da
poesia, fonte de toda utopia, nem ainda empenhar-se livremente no pragmatismo das
aes, acompanhado de suas ideias-guia, que a poesia vislumbra como em sonho e a
tica postula no pensamento vigilante, Farias Brito medita sobre essa dura realidade e
procura estabelecer o significado da morte para a existncia e da existncia como
vspera de morte, de um modo diferente daquele jeito grego de ver as coisas. Para ele, a
morte, esse tremendo fantasma do nada, encerra sombrios problemas
110
. Pois,
para a realidade o que se pode conceber de mais alto a vida, mas para a vida o fim
necessrio a morte
111
. E por isso, se pergunta: Como explicar uma cousa em face da
outra?, ou melhor: Como explicar a morte em face da realidade, quando nesta domina
o princpio de que nada se extingue, nada se acaba?
112
. Diz Farias Brito ser este o
mistrio dos mistrios, e acrescenta em tom epicurista e alm: A morte a cessao
da conscincia; o que significa, a cessao de toda a sensao, de todo o afeto, de toda a
emoo, de toda a esperana, de todo conhecimento, de toda percepo
113
; e se
pergunta: E no equivale isto a dizer: a cessao de toda realidade?
114
. Nesta
assertiva que vai Farias Brito alm mesmo do epicurismo, pois vai alm e se pode
mesmo dizer que supe em demasia. Mas medita; pois certo que se pode dizer que
com a morte desaparece o indivduo e com o indivduo desaparece a conscincia
115
,
mas por que dizer que com a morte da conscincia individual cessa toda a realidade?
Farias Brito explica que a morte uma negao do particular que, em ltima anlise, se
resolve em negao do todo, porque para a conscincia que termina, tudo fica reduzido
a nada
116
.
Esta ideia guia se tornou fundamental j para Farias Brito, ainda que ser
fecundada e desenvolvida em toda a sua amplitude somente mais tarde, na obra de
Evaldo Coutinho, que a concebeu e pensou em suas mais amplas consequncias. Farias
Brito reconhece que se pode, certo, dizer, que embora se esvaia a conscincia
individual, a existncia, em geral, porm, no ficaria diminuda, uma vez que o todo
110
R. F. BRITO, A Base Fsica do Esprito, op. cit., p. 72.
111
Ibidem, p. 72.
112
Ibidem.
113
Ibidem.
114
Ibidem.
115
Ibidem.
116
Ibidem.
53
permanece sempre o mesmo, impenetrvel em seus arcanos, inesgotvel em sua
fecundidade, revelando sempre novas energias e desdobrando-se sempre em novas
modalidades, de modo a incessantemente agir e produzir novas conscincias e novas
vidas
117
, o que Evaldo Coutinho conceber como uma idealidade na conscincia
vivente, mas, para Farias Brito, ainda se concebia como uma verdade irrecusvel
118
.
Mas o prprio Farias Brito j reconhece que o que temos de mais forte e de mais
poderoso em ns mesmos, o sentimento de nossa prpria individualidade
119
e, diante
disso, se pergunta: que valor tem para ns aquela verdade irrecusvel, de que a
existncia como um todo permaneceria sempre a mesma, independentemente da morte
de uma conscincia individual, se esta conscincia individual desaparece como um
fogo-ftuo que se desfaz, tendo nisto, como certa a sua total extino
120
? Mostra-se
como verdade maior a seguinte tese: Para uma conscincia que se extingue, tudo se
extingue
121
.
Evaldo Coutinho se fixa nessa tese e a desenvolve; ele compreende que a vida
simplesmente uma infringncia da lei do nada, aplicada pelo seu fantasma como uma
sentena irrevogvel. Para Evaldo Coutinho, aquele fogo-ftuo que se desfaz, do qual
falou Farias Brito referindo-se conscincia individual, essa luz que brilha um
momento e logo se apaga na tempestade do cosmo
122
, uma lmpada que, em
acendendo-se, com ela acende-se todo o ser e, apagando-se, faz que todo ser fique
submerso na escurido. Aquele cosmo o mundo passa a existir como vspera de
perecimento
123
luz dessa claridade da vida individual que constitui a minha
vida; pois em mim se opera a existencialidade do mundo de modo a afigurar-se nessa
operao o seguinte sortilgio: o absoluto do ser est adstrito ao efmero da minha
vida, de modo que toda a ordem fisionmica encerra os vultos e acontecimentos
enquanto perecveis com a minha morte
124
. assim que, tendo situado a durao do
universo no estreito prazo de sua vida vida consciente concebendo a presena do
117
Ibidem.
118
Ibidem.
119
Ibidem.
120
Ibidem.
121
Ibidem, p. 73.
122
Ibidem, p. 72.
123
Evaldo COUTINHO. O Lugar de todos os Lugares. So Paulo: Perspectiva, 1976, p. 6.
124
E. COUTINHO. A Viso Existenciadora. So Paulo: Perspectiva, 1978, p. xi.
54
mundo como a vspera do perecimento
125
, Evaldo Coutinho descobre, assume,
sustenta e aprofunda aquela tese levada em conta por Farias Brito. Percebe que o
mundo, nesta acepo, se deixa obviamente inocular pela morte, isto , pela morte
pessoal do indivduo, a lhe sobrevir
126
. O mundo a existncia toda est
submetido, assim, a essa precariedade do existir humano, com a qual se faz precrio o
mundo em todos os ngulos em que imaginado e apreendido
127
pela claridade do
fogo-ftuo da existncia individual. Segundo Evaldo Coutinho:
O meu ser equipara-se lmpada que, ao acender-se, traz existncia visual os
objetos que at esse minuto permaneciam inexistentes para o eventual
contemplador; apagada a lmpada, as coisas voltam anterior e perecente
obscuridade. No campo da exclusiva ptica, a fonte de luz se fez existenciadora
ao promover o nascimento das figuras descobertas, e a existncia destas teve a
durao de sua claridade
128
.
O ser cintilante. A claridade , segundo Evaldo Coutinho, a melhor metfora
para esclarecer sobre a existencialidade que emana de mim, enquanto indivduo no
estreito prazo da vida consciente de sua existncia individual. Esse estreito prazo da
existncia, que institui uma claridade na qual brilha todo o fenmeno do mundo, do
cosmo como uma ordem fisionmica, , ao mesmo tempo, o espao intemporal
temporneo
129
da habitao humana, qual todo o mundo a totalidade da existncia
est adstrito. O ser infringindo a lei do nada e preso ao estreito espao do prazo ao
qual est adstrito, aguardando a sua sentena irrevogvel e estando, todo ele, significado
como vspera de morte.
O sentido da vspera, diz Evaldo Coutinho, dimana dessa condio de um
iminente sucesso o fato de minha morte j se estender a mim sob a feio de
ausncia do infinito resto, a ausncia que vem a cercar a pequena ilha do meu corpo
130
. nesse sentido que, no curso de A Ordem Fisionmica, nome de sua obra
principal em sete volumes
131
, Evaldo Coutinho diz procurar manter subentendida, a
125
E. COUTINHO. O Lugar de todos os Lugares, op. cit., p. 6
126
Ibidem.
127
Ibidem, p. 6-7.
128
Ibidem, p. 20.
129
E. COUTINHO. O Espao da Arquitetura. So Paulo: Perspectiva, 1998, p. 74-79.
130
E. COUTINHO. O Lugar de Todos os Lugares, op. cit., p. 10.
131
A Ordem Fisionmica foi publicada em sete volumes sob os seguintes ttulos: O Lugar de Todos os
Lugares (publicado em 1976 como introduo obra A Ordem Fisionmica); A Viso Existenciadora
(publicado em 1978 como vol. I); O Convvio Alegrico (publicado em 1979 como vol. II); Ser e Estar
em Ns (publicado em 1980 com vol. III); A Subordinao ao nosso Existir (publicado em 1981 como
55
frase que ele teria ouvido na infncia, segundo a qual o mundo se acaba para quem
morre
132
. Esta era para ele a viga inicial de toda sua obra, o leitmotiv de sua
ideao
133
, esse pensamento, que , em verdade, uma ideao ubqua
134
: o fato de
todo o ser adquirir o sentido uniformizador de estar em vspera do absoluto
perdimento
135
. Segundo Evaldo Coutinho, por mais resistentes e perpetuveis que
sejam as coisas, elas se fatalizam efmera durao: a de minha vida consciente
136
.
Para Evaldo Coutinho, o ser tudo um de Herclilto o indivduo, que ao existir, d
existncia a todo o mundo em sua viso existenciadora, como vsperas de submerso
no nada de seu total perecimento. As cintilaes de ser so as cintilaes do mundo,
acendendo medidas e apagando medidas, no fogo-ftuo da conscincia individual que
nasce e morre.
desse modo que, diante daquela tese, enunciada por Farias Brito nos termos de
que para uma conscincia que se extingue, tudo se extingue, e que marcou a
conscincia infantil de Evaldo Coutinho, enunciada sob a frmula o mundo se acaba
para quem morre, tornando-se a ideao ubqua de seu pensamento, a morte se mostra
como o fantasma de um perecimento total. Este fantasma estabelece para a existncia e
para o ser como tal a lei irrevogvel do nada em vsperas de seu cumprimento. A
existncia encontra-se inexoravelmente sentenciada a esta sorte por esta lei, presa ao
prazo iminente de seu cumprimento, e chega a perceber que tudo est condenado ao
cumprimento desta sentena, adstrito ao prazo estreito da existncia da vida consciente
individual. existncia resta o exerccio de, em trazendo claridade de sua viso
existenciadora todo o ser que se ilumina pelo toque de sua conscincia, tornar adstrita
ao prazo de sua vida, por meio desse ato de conhecimento, isto , desse ato criador,
tudo aquilo que no mundo emerge atravs dela e por seu perecimento, com ela tambm
se esvai. Como nos diz Evaldo Coutinho:
vol. IV); A Testemunha Participante (publicado em 1983 como vol. V); A Artisticidade do Ser (publicada
em 1987 como uma concluso geral da obra A Ordem Fisionmica). Alm desta obra, escreveu tambm
um ensaio filosfico de teoria do cinema, intitulado A Imagem Autnoma (publicado em 1972), e o
tratado ao qual dedicava muita estima e que ser objeto de estudo no quinto captulo deste livro, intitulado
O Espao da Arquitetura (publicado em 1970).
132
Ibidem, p. 12
133
Ibidem.
134
Ibidem, p. 13.
135
Ibidem.
136
E. COUTINHO. A Artisticidade do Ser. So Paulo: Perspectiva, 1987, p. IX.
56
Ampliando a acepo de o conhecimento ser uma forma de o universo se dispor
ao advento de minha morte, [...] discirno que toda a escala de meus
existenciamentos, desde as coisas que nunca se afastam da possibilidade, at as
reais, em sua posio de presena, a fiz surgir para a destinao de comigo
morrer. Sou, portanto, um Deus que criou o mundo para ele morrer consigo.
137
A existncia , assim, por meio de sua conscincia, criadora de tudo o que lhe
est adstrito, mas isso, de tal modo, que a morte se lhe apresenta como o anncio
prenunciador da extino de tudo em mim, comigo. Existenciar para a morte, eis o
dstico que aponho na fachada de meu templo
138
, diz Evaldo Coutinho, em tom quase
oracular.
imerso nessa dor de existir para a morte e a tudo compreender em vspera de
perecimento, que a existncia criadora e por natureza potica sonha e entrev sua
libertao da priso em que se encontra, e, num desejo de eternizar-se, fixa em um
trabalho criador externo e figurativo, material, aquilo que em sua conscincia se mostra
como o mais significativo da passagem de todas as coisas. A Morte, esse Fantasma do
Nada, desencadeia na existncia esse processo criador exterior... Solta a existncia,
antes de solt-la efetivamente das grades da vida crcere em que se encontra presa. Mas
ela solta apenas sob o modo de um anncio prenunciador fantasmtico; faz-nos sonhar
com a liberdade e, num primeiro gesto de libertao, faz-nos pensarmo-nos livres, para,
quando finalmente estivermos livres desse crcere, podermos ter deixado, em traos
mortos, mas resguardadores como sarcfagos, os vestgios de nosso sonho de liberdade
e de nossos ideais de libertao.
O anncio prenunciador do Fantasma do Nada liberta-nos primeiro na priso, e
nos faz cantar dentro de uma cadeia, e nos faz voar lembrando os versos de Cazuza
em Cobaias de Deus isto , faz-nos abrirmo-nos para o afazer potico, para a
expresso vertiginosa de nosso ser em agonia, que se traduz nas letras e nas cifras de
nossa arte, vestgios de nossos sonhos e de nossos cansaos. Mas, como se perguntou
certa vez outro cantor brasileiro Milton Nascimento, Ser que tudo que est ligado
conscincia, tocando de leve no real sem penetr-lo, est destinado ao fracasso e ao
esquecimento?; a despeito da resposta de Milton e de sua esperana de que: No.
Restar a vitria, o meu salto mortal para uma nova vida, preciso ainda dizer que o
enigma permanece. No podemos estar seguros da vitria, nem mesmo esperar sucesso
137
Ibidem, p. 123.
138
Ibidem.
57
e fama. Talvez seja possvel alcanar xito na empreitada. Certamente s assim poder-
se- adquirir algum significado para a histria.
Ser Criador, ser plasmado pela capacidade criativa ser um Tear habitado pelas
Trs Irms Felinas. Criar compor, sendo atingido pela Sina, tomado pelas Trs
Moiras, as Parcas Trs, que no Criador tecem com o Fio de sua Vida o Tecido da
Composio, e liberam-no pelo corte ltimo do Fio, deixando-o cair ao Cho inerte,
como uma Pea de Arte, um Vestgio de uma s composio da vida, que, alteando-se
at o ponto mais alto, perde o equilbrio e, na vertigem, cai sob o peso de sua grandeza,
plasmando-se em outro. Esse o mistrio da criao, originada da Dor, da Saudade e da
Morte. Ser contemplado por esse Mistrio a Sina do Poeta e mesmo do Filsofo. Este
o subterrneo, do qual brotam a criatividade potica e a inquietao filosfica.
58
59
TERCEIRO CAPTULO
A EXISTNCIA APRISIONADA E SEU DESTINO POTICO
Sendo a existncia uma priso, a morte sua sentinela. Esta sentena foi cantada
e decantada por um grande poeta popular sertanejo, o agricultor Antnio Gonalves da
Silva, popularmente conhecido como Patativa do Assar. Um Aedo Sertanejo, ou, como
ele mesmo diz, um rude bardo
139
, que evoca a histria de seu povo em seus poemas
picos. Em seu poema Filosofia de um trovador Sertanejo, que praticamente se
constitui como uma Ode Morte Carcereira, ele verseja em sua proposital rima dialetal
sert:
Seu dot pede que eu cante
Coisa de filosofia;
Escute que eu vou agora
Cant tudo em carretilha;
O senh pode escut,
Que se as corda no quebr,
Nem fart minha cachola,
Eu lhe atendo num instante:
Nada existe que eu num cante
Nas corda desta viola.
Sobre este mundo cru,
De turmento e confuso,
Os poeta sempre gosta
De d sua pinio;
Um descreve de proviso
Que o mundo um paraso
Enfeitado de ful;
J to, que mais izato,
Diz que o mundo um triato
Cheio de cena de horr.
E afin, todos poeta
Falando neste respeito,
Descreve este mundo vio,
Cada um l do seu jeito;
Por isso, eu agora vou
Pedi ao senh dot
Um poquinho de teno;
139
PATATIVA DO ASSAR. Cante l que eu canto c. Filosofia de um trovador nordestino. 16 ed.
Petrpolis: Vozes, 2011, p. 163.
60
No causo que possa s,
Que eu quero tombm faz
A minha comparao.
No vou diz que os poeta
No to comparando bem.
Mas como o assunto me cabe,
Eu quero fala tombm.
O mundo uma cadeia
Que de preso veve cheia,
Ningum me diga que no;
A morte seu sentinela,
E quem arranca as tramela
Das porta desta priso.
O mundo uma cadeia
Onde se vve a pen;
Ns somo os prisionro
Deste carce univers;
Vivendo nesta priso,
Tudo de argema nas mo,
Os grio as doena;
Dentro deste calabouo
Sofre o veio e sofre o moo,
Que a vida dura sentena!
Tudo geme neste carce,
Grita um ai! to oi!
E a causa dessa derrota
Eu vou lhe diz quem foi:
Apois bem, todo motivo
De hoje ns viv cativo,
No mais horrive pen,
Foi Ado e sua esposa,
Que os mais veio faz as coisa
Mode os mais novo pag.
[...]
Ante daquele pecado
A vida era uma delia;
Mas despois dele ficou
Cheia de d e malia.
Por causa de Eva e de Ado
O mundo uma priso,
Cumo eu dixe a seu dot:
Foi Eva mais seu esposo
Os premro criminoso
Que nesta cadeia entr.
61
Entonce Deus resorveu,
Pra se ving dessa afronta,
Entreg o mundo morte,
Mode ela tom de conta;
E a morte, cumo vigia,
Veve sempre, noite e dia,
Do Brasi ao estrangro,
Com sua foice na mo
Vigiando esta priso
E sortando os prisionro.
Com a grande farsidade
Que Eva a seu marido fez,
Dexou tudo padecendo
Nas grade deste xadrez.
S se goza boa sorte
Depois de uma boa morte;
E deste xadrez imundo
A morte quem nos trensporta,
Cada um tem sua porta
De sa pro to mundo.
A pessoa, quando t
Bem doente, quage morta,
A morte t com certeza
Bem no p da sua porta;
J t pegada na tranca,
E no momento que arranca,
O esprito avoa veloz
De dentro desta priso,
Que Eva e seu marido Ado
Dexou de herana pra ns.
Seu dot, eu falo franco,
Se eu morr no dou cavaco,
Eu mermo tenho vontade
De sa deste buraco;
Juro por Nossa Senhora
Que chegando a minha hora
Eu no digo nem adeus
A este triste recanto,
E vou goz dos encanto
Das santa coisa de Deus.
Se a vida traz o tromento
E a morte o descanso traz,
62
No dou cavaco em morr,
Pra goz da santa paz.
Eu int tenho alegria,
Pruqu vejo todo dia
Que a morte qu me leva;
J oio a zoada dela,
Sacolejando a tramela
Da porta, pra me sort.
[...]
140
A despeito de uma reflexo compromissada com o dogma do pecado original, e
pela tradicional atribuio sedutora ao carter feminino, como sendo, a prpria seduo,
algo de feminino, fundamental nesses trechos do poema, e que fao questo de ressaltar,
o modo como se mostra a figura da Morte. Sendo o mundo compreendido como uma
cadeia, a morte seu sentinela. O Mundo e os prisioneiros que vivem neste Crcere
esto entregues a ela, para ela tomar de conta. E a morte como vigia, vive sempre,
noite e dia, do Brasil ao estrangeiro, com sua foice na mo, vigiando esta priso e
soltando os prisioneiros. A figura do mundo como priso e da morte como seu
sentinela encerra o quadro no qual se insere o drama da existncia humana no mundo.
Essa figura , por assim dizer, um mesmo arqutipo existencial a partir do qual
emerge o colossal Romance da Pedra do Reino e do Sangue do Prncipe do Vai-e-
Volta de Ariano Suassuna, cuja personagem principal, Joo Diniz Ferreira Quaderna, se
faz o representante mais fiel da vivncia desse drama e da tarefa de ser que ele exige:
Daqui de cima, no pavimento superior, pela janela gradeada da Cadeia onde
estou preso, vejo os arredores da nossa indomvel Vila sertaneja. O Sol treme
na vista, reluzindo nas pedras mais prximas. Da terra agreste, espinhenta e
pedregosa, batida pelo Sol esbraseado, parece desprender-se um sopro ardente,
que tanto pode ser o arquejo de geraes e geraes de Cangaceiros, de rudes
Beatos e Profetas, assassinados durante anos e anos entre essas pedras
selvagens, como pode ser a respirao dessa Fera estranha, a Terra essa Ona-
Parda em cujo dorso habita a raa piolhosa dos homens. Pode ser, tambm, a
respirao fogosa dessa outra Fera, a Divindade, Ona-Malhada que dona da
Parda, e que, h milnios, acicata a nossa Raa, puxando-a para o alto, para o
Reino e para o Sol.
141
A Histria Humana, feita do Sopro do barro da Terra e do Sopro do hlito
Divino, que, como um redemoinho, acicata a nossa Raa puxando-a para o alto, para o
140
Ibidem, p. 182-190, grifos meus.
141
Ariano SUASSUNA. Romance dA Pedra do Reino e o Prncipe do Sangue do Vai-e-Volta. So
Paulo: Crculo do Livro, 1991, p. 17.
63
Reino e para o Sol, levantando Poeira, sente-se engradeada na jaula do mundo, adstrito
ao prazo de sua existncia finita. assim que Quaderna se sente. E assegura:
A, talvez por causa da situao em que me encontro, preso na Cadeia, o Serto,
sob o Sol fagulhante do meio-dia, me aparece, ele todo, como uma enorme
Cadeia, dentro da qual, entre muralhas de serras pedregosas que lhe servissem
de muro inexpugnvel a apertar suas fronteiras, estivssemos todos ns,
aprisionados e acusados, aguardando as decises da Justia, sendo que, a
qualquer momento, a Ona-Malhada do Divino pode se precipitar sobre ns,
para nos sangrar, ungir e consagrar pela destruio.
142
Esse um sentimento de mundo que invade a existncia em vsperas de morte
no Crcere do mundo. Presa e diante da Morte, o que lhe resta? O que pode esperar,
seno ser libertada o quanto antes? O que lhe diz a Morte sentinela?
Para responder a essas perguntas importa prestar ateno no que Ariano
denominou a chave do Romance dA Pedra do Reino. Trata-se das palavras proscritas
em fogo pela morte, no final do Folheto XLIV, intitulado A Visagem da Moa
Caetana, a cruel morte sertaneja, que costuma sangrar seus assinalados, com suas
unhas longas e afiadas como garras
143
. L est escrito:
A sentena j foi proferida. Saia de casa e cruze o Tabuleiro pedregoso. S lhe
pertence o que por voc for decifrado. Beba o Fogo na taa de pedra dos
Lajedos. Registre as malhas e o pelo fulvo do Jaguar, o pelo vermelho da
Suuarana, o Cacto com seus frutos estrelados. Anote o Pssaro com sua flecha
aurinegra e a Tocha incendiada das macambiras cor de sangue. Salve o que vai
perecer: o Efmero sagrado, as energias desperdiadas, a luta sem grandeza, o
Herico assassinado em segredo, o que foi marcado de estrelas tudo aquilo
que, depois de salvo e assinalado, ser para sempre e exclusivamente seu.
Celebre a raa de Reis escusos, com a Coroa pingando sangue: o Cavaleiro em
sua Busca errante, a Dama com suas mos ocultas, os Anjos com sua espada, e
o Sol malhado do Divino com seu Gavio de ouro. Entre o Sol e os cardos,
entre a pedra e a Estrela, voc caminha no Inconcebvel. Por isso, mesmo sem
decifr-lo, tem que cantar o enigma da Fronteira, a estranha regio onde o
sangue de queima aos olhos de fogo da Ona-Malhada do Divino. Faa isso, sob
pena de morte! Mas sabendo desde j que intil. Quebre as cordas de prata da
Viola: a Priso j foi decretada! Colocaram grossas barras e correntes ferrujosas
na Cadeia. Ergueram o Patbulo com madeira nova e afiaram o gume do
Machado. O Estigma permanece. O silncio queima o veneno das Serpentes, e,
no Campo de sono ensanguentado, arde em brasa o Sonho perdido, tentando em
vo reedificar seus Dias, para sempre destroados.
144
142
Ibidem, p. 18.
143
Ibidem, p. 257.
144
Ibidem, p. 258.
64
Para alm do enredo, contexto no qual figura essa mensagem cifrada da Moa
Caetana justamente no momento em que Quaderna est para ser preso , e em vista de
atingir a sua significao potica, preciso compreender o carter existencial e
universal em vista do qual se profere esta sentena. A existncia, em vspera de morte,
v a morte, antecipando-a nessa visagem. o Fantasma do Nada lembrando-lhe da
sentena dada, por causa da transgresso da nica Lei do Nada, operada pelo Ser.
Diante deste fantasma, a existncia convocada e impelida a sair do seu casulo, de sua
casa, de sua priso domiciliar, de sua cela-crcere, e, numa celebrao
rememorativa, cruzar a estrada espinhenta e pedregosa ao longo da qual se desenrolam
os acontecimentos sortlegos, como num sonho, ao mesmo tempo grotescos e
gloriosos
145
. Nesta rememorao, s pertence existncia aquilo que ela puder
decifrar, aquele sentido escondido nas cifras vertiginosas que, como vestgios
remanesces, vigoram em sua memria. A existncia , assim, convocada e impelida a
imitar a morte, registrando na escrita inclume e fixa o que se passa e se move na
memria viva. Trata-se de uma espcie de libertao da existncia do crcere na qual
vive antes que a morte o faa. A existncia precisa registrar os traos significativos do
mundo na qual vive e qual est adstrita. A existncia precisa registrar, anotar e, assim,
salvar o que vai perecer, e assim libertar-se do crcere, antes que a morte o faa. Anotar
o Efmero e, ao mesmo tempo sagrado: tudo aquilo que, depois de salvo e assinalado,
somente a ela pertencer, e, por isso mesmo, somente a ela compete registrar, anotar e
salvar, deixando, assim, os vestgios de sua passagem pela Terra. A existncia, em
vspera de morte, aprisionada dentro do prazo que lhe foi dado viver, convocada a
celebrar a histria humana e, num ltimo suspiro, evocar e trazer tona, em tinta e
papel, os traos da imagem sonora daquele mesmo sopro ardente, que tanto pode ser o
arquejo das geraes de sua terra, como pode ser a respirao da prpria Terra ou da
Divindade que a constitui.
Isto que a existncia chamada a registrar, anotar e salvar , ao mesmo tempo,
inconcebvel. o mistrio de sua prpria passagem pela terra, de seu prprio
encurralamento no mundano, na priso que a encarcera e aprisiona. Mas preciso
comear a ser livre a dentro; e isso no se far se o processo impossvel de decifrao
no se expressar no canto que estatui sua significao enigmtica, quando o sangue
145
Ibidem, p. 20.
65
ainda ferve. preciso cantar o enigma da Fronteira entre Tudo e o Nada que constitui
a existncia em seu ser sentenciado para morrer, seu ser entregue morte. preciso que
a existncia chegue a tornar-se um Aedo e mesmo um Rapsodo, um Poeta e mesmo um
Cantador, fazendo isso, sob pena de morte e sabendo que, mesmo entregue a essa labuta
fantstica da liberdade, isto no a livra da morte qual est sentenciada. Mas preciso
quebrar as grades da cadeia, antes que a morte coloque as mos na tramela de sua porta
para abr-la, e nas cordas de prata da viola, retinir o galope do martelo. Bater nas
grades... balanar as correntes... tocar nas cordas da Viola e nos tons que ela exprime,
nos sons que a voz deixa ressoar e nos traos que a escrita fixa, cantar o enigma da
Fronteira, a estranha regio onde o sangue se queima aos olhos de fogo da Ona-
Malhada do Divino.
a esta desventura venturosa e aventureira que a existncia est entregue e pode
deixar entrever um sentido, e qui chegar mesmo a ser bem-aventurada, a alcanar a
Boaventura. Este Sonho perdido, a utopia do bom lugar em lugar nenhum, arde em
brasa no sangue da existncia, que ferve enquanto circula no corpo vivo, destinado a
humedecer o Campo de sono. E assim, caso a existncia se aventure a dedicar-se ao
trabalho da poesia, dar seu sangue, seu suor e suas lgrimas, para reedificar seus Dias,
para sempre destroados, no castelo em pedra de uma obra potica que resguarde o
sentido de sua passagem pela terra, sonhando em ser livre de seu crcere cruel. Como
ele mesmo diz no Folheto XIV:
os Cantadores [...] construam tambm, com palavras e a golpes de versos,
Castelos para eles prprios, uns lugares pedregosos, belos, inacessveis,
amuralhados, onde os donos se isolavam orgulhosamente, coroando-se Reis, e
que os outros Cantadores nos desafios, tinham obrigao de assediar, tentando
destru-los palmo a palmo, fora de audcia e de fogo potico. Os Castelos
dos poetas e Cantadores chamavam-se, tambm, indiferentemente, Fortalezas,
Marcos e Obras.
146
Assim, descobrir o caminho para a salvaguarda de sua existncia finita, diz
Quaderna, Foi um grande momento em minha vida. Esta, segundo ele, Era a soluo
para o beco sem sada em que me via!. E complementa: Era me tornando Cantador
que eu poderia reerguer, na pedra do Verso, o Castelo do meu Reino, e isto sem
arriscar a garganta e sem me meter em cavalarias, para as quais no tinha nem tempo
146
Ibidem, p. 82.
66
nem disposio
147
. Ora, este era o teor da mensagem transmitida a Quaderna pela
Moa Caetana, o Fantasma do Nada que lhe apareceu em visagem como uma musa
sedutora, fomentando um sonho de libertao. Quaderna a personagem que encontra
nessa mensagem a possibilidade de sentido para sua existncia aprisionada e adstrita ao
prazo de sua finitude predeterminada.
Desse modo, Ariano Suassuna faz sua personagem Quaderna representar toda
existncia finita, aprisionada, em vias de libertar-se em sonho de seu crcere, por
intermdio da poesia. Tornar-se o Gnio da Raa por intermdio de uma obra, que
teria que conter tudo o que constitua sua existncia singular, imersa na tradio de seu
povo, e que representasse, ao mesmo tempo, um paradigma arquetpico de qualquer
vivente histrico, adstrito ao prazo de sua existncia finita, na luta para estabelecer o
sentido fundamental de sua existncia e nela e com ela, o sentido fundamental de toda
existncia humana. Assim, o aprisionamento da existncia implicava a assuno de um
destino potico.
A Filosofia e a Poesia assumem, aqui, um interesse fundamental. NA Pedra do
Reino, pode-se perceber em Quaderna a sntese dessas duas grandes tendncias de
salvaguarda do sentido fundamental da existncia humana. Ariano pe Quaderna diante
de amigos que representam essas duas tendncias fundamentais. De um lado est o
Filsofo Sertanejo, o Professor Clemente, natural da Vila de Patu, no Rio Grande do
Norte
148
, que vem a se tornar o Visconde de Caic, um genuno tapuia-errante
remanescente dos antigos povos que habitaram por muitos milnios s margens do Rio
Piranhas-Au e seus afluentes nos Sertes do Rio Grande do Norte e Paraba, e que
reuniram grande fora anti-colonialista na figura dos antigos Tarairius, habitantes s
margens do rio Serid. De outro lado, o Fidalgo dos Engenhos, o Doutor Samuel
Wandernes, um gentil-homem dos Engenhos pernambucanos
149
, e que se constitua
num genuno nauta-arremessado, remanescente dos antigos povos brancos que
invadiram e dominaram a Pora-Poreima, a terra devastada dos Tapuias, isto , o
velho, seco e pedregoso Chapado da Serra da Borborema
150
. De Clemente, Quaderna
aprendera esta mundiviso, segundo a qual aquela Serra Sertaneja deveria ser
147
Ibidem, p. 82.
148
Ibidem, p. 133.
149
Ibidem, p. 134.
150
Ibidem, p. 130.
67
considerada igual a qualquer outra de qualquer pedao do mundo, pois todos
acordavam aqui arremessados, neste nosso chapado pedregoso, e aqui viviam
errantes sem terem sido consultados se queriam vir ou no
151
. Uma cosmoviso
pela qual se assegurava que todos eram condenados morte e saam deste mundo sem
saber para que tinham sido chamados ou que sentido tinha esse jogo estranho
ensolarado, sinistro, enigmtico mas belo, apesar de perigoso e meio insano
152
. De
Samuel aprendera a dignidade do potico e seu poder transfigurador desse mundo
perigoso e meio insano. Poesia pela qual se omite as aparncias que diminuem a
majestade do mundo
153
. Poesia pela qual o Mundo, se mostra como um livro
imenso, que Deus desdobra aos olhos do Poeta!
154
.
Quaderna busca construir a sntese entre o potico e o filosfico a partir das
entranhas mesmas de sua existncia e dos vestgios prprios da tradio de seu povo
para assumir seu destino potico. o smbolo da existncia em busca de consagrar-se
rei decifrador de sua prpria histria antes que a morte o liberte definitivamente de sua
priso inexpugnvel. A existncia que faz de sua priso, de sua situao de
aprisionamento, o lugar mesmo de rememorao e celebrao de sua passagem pela
terra. Pois:
Sabe o Rei que vive um Sonho
pois, aqui, de nada Dono,
que ns surgimos do Nada
e a Vida acaba num Sono,
pois a Morte nosso Emblema
e a Sepultura seu Trono!
155
assim que Ariano Suassuna, Poeta Prosador, para quem a Vida Sono em
Sonho, cujo Sangue se derrama incendiado ao Sol da Ona-Malhada do Divino, sobre a
Pele em Plos da Ona-Parda do Mundo, consegue determinar com presteza o destino
potico a que a existncia aprisionada est entregue. Por meio da personagem Arsio ele
afirma:
Eu sei que cada um de ns tem de realizar a seu modo a glria ardente da sua
Vida, e enfrentar, tambm ao seu modo, a sujeira e o sangue da Morte, ambas
151
Ibidem, p. 131.
152
Ibidem.
153
Cf. A. SUASSUNA, op. cit., p. 33.
154
A. SUASSUNA, op. cit., p. 198.
155
Ibidem, p. 202.
68
diante do Sol. Sim, porque diante dessas coisas, a Vida e a Morte, cada um tem
de se atar sozinho, pois ficamos sempre inteiramente ss diante delas!
156
E por fim:
O mais que o homem verdadeiro procura, em seu conflito com o mundo,
colocar uma precria ordem em sua vida e um certo estilo em sua melancolia,
em seu destino, que , por natureza, despedaado, triste, falhado, enigmtico e
trgico. Para isso, o homem tem duas fontes, duas razes de defesa o choro e o
riso. Mas o choro e o riso verdadeiros, aqueles fincados profundamente e cujo
ritmo se alimenta de sangue e de subterrneo.
157
S, diante da vida e da morte, tendo que se atar sozinha diante delas, e
procurando estabelecer uma ordem precria para a vida, e certo estilo em sua sina
despedaada, triste, falhada, enigmtica e trgica, a existncia, aprisionada sob a
vigilncia da morte, segue o destino que acaba por lhe ser confiado: salvar o que vai
perecer pelo choro ou pelo riso. Nesta funo de salvaguardar o que vai perecer se
estriba a tarefa fundamental do labor potico.
156
Ibidem, p. 546.
157
Ibidem, p. 548.
69
QUARTO CAPTULO
A FUNO REDENTORA DO LABOR POTICO
Foi certamente pela compreenso dessa funo redentora do labor potico que
ngelo Monteiro a expe em sua obra potica. Neste captulo tenho em vista expor o
sentido em que o autor compreende esta funo redentora do labor potico, por meio de
uma penetrao de sentido do que se mostra em sua obra Os Olhos da Viglia.
Entendo que Os Olhos da Viglia tem o carter de um canto da alma em
despedida, uma celebrao da existncia em agonia, na cantilena de seu ltimo anncio,
de sua ltima mensagem; um hinrio, no qual a existncia rene o sentido profundo de
seu tempo nico e singular, e manifesta o significado da tarefa fundamental a qual se
dedicou como sua possibilidade ltima, livremente escolhida. um cancioneiro
existencial, em que est em jogo pensar a existncia, seu tempo e as marcas de sua
historicidade e de seu sentido na histria.
O poema S Memria reflete esse contexto, no horizonte do qual a existncia e
sua tarefa de ser possvel, no tempo singular que lhe dado, se faz pensvel:
A eternidade pensa
O tempo,
Como a rvore as folhas
E o vento o plen
Em seus giros
Entre o cu e a terra.
Como no pensar-me
A memria de existir
Mesmo sabendo-a
rf em sua origem?
J que sou passageiro
Entre todas as miragens
Como salvar tal memria?
Como fixar o trao impalpvel
Tanto das nuvens do cu
Como das sombras e luzes do caminho
Que em silncio envolveram meu durar?
Como prender com os fios do tempo
A efgie de todas as presenas
E crav-la como pedra
Nos anis do meu fim
Girando a vida eterna na memria?
158
158
ngelo MONTEIRO. Os Olhos da Viglia. Lisboa: rion, 2001, p. 74.
70
Este poema de ngelo Monteiro d-nos o mote arcaico da historicidade que nos
constitui, e que nos possibilita redimir e salvar o tempo, mantendo-nos no mbito do
cosmos, do mundo; mbito no qual o ser humano, crendo ou no em Deus ou nos
deuses, trava sua luta pela vida, sobre a terra e sob o cu, perante o fantasma do nada.
O mundo marcado pelo ritmo do tempo memorial, o a|a (o sempiterno) no
dizer dos gregos. \puc:o:c (a Memria) a musa que resguarda seus traos. Pois a
amizade, assim como a poesia, diz ngelo Monteiro, sobretudo o reino da memria:
todas as coisas, uma vez existentes, em ambas permanecem, pois sem Mnemsine as
nove musas, e entre elas a da poesia, no conseguiriam salvar-se da mais completa
mudez
159
. Uma vez que emergem como ,:o|,, isto , como natureza, de quem
Herclito disse tender a ocultar-se
160
, as coisas recairiam num mutismo absoluto, no
fosse a possibilidade que a poesia tem, por meio da palavra, de resguardar o que aparece
num instante, e nesse mesmo instante perece. Nomear o ato por excelncia da Poesia:
o fazer vir luz, atravs da sonoridade dos nomes, a essncia mais funda das coisas
161
. Nomeao sem a qual a natureza recairia na mudez absoluta, no silncio... no
aquele silncio do qual diramos no poder se exprimir pelo som da voz porque surdo,
nem o silncio da escuta, que quem est marcado pela surdez tambm experimenta, mas
um silncio surdo por causa da mudez da natureza, o silncio calado, mas sem escuta,
por no haver o que ouvir, silncio no de surdos, sempre comunicantes e prontos a
escutar e a comunicar, mas mutismo, no qual dizer se faz completamente impossvel
sem o som da voz ou sem o gesto das mos e do olhar comunicantes. Seria assim o
silncio da natureza sem a nomeao. Contra este mutismo, a doce musa da poesia tem
a misso de captar, em constante e silencioso dilogo, a palavra essencial das coisas
162
. Por isso, a Memria que ngelo Monteiro canta neste poema. Em seu prembulo
ele assegura:
A eternidade pensa
O tempo,
Como a rvore as folhas
E o vento o plen
Em seus giros
159
ngelo MONTEIRO. Arte ou Desastre. So Paulo: Realizaes, 2011, p. 202.
160
Este um pensamento que, de acordo com a tradio, teria sido formulado por Herclito, o obscuro:
physis kryptesthai filei, isto , a natureza ama ocultar-se (Frag. 123).
161
ngelo MONTEIRO. Arte ou Desastre, op. cit., p. 170.
162
Ibidem, p. 66.
71
Entre o cu e a terra
163
Plato estabeleceu o fundamento teortico do que aqui foi visto pelo poeta
quando deu a compreender que o cu, como cone mvel do sempiterno, o que se
move sempiternamente de acordo com o nmero, sendo o tempo o nmero desse
movimento do cu que a gente v e viu desde muito tempo (cf. PLATO, Timeu 37d)
164
. O cu, segundo o modelo do tempo, em todo o tempo, foi, e ser. O tempo pode
ser pensado justamente como o modelo clarividente (paradigma ideal) segundo o qual se
move o cu a ns visvel e dado ao pensamento, justamente e na medida mesmo em que
nmero do movimento, que somente o nosso nimo inteligvel pode seguir (cf.
ARISTTELES, Fsica, IV, 10-14)
165
, a fim de nos conferir alguma orientao a
respeito do dia e da noite, dos ciclos lunares pelos quais tantos povos estabeleceram os
meses, do desaparecimento e reaparecimento das Pliades ou da Ursa Maior, a partir da
qual nossos antepassados podiam contar a passagem dos anos
166
. O tempo: esse nmero
inteligvel pelo qual podemos apreender a natureza em seu movimento perene, e contar
por meio dele a nossa efmera durao, atravs do qual podemos fixar o efmero como
pedra nos anis de nosso fim, girando o eterno em memria que os resguarda. A
esttica, ao lado da tica, detm uma misso que, alm de tudo, reconstituidora e
mesmo salvadora de toda a realidade ao fazer com que, atravs da arte, momentos de
eternidade se fixem sobre a trgica efemeridade de toda experincia; efemeridade que
163
ngelo MONTEIRO. Os Olhos da Viglia, op. cit., p. 74.
164
Cf. PLATO, Timeu, 37d. Trad. Carlos Alberto Nunes. Belm: EDUFPA, 2001. Para uma cuidadosa
interpretao desse texto, a qual procurei acompanhar criticamente nesse artigo, cf. Remi BRAGUE, O
Tempo em Plato e Aristteles, trad. Nicols Nyimi Campanrio. So Paulo: Loyola, 2006, p. 15-79.
165
Cf. ARISTTELES, Fsica. Trad. Guilhermo R. de Echanda. Madrid: Gredos, 1995. Cf. tb.
ARISTTELES, Physics, vol. IV, trad. P. H. Wicksteed e F. M. Cornford. Cambridge/ Massachusetts/
Londres: Harvard University Press, 2005.
166
Apenas para citar um exemplo, contam os invasores holandeses das terras braslicas dos sertes
seridoenses do sc. XVII, que os tapuias tarairius adoravam a Ursa Maior, ou Setentrio, vulgarmente
denominados de Carreta (Olavo de MEDEIROS FILHO, Os Holandeses na Capitania do Rio Grande,
Natal: Sebo Vermelho Edies, 2010, p. 58). A Ursa Maior tida como a constelao mais reconhecida
no hemisfrio norte e tambm pode ser vista em grande parte das regies norte e nordeste do Brasil, e
possui um padro com sete estrelas caracteristicamente brilhantes. Dizem ainda os holandeses que os
antigos Tarairius, ao divisarem, pela manh, tal constelao, alvoroavam-se e dirigiam-lhe cantos e
danas, assegurando ainda que suas lendas descreviam uma raposa que teria suscitado contra eles o
dio do seu deus, que deles afastou a proteo, conservando ainda a tradio de que, em tempos
remotssimos, encontravam a alimentao sem necessidade de esforo, gozando ademais de uma tima
vida, mas tais facilidades haviam sido perdidas em consequncia da ofensa feita ao Setentrio, que de
tal forma os condenara ao sofrimento (MEDEIROS FILHO, op. cit., p. 58). V-se, por tal contexto, a
maneira como o dizer potico dos antigos inclua os cus nos desfechos de sua histria e de seu destino
trgico. O mesmo aconteceu para muitos outros povos.
72
imagem e destino de tudo o que se move sobre a terra. Destino e imagem de que a arte,
em suas diversas manifestaes estticas, o registro glorioso da memria sempre
ameaada dos homens.
167
.
De que depende a Memria, para que nos anis da finitude e de tudo aquilo que
finito em seus ciclos possam ser cravados como pedra ou mesmo em pedra os traos
da vida efmera?
Segundo Plato e o Poeta, os cus, em seus giros de acordo com o nmero do
movimento, isto , o tempo, foram feitos cones da perenidade (a|a) e imagem da
constncia (c|kca :c: a|o|c:
168
). E o que so os cus: estrelas fixas no orbe, Sol e
Lua... em suma, o que no desaparece e em seus giros retorna sempre ao mesmo ponto e
resguarda o que , o que sempre foi e ser. Este o carter daquilo que feito cone do
perene: fixar o trao impalpvel, tanto das nuvens do cu, como das sombras e luzes do
caminho, que em silncio envolveram meu durar. Os cus so ditos por Plato como
sendo cone do perene. Mas como fixar o trao impalpvel, tanto das nuvens do cu,
como das sombras e luzes do caminho, que em silncio envolveram meu durar?,
pergunta o Poeta. Uma vez que, como escreveu Kierkegaard, preciso ser verdade que
a vida de um homem passageira no primeiro instante; mas tambm preciso estar a
uma fora vital para matar esta morte e transform-la em vida
169
; tambm o Poeta
atestou e perguntou: J que sou passageiro, entre todas as miragens, como salvar tal
memria?. Segundo Kierkegaard, em continuidade ao que ele escreveu e citei acima,
preciso recordar que no primeiro alvorecer do amor lutam entre si o presente e o futuro
para encontrar uma expresso eterna, e esta recordao significa justamente o refluxo da
eternidade no presente, isto quando esta recordao saudvel. Ora, para ngelo
Monteiro, esta expresso eterna no pode ser outra coisa seno a tarefa da poesia,
pois:
[...]
Esvoaando a existncia
Toda palavra essncia
Da nossa prpria agonia.
Prender a onda na praia
167
ngelo MONTEIRO. Arte ou Desastre, op. cit., p. 56.
168
Cf. DIGENES LARTIOS, Vitae philosophorum, ed. H.S. Long, Diogenis Laertii vitae
philosophorum, 2 vols. Oxford: Clarendon Press, 1964 (repr. 1966), Livro 3, 73, linha 6.
169
Sren KIERKEGAARD. Die Wiederholung, op. cit, p. 9.
73
Antes que a onda caia
a faina da poesia.
170
Como ele prprio o disse na ocasio de apresentao de seu livro Arte ou
Desastre, em So Paulo: A funo da arte... ajudar a salvar as coisas de seu
perecimento; a funo da arte salvar as coisas da morte em que todas as coisas so
levadas. Ou seja, a funo da arte prender a onda na praia, antes que a onda caia. A
onda nossa existncia esvoaante em agonia, para quem toda uma conscincia de
realidade se constitui em vspera de perecimento. Nessa expresso se mostra a
concepo segundo a qual, como j vimos, Farias Brito e, depois dele, de uma maneira
mais incisiva, Evaldo Coutinho, fala da finitude do que nos dado conscincia como
um perecimento das coisas em nosso perecimento. Segundo Farias Brito: A morte a
cessao da conscincia; o que significa: a cessao de toda a sensao, de todo o afeto,
de toda a emoo, de toda a esperana, de todo o conhecimento, de toda a percepo,
de tal modo que com a morte desaparece o indivduo e com o indivduo desaparece a
conscincia; mas isso acontece de tal modo que essa morte do indivduo uma
negao do particular que, em ltima anlise, se resolve em negao do todo, porque
para a conscincia que termina, tudo fica reduzido a nada
171
.
Esta ideia fundamental foi concebida e pensada em suas mais amplas
consequncias por Evaldo Coutinho, para quem a vida simplesmente uma infringncia
da lei do nada, aplicada vida pelo seu fantasma como sentena irrevogvel. Para
Evaldo Coutinho, a existencialidade do mundo, isto , a ordem fisionmica encerra
os vultos e acontecimentos enquanto perecveis com a minha morte
172
. Para Evaldo
Coutinho, aquilo que a conscincia atesta a vspera do perecimento a que tudo est
destinado em mim, comigo. Um perecimento do qual toda tentativa de salvao desde
j intil. Perecimento que a conscincia filosfica atesta e nem a poesia salva. Para ele,
na ordem fisionmica, isto , na maneira como as coisas so dadas compreenso em
e atravs de minha conscincia, existe uma ultra-realidade: qual seja a circunstncia
que se gera em face de tudo e de todos perecerem em meu perecimento
173
. Na
perspectiva de Evaldo Coutinho, o que ngelo situa como carter salvfico da poesia
subsistiria como uma idealidade na conscincia da existncia vivente.
170
ngelo MONTEIRO. Os Olhos da Viglia, op. cit., p. 49.
171
R. F. BRITO. A Base Fsica do Esprito, op. cit., p. 72.
172
E. COUTINHO. A Viso Existenciadora, op. cit., p. xi.
173
E. COUTINHO. O Lugar de Todos dos Lugares, op. cit., p. 5.
74
Vimos como na Visagem da Moa Caetana, chave de seu Romance dA Pedra
do Reino, Ariano Suassuna tambm proclama o seguinte imperativo: Salve o que vai
perecer: o efmero sagrado, as energias desperdiadas, o heroico assassinado em
segredo, o que foi marcado de estrelas, tudo aquilo que depois de salvo e assinalado ser
para sempre e exclusivamente seu, pois, Entre o sol e os cardos, entre a pedra e a
estrela, voc caminha no inconcebvel; por isso, mesmo sem decifr-lo, tem que cantar o
enigma da fronteira, a estranha regio onde o sangue se queima ao sol de fogo da ona
malhada do divino, e assegura: faa isso sob pena de morte, mas sabendo desde j que
intil
174
; apesar disso, torna-se claro que preciso faz-lo, pois o nico meio de
resguardar e preservar o que vai perecer.
Na perspectiva potico-filosfica de ngelo Monteiro, torna-se patente que o
labor potico possui um carter salvfico, mas em que sentido? Nascendo sombra do
sagrado, diz ngelo, a arte partilha com ele de uma obra de salvao, ainda que sempre
sob a forma de uma mensagem cifrada, pois como representao que ela salva do
olvido e da runa temporal momentos privilegiados da memria da ao humana, que
se transfiguram perante o poeta. E a funo da arte justamente a de trabalhar essa
memria, fazendo com que ela espelhe no s sua vocao esttica s formas, mas a
realizao suprema de seu ethos
175
. As presenas transfiguradas das coisas,
acontecimentos e aes tenta o poeta suspend-las no tempo enquanto as fixa extasiado
em seu olhar
176
. essa transfigurao que cabe ao poeta, ainda que instantaneamente,
fixa-la ou salv-la no tempo
177
. ngelo Monteiro faz notar que poucos percebem o
verdadeiro sentido dessa instantaneidade, exigncia de tudo o que se transfigura,
assegurando ainda, justamente, que o que constitui o sumo privilgio da Poesia o
resguardo desses instantneos a registrarem no tempo aquilo que no mais do
tempo
178
.
E aqui h algo a pensar: se esses instantneos no so do tempo, porque so
eternos certamente; e Kierkegaard se referia a esse instante quando falou do refluxo da
eternidade no presente, e ngelo quando disse que a eternidade pensa o tempo; mas
curioso que esses instantes salvam do tempo o que filho do tempo, mas rebela-se
174
A. SUASSUNA. Romance dA Pedra do Reino, op. cit., p. 258.
175
ngelo MONTEIRO. Arte ou Desastre, op. cit., p. 46.
176
Ibidem, p. 166.
177
Ibidem.
178
Ibidem.
75
contra ele, tal como Zeus, Poseidon e Hades, filhos de Chronos, em sua luta por manter-
se com o tempo sem ser engolido por ele, a fim de durar para sempre, tal como duram as
profundezas do cu, as profundezas dos mares e as profundezas da terra. Aqui reside
certa ambiguidade, que se constitui em funo da diferena entre o eterno e o
sempiterno. Em todo caso, o carter duradouro daquilo que se instaura a partir de um
instante criador , justamente por isso, temporneo, e no temporal (submetido ao
tempo) ou temporrio (passageiro com o tempo), tal como tudo o que fugaz e ftil e
que, justamente por isso, no goza da dignidade suficiente para ser resguardado num
instante e salvo do poder destrutivo do tempo; o carter duradouro se aplica a tudo o
que temporneo e se transfigura perante os olhos do artista, com toda a profundidade
de seu mistrio e permanece para sempre ou se faz eterno; ou, como diria Ariano
Suassuna, pode at no fazer sucesso, mas tem xito.
Por isso, a Poesia no o registro dos fatos como a Histria, mas aquilo que
universalmente os transcende, mostrando-nos tudo sob outra luz
179
. Como ainda
assegura ngelo Monteiro: A arte vive e se nutre precisamente daquilo que ela
consegue salvar do domnio dessa finitude
180
. Sendo o lugar onde as coisas se
transfiguram, a poesia aponta sempre para realidades que transcendem o ordinrio, o
qual nos serve apenas de pretexto, de motivo ou de ponto de partida
181
. assim que a
poesia assume sua funo de jazigo e lpide da existncia em agonia. Ela oferece a
expresso eterna, a marca fixa, o cifrado enigma da fronteira a ser decifrado, esta
essncia subjacente (:rckc|ucc), ou mesmo hiposttica, que crivada como pedra
nos anis do meu fim, girando a vida eterna na memria. Uma vez que:
O horizonte da terra uma s mancha
Que nivela na luz como na sombra
A legio dos passos j cumpridos
E os sons agora mortos nos ouvidos.
O claro sol de outrora se fez cinza
Pois no pde salv-lo nosso olhar:
E a perfeio que se buscava ainda
Tornou-se mais voltil que o ar.
Anelando o fulgor do sol sonhado
Em que nossa alma foi feliz um dia
179
Ibidem.
180
Ibidem, 71.
181
Ibidem, p. 167.
76
S nos ficou finssimo legado
O desterrado lume da poesia.
182
assim que, aquilo que o nosso olhar no pde salvar, o finssimo legado da
poesia, que nos ficou, criva como pedra nos anis de nosso fim as coisas que desde
sempre esto entregues ao perecimento em ns. O olhar, este dos sentidos, como
pensava Plato, no pode salvar o claro Sol, mesmo por que no pode fixar-se nele sem
cegar-se e, mesmo que o pudesse, no poderia impedi-lo em seu declnio: mais cedo ou
mais tarde, ir-se-ia de novo embora o Sol, deixando apenas na Lua e nalguns planetas a
ns visveis, o brilho de sua presena, que vemos como em espelho, sem poder tambm
fixar com o olhar a efgie dessa presena. Por isso, s a poesia como jazigo do que
j foi um dia, escrita como lpide, resguardando o que jaz, o que est subjacente pode
salvar. Como diz o Poeta:
Os assaltos do tempo
Sobre as relvas as nuvens as guas
Esgotam todas as fontes
S no as do mito
Para as coisas que existem
e o pensamento que as sente
Tudo jazigo.
183
Jazigo do que nos escapou. E esse sempre escapar de algo/ Que nunca
captamos/ a desgraa ou a poesia
184
, diz o poeta; poesia que salva, que capta, que
prende a onda na praia antes que a onda caia. No poema Por Enquanto, o poeta de
novo se pergunta: Se h um templo a tombar sobre os fiis/ Como ento dessa queda
socorr-la?, isto , socorrer a f que temos no que vemos e esperamos, mas do qual no
temos assim tanta certeza. Mas fica de novo a dica: Depois da palavra do poeta/ E do
som do msico/ Quem sabe nos cobrir o brilho/ Insustentvel das estrelas?
185
; de
fato, se o labor do poeta, do msico ou mesmo do amigo esculpir em pedra o que
capta s vsperas do perecimento, quem sabe no nos cobrir, como aos jazigos, o
brilho insustentvel das estrelas? Jazigos no passam, permanecem para alm do
perecvel. Como diz o poeta:
182
ngelo MONTEIRO. Os Olhos da Viglia, op. cit., p. 34.
183
Ibidem, p. 29.
184
Ibidem.
185
Ibidem, p. 78.
77
Por enquanto o poeta, o msico ou o amigo
Embalados no som da msica
E da palavra se buscam
Mas no passam de jazigos
Do que permanece alm do encontro
No seu prprio abrigo...
186
O poeta, o msico e qui o amigo tornam-se jazigos que abrigam e
resguardam o que passou, o que escapou, e que s o poema ou a melodia podem captar.
Tornam-se, como jazigos ou escultores de jazigos, abrigos do dito que capta
perenemente o mistrio, este que deparado nos assaltos passageiros da existncia. Os
assaltos do tempo no esgotam as fontes do mito, diz o Poeta: o Potico o
propriamente mtico: aquilo que feito de coisas maravilhosas, espantosas, admirveis
e, fundamentalmente, o resguardo das coisas que nos deixam perplexos perplexidade
esta que, como disse Aristteles, a fonte do mito e da sabedoria; esses elementos pelos
quais se apaixona, como dizia Aristteles, tanto o Filmythos como o Filsofo. De fato,
assegurava Aristteles: O amante do mito de algum modo tambm amante da
sabedoria, pois os mitos so feitos de elementos admirveis, que causam espanto e
perplexidade, atitude esta que prpria do princpio do filosofar. Os mitos se edificam
como pedra e se fazem jazigo, que resguarda e abriga o que se foi.
A memria a seiva que alimenta a poesia. Ela recolhe os signos sensveis,
colhidos do que vamos sentindo, arrastando-os e transformando-os em signos, que
designados tornam-se sinais perenes do que recolhemos nas paragens de nossa
existncia. A memria o fluxo do rio, que corre no leito de nossa existncia terrena e,
como diz ngelo Monteiro, nos viaja:
A memria nos viaja
Enquanto pensamos existir.
E a presena das coisas muito forte
Para no sangrar em nossos olhos.
Mas o verde de todas as paisagens
E o azul de todos os cus
No conseguem calar o nosso corao.
O corao que nos viaja
Como a nossa memria
Seguindo o rumo de todas as aves
Que no sabem quando detero seu vo.
186
Ibidem, p. 78.
78
A memria nos viaja
Ao lado de nosso corao.
Mas quando ele parar em ns um dia
Seremos desmemoriados de todas as coisas.
E na desmemoria dos que ficarem
Beberemos do rio do esquecimento.
187
Deve-se, porm, ter em conta que, deixando alguma coisa, alguma marca, que
possa ser til ao tempo, haver de cair novamente em terreno frtil uma tal semente,
pela qual viverei sempre de novo, reviverei no ntimo de meus futuros, que estaro
diante de minha lpide, inexistente como pedra em um tmulo queira Deus
188
mas
permanente em folhas que amarelem, ressequem e caiam como eu.
Poetar executar a arte de ser pedra, e no vivente; manter-se firme, duro,
consistente; morrer antes de morrer e na vida ficar constante, mergulhar no
inconsciente; deixar seus prprios ossos no cho como vestgios, e semear a terra inteira
com calcrio fssil, antes que a morte o faa; gravar os traos impalpveis do tempo,
que em silncio envolveram meu durar... crav-los como pedra, nos anis do meu
fim, girando a vida eterna na memria. Poetar ver o mundo passar, ficando inerte,
renitente; durar e ser esquecido pelo mundo e toda a gente. Haver vida nisso? No sei,
talvez, pois sei que o que h morte pressentida... e vida, se for verdadeira, tem que ser
morte pressentida... antecipada na fantasia, ainda que no querida. Pois s assim,
pressentindo a morte, possvel valorizar e preservar a vida, e no simplesmente vagar
e passar por ela, como se ela no existisse. melhor ser tmulo, para dizer: aqui jaz...
ser p para o vento fugaz, ou calcrio para um passo tenaz, do que ser um zumbi que se
esquece da vida, e vive a vagar sem preservar o que viu... No h nada pior do que
querer ver alm... melhor ver perto e poder fechar os olhos diante do que viu,
187
Ibidem, p. 56.
188
Falo assim porque gostaria de ser enterrado na terra, como muitos de meus antepassados, sem tmulos
de pedra e sem lpides mesmo o caixo poderia ser dispensado. Que a terra nua e crua acolha o que p
e ao p voltar. Sirvam de lpide para meu tmulo ou jazigo as folhas de papel que escrevi, estes restos
de organismo reciclado, resguardando tambm restos de um esprito materializado, enrijecido, inerte,
consistente, inconsciente: se essas folhas escritas perdurarem, porque trazem consigo o brilho
insustentvel das estrelas. Quando as folhas amareladas carem dos dedos dos meus ramos murchos, meu
tronco pender e o meu eu-rvore tombar; quando em mim adormecer a poesia um sono profundo, e
fecharem-se os olhos vigilantes do meu eu-serpente, a copa verde ou amarela/ Falar por mim. /Pois o
tronco em que floresce/ Repousa, mais em baixo, na raiz. (MONTEIRO, Os Olhos da Viglia, op. cit., p.
77)
79
conservando a lembrana do que viu para ver de novo, do que ter olhos de zumbi,
arregalados, e vagar sem descanso nem cansao. bom poder dormir e descansar.
De fato, no necessariamente se bebe unicamente do rio do esquecimento, mas
tambm no da recordao se porventura a existncia chegou a constituir o seu labor
potico em pedra ou em papel. Como diz ainda o poeta: Salvou-me o brilho que ficou
no verso de toda realidade que vivi
189
. Isto exprime o carter salvfico do labor
potico. Ele prende a onda na praia, antes que a onda caia, costurando-a com os fios do
tempo, e crava como pedra a efgie de todas as presenas nos anis do meu fim, girando
a vida eterna na memria. O labor potico edifica um memorial e com isto, resguarda a
historicidade da existncia. Ele evoca a existncia que se foi, e f-la ser revivida no
ntimo de quem a reencontra. assim que as pinturas rupestres nos falam de uma
herana ancestral; assim que o verbo herdado nos devolve nossa prpria histria.
assim que, por meio do labor potico, nosso passado continua aberto, para que, a partir
de uma reinterpretao de sua criao, faa-nos superar o modo viciado como mal-
conhecemos nosso passado ancestral, para que assim um novo futuro seja reinaugurado.
189
ngelo MONTEIRO, Os Olhos da Viglia, op. cit., p. 61.
80
81
QUINTO CAPTULO
O RESGUARDO ARTSTICO DA EXISTNCIA HISTRICA
*
Se no captulo anterior pudemos meditar em torno do resguardo do tempo pela
palavra, importa agora pensar o resguardo do tempo pelo espao, enquanto espao
habitado. Evaldo Coutinho procura discutir a arte sob a perspectiva do que ele nomeia
a autonomia do gnero artstico. Esta filosofia, tomando a matria como elemento
discriminador dos gneros artsticos, confere arte arquitetnica o vazio de seu espao
interior como a matria fundamental do esprito criativo desta arte.
Neste sentido, o vo do espao arquitetnico pensado como um resguardo do
tempo da arte e do arquiteto que a projeta, o que faz do vo da arquitetura um espao
intemporal temporneo. O espao arquitetnico temporneo justamente na medida em
que, por referncia a algum que nele habita e a quem ele abriga, entre a temporalidade
do macio (passvel de sofrer desgaste temporal) e a intemporalidade do espao
(impassvel ele prprio de sofrer as intempries do tempo sob a forma do desgaste), no
qual temporalidades ocorrem, pode resguardar um tempo. Este artigo visa aprofundar a
repercusso desta compreenso fenomenolgica do espao arquitetnico, tendo como
objetivo colocar seguinte pergunta: Como o espao e o tempo mantm um vnculo
fundamental no vo da arte arquitetnica e de que maneira a arquitetura pode modular e
resguardar artisticamente a existncia histrica do ser humano? Procurarei fornecer uma
resposta a essa questo no horizonte do pensamento filosfico existencial de Evaldo
Bezerra Coutinho.
Dito isto, importa agora partir direto para o tema que me propus a discutir, a fim
de refletir em que consiste a temporaneidade do espao arquitetnico e como ele se
constitui no resguardo artstico da existncia histrica.
Em entrevista concedida ao jornalista Alexandre Bandeira para a revista
Continente Multicultural, Evaldo Coutinho expe de maneira simples o contexto de
surgimento e a concepo de O Espao da Arquitetura. Ele assegura que, depois de
terminada A Ordem Fisionmica, escreveu O Espao da Arquitetura, falando depois a
respeito de sua concepo nos seguintes termos:
*
Este texto foi apresentado como conferncia de encerramento no Colquio Fenomenologia e Arte:
Dilogo e Criatividade, organizado pelo Grupo de Estudos Sartre da Universidade Estadual do Cear,
realizado entre os dias 2 e 5 de setembro de 2009 no Centro de Humanidades da UECE.
82
Ela surgiu ao longo da elaborao de A Ordem Fisionmica. Gosto muito de
minha concepo. Dou nobreza filosfica Arquitetura. Sempre se viu a
Arquitetura como um volume, composto de paredes e teto. Se voc pegar um
livro de Histria da Arquitetura, voc v logo fotografias das coisas mais
bonitas, mais conceituadas, de volume. Esse conceito de volume, eu considero
prprio da Escultura. Uma escultura pode ser isso aqui (apanha um cinzeiro na
mesa), algo pequeno, mas pode ser tambm um edifcio de dez andares.
volume. Pertence outra arte, que a Escultura. Como a Arquitetura, ento,
teria o ttulo de arte pura, de arte maior, como a Pintura, a Msica, a Literatura?
O que faz a autenticidade da Arquitetura o vazio interno, o espao, que passa a
ter uma importncia autnoma.
190
A busca de determinao do que implica a autonomia de cada arte uma
caracterstica fundamental da filosofia da arte de Evaldo Coutinho. Ele acentua que,
alm da autonomia que a arte possui em relao a outras atividades do esprito humano,
faz-se necessrio considerar a autonomia dos diversos tipos de arte entre si: esta ordem
de autonomia tem na matria, com que se efetiva a criao, a base que mantm e norteia
a complexidade digressiva a propsito da respectiva arte
191
.
Na perspectiva de Evaldo Coutinho, enquanto o estilo do artista, que manifesta o
modo especfico como cada artista trabalha a matria de sua arte, constitui a forma
esttica, pela matria que a arte encontra primariamente sua determinao autnoma.
Assim, partindo do princpio de que cada arte existe em virtude de sua matria
192
,
esta matria na Msica a sonoridade, na Pintura o colorido, na Literatura a palavra,
no Teatro o gesto cnico e a voz, na Escultura o volume, no Cinema a imagem em
preto e branco e muda, enquanto na Arquitetura, por fim, o vo do espao
arquitetnico. Pelo vazio interno o espao arquitetnico passa a ter uma importncia
autnoma.
Ele contm as pessoas que ali estacionam ou circulam. Enquanto preservado o
edifcio, por esse espao transitam geraes de pessoas. O edifcio tem trezentos
anos, quantos entraram ali, olharam pela mesma janela, abriram a mesma porta?
H uma repetio do tempo, e isso estabelece tambm uma unidade do Ser
dentro dessa construo. Eu, quando entro no edifcio, sou o indivduo que h
trezentos anos entrou e o que entrou na vspera. Repito o comportamento fsico
de entrar. A Filosofia da Arquitetura consiste nisso; no na parte construtiva,
das paredes, mas no vo, disposto repetio humana.
193
190
E. COUTINHO. O ano da criao: entrevista a Alexandre Bandeira, in Continente Multicultural,
ano I, n. 3, maro/2001. Recife: Companhia Editora de Pernambuco, 2001, p. 38-39.
191
E. COUTINHO. O Espao da Arquitetura, op. cit., p. 3.
192
E. COUTINHO. O ano da criao..., op. cit., p. 41.
193
Ibidem, p. 39.
83
Aqui se encontra o aspecto fundamental do que me interessa tratar neste
captulo: segundo Evaldo Coutinho, o tempo... sustado por meio da arquitetura
194
,
nesse vazio arquitetnico que um altar que a si modela os presentes liturgia de ser,
sob a modalidade da repetio
195
. A concepo fundamental de Evaldo Coutinho que
quero acentuar e discutir , neste sentido, a de que o espao da arquitetura modula o que
ele chama a liturgia de ser da existncia humana, compondo, pela repetio da
gestualidade fisionmica dos transeuntes do espao arquitetnico em deambulao, um
tempo do ser na contemporaneidade fisionmica, incrustado na intemporalidade
tempornea do vo da arquitetura. E assim que, segundo Evaldo Coutinho, a
arquitetura orienta e resguarda artisticamente a existncia histrica do ser humano, de
tal modo que a histria do homem se confunde com a histria dos processos para se
oferecer a cada motivo, a cada assunto, a cada significao, enfim, a cada nominalidade,
o seu respectivo logradouro
196
.
Na tentativa de pensar a relao do espao da arquitetura com o tempo, Evaldo
Coutinho comea por expor como o artista procura exprimir o seu desejo de que a arte
perdure no tempo. Assegura que justamente a arquitetura em virtude de ser realidade e
ater-se a realidades possui seu espao a cada hora sob o risco de dissolver-se por fora
de alguma alterao no macio continente
197
. Esta realidade que se atem a realidades
puramente existencial e tempornea, fisionmica por excelncia. O criador almeja uma
perdurabilidade que na Arquitetura encontra-se na dependncia de uma matria que no
a sua prpria, mas que dela se vale para engendrar dentro dela a sua prpria, isto :
engendrar no interior de um macio continente a matria de sua arte, o espao vazio,
como vo aos deambulantes que no espao compem o cenrio de sua arte, e engendra
assim um tempo repetvel fisionomicamente. Pela necessidade que possui a arquitetura
de atrelar-se arte dos macios para resguardar a sua prpria, o arquiteto h que
instalar-se entre a temporalidade do macio, sujeito sempre e a cada vez a degradao
temporal, ao que propriamente temporrio e se degenera com o passar do tempo, e a
intemporalidade do vo, que em si resguarda um tempo, e, assim, se constitui no
temporariamente, mas sim, temporaneamente, isto que o que h de mais falecvel,
194
E. COUTINHO. O Espao da Arquitetura, op. cit., p. x.
195
E. COUTINHO. O Lugar de Todos os Lugares, op. cit., p. 199.
196
E. COUTINHO. O Espao da Arquitetura, o. cit., p. 187.
197
Ibidem, p. 74.
84
porque dependente de estruturas temporrias, passveis de degenerao, e, ao mesmo
tempo, adstrita existncia fisionmica finita para a qual se constitui.
A degenerao do macio continente, que no atinge de imediato o vo, e os
reparos que nele se fazem no trazem nenhuma alterao ao vo que se mantm
inclume; eles produzem uma mudana efetiva no aspecto escultrico, que oferece o
vo, mantendo-o, porm, em legtima oferenda. O espao arquitetnico conserva-se
inclume ante o que produz a temporalidade prpria do macio continente, esta que
caracteristicamente peremptria e temporria. Ao espao do vo arquitetnico esto
reservadas unicamente duas possibilidades: 1) ser temporaneamente intemporal,
enquanto se constitui por referncia existncia que nele habita; 2) desaparecer
totalmente, e com ele o tempo que o constitui e resguarda, se por ventura vir tona a
demolio do macio que o contm. Como assegura Evaldo Coutinho: a demolio
atingiria o estojo de quantas figuras nele se modelaram
198
(COUTINHO, 1978, p. 24).
Como pude sintetizar em outro lugar:
O espao assim temporneo somente na medida em que, por referncia a
algum que nele habita e a quem ele abriga, entre a temporalidade do macio e
a intemporalidade do espao, no qual temporalidades ocorrem, pode resguardar
um tempo.
199
Nesse sentido, no propriamente o espao considerado em si mesmo e em
geral que se constitui como temporneo, mas propriamente o espao arquitetnico, que
se constitui por referncia a algum que nele habita e a quem abriga; o espao
arquitetnico conserva para a existncia a possibilidade de vivenciar um tempo de
sorte que algum, ao ingressar hoje em uma nave gtica, se faz gtico, em ideal
contemporaneidade com todos que entraram e entraro no intemporal reduto
200
.
Ao analisar o fenmeno dos reparos a que normalmente se submetem as obras
de arquitetura, acentua que eles incidem nos elementos da figurao, a fim de que se
subtraia da instncia comum do tempo, o que de mais significativo sobra de um ser, de
uns seres de determinada poca
201
. Isto que Evaldo Coutinho chama de mais
significativo justamente o aspecto temporneo da existncia, que engendra poca e
198
E. COUTINHO. A Viso Existenciadora, op. cit., p. 24.
199
Gilfranco Lucena dos SANTOS. Tempo e Histria na Hermenutica Bblica. So Paulo: Loyola, 2009,
p. 50.
200
E. COUTINHO, A Viso Existenciadora, op. cit., p. x.
201
E. COUTINHO. O Espao da Arquitetura, op. cit., p. 75.
85
torna patente a histria, em uma diversidade de pocas
202
, em funo das singularidades
das existncias individuais, que, na filosofia de Evaldo Coutinho se constituem como
cintilaes do Ser.
Em verdade, assegura Evaldo Coutinho, o edifcio se constitui em
correspondncia tempornea, que no se limita ocasio de seu surgimento,
nem s aos indivduos de sua gerao: de sua ndole manter-se em
acessibilidade, abrir a plenitude do bojo aos que advenham mesmo desprovidos
das condies que influam nos prospectos remotos, facultando aos da
atualidade a vez de imergirem arquitetonicamente na antiga era.
203
neste sentido que a temporaneidade do vo, ao resguardar um tempo, repetvel
na gestualidade da existncia deambulante em seu interior, modela os traos de uma era,
de uma poca. O vo da arquitetura modela traos significativos da existncia
deambulante em seu interior. Para Evaldo Coutinho o vo no propriamente o
aspecto e a figurao que o resguarda, mas a conjuntura de possibilidades de vivncia,
que ele designa com o termo virtualidades, que no vo se projetam
204
. So essas
virtualidades que constituem valores de poca. A histria se resguarda e repete seus
traos no vo da arquitetura a cada vez revisitado. Nele, diz Evaldo Coutinho, h
valores que no se deterioram, que resistem passagem do tempo, os quais, assim
ilesos do continuado perecimento, se metodizam em curto e repetido calendrio
205
.
Assim o espao oferece no vo da arquitetura os traos da historicidade da existncia
202
Em suas Consideraes Extemporneas, ao discutir sobre os proveitos e prejuzos da histria para a
vida, Nietzsche fornece uma importante anlise dos aspectos fundamentais que constituem esse carter
histrico epocal, que, analisado a partir de Evaldo Coutinho, o espao artstico arquitetnico patenteia.
Segundo Nietzsche, a Histria pertence aos viventes em trs perspectivas diversas: a histria pertence aos
viventes como a ativos e aspirantes, como a resguardadores e venerandos e como a sofredores e
necessitados de libertao. Acentua ainda que estas trs perspectivas em que a histria pertence aos
viventes acaba por constituir trs tipos de histria: uma monumental, uma antiquria e outra crtica. (Cf.
Friedrich NIETZSCHE, Unzeitgemsse Betrachtungen; von Nutzen und Nachteil der Historie fr das
Leben, in NIETZSCHE, Friedrich. Menschliches Allzumenschliches und andere Schriften. Werke 1.
Kln: Klnemann, 1994, p. 166). Penso que, do ponto de vista de uma filosofia do espao arquitetnico
como se constitui a de Evaldo Coutinho, podemos pensar historicamente, e em qualquer parte onde se
constitua a histria como pocas da existncia humana, os logradouros especficos a partir dos quais uma
histria pertence aos viventes: de que maneira resguarda a histria a casa grande e de que maneira a
senzala a revela? De que maneira o faz as igrejas barrocas da poca colonial e os cemitrios indgenas?
Como a existncia se revela historicamente na temporaneidade de seus lugares epocais? Evaldo Coutinho
nos revela um caminho filosfico a partir do qual podemos compreender as nominalidades epocais
presentes nesses espaos arquitetnicos, logradouros das temporaneidades fisionmicas da histria
humana.
203
E. COUTINHO. O espao da Arquitetura, op. cit., p. 75-76.
204
G. L. dos SANTOS, op. cit., p. 51.
205
E. COUTINHO. O Espao da Arquitetura, op. cit., p. 77.
86
humana. Seus valores e contra-valores nele esto inscritos, no propriamente nas
paredes, mas nos gestos fisionmicos que, modulados pelo prprio vo, so passveis de
repetio na deambulao do interior do espao arquitetnico; no numa simples
deambulao de inspeo, mas numa deambulao realmente vivencial.
Com a compreenso fenomenolgica do espao da arquitetura veiculada pela
filosofia de Evaldo Coutinho, verifica-se que a temporalidade do vo diferente da
temporalidade do macio que o contm. Enquanto o espao temporneo, o volume
escultrico temporrio. Enquanto o primeiro exprime um tempo, o segundo desgasta-
se no tempo. O macio e o vo, por seu prprio modo diferenciado de ser no tempo,
resguardam o histrico. Como uma virtualidade projetada, o vo assume um carter
temporneo, isto , o significativo de uma determinada poca que perdura na sua
disponibilidade acessvel no tempo
206
. Como vimos, segundo Evaldo Coutinho, e
como ele prprio o diz: margem da intemporalidade inserta entre vedaes, isto ,
margem do vazio do vo que se mostra propriamente intemporal porque no
diretamente submetido degenerao, uma vez que este no o seu modo prprio de
ser no tempo, margem desta se exibe a temporalidade inerente a estas [vedaes], a
primeira [a intemporalidade] dependendo da segunda [a temporalidade]
207
.
Entendo, pois, que justamente nesse jogo entre a temporalidade do efmero, que
acaba por no ser caracterizada conceitualmente por Evaldo Coutinho e que eu entendo
que deva ser expressa a partir do conceito de temporariedade, uma vez que a
caracterstica fundamental do efmero que passa com o passar do tempo o seu carter
temporrio, portanto, nesse jogo entre a temporalidade do que temporrio e a
temporalidade do que propriamente temporneo, isto , o vo arquitetural, se exibe e
determina ento a temporaneidade de uma determinada conjuntura vivencial como
possibilidade epocal de ser e existir
208
. Aqui se constitui fisionomicamente a
possibilidade da histria do ser na histria da existncia finita deambulante do espao
arquitetnico, na medida em que minha existncia realiza em minha deambulao no
vo arquitetural a fisionomia de um ser epocal. Repito em minha deambulao pelo
espao do vo arquitetnico o tempo de uma poca. Meu ser constitui artisticamente um
tempo do Ser e sua histria. Como diz Evaldo Coutinho:
206
G. L. dos SANTOS, op. cit., p. 51.
207
E. COUTINHO, O Espao da Arquitetura, op. cit., p. 77.
208
G. L. dos SANTOS, op. cit, p. 53.
87
O vazio da arquitetura adquire, portanto, na cena em que considerado, um
sentido algo misterioso nesse papel de protagonista que, no tempo, outorga a
outrem, aos elementos esculturais, o mister de ele, por exemplo, o vazio
medievo, preservar-se em si mesmo, de sorte a propiciar a algum de hoje, a
magia de tornar-se gtico.
209
Isto acontece de tal modo que justamente em funo do resguardo de uma
poca da histria que se procura em todo processo de restaurao e tombamento a
preservao e resguardo de uma poca da histria. Segundo Evaldo Coutinho, isso s se
torna possvel em funo da temporaneidade do vo da arquitetura, que constitui um
tempo. Segundo ele ocorrem temporalidades no seio da intemporalidade
210
. Isto ,
dito de uma maneira mais precisa: ocorrem eventos temporneos, resguardadores de
pocas do Ser em um ser em deambulao, no seio do espao no temporrio, que se
insere nas vedaes temporrias e marcadas pelo desgaste (no caso da desgenerao) e
pela renovao (no caso da restaurao de valores escultricos). Um evento histrico
epocal do Ser se resguarda entre vedaes, passveis de repetio fisionmica por um
ser em deambulao.
A histria do Ser se exibe temporaneamente e em um ser, pela repetio
existencial fisionmica, retorna em sua historicidade fundamental, retorna como uma
poca, se constitui como possibilidade de estar sendo na existncia tempornea. A
histria se temporaniza em minha existncia deambulante que atualiza e repete, em um
instante vivencial, uma poca do Ser. Ao mesmo tempo, o espao torna contempornea
a existncia de diversas pocas, pelo espao comum que torna a ser habitado. Isso
acontece de tal modo, que o espao epocal torna-se espao de um ns, congregado por
um nico e mesmo espao de vivncia, de tal modo que a histria se oferece como
histria comum: a histria de um ns que agora tambm minha histria, uma vez que
eu, em atual deambulao, existencio uma poca, em um espao arquitetnico. A
Histria do Ser que se oferece em deambulao litrgica (para usar outro termo caro a
Evaldo Coutinho) pode tornar-se em todas as suas pocas, pelos vos que as resguardam
e as modulam em minha existncia deambulante dos espaos arquitetnicos, a minha
histria, a mim adstrita, existente em mim e em mim fisionomicamente falecvel.
Importa ressaltar um aspecto fundamental: uma vez que o painel do nascimento
o que mais se assemelha ao painel da morte, comeo e trmino de uma insulao no
209
E. COUTINHO, O Espao da Arquitetura, op. cit., p. 77.
210
Ibidem, p. 78.
88
mar do no-ser
211
, existindo ele como infrigncia peremptria da lei do nada e seu
vigor, e a morte como seu cumprimento definitivo, a destruio do espao arquitetnico
o anncio da morte de uma poca do ser, acontecendo como vspera da absoluta
extino extino fisionmica
212
em mim, comigo, de todas as pocas do Ser,
repetveis em minha deambulao nos diversos vos da arquitetura, em realidade ou em
ideao.
Neste sentido, a finitude da histria est fundamentalmente no fato de estar
adstrita singularidade da existncia, que a patenteia enquanto a existencia no tempo da
repetio deambulante no seio do espao arquitetnico, infringindo com isso a lei do
nada (porque est sendo e deixando Ser). esta existncia que a torna perecente, na
extino fisionmica que se anuncia antecipando-se em minha morte por vir; esta
existncia que realiza o escurecimento que a nada excetua
213
. A morte, compreendida
como a morte do Ser, a Velha da Foice como dizia Elomar no Auto da Catingueira, a
Moa Caetana, a cruel morte sertaneja, como chamava Ariano Suassuna em seu
Romance dA Pedra do Reino, o Machado do Nada, como dizia Ernst Bloch,
compreendida por Evaldo Coutinho como um evento absoluto. A morte do Ser em
minha morte e de tudo em mim e comigo, acontece como um naufrgio de um barco
deriva, que ao submergir leva consigo as guas nas quais navega. A minha existncia e
a minha morte determina o prazo dos vos da arquitetura.
Quero concluir este captulo dizendo que a compreenso filosfica do espao da
arquitetura veiculada por Evaldo Coutinho pode nos fornecer chaves importantes sobre
a nossa compreenso da histria e as nossas possibilidades de acesso artstico a ela. Na
filosofia de Evaldo Coutinho, a arte no possui uma compreenso de carter secundrio.
Como escreveu o filsofo e poeta recifense ngelo Monteiro: Numa filosofia em que o
homem assumido, artisticamente, em sua singularidade, como smula de todo o
universo que nasce e morre com ele, a arte assume um papel especial
214
. Devo dizer
ainda mais que, neste caso, a arte arquitetnica assume ainda maior primazia, em funo
do fato de que ela compositora de uma realidade. Como afirma Evaldo Coutinho:
211
E. COUTINHO, O Lugar de Todos os Lugares, op. cit., p. 175
212
Ibidem, p. 174.
213
Ibidem, p. 176.
214
ngelo MONTEIRO. Reflexes sobre a matria da arte; margem da filosofia esttica de Evaldo
Coutinho, in INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL. Jornal IAB-PE, julho-agosto 2002, n. 54.
Recife: 2002, p. 12.
89
De todas as manifestaes em que o ser se repete, a arquitetura se alteia como a
ara mais explcita para os contempladores da repetio, e no me lembro de
outros casos em que to bem se externa a simbologia do gnero artstico,
precisamente porque se trata de realidade e no de representao maneira da
pintura e da escultura.
215
Para quem compreende alguns elementos fundamentais da filosofia existencial
desde Kierkegaard, passando por Nietzsche, Heidegger e Sartre, a filosofia de Evaldo
Coutinho ajuda a pensar sob uma perspectiva filosfico-esttica, muitos desses
elementos fundamentais. Neste captulo espero ter tornado relevante o papel da filosofia
de Evaldo Coutinho para pensar a histria no horizonte da arte arquitetnica, uma vez
que justamente esta arte apresentada por Evaldo Coutinho como a que mais se presta a
pensar a histria segundo o princpio existencial que o prprio Kierkegaard instaurou
como o princpio que tem grande relevncia para a nova filosofia: o princpio da
repetio. Pois, dizia Kierkegaard, a repetio uma expresso decisiva para isto
que para os gregos era a recordao. Como eles nomeadamente ensinaram, continua
Kierkegaard, que todo conhecimento recordao, assim a nova filosofia ensinar que
toda vida uma repetio
216
.
Para os filsofos da existncia, o conceito de repetio, assim como o conceito
de tempo como instante (temporaneidade) e o conceito de liberdade, tornou-se decisivo
para pensar a historicidade da existncia histrica e o fundamento de seu acontecer. Isto
se deixa entrever fortemente na filosofia de Kierkegaard e na filosofia de Heidegger.
Entendo que a filosofia esttica de Evaldo Coutinho de grande importncia para a
discusso do acontecer histrico como acontecer existencial esttico, na medida em que
procura pensar este conceito no horizonte da arte arquitetnica.
215
E. COUTINHO, O Lugar de todos os Lugares, op. cit., p. 199.
216
S. KIERKEGAARD. Die Wiederholung, trad. Hans Rochol. Hanburg: Felix Meiner, 2000, p. 3.
90
91
CONCLUSO
Percebo, pois, que, desde que se comeou a registrar os traos palpveis da
existncia perecedora em pedras de caverna, em paredes de templos, em telas, em
pergaminhos ou em papis, cumpriu-se a sina da existncia na sua criao potica, e se
fez histria. A histria stricto sensu no propriamente o acontecer da sina humana em
seu labor inquietante e criativo vivo, mas seu resultado, sua conquista, sua realizao ou
mesmo os vestgios restantes de sua consumao. A sina da existncia se cumpre ao
resolver-se em sua criao e se faz histrica, isto , digna de ser retomada, e d,
idealmente, a seu ser sem futuro, um futuro possvel.
Das profundezas ocultas de seu nimo vital, a existncia reconhece seu ser
fadado ao fracasso e ao perecimento, e das lgrimas de sua dor de existir finitamente,
assinalada pelas trs irms felinas, tece a seda, que se tornar vestgio de sua criao.
Inquieto pela dor de existir se pergunta: donde advm a minha dor? Como ca aqui?
Como se rompeu o vnculo que me unia ao que se tornou para mim para sempre velado?
Ser esta a fonte de toda minha tristeza: a perda do vnculo velado e esquecido? Por que
ardo de saudade? Por que sofro a dor da falta, a dor da perda? Como vim parar aqui e
me perdi? E o que me resta? Pra onde vou depois? O que procuro? Por que me
transtorna a injustia desse mundo? Como super-la, se que h como? Que significado
pode ter existir se num ltimo passo o que me espera a morte em que tudo se recolhe?
Recolher o que vai perecer, traar a efgie de sua lpide, torna-se a sada criativa
da existncia inquieta e criadora. Recolher os vestgios e traa-los em pedra ou em papel
para realizar-se em sua obra criadora torna-se o fim para o qual a existncia se sente
chamada. assim que a existncia se realiza na histria, esse ser exterior, escrito,
pintado, sonoro, petrificado, nominado. Cheia de letras, notas e cores no espao
habitado a histria se faz e se resguarda para um acontecer perene possvel sob os cus e
sobre a terra. A vida se esvai para se consumir e se consumar em seus traos; traos de
sua trajetria assinalada, perdida, mas consumada.
assim que sempre e a cada vez, como agora, do terreiro ao muro, da varanda
ao quintal, chegamos ao fim desta pequena construo. Um pequeno mundo se abriu e
se resguardou em sua fisionomia nominada e reconhecida. Pois o mundo s se constitui
como tal, isto , s tem validade fisionmica, como diz Evaldo Coutinho, quando em
ltima instncia podemos fixar seus traos em prosa potica ou em versos poticos. E
92
quando o deixamos subjacente nesses vestgios secos, fonogrficos, grficos ou virtuais,
podemos resguard-lo e salvaguard-lo em sua validade fisionmica, isto , em sua
subsistncia.
O mundo fisionmico, mas fundamentalmente na medida em que o encaro face
a face e assumo a tarefa de interpretar o enigma de sua esfinge. Dou-lhe efetiva
subsistncia, porque adstrito minha existncia, ao edifica-lo em pedra, ao torna-lo
calcrio, fazendo com ele o que a morte faz comigo, antes que ela o faa. Assim
aprisiono o mundo nesta cadeia de traos, de riscos, de sons, para que ali, esse mundo,
contemplado face a face, fique salvo e resguardado; este mundo contemplado e para
sempre destroado.
Transbordamos em ato potico at ao ponto de sermos em outro, a exemplo de
uma divindade com menos poder. O prprio pensamento faz isso, quando se resolve em
sons, em traos, em gestos... em pontos.
O potico, pelo qual nos arrancamos de ns mesmos e nos resolvemos em outro,
pelo qual a conscincia em vertigem eleva-se e recai em matria inconsciente e qui
imperecvel, no s o verso rimado, nem somente o verso livre, mas todo trao
significativo, no qual nos desmanchamos e nos fixamos em folha seca ou em pedra. O
potico a cinza ou a pedra em que nos resolvemos.
Poetar partir em retirada deixando marcas... uma corrida que deixa no cho as
pegadas... uma despedida que deixa saudade... uma passagem que deixa vestgios... o
prenncio anunciador de uma libertao definitiva.
E, no potico, admirvel, quando toca o filosfico; quando o perpassa e
atravessa seu limiar. de extasiar, no potico, a travessia filosfica, que a poesia
ocasionalmente opera, chegando mesmo a vislumbrar horizontes que a filosofia no
chega realmente a contemplar. A filosofia fica, de certo modo, aqum do potico; ela o
restringe e bom que seja assim. Mas admirvel mesmo o poder do potico!
93
REFERNCIAS
ANAXIMANDRO, HERCLITO e PARMNIDES. Os Pensadores Originrios. Trad.
Emanuel Carneiro Leo e Srgio Wrublewski. 3 ed. Petrpolis: Vozes, 1999.
ANDRADE, Carlos Drummond de. Nova Reunio: 23 livros de poesia. 3 vols. Rio de
Janeiro: BestBolso, 2009.
ARISTTELES, Fsica. Trad. Guilhermo R. de Echanda. Madrid: Gredos, 1995.
____. Physics, vol. IV, trad. P. H. Wicksteed e F. M. Cornford. Cambridge/
Massachusetts/ Londres: Harvard University Press, 2005.
____. Retrica, trad. Isis Borges B. da Fonseca. So Paulo: Martins Fontes, 2003.
BRAGUE, Remi. O Tempo em Plato e Aristteles, trad. Nicols Nyimi Campanrio.
So Paulo: Loyola, 2006
BRITO, Raimundo Farias. A Base Fsica do Esprito. 2 ed. Rio de Janeiro:
Representaes Dias LTDA., 1953.
____. Inditos e Dispersos. Notas e Variaes sobre assuntos diversos. So Paulo:
Grijalbo, 1966
____. O mundo interior. (Ensaio sobre os dados gerais da filosofia do espirito). 3 ed.
Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2003.
CARVALHO, Laerte Ramos de. A Formao Filosfica de Farias Brito. So Paulo:
EDUSP/ Saraiva, 1977.
COUTINHO, Evaldo. O lugar de todos os lugares. So Paulo: Perspectiva, 1976.
____. A viso existenciadora. So Paulo: Perspectiva, 1978.
____. O convvio alegrico. So Paulo: Perspectiva, 1979.
____. Ser e estar em ns. So Paulo: Perspectiva, 1980.
____. A subordinao ao nosso existir. So Paulo: Perspectiva, 1981.
94
____. A testemunha participante. So Paulo: Perspectiva, 1983.
____. A artisticidade do ser. So Paulo: Perspectiva, 1987.
____. A imagem autnoma. So Paulo: Perspectiva, 1996
____. O espao da arquitetura. So Paulo: Perspectiva, 1998.
____. O ano da criao: entrevista a Alexandre Bandeira, in Continente
Multicultural, ano I, n. 3, maro/2001. Recife: Companhia Editora de Pernambuco,
2001, p. 33-42.
DIGENES LARTIOS, Vitae philosophorum, ed. H.S. Long, Diogenis Laertii vitae
philosophorum, 2 vols. Oxford: Clarendon Press, 1964 (repr. 1966).
DIGENES LARTIOS, Vidas e Doutrinas dos Filsofos Ilustres, 13, trad. Mrio da
Gama Kury, 2 ed. Braslia: UNB, 2008.
EPICURO, Carta a Meneceu, in Digenes LARTIOS, Vidas e Doutrinas dos
Filsofos Ilustres, trad. Mario da Gama Kury, 2 ed. Braslia: UNB, 2008.
HEGEL, Friedrich. Fenomenologia do Esprito, trad. Paulo Menezes, 3 ed. Petrpolis:
Vozes, 1997.
HEIDEGGER, Martin. Sein und Zeit. 18 ed. Tbingen: Max Niemeyer, 2001.
____. Herclito, trad. Mrcia S Cavalcante Schuback. Rio de Janeiro: Relume
Dumar, 1998.
KAHN, Charles H. A arte e o pensamento de Herclito. Um edio dos fragmentos com
traduo e comentrio. So Paulo: Paulus, 2009.
KIERKEGAARD, Sren. Die Wiederholung. trad. Hans Rochol. Hanburg: Felix
Meiner, 2000.
KIERKEGAARD, Sren. A Repetio. Trad. Jos Miranda Justo. Lisboa: Relgio
Dgua Editores, 2009.
95
MEDEIROS FILHO, Olavo de. Os Holandeses na Capitania do Rio Grande, Natal:
Sebo Vermelho Edies, 2010.
MONTEIRO, ngelo. Arte ou Desastre. So Paulo: Realizaes, 2011.
____. Escolha e Sobrevivncia. So Paulo: Realizaes, 2004.
____. Os Olhos da Viglia. Lisboa: rion, 2001.
____. Reflexes sobre a matria da arte; margem da filosofia esttica de Evaldo
Coutinho, in INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL. Jornal IAB-PE, julho-
agosto 2002, n. 54. Recife: 2002, p. 12-13.
NIETZSCHE, Friedrich. Menschliches Allzumenschliches und andere Schriften. Werke
1. Kln: Klnemann, 1994.
PATATIVA DO ASSAR. Cante l que eu canto c. Filosofia de um trovador
nordestino. 16 ed. Petrpolis: Vozes, 2011.
PLATO. Apologia de Scrates, trad. Carlos Alberto Nunes. Belm: EDUFPA, 2001.
____. Io, trad. Carlos Alberto Nunes. Belm: EDUFPA, 2007.
____. on, ed. J. Burnet, Platonis opera, vol. 3. Oxford: Clarendon Press, 1903.
____. Protgoras, trad. Carlos Alberto Nunes, Belm: EDUFPA, 2002.
____. Teeteto, trad. Carlos Alberto Nunes. Belm: EDUFPA, 2001.
____. Timeu, trad. Carlos Alberto Nunes. Belm: EDUFPA, 2001.
SANTOS, Gilfranco Lucena dos. Tempo e histria na hermenutica bblica;
fundamentos filosficos e aspectos teolgicos da hermenutica bblica em Carlos
Mesters. So Paulo: Loyola, 2009.
SANTOS, Jos Trindade. Antes de Scrates. 2 ed. Lisboa: Gradiva, 1992.
SUASSUNA, Ariano. Iniciao Esttica. 11 ed. Rio de Janeiro: Jos Olmpio, 2011
96
____. Romance dA Pedra do Reino e o Prncipe do Sangue do Vai-e-Volta. So Paulo:
Crculo do Livro, 1991.
XANGAI (Eugnio Avelino), Xangai canta cantigas, incelenas, puluxias e tiranas de
Elomar. Rio de Janeiro: Kuarup Discos, 1986, encarte.
XENFANES, Fragmentos, trad. Daniel Rossi Nunes Lopes. So Paulo: Olavobrs,
2003.
Vous aimerez peut-être aussi
- O exterior na literatura e música contemporâneasDocument106 pagesO exterior na literatura e música contemporâneasAnonymous 1MiO5aiPas encore d'évaluation
- Fernando Pessoa - Características OrtónimoDocument6 pagesFernando Pessoa - Características OrtónimoLoyalPotatoPas encore d'évaluation
- Retorica Metafisica e Verdade A Condicao 230616 104256Document11 pagesRetorica Metafisica e Verdade A Condicao 230616 104256LARA DALLAGNOL DEBARBARA DA SILVA FERREIRAPas encore d'évaluation
- 12ºano PortuguêsDocument16 pages12ºano PortuguêsAriana RodriguesPas encore d'évaluation
- A poesia de Fernando Pessoa e seus heterônimosDocument4 pagesA poesia de Fernando Pessoa e seus heterônimosluprof tpPas encore d'évaluation
- 2.2 O Cântico Dos Cânticos Uma Poética para Além Do Sagrado em Uma Perspectiva SemióticaDocument6 pages2.2 O Cântico Dos Cânticos Uma Poética para Além Do Sagrado em Uma Perspectiva SemióticaDaniel Judvan Da Silva SousaPas encore d'évaluation
- Dimensão Filosófica Da Poética de Agostinho NetoDocument7 pagesDimensão Filosófica Da Poética de Agostinho NetoHelder AndrePas encore d'évaluation
- Dialnet VergilioFerreiraEOEspantoDeExistir 6132605Document6 pagesDialnet VergilioFerreiraEOEspantoDeExistir 6132605Marco FirmePas encore d'évaluation
- Do Vazio Ao Cais Absoluto Ou Fernando Pe PDFDocument164 pagesDo Vazio Ao Cais Absoluto Ou Fernando Pe PDFVinni CorrêaPas encore d'évaluation
- Fernando Pessoa - OrtónimoDocument2 pagesFernando Pessoa - OrtónimoAndreia CastroPas encore d'évaluation
- Fernando Pessoa OrtónimoDocument10 pagesFernando Pessoa OrtónimoFrancisca Lanita Saião LopesPas encore d'évaluation
- Poema Do Pensamento: As "Artes Poéticas" de Sophia de Mello Breyner AndresenDocument17 pagesPoema Do Pensamento: As "Artes Poéticas" de Sophia de Mello Breyner AndresenMarcio ScheelPas encore d'évaluation
- Tese Ruy BeloDocument137 pagesTese Ruy BeloAdam ErlonPas encore d'évaluation
- Helena Langrouva - Transmutaçõa Da Palavra SOPHIA DE MELLO BREYNERDocument13 pagesHelena Langrouva - Transmutaçõa Da Palavra SOPHIA DE MELLO BREYNERMaria CondePas encore d'évaluation
- CAEIRO1Document3 pagesCAEIRO1JMTCSilvaPas encore d'évaluation
- Fernando Pessoa Ortónimo e HeterónimosDocument7 pagesFernando Pessoa Ortónimo e HeterónimosIrene CandeiasPas encore d'évaluation
- Ascânio LopesDocument3 pagesAscânio Lopesapi-3697810100% (1)
- A desconstrução do eu em Fernando Pessoa através de Álvaro de CamposDocument9 pagesA desconstrução do eu em Fernando Pessoa através de Álvaro de CamposBruno Conceição OliveiraPas encore d'évaluation
- Resumo Global - Português 12ºanoDocument22 pagesResumo Global - Português 12ºanoAna Albuquerque BarataPas encore d'évaluation
- Fernandopessoa OrtonimoeheteronimosDocument9 pagesFernandopessoa Ortonimoeheteronimosmaria.lemos.alvesPas encore d'évaluation
- Camilo Pessanha e o SimbolismoDocument9 pagesCamilo Pessanha e o SimbolismorodrigoaxavierPas encore d'évaluation
- Fernando Pessoa OrtónimoDocument14 pagesFernando Pessoa OrtónimoMarta Vieira de SousaPas encore d'évaluation
- Temáticas Da Poesia de Fernando PessoaDocument2 pagesTemáticas Da Poesia de Fernando PessoaMarta PaivaPas encore d'évaluation
- A Poesia - Benedetto CroceDocument130 pagesA Poesia - Benedetto CrocebrandozaPas encore d'évaluation
- Utopia, Octavio Paz PDFDocument15 pagesUtopia, Octavio Paz PDFBruno FariasPas encore d'évaluation
- Fernando Pessoa: Ortónimo, Heterónimo e TemáticasDocument31 pagesFernando Pessoa: Ortónimo, Heterónimo e TemáticasTiago SousaPas encore d'évaluation
- Fernando Pessoa Ort Nimo e Heter NimosDocument14 pagesFernando Pessoa Ort Nimo e Heter Nimoseldp27Pas encore d'évaluation
- ARTIGO - A Confissão de Sá-Carneiro - Nau Literária - UFRGSDocument14 pagesARTIGO - A Confissão de Sá-Carneiro - Nau Literária - UFRGSEstevan KetzerPas encore d'évaluation
- A Concepção de Metamodernidade Como Forma de Entendimento Da Dinâmica Das Poéticas de VanguardaDocument5 pagesA Concepção de Metamodernidade Como Forma de Entendimento Da Dinâmica Das Poéticas de VanguardaJairo Nogueira LunaPas encore d'évaluation
- A lírica fragmentária de Ana Cristina Cesar: Autobiografismo e montagemD'EverandA lírica fragmentária de Ana Cristina Cesar: Autobiografismo e montagemPas encore d'évaluation
- Resumos Fernando PessoaDocument9 pagesResumos Fernando PessoaJoana LuciaPas encore d'évaluation
- Fernando Pessoa - Ortónimo e Heterónimos - SínteseDocument8 pagesFernando Pessoa - Ortónimo e Heterónimos - SínteseCélia NogueiraPas encore d'évaluation
- A lírica amorosa de Valdelice PinheiroDocument11 pagesA lírica amorosa de Valdelice PinheiroThaís PiresPas encore d'évaluation
- 1º TesteDocument6 pages1º TesteSoraia FerreiraPas encore d'évaluation
- 04 - Somos Todos FingidoresDocument7 pages04 - Somos Todos Fingidoresjuliana petronzioPas encore d'évaluation
- O Amor Como Vertigem e Êxtase - Um Poema de Gonçalves Dias Analisado À Luz Do Pensamento de Alfonso López QuintásDocument7 pagesO Amor Como Vertigem e Êxtase - Um Poema de Gonçalves Dias Analisado À Luz Do Pensamento de Alfonso López QuintásLincoln Haas HeinPas encore d'évaluation
- Eduardo Lourenço e a interpretação da cultura portuguesa através da literaturaDocument10 pagesEduardo Lourenço e a interpretação da cultura portuguesa através da literaturaGiuliano Lellis Ito Santos100% (1)
- Encontro com o Vivo: Cartografia para a (Inter)Ação do Leitor com a Obra de Florbela EspancaD'EverandEncontro com o Vivo: Cartografia para a (Inter)Ação do Leitor com a Obra de Florbela EspancaPas encore d'évaluation
- O Ethos Discursivo e A Construção Da IdentidadeDocument8 pagesO Ethos Discursivo e A Construção Da IdentidadeSergio DarwichPas encore d'évaluation
- A poesia é conhecimento, salvação e transcendência do tempoDocument3 pagesA poesia é conhecimento, salvação e transcendência do tempoJuscelino Alves de OliveiraPas encore d'évaluation
- Português 12ºanoDocument12 pagesPortuguês 12ºanoCarolina SobreiraPas encore d'évaluation
- Solidao No Conto TentaçãoDocument13 pagesSolidao No Conto TentaçãoKely SantosPas encore d'évaluation
- 1 SMDocument14 pages1 SMIuri MelloPas encore d'évaluation
- 5906 17346 1 SMDocument12 pages5906 17346 1 SMAlexandra FigueiredoPas encore d'évaluation
- Analise Do Poema O CorvoDocument15 pagesAnalise Do Poema O CorvoSandra MendesPas encore d'évaluation
- O poeta bucólico Alberto CaeiroDocument4 pagesO poeta bucólico Alberto CaeiroBianca Carolina Mendes DuartePas encore d'évaluation
- NASCI FURADO Michaux ERBER PDFDocument11 pagesNASCI FURADO Michaux ERBER PDFJucely RegisPas encore d'évaluation
- Fernando Pessoa OrtónimoDocument16 pagesFernando Pessoa OrtónimoMatilde Lebre LourencoPas encore d'évaluation
- Nietzsche e Machado de AssisDocument26 pagesNietzsche e Machado de Assisrodrigosa1832Pas encore d'évaluation
- O Eu Al Berto Revista Folhas Kenedi 1Document14 pagesO Eu Al Berto Revista Folhas Kenedi 1Kenedi AzevedoPas encore d'évaluation
- Primeiras EstoriasDocument205 pagesPrimeiras EstoriasThales TeixeiraPas encore d'évaluation
- Vergilio Ferreira - Existencialismo PortuguêsDocument122 pagesVergilio Ferreira - Existencialismo PortuguêsVítor HugoPas encore d'évaluation
- Motivos Poéticos PessoanosDocument4 pagesMotivos Poéticos PessoanosCarolina Reis PenedoPas encore d'évaluation
- Modernismo portuguêsDocument46 pagesModernismo portuguêsBeatriz MarquesPas encore d'évaluation
- paulobraz,+MetamorfosesV18N01 Rafael 2021 POSREVISAO2 125 142Document18 pagespaulobraz,+MetamorfosesV18N01 Rafael 2021 POSREVISAO2 125 142Sara BarrosPas encore d'évaluation
- Considerações de Schopenhauer Sobre o Valor Da HistóriaDocument6 pagesConsiderações de Schopenhauer Sobre o Valor Da HistóriaWelson SilvaPas encore d'évaluation
- 2017 Anais ABRALIC Vol 4 PDFDocument1 269 pages2017 Anais ABRALIC Vol 4 PDFMarcela B. TavaresPas encore d'évaluation
- Auto Da AlmaDocument22 pagesAuto Da AlmawriteressPas encore d'évaluation
- Sina e Criação (Reformatado)Document96 pagesSina e Criação (Reformatado)Gilfranco Lucena Dos SantosPas encore d'évaluation
- Tese para CDDocument207 pagesTese para CDGilfranco Lucena Dos SantosPas encore d'évaluation
- Newton Da Costa. Introdução Aos Fundamentos Da MatemáticaDocument98 pagesNewton Da Costa. Introdução Aos Fundamentos Da MatemáticaGilfranco Lucena Dos Santos100% (9)
- Lopes Daniel Rossi NunesDocument180 pagesLopes Daniel Rossi NunesGilfranco Lucena Dos SantosPas encore d'évaluation
- Nação, Estado e Raça em Manoel BonfimDocument22 pagesNação, Estado e Raça em Manoel BonfimGilfranco Lucena Dos SantosPas encore d'évaluation
- 241rio SchenbergDocument11 pages241rio SchenbergGilfranco Lucena Dos SantosPas encore d'évaluation
- Baro 1651 TapuiesDocument115 pagesBaro 1651 TapuiesGilfranco Lucena Dos SantosPas encore d'évaluation
- Einstein em Portugal2Document13 pagesEinstein em Portugal2Gilfranco Lucena Dos SantosPas encore d'évaluation
- Paty M 2001c-PoinEinsCrCient 1F42Document28 pagesPaty M 2001c-PoinEinsCrCient 1F42Gilfranco Lucena Dos SantosPas encore d'évaluation