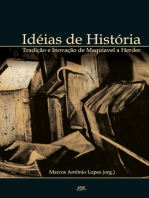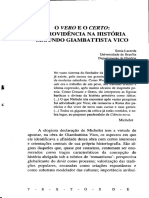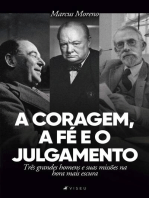Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Direito Natural Strauss
Transféré par
Marcos R Galvão BatistaCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Direito Natural Strauss
Transféré par
Marcos R Galvão BatistaDroits d'auteur :
Formats disponibles
A-PDF Page Cut DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark . ,C; P O AST. Ss C.C.
PAZ-1 Direito Natural Com introduo de Miguel Morgado Lt: .;.0 fil colittr .1-.1";()01":ii-)e':;. s .0 cis outfc)s-L--- tem-lb 1, to 1 i.1 Ao longo dos sculos, o Homem tem-se dividido quanto forma como a poltica deve enfo rmar a sua vida em sociedade, o que originou o aparecimento de inmeras correntes e teorias polticas. Por isso, a fiBibliotca de Teoria Poltica visa ser um ponto de e ncontro abrangente dos vrios autores que num passado mais recente se dedicaram re flexo e filosofia polticas, mas tambm das diversas orientaes da moderna teoria poltica . .. Direito Natural e Histria TTULO ORIGINAL Natural Right and History Copyright C 1950, 1953 by the University of Chicago. Todos os direitos reservados da Introduo: Miguel Morgado e Edies 70 TRADUO Miguel Morgado DESIGN DE CAPA FBA DEPSITO LEGAL NQ 292209/09 Biblioteca Nacional de Portugal - Catalogao na Publicao STRAUSS, Leo, 1899-1973 Direito natural e. histria. Reimp. (Biblioteca de teoria poltica; 3) ISBN 978-972-44-1442-3 CDU 340 321.01 PAGINAO, IMPRESSO E ACABAMENTO PAPELMUNDE para EDIES 70, LDA. Abril de 2009 Direitos rservados para Portugal por EDIES 70 EDIES 70, Lda. Rua Luciano Cordeiro, 123 12 Esc? 1069-157 Lisboa / Portugal Telefs.: 213190240 Fax: 213190249 e-mail: geralgedicoes70.pt www.edicoes70.pt Esta obra est protegida pela lei. No pode ser reproduzida, no todo ou em parte, qualquer que seja o modo utilizado, incluindo fotocpia e xerocpia, sem prvia autorizao do Editor. Qualquer transgresso lei dos Direitos de Autor ser passvel de procedimento judicial. LEO STRAUSS Direito Natural e. Histria Introduo e traduo de Miguel Morgado 0 l ndice
Introduo do Tradutor VII Introduo 3 L O Direito Natural e a Abordagem Histrica 11 II. O Direito Natural e a Distino entre Factos e Valores 33 III. A Origem da Ideia de Direito Natural 71 IV. O Direito Natural Clssico 105 V. O Direito Natural Moderno 143 A. Hobbes 144 B. Locke 174 VI. A Crise do Direito Natural Moderno 215 A. Rousseau 215 B. Burke 251 ndice Onomstico 275 276 DIREITO NATURAL E HISTORIA Digenes, Larcio, 83, 95, 124, 127 Dodge, G. H., 255 Engels, Friedrich, 152 Epicuro, 95, 96, 145-147, 149, 163, 226 Espinosa, x, xvm, XX, xxmx, 82, 146, 149, 180, 181, 197, 232, 237 squilo, 88 Esticos, 16, 73, 105, 117, 127, 135, 143, 146 Fichte, 238 Figgis, J. N., 157 Filmer, Sir Robert, 161, 185 Fortescue, 90 Fustel de Coulanges, 73 Gassendi, 96 Gentz, Friedrich von, 266 Gierke, Otto von, 4, 157 Gough, J. W., 183, 187, 189 G rene, David, 131 Grocio, Hugo, 82, 83, 113, 160, 164, 190, 192 Hegel, xxm, xxvi, 28, 33, 83, 214, 237, 238, 268, 271 Heraclito, 81, 88 - Herdei-, 16, 125 Herdoto, 73-75 Hobbes, xi, xix, xx, xxi, xxvi, xxvit, xxxix, XL, 11, 55, 83, 95,.96, 98, 105, 1 44-161, 163, 164, 166-174, 181, 184, 185, 7;190,i 191, 194-199, 201, 6200. 211-2 15, 227-230, 3,235,241, 243, 251, Hooker, Richard, xxn, 132, 143, 144-p 178, 185, 187, 190, 1 92, 245' Hume, 20, 265 Iscrates, 113, 115, 120 Jurieu, 255 Kant, 16, 20. 39, 54, 68, 83, 157, 167, 217, 224, 238, 269 Kelsen, Hans, xxvi, 6 Kierkegaard, 272 Klein, Jacob, 69 Leibniz, 82 Lessing, xxx, 22 Locke, xrv, xv, xvm-xxl, 11, 86, 143, 144, 159, 170, 174, 175, 177-192, 194-201, 203-207, 209 Lucrcio, 96, 98, 146, 225, 231 Macaulay, 178 Macpherson, C. B., 201 Madison, James, 209 Maimnides, XVII, xxx, XL, 73 Malebranc he, 164 Maquiavel, xxvi, xxvii, 5, 52, 55, 58, 120, 139, 140, 153-155, 157, 161, 164 Marlowe, 153 Marsilio de Pdua, xvii, 11, 136 Mendelssohn, 16, 22, 235 Mill, J. S., 120
Milton, 125 Montaigne, 127, 159, 244 Montesquieu, 11, 142, 218, 236, 243, 255 Morel, Jean, 225, 228, 231 NDICE ONONLISIvITICO I 277 Newton, 221 Nietzsche, xxrv, xxxvir, 25, 26, 58, 168, 216, 272 Nominalismo, 151 Palgrave, 201 Parmnides, 79 Pascal, 73 Pitgoras, 220 Plato, xvir, xxrv, xxvn, XXIX-XXXI, xxxrv, xuv, xna, 11, 13, 14, 26, 33, 34, 52, 72-75, 77, 79, 81-85, 88-94, 98-106, 109-113, 115-118, 120-122, 124-126, 128, 13 0, 131, 134, 135, 140, 145-147, 149, 172, 179, 215, 218, 227, 273 Plutarco, 145, 215, 251 Polbio, 83, 122, 124, 274 Protgoras, 90-94, 101, 130, 146 Raynal, Abade, 231 Reinhardt, Karl, 79 Rommen, Heinrich, xvii, 125 Rousseau, xix,xr.v, 11, 16, 82, 93, 158, 215-219, 221-241, 243245, 247-251, 265, 268, 169 Russell, Lorde Bertrand, 171 Salmsio, 168 Sneca, 131, 145 Sexto, Emprico, 82, 84, 127 Socino, Fausto, 82, 171 Scrates, xii, xrv, xxrv, xxx, xna, 39, 74, 75, 81, 101, 102, 105- 110, 113, 115, 117, 120, 122, 130, 134, 143-145, 179, 218, 224, 273 Soto, D., 160 Stahl, F. J., 164 Stark, W., 207 Stintzing, R., 132 Suarez, xxii, 160, 190, 243, 251 Swift, 215 Tcito, 102, 145 Tawney, R. H., 54 Teofrasto, 223 Toms de Aquino, xxr, xxii, 8, 9, 62, 77, 78, 81, 105, 115, 117, 118, 122, 124-126, 131, 136, 137, 141-143, 160, 168, 190, 192 Trasmaco, xull, 7, 92, 98, 130 Troeltsch, Ernst, viu, 4, 55 Tucdides, 52, 94, 117 Ulpiano, 125, 227 Voltaire, 22, 178 Weber, Max, viii, xxvi, xxxvixxxvm, xr.., 34-65, 67-69 Whitehead, A. N., 78 Xencrates, 227 Xenofonte, xxvi, 74, 75, 84, 88, 91, 92, 94, 102, 106, 107, 112, 117, 118, 120, 122, 124, 128, 130 0 Introduo do Tradutor Direito Natural e Histria . um livro escrito de forma dialctica. A sua leitura deve acompanhar as mudanas de cadncia; as ascenses e as descidas, as escarpas vertigino sas e os vales seguros : NO seu trabalho de interpretao, o leitor que leva em cont a a natureza .dialctica da obra cedo se apercebe que h afirmaes kprimeira vista:pere mptrias que acabam por se revelar meramente provisrias; que h sugestes aparentement e casuais que, em fases posteriores; ganham fora de tese; que h proposies que ocupam um lugar estrategicamente definido, mas nem por isso so imprescindveis ou definit ivas; que h recantos mais obscuros e plataformas bem iluminadas; que nem tudo o q ue soa a repetio transmite exactamente a mesma mensagem; que saber diferente de ac reditar. um livro rico em detalhes e pormenores quase invisveis. Mas a compreenso desses de
talhes e pormenores, que as mais das vezes passam despercebidos como se fossem m eros Ornamentos literrios, importante, no s para a inteligibilidade deste livro em particular, mas tambm para conhecer com maior rigor a inteno que subjaz obra global de Leo Strauss. , pois, um livro que solicita a ateno e o cuidado do leitor dedica do, com tempo para perder ou para ganhar. VIII 1 DIREITO NATURAL E HISTORIA Quem est minimamente familiarizado com a obra de Strauss sabe que no muito apropri ado iniciar um ensaio introdutrio da sua obra mais emblemtica com consideraes de ord em biogrfica. Mas a ttulo de justificao talvez se possa invocar, alm dos imperativos das convenes editoriais, o carcter algo representativo da experincia pessoal de Stra uss no contexto das glrias e das tragdias da gerao de Weimar. Talvez uma biografia s umria de Strauss possa servir de testemunho de um percurso semelhante a outros ig ualmente. notveis, talvez possa servir de homenagem grandeza da gerao dos que nasce ram por volta da viragem do sculo e que cresceram na conturbada Alemanha da Prime ira Guerra Mundial e na Repblica de Weimar, e que hoje enchem as galerias dos ilu stres em qualquer escola de cincias humanas, para no mencionar outras reas do saber . E tambm exemplifica, por assim dizer, o mais importante facto geoestratgico do sc ulo XX no que diz respeito ao mundo intelectual: o declnio da Alemanha e a ascenso dos EUA, No entanto, h um pretexto que se destaca dos restantes: um vislumbre da vida de Strauss, como filsofo, como judeu, como alemo, como cidado de Weimar, pode ser til na medida em que ela atravessa e se deixa condicionar pela crise dos noss os tempos. Mas, por mais funes que uma nota biogrfica de Strauss possa cumprir, deve -se resistir tentao de encontrar na experincia pessoal de Strauss uma chave-mestra dos problemas levantados na sua obra. Por exemplo, ao contrrio do que declarou um estudioso americano, no <podemos admitir com confiana que a obsesso de Strauss com o esoterismo e com a perseguio tinha as suas razes, no na investigao filosfica, mas n tragdia impensvel da sua gerao e). Porm, tambm no se pode ousar dizer que as razes C cas, a experincia de juventude com o sionismo, a leitura dos mestres da sua poca ohen, Rosenzweig, Troeltsch, Weber, Cassirer, Husserl, Heidegger , que so elemento s inquestionveis da sua biografia, fossem estreis em efeitos sobre a sua reflexo fi losfica. Leo Strauss nasceu em Kirchhain, Hesse, na Alemanha, em 1899. Os Strauss reconhe ciam-se como uma famlia judia ortodoxa, ou pelo menos que procurava cumprir o rit ual prescrito pela Torah, e que (1) Stephen Holmes, The Anatonzy of Antiliberahsm (Cambridge: Harvard University Press, 1993), p. 86. INTRODUO DO TRADUTOR educava os seus filhos na mesma ortodoxia. Aps o desfecho ignominioso da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha vivia a sua primeira e fatdica experincia democrtica-li beral com a abolio da monarquia e a instaurao da repblica federal, segundo a constitu io de Weimar. Por ser um regime fraco, a Alemanha de Weimar estava merc do primeiro l er poltico resoluto que decidisse levar a cabo a revoluo. Limitou-se a ser o palco onde se encenou o triste espectculo da justia sem espada ou da justia incapaz de usa r a espada (9-). Mas a Grande Guerra no s deixara atrs de si um rasto de destruio e de morte, como tambm abalara a civilizao europeia do progresso e da razo at aos seus ali cerces. Se verdade que em parte havia a esperana de reconstruo de um mundo melhor, co o atestam os vrios movimentos revolucionrios que, com graus diferentes de vigor e eficcia, assolaram toda a Europa continental, a Grande Guerra infligira danos qua se irreparveis nos pressupostos e nas crenas em que assentavam os pilares da civilizao do sculo XIX, dita burg uesa, cosmopolita, progressista, confiante, optimista; o sculo XIX terminou apenas em 1914, no ano em que as luzes na Europa se apaga ram. A catstrofe dos anos 30 deve ser interpretada luz desse vazio e desse desesper o (Stern) que, mais do que qualquer outra coisa, caracterizava a condio do homem eu ropeu do ps-guerra e que, pelo menos na Alemanha, gerou urna revolta apaixonada c ontra a futilidade, contra a esterilidade essencial da civilizao moderna, a inimig a mortal de tudo o que era srio, infinitamente srio (3). A situao em que o homem europeu se encontrava era o sintoma mais claro do declnio do Ocidente, cuja denncia celebrizara Oswald Spengler: um quotidiano que deixara de ser constante na indicao. do dever absoluto do homem e do seu destino sublime,
para se pautar pela incessante e frvola novidade; a especializao; a impossibilidade pr ica de concentrab nas pouqussimas coisas que so essenciais para a nobreza humana; o co nformismo; a ausncia de verdadeira paixao (4"). Tudo isso nao podia seno cons_ (2) Prefcio traduo inglesa de Spinoza's Critique of Religion, trad. inglesa E. M. S inclair (Chicago: The University of Chicago Press, 1997), p. 1. (3) Sobre este tema ver Strauss, German Nihilism, Interpretation, vol. 26, n2 3, 1 999. (4) Ver Strauss, An Introduction to Heideggerian Existentialism em The Rebirth of Classical Political Rationalism, ed. Thomas Pangle (Chicago: The University of C hicago Press, 1989), p. 31. DIREITO NATURAL E HISTRIA tZuir o objecto da mais profunda averso que era tambm, ou pelo menos para alguns, uma averso moral. Nesses primeiros anos, Leo Strauss levou uma vida semelhante de tantos outros jovens intelectuais expostos ao brilho das ideias e das reflexes q ue apontavam para um profundo desencantamento com as promessas e conquistas do I luminismo. Alm disso, Strauss era judeu, e embora no tivesse continuado a ortodoxi a religiosa dos pais, tambm no se deixou seduzir pelo indiferentismo, nem pela retr ica da assimilao, nem sequer pela lgica da neutralidade confessional do Estado. Ano s mais tarde recordaria que escrevera a sua primeira grande obra sobre Espinosa entre 1925 e 1928 encurralado no problema teolgico--poltico (a). Em 1921, em Hamburgo e sob a orientao de Cassirer, Strauss candidatou-se ao grau d e doutor com uma tese sobre a filosofia de Friedrich Heinrich Jacobi, um crtico d o racionalismo iluminista. No muito arriscado dizer que foi Jadobi quem alertou S trauss para a centralidade da famosa querela entre os antigos e os modernos. para utilizar .a expresso imortalizada pelo sculo XVII , e que Strauss ao longo da sua carreira nunca se cansou de reconstituir. Posteriormente, trabalhou como investi gador na Akademie fr die Wissenschaft des Judentums, um centro de investigao ligado ala liberal da comunidade intelectual judia na Alemanha. A escreveu as suas prim eiras reflexes sobre Espinosa e expandiu os seus interesses na filosofia judaica, em particular na da poca medieval. Candidatou-se Universidade Hebraica de Jerusa lm, mas os seus esforos saram gorados. Mas depois de uma adeso adolescente ao sionis mo poltico, as suas relaes com as vrias correntes sionistas foram desde cedo determi nadas pelo imperativo da honestidade intelectual, ou talvez mais rigorosamente pel a paixo filosfica da verdade. De resto, o contacto com Martin Heidegger em Friburg o (e mais tarde em Mar-burgo) intensificou a sua inclinao para considerar que a gr avidade da crise da modernidade exigia que se prosseguisse um caminho de reapreciao crtica da tradio filosfica ocidental, bem como das vrias propostas de conciliao entre pensamento moderno e a inspirao espiritual dos vrios sionismos. Por um lado, o mpet o antimoderno do sionismo cultural estava ainda amarrado s categorias fundamentaisda conscincia moderna, o que punha em causa a integridade das razes do judasmo que no podiam ser outras (5) Prefcio a Spinoza's Critique of Religion, p. 1. INTRODUO DO TRADUTOR seno os dogmas da palavra revelada ou a experincia do povo eleito por Deus. Por ou tro lado, o sionismo religioso, embora reafirmasse a ortodoxia religiosa, tal como se manifestava antes da intruso do atesmo implcito da cincia bblica que dava o tom logia moderna, no podia ser sionista precisamente por essa razo, isto , no podia aceit ar a fundao de um Estado poltico como soluo do <problema teolgico7poltico, na medida que qualquer concepo historicamente coerente do Estado tem de se basear nos valore s fundamentais que justificam uma comunidade poltica desse tipo: a autodeterminao e a dignidade do homem. Ora, esses dois valores eram irreconciliveis com o judasmo tradicional que estava implcito no retorno , ou na reafirmao da, ortodoxia religiosa (6). E, de qualquer forma, do ponto de vista fundamental, isto , do ponto de vis ta da palavra de Deus e da Sua escolha, que constitui o fundamento ltimo do judasm o enquanto tal, a fundao de um Estado, mesmo de um Estado conscientemente judaico, nunca poderia ser o final do exlio ou da errncia do povo judeu. Em suma, quando o sionismo cultural se compreende a si mesmo, converte-se em sionismo-religioso. M as quando o sionismo religioso se compreende a si mesmo, torna-se em primeiro lu gar f judaica e s secundariamente sionismo (7) .
Depois de vrios anos na Akademie, Strauss, que entretanto mostrara a sua valia co mo estudioso do filsofo ingls do sculo XVII Thomas Hobbes, recebeu uma bolsa da Fun dao Rockefeller para prosseguir a sua investigao no estrangeiro, nomeadame te em P ris e Lonclies. Para obter essa bolsa Straussbeueflii das recomendaes de Cassirer, Guttrnann e d arl Schmi . O autor de O Conceito do Poltico ficar particularmente impressionado com o comentrio sua obra assinado por Strauss, reconhecendo nesse t exto o mais certeiro e desafiante dentre a multido de anlises que o seu pequeno li vro desencadeara. Assim, em 1932, Strauss abandonou a Alemanha rumo a Paris, e e m 1934 seguiu para Inglaterra. No entanto, como a sua correspondncia revela, o pe rodo da sua vida passado primeiro em Paris onde travou amizade com o hegeliano Ko jve e onde reencontraria a mulher com quem casaria , e depois em Inglaterra, foi p articularmente difcil, j que Strauss teve srias dificuldades em (6) Ver Michael Zank, introduo a Leo Strauss: the Early Writings (1921-1932) (Alba ny: State University of New York Press, 2002), pp. 18:22. (7) Prefcio a Spinoza 's Critique of Religion, p. 6. XII DIREITO NATURAL E HISTRIA garantir fontes estveis de rendimento. S em 1938 abandonaria definitivamente a Eur opa e encontraria a sua nova ptria nos Estados Unidos. A sua vida acadmica na Amric a comeou em Nova Iorque, na New School for Social Research, um instituto universi trio que nesta a ttu-tinguiu por se converter na porta de entrada por excelncia de muitos exilados europeus, incluindo judeus; Hannah Arendt apenas um dos exemplo s mais notrios. Mais tarde, Strauss acabaria por se instalar na Universidade de C hicago, onde leccionou por muitos anos e fundou a sua escola. Seria nos Estados Unidos que publicaria a maioria das suas grandes obras como Pe rsecution and the Art of Writing (1952), Thoughts on Machiavelli (1958), What is Political Philosophy (1959), The City and Man (1964), Socrates and Aristophanes (1966), Xenophon's Socratic Discourse (1970) ou, numa publicao pstuma, The Argumen t and Action of Plato's Laws (1975), e, claro, Natural Right and History (1953), alm de dezenas de artigos. Em 1973, morreu na tranquilidade de Annapolis, lugar que acolhia, e ainda hoje acolhe, um pequeno colgio universitrio, o St. John's Col lege, onde passou o seu ltimo ano de vida. II Direito Natural e Histria um livro de filosofia poltica. Na realidade, um dos maio res testemunhos da possibilidade da filosofia poltica no sculo XX. Como obra de fi losofia poltica, Direito Natural e Histria tem uma dimenso (ou inteno) filosfica e uma dimenso (ou inteno) poltica. Alis, esta interpretao acompanha deperto a insistncia S ss no carcter oltico de toda a filosofia de ins co socrtica. Esta inferncia no resulta apenas da constatao de a filosofia, por ser o d esejo ou amor da sabedoria, ou a aproximao ao conhecimento da essncia todos os seres (8), incluir, por maioria de razo, as coisas polticas. A filosofia , essencialmente, um modo de existncia, que alm disso, e segundo a razo da filosofia poltica clssica, s e apresenta como a resposta por excelncia a er nta ual a melhor vida para o homem ?, o que vale por dizer que e o modo superior de existncia humana. Da perspectiva da filosofia poltica (8) A expresso aparece em Al-Fribi, La Philosophie de Platon, ses parties, l'ordre de ses parties, du commencement jusqu' lafin, trad. francesa Olivier Sedeyn, Nass im Lvy (Paris: Editions Allia, 2002), I, 3. INTRODUO DO TRADUTOR clssica, e do pensamento de Strauss, o inqurito ao direito n4ratural ou a investig ao do que , por natureza, no s justo, mas tambm bom e belo, tem na superioridade da vi da filosfica o seu ponto central em torno do qual todas as demais reflexes gravita m. Ora a vida filosfica ou a vida contemplativa tem de se justificar a si mesma, pe lo menos quando confronta outros modos de existncia que reivindicam, com argument os plausveis, a sua respectiva superioridade. A confrontao com outros modos de exis tncia fora a defesa da vida filosfica a integrar uma reflexo englobante sobre a relao genrica da filosofia com a comunidade poltica, quer nas suas partes, quer como um todo. A reflexo sobre a relao da filosofia com a cidade ou com a comunidade poltica torna-se numa parte integrante da justificao da superioridade da vida filosfica sob re os restantes modos de existncia. Do ponto de vista da filosofia, essa relao tem de ser marcada por um exerccio fundamental de moderao ou de responsabilidade. E a r
esponsabilidade da filosofia no confronto com a cidade produz uma certa atitude propriamente poltica, que com facilidade se associa a uma variante do conservador ismo, ou ao que Daniel Tanguay chamou conservadorismo de convenincia (9). Em Direito Natural e Histria, Strauss segue constantemente esta abordagem. Mas o objecto de anlise da obra no s a vida filosfica, ou a possibilidade da filosofia, ma s tambm o direito natural, ou a sua possibilidade. Enquanto tema de reflexo, o dir eito natural, ou o que intrinsecamente justo, no monoplio dos filsofos. De forma ma is ou menos consciente, trata-se de um tema de primeira ordem na conversao que pro ssegue entre os cidados. um assunto eminentemente politico. Tambm por a se compreen de a inteno especificamente poltica de Strauss neste livro. Direito Natural e Histria abre com o enunciado das palavras imortais da Declarao da Independncia dos Estados Unidos da Amrica proferidas em 1776. Daqui talvez seja p ossvel concluir que a audincia poltica a que Strauss preferencialmente se dirige co nstituda por patriotas, por leitores orgulhosos do seu pais (')). Nos EUA, o (9) Daniel Tanguay, Leo Strauss. Une biographie intellectuelle, (Paris: Editions Grasset et Fasquelle, 2003), p. 160. Sobre este ltimo ponto, ver tambm Thomas Pan gle, Leo Strauss: An Introduction to his Thought and Intellectual Legacy (Baltim ore: The Johns Hopkins University Press, 2006), pp. 83-86; Bruno Maes, .Leo Straus s: Entre a Filosofia e a Poltica em Pensamento Poltico Contemporneo: Uma Introduo, eds . Joo Carlos Espada, Joo Rosas (Lisboa: Bertrand, 2004). (') Ver Pangle, Leo Strauss, pp. 15-18. XIV DIREITO NATURAL E HISTRIA patriotismo est indissoluvelmente ligado admirao, e at reverncia, pelo momento da su fundao, e sobretudo pelos princpios polticos e morais que a ela presidiram (1'). O patriotismo assim entendido exprime a confiana em princpios cuja fundamentao filosfic a foi radicalmente posta em causa pela filosofia poltica da fase mais tardia da m odernidade. Por outro lado, o leitor patriota tambm fortemente condicionado por u ma conscincia cvica aguda, pela preocupao com o bem da sua comunidade poltica, que, d e um modo ou de outro, associado fidelidade e respeito pelos princpios consagrado s no momento da fundao. Strauss parece ver neste tipo de audincia um aliado importa nte para a dupla tarefa de recuperar uma concepo verdadeira de direito natural e d e justificar a superioridade da vida filosfica. Recorrendo s categorias necessariamente simplificadoras do debate cvico, podemos d izer que, por temperamento e talvez tambm por convico, este patriota est prximo do con servador. E, nos nossos dias, o facto de o pensamento de Strauss aparecer sobretu do associado a um certo tipo de conservadorismo no se trata de uma mera coincidnci a, nem de uma apropriao absolutamente ilegtima. De facto, quando percebemos que a f ilosofia poltica de Strauss corresponde a uma revitalizao da filosofia poltica clssic a, no podemos subestimar a sua deteco de um certo conservadorismo dos clssicos. Em Dir eito Natural e Histria, Strauss observa que, do ponto de vista das concluses prtica s, Scrates, o pai fundador da filosofia poltica clssica, era muito conservador; e na sua discusso de Burke, a grande referncia intelectual do conservadorismo moderno, no se cobe de afirmar que o 'conservadorismo' de Burke est em pleno acordo com o pen samento clssico. Contudo, a inteno de Strauss comea a revelar-se quando essa mesma fr ase se completa. Strauss apressa-se a dizer que a interpretao de Burke do conservad orismo prepbrou uma abordagem aos assuntos humanos que ainda mais estranha ao pens amento clssico do que o 'radicalismo' dos tericos da Revoluo francesa. No faltou quem notasse que Strauss foi particularmente agressivo na sua crtica a t rs autores abordados em Direito Natural e Histria: Toms de Aquino, Locke e Burke. A lguns chegaram mesmo a duvidar (') Ver Strauss, Thoughts on Machiavelli (Chicago: The University of Chicago Pre ss, 1978), p. 47 e comparar com Shadia Drury, The Hidden Meaning of Strauss's Tho ughts on Machiavelli., History of Political Thought, vol. VI, n 3, 1985, p.,579. INTRODUO DO TRADUTOR que houvesse uma consonncia rigorosa entre o ataque retrico e a apreciao substantiva do lugar que esses trs autores ocupam na narrativa histrica que celebrizou Straus s. No me parece que possamos ir to longe, mas necessrio reconhecer o problema para que possamos compreender a inteno retrica ou poltica desta obra. Em ltima anlise, a es tratgia retrica de Strauss serve um propsito fundamental que visa rejuvenescer os a liados polticos do direito natural e dar-lhes uma orientao mais robusta e conscient
e, no s quando atendemos ao contexto particular da Guerra Fria, mas sobretudo luz da crise da modernidade, ou da crise dos nossos tempos, ou da crise do Ocidente. O que levou Strauss em ocasies distintas e com motivos diferentes a atacar com severid ade Toms de Aquino, Locke ou Burke pode ser enunciado com simplicidade: a refundao poltica das opinies favorveis ao direito natural (por exemplo, as opinies que se ape gam a concepes objectivas e universais de justia) e desfavorveis aos excessos da mod ernidade (por exemplo, as opinies que repudiam a obsesso contempornea com a igualda de) no pode depender do pensamento de nenhum desses filsofos, pelos quais, de rest o, Strauss retinha a maior admirao. Por razes diferentes e cada um sua maneira, tan to Toms de Aquino, como Locke e como Burke so de certo modo cmplices da corrupo da co ncepo clssica, ou, por outras palavras, constituem etapas de afastamento relativame nte nica concepo de direito natural que no est exposta a objeces insuperveis. O grande terico medieval da lei natural, Toms de Aquino, alm de algumas referncias e m notas de rodap, no merece mais de duas pgina de comentrio num livro que, recorde-s e, se ocupa da questo do direito natural. A crtica de Strauss a Toms de Aquino no se esgota na repreenso do carcter alegadamente doutrinrio aba deontolgico da sua conce po da lei natural, particularmente_visvel quando contraposto flexibilidade e moderao do direito natural dos clssicos. A acusao de doutrinarismo ou de deontologismo conc epo tomista_da lei natural sublinha o seu carcter exaustivo e rgido quando comparado com o carcter minimalista da concepo da lei natural sustentada pelos filsofos medie vais rabes e judeus. Nestes ltimos pensadores, e em termos puramente filosficos, a lei natural ria-o era ma fs d-o que um con'unto mais ou menos flutuante de re as regul a oras da vida social e das relaes humanas desenvolvidas pelo filsofo, em que a vir tude da prudncia era rainha e senhora. Se for aceite a primazia da vida contempla tiva sobre a vida prtica, 98 'd `72191 (si) *g8 '08 'dd `0003 a.0 g9 10A 'salmodio 4taletnt ata ticlosoilliduEPsgliD Jo luaunmpui s ssn-e_ns *Igr nren IRA. (1) iimazej s!Isparme sraRuarod srns s nb op 'oumbv spuoi, aod ocrea -e rpenar orJru xamstrrx4 rp xernapied ma 'reanyeu onaalp op a rarmod EU6SOIU Ep sD 0E5EULIOJSUE 4 "Ep -emIxoad STEUI psa ruaapom ruosorg rrad rpraado -enendna -e Irpnia opads-e alsaN rapliod Epuapsuoa uns r apiad `s-esIoa sino anua 'anb r-E5 or5ruuojsurx4 rum r maguari znpuoa 'opri olmo aod -lugtuoll op -ea -mod Or5Ipuoa r rmoa tua somaanD as osopmaad aluamarinapard a anb 'or5urRuo salcaaload um r al uaux[aArlgau! znpuoa ramdna rei, ( )rapjlod rpg r a ap-eppr aac un-raV-57N) apsa p a uaasurn anS rispaadoad rum eldoye remnru Ia! rp EJSTU101 or5daauoa `Eapj[0 r pg rp a aprpp prrej opurnb 'anb Jazi!) anb musam o a ra!ssma rap -mod ruosoug -ep -eng. ap oluod oj s-ei-wou,St no supp amulasaad apod 'oss! aod 'a 's-eauosoiwai d sammdo s-e aopadns 'o2oj apsap ap-eprr oEDaId p xeureyed o srauosorg-aad sagm!do sr :rppixed ap omod nas ou raIssma rap nod ruosorg r xequeduloar rxed repuassa aprpri-mmodsmul rum noqtranua as somaure pu-nj snas sou anb manai reamruij rp -els-Rum or5daauoa r 'oppuas assau reuompral ulaBuo aanb ra !..99ioal maggo paanb 'ranqjq =Buo ap aanb 'aprppomr aanbrrnb E aarloaaa tu as sonaaaad snas sop um rpra xraunsnf iln2as -UO3 ap rua] oumby psTumi, tua rran yeu !a! r `rauosoug aluauarand no intnou ias v rufflop op apuadap anb aazip anb a lusatu o a anb o `rIslaa r!..goioal rp no snaj aod rprianaa -elArred p Tem 'rean yeu r1.2 rp os ou 'amapuadap -elsa -ep aluapuadap aluaure-4 -niosq-e psa reanyeu Ia! -ep rlsrium o-e5daauoa -e `ssnras ap Japuama oN Orzra -e p osn saiduns o-rad spAjsuaaadr o-es OEU aprp!resaamun -ens -e a ap-epagoye2pqo -ens -e `sopiyamoa snas so 'a owl cp.trqvu 'Jau U a 'a oru ourampuop oBoioal api reig op ramyeu Tai -ep or5daauoa anb -muge ssn-eals 'unssy -rem oaaa assa apauaa STUJOUI a soapHod s-etuaiqoad sou 'minium tuaRepaoqe v El_Soioal -euosoug p orJr urp -aoqns E -card amaureurssaaau rzrisap 'ssnx paapuama ou 'anb a 'omnbvp Temo" ap -cago -e -ernSaa anb o-ezra r moa aj rp ors-njuoa 'elspum opafoad op solnsaan pe sop orpndo -eu 'no asaluys p Ect -or2 oJamsa o anos amam anrx2 sretu Eni.13E 'ap-epuraa EU 'Tern (m)resaamun apepqrnp souatu ommxt a srisprinaug aluauireaoul. uma sreumara sIa! sr
p omampaquoaaa o wriaoj ou `rJaxed anb texop-exed aod 'reanyeu P1 up or5daauoa f el rtun orma VRICUSIH "IVUTLIVN OflIIU INTRODUO DO TRADUTOR I XVII possvel que Strauss tenha ampliado o contraste entre o direito natural clssico e o sistema tomista para alcanar na sua crtica aqueles seus contemporneos que se ident ificavam como discpulos de Toms de Aquino, os chamados neo-tomistas. Por altura da p ublicao de Direito Natural e Histria, o neo-tomismo vivia o seu momento mais empolg ante, sob o impulso de autores como Jacques Maritain, tienne Gilson ou Heinrich R omrnen. O neo-tomismo aparecia assim, aos olhos da direita poltica na Europa Ocid ental, como uma alternativa plausvel no esforo de superar as dificuldades polticas e intelectuais geradas pela crise do Ocidente (H). igualmente provvel que a crtica d o tomismo desempenhe uma funo historiogrfica de grande relevo, a de a ontar_para a s verdadeiras, mas esquecidas, Luzes medievais ire irradiaram das obras de homens como Al-Farabi, Maimnides, Averris, ou, " no mundo cristo, MarsLio de Pdua. No s este utores no procuraram construir sistemas dogmticos, como cultivaram uma atitude de essencial abertura filosofia paga, o que lhes permitiu manter int actas todas as tenses problemticas que emergem com o desenvolvimento da conscincia filosfica da realidade. Ao longo da sua carreira, Strauss por vrias vezes sugeriu que a compreenso plena d a filosofia poltica clssica no seria possvel sem a sua prvia descristianizao, isto , ornar aos clssicos significava estar disposto a aprender com Plato e com Aristteles dispensando a interpretao e o comentrio cristos, que, afinal de contas, haviam cons titudo a grande correia de transmisso do pensamento antigo no Ocidente. Neste ente ndimento, a tradio aristotlica-crist em geral, e a tradio aristotlica-tomista em parti ular, foram menos uma transmisso fiel do que uma deformao que ocultou o significado autntico da filosofia aristotlica. Ora, segundo Strauss, foi a obra dos outros m estres muulmanos e judeus da idade Mdia (os falsifa), e no tanto a tradi o crist sue o recomendou a re i -o da sabedoria dos antigos. Foi nessa outra Idade Mdia que a verdadeira tradio aristotlica. (e platnica) sobreviveu. Por outro lado, a sntese tomista da f com a razo, e, com e feito, todas as tentativas de conciliao da f com a razo, da teologia com a filosofia , de Jerusalm com Atenas, apenas servem para deixar na penumbra, ou para impe(14) Ver Thomas G. West, Thomas Aquinas on Natural Law: A Critique of the 'Straus sian' Critique, comunicao apresentada no congresso anual da American Political Scie nce Association, 31 de Agosto de 2006, em Filadlfia; Steven J. Lenzner, .Strauss' s Three Burkes: The Problem of Edmund Burke in Natural Right and History, Politic al Theoly, Vol. 19, No. 3, 1991, p. 377. xvni I DIREITO NATURAL E HISTRIA dir a articulao cristalina daquele que possivelmente o problema mais fundamental n a obra de Strauss, o chamado problema teolgico-poltico. E, como j salientei, o esforo de conciliao degenera forosamente na subordinao de uma das partes outra. Sobre este a specto muito especfico e bem circunscrito, no estaremos muito longe da verdade se dissermos que Strauss seguiu Espinosa nessa tarefa de separao, no sem tambm herdar a lguma da intransigncia que caractenzava a o ra do autor o ra II o eo ogzeoo tico. Na viso de Strauss no foi por acaso que _o cristianismo representou uma ameaa maior ue o c integridade da fi16s-c : fia em comparao com o islamisn-io ou com o 'udasmo. E istianismo foi desde sempre, mas sobretudo na era da Escolstica, uma religio, por assim dizer, muito mais filosfica do que as outras religies do Livro. Precisamente por ter sido sempre reconhecida e acolhida pelo cristianismo como uma faculdade fundamental na compreenso da doutrina sagrada, a razo humana, a filosofia, entregou-se facilmente a sua apropriao pela teologia e pela f. J nas tradies judaica e islmica, a razo e a filoso_ ozavam de um estatuto precrio, e desde o incio foram objecto de profunda desconfiana. Mas paradoxalmente esta infer ioridade d estatuto da filosofia nos crculos oficiais do mundo islrnico e *udaico, e
que a offfigw. a passar clanestinidade, salvou a sua pureza e integridade. No mundo medieva cristo, as honras recebidas .ela filosofia justificavam a superviso eclesistica que sempre a sujeitou , ao passo que nos ugares on e a filosofia provocava as maiores sus eitas o seu carcter privado izpiis-se em virtu eflas circunstncias; e essa clandestinidade salvo u-a da esada superviso eclesistica reservando assim a sua liberdade interior("). E icil confirmar, como alguns preten em, que se depreende da tese de Strauss a con cluso surpreendente segundo a qual as sementes do mpeto ideolgico moderno teriam si !zio lanadas pela.filosofia medieval crist. Mas no dificil perceber que, na leitura de Strauss, o direito natural segundo a doutrina crist ou tomista padece de difi culdades muito srias e reflecte uma interpretao defeituosa da cidade e do homem. Em Direito Natural e Histria, Strauss dedica a Locke metade do seu captulo sobre o direito natural moderno. Apesar de identificar na escrita de Locke Um trao que t ambm partilhava .e que reflec(13) Ver Leo Strauss, Persecution and the Art of Ffrriting (Chicago: The Univers ity of Chicago Press, 1988), pp. 17-21. INTRODUO DO TRADUTOR XIX tia uma preocupao genuinamente filosfica, nessa seco Strauss avana uma crtica violent ma filosofia poltica do autor dos Dois Tratados do Governo Civil. A obra de Locke estava de forma evidente ligada fundao americana, e, por isso, ao patriotismo americano. Mas sobretudo indi cava um modelo de sociedade e uma interpretao d vida humana que, apesar de aparecerem conscincia comum quase espontaneamente como o contra-modelo da ameaa comunista (ou nacional-social ista), e apesar de se basear numa concepo de justia natural, no podiam constituir uma alternativa. Pois ao redefinir radicalmen te e com o auxlio de Hobbes, o sentido da justia natural, conduzia de forma mais o u menos inadvertida s maleitas dos nossos tempos, o positivismo e o historicismo, a t porque expunha a concepo do direito natural s crticas devastadoras do historicismo dos sculos XVIII e XIX, e abria o caminho para o reducionismo do positivismo dos sculos XIX e XX. Dentre as interpretaes que Strauss oferece dos filsofos modernos (Hobbes, Locke, Ro usseau e Burke), a de Locke foi talvez a mais criticada pelos estudiosos da histr ia do pensamento poltico. Em si, no um facto surpreendente. que a interpretao de Str a interpretao consagrada auss visa refutar de uma vez por todas a interpretao aceite elos estudiosos do sculo XX de Locke. O esforo de Strauss no se explica por um af de originalidade. A nova orientao interpretativa visa principalmente rejeitar a suge sto da interpretao aceite segundo a qual atravs do pensamento de Locke se chega a uma conciliao isenta de tenses entre o liberalismo de Locke, o cristianismo (ou a f, ou a palavra revelada), e a antiga tradio do direito natural, isto , que existe um percu rso intelectual mais ou menos linear, ou uma transmisso sem grandes sobressaltos, que parte da concepo estica do direito natural, depois passa pela Patrstica e pelo tomismo, at chegar a Locke. Ora a ideia de uma continuidade essencial na tradio do direito natural, e que era parte integrante de uma certa narrativa da histria do direito natural, obscurecia dois factos fundamentais: primeiro, o de Locke escre ver com base numa ruptura radical com o pensamento clssico e medieval, e de contr ibuir para um entendimento do direito natural inteiramente distinto da concepo clss ica e tambm da medieval; segundo, o de Locke escrever de acordo com um <princpio ba silar que inclusivamente caracterizava" a sua prpria vida, isto , Locke escreveu s empre dominado por uma cautela que o obrigou a esconder os seus princpios mais choDIREITO NATURAL E HISTRIA cantes e revolucionrios por detrs de uma prosa que superfcie indiciava ortodoxia e respeito pela tradio. Pode-se especular se Strauss, na seco sobre Locke, pretendia voltar a dirigir-se a o patriota americano que procurou cativar logo na primeira pgina da obra. Se assi m for, ento podemos prosseguir a especulao dizendo que Strauss procurava impedir qu e o patriota americano, fiel ao regime politico instaurado pelos pais fundadores, o identifique exclusivamente com os princpios lockeanos, que, alm de estarem afina l muito mais prximos dos nomes <justamente vilipendiados de Hobbes e de Espinosa d o que a interpretao comum supunha, deslizam para o culto da individualidade e da to
lerncia e para a obsesso com os propsitos econmicos. Segundo Strauss, todas essas con sequncias constituam preocupaes morais potencialmente adversas ideia clssica de direi to natural(16). A tese de Strauss segundo a qual Locke continuou no essencial a obra de Hobbes incomodou muitos historiadores. As diferenas entre um e outro eram por demais evidentes, e o recurso a uma leitura entre as linhas no s era inaceitvel, como no podia eliminar a evidncia textual. Mas Strauss insistia nos superiores mri tos de uma anlise comparativa que contrapusesse, de um lado, os antigos (e, neste caso, tambm os medievais cristos) e, do outro, os modernos. Isto , diante do horiz onte alargado da tradio da filosofia politica do Ocidente, as diferenas entre Hobbe s e Locke, em especial as de natureza poltica ou constitucional, embora no pudesse m ser ignoradas, empalideciam quando comparadas com as suas semelhanas. A transio brusca para a era moderna corporiza-se em Hobbes, ou pelo menos tem em H obbes o seu exemplo mais ntido. Assim que se apuram os pontos que dois autores tm em comum, percebe-se que a modernidade de Locke acompanha de muito perto a ruptu ra com o pensamento pr-moderno que Hobbes consumou. E num contraste sinptico com a doutrina pr-moderna do direito natural podemos dizer que Locke herdou de Hobbes a concepo do estado de natureza como um estado pr-poltico, a prioridade dos direitos sobre os deveres, a transformao do direito natural numa lei natural pblica universal , o hedonismo poltico ou o abaixamento da exigncia dos preceitos morais. Estes pontos comuns so mais decisivos do que as inegveis diferenas entre os autores. Por consegu inte, Locke, bem (16) Comparar com George H. Nash, The Conservative Intellectual Movement in Amer ica since 1945 (Nova Iorque: Basic Books, 1976), pp. 187, 226. Nash observa que nos anos 50 e 60, nalguns sectores da direita americana, Locke era explicitamente considerado corno urna espcie de santo padroeiro.. INTRODUO DO TRADUTOR como a interpretao do regime americano que reivindica a hegemonia dos princpios loc keanos, continuam a obra de Hobbes, ou, por outras palavras, Locke um dos protag onistas da primeira vaga da modernidade. Em contrapartida, Strauss procurava que o patriota descobrisse e compreendesse a nobreza dos elementos do regime moderno americano que so devidos s suas origens pr-modernas. Embora a teoria do regime libera l democrtico dos tempos modernos seja filha da filosofia moderna, ao contrrio do c omunismo e do fascismo, recolhe um apoio poderoso de um modo de pensar a que de f orma alguma se pode chamar moderno: o pensamento pr--moderno da nossa tradio ociden tal ("). No fundo, isso significa impedir que os princpios reverenciados conduzam o patriota americano ao mesmo impasse que caracteriza o liberal generoso. Por fim, Burke. A tese de Strauss sobre o significado histrico da obra de Burke t ambm no evitou a controvrsia. O propsito poltico que subjaz crtica straussiana de Bur e tambm se percebe pelo facto de se tratar de uma crtica conservadora em nome do cons ervadorismo dos clssicos e da possibilidade do direito natural a um pensador cujos discpulos e inimigos quase universalmente concordam em atribuir o ttulo de fundad or do conservadorismo moderno. Se o historicismo acaba por ser a negao da possibil de de uma concepo coerente e universal do direito natural, e se Burke apresentado como um dos grandes responsveis intelectuais pela descoberta da Histria, ou pela vira gem para a Histriaou pela rejeio da validade de padres transcendentes ou trans-histric os na apreciao da vida poltica e moral dos homens, ento no custa perceber por que que a interpretao de Strauss provocou controvrsia. E se Strauss teve a oportunidade de voltar a escrever sobre Toms' de Aquino (") e Locke (19), o mesmo no veio a acont ecer com Burke com a excepo de algumas observaes dispersas. Por outras palavras, no caso de Burke muito mais difcil alegar que no se trata da ltima palavra de Strauss sobre o assunto do que em Toms de Aquin.o e, ainda que improvavelmente, em Locke. (17) Strauss, The Three Waves of Modernity. em Introduction to Political Philosop hy: Ten Essays by Leo Strauss, ed. Hilail Gildin (Detroit: Wayne State Universit y Press, 1989), p. 98. (18) Ver Natural Law, International Encyclopedia of the Social Sciences, ed. David L. Sills (Londres: Crowell Collier and MacmWan, 1968), reimpresso em Studies in Platonic Political Philosophy (Chicago: The University of Chicago Press, 1983). (9 Ver Locke's Doctrine of Natural Law", American Political Science Review, vol. 52, 1958. XXII DIREITO NATURAL E HISTRIA
No incio da seco, Burke apresentado como um restaurador de pelo menos algumas incli naes da filosofia poltica clssica, e at como um discpulo fiel da Escolstica medieval e tardia, isto , de-Toms de ,Aquino, de Hooker ou de Suarez. Strauss nota ainda que Burke restaurQu a distino aristotlica entre teoria e prtica, e, primeira vista, f-lo num esprito impecavelmente aristotlico, pois a prudncia devolvida ao pdio das virtud es do poltico ou do estadista, e as circunstncias concretas do mbito da deciso poltic a recuperam a sua crucial importncia.5)primado da prudncia enquanto virtude do est adista ainda mais asse ado com a afirma o do oder do acaso ou da fortuna. Assim dir-se-ia pelos primeiros ap rafos da seco dedicada a Burke que o oradorrlands rejeitou a abordagem doutrinria e abraou a interpretao aristotlica da fle xibilidade da prtica do homem de Estado. Mas, medida que Strauss avana na sua anli se do pensamento de Burke, vo emergindo numa cadncia imparvel diferenas marcantes en tre a psio burkeana e a filosofia politica clssica. Porquanto o seguimento da crtica de Strauss consiste na demonstrao de que, apesar de uma aparente sintonia com os clssicos, na realidade o pensamento de Burke acabou por levar a filosofia politic a moderna ao seu ponto historicista de no-retorno, no obstante a sua inteno prtica t er sido bem diferente. Afinal, o que soava a uma distino de inspirao aristotlica entr e teoria e prtica, revelava um anti-intelectualismo nada aristotlico; o que pareci a ser a considerao saudvel, isto , clssica, do papel do acaso ou da fortuna nos assun tos humanos, acabava por deslizar para a defesa da realidade actual ou para a ne gao de uril ponto de transcendncia no qual, por assim dizer, a razo humana se pudess e pendurar e julgar a realidade concreta. Mais, a distino especificamente moderna entre teoria e prtica, que inicialmente indicava o retorno perspectiva Ira-. dicio nal das limitaes essenciais da teoria em contraposio prtica ou prudncia, afasta-s adio aristotlica, ou radicalmente diferente.da distino feita por Aristteles, porqu ia a teoria e, em particular, a metafsica. O resultado desta dinmica no foi simplesm ente a suspeita anti-filosfica da razo, mas o obscurecimento da prtica: Ao se conver ter no supremo terna da filosofia, a prtica deixou de ser prtica propriamente dita. Numa carta a Eric Voegelin escrita antes da publicao de Direito Natural e Histria, Strauss apresentou o problema de uma maneira noivel pela sua simplicidade: Se no e stiver redondamente 'enganado, a raiz de toda a obscuridade Moderna desde sculo , XVII reside no obscurecimento da diferena entre a teoria e a Prds, um obscurecimen to que primeiro conduz reduo da prxis teoria (esse INTRODUO DO TRADUTOR 8 o significado do chamado racionalismo) e, depois, como retaliao, na rejeio da teoria em nome de uma prxis que j no inteligvel enquanto prxis. Por conseguinte, segundo St auss, as semelhanas de Burke com Ccero so menos ilustrativas do que aquilo que os d ivide. Mais do que Ccero, Burke anuncia Hegel. Do ponto de vista do desgnio poltico de Direito Natural e Histria, esta crtica ainda mais embaraosa porque sugere a cumplicidade inadvertida de Burke com aspectos po liticos e morais centrais do pensamento especificamente moderno. Nas palavras de um discpulo de Strauss, Burke to 'conservador' ou 'aristocrtico' quanto um liberal pode ser sem deixar de ser 'liberal'. (20). Por outras palavras, cor a crtica de B urke, Strauss parece tentar alertar para as insuficincias e problemas da posio polti ca a que, com um abuso semntico que nestas matrias sempre inevitvel, podemos chamar liberalismo de direita ou liberalismo conservador. Por outro lado, a crtica burkean a da razo, ou o seu anti-intelectualismo, aparece como um contributo esastroso a ra o culminar da crise da modernidade ou da crise do Ocidente na medida em que esta tambm pode ser identificada com a crise do racionalismo e at com a apologia do ir racionalismo. A crtica de Strauss pode parecer exagerada, e at injusta. Houve quem dissesse que, em certos momentos da ltima seco de Direito Natural e Histria, Strauss propositadame nte no fez inteira justia a Burke. Como especulao interessante, embora a respectiva d emonstrao tenha as suas dificuldades. Mas abre caminho para a interpretao da funo polt ca de Direito Natural e Histria, que, apesar da admirao genuna que Strauss nutria po r Burke, aponta para a desmobilizao da direita poltica em torno da sua figura, ou das suas ideias mais caractersticas. Em termos polticos, a crise da modernidade ou a cri se do Ocidente no tem um adversrio altura no conservadorismo tradicionalista de um
Russell Kirk(2). Strauss sobretudo conhecido pelo seu trabalho na histria da filosofia poltica, o q ue vale por dizer que sobretudo reconhecido como (20) Pierre Manent, Les libraux, 2 vols. (Paris: Hachette, 1986), vol. II, p. 10. (21) Lenzner , Strauss's Three Burkes, pp. 373, 377. Lenzner quem refere Russell K irk como exemplo. XXIV i DIREITO NATURAL E HISTRIA historiador. Mas o trabalho histrico em Strauss tem um valor que deve ser, mais d o que qualquer outra coisa, propedutico. O confronto da vida filosfica com as dificu ldades naturais do filosofar corresponde no essencial alegoria da caverna de Plato. O filsofo tem de superar essas dificuldades para poder sair da caverna, isto , pa ra poder superar o carcter infinitamente contraditrio das opinies, para poder liber tar-se do presente. Mas a condio do homem moderno no , em rigor, exactamente idntica dos prisioneiros acorrentados descritos por Scrates na Repblica. Ou melhor, o home m moderno, filho da religio revelada, da filosofia moderna e da reaco da filosofia moderna religio revelada, vive numa segunda caverna, mais profunda do que a que limit ava o homem grego. No caminho de abandono da caverna rumo luz, as nossas dificul dades so, portanto, mais intrincadas do que as dificuldades experimentadas pelos discpulos de Scrates, pois s dificuldades naturais do filosofar a condio moderna acres enta dificuldades, por assim dizer, artificiais, que em parte decorrem do esquec imento das primeiras. fundamentalmente por essa razo que precisamos de aprender c om os mestres do passado, porquq, como no vivemos desde logo na primeira caverna, mas numa segunda caverna mais profunda, no podemos contar apenas com o nosso prprio esforo para chegar luz (22). com base nesse diagnstico que Strauss faz a segu inte afirmao espantosa: Longe de ser apenas mais uma dentre os inmeros temas da cincia social, a histria da filosofia poltica, e no a lgica, que acaba por se revelar como a investigao dos pressupostos da cincia social ( 23). Ora, no momento actual esse trabalho propedutico goza de condies inditas porque a cris da modernidade definitivamente anunciada por Nietzsche, e depois por ileidegger, tambm o fim da tradio. Com o fim da tradio as suas razes podem ser expostas a um a claridade no tem precedentes. O fim da tradio tambm o filn da autoridade, em particular da autoridade que regula o conhecimento da fil emas ndam osofia no seu estado mais puro, isto , da filosofia que articula os pro entais, a filosofia socrtica. E atra.vs do conhecimento autntico das razes da tradio s ue no dis ensa a compreenso do inci trai ao filosfica do Ocidente como esse (22) Strauss, Review-oeulius Ebbinghaus, On the Progress ofMetaphysics em The Earl y Writings, p. 215. Ver tambm How to Study Spinoza's Theologico-Political Treaase. em Persecution and the Art of Writing (Chicago: The University of Chicago Press , 1988), pp. 154-157. (") Strauss, The City and Man (Chicago: The University of Chicago Press, 1978), p. 10. INTRODUO DO TRADUTOR primeiro momento se compreendeu a si mesmo, isto , sem a intruso da tradio que se ed ifij-3 '-13u so re esse primeiro momento que podemos-aliciar o caminho rumo luz, or ue s assim retomaremos a nossa ignorando natural e, com ela, o contacto com a r ealidade ou com a natur. eza. No contexto de Direito Natural e Histria, isso sign ifica que s com a crise da modernidade, que, recordemos, foi provocada pelo apareci mento e triunfo do historicismo, que podemos tentar compreender a filosofia no-his toricista de uma forma no-historicista e compreender o historicismo de uma forma nohistoricista. Para tal necessrio regressar aos filsofos da antiguidade. Numa carta a Karl Lwith, Strauss escreveu: No possvel superar a modernidade com meios modernos, mas apenas na medida em que tambm somos ainda seres naturais dotados de entendim ento natural; mas, para ns, o modo de pensar do entendimento natural perdeu-se, e as pessoas simples como eu e como outros semelhantes a mim no so capazes de o rec uperar pelo seu prprio esforo: tentamos aprender com os antigos (24). Aprender com os antigos no uma escolha bvia. Pode no ser til. Pode nem ser sequer po ssvel. Aprender com os antigos implica remover os obstculos mais formidveis utilida de ou possibilidade dessa tarefa. A crise da modernidade gerara vrios desses obstcul
os, eloquentemente expressos por alguns dos maiores pensadores da contemporaneid ade de Strauss. Em Direito Natural e Histria trs grandes pensadores projectam a su a sombra sobre quase todas as pginas. A nitidez das sombras no deixa margem para dv idas, mas nem por isso (ou talvez por causa disso?) Strauss menciona os seus res pectivos nomes. Esses trs grandes pensadores com quem Strauss manteve um dilogo ma is ou menos explcito e permanente durante toda a sua vida acadmica so Marti-leic _g le ger (n) Carl Schniitt e Alexandre Kojve (26). (") Citado em James E Ward, Political Philosophy and History: The Links Between S trauss and Heidegger, Po/i02, vol. 20, ng 2, 1987, p. 289. (25) Sobre o efeito avassalador que Heidegger provocou no jovem Strauss quando e ste assistiu pela primeira vez a uma das suas aulas, ver <<An Introduction to He ideggerian Existentialism em The Rebirth of Classical Political Rationalism, ed. Thomas Pangle (Chicago: The University of Chicago Press, 1989), pp. 27-29. Uma f rase resume essa impresso que jamais abandonaria Strauss: Heidegger o nico grande p ensador do nosso tempo. (26) No caso de Schmitt e Kojve houve, com efeito, um dilogo no sentido literal do termo. Como Heinrich Meier demonstra, Schmitt encontrou uma forma extraordinari amente subtil de responder s criticas apresentadas por Strauss na sua recenso de O Conceito do Poltico (ver Heinrich Meier, Leo Strauss and Carl Schmitt: The Hidde n Dialogue, trad. inglesa J. Harvey Lomax [Chicago: The University of Chicago Pr ess, XXVI DIREITO NATURAL E HISTORIA Schmitt est muito presente nas pginas sobre Weber, pois, em certos momentos crucia is, a crtica de Strauss ao autor de A Etica Protestante e o Esprito do Capitalismo acompanha a crtica de Schmitt a Kelsen; est presente nas pginas dedicadas a Hobbes (naturalmente), em particular na atribuio a Hobbes do ttulo de fundador do liberal ismo; est presente nas referncias a Maquiavel (sem surpresa); e (de modo inesperad o) nos pargrafos em que Strauss apresenta uma proposta de soluo para a aparente con fuso a que Aristteles sujeita o direito poltico e o direito natural, em particular quando a concepo de direito natural em Aristteles assimilada, no a proposies gerais a decises concretas, e enquadrada nas situaes de guerra ou outras em que a salva t em risco. O recurso abundante ao contraste entre o estado de excepo e o estado de normalidade, e a ponderao do seu respectivo estatuto ontolgico, so respostas (e per guntas) a Schmitt. Por outro lado, detecta-se a presena de Kojve sempre que Straus s contempla as consequncias finais ou extremas da modernidade, isto , sempre que s e aborda o tema schmittiano da despolitizao, da promessa da paz perptua que exige u m Estado mundial; sempre que Strauss aborda com vigor crtico o desejo moderno mai s ou menos consciente de realizar o.fim da histria e gerar o ltimo homem; e, sobre tudo, quando discute a viabilidade da filosofia em articulao com o historicismo qu e se rev num momento absoluto da histria em que o homem finalmente se torna sbio. P or outras palavras, em todos os momentos mais ou menos hegelianos de Direito Nat ural e Histria, Strauss tem em vista o homem que mais completamente assimilou as teses historicistas, que encarnava a mais bela sntese de Hegel e Heidegger, e que trabalhava activamente no mundo para que a histria humana atingisse o seu desfec ho. Mas Direito Natural e Histria no deve ser lido como uma simples resposta de Straus s aos trs autores mencionados. indubitvel que contm algo a que se pode chamar a res posta de Strauss a Heidegger, a Schmitt e a Kojve, provavelmente por esta ordem d ecrescente de importncia. Contudo, o livro tambm uma forma de homenagem 1995]). O dilogo praticamente continuo entre Strauss e Kojve est documentado no vol ume On Tyranny, eds.-Victor Gourevitch, Michael S. Roth (The Free Press, 1991). O estudo sobre o dilogo de Xenofonte, Hiero, provocara a resposta de Kojve num ensa io intitulado Tirania e Sabedoria., a que seguiu uma rplica de Strauss. O volume t ambm inclui a correspondncia entre ambos os autores. Por fim, recordemos apenas que Kojve mantinha uma correspondncia mais ou menos regular com Schmitt. INTRODUO DO TRADUTOR XXVII e de integrao no pensamento de Strauss daquilo que aprendeu com cada um deles. Nes se aspecto, o prprio ttulo da obra, por exemplo, sugere com elegncia o carcter compl exo da relao intelectual de Strauss com Heidegger. Strauss viu na filosofia de Heidegger a mais poderosa manifestao do intelecto huma
no no sculo XX. Viu em Heidegger algum que confrontou o problema. Mas no deixou de ap ontar filosofia heideggeriana um defeito nem de vislumbrar nela uma ameaa. O defe ito consistia na gritante ausncia do poltico na filosofia de Heidegger. Nem a polti ca, mesmo no sentido mais lato da palavra, nem o domnio poltico, tm alguma correspo ndncia na descrio proposta por Heidegger da estrutura da existncia humana. Tal era s imultaneamente o sintoma e o efeito de uma abordagem algo desadequada aos proble mas humanos. Isso no quer dizer que a filosofia de Heidegger seja absolutamente a poltica, mas to-s que a condio poltica do homem no a objecto de investigao filos ornece um ponto de apoio para perceber a articulao da estrutura da existncia humana e da sua relao com o mundo. Ora Strauss nunca subestimou o lugar do poltico. No seu comentrio crtico a O Conceito do Poltico, Strauss no se inibira de saudar Sch mitt pela sua reafirmao do poltico contra a despolitizao liberal (27) . Mas tambm aler tara que a reafirmao do poltico no podia depender de uma deciso. O poltico desvanecia porque o tipo de alma ou o tipo humano produzido pela crise da modernidade era-lhe fundamentalmente avesso. E sobretudo a reafirmao do poltico requeria um horizonte f ilosfico que transcendesse em muito o pensamento poltico moderno de Hobbes ou de M aquiavel. S regressando a Plato seria possvel recuperar esse horizonte. A abordagem socrtica aparecia como uma alternativa plausvel, at porque a filosofia socrtica sem pre filosofia poltica. Dizer que a filosofia sempre filosofia poltica no significa que a filosofia esteja politizada, nem que esteja ao servio da politica ou da cid ade. A filosofia politizada, a filosofia como arma ou como instrumento apangio da mod ernidade ansiosa por transformar a cidade e at o mundo. Ao contrrio do que por vez es se supe, o retrato invertido da filosofia poltica socrtica no a duvidosa sabe(27) Ver Notes on Gari Schmitt, The Concept of the Political. em Gari Schmitt, Th e Concept of the Political, trad. inglesa J. Harvey Lomax (Chicago: The Universi ty of Chicago Press, 1996), pp. 83-107. XXVIII I DIREITO NATURAL E HISTRIA dona dos sofistas, mas a filosofia politizada que degenera na ideologia. E dizer que a filosofia socrtica politica tambm no se reduz identificao de um objecto de es udo. A filosofia poltica socrtica examina a poltica, isto , uma parte do todo, sem s e fechar ao todo. Significa isso, ento, que a filosofia poltica s possvel uma vez adquirido o conhecimento do todo do qual o poltico uma parte? Talvez no. Porquanto a filosofia poltica procura o conhecimento pleno da esfera poltica, e esta inteir amente inteligvel. E inteiramente inteligvel porque os seus limites, enquanto limite s de uma arte do todo, podem ser ine uivocamente delineados pela investi ao filosfica mesmo na ausncia do conhecimento das outras artes e do todo (2 ). Esta seria uma respos ta possivel. Mas no estar completa se nao for complementada com o que dissemos ant eriormente: a poltica uma parte do todo que no se fecha ao todo, na medida em que os seus elementos naturais, as opinies, apontam para algo que transcende a poltica . Ou, dito de outra maneira, o exame filosfico das opinies que convivem na cidade obrigam o pensamento a transcender o domnio da poltica. Por outro lado, a filosofi a poltica socrtica mantm bem distintas a filosofia e a poltica, ou a cidade, ou a ca verna. Procura estabelecer uma relao entre ambas que preserve tanto quanto possvel as suas respectivas pretenses ou exigncias. Sobretudo, procura estabelecer uma rel ao que proteja uma da outra porque os interesses da filosofia no so necessariamente os mesmos da cidade. Do ponto de vista da cidade, a actividade filosfica, a tentati va de substituir as opinies por conhecimento, o que implica pr essas opinies em que sto, representa sempre uma subverso. Logo, a filosofia poltica socrtica tambm uma def esa poltica da filosofia. Heidegger, ao criticar a fenomenologia de Husserl, propusera o regresso s pragmat a. Segundo Strauss, tal recomendao ignora que as coisawrimeiras so as coisas primeira s para ns, isto , que no esprito da filosofia socrticestigao filosfica comea com as , esses ragmentos ou vestgios da verdade. As_opinies pr-tericas ou r-filosficas s de partida d-a investi ao filosfica porque reflectem a experincia imediata do mundo. Da que a filoso a ten a um caracter po 'tico, porque comea com o confronto e exame das opinies sare as coisas. A filosofia Stewart Umphrey, .Natural Right and Philosophy, The Review of Politics, vol. 3;:n 2: 1, 1991, p. 25.
INTRODUO DO TRADUTOR e visa, ento, substituir de modo gradual ou dialctico as opinies na sua parcialidade e insuficincia elo conhecim----.-ern-ito as c-~ isso a ue esta .1 ectica tem o carcter de uma subida, de uma esca ada ou de uma a scenso: do im erfeito, arcial, confuso, insuficiente para o perfeito, total, claro e pleno. Mas, por esta perspectiva, a ques io fund amental, ou talvez mais rigorosamente, a questo primeira j no ser a suest. -a suesto do direito ou do que justo e bom por natureza, ou talvez at a pergunta como devo viver. al a melhor vid a para o homem?. J a ameaa que a filosofia heideggeriana representava incidia sobre a viabilidade d a filosofia. No plano do diagnstico da falncia da modernidade, Heidegger fora insu bstituvel, mas Strauss tinha srias dvidas quanto s recomendaes do filsofo da Floresta egra para a superao do niilismo e da crise da modernidade. A exortao resoluo, a c om o Erei,gnis, o desprezo pela razoabilidade, no s alimentava extremismos politicos de determinada estirpe, como punha em questo a prpria filosofia. Depois de Heidegger, era a viabi lidade da filosofia entendida como a descoberta e articulao da natureza que estav a posta em causa. Heidegger, ou o historicismo radical, recusava como dogmtica e ocultadiiese ue sustentava sue o todo em si mesmo o todo inteligvel, e sue, como a condio de int eligibilidade reside na permanncia e na imutabilidad o todo inteligvel permanente e imutvel. Se e ara os clssicos ser ser sempre, j a compreenso da historicidade da humana mostra a ue o sutativo todo natural no imutvel transforma-se no tempo , nem nteligvel misterioso e incompleto. Alm disso, dado que a filosofia ressupe um horiz nte absoluto ou natural, a negao da existncia desse horizonte absoluto ou natural t ilosofia no sentido pleno do termo impossvel. O historicismo radical avanava que todos os horizontes so histricos e, por isso, mutv . Mas esses horizontes histricos do pensamento correspondem s vrias cavernas em que a humanidade viveu e viver no futuro. Assim, a prpria ideia de um horizonte absoluto ou natural no passa de uma iluso provocada pela incapacidade ou pela falta de corage m de confrontar a essencial temporalidade da existncia e do pensamento. O historic ismo radical negava filosofia a possibilidade de responder perante si mesma. Por maioria de razo, o historicismo radical negava que houvesse direito natural. Mas, s egundo Strauss, a interpretao heideggeriana da origem da tradio filosfica ocidental, isto , de Plato e do probleXXX DIREITO NATURAL E HISTORIA ma de Scrates, no est isenta de dificuldades. Al-Farabi, o grande filsofo rabe do scul IX, apresentou a Strauss um outro Plato que em aspectos fulcrais divergia do Plato heideggeriano. Foi a leitura de Plato por A l-Farabi que, no esprito de Strauss; lanou as bases do princpio de uma resposta ao desafio de Heidegger. Era como se Strauss fizesse a incrvel admoestao a Heidegger d e que este no lera Plato de forma suficientemente radical, ou que no levara suficie ntemente a srio a possibilidade de regressar a Plato. Tal admoestao era legitimada pelo facto de Strauss estar convicto de que era possve l compreender um autor do passado tal como ele se compreendera a si mesmo, e que na verdade s essa possibilidade, s essa tentativa, nos d a abordagem genuinamente filosfica a um livro antigo. Heidegger, como se sabe, rejeitara explicitamente es sa possibilidade. De resto, regressar a Plato seria perpetuar a tradio metafsica que , segundo Strauss, no pode comear em Plato porque nas suas obras no h uma doutrina me tafsica definitiva e o concomitante esquecimento do Ser. Mas, sobretudo, Strauss ap rende com as Luzes medievais de Maimnides e Al-Farabi e. tambm com um autor to improv el como Lessing a distino entre os ensinamentos exotricos e a mensagem esotrica que coexistem nas grandes obras filosficas, e que s se torna clara ao leitor paciente e genuinamente atento. Essa pacincia e essa ateno s podem provir de um intenso desej o de sabedoria. Por a modernidade tardia ter esquecido a arte da escrita que res ulta de uma reflexo central sobre a relao entre a filosofia e a poltica, as interpre taes da tradio filosfica do Ocidente que gerou eram a vrios ttulos problemticas. Pela sma razo, as vrias concepes de filosofia poltica e das suas tarefas, que decorriam da
s respectivas interpretaes da tradio filosfica ocidental, teriam de ser necessariamen te defeituosas. Todavia, a filosofia poltica moderna nasceu tambm da insatisfao com as inconfundveis concepes da moral e da poltica avanadas pela filosofia poltica clssic . A. sua vontade de construir um mundo diferente, e a crena fundamental na possib ilidade de construir esse mundo -diferente, acarretavam a transformao das condies qu e justificavam a arte da escrita esotrica. A politizao da filosofia e a conciliao da filosofia com a cidade j no se associam com tanta evidncia necessidade do esoterism o, pelo menos quando comparadas com o entendimento clssico que insistia no carcter privado e retirado da actividade filosfica e na essencial perigosidade da relao da filosofia com a cidade. INTRODUO DO TRADUTOR I XXXI A crtica de Strauss ao historicismo radical serve dois propsitos. O primeiro consist e na tentativa de demonstrao de que fi um horizonte no-historicista ou trans-histrico dentro do qual se articulam os problemas fundamentais. Por outras palavras, o p rimeiro propsito visa contradizer a tese da historicidade de todo o pensamento hu mano. Mas o segundo propsito mais dcil para as teses do historicismo radical. Straus s procede a uma espcie-de teste que valide a robustez da sua tese segundo a qual a tarefa da filosofia .consiste na articulao dos <problemas fundamentais e das alter nativas fundamentais. Por outras palavras, Strauss pretende mostrar que o seu ent endimento da filosofia cptica ou zettica resiste crtica do historicismo radical, o q vale por dizer que essa crtica no pode ser ignorada, e que , ou porque , pelo menos em parte, verdadeira. Ao que parece, essa a nica posio filosfica no-historicista, e a t anti-historicista, capaz de resistir crtica do historicismo radical. Para Strauss, a pergunta o que o direito natural? no deve- ser confundida com a per gunta o que a lei natural?. E verdade ue ambas pressupem a ideia de natureza, mas a i deia de natureza foi descoberta_pelos Gregos em contraposio no s a arte, mas princip ente a nomos, isto , a lei ou o costume ou a conveno. Nesse sentido, a concepo de uma lei natural (fomos ts physeos) uma contradio nos prprios termos (29). A descoberta da natureza solicita a procura do direito natural (physei dikaion), ou do que recto ou justo por natureza, ou do que intrinsecamente bom, justo e correcto (30). Convm s ublinhar que a palavra inglesa right muito abrangente, podendo designar direito, c erto, recto, correcto, justo, talvez at bom, assim como wrong designa torto, errado , incorrecto, injusto, talvez at mau. Assinlo que Strauss trauss atribui expresso natural right pode ser traduzido genericamente por direito natural desde que esta expresso seja entendida, no sentido especificamente moderno que indica um conjunto de direitos subjectivos, nem como um sistema fechado de normas morais que se podem inferir de princpios me tafsicos, mas antes como o que de:: (99) Na obra de Plato, a expresso lei natural aparece apenas por duas vezes, e nessa s duas ocasies a expresso nunca designa a ideia socrtica de direito natural. Ver Erne st L Fortin, Augustine, Thomas Aquinas, and the Problem of Natural Law, Collected Essays, ed. Brian J. Benestad (Lanham: Rowman & Littlefield, 1996), vol. II: Cla ssical Christianity and the Political Order. Reflections on the Theological-Poli tical, Problem, p. 200. (3) Strauss, Natural Law, p. 138. DIREITO NATURAL E HISTORIA corre da investigao racional do ue recto ou justo por natureza, ou do que e intrin secamente bom, A confuso da ideia de lei natural com a de direito natural, assim como a confuso entre os vrios sentidos que historicamente se atriburam a esta ltima expresso, constitui um obstculo filosfico de primeira ordem na tarefa de superar o positivismo, o hist oricismo e o relativismo da nossa era. A histria da filosofia poltica europeia, ou , mais rigorosamente, os seus grandes protagonistas foram transformando o sentid o originrio de direito natural. Segundo Strauss, a crise da modernidade ou a crise d o Ocidente exige a recuperao filosfica do sentido originrio de direito natural e, par adoxalmente, constitui uma oportunidade histrica mpar para encetar essa recuperao. Na tural right ou o direito natural tambm mais do ue 'ustia natui----a-Ue o adro com reensivo de tudo o sue e excelente na natureza. O direito natural aponta para mais do que a simples reali
zao da justia, pois h coiss que simplesmente transcendem a ordem da justia, masque ain da se inscrevem na ordem de perfeio do direito natural. E o que perfeito nobre e b elo. Na Retrica, Aristteles diz: Pois bem, o belo (ta haln) o que, sendo prefervel po r si mesmo, digno de louvor; ou o que, sendo bom, agradvel porque bom. E se isto belo, ento a virtude necessariamente bela; pois, sendo boa, digna de louvor. Os act os corajosos, as coisas justas e as obras feitas com justia, enfim, as coisas que so a bsolutamente boas ou que so boas por natureza, so coisas belas (31). Este estetismo da abordagem clssica ao direito natural pode ter sido sacrificado na traduo do /taln gr ego para o honestum latino ao que parece, da responsabilidade de Ccero , mas a tra duo do antnimo foi-lhe fiel: alm de desgraado ou vergonhoso, turpe tambm significa feio (32). A recuperao filosfica do significado clssico de direito natural enfrenta um obstculo r conhecidamente insupervel: a vitria da cincia natural moderna. Afinal, uma iluso pens r que o mundo natural ou pr-cientfico o mesmo mundo em que vi(") Aristteles, Retrica, trad. Portuguesa Manuel Alexandre Jnior, Paulo Farmhouse A lberto, Abel do Nascimento Pena (Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1998), 1366a-b, (32) Ver R.-A. Gouthier, Magnanimit. L'idal de la grandeur dans la philosophie pain ne et dans la thologie chrtienne (Paris: Librairie philosophique Vrin, 1951), p. 7 2; Andrew R. Dyck, A Commentari, on Cicero, De Officiis (A.nn Arbor: The Univers ity of Michigan Press, 1996), p. 69. usto e correcto. INTRODUO DO TRADUTOR vemos. Strauss a rendeu com Husserl e Heide er sue o mundo .1111 em que vivemos desde logo um produto da cincia, ou em todo o caso profundamente a fectado pela existncia da cincia. A cincia natural moderna, por assim dizer, constituiu um universo novo de postu a os e hi pteses que inviabiliza o acesso do homem contemperneo ao mundo da experincia comum. C ombina cro'com os efeitos perniciosos e avassaladores do historicismo e do positiv ismo sobre a mente do homem moderno, esse universo novo acabou por levantar um m uro que ocultou certas experincias simples, mas necessrias para a compreenso natural do mundo, e em particular do mundo das coisas humanas. Por outro lado, o triunfo histrico da cincia natural moderna decisivo porque, numa certa leitura, a filosof ia poltica clssica e a sua reflexo sobre o direito natural dependem de uma concepo te leolgica do universo, e as vtimas mais notrias da cincia natural moderna foram sem dv ida as cosmologias teleolgicas. Porm, nas mos de Strauss a recuperao filosfica do direito natural clssico no revela qu lquer inclinao para a introduo de uma teleologia na articulao do todo. Por um lado, St rauss rejeita a opo moderna pela prioridade do mtodo, ou da epistemologia, e a neut ralidade metafisica. Ambas so destrutivas da ideia de direito natural enquanto ta l. Strauss repudia ainda o compromisso neo-tomista que pode ser descrito como a co nformidade com a derrota da teleologia na investigao sobre o mundo natural a que s e acrescenta a sua reafirmao no caso particular da natureza humana. Strauss indica outro caminho. Apesar do brilho e dos resultados inegveis do poder da cincia natu ral moderna, esta no consegue apresentar uma explicao filosfica aceitvel da natureza como um todo. Esta crtica da cincia natural moderna fora possibilitada pelos resul tados da fenomenologia de Husserl. Ora, se o direito natural clssico no faz sentid o se for separado da cincia de todos os seres, ento a alternativa ser recuperar a int erpretao clssica de natureza. Mas a natureza foi descoberta. Isso significa que antes e se recuRerar a interpretao clssica de natureza, preciso recuperar a ideia originria de filosofia. E preciso recuperar o sentido socrtico de filosofia: a filoso fia saber que na.-6--seTa76-E; o que vare p or dizer sue e o conhecimento do que no s e con ece, ou a tomas a *e conscincia dos roblemas amentais e, ternativas ' seguin e, sas a suas soluoes e icuesao coevas o pensamento humana>. No implica a inteleco das ideias sepa-_ fundame e comandam as
DIREITO NATURAL E HISTRIA radas da matria que constituam o cerne das teses metafisicas da Repblica de Plato. A filosofia procura articular os problemas fimda.mentais, e estes podem ser vistos como a traduo genuna das ideias platnicas na medida em que so permanentes e esto par a-lm de qualquer transformao (33). Na Grcia antiga, os primeiros filsofos descobriram a natureza, mas nela no viram o fu ndamento do direito natural. O primeiro momento filosfico foi o momento do convenc ionalismo. A descoberta da natureza teve como condio inicial o confronto com a auto ridade, ou melhor com os vrios comandos contraditrios - com os vrios cdigos divinos portadores de autoridade. A percepo das vrias vozes contraditrias entre si da autori dade conduziu distino entre a natureza e o que produto da conveno. Essa distin da pela separao entre o que produzido pelo homem e o que independente da aco humana. Em termos polticos, o direito no podia ser natural porque era uma emanao da cidade, e a cidade era produto da conveno. A distino entre natureza e arte e a distino entre tureza e conveno reforaram-se mutuamente. Assim, a natureza era o conjunto a filosofi a o seu estudo. Com a viragem socrtica, a filosofia torna-se na cincia do todo, isto das coisas divinas, das coisas naturais, mas tambm das coisas humanas. O reconhe cimento da heterogeneidade das coisas, ou pelo menos o reconhecimento da heterog eneidade das classes em que as vrias coisas podem ser agrupadas, pressupe que o to do constitudo por partes que podem ser estudadas luz desse todo. No que diz respe ito s coisas humanas, a filosofia sofre uma abertura a essa parte do todo sem com isso se convencer que a investigao dessa parte dispensa o conhecimento articulado do todo. Apo: liticasi-Nuanto t al_ci. a. cidade enquanto tal ou o homem enquanto filosfica devido irretal, podem tornar-se ob'ectos da investi ciutibilidade categorial das coisas humanas. E o meio por excelncia pelos.121 as coisas humanas se revelam de forma mais imediata o conjunto das opinies humanas mais epresentativas,porque toda a opinio se baseia numa tomada de conscincia, numa percepo de qualquer coisa atrav olho da mente. Mais, no esprito da filosofia poltica socrtica s.. 'tica en uan'to tal, e no uma teoriasue indicam o caminho as coisas primeiras, e :Ver Richard Kenningion, Strauss's Natural Right and Histoty., Review of Metaphji sics;. vol 35 ng 1, 1981, pp. 67-68. INTRODUO DO TRADUTOR 1 XXXV tara a compreenso da natureza do homem (34). Como o homem vive na cidade com os o utros homens, a justia fornece o tema das opinies que mais directamente recorrem a algo que aponta para alm da simples conveno. So as opinies humanas acerca da justia mais directamente indicam o caminho do direito natural. Perante a multiplicidad e das vrias leis e dos vrios costumes, perante o pluralismo das leis e costumes qu e reclamam obedincia e proclamam ser a corporizao da justia, os homens procuram um p adro independente dessa multiplicidade que permita avaliar ou julgar essas procla maes. No quer dizer que esse trajecto seja absolutamente linear. As opinies acerca d a justia podem resultar no apelo aos cdigos divinos, mas, como vimos, h diferentes cdi os divinos e nem todos so compatveis entre si. No entanto, uma concepo vivel do direito natural no_p_ocie estar separada da cidade. Por outras palavras, a reflexo sobre a justia,e_que desemboca no direito natural, no ode estar se fenmeno social rimor ia . A perfeio da *usti a no ode estar separada tia justia na cie a. e. or conseguinte, a reflexo sobre a justia e sobre o direito natural no pr escinde da reflexo sobre o me hor regime po itico. ste percurso que par e as pimpe s po iticas sobre a justia, chega a7;--natureza e, ou discusso do melhor regime poltico, s compreendido se acrescentarmos que, a par das opinies sobre a justia, os homens tambii opinies sobre a vida humana em geral. Isto , o p rprio homem forma uma opinio a seu respeito. No de uma forma abstracta ou filosfica, m as prtica. Ao tentar perceber quais so as suas inclinaoes-, quais so os seus propsito omens colocam de uma maneira mais ou menos articulada a pergunta como devo viver?, e que arrasta necessariamente consigo a pergunta qual a melhor vida ara o riomem
?. A reflexo sobre a justia no est desligada da reflexo sobre o homem ou sobre a melho r vida para o homem. Ambas indicam a reflexo sobre o Melhor regime po inco uma palavra, num sentido socrtico, a questo do direito natural no separvel a discusso sobre o melhor r egime ou sobre a cidade ideal, que no outra seno a cidade conforme natureza ou sumamente justa. (>4) Ver Horst Mewes, Leo Strauss and Martin Heidegger: Greek Antiquity and the M eaning of Modernity em Hannah Arendt and Leo Strauss: German Emigrs and American P olitical Thought afier World War II, ed. Peter Graf Kielmansegg, Horst Mewes, El isabeth Glaser-Schmidt (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), pp. 107-10 8. (3') Ver Kennington, Strauss's Natural Right and History, pp. 77-80. DIREITO NATURAL E HISTORIA IV Segundo Strauss, alm do historicismo radical, os outros dois grandes adversrios do d ireito natural so o positivismo e o convencionalismo. Strauss expe tanto quanto possve esses trs adversrios a uma crtica feroz. Contudo, o que resta aps essa crtica, com a possvel excepo da crtica do positivismo, no uma afirmao apologtica do direito natu mas antes uma ilustrativa hesitao quanto ao seu significado. Aqui no ser possvel recu perar a crtica straussiana do convencionalismo. O exame das complexidades que se es condem por detrs do termo convencionalismo levar-nos-ia a exceder os limites deste ensaio introdutrio. Vejamos, ento, rapidamente a crtica de Strauss ao positivismo, qu e tambm e principalmente uma crtica s cincias sociais contemporneas e ao seu grande i nspirador, Ma_x Weber. Feita esta associao, no preciso acrescentar que havia uma gr .o ande distncia entre a imensa considerao intelectual que Strauss tinha por Weber maior cientista social do nosso sculo e a desconfiana que nele suscitavam os profis sionais universitrios das cincias sociais positivistas. A crtica de Strauss ao positivismo, nomeadamente distino entre factos e valores, po de parecer algo datada, j que a denncia das contradies filosficas do positivismo e da dita distino se tornou num exerccio regular. verdade que uma grande parte dos prof issionais das cincias sociais ainda permanece refm dessa iluso, mas no seguramente p or falta de crticas sistemticas e irrefutveis. Mas uma leituramais atenta do captulo onde a obra de Max Weber analisada revela que _Strauss pretende identificar e e xaminar duas premissas e/ou concluses que sustentam e transcendem em importncia a distino entre factos e valores. Podemos designar a primeira tese implcita de Weber como a pluralidade irredutvel e conflituante dos valores ltimos, isto , os diversos valores fundamentais que so objecto de escolha do agente moral so impermeveis razo n que diz respeito sua hierarquizao e justificao; e so incompatveis entre si, o que si nifica que escolher um implica necessariamente rejeitar o (s) outro (s) . Segund o Weber, se a razo for impotente para orientar a escolha desses valores e para os hierarquizar, ento s a distino entre factos -e valores pode salvar a cincia social e nquanto cincia. Ao contrrio da interpretao tradicional segundo a qual a distino entre factos e valores se baseia numa putativa distino entre o ser e o dever-ser, Strauss de monstra que a primeira distino INTRODUO DO TRADUTOR =mi depende da confisso de impotncia da razo para justificar e hierarquizar os valores l timos, ou que impotente para dar a conhecer o dever-ser. Weber tenta, portanto, as sentar a sua ideia de cincia, no numa tese lgica, mas antes numa tese axiolgicao (36). por isso que Strauss diz em Direito Natural e Histria que concluir pela impossibil idade de uma cincia social que pronuncie avaliaes a partir da heterogeneidade radic al do ser e do dever-ser obviamente insustentvel. Se o conhecimento racional do dev er-ser fosse possvel, ento, apesar da heterogeneidade radical do ser e do dever-ser, o dever-ser seria o fundamento do ser, a mesma cincia abrangeria os fins e os meios, independentemente de acedermos a uns e a outros de modos diferentes, o que teria como consequncia que o conhecimento genuno dos fins conduziria naturalmente toda a p rocura dos meios. Mas a opo de Weber pela reduo do problema das escolhas morais aprop riao injustificvel de valores ltimos em confronto incessante apontou na direco do niil ismo. Strauss sugere que o weberianismo niilista ou desliza para o niilismo, pes e embora o homem Max Weber, filho de um certo legado civilizacional que no recuso u, e cujo esprito estava inteiramente dedicado ao ideal cientfico e honestidade int
electual, no o fosse. Por outras palavras, se Max Weber fosse perfeitamente fiel a o weberianismo, ento tambm ele, mais tarde ou mais cedo, teria recado no niilismo. A segunda tese est relacionada com a primeira, e incide sobre o problema provocad o por os valores ltimos serem irreconciliveis. A guerra dos deuses a causa da impossi ilidade de conhecer objectivamente o dever-ser. E, na interpretao de Strauss, em ltim a anlise, Weber foi levado a afirmar que os valores ltimos so irreconciliveis pela s ua preferncia por um mundo (e por uma histria do mundo) essencialmente trgico, em q ue o conflito atravessa, no s as relaes entre os povos e os indivduos, mas tambm o prp io indivduo (37) . Ora, o indivduo s pode ser caracterizado pelo conflito se o props ito da sua aco os valores que serve ou que apropria for a fonte ltima de todos os c onflitos. Em certo sentido, Weber sentiu-se atrado por uma concepo de nobreza que a situava na firmeza resoluta do homem que falha nos seus propsitos e que vtima des se conflito. A admirao pela nobreza na tragdia parecia forar a (") Ver Nasser Behnegar, Leo Strauss's Confrontation with Max Weber: A Search for a Genuine Social Science, The Review of Politics, vol. 59, ng 1, 1997, pp. 102, 106. (") Strauss sugere que a preferncia de Weber reflecte, neste aspecto particular, as suas inclinaes nietzscheanas. DIREITO NATURAL E HISTORIA declarao de que todos os valores ltimos so conflituantes ou a vaticinao da omnipresena do trgico. Mas, em ltima anlise, a afirmao de que os valores so irreconciliveis decorr da constatao da impotncia da razo perante a proposta religiosa, isto , perante a exp licao religiosa do mundo, perante a explicao religiosa do sentido da vida, perante a proposta religiosa de resposta pergunta como devo viver?, ou qual a melhor vida pa ra o homem?. Dito de outra maneira, a afirmao da incomensurabilidade dos valores de corre do reconhecimento da impotncia da razo para justificar a vida do cientista. Segundo Strauss, esta confrontao no transparece facilinente do texto de Weber. No e ntanto, a anlise da famosa exposio das duas ticas, a da convico e a da responsabilid ostra que a primeira tica corresponde, na realidade, a uma interpretao particular d a tica crist. O aprofundamento do problema faz-nos perceber que o que subjaz ao con flito entre as duas ticas o conflito entre a tica intramundana e a tica supramundan a (38). Quando este conflito se concretiza na oposio de dois modos de existncia, a s aber, a do crente fiel uma vida de amor obediente e a do cientista - uma vida de in teleco livre , assistimos a uma aproximao de Strauss s preocupaes de Weber, especial porque este no cedeu tentao de efectuar uma sntese desses dois opostos; pelo contrri o, pode-se dizer at que exagerou essa oposio. Mas a razo no consegue desempatar a con tradio. Do ponto de vista do cientista, do ponto de vista de Weber, essa admisso eq uivale a uma confisso de derrota, pois significa que a razo cientfica no consegue de monstrar a superioridade da cincia, no consegue refutar de uma vez por todas a pos sibilidade de a verdade s estar acessvel na palavra revelada por Deus, no consegue justificar a escolha do ideal cientfico da procura e valorizao da verdade estritamente racional. O fundamento da deciso pela cincia parece no ser mai s do que a prpria deciso. A experincia de Weber era a de algum cuja dedicao ao ideal cientfico era literalmente inquestionvel e q ue, ao mesmo tempo, estava consciente que o ideal cientfico propulsor da civilizao moderna intramundana roubara ao esprito humano a vitalidade existencial que a rel igio, de um modo ou e outro, sempre fornecera. O impasse de Weber um dos meios usados por Strauss para introuzit min dos seus t emas de eleio: o problema teolgico-politico. (") Behnegar, Leo Strauss's Confrontation with Max Weper , p. 113. INTRODUO DO TRADUTOR I XXXIX Enquanto articulao de alternativas fundamentais, o roblema t~2.zpoltico condensa uma tenso essencial. Nenhuma alternativa mais fundamental do que esta: a orientao human a ou a orientao divina. Em termos concretos, essa tenso explica-se pelo facto de a f ilosofia e da religio da revelao constiturem dois chamamentos diferentes e inconciliv eis: de um lado, a vida de inteleco livre, do outro, a vida de amor obediente (39 ma reconsiderao sria do problema teolgico-poltico supe a crtica da modernidade. A afir ao pode parecer excessiva, mas a filosofia poltica especificamente moderna, a filos ofia politica de um Hobbes ou de um Espinosa, julga ter refutado definitivamente
a pretenso da f, ou a alternativa para a vida humana e para a organizao das socieda des assente na revelao. Por outras palavras, a filosofia poltica de um Hobbes ou de um Espinosa, bem como dos seus mltiplos sucessores, julga ter posto fim ao probl ema teolgico--poltico, julga ter alcanado uma soluo que, no sendo sinttica nem concili dora, mas supressora de uma das partes do problema, se apresenta como definitiva . Foi essa presuntiva confiana que perpassou para o sculo do Iluminismo e saciou a paixo antiteolgica. Porm, Strauss, pelo menos desde seu estudo sobre Espinosa, compr eendeu que a filosofia moderna no conseguira refutar definitivamente a proposta t eolgica. Na verdade, nem mesmo as suas armas mais poderosas, isto , nem mesmo o es tudo crtico do texto bblico e a crtica da autenticidade dos milagres conseguem derr otar as pretenses da f e devolv-las degradante categoria de superstio. O insucesso se ria de certo modo previsvel, pois a vitria da filosofia sobre a teologia, ou da ra zo sobre a f, s possvel se a razo humana conceber um sistema total e completo de expl icao da realidade, e de todas as manifestaes da realidade, que no tenha outra fonte s eno a prpria razo. Que a modernidade no logrou tal sistema racional era, para Straus s, uma evidncia. Logo, para invocar uma imagem que Strauss no se cansava de repeti r,j=alm.no foi destrt__cpla or Atenas. E de certa forma esse insucesso resultou do facto de a razo moderna no ter compreendido inteiramente a natureza do adversrio qu e procurava aniquilar. A ortodoxia religiosa nunca defendeu que os recursos huma nos seriam suficientes para conhecer (99) A .vida de amor obediente a formulao que encontramos em Direito Natural e Histr ia. Mas noutras obras, Strauss parece querer radicar esse amor no medo ou no rev erente temor a Deus, que lhe anterior. DIREITO NATURAL E HISTORIA totalmente Deus, a Sua vontade, os Seus desgnios e os Seus modos de operar. A f ve m em socorro da razo precisamente porque a razo insuficiente (40). Da que todas as crticas de Hobbes ou de Espinosa pudessem cair nesse buraco escuro do mistrio que envolve Deus e a Sua criao. Perante a sua impotncia, .e no enjeitando a misso civiliz adora de salvar a Humanidade do.reino das trevas, a filosofia moderna recorreu nica arma que restava no seu arsenal: o escrnio e a ridicularizao. Ora o escrnio e a ridicularizao podem ser eficazes na persuaso dos espritos vulgares, mas no substituem o debate filosfico. At porque, reduzida a esse papel impotente, e diante da permanncia da alternativa que tem a sua cidade em Jerusalm, a filosofi a tem de questionar a sua prpria justificao. Se no consegue afirmar a sua superiorid ade em relao religio da revelao, j que a no refuta, como pode ento justificar-se a sma? Qual o fundamento da escolha pela vida da razo em detrimento da vida da f? Um a convico moral que a razo n determina, nem explica? Um salto de f? Mas, como Strauss em vrias ocasies reafirmou, a escolha pela filosofia baseada numa convico moral pr-r acional ou num salto de f no uma escolha filosfica. A filosofia fundada na f no filo ofia. A identificao mais profunda do problema teolgico-poltico parece conduzir vitria da ortodoxia e derrota da filosofia. As dificuldades daSlosofia em se justifica r a si mesma perante o desafio, da religio revelada atingem a escolha filosfica pe la filosofia no seu .cora.9., Diante deste dilema, a tentao seria resolv-lo ao mod o decisionista. Porque se verdade que a questo do direito natural pode permanecer em aberto, j a mesma suspenso de julgamento no aceitvel quando se confronta a questo porqu a filosofia?. Porm, essa soluo decisionista seria contraditria com todas as cr as que Strauss desferiu s diversas formas de decisionisrno, tanto . sua expresso ma is evidente no caso de Carl Schmitt, como na escolha de valores ltimos em Weber o u da apologia da resoluo em Heidegger. Strauss sabe que a possibilidade da filosofia d ela filosofia (41). epende em absoluto da "ustificao uramente racional da escolha Seja como for, Strauss reconhece que em certos aspectos a filosofia (40) Comparar com Maimnides, Le guide des gars, trad. francesa Salomon Munk (Paris: Editions Verdier, 1979), I, 31. (41) Sobre a estratgia bifurcada que Strauss adopta para lidar com este problema, ver Heinrich Meier, Leo Strauss and the Theologico-Political Problem, trad. ing lesa Marcus Brainard (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), pp. 23-28. INTRODUO DO TRADUTOR (grega) e a religio bblica esto de acordo, como, por exemplo, a importncia da justia e de outras virtudes morais (no todas, basta pensar na magnanimidade e na humilda de), ou a necessidade da disciplina moral exterior vontade individual por oposio r
aiz essencialmente subjectiva da filosofia moral moderna. Mas o problema teolgico -poltico no seria um problema se a rea de concordncia esmagasse os pontos de discordn cia. E o ponto de discordncia diz r-espeito fundamentalmente as respostas diferentes ue Atenas e erusalm inscrevem nos seus respectivos portes a pergunta co...1a1L. melhor vida para o homem?. Em Atenas vive-se para a investigao livre, ara a satisfao do dese o ertico elo conhe cimento, na conscincia orgulhosa da perfeio da excelncia humana e das capacidades da razo humana; em Jerusalm, vive-se na obedincia lei divina, aos mandamentos de Deu s e Sua vontade, vive-se na gratido reverente pela graa de Deus, vive-se no medo d e despertar a ira do Criador, na conscincia culposa do pecado que o homem jamais sacudir. Uma no reconhece outro princpio de or dem seno a natureza; a outra atribui toda a autoridade Lei (divina). Ambas reclamam para si a secrj-d-a verdadeira sa bedoria. Mas remetem o princpi22...dessa_s_a_PEOtta para experincias radicalmente d iferentes. Em Atenas, o princpio da sabedoria o essanto; em Jerusalm, o medo do Senhor (4). uem procura a sabedoria rado a optar. E assim que Strauss retrata as duas cidades. No quer estabelecer pon tes entre as duas na tentativa pouco recomendvel de as fundir na mesma cosmopo/is . Quer que as duas cidades permaneam de p, desafiando-se uma outra, pra que a tenso entre ambas -- e que a tenso entre as mais abrangentes e mais profundas de todas as experincias humanas permanea, para que a sua disputa pela alma humana prossiga. e sse o segredo da vitalidade do Ocidente. Portanto, vale a pena prestar ateno s crticas que Strauss desferiu aos trs grandes ad versrios da ideia de direito natural pela sua profundidade e fecundidade. Mas nec essrio chamar a ateno para uma evidncia: a crtica (bem sucedida) da crtica de uma outr a tese ou doutrina no suficiente para a pr a salvo, nem para a certificar como ver dadeira. Para que a tese seja verdadeira, isto , para que (42) Strauss, <jerusalem and Athens: Some Preliminary Reflections em Susan Orr, J erusalem and Athens: Reason and Revelation in the Works of Leo Strauss (Lanham: Rowman 8c Littlefleld, 1994), p. 182. Ver Daniel Tanguay, Leo Strauss, pp. 301-3 21. xuI DIREITO NATURAL E HISTRIA haja direito natural preciso que seja conhecvel pela razo humana. Por outras palav ras, quando a filosofia coloca o problema do direito natural - um dos problemas f undamentais - tem de responder cabalmente. Mas Strauss por vrias ocasies declarou q ue no podemos aspirar a mais do que a uma articulao completa do problema, j que no p lano das solues a esse mesmo problema, desde que se trate de um problema fundamenta l, a razo humana no pode dar uma resposta definitiva. A razo humana pode descobrir a s vrias solues fundamentais, mas o cepticismo de Strauss, ou, mais rigorosamente, o s eu zeteticismo, impedem-no de afirmar que podemos com inteira confiana e racionalid ade escolher uma dessas solues em detrimento das restantes. A tarefa da filosofia , portanto, o conhecimento ou a conscincia reflectida dos prOblemas fundamentais e das alternativas fundamentais que os acompanham. Mas a sabedoria, que seria equivale nte ao conhecimento de qual dentre as alterriativas fundamentais a alternativa c erta ou boa, escapa-se-nos semre. Se o direito natural for um desses roblemas fundamentais, .tal deixa a resposta de Strauss quanto escolha da doutrina do direito n-atural vrias sue se erfilam como funda'mentais com um estatuto aparentemente provisrio e precrio.. Stress jueria evitar o dois ,o_eIecisionismo. A sua atitude , ento, descrita por ele prprio como um ce tic ismo zettico, nao absolutista e no relativista. Strauss escreve em Direito Nata-. ra l e Histria: A sabedoria socrtica o conhecimento de si mesmo; 'o conhecimento da su a prpria ignorncia. Trata-se, portanto, de uma espcie de cepticismo, um 'cepticismo involuntrio', mas que . no perigoso. H ificuldade natural em enxergar com clareza a melhor de todas as solues fundamentais. Mas, noutro lugar, .Strauss acrescenta que impossvel pensar. sobre estes problema s -Sem nos inclinarmos para uma sluo, para uma ou para outra do :conjunto muito res trito de solues tpicas.. Enquanto a filosofia no se realizar na plenitude da sabedori a, en uanto a filosofia for a nas .amOr da sabedoria, e no sinnima de sabedoria, a e
vidncia de iit0ClaSTs -solues necessariamente menor do que a evidncia dos (::__twfp_e_n_qi to filsofdisciplina a sua refern. orlirria ou por outra soluo luz do carcter roblemtico .0kfflOma so uao. O filsofo no e um sectrio, nem um ide& .e1ontudo, Strauss no preten com isto afastar o filsofo das .ii'oes.Para os problemas. A conscincia dos problem as enquanto 01as...implica conhecimento das solues enquanto solues: INTRODUO DO TRADUTOR 1 XLIII E esse duplo conhecimento no decorre sob a batuta estril e enganadora da distino pos itivista entre factos e valores. Uma filosofia que quisesse libertar-se do perigo de sucumbir s atraces das solues acabaria por degenerar num jogo de palavras, sem ca idade para realmente conhecer, nem importncia efectiva na vida dos homens. das perguntas que a filosofia coloca no se com adece com a simples articulao das po ssveis solues. Essas perguntas carecem de uma resposta. Ao colocar essas perguntas a filosofia, ou o filsofo, no podem querer isentar-se da responsabilidade de auxil iar ou esclarecer a deciso. No s a- filosofia estaria destituda de valor pratico, como em ltima anlise seria incapaz de se justificar a si mesma (43) . Compreende-se, ento, que quem leia Direito Natural e Histria ansioso por encontrar uma defesa apologtica do direito natural se impaciente com a dificuldade em enco ntrar no livro uma resposta clara e inequvoca pergunta o que o direito natural?. Em Direito Natural e Histria essa no certamente a nica pergunta que condiciona a estr utura e os contedos da obra. No a nica pergunta que aponta para um problema fundamen tal.. Mas o direito natural um problema poltico fundamental. Portanto, um dos objec tivos da obra articular a questo do direito natural enquanto problema. Todavia, o leitor ansioso por encontrar uma defesa do direito natural procura tambm uma res posta pergunta o que o direito natural?, ou pelo menos as alternativas fundamentais de resposta a essa pergunta, e no a sua mera problematizao. Logo no incio do livro, Strauss deixa um aviso a esse leitor: Estejamos alerta para o perigo -de prossegu ir um objectivo socrtico com os meios, e o temperamento, de Trasmaco, A procura da ou distanciam verdade exige conteno das inclinaes pr-filosficas, morais ou polticas arcialidade Or (45) Strauss, Restatement on Xenophon's Hiero. em On Tyranny, p. 196. Ver Um-. ph rey, Natural Right and Philosophy., pp. 19-22. a se dedica. A vida dedicada procura da sabedoria relativiza todo o tipo de ligaes . O filsofo s partidrio da excelncia. Mas Strauss no se limitava a recomendar austeri dade emocional. Strauss podia at nutrir uma certa simpatia por sentimentos to favo rveis existncia e necessidade do direito natural. Mas alertava para a possibilidad e de o resultado da investigao ser decepcionante. Afinal, a utilidade e a verdade so duas coisas inteiramente diferentes. arte e uem a e DIREITO NATURAL E HISTRIA Tentar perceber a resposta pergunta o que o direito natural? obriga o leitor a aco mpanhar cuidadosamente todos os passos do autor. Poder-se-ia pensar que as altern ativas ou solues fundamentais so efectivamente apresentadas por .Strauss sob a forma d dualismo direito natural clssico / direito natural moderno. Mas como vrios leitores competentes perceberam, esse dualismo no pode constituir a articulao das alternativ as fundamentais porque a filosofia demonstra definitivamente a superioridade do p rimeiro sobre o segundo , e no preciso ser um leitor muito competente para compree nder que precisamente essa demonstrao constitui um dos objectivos de Direito Natur al e Histria. No entanto, na tentativa de perceber o problema na sua globalidade no se pode secundarizar a querela entre os antigos e os modernos, porque indubitvel que mantm, pelo menos no plano da discusso do direito natural, a sua centralidade ou o seu carcter fundamental. Pelo prisma do direito natural ou da justia natural, a diferena de abordagem torna-se perfeitamente visvel apesar da semelhana na terminologia. A justia no , conIowls,Ra or exemplo, pura e simplesmente a :"<virtude primeira das instituies sociais (44). A *usti a co
rres e onde ordem recta da cidade e e a alma humana', como se aprende na Repblica de Plato. E, por isso, simultaneamente cvica e psiquica, poltica e humana. Na pas direito natural clssico para o direito natural moderno assistiu-se substituio de um a concepo global de justia por uma concepo parcial: a justia passou a ser exclusivamen te cvica e poltica. Mas, uma vez mais, temos a demonstrao filosfica da superioridade ma alternativa relativamente a outra.A. concepo parcialde'usados modernos conduziu negao do direito natu 1 sue e or sua vez e na sua verso moderna, conduz ao niilismo (45). No entanto, o objectivo filosfico principal de Strauss no-pode ser deslignlo da questo do direito natural, at porque a clarificao da questo do direi to natural enquanto problema convida a algumas respostas mais coerentes e verdad eiras do que outras, mesmo que no sejam mais do que boas hipteses. E convm no esquec er a atitude responsvel que o filsofo assume em relao sua comunidade. questo do direi to natural mais do que uma questo filosfica (41) John Rawls, Uma Teoria da Justia, trad. portuguesa Carlos Pinto Correia (Lis -_:- Editorial Presena, 1993), p. 27. () l3rnphrey,<Natural Right and Philosophy , pp. 27-28. INTRODUO DO TRADUTOR ou abstracta; uma questo .rtica ou oltica de nmeira ordem, e o domnio da prtica ou da poltica no tolera as perplexidades e as aporias prpr ias da dialctica filosfica. Talvez na abordagem de Strauss ao problema do direito natural encontremos algo de anlogo dupla abordagem de Rousseau s religies, que na sua opinio, e seguindo uma longa linhagem intelectual, podiam ser analisadas politicame nte, isto , segundo os seus efeitos temporais, morais e politicos, e tambm de acordo com critrios de autenticidade e inautenticida de (46). Por outras palavras, talvez se possa dizer que em Strauss deparamo-nos com as hesitaes que resultam do seu cepticismo zetetico, e, por conseguinte, deparamo-nos com a ausncia e emonstrao filosfica c abal da existncia do direito natural e dos seus contedos, e ao mesmo tempo com uma postura poltica de ireito natural moderno e o seu pro u uto eventual, o niilismo , mesmo que resistentes a uma refutao filosfica definitiva, geram males polticos que so inquestionveis, ou pelo menos criam as condies para a multiplicao de males que pro vocam o definhamento da nobreza humana. Tanto a exigncia filosfica como a responsa bilidade poltica inclinam-nos para uma certa alternativa, a sai er, a oso a poli ca clssica e a concepo do direito natural que lhe esta'-----a-sWaada. Mas esta possibilidade parece criar mais perplexidades do que as que resolve. Da discusso de Strauss podemos pelo menos retirar a concluso de que a concepo moderna do direito natural insustentvel. Segundo a dualidade apresentada, resta o direito natural clssico. Porm, o direito natural clssico no uniforme. Ou melhor, a concepo c sica do direito natural indica duas solues bem distintas. A filosofia poltica clssic a sePara o filsofo dos demais tipos humanos o poltico, o religioso, o hedonista, o cidado comum, etc.. No quer dizer que os restantes tipos humanos sejam indiferenc iados. Mas, tendo em conta o aspecto mais decisivo, a humanidade pode ser dividi da em filsofos e no filsofos. Isso parece implicar que o direito natural no ser exact amente o mesmo para as duas partes da humanidade. Ou dito de outra maneira: a na tureza prescreve regras ou normas diferentes consoante o tipo humano ou o modo d e existncia. Uma vida orientada para a sabedoria (filosofia) diferente de uma vid a orientada para a justia (cidade). Segundo (46) Rousseau, Du Contract Social, INT.8. Ver a critica de Agostinho de Hipona a Varro em A Cidade de Deus, W.22, 31-32; VI.2-7. XLVI I DIREITO NATURAL E HISTRIA a interpretao straussiana da filosofia poltica clssica, esta diferena explica-se pelo facto de a sabedoria no depender da justia. Por conseguinte, os preceitos que reg ulam a vida dedicada procura da sabedoria sero diferentes dos preceitos que regul am a vida dedicada justia, a rainha das virtudes morais. E Strauss no deixa muitas dv idas sobre o modo de existncia que permite o exerccio da virtude genuna, nem onde res idem as virtudes vulgares. Isso no equivalente a dizer que o filsofo despreza as vir tudes vulgares. Pelo contrrio, o exerccio dessas virtudes uma excelente preparao para
o exerccio das virtudes intelectuais. Mas no deixa de ser verdade que tm um estatut o meramente instrumental ou de convenincia(47): s uma coisa necessria. A_ fi_. osofia no faz promessas que no ode cumprir. Seguindo o exemplo de Scrates, tal como descrito na Apologia de Scrates de Plato, o filsofo tem uma nica convic o: a de ue uma vida no examin a nao va e a pena s r vivida. E isso indicia, desde logo, uma WOTha, a escolha pela filosofia, a es colha por uma vida sem promessas. Mas, quando entendida como um modo de vida, a filosofia afinal reserva uma promessa, uma nica promessa, para as almas que se en tregam vida do saber. A fora ou a energia vital que arrasta o filsofo para a conte mplao de todos os seres o eros. A satfiWo 'do eros ou da inclinao ertica mais sublime da alma , se lcito diz-lo, a causa do prazer mais perfeito e da felicidade mais pro funda neste mundo. A procura da sabedoria o caminho. Para Strauss no h outro bem m ais apetecvel. Apesar da sua elevao ou nobreza, [a filosofia] poderia parecer sisfica ou feia, quando se contrasta os seus resultados com os seus objectivos. Porm, a filosofia necessariamente acompanhada, sustentada e elevada pelo eros. agraciada pela graa da natureza (48) . MIGUEL MORGADO (4.7) Ver Victor Gourevitch, The Problem of Natural Righ(and the Fundamental Alte rnatives In Natural Right and Histozy. em The Crisis of Liberal Democracy: a Str atts,sion Perspective, eds. Kenneth L. Deutsch, Walter Soffer (Albany: State Uni versity of N'e.(v York Press, 1987), pp:39-43. , Strauss, What is Political Philosophy?. em Introduction to Political Philoso'hy:" Tett Essays by Leo Strauss, ed. Hilail Gildin (Detroit: Wayne State University P ress, 989)"; ' Direito Natural e Histria Havia dois homens numa cidade; um era rico, e o outro era pobre. O homem rico ti nha muitssimas manadas e rebanhos. Mas o homem pobre no tinha mais nada alm de uma ovelhinha, que comprara e criara: e a ovelhinha cresceu com ele e com os seus fi lhos: comia da sua carne e bebia da sua taa, e dormia no seu colo, e era para ele como uma filha. Depois chegou um viajante para visitar o homem rico, e este no q uis tomar nenhuma das suas ovelhas nem das suas vacas para servir o viajante que o visitava; mas apoderou-se da ()velhinha do homem pobre e preparou-a para o ho mem que o visitava. Nabot, o Jezraelita possua uma vinha em Jezrael, perto do palcio de Acab, rei da S amaria. Acab falou a Nabot, dizendo, Entrega-me a tua vinha, que vou transform-la em poma n porque est perto da minha casa; e dar-te-ei uma vinha melhor, ou, se p referires, pagarei o seu valor em dinheiro. E Nabot disse a Acab, O Senhor probeme de te dar a herana dos meus pais. P{D" iir-Ari c4-->cati ',ri- (-e, impvtf." tA, -'0.441 Y1.1 dte."-)n L4 ... Irt.V Introduo apropriado, por razes que excedem aquela que a mais evidente, que abra esta srie d e Palestras Charles R. Walgreen com uma citao da Declarao da Independncia. A passagem tem sido frequentemente citada, mas, a .sua fora e a sua elevao tornaram-na imune degradao de uma familiaridade excessiva que gera des)prezo e de uma utilizao abusiva que gera averso. Consideramos que estas verdades so auto-evidentes, que todos os homens so criatuasiguals2.22,22221,22josui2 pelTrcir _e..i.tos ...1w....is,entr.e..2Laais esto, o direito avidai_a. liberdade e a pros secuo da felicidade. A nao que se -d-eaicou a esta fifo-Po-slUo707'nou-se hoje, sem d rvida em parte como consequncia desta dedicao, na mais poderosa e prspera de todas a s naes da terra. Mas ser que esta nao na sua maturidade ainda acarinha a f com que foi concebida e em que foi criada? Ser que ainda considera aquelas verdades auto-evid entes? H cerca de uma gerao, um diplomata americano ainda podia dizer que a fundao nat ral e divina dos direitos do homem (...) auto-evidente ara todos os Americanos. P or volta da mesma altura, um erudito alemo ainda podia descrever a diferena ntre o
pensamento alemo e o da Europa oduen-fg e dos Estados Unidos dizendo qe Ocidente a inda atribua uma importncia decisiva ao direito natural, enquanto na Alemanha os p rprios termos direito natural e humanidade tornaram-se hoje quase inompreensveis (... perderam por completo a sua vida e cor originrias. Ao abandonar a ideia de direit o natural e porque a 4 1 4 DIREITO NATURAL E HISTRIA abandonou, continuava ele, o pensamento alemo criou o sentido histrico, e assim cam inhou eventualmente para o relativismo sem reservas (') . O que era uma descrio ra zoavelmen-re-p- ens-----amento alemo h vinte e sete anos parecia ser agora aplicvel ao pensamento ocidental em geral. No seria a primeira vez que uma nao, derrotada n o campo de batalha, e, por assim dizer, aniquilada enquanto ser poltico, privaria os seus conquistadores do fruto mais sublime da vitria ao impor-lhes o jugo do s eu prprio pensamento. Se'a ual for o ensamento do povo Americano, no h dvida . ue a dilade, am a po e ia ser descrita como caracterstica do ensame to alemo. maioria dos eruditos que ainda sustenta os princpios da Declarao da Independncia interpreta-os, no como expresso do direito natural, mas como um ideal, se no mesmo como uma ideol ogia ou como um mito. A cincia social americana dos nossos dias, excluindo a cinci a social catlica romana, dedica-se proposio segundo a qual todos os homens so dotado s pelo processo evolucionrio ou por um destino misterioso de muitos tipos de anse ios e aspiraes, mas no certamente de qualquer direito natural. No entanto, a necessidade do direito natural to evidente ho'e como foi durante sculos e at milnios. Re'eitar o direito natural e uivalente a izer sue todo o direito ositivo, e isso si ifica ue o eito determinado exclusivamente elos le sladores e elos tribunais dos diversos p ases. ra e evidente que faz sentido, e que por vezes e mesmo necessano, alar de l eis in'ustas ou de decises in'ustas. Ao fazermos tais julgamentos, tornamos im lcito ue existe um pa22.:clek2Sase miui ceindependente do direito2ositIvo e_Clue lhe superior. Hoje, muitas pessoas mantm a opinio de que ci-FrdrZ em questo , na melhor das hipteses, no mais do que um ideal que a nossa sociedade ou a nossa civilizao adoptaram e incorporaram no seu modo de v ida ou nas suas instituies. Mas, segundo a mesma opinio, todas as sociedades tm os s eus ideais, e isso vale tanto para as sociedades canibais como para as sociedade s civilizadas. Se os princpios so suficientemente justificados pelo facto de serem aceites oruma soae a. e, os pnnapios o cani . sino s.. tao efensveis ou .<.,Erns't Troeltsch on Natural Law and Humanity. em Otto Gierke, Natura l Law and the'Thibry orSociety, traduzido com uma introduo de Ernest Barker, I (Ga m'131 idge:-:"Carnbricige University Press, 1934), pp. 201-222. cincia social amencan mesma atitude em rela ao ao a e COM era h ao atras uma ue reito natural INTRODUO to vlidos como os da vida civilizada. Deste ponto de vista, os primeiros seguramen te no podem ser rejeitados como maus princpios. E, como o ideal da nossa sociedade assumidamente mutvel, nada alm de um \ hbito inerte e cansado nos impedir de aceitar com serenidade uma mudana de direco rum o ao canibalismo. Se no houver um padro superior ao ideal da nossa sociedade, somo s totalmente incapazes de adquirir uma distncia crtica em relao a esse ideal. Mas o simples facto de sodermos levantar a .uesto do valor do ideal da nossa-sociedade
)mostra que h algo no home2.22.252.55:12.45.escraam escravizado ela sua so cra= ortanto s a azes de = e or isso .obri gados a rocurar um adro ue nos ermita julgew jaajdanossa sociedade assim como de qu quer outra. Esse padro no se encontra nas necess="rs Mr-ffl ireTsles, pois as soci edades e os seus componentes tm muitas necessidades que conflituarn entre si: sur ge o problema das prioridades. O problema no pode ser resolvido de uma maneira ra cional se no tivermos um padro que nos permita distinguir entre necessidades genuna s e necessidades imaginrias, e discernir a hierarquia dos vrios tipos de necessida des genunas. O problema colocado pelas necessidades conflituantes da sociedade no pode ser resolvido se no tivermos conhecimento do direito natural. Pareceria, ento, que a rejeio do direito natural conduziria inexoravelmente a consequncias desastrosas. E bvio que as consequncias que se consideram desastrosas por muitos homens e at por alguns dos mais vociferantes opositores do direito natural resultam efectivamente da rejeio contempornea do direito natural. A nossa cincia social pode tornar-nos muito sbios ou engenhosos na procura dos meios neces srios para os vriosmosesco: lher. Mas reconhece ausii./25.22a.z d wos...ajud ar a discriminar entre ob'ectivos le "timos e ilegtimos, justos e injustOrtrinT"Crgicr aMeTZs no mais do ue mstrumenta : nasce ara servir todos os oderes e todos os in teresses, quaisquer que e es se'am. O que Maquiavel fez na aparncia, a nossa cien cia social faria efectivamente se no preferisse s Deus saber porqu o liberalismo gen eroso coerncia: designadamente aconselhar tiranos e povos livres com a mesma comp etncia e entusiasmo (2). Segundo a nossa cincia social, podemos (2) No tem sentido a afirmao de que no despotismo no existe uma ordem juridical e s im pera o capricho do dposta (...) mesmo o Estado mais desptico constitui uma ordem d a conduta humana (...). O que se chama arbitrrio, no era mais do que a possibilida de jurdica de reter toda a deciso, de determinar livremente a actividade dos rgos in feriores, e de suspender ou modificar, por inteiro ou em parte, C.41' ^N".. 6 DIREITO NATURAL E HISTRIA ser, ou podemos vir a ser, sbios em todas as matrias de importncia secundria, mas te mos de rios resignar mais completa ignorncia no que diz respeito ao tema mais imp ortante: no podemos ter qualquer conhecimento acerca dos princpios ltimos das nossa s escolhas, isto , acerca da sua sensatez ou insensatez; os nossos princpios ltimos no tm outra sustentao alm das nossas preferncias arbitrrias e, por isso, cegas. Estam s, ento, na posio de seres que so sbrios e sensatos quando se trata de questes triviai s e que jogam como loucos quando so confrontados com questes srias sensatez a retal ho e alm das nossas referncias ce as tudo o sue al um estiver disnatura pesar de tudo, os liberais generosos vem o abandono do direito natural no s com serenidade, mas com alvio. Parecem acreditar que a nossa incapa cidade de adquirir um conhecimento genuno do que intrinsecamente bom ou justo fora -nos a tolerar todas as opinies sobre o bem ou o justo ou a reconhecer como igual mente respeitveis todas as preferncias ou todas as civilizaes. S a tolerncia ilimitad st de acordo com a razo. Mas isso leva admisso do direito racional ou natural de to da a preferncia que tolera as outras preferncias ou, para nos exprimirmos de forma negativa, de um direito racional ou natural de rejeitar ou condenar todas as po sies intolerantes ou absolutistas. Estas tm de ser condenadas porque se baseiam numa premissa a de que os homens podem saber o que o bem cuja falsidade demonstrvel. P or detrs da rejeio apaixonada de todos os absolutos, discernimos o reconhecimento de um direito natural, ou mais exactamente, de uma interpretao particular do direito natural segundo a qual a nica coisa necessria o respeito pela diversidade ou pela individualidade. Mas h uma tenso entre o respeito pela diversidade, ou pela indivi dualidade, e o reconhecimento do direito natural. Quando os liberais perderam a pacincia com os limites absolutos diversidade, ou individualidade, que so 1 loucura a grosso. Se os 1-...,10,-In_dpils...e.p._21.21.23.2.2...eut.522.2.2 os to a ousar ser permissvel. A re eio contem oranea do direito con.uzao mais
niilismo dntica ao niilismo. e em qualquer momento, as normas por ele criadas. Este Estado um Estado de Direi () inesrrio que o julguemos inconveniente ou prejudicial. Mas tambm tem algumas v aiiagens: o que se demonstra claramente com a invocao frequente da ditadura no _41o ; de Direito moderno (Hans Kelsen, Algemeine Staatslehre [Berlim, 1925], pp. 3514330):.:Como Kelsen no mudou a sua atitude em matria de direito natural, no eirO,:P .erCeber por que que omitiu este passo instrutivo da traduo inglesa (Gene?y..pj:La rt').and State [Cambridge: Harvard University Press, 1949], p. 300). INTRODUO 7 impostos at pela verso mais liberal do direito natural, tiveram de fazer urna esco lha entre o direito natural e o cultivo sem inibies da individualidade. Optaram pe la segunda soluo. Assim que se deu este passo, a tolerncia a areceu como um valor ou um ideal entre muitos va ores ou ideais, e no corno intrinsecamente seu contrrio. Por outras palavras, a intolerncia apareceu como um valor igual em d ignidade tolerncia. Mas praticamente impossvel ararmos na igualdade de todas as sr eferncjas ou escolhas. Se o estatuto a esigual das escolhas no pode ser relacionad o com o estatuto desigual dos seus objectivos, ento preciso relacion-lo com o esta tuto desigual dos actos de escolha; e isso significa eventualmente que a escolha genuna, por contraposio escolha espria ou abjecta, no mais do que a deciso resoluta ou infinitamente sria. Contudo, tal deciso tem mais afinidades com a intolerncia do que com a tolerncia. O rela tivismo liberal tem a sua raiz na tradio tolerante do direito natural ou na noo de que cada um tem um direito natural prossecuo da feli cidade tal como ele a entende; mas, em si mesmo, e um seminrio de intolerncia. Assim que percebemos que os princpios das nossas aces no tm outra sustentao alm da es ha cega, deixamos de acreditar realmente neles. J no podemos continuar a agir de t odo o corao com base nesses princpios. J no podemos continuar a viver como seres resp onsveis. Para vivermos, temos de silenciar a voz facilmente silenciada da razo, qu e nos diz que os nossos princpios so em si mesmos to bons ou to maus como quaisquer outros princpios. Quanto mais cultivamos a razo, mais cultivamos o niilismo: e men os somos capazes de ser membros leais da sociedade. A inevitvel consequncia prtica do niilismo o obscurantismo fantico. A dura experincia desta consequncia conduziu a um renovado interesse geral no dire ito natural. Mas mesmo este facto deve convidar-nos cautela. A indignao m conselhei ra. Na melhor das hipteses, a nossa indignao demonstra que temos boas intenes. No demo nstra que estejamos certos. A nossa averso ao obscurantismo fantico no pode levar-n os a abraar o direito natural num esprito obscurantismo fantico. Estejamos alerta para o perigo de prosseguir um objectivo socrtico com os meios, e o temperamento, de Trasmaco. R econheamos que a seriedade da necessidade do direito natural no demonstra que a ne cessidade possa ser satisfeita. Um desejo no um facto. Mesmo se provarmos que uma determinada opinio indispensvel para viver bem, apenas se prova que a DIREITO NATURAL E HISTRIA dita opinio um mito salutar: no se demonstra que verdadeira. A utilidade e a verda de so duas coisas inteiramente diferentes. O facto de a razo nos forar a ir alm do i deal da nossa sociedade ainda no O COM igualmente justificveis de direito natural. A gravidade da questao impe-nos o dever de ter uma discusso terica com distanciamento e imparcialidade. O problema do direito natural hoje uma questo mais de evocao do que de conhecimento real. Estamos, portanto, precisados de estudos histricos para nos familiarizarmo s com toda a complexidade da questo. Temos de nos tornar m or algum tem o estudan tes do ue se chama a histria das ideias. Contrariamente ideia popular, isso ;-1-o re solver, antes agravar, a dificuldade do tratamento imparcial. Para citar Lorde Act on: Poucas descobertas so mais irritantes dos que aquelas que revelam a linhagem d as ideias. As definies rigorosas e a anlise implacvel retirariam o vu or detrs do ual
a socie am e m issimula as suas divises, tornariam as disputas polticas demasiado violentas ara o com romisso e as alian as olticas dearante que, ao darmos esse as no seremos confronta OU com uma multi mlicidade de um vazio rinci
ios incompatveis e masiado precrias para serem viveis, e envenenariam a poltica com todas as paixes dos conflitos sociais e religiosos. Podemos conjurar este perigo apenas se abandonar mos a perspectiva em que a conteno poltica a nica proteco eficaz contra o fervor irad e cego do partidarismo. A questo do direito natural apresenta-se hoje como uma matria de lealdade partidria . Se olharms nossa volta, podemos ver dois campos hostis, fortemente fortificados e sob apertada vigilncia. Um est ocupado pelos liberais de vrias denominaes, o outro por discpulos catlicos e no-catlicos de Toms de Aquino. Mas ambos os exrcitos e, por acrscimo, os que preferem sentar-se em cima das vedaes ,ou enterrar as suas cabeas n a areia esto, para acumular metforas, todos no mesmo barco. So todos homens moderno s. Estamos todos enleados na mesma dificuldade. Na sua forma clssica o -direito n atural est ligado a uma concepo teleolgica do universo. Todos os seres naturais tm um fim natural, um destino natural, que ete'rrnma -quais. so as operaes ue s_a_.:c3i l~ara eles. No caso do onrent precisa-se da razo para discernir estas operaes: a ra zo eterniiina'fo. u.e-et.,:de acordo com a natureza tendo em considerabido homem. P oderia parecer que a concepo ca'do:universo, de que a concepo teleolgica do homem INTRODUO constitui uma parte, foi arruinada pela cincia natural moderna. Do ponto de vista de Aristteles e quem se atreveria a pretender ser melhor juiz nesta matria do que Aristteles? a contenda entre as concepes mecnica e teleolgica do universo decidida ela maneira como forem resolvidos os problemas do cu, dos corpos celestes e do se u movimento (3). Ora, neste aspecto, que do ponto de vista de Aristteles era o as pecto decisivo, a contenda parece ter sido decidida em favor da concepo no-teleolgic a do universo. Desta deciso capital duas concluses opostas podiam ser tiradas. Seg undo uma delas, a concepo no-teleolgica do universo deve ser acompanhada por uma conc epo no-teleolgica da vida humana. Mas esta soluo naturalista est exposta a graves di dades: parece ser impossvel apresentar uma explicao adequada dos fins humanos quand o estes so concebidos como meros efeitos dos desejos ou dos impulsos. Foi por iss o que prevaleceu a soluo alternativa. Quer isto dizer que as pessoas foram foradas a aceitar um dualismo damental, e tipicamente moderno, em que se opem uma cincia natural no-teleolgica e uma cincia do homem teleol ica. 'esta posio que os discpulos dernos de Toms de Aquino, entre outros, so forados a tomar, uma posio que pressupe uma ruptura com a perspectiva englobante de Aristteles, assim como com a do prprio To ms de Aquino. O dilema fundamental, com o qual nos debatemos, tem como causa a vi tria da cincia natural moderna. Uma soluo adequada para o problema do direito natura l no ser encontrada antes deste problema bsico ter sido resolvido. No necessrio dizer que estas palestras no podem lidar com este problema. Tero de se limitar ao aspecto do problema do direito natural que pode ser clarificado dentr o das fronteiras das cincias sociais. A cincia social dos nossos dias rejeita o di reito natural com dois fundamentos diferentes, embora quase sempre ligados entre si; rejeita o direito natural em nome da Histria e em nome da distino entre Factos e Valores. () Fisica 196a25 ss., 199a3-5. O Direito Natural e a Abordagem Histrica O ataque ao direito natural em nome da histria assume, na maioria dos casos, a se guinte forma: odireito natural pretende ser um direito discernvel pela razo humana e universalmente reco-mas a histria (incluindo a antropologia) ensina-nos que es
se direito no existe; em vez de uma presuntiva uniformidade, encontramos uma vari edade infinita de noes de direito ou de ju-stia. Ou, por outras palavras, no h 'direi to natural se no houver princpios imutveis de justia, mas a histria mostra-nos que no h princpios imutveis de justia. No se compreende o significado do ataque ao direito n atural em nome da histria sem antes compreender a perfeita irrelevncia deste argum ento. Em primeiro lugar, o consentimento de todo o gnero humano no de todo uma cdndio necessria da existncia do direito natural. Alguns dos maiores professores do direi to natural argumentaram que, precisamente porque o direito natural racional, a sua descoberta pressupOe o cultivo da razo, e portanto o direito natural no ser -EO-nhecido de modo universal: entre os selva ens nem se deve esperar encontrar qu alquer conhecimento real do direito natural Por outras palavras, provar que no e xiste um p_cile :rtstia. (I) Ver Plato, Repblica 456b12-e2, 452a7-8 e e6-d1; Laches 184d1-185a3; Hobbes, De cive, 11.1; Locke, Two Treatises of Civil Government, livro II, 12, em conjuno com An Essay on the HUman Understanding, livro I, cap. iii. Comparar com Rousseau, Discours sur l'origine de l'ingalit, prefcio; Montesquieu, De l'esprit des bis, 1.1 -2; e tambm Marsilio de Paclua, Defensor pacis, 11.12.8. DIREITO NATURAL E HISTRIA. ue no tenha sido negado num determinado lugar ou numa determin soca no su ciente sara rovar que qualqueruma dessas ne a es foi justificada ou razovel. De mais a mais, sempre se soube que dif erentes concepes de justia prevaleceram em diferentes pocas e em diferentes naes. ab o reclamar que a descoberta por parte de estudiosos modernos de um nmero ainda ma ior de concepes desse gnero afectou de alguma maneira a questo fundamental. Sobretud o, o conhecimento da variedade infinitamente grande de concepes de justia, longe d e ser incompatvel com a ideia de direito natural, a condio essencial para o a areci mento dessa ideia: a erce s o da variedade de ideias de direito o incentivo ara rocurar o direito natural. Para que a rejeio do direito nat ural em nome da histria tenha algum peso, deve assentar noutra base que no a evidnc ia histrica. A sua base tem de ser uma crtica filosfica da possibilidade da existnci a do direito natural, ou da sua cognoscibilidade uma crtica de ai: uma forma rela cionada com a "histria". Concluir da diversidade de concepes de direito a inexistncia do direito natural uma concluso to antiga quanto a prpria filosofia poltica. Esta parece comear com a propo sta de que a diversidade de ideias de direito demonstra a inexistncia do direito natural ou o carcter convencional de todo o direito (2). Chamaremos a esta perspectiva convencionalismo. Para clarificar o sentido da rejeio contempornea do dir eito natural em nome da histria, temos em primeiro lugar de compreender a diferena especfica entre o convencionalismo, por um lado, e o sentido histrico ou a conscincia histrica caractersticos do pensamento dos sculos XIX e XX, por outro (3). (2) Aristteles, tica a Nicmaco 1134b24-27. . (g) O positivismo jurdico dos sculos XIX e XX no pode ser identificado pura e sim plesmente com o convencionalismo nem com o historicismo. Contudo, em ltima anlise, o positivismo jurdico parece colher a sua fora da premissa geralmente aceite ,do ,historicismo (ver, sobretudo, Karl Bergbohm, Jurisprudenz and Rechtsphiloso phie, 1[Leipzig, 1892], p. 409 ss). O argumento mais directo de Bergbohm contra a possibilidade do direito natural (por contraposio ao argumento que pretende apen as Mostrai- as consequncias desastrosas do direito natural para a ordem jurdica po sitiva) -basia.-Se na .verdade inegvel de que nada de eterno e de absoluto existe para alm Daquele que o homem rio pode compreender, mas to-somente pressentir num es fria? de f>>. (p. 416, nota), isto , baseia-se no pressuposto de que .os padres aos ua'rio-Teferimos para fazer um julgamento sobre a lei positiva, histrica (...) so eles- insmos, e em absoluto, fruto do seu tempo, e so sempre histricos e relativos . , '45d, ilca).-. O DIREITO NATURAL E A ABORDAGEM HISTRICA 13 O convencionalismo pressupunha que a distino entre nattire, _ za e cotnieno a mais fundamental de todas as distines. Suben-- tendia que a natureza goza de uma dignidade incomparavelmente superior conveno ou ao decreto da sociedade, ou que a natureza a norma. A tese de
que o direito e a justia so convencionais significava que o direito e a justia no ti nham qual uer fundamento na natureza, que eram em ltima an.lis_e contra a natureza sem outra" r---azo de ser alm das decises arbitrrias, explcitas ou imp_gsitas, das c omunidades: no tinham outro fundamento alm de um tipo de acordo, e o acordo ode e rar a az mas no ode criar a verdade. Por outro lado, os partidrios da perspectiva histrica moderna rejeitam como mama a premissa e que a natureza e a norma; rejeitam a premissa de ue a natureza goza e ignidade superior a quaisquer obras hu manas. Pelo contrrio, ou atribuem ao homem e s suas obras, iii-cluindo as suas ide ias variveise just d------ia,t-acter as as outras coisas reais, ou ento asseveram um dualismo elementar entre o e omin io da natureza e o domnio da liberdade ou da histria. Neste ltimo caso, deixam implc ito que o mundo humano, o mundo da criatividade humana, tem um estatuto bem supe rior ao da natureza. Assim, no consideram que as noes de bem e de mal sejam fundame ntalmente arbitrrias. Tentam des-cobrir as suas causas; tentam tornar a sua diver sidade e sequeriiFa inteligveis; ao remeter a sua origem para actos de liberdade, insistem na diferena fundamental entre a liberdade e a arbitrariedade. Qual o significado da diferena entre a perspectiva antiga e a moderna? O convenci onalismo uma das formas da filosofia clssica. Obviamente, h diferenas profundas ent re o convencionalismo e a posio assumida por Plato, por exemplo. Mas na poca clssica, os adversrios esto de acordo quanto ao ponto mais fundamental: ambos admitem que a distino entre natureza e conveno fundamental. Pois esta distino est implcita na i de filosofia. Filosofar significa ascender da caverna at luz do sol, isto , da ver dade. A caverna o mundo da opinio em contraposio ao conhecimento. A opinio essencial mente varivel. Os homens no podem viver, ou melhor, no podem viver em conjunto, se as opinies no forem estabilizadas pelas decises sociais. A opinio torna-se, assim, o pinio revestida de autoridade ou torna-se num dogma pblico ou numa Weltanschauung. Filosofar significa, ento, ascender do dogma pblico, ma blico originariamente uma tentativa desadequada de responder questo 14 DIREITO NATURAL E HISTRIA da verdade em toda a sua plenitude ou da ordem eterna(4). Do pont o de. vista da o rdem eterna, Qualquer perspectiva desadequada da ordem eterna e acidental ou arb itraria; deve a sua validade no sua verdade intrnseca, mas deciso social ou conven A premissa fundamental do convencionalismo , portanto, nada mais do que a ideia d e filosofia enquanto tentativa de compreender o eterno. Os adversrios modernos do direito natural rejeitam precisamente esta ideia. Segundo eles, todo o pensamen to humano histrico e, por conseguinte, incapaz de jamais compreender algo que sej a eterno. Enquanto para os antigos filosofar significa abandonar a caverna, j segundo os nossos contem o o filosofar ertence essencialmente a um mundo histrico, a uma cultura, a uma civi mao, a uma Weltanschauung ilo a que Plato c amara a caverna. Chamaremoshistoricismo a esta perspectiva. Sublinhmos h pouco que a rejeio contempornea do direito natural em nome cra h-EfOria ba seia-se, no em evidncia histrica, o ue a crtica filosfica em questo no incide em particular sobre o direito natural ou sobre princpios morais em geral. Trata-se de uma crtica do pensamento humano en_ quanto tal. Todavia, a crtica do direito natural desempenhou um papel importante na formao do historicismo. O historicismo apareceu no sculo XIX sob a proteco da crena de que possvel conhecer, ou pelo menos intuir, o eterno. Mas gradualmente foi minando a crena que o abriga ra na sua infncia. No nosso tempo, apareceu subitamente na sua forma amadurecida. A gnese do historicismo no tem sido bem compreendida. No estado actual do nosso c onhecimento, difcil dizer em que ponto do desenvolvimento moderno ocorreu a ruptu ra decisiva com a abordagem a-histrica que prevaleceu em toda a filosofia anterior. Para termos uma orientao sumria, convm comear pelo momento em que o .movimento at ent subterrneo emerge superfcie e comea a dominar as cincias sociais em plena luz do di a. Esse foi o momento do aparecimento da escola histrica. Os pensamentos que guiavam a escola histrica estavam longe e:ter; um caracter pur
amente terico. A escola histrica nasce da aceo'.Revoluo- francesa e s doutrinas do dir ito natural que aViam.'-,ipreparado esse cataclismo. Ao reprovar a ruptura viole nta 'Iu1/4\ tivsn Plato, Minos-314b10-315b2. O DIREITO NATURAL E A ABORDAGEM HISTRICA 15 com o passado, a escola histrica insistia na sabedoria e na necessidade de preser var ou fazer perdurar a ordem tradicional. Tal poderia ser feito sem uma crtica d o direito natural enquanto tal. O que certo que o direito natural pr-moderno no ap rovava que se apelasse a uma ordem natural e racional contra a ordem estabelecid a, ou contra a ordem actual. Porm, parecia_que os fundadores da escola histrica ha viam compreendido que a aceitao de princpios uniersais ou abstractos era necessaria mente um efeito revolucionrio, perturbador e destabilizador, pelo menos tanto qua nto o pensamento pode roduzir esse efeito, e ue isso vlido suer esses princ ios ap rovem, em termos gerais, um caminho conservador, quer a_proyem um caminho revolu cionrio. Pois, com o reconhecimento de princpios universais, o homem forado a julga r a ordem estabelecida, ou que real aqui e agora, luz da ordem natural ou racion al; e mais provvel que o que real aqui e agora fique aqum da norma universal e imu tvel (5). O reconhecimento de princpios universai asitn._,a impedir ue os. homens se identifi uem or Com a ordem social que o desti no lhes deu, ou que a aceitem. Tende a alien-los do seu lu ar na terra. Tende a fa zer deles estrangeircne at estran eiros na terra. Ao negarem o sentido, se no a existncia, de normas universais, os conservadores em inentes que fundaram a escola histrica estavam, de facto, a prosseguir e at a acentuar o esforo revolucionrio dos seus adversrios. E sse esforo inspirava-se numa concepo especfica do natural. Dirigia-se tanto contra o antinatural ou convencional, como contra o supranatural ou supramundano. Podemo s dizer que os revolucionrios pressupun am que o natural e sempre individua e que , portanto, o uniforme antinatural ou convencioiial. O indivduo hiimano seria lib ertado ou libertar-se-ia a si mesmo para que pudesse prosseguir no s a sua felicid ade, mas a sua prpria verso da felicidade. Contudo, tal im_plicav_a_ jue se atribua a todos os homens umobjectivo universal e uniforme: o direito naturaLcle-Gada-i ncliylduo era um direito que pertencia uniformemente a todos os homens enquanto homens. Mas a uniformidade era considerada antinatural e, por conseguinte, m. Era evidentemente impossvel individualizar os direitos em plena sintonia com a diver sidade natural dos indivdu(5) (...) das imperfeies [dos Estados], se as tm, basta a simples diversidade que en tre eles existe para provar que muitos as tm (...)] (Descartes, Discours de la mtho de, parte II). .16 DIREITO NATURAL E HISTORIA os. Os nicos tipos de direitos que no eram incompatveis com a vida social, nem eram uniformes, consistiam nos direitos histricos: os direitos dos ingleses, por exempl o, em contraposio ao direitos do homem. A diversidade local e temporal parecia ofe recer um meiotermo se anti-social e a universaliade antinatural. A escola histrica no descobriu a diversidade local temporal das ideias de justia: o bvio no tem de ser descoberto. Tudo o que se pode dizer que descobriu o valor, o encanto, a fique-interior do local e do temporal, ou que descobriu a superioridade do local e do temporal sobre o universal. Seria mais cauteloso dizer que, ao radicalizar a te ndncia de homens como Rousseau, a escola histrica afirmou que o local e o temporal tm um valor superior ao universal. Consequentemente, o que proclamava ser univer sal aparecia, ao cabo e ao resto, como decorrente de algo que estava confinado a o local e ao temporal, aparecia como o local e o temporal in statu evanescendi. Por exemplo, era bastante provvel que a doutrina da lei natural dos esticos figurasse como um mero reflexo de um estadiotemporal particular de uma sociedade local particular - como um mero reflexo da dissoluo da cidade grega. O esforo dos revolucionrios era dirigido contra todas as formas de supramundaneida de (6) ou de transcendncia. A transcendncia - no exclusiva da reli .o revelada. Num
sentido muito importante, a transcendncia estava implcita na orientao originria da f ilosofia _poltica en uanto erocura da ordem poltica natural ou da melhor ordem polt ica. O melhor regime, tal como Plato e Aristteles o entendiam, e, e preten e-se qu e sela, na sua maior par e, erente dos regimes concretos e ue existem as ui e ag ora ou est cara -a-.1"nid-E todas as ordens concretas. Esta ideia da transcendncia da melhor ordem poltica foi rofundamente Tfldpe10 modo conio <progresso veio a ser entendido no scu o , mas aincff-Wrn nao-e esapareceu inteiramente dessa noo do scu o . e assim -fin-TO--FCC-Jc la Revoluo francesa nao po eriam ter condenado todas, ou quase todas , as ordens sociais que haviam existido. (6) Para a tenso entre o interesse na histria do gnero humano e o interesse na vida epois a morte, ver Kant, Ideia de uma Histria Universal com um Propsito CoSmopolit a., proposio 9 (The Philosophy of Kant, ed. C. J. Friedrich [.Modern ibrarM, p.,13 0). Considere-se tambm a tese de Herder, cuja influncia sobre o pensamento histrico do sculo XIX bem conhecida, segundo a qual .os cinco actos o'representados nesta vida. (ver M. Mendelssohn, Gesammehe Schrif?en,Jubzlaums IttsM"ill:1;" pp. xxx-xxx ii). O DIREITO NATURAL E A ABORDAGEM HISTRICA 17 Ao-negar -o significado, se n as, eia3-1--a-1rrica destruiu a nica base slida de todos os esforos srios para transcender o actual. O h. ode, por~rdescrito como uma orma de intramundaneidade moderna muito mais extrema do que fo ra o radicalismo francs do sculo XVIII. ao h dvida de que agiu como se tivesse a int eno de- fazer com que o homem estivesse absolutamente em casa neste mundo. Como qual quer conjunto de princpios universais pode provocar, pelo menos na maioria dos ho mens, um estranhamento potencial em relao ao mundo, o historicismo depreciou os pr incpios universais em favor de princpios histricos. Acreditava que, atravs da compre enso do sen passado, da sua herari`a,-a~ituao histrica, os homens podiam chegar a pr incpios que seriam to objectivos como osprincpios da oltica mais antiga e pr-historicista pretendiam ser, alm disso, no seriam abstractos ou universais e, por conseguinte, nocivos para a a co sbia ou para uma vida verdadeiramente humana, mas antes concretos ou particulare s - princpios adequados a uma poca particular ou a uma nao particular, princpios rel ativos a uma poca particular ou a uma nao particular. Ao tentar descobrir padres que fossem simultaneainente objectivos e relativos a situaes histricas particulares, a escola histrica atribuiu aos e studos histricos uma importncia muito superior que alguma vez haviam tido. Contudo , as suas esperanas no domnio dos estudos histricos no eram o fruto desses estudos, mas dos pressupostos que decorriam directa ou indirectamente da doutrina do dire ito natural do sculo XVIII. Aescola histrica pressupunhajcia de um es ritopopular,_ Ei__.,1.(2e.r.",r.essLEunliaque as naes ou grupos tnicos so unidades naturais, ou pre ssupunha a existncia de leis gerais da evoluo histrica, ou combinava ambos os ressu ostos. tn breve, tornou-se manifesto um conflito entre os pressupostos que havia m dado o estmulo decisivo ao estudos histricos e os resultados, assim como os requ isitos, de toda a compreenso histrica genuna. No momento em que estes pressupostos foram abandonados, chegava ao fim a infncia do historicismo. O historicismo aparecia agora como uma forma particular de positivismo, isto , como uma forma particular da escola que sustentava gue a teolog ia e a metaffsica haviam sido suplantadas e uma vez por todas pela cincia positiv a, ou que identificava o conhecimento genu.&: no da realidade com o conhecimento erado peias cincias empricas. O positivismo propriamente dito definira a pal-a-V-r a emprico 18 DIREITO NATURAL E HISTORIA em termos dos procedimentos das cincias da natureza. Mas havia um contraste grita nte entre a maneira como os assuntos histricos eram tratados pelo positivismo pro priamente dito e a maneira como eram tratados pelos historiadores que procediam de um modo verdadeiramente emprico. Precisamente para salvaguardar os interesses do conhecimento emprico, tornou-se necessrio insistir na negao da autoridade cientfic
a dos mtodos das cincias da natureza quando aplicados aos estudos histricos. Mais, o que a psicologia e a sociologia cientficas tinham a dizer sobre o homem acabou po r se revelar trivial e pobre em comparao com o que os grandes historiadores tinham a ensinar. Assim, pensava-se que s a histria podia ser a fonte de conhecimento em prico, e portanto de conhecimento slido, daquilo que verdadeiramente humano, de co nhecimento do homem enquanto homem: da sua grandeza e da sua misria. Como todas a s investigaes histricas comeam e acabam com o homem, o estudo emprico da humanidade p arecia poder reivindicar com alguma razo uma dignidade superior a todos os outros estudos da realidade. A histria separada de todos os pressupostos duvidosos ou m etafsicos tornou-se na suprema autoridade. Mas a histria acabou por se revelar perfeitamente incapaz de manter a promessa qu e a escola histrica fizera. Esta conseguira desacreditar os princpios universais o u abstractos; pensara que os estudos histricos revelariam a existncia de padres par ticulares ou concretos. Porm, o historiador imparcial tinha de confessar a sua in capacidade para deduzir normas a partir da histria: no restavam quaisquer normas o bjectivas. A escola histrica obscurecera o facto de sue os sadres sarticulares ou histricos s podem adquirir autoridade quando se baseiam num princpio universal que impe ao indivduo uma obri ao de aceitar, ou de reverenciar, os padres sugeridos pela tradio ou _pela situao que o moldou. Porm, nunca havers um princpio universal que just fique a aceitao de todo o padro histrico ou de toda a causa vitoriosa: no evidente qu e a conformidade com a tradio ou que alinhar pela onda do futuro seja melhor, e segu ramente nem sempre melhor, do que queimar o que se adorou ou do que resistir s ten dncias da histria. Assim, todos os padres sugeridos pela histria enquanto tal revelar am ser ndamentalmente -ambguos e portanto imprprios para servirem C-0111.0 padres. Para o historiador imparcial, o processo histrico revela-se como uma teia destituda de sent ido e tecida tanto pelo que os homens fizeram, produziram e pensaram, como pelo acaso puro e O DIREITO NATURAL E A ABORDAGEM HISTRICA 19 duro - uma histria contada por um idiota. Os padres histricos, os padres expelidos p or hm processo sem sentido, j no podiam reivindicar para si a bno de poderes sagrados que se escondiam por detrs desse processo. Os nicos padres que restavam tinham um carcter meramente subjectivo e no tinham outro suporte alm da escolha livre do indi vduo. Da em diante, nenhum critrio objectivo permitia a distino entre boas e ms escolh as. O historicismo culminava no niilismo. A tentativa de fazer com que o homem e stivesse absolutamente em casa neste mundo acabava por convert-lo num perfeito es trangeiro. A ideia de que o processo histrico uma teia sem sentido, ou que no existe sequer um p rocesso histrico, no era nova. No essencial, era essa a perspectiva clssica. Apesar de ter perante si oposio considervel provinda de vrios quadrantes, essa perspectiva era ainda poderosa no sculo XVIII. A consequncia niilista do historicismo podia te r sugerido o regresso a uma perspectiva mais antiga e pr-historicista. Mas o frac asso manifesto da pretenso ip do historicismo, a de que podia dar vida uma orien tao melhor e mais o que a que fora proposta pelo pensamento r-historicista do sassado, no destruiu o prestgio do ale ado vislumbre terico que lhe era de vi o. sposio criada pelo historicismo e pelo seu fracasso rtico foi interpretada c omo a indita experincia da verdadeira situao o homem enquanto homem - de uma situao antenormente o homem escond era de si mesmo ao acreditar em princpios universais e imutaves. ontrailteaperspectm iva a nterior, os historicistas continuaram a atribuir uma importncia decisiva concepo do homem que surge dos estudos histricos, os quais, por serem o que so, esto interess ados, em particular e em primeiro lugar, no no que permanente e universal, mas no que varivel e nico. A histria enquanto histria parece pr-nos diante do espectculo de rimente de uma diversidade vergonhosa de _gensamen,tos e crenas e, sobretudo, do desaparecimento sucessivo de todos os pensamentos e crenas que os homens tiveram. Parece mostrar que todo o pensamento humano de ende de contextos histricos singu lares que so precedidos por contextos mais ou meno-s diferentes e que surgem dos s
eus antecessores de um mod fundamentalmente imprevisvel: os alicerces do pensamento humano so colocados por e xperincias ou decises imprevisveis. Como todo o pensamento humano pertence a situaes histricas especficas, todo o pensamento humano est condenado a desaparecer ao 20 DIREITO NATURAL E HISTORIA mesmo tempo que a situao a que pertence, e a ser substitudo por pensamentos novos e imprevisveis. A tese historicista apresenta-se hoje como sendo amplamente apoiada pela evidncia histrica, ou at como expresso de um facto bvio. Mas se o facto to bvio, difcil pe r como que pde escapar ateno dos maiores pensadores do passado. Quanto evidncia his ica, claramente insuficiente para apoiar a tese historicista. A histria ensina-no s que uma determinada perspectiva foi abandonada por todos os homens, ou por tod os os homens competentes, ou talvez apenas pelos mais vociferantes, em favor de outra perspectiva; no nos diz se a mudana foi justificada ou se a perspectiva reje itada merecia a rejeio. S uma anlise imparcial da perspectiva em questo uma anlise qu no se deslumbre com a vitria ou que no fique aturdida com a derrota dos partidrios da perspectiva em causa nos poderia ensinar algo acerca do seu valor e, assim, acerca do sentido da mudana histrica. Para ese. historicista tenha alguma solidez, tem de se basear no na histria, mas na filosofi a: numa anlise filosfica que demonstre luetodo o pensamento humano depende em ult ima instncia do destino flutuante e obscuro, e nao em princpios Eridentes acessveis ao homem enquanto homem. O esteio dessa anlise filosfica uma crtica da razo que a re nte demonstre a impossibilidade da metaffsica teortica e da tica filosfica ou do di reito natural. Quando todas as perspectivas metafsicas e ticas puderem ser conside radas, em termos estritos, insustentveis, isto , insustentveis na medida em que pre tendem ser pura e simplesmente verdadeiras, ento o seu destino histrico necessaria mente se afigurar merecido. Torna-se ento uma tarefa plausvel, embora no muito impor tante, relacionar o predomnio, em diferentes pocas, das diferentes perspectivas me tafsicas e ticas com as pocas do seu predomnio. Mas isso ainda deixa intacta a autor idade das cincias positivas. O segundo esteio da anlise filosfica subjacente ao his toricismo a demonstrao de que as cincias positivas assentam em fundamentos metafsico s. - Considerada em si mesma, esta crtica filosfica do ensamento filosfico e cientfico uma con es . me e de Kah conduziria ao septicismo. Mas o cepticismo e o historicismo 2:0" dias coisa s completamente diferentes. Em e rinci io, o cepticismo .considerar-se 'a si mes mo coevo do pensamento humano; o historicismo mo como relevando de uma situao histrica esecifita::.Xara.- "o cptico, todas as afir maes so incertas e, portanto, O DIREITO NATURAL E A ABORDAGEM HISTRICA 21 essencialmente arbitrrias; para o historicista, as afirmaes queo:_-e: valecem em di ferentes pocas e em diferentes civili7aes esto muito longe de serem arbitrrias. O historicismo _provm de uma tradio no-cptica provm da tradio moderna que tentou definir os linites do conhecimento humano e sue s or conse te, reconhece, dentro de certos limites, a possibilidade de um conhecimento genuno. Em contrapos io a todo o cepticismo, o historicismo assenta pelo menos em parte numa crtica do pensamento humano que pretende articular o que se chama a experincia da-histria. Nenhum homem competente dos nossos tempos consideraria como pura e simplesmente verdadeira a totalidade dos ensinamentos de um dos pens adores do passado. Em todos os casos a experincia mostrou que o originador desses ensinamentos aceitava certas coisas como dados certos e seguros que no devem ser aceites como dados certos e seguros ou que ele no conhecia certos factos ou certas possibilidades que foram descobert os em pocas posteriores. At agora, todo o pensamento revelou-se necessitado de revises radicais ou revelou ser incompleto ou limitado em aspectos decisivos. De mais a mais, quando s e olha para o passado, parece que observamos que todos os progressos do pensamento numa determinada direco foram feitos no-sem se pagar o preo de um retrocesso do pensamento noutro aspecto: s
empre que uma dada limitao foi superada por um progresso do pensamento, contribuies anteriores importantes foram invariavelmente esquecidas como consequncia desse progresso. Em termos globai s, no houve, ento, qualquer progresso, mas apenas uma mudana de um tipo de limitao por outro. Enfim, parece que observamos que as limitaes mais importantes do pensamento anterior eram de tal natureza que no poderiam ter sido superadas por nenhum esforo dos pensadores anteriores; para no mencionar outras consideraes, todo o esforo do pensamento que conduziu superao de limitaes esp cas conduziu noutros aspectos cegueira. razovel supor que o que aconteceu invariavelmente at agora acontecer de forma recorrente no futuro. O pensamento humano essencialmente limitado de tal modo que as suas limitaes diferem consoante as situaes histricas, e a limitao caracterstica do pensamento de uma determinada poca no pode ser superada por nenhum esforo humano . Sempre houve e sempre haver mudanas de perspectiva surpreendentes e inteiramente inesperadas que modificaro de f orma radical o significado de todo o conhecimento at ento adquirido. Nenhuma conce po do todo, e em 22 DIREITO NATURAL E HISTORIA particular nenhuma concepo do todo da vida humana, pode pretender ser definitiva n em reclamar uma validade universal. Por mais (1'11e arentem ser definitivas, tod as as- doutrinas sero, mais tarde ou mais cedo, substitudas por outras doutrinas. No h razo para Cluvidar que os pensadores anteriores tiveram inteleces que nos so inte iramente inacessveis e que no se podem tornar acessveis, por s~1e tenhamos quan e o estu s amos as suas obras, porque as nossas limitaes impedem -nos de sequer suspeitar da possibilidade de essas inteleces existirem. Coni.ol.s imitaes do pensamento humano so essencialmente inconhecveis, no faz sentido conceb-las em termos de condies sociais, econmicas e outras, isto , em termos de fenmenos conhe cveis e analisveis: as limitaes do pensamento humano so estabelecidas pelo destino. O argumento historicista tem uma certa plausibilidade que_pode ser facilmente ex licado ela .re. ._ derncia do do matismo no passado. No podemos esquecer a queixa de Voltaire: nous avons des bacheliers qui savent tout ce que ces grands hommes i gnoraient (7). Alm disso, muitos pensadores eminentes propuseram doutrinas gerais que invariavelmente se revelaram carentes de uma reviso radical. Portanto, precis amos de acolher amistosamente o historicismo como um aliado na nossa luta contra o do mansmo. Mas o dogmatismo ou a inclina ao ara identificar o oliectivo do noss o ensamento com o onto em ue nos cansamos de ensar (S) to natural ao homem Que no provvel que pertena s ao passado. Somos forados a suspeitar que o historicismo o disfarce que nos nossos dias o dogmatismo gosta de usar. Somos levados a pens ar que o que se chama a experincia da histria o ponto de vista distanciado da histria do pensamento, tal como essa histria veio a ser encarada sob a influncia conjunta da crena no progresso inexorvel (ou na impossibilidade de regressar ao pensamento do passado) e da crena no valor supremo .da diversidade ou da singularidade (ou no direito igual de todas as pocas ou civilizaes). Nada indica que hoje o historici smo radical ainda tenha necessidade dessas crenas. Mas nunca examinou a hiptese de a experincia a que se refere ser um resultado dessas crenas questionveis. uando normalmente se fala da experincia da histria, est implcito que esta experincia concluso geral que decorre Yii-ie,;;:Dictionnaire philosophique, ed. J. Benda, 1.19. Mr:.'a.''tarta de Lessi ng a Mendelssohn, 9 de Janeiro de 1771. O DIREITO NATURAL E A ABORDAGEM HISTRICA 23 do conhecimento histrico, mas que no pode ser reduzido a esse conhecimento. Porqua nto o conhecimento histrico sempre extremamente fragmentrio e muitas vezes bastant e incerto, ao passo que a alegada experincia tida como global e certa. Porm, dific ilmente se pode duvidar de que, em ltima anlise, a alegada experincia assenta num d eterminado nmero de observaes histricas. Ento, a questo reside em saber se essas obser vaes autorizam a afirmao de que a aquisio de novas intuies importantes conduz necessa mente ao esquecimento de intuies anteriores e que os pensadores anteriores jamais
podiam ter pensado nas possibilidades fundamentais que, em pocas posteriores, aca baram por estar no centro das atenes. Por exemplo, obviamente falso dizer que Aris tteles no podia ter compreendido a injustia da escravatura, porque, de facto, ele a compreendeu. Contudo, pode-se dizer que no podia ter imaginado um Estado mundial . Mas porqu? O Estado mundial pressupe um desenvolvimento tecnolgico com o qual Ari stteles no poderia sequer sonhar. Por sua vez, esse desenvolvimento tecnolgico exig iu que se colocasse a cincia ao servio da conquista da natureza e que a tecnologia s e emancipasse de toda a superviso moral e poltica. Aristteles no concebeu um Estado mundial porque estava absolutamente seguro de que a cincia , na sua essncia, teortic a, e que a libertao da tecnologia em relao ao controlo moral e poltico conduziria a c onsequncias desastrosas: a fuso da cincia e das artes em conjuno com o progresso ilim itado ou incontrolvel da tecnologia converteu a tirania universal e perptua numa p ossibilidade sria. S um homem precipitado poderia dizer que a perspectiva de Aristt eles isto , as suas respostas quanto ao carcter essencialmente teortico da cincia e necessidade de o progresso tecnolgico estar submetido a um severo controlo moral e poltico foi refutada. Mas independentemente do que se possa pensar sobre as res postas de Aristteles, no h dvida de que as questes fundamentais a que tenta responder so idnticas s questes fundamentais que hoje constituem as nossas preocupaes imediatas . Se compreendermos isto, compreendemos ao mesmo tempo que a poca que considerou obsoletas as questes fundamentais de Aristteles estava inteiramente desprovida de lucidez quanto a saber quais so as questes fundamentais. Longe de legitimar a inferncia historicista, a histria parece antes deMonstrar que todo o pensamento humano, e desde logo todo o pensamento filosfico, se ocupa dos mesmos temas fundamentais ou dos mesmos problemas fundamentais, e que, por cons eguinte, exis24 DIREITO NATURAL E HISTORIA -.>? te um enquadramento imutvel que atravessa todas as mudanas do conhecimento humano quer dos factos, quer dos princpios. Esta inferncia evidentemente compatvel com o f acto de que, quando se lida com estes problemas, a clareza, a forma como so abord ados, e as solues que so sugeridas diferem mais ou menos de pensador para pensador ou de poca para poca. Se os problemas fundamentais atravessam todas as mudanas histr icas, o pensamento humano capaz de transcender as suas limitaes histricas ou de ace der a algo de trans-histrico. Tal seria o caso mesmo se fosse verdade que todas a s tentativas de resolver estes problemas esto condenadas ao fracasso por causa da historicidade de todo o pensamento humano. Dar o assunto por concludo seria equivalente a desesperar da causa do direito nat ural. No h direito natural se tudo o que o homem pudesse saber sobre o direito fos se o seu carcter problemtico, OU se a questo dos princpios de justia admitisse vrias r espostas mutuamente exclusivas, sem que se pudesse demonstrar a superioridade de nenhuma delas face s restantes. No pode haver direito natural se o pensamento hum ano, apesar da sua incompletude essencial, no for capaz de resolver o problema do s princpios de justia de uma maneira genuna e, por isso, universalmente vlida. Dito em termos mais gerais, no pode haver direito natural se o pensamento humano no for capaz de adquirir conhecimento genuno, universalmente vlido e definitivo dentro d e uma esfera limitada, ou se no for capaz de adquirir conhecimento genuno acerca d e assuntos especficos. O historicismo no pode negar esta possibilidade. Pois ela e st implcita na sua prpria tese. Ao afirmar que todo o pensamento humano, ou -pelo m enos que todo o pensamento humano relevante histrico, o historicismo admite que o pensamento humano capaz de chegar a uma concluso importantssima que universalment e vlida .e que no ser de forma alguma afectada por quaisquer surpresas futuras. A t ese historicista no uma assero isolada: inseparvel de uma viso da esttutura essencia da vida humana. Esta viso tem o nieSno carcter ou pretenso trans-histricos que qualq uer doutrina dO4ireito,natural. 'A tese historicista est, ento, exposta a uma dificuldade muito evidente -que cons ideraes mais subtis podem contornar ou obscurecer, mas no solucionar. O historicism o afirma que todos os pen;.Sanientos. Ou crenas humanas so histricos, e que, por is so, esto estin.dos a-uma morte merecida; mas o historicismo tambm ele rn-pensamento -humano; logo, o historicismo s pode ter uma valiO DIREITO NATURAL E A ABORDAGEM HISTRICA 25
dade temporria, o que vale por dizer que no pura e simplesmente verdadeiro. Afirma r a tese historicista duvidar dela e assim a transcend-la. De facto, o historicis mo assegura que descobriu urna verdade que veio para ficar, uma verdade vlida par a todo o pensamento, para todas as pocas: por muito que o pensamento tenha mudado , e venha a mudar, permanecer sempre histrico. No que respeita intuio decisiva acerca do carcter essencial de todo o pensamento humano, e em segui da acerca do carcter essencial da humanidade, ou das suas limitaes, a histria chegou ao seu fim. O historicista no se deixa impressionar com a eventualidade de o his toricismo vir a ser substitudo em devido tempo pela sua negao. Est seguro de que tal mudana equivaleria a uma recada do pensamento humano na sua iluso mais poderosa. O historicismo prospera porque se isnta de forma incoerente do seu veredicto que pronuncia para todo o pensamento humano. A tese historicista traz consigo uma contradio interna, absurda. No podemos ver o ca rcter histrico de todo o pensamento isto , de todo o pensamento excepo da conclus ricista e das suas implicaes sem transcender a histria, sem compreender algo que tr ans-histrico. Se chamarmos a todo o pensamento radicalmente histrico uma mundividncia englobante ou uma parte de uma tal mundividncia, temos de dizer: o hist oricismo no , em si mesmo, uma mundividncia englobante, mas uma anlise de todas as m undividncias englobantes, uma exposio do carcter essencial de tais mundividncias. O p ensamento que reconhece a relatividade de todas as concepes englobantes tem um carc ter diferente do pensamento que adopta, ou que est sob, o domnio de uma concepci eng lobante. O primeiro absoluto e neutro; o segundo relativo e est comprometido. O p rimeiro uma concluso teortica que transcende a histria; o segundo o resultado de um golpe do destino. O historicista radical recusa-se a admitir o carcter trans-histrico da tese historicista. Ao mesmo tempo, reconhece o absurdo do historicismo puro e nquanto tese terica. Nega, portanto, a possibilidade de uma anlise terica ou object iva, que enquanto tal seria trans-histrica, das vrias concepes englobantes ou dos vri os mundos histricos ou das vrias culturas. A este respeito, o ataque de Nietzsche ao h istoricismo do sculo XIX, que pretendia ser uma viso terica, foi decisivo. Segundo Nietzsche, a anlise terica da vida humana que compreende a relatividade de todas a s mundividncias englobantes, e que por isso as desvaloriza, tornariam a prpria vid a humana imposJ DIREITO NATURAL E HISTRIA svel, pois destruiria a atmosfera protectora indispensvel para a vida 0-0 para a c ultura ou para a aco. Mais, como a anlise terica no tem o seu fundamento na vida, nun ca conseguir compreend-la. A anlise terica da vida.no se compromete e fatal para o co mpromisso, mas a vida implica compromisso. Para prevenir o perigo para a vid, Nie tzsche podia escolher uma de duas solues: podia insistir no carcter estritamente es isto , restaurar a noo platnica da nobre mentira o otrico da anlise terica da vida podia negar a possibilidade da teoria propriamente dita, e assim conceber o pen samento como essencialmente subserviente ou dependente do destino ou da vida. Me smo que Nietzsche no o tenha feito, os seus sucessores adoptaram a segunda altern ativa(9). A tese do historicismo radical pode ser enunciada da seguinte forma. Toda a comp reenso, todo o conhecimento, por mais limitado e cientfico que possa ser, pressupe um enquadramento de referncia; pressupe um horizonte, uma viso englobante dentro da q ual possvel compreender e conhecer. Sem uma tal viso englobante qualquer percepo, ob servao ou orientao torna-se impossvel. A viso englobante do todo no pode ser validada or um raciocnio, porque ela a base de todo o raciocnio. Por conseguinte, h uma dive rsidade de vises englobantes, cada uma delas to legtima como a outra: temos de esco lher uma das vises englobantes sem qualquer orientao racional. absolutamente necessr io escolher uma delas; a neutralidade ou a suspenso do julgamento impossvel. A nos sa escolha no tem outra sustentao seno a prpria escolha; no se apoia em nenhuma certez a objectiva ou terica; s a nossa escolha a separa do nada, da ausncia total de sent ido. Em rigor, no podemos escolher entre concepes diferentes. Uma nica viso englobant e -nos imposta pelo destino: o horizonte no interior do qual se realizam o nosso conhecimento e a nossa orientao o produto do destino do indivkluo ou da sua socied
ade. Todo o pensamento humano depende do destino, de algo que o pensamento no con segue dominar e cuja actividade no consegue antecipar. Porm, a sustentao do horizont e produzido pelo destino resulta, em ltima anlise, da esco'-:..(?).Para compreender tal escolha, preciso ponderar esta relao com a simpatia de Nietzsche por Clictes., por um lado, e a sua preferncia pela vida trgica> em eNo, a teortica, por outro (ver Plato, Grgias 481d e 502b ss., e Leis 658d2-5; cjch Nietzsche, Vera Nutzen und Nachteil der Historie fiir das Leben [ed. InselBch ere:i], p: 73). Este passo revela com clareza o facto de Nietzsche ter adoptado o se pode considerar como a premissa fundamental da escola histrica. o. DIREITO NATURAL E A ABORDAGEM HISTRICA 27 lha do indivduo, j que o destino tem de ser aceite pelo indivduo. Somos livres no s entido de que somos livres para escolher com angstia a mundividncia e os padres que o destino nos impe, ou ento para nos perdermos numa segurana ilusria ou no desesper o. O historicista radical afirma, ento, que o pensamento comprometido ou histrico s se desvela ao pensamento que seja tambm ele comprometido ou histric e, sobretudo, que o verdadeiro significado da historicidade de todo o pensamento genuno s se desvela ao pensamento que seja tambm ele comprometido ou histrico. A tese historicista expre ssa uma experincia fundamental que, pela sua natureza, incapaz de encontrar urna expresso adequada ao nvel do pensamento no-comprometido ou distanciado. verdade que a evidncia dessa experincia pode tornar-se pouco ntida, mas no pode ser destruda pelas inevitveis dificuldades lgicas de que padecem todas as expresses de tais experincias. Tendo em vista esta experincia fundamental, o historicista radical nega que o carcter final, e, neste sentido, trans-histrico, da tese historicista ponha em dvida o contedo dessa tese. A inteleco final e irrevogvel do carcter histrico de todo o pensamento transcenderia a histria apenas se essa inteleco fosse acessvel ao homem enquanto homem e, por isso, em princpio, em todas as pocas; mas no transcende a histria se se inserir essencialmente numa situao histrica especfi ca. Ora essa inteleco insere-se numa situao histrica especfica: no pura e simplesmen a condio da inteleco historicista, mas a sua fonte(') . Todas as doutrinas do direito natural declaram que os fundamentos da justia so, em princpio, acessveis ao homem enquanto homem. Portanto, pressupem que uma verdade importantssima , em princpio, acessvel ao homem enquanto homem. Ao negar este pressuposto, o histor icismo radical afirma que a concluso basilar a respeito da limitao essencial de todo o pensamento humano no acessvel ao homem enqua nto homem, ou que no o resultado do progresso ou do labor do pensamento humano, m as que um dom imprevisvel do destino imperscrutvel. Se compreendemos agora o que no se compreendia em pocas mais recuadas, ou seja, que o pensamento depende essenci almente do destino, tal deve-se ao prprio destino. O historicismo tem em comum co m todo o pensamento restante o facto de depender do destino. diferente de todo o pen(9 A distino entre condio e fonte corresponde diferena entre a histria da filos iro livro da Metafsica de Aristteles e a histria historicista. DIREITO NATURAL E HISTORIA sarnento restante no facto de, graas ao destino, lhe ter sido dado a compreender a dependncia do pensamento relativamente ao destino. Ignoramos em absoluto as sur presas que o destino estar a preparar para as geraes vindouras, e no futuro o desti no pode uma vez mais esconder aquilo que nos revelou; mas isso no abala a verdade dessa revelao. No preciso transcender a histria para ver o carcter histrico de todo pensamento: h um momento privilegiado, um momento absoluto no processo histrico, um momento em que o carcter essencial de todo o pensamento se torna transparente. Ao se exclu ir do seu prprio veredicto, o historicismo pretende apenas reflectir como um espe lho o carcter da realidade histrica ou reproduzir a verdade dos factos; o carcter c ontraditrio da tese historicista deve ser imputado, no ao historicismo, mas realid ade.
O pressuposto de um momento absoluto na histria essencial para o historicismo. Ne ste aspecto, o historicismo imita subrepticiamente o precedente estabelecido por Hegel de uma maneira clssica. Hegel ensinara que todas as filosofias so a expresso conceptual do esprito das suas respectivas pocas, e todavia garantia a verdade ab soluta do seu prprio sistema filosfico, atribuindo sua prpria poca um carcter absolut o; pressupunha que a sua poca era o fim da histria e, por isso, o momento absoluto . O historicismo nega explicitamente que o fim da histria chegou, mas de modo imp lcito afirma o contrrio: no h mudana futura possvel de orientao que possa com legitim de pr em dvida a inteleco decisiva da dependncia incontornvel do pensamento em relao destino, e assim do carcter essencial da vida humana; no aspecto mais decisivo, o fim da histria, isto , da histria do pensamento, j chegou. Mas no se pode pur a e simplesmente assumir que se vive ou pensa no momento absoluto; preciso mostr ar, de algum modo, como que o momento absoluto pode ser reconhecido como tal. Se gundo Regei, o- Momento absoluto o momento em que a filosofia, ou a procura da s abedoria, se converteu em sabedoria, isto , o -momento em que os 'enigmas fundame ntais foram completamente resolvidos. Contuo;: jvaliclad.e do historicismo depende em absoluto da negao da possibilidade de u ma metafsica teortica e de uma tica filosfica ou o.,direito.natural; depende da negao da possibilidade de se resolverem os enigmasf undamentais. Portanto, segundo o historicismo, o momento absoluto tem de ser o m omento em que o carcter irresouva dos enigmas fundamentais se tornou plenamente m anifesto, ou que aliiSo fundamental do esprito humano.foi dissipada. O DIREITO NATURAL E A ABORDAGEM HISTRICA 29 Mas poder-se-ia compreender o carcter irresolvel dos enigmas fundamentais e ainda assim continuar a ver na sua resoluo a tarefa , da filosofia; desse modo, apenas s e estaria a substituir uma filosofia no-historicista e dogmtica por uma filosofia no-historicista e cptica. O historicismo vai mais longe do que o cepticismo. Pressupe que a filosofia, no sentido originrio e pleno do termo, o que vale por dizer, a tentativa de subst ituir as opinies sobre o todo pelo conhecimento do todo, no s incapaz de alcanar o s eu objectivo, como absurda, porque a prpria ideia de filosofia assenta em premiss as dogmticas, isto , arbitrrias, ou, mais especificamente, em premissas que so apena s histricas e relativas. Pois evidente que, Se a filosofia, ou a tentativa de subst ituir as opinies por conhecimento, assenta em meras opinies, ento a filosofia absur da. As tentativas mais influentes de estabelecer o carcter dogmtico e, por isso, arbit rrio ou historicamente relativo da filosofia propriamente dita foram desenvolvida s da seguinte forrn-. A filosofia, ou a tentativa de substituir as opinies sobre o todo pelo conhecimento do todo, pressupe que o todo conhecvel, isto , inteligvel. E ste pressuposto conduz consequncia de que o todo tal como em si mesmo assimilado ao todo na medida em que o todo inteligvel, ou na medida em que se pode converter num objecto; conduz identificao do ser com o inteligvel ou com o objecto; conduz iderao dogmtica de tudo o que o no se pode converter num objecto, isto , num objecto para o sujeito pensante, ou desconsiderao dogmtica de tudo o que no pode ser dominad o pelo sujeito. Com efeito, dizer que o todo conhecvel ou inteligvel equivale a di zer que o todo tem uma estrutura permanente ou que o todo enquanto, tal imutvel o u sempre o mesmo. Se assim for, em princpio, possvel prever o que o todo ser no fut uro: o futuro do todo pode ser antecipado pelo pensamento. Diz-se que o dito pre ssuposto tem as suas razes na identificao dogmtica de ser no sentido mais elevado do t ermo com ser sempre, ou no facto de que a filosofia entende ser num sentido tal que s er no sentido mais elevado do termo tem de significar ser sempre. Do carcter dogmtico da premissa- fundamental da filosofia diz-se que foi revelado pela descoberta d a histria ou da historicidade da vida humana. O sentido dessa descoberta pode ser e xpresso em teses como esta: o que se chama o todo na realidade sempre incompleto e, portanto, no verdadeiramente um todo; o todo essencialmente mutvel de tal mane ira que o seu futuro no pode ser previsto; o todo tal como em DIREITO NATURAL E HISTRIA si mesmo nunca pode ser apreendido, ou o todo no inteligvel; o pensamento humano d epende essencialmente de algo que no pode ser antecipado, ou que nunca pode ser u m objecto, ou que nunca pode ser dominado pelo sujeito; ser no sentido mais elevad
o do termo no pode significar ou, em todo o caso, no significa necessariamente ser sempre. No podemos sequer tentar proceder a uma discusso destas teses. Temos de as deixar com a seguinte observao. O historicismo radical obriga-nos a compreender o peso do facto de que a prpria ideia do direito natural pressupe a possibilidade da filoso fia no sentido originrio e pleno do termo. Ao mesmo tempo, obriga-nos a compreend er a necessidade de uma reconsiderao imparcial das premissas mais elementares cuja validade a filosofia pressupe. No se pode contornar a questo da validade dessas pr emissas atravs da adeso ou da fidelidade a uma tradio filosfica mais ou menos persist ente, porque da essncia das tradies cobrirem ou esconderem as suas humildes fundaes d ebaixo de edifcios impressionantes. Nada se deve dizer nem fazer que possa criar a impresso de que a reconsiderao imparcial das mais elementares premissas da filoso fia um assunto meramente acadmico ou histrico. Contudo, antes de s proceder a essa reconsiderao, a questo do direito natural tem de permanecer em aberto. Pois no podemos admitir que a questo tenha sido definitivamente decidida pelo hist oricismo. A experincia da histria e a experincia menos ambgua da complexidade dos assu ntos humanos pode ofuscar, mas no pode extinguir, a evidncia das simples experincia s relacionadas com o bom e com o mau que esto no fundo da afirmao filosfica de que e xiste um direito natural. O historicismo ignora ou ento distorce estas experincias . Com efeito, a tentativa mais meticulosa de afirmar o historicismo culminou na assero de ue-onde e.quando no houver seres humanos, pode haver entia, mas .no pode h aver esse, isto , pode haver entia embora no haja esse. H lima bvia ligao entre esta a ssero e a rejeio da ideia de que ser, no sentido mais elevado do ser significa ser sem re. Alm disouve sempre um contraste gritante entre o modo como o historiSino:: entende o pe nsamento do passado e o entendimento genuno ensam.ento do passado, a possibilidade inegvel da objectividade igtAii-Ca-,, de um modo explcito ou implcito, negada pelo histo~,''s g.?~ei-ri todas as suas formas. E principalmente, na transio do A-ri-50m .historicismo (terico) para o historicismo radical (existenO DIREITO NATURAL E A ABORDAGEM HISTRICA 31 cialista) , a experincia da histria nunca foi sujeita a uma anlise crtica. Pre que se tratava de experincia genuna e no de uma interpretao questionvel da experincia. No se levantou a questo de saber se essa experincia pode ser sujeita a uma interpre tao completamente diferente e talvez mais adequada. Em particular, a experincia da h istria no pe em dvida a ideia de que os problemas fundamentais, como os problemas da justia, persistem ou mantm a sua identidade apesar de todas as mudanas histricas, po r mais que possam ser obscurecidos pela negao temporria da sua relevncia, e por mais variveis ou provisrias que todas as solues humanas para esses problemas possam ser. Ao entender estes problemas como problemas, o esprito humano liberta-se das suas limitaes histricas. Nada mais necessrio para legitimar a filosofia no seu sentido o riginrio, no seu sentido socrtico: a filosofia saber que no se sabe; o que vale por dizer que o conhecimento do que no se conhece, ou a tomada de conscincia dos prob lemas fundamentais e, por conseguinte, das alternativas fundamentais que comanda m as suas solues e que so coevas do pensamento humano. Se a existncia e at a possibilidade do direito natural tm de permanecer questes em a berto enquanto a disputa entre o historicismo e a filosofia no-historicista no est iver decidida, a nossa necessidade mais urgente compreender essa disputa. Esta no ser compreendida se for vista apenas do modo como se apresenta a si mesma do pon to de vista do historicismo; tem tambm de ser vista do modo como se apresenta a s i mesma do ponto de vista da filosofia no-historicista. Isso quer dizer, para tod os os efeitos prticos, que o problema do historicismo tem de ser considerado, em primeiro lugar, do ponto de vista da filosofia clssica, que constitui o pensament o no-historicista na sua forma pura. Ento, a nossa necessidade mais urgente s pode ser satisfeita atravs de estudos histricos que nos capacitem a compreender a filos ofia clssica exactamente como esta se entendia a si mesma, e no a compreend-la do m odo como se apresentava a si mesma pela perspectiva historicista. Em primeiro lu gar, precisamos compreender a filosofia no-historicista de uma forma no-historicis ta. Mas no menos urgente a necessidade que temos de compreender o historicismo de
uma forma no-historicista, isto , compreender a gnese do historicismo que no presum a desde logo a sua validade. O historicismo pressupe que a viragem do homem moderno para a histria trazia implci ta a intuio, e posteriormente a descoberta, de uma dimenso da realidade que escapar a ao pensamento DIREITO NATURAL E HISTRIA clssico, .a saber, a dimenso histrica. Se se conceder este argumento, -se por fim forado a aceitar o historicismo extremo. Mas se no se pode presumir desde logo a validade do historicismo, torna-se inevitvel perguntar se o que foi aclamado no sculo XIX como uma descoberta no foi, de facto, uma inveno, istd , uma interpretao arbitrria dos fenmenos que foram em todas as ocas conhecidos e que foram, interpretados de uma forma muito mais adequada antes do surgimento da conscincia histrica. Temos de levantar a seguinte questo: o que se chama a descober ta 'da histria no ser, de facto, uma soluo artificial e provisria para um problema que s podia surgir sustentado em premissas muito controversas? Sugiro a seguinte abordagem. No decurso das vrias pocas, a histria era primeiramente a histria poltica. Assim, o que se chama a descoberta da histria a obra, no da filosofia em geral, mas da filosofia poltica. Foram os apuros prprios da filosofia poltica do sculo XVIII qu e conduziram ao surgimento da escola histrica. A filosofia poltica do sculo XVIII era uma doutrina do direito natural. Consistia numa interpretao peculiar do direito natural, designadamente na interpre tao especificamente moderna. O historicismo o resultado final da crise do direito natural moderno. A crise do direito natural moderno ou da filosofia poltica moderna s pde converter-se numa crise da fi losofia enquanto tal porque nos sculos modernos a filosofia enquanto tal fora totalmente politizada. Na sua origem, a filosofia fora a procura humanizadora da ordem eterna, e fora, por isso, uma f onte pura de inspirao e aspirao humanas. A partir do sculo XVII, a filosofia converteu-se numa arma, e, por isso, num instrumento. Foi esta politizao da filosofia que um intelectual, que denunciou a traio dos intelectu ais, assinalou como a raiz dos nossos problemas. No entanto, cometeu o erro fata l de ignorar a diferena essencial entre intelectuais e filsofos. Neste aspecto, co ntinuou a ser uma vtima da iluso que denunciou. Porquanto a politizao da filosofia c onsiste precisamente num primeiro desvanecimento da diferena entre intelectuais e a que outrora se chamava a diferena entre gentis-homens e filsofos, por u filsofos m lado, e a diferena entre sofistas, ou retores, e filsofos, por outro e, por fim, no desaparecimento dessa -diferena. II O Direito Natural e a Distino entre Factos e Valores A tese historicista pode ser reduzida afirmao de que o direito natural impossvel po rque a filosofia no sentido pleno do termo impossvel. A filosofia s possvel se houv er um horizonte absoluto, ou um horizonte natural, em contraposio aos horizontes h istoricamente variveis, ou s cavernas. Por outras palavras, a filosofia s possvel se o homem, apesar de ser incapaz de adquirir a sabedoria ou de compreender plenam ente o todo, for capaz de conhecer o que no conhece, o que vale por dizer, se for capaz de apreender os problemas fundamentais e, por isso, as alternativas funda mentais que so, em princpio, coevas do pensamento humano. Mas a possibilidade da f ilosofia apenas a condio necessria, e no a condio suficiente do direito natural. Para que a filosofia seja possvel basta que os problemas fundamentais sejam sempre os mesmos; mas no pode haver direito natural se o problema fundamental da filosofia poltica no puder ser resolvido de uma maneira definitiva. Se a filosofia em geral possvel, a filosofia poltica em particular possvel tambm. A filosofia poltica possvel desde que o homem consiga compreender as alternativas po lticas fundamentais que esto na base das alternativas efmeras ou acidentais. Porm, s e a filosofia poltica se limita a compreender a alternativa poltica fundamental, e nto no tem valor prtico. Seria incapaz de responder pergunta de qual o objectivo lti mo da aco sbia. Teria de delegar a deciso crucial escolha cega. Toda a galxia de fils
fos polticos de Plato a Hegel, e, em todo o caso, todos os partidrios do direito na tural, pressupunham que o problema poltico fundamental susceptvel de DIREITO NATURAL E HISTORIA uma soluo definitiva. Em ltima anlise, este pressuposto assenta na resposta socrtica pergunta de como deve o homem viver. Ao tomarmos conscincia da nossa ignorncia das coisas mais importantes, tomamos conscincia ao mesmo tempo de que as coisas mais importantes para ns, ou a nica coisa necessria, a procura do conhecimento das coisas mais importantes ou a procura da sabedoria. Todos os leitores d a Repblica de Plato ou da Poltica de Aristteles sabem gue esta concluso no est desprovida de consequncias polticas. E verdade que a procura bem sucedida da sabedoria poderia conduzir ao resultado de que a sabedoria no a nica coisa necessria. Mas este resultado s seria relevante por resultar da procura da sabedoria: a prpria rejeio da razo tem de ser uma rejeio razovel. Independentemente de esta possi ilidade afectar a validade da resposta socrtica, o conflito permanente entre a resposta socrtica e a resposta anti-socrtica d-nos a impresso de que as solues propostas so igualmente arbitrrias, ou que o conflito permanente irresolvel. por isso que muitos cientistas sociais dos nossos dias que no so historicistas, ou que admitem a existncia de alternativas fundamentais e imutveis, ne gam que a razo humana consiga resolver o conflito entre essas alternativas. O direito natural hoje rejeitado, ento, no s porque se considera que todo o pensamento humano histrico, mas igualmente porque se pensa que existe uma variedade de princpios imutveis de justia ou de bondade que conflituam uns com os outros, sem que se possa demonstrar a superioridade de um- princpio sobre os restantes. Em termos substantivos, esta a posio assumida por Max Weber. A nossa discusso limit ar-se- a uma anlise crtica da perspectiva de Weber. No houve mais ningum desde Weber que dedicasse uma poro de inteligncia comp arvel, de perseverana e de dedicao quase fantica ao problema fundamental das cincias s ociais, Sejam _ quais forem os seus erros, Weber o maior cientista social do nos so sculo. ,- Weber, que se considerava a si mesmo uni discpulo da escola istrica(1), esteve m uito prximo do historicismo, e no faltam boas razes para sustentar que as suas rese rvas relativamente ao historiciso:eram, pouco entusisticas, e incoerentes com a t endncia mais geo seu pensamento. Afastou-se da escola histrica, no s porque Gszrnmelte politische Schnften, p. 22; Gesammelte Atfstze zur WissenschaftsO DIREITO NATURAL E A DISTINO ENTRE FACTOS E VALORES I 35 a esta rejeitara normas naturais, isto , normas que so tanto universais como objecti vas, mas porque tentara estabelecer padres que, apesar de serem, de facto, partic ulares e histricos, ainda eram objectivos. As objeces de Weber escola histrica dever am-se no ao facto de esta ter obscurecido a ideia de direito natural, mas de ter conservado o direito natural por detrs de um disfarce histrico, em vez de o rejeit ar por completo. A escola histrica dera ao direito natural um carcter histrico ao i nsistir no carcter tnico de todo o direito genuno, ou ao fazer proceder todo o dire ito genuno de espritos populares nicos, ou ainda ao pressupor que a histria da human idade um processo com um sentido ou um processo regido por uma necessidade intel igvel. Weber rejeitou ambos os pressupostos por serem metafsicos, isto , por se sus tentarem na premissa dogmtica de que a realidade racional. Como Weber pressupunha que o real sempre individual, podia enunciar a premissa da escola histrica tambm nestes termos: o individual uma emanao do geral ou do todo. Contudo, segundo Weber , os fenmenos individuais ou parciais s podem ser compreendidos como efeitos de ou tros fenmenos individuais ou parciais, e nunca como efeitos de totalidades como o s espritos populares. Tentar explicar os fenmenos histricos ou singulares como proc edendo de leis gerais ou de totalidades singulares implica pressupor de forma gr atuita que os actores histricos so movidos por foras misteriosas e impermeveis anlise (2) . No existe um sentido da histria alm do senado subjectivo ou das intenes que a os actores histricos. Mas estas intenes tm um poder to limitado que o resultado real , na maioria dos casos, inteiramente imprevisto. Porm, o resultado real o destino
histrico que no planeado por Deus, nem pelo homem, molda no s o nosso modo de vida, mas tambm os nosos prprios pensamentos; na verdade, chega a determinar, em particu lar, os nossos ideais(3). No entanto, Weber ainda estava demasiado influenciado pela ideia de cincia para aceitar sem reservas o historicismo. De facto, tentador sugerir que a sua devoo ideia de cincia emprica tal como prevalecia na sua gerao foi o motivo principal da sua oposio escola histrica e ao historicismo em geral. A idei a de cincia forou-o a insistir no facto de que toda a cincia enquanto tal independe nte da Weltanschauung quer a cincia (2) Wissenschaftslehre, pp. 13, 15, 18, 19, 28, 35-37, 134, 137, 174, 195, 230; Gesamtnelte Aufslitze zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, p. 517. (3) Wissenschaftslehre, pp. 152, 183, 224 nota; Politische Schriften, pp. 19, 43 7; Gesamtneltefsdtze zur Religionssoziologie, I, pp. 82, 524. DIREITO NATURAL E HISTRIA da natureza, quer a cincia social, pretendem ser igualmente vlidas tanto para os O cidentais como para os Chineses, isto , para pessoas cujas mundividncias so radicalme nte diferentes. A gnese histrica da cincia moderna o facto de ter a sua origem no Ocidente totalmente irrelevante no que diz respeito sua validade. Weber tambm no duvidava que a cincia moderna fosse absolutamente - superior a qualquer fo rma anterior de pensar o mundo da natureza e da sociedade. Essa superioridade pode ser demonstrada objectivamente, por referncia s regras da lgica(4). Contudo, no esprito de Weber surgiu uma dificuldade relacionada com a cincia .social em particular. Weber insistia na validade universal e objectiva da 'cincia social na medida em que um corpo de proposies verdadeiras. Porm, essas proposies so apens uma parte da cincia social. So os resultados da investigao cientfica, ou so respostas a perguntas. As questes que dirigimos aos fenmenos sociais dependem da direco do nosso interesse ou do nosso ponto de vista, e estes dependem dos nossos juzos de valor. Mas os juzos de valor so historicamente relativos. Da que a substncia da cincia social seja radicalmente histrica; pois so os juzos de valor e a direco do interesse que determinam todo o enquadramento conceptual das cincias sociais. Assim, no faz sent ido falar de um quadro natural de referncia ou procurar um sistema definitivo de co nceitos elementares: todos os quadros de refernci so efmeros. Cada esquema conceptua l utilizado pela cincia social articula os problemas fundamentais, e estes proble mas mudam consoante a situao social e cultural. A cincia social necessariamente a c ompreenso da sociedade do ponto de vista do presente. S os resultados cientficos em termos de factos e das suas causas so trans-histricos. Dito de modo mais rigoroso , o que trans-histrico a validade dos resultados cientficos; mas a importncia ou si gnificado de quaisquer resultados depende de juzos de valor e, por isso, de princp ios historicamente mutveis. Em ltima anlise, esta concluso aplica-se a todas as cinci as. Toda a cincia pressupe que a cincia tem valor, mas este pressuposto o produto d e certas culturas, e, portanto, historicamente relativo (5). Contudo, os juzos de valor histricos e concretos, cuja diversidade infinita, Obtm elementos de carcter trans-histrico: os valores ltimos so to intemporais como os princpios de lgica. o rec nhecimento 4 Wis:senchaftslehre, pp. 58-60, 97, 105, 111, 155, 160, 184. pp. 60,152, 170, 184, 206-209, 213-214, 259, 261-262. R O DIREITO NATURAL E A DISTINO ENTRE FACTOS E VALORES 37 de valores intemporais que mais significativamente separa a posio de Weber do hist oricismo. A sua rejeio do direito natural funda-se no tanto no historicismo, mas nu ma noo particular de valores intemporais (6) Weber nunca explicou o que entendia por valores. Estava principalmente interessado nas relaes dos valores com os factos. Os factos e os valores so absolutamente hete rogneos, como demonstrado de forma directa pela absoluta heterogeneidade das ques tes de facto e das questes de valor. Nenhuma concluso pode ser retirada de qualquer facto quanto ao seu valor, nem podemos inferir o carcter factual de algo por ter valor ou por ser desejvel. A razo no est do lado nem do que conveniente para os tem
pos, nem da racionalizao dos desejos. Ao se demonstrar que o objectivo do processo histrico uma dada ordem social, nada se diz sobre o valor ou sobre o carcter dese jvel dessa ordem. Ao mostrar que certas ideias religiosas ou ticas tiveram um gran de efeito ou nenhum efeito, nada se diz sobre o valor dessas ideias. Compreender uma avaliao factual ou possvel algo totalmente diferente de aprovar ou perdoar ess a avaliao. Weber asseverava que a heterogeneidade absoluta dos factos e dos valore s implica necessariamente que a cincia social seja eticamente neutra: a cincia soc ial pode dar resposta a questes de facto e de causalidade; no competente perante q uestes de valor. Weber insistiu muito enfaticamente no papel desempenhado pelos v alores na cincia social: os objectos da cincia social so constitudos por referncia aos valores. Sem essa referncia no haveria concentrao em interesses especficos, nem uma eco razovel dos temas, nem princpios de distino entre os factos relevantes e irrelevan tes. Os objectos da cincia social emergem do oceano ou do pntano dos factos atravs da referncia aos valores. Mas Weber insistia no menos enfaticamente na diferena funda mental entre a referncia aos valores e os juzos de valor: por exemplo, ao dizer que a lgo relevante no que diz respeito liberdade poltica, nem por isso se toma uma pos io a favor ou contra a liberdade poltica. O cientista social no avalia os objectos c onstitudos por referncia aos valores; limita-se a explic-los ao detectar as suas caus as. Os valores a que a cincia social se refere, e dentre os quais o homem que age tem de escolher, carecem de clarificao. esta a funo da filosofia social. Mas mesmo a filosofia social no pode resolver os problemas (6) Ibid., pp. 60, 62, 152, 213, 247, 463, 467, 469,472; Politische Schrifien, p p. 22, 60. 38 DIREITO NATURAL E HISTRIA cruci s dos valores. No pode criticar os juzos de valor que no se-iam internamente contra ditrios (7) . Weber afirmava que a sua ideia de uma cincia social isenta de valores ou eticamente neutra inteiramente justificada por aquilo que ele considerava ser a mais funda mental de todas as oposies, designadamente a oposio entre o ser e o dever-ser, ou a oposio entre realidade e norma ou valor (8). Mas concluir pela impossibilidade de uma cincia social que pronuncie avaliaes a partir da heterogeneidade radical do ser e do dever-ser obviamente insustentvel. Suponhamos que tnhamos um conhecimento ge nuno do que correcto e incorrecto, ou do dever-ser, ou do verdadeiro sistema de v alores. Esse conhecimento, apesar de no decorrer da cincia emprica, acabaria por or ientar com legitimidade toda a cincia social emprica; seria o fimdatnento de toda a cincia social emprica. Porquanto a cincia social pretende ter valor prtico. Tenta encontrar os meios para os fins que so dados. Para este efeito tem de compreender os fins. Independentemente de se os fins so dados de um modo diferente dos meios, o fim e os meios esto associados; por conseguinte, o fim pertence mesma cincia que os meios (9). Se houvesse conhecimento genuno dos fins, esse conhecimento conduzir ia naturalmente toda a procura dos meios. No haveria razo para delegar o conhecime nto dos fins na filosofia social, ficando a procura dos meios a cargo de uma cinc ia social independente. Apoiada no conhecimento genuno dos verdadeiros fins, a cin cia social procuraria os meios apropriados a esses fins; a cincia social produzir ia juzos de valor objectivos e especficos sobre as polticas. A cincia social seria u ma cincia verdadeiramente definidora de polticas, para no dizer arquitectnica, em ve z de se limitar a fornecer dados para os que tm efectivamente que fazer as poltica s. A verdadeira razo por que Weber insistia no carcter eticamente neutro da cincia social assim como da filosofia social era, ento, no a sua crena na oposiafundamental entre o ser e o dever-ser, mas a sua crena de que no podia haver um conhecimento g enuno do dever-ser. Weber _ negava que o homem pudesse possuir uma cincia, emprica ou racional, um conhecimento, cientfico ou filosfico, do verdadeiro sistema 1.)Wissenschaftslehre, pp. 90, 91, 124, 125, 150, 151, 154, 155, 461-465, 469-47 3, 5,0.45, 550; Gesamelte Aufsdtze zur Soziologie und Sozialpolitilc, pp. 417-41 8, 476477, ,No.que diz respeito 4, relao entre a limitao da cincia social ao estudo d os factos crena na autoridade das cincias da natureza, ver Soziologie und Sozialpo litik, p. 478. (8).M.isenschaftslehre, pp. 32, 40 nota, 127 nota, 148, 401, 470471, 501, 577. AristOteles, Fsica 194a26-27
O DIREITO NATURAL E A DISTINO ENTRE FACTOS E VALORES 39 e de valores: o verdadeiro sistema de valores no existe; existe, sim, uma diversida de de valores que pertencem ao mesmo escalo, cujas exigncias conflituam umas com a s outras, e cujo conflito no pode ser sanado pela razo humana. A cincia social ou a filosofia social no pode fazer mais do que clarificar esse conflito e todas as s uas implicaes; a soluo tem de ser entregue deciso livre, no racional, de cada indivduo. Defendo que a tese de Weber conduz necessariamente ao niilismo ou ideia de que c ada preferncia, por m, vil ou insana que seja, tem de ser julgada pelo tribunal da razo como sendo to legtima como qualquer outra. Um sinal indesmentvel desta inevita bilidade dado por uma declarao de Weber sobre o futuro da civilizao ocidental. Weber via duas possibilidades: ou uma renovao espiritual (profetas inteiramente novos ou um poderoso renascimento de pensamentos e ideais antigos) ou ento a petrificao mecan izada, envernizada por uma espcie de respeito prprio convulsivo, isto , a extino de to da a possibilidade humana com a excepo dos especialistas sem esprito nem viso e volup turios sem corao. Confrontado com esta alternativa, Weber sentiu que a deciso em favo r de uma ou de outra possibilidade seria um juzo de valor ou de f, e, por consegui nte, fora do mbito da razo (1). Isso equivale a admitir que o modo de vida dos espec ialistas sem esprito nem viso e volupturios sem corao to defensvel como os modos de recomendados por Ams ou por Scrates. Para analisarmos este ponto com mais clareza e ver ao mesmo tempo como que Weber escondeu de si mesmo as consequncias niilistas da sua doutrina dos valores, temo s de acompanhar o seu pensamento passo a passo. Ao acompanhar este movimento at a o seu firn, chegaremos inevitavelmente a um ponto para l do qual a sombra de Hide r comea a escurecer a cena. Infelizmente, preciso sublinhar que no decurso do nos so exame temos de evitar a falcia que nas ltimas dcadas foi muitas vezes usada como um substituto da reductio ad absurdum: a reductio ad Hitlerum. Para refutar uma perspectiva no basta assinalar o facto de ter sido partilhada por Hider. Weber comeou por combinar as ideias de Kant, tal como eram entendidas por alguns neo-kantianos, com as ideias da escola histrica. Do neo-kantismo retirou a sua co ncepo geral do carcter da (w) Comparar Religionssoziologie, I, p. 204, com Wissenschaftslehre, pp. 469-70 e 150-151. DIREITO NATURAL E HISTRIA cinci-a, assim como da tica individual. Da a sua rejeio do utilitarismo e de todas as ormas de eudemonismo. Da escola histrica retirou a ideia de que nenhuma ordem social ou cultural pode ser vista corno a ord em justa ou racional. Combinou as duas perspectivas por nieio da distino entre com andos morais (ou imperativos ticos) e valores culturais. Os comandos morais dirigem-se nossa conscincia, ao passo que o s valores culturais dirigem-se aos nossos sentimentos: o indivduo deve cumprir os seus deveres morais; mas cabe apenas ao seu arbtrio decidir se deseja realizar ideais culturais ou no. Os ideais ou val ores culturais carecem do carcter especificamente obrigatrio dos imperativos morais. Estes imperativos tm uma dignidade prpria, e Weber estava muito interessado em garantir que essa dignidade fosse rec onhecida. Mas, precisamente por causa da diferena fundamental entre comandos morais e valores culturais, a tica propriamente dita guarda silncio quanto s questes culturais e sociais. Embora os genti l-homens, ou os homens honestos, concordem necessariamente a respeito das coisas morais, eles discordam legitimamente a respe ito de coisas como a arquitectara grega, a propriedade privada, a monogamia, a d emocracia, e por a em diante (11). Assim, -se levado a pensar que Weber admitia a existncia de normas racionais absol utamente vinculativas, designadamente os imperativos morais. Porm, imediatamente se percebe que o que ele diz acerca dos comandos morais no muito mais do que o resduo de urna tradio no seio da q ual foi educado, e que, na verdade, nunca deixou de o determinar enquanto ser humano. Na realidade, no seu
pensamento os imperativos ticos so to subjectivos como os valores culturais. Segund o Weber, to legtimo rejeitar a tica em nome dos valores culturais como rejeitar os valores culturais em nome da tica, ou adoptar qualquer combinao no-contraditria de ambos os tipos de norma(12). Es ta deciso era a consequncia inevitvel da sua concepo de tica. No podia conciliar a sua ideia de que a tica nada diz acerc ordem social justa com a inegvel relevncia tica das questes sociais, a menos que relativizasse a tica. Foi com este ponto de part que desenvolveu o conceito de personalidade ou de dignidade humana. O verdadeiro significado de personalidade depende do verdadeiro significado de liberdade. Em termos provi_ (').Polidsche Schriji'en, p. 22; iteligionssoziologie, I, pp. 33-35; Wissenschaf tslehre, pp.30,"148, 154, 155, 252, 463, 466, 471; Soziologie und Sozialpolitik, p. 418. (12) Wisnschafislehre, pp. 38 nota 2, 40-41, 155, 463, 466-469; Soziologie und So. Ipolitik,, P.. 423.. O DIREITO NATURAL E A DIST-1NC k0 ENTRE FACTOS E VALORES 41 srios, pode-se dizer que a aco humana livre na medida em que no afectada pela compul externa nem por emoes irresistveis, mas orientada pela ponderao racional dos meios e dos fins. Todavia, a verdadeira liberdade exige fins de um certo tipo, e esses fins tm de ser escolhidos de uma certa maneira. Os fins tm de estar ancorados em v alores ltimos. A dignidade humana, a sua exaltao muito acima de tudo o que pura e s implesmente natural ou acima de -todos os animais, reside na sua capacidade de e stabelecer com autonomia os seus valores ltimos, de fazer destes valores os seus fins constantes, e de escolher racionalmente os meios para realizar esses fins. A dignidade humana consiste na sua autonomia, isto , na escolha livre do indivduo dos seus prprios valores, ou dos seus prprios ideais, ou em obedecer exortao: Torna-t e no que s (13). Neste ponto, ainda estamos perante algo que se assemelha a uma norma objectiva, a um imperativo categrico: Tu ters ideais. O imperativo formal; no determina de form lguma o contedo dos ideais, mas ainda poderia parecer que estabelece um padro inte ligvel ou no arbitrrio que nos permitiria distinguir de uma maneira responsvel entre a excelncia humana e a depravao. Por conseguinte, poderia parecer que cria uma irm andade universal de todas as almas nobres; de todos os homens que no so escravizad os pelos seus apetites, pelas suas paixes e pelos seus interesses egostas; de todo s os idealistas de todos os homens que podem estimar-se e respeitar-se mutuamente. Porm, isso no passa de uma iluso. O que primeira vista parece ser uma igreja invisv el acaba por ser uma guerra de todos contra todos ou, melhor, um pandemonium. A formulao de Weber do seu imperativo categrico era Segue o teu demnio ou Segue o teu deus ou o teu demnio. No seria justo censurar Weber por se ter esquecid o da possibilidade de haver demnios malignos, mesmo que possa ter sido culpado de os subestimar. Se tivesse pensado apenas nos bons demnios, seria forado a admitir um critrio objectivo que lhe permitisse distinguir em princpio os demnios benignos dos malignos. Na realidade, o seu imperativo categrico quer dizer Segue o teu demnio, seja ele benigno ou maligno. Pois h um conflito insolvel e morta l entre os vrios valores que o homem tem de escolher. O que para um homem signifi ca seguir Deus, para outro significar, com igual direito, seguir o Diabo. O imper ativo categrico tem, ento, de ser formulado do seguinte modo: Segue Deus ou o Diabo como te (s) Wissenschaftslehre, pp. 38, 40, 132-133, 469470, 533-534, 555. DIREITO NATURAL E HISTRIA prouver, mas, seja qual for a escolha que fizeres, f-la com todo o teu ac.-orao, co m toda a tua alma e com todo o teu poder (14). A baixeza bsoluta consiste em seguir os prprios apetites, as paixes ou o intea resse, e ser indiferente ou tbio perante os ideais ou os valores, perante os deus es ou os diabos. o idealismo de Weber, isto , o seu reconhecimento de todos os ideais ou de toda s as causas, parece autorizar uma clisobjectivos
tino no arbitrria entre a excelncia e a baixeza ou a depravao. Ao mesmo tempo, culmina no imperativo Segue Deus ou o Diabo, o que quer dizer, em linguagem no teolgica, Procura resolutamente alcanar a ex celncia ou a baixeza. Pois se Weber queria dizer que escolher um sistema de valore s A em detrimento de um sistema de valores B compatvel com o respeito genuno pelo sistema de valores 13, ou no implica a rejeio do sistema de valores B como vil, no f azia sentido falar de uma escolha entre Deus e o Diabo; s podia querer dizer que quando falava num conflito mortal no se referia a mais do que uma simples diferena de gostos. Assim, tudo indica que para Weber, na sua qualidade de filsofo social , a excelncia e a baixeza haviam perdido por completo o seu sentido principal. Ag ora a excelncia significa devoo a uma causa, seja ela boa ou m, e a baixeza signific a indiferena perante todas as causas. Entendidas desta forma, a excelncia e a baix eza pertencem a uma ordem superior. Pertencem a uma dimenso que exaltada muito ac ima da dimenso da aco. S podemos vision-las depois de termos rompido completamente co m o mundo em que temos de tomar decises, embora elas se apresentem como prvias a q ualquer deciso. So os correlatos de uma atitude puramente terica face ao mundo da a co. Essa atitude terica implica o igual respeito por todas as causas, mas tal respeito s possvel par a quem no se dedicou a qualquer causa. Ora, se excelnda a devoo a uma causa e a baix eza a indiferena perante.todas as causas, a atitude terica face a todas as causas teria de ser classificada como vil. No espanta, ento, que Weber fosse levado wriuestionar o valor da teoria, da cincia, da razo, do mundo do es-`1 prito, e, por isso, dos imperativos morais e dos valores culturais. Foi forado a c onferir ao que chamava valores 'puramente vitalistas' 4mesma dignidade que conferi a aos comandos morais e aos valores culturais. Dos valores 'puramente vitalistas' se pode dizer que ertencern -inteiramente esfera da individualidade prpria, o que 4 ):Ibid; pp: 455, 466-469, 546; Politische Schrifien, pp. 435-436. O DIREITO NATURAL E A DISTINO ENTRE FACTOS E VALORES vale por dizer que so puramente pessoais e de forma alguma constituem princpios de apoio a uma causa. Da que no sejam valores propriamente ditos. Weber asseverou de modo explcito que perfeitamente legtimo adoptar uma atitude hostil perante todos os valores e ideais impessoais e supra-pessoais, e, por conseguinte, perante tod as as preocupaes com a personalidade ou com a dignidade humana tal como foi anterior mente definida; porquanto, segundo Weber, s h um modo de algum se tornar numa person alidade, a saber, pela devoo absoluta a uma causa. A partir do momento em que aos v alores vitalistas reconhecido um estatuto igual ao dos valores. culturais, o imper ativo categrico Tu ters ideais transforma-se no comando Vivers apaixonadamente. A baix za j no significa indiferena perante os grandes objectos incompatveis da humanidade, mas antes acumular conforto e prestgio. Mas, excepo do capricho arbitrrio, com que direito se pode rejeitar o modo de vida do filisteu em nome dos valores vitalista s, se se rejeitam os comandos morais em nome desses mesmos valores? Foi porque re conheceu tacitamente que era impossvel travar esta trajectria descendente que Webe r admitiu com franqueza que desprezar os especialistas sem esprito nem viso e volup turios sem corao no passa de um juzo subjectivo de f ou de valor. Assim, a formulao um dever-ser cujo cumprimento itiva do princpio tico de Weber seria Ters preferncias erfeitamente assegurado pelo ser('s). Ao que parece, resta apenas um ltimo obstculo ao caos. Sejam quais forem as prefern cias que eu possa ter ou escolher, tenho de agir racionalmente: tenho de ser hon esto comigo mesmo, tenho de ser coerente na adeso aos meus objectivos fundamentai s, e tenho de escolher racionalmente os meios que os meus fins exigem. Mas porqu? Por que que isso ainda importa, quando fomos reduzidos a uma condio em que temos de considerar as mximas do volupturio sem corao, assim como as do filisteu sentiment al, to defensveis quanto as do idealista, do gentil-homem ou do santo? No podemos l evar a srio esta insistncia tardia na responsabilidade e na sanidade, esta preocup ao incoerente com a coerncia, este elogio irracional da racionalidade. No seria muit o mais fcil argumentar de forma convincente a favor da incoerncia do que defender, como Weber, a preferncia dos valores culturais em detrimento dos (") Wissenschaftslehre, pp. 61, 152, 456, 468-469, 531; Politische Schriften, pp . 443-444. DIREITO NATURAL E HISTRIA
eradvos? No estar necessariamente implcita a desvalorizao icrracionalidade sob todas as formas a partir do momento em que a e declara que legtimo tomar os valores vitalistas por valores susprernos? provavel mente, Weber insistiria em dizer que, sejam quais -forem. as preferncias adoptada s, temos de ser sinceros, pelo menos cada uni consigo mesmo, e em particular que no devemos cometer a desonestidade de atribuirmos um fundamento objectivo que se ria necessariarnente um falso fundamento s nossas preferncias. Mas, se ele o fizes se' estaria apenas a ser incoerente. Pois, segundo Weber, igualmente legtimo que rer ou no querer a verdade, ou rejeitar o verdadeiro em beneficio do belo e do sa grado (16). Ora ento porque no preferir iluses agradveis ou mitos edificantes verdad e? A considerao de Weber pela autodeterminao racional e pela honestidade intelectual trao do seu carcter que no tem outra base seno a sua preferncia no racional pela autod terminao racional e pela honestidade intelectual. chamar niilismo nobre ao niilismo a que a tese de Weber Pode-se chamar Pois esse niilismo no decorre de uma indiferena elementar perante tudo o que nobr e, mas da intuio presuntiva ou real segundo a qual tudo o que se julga ser nobre e st destitudo de fundamento objectivo. Porm, no se pode fazer a distino entre niilismo nobre e vil, a menos que se tenha algum conhecimento do que nobre e do que vil. Mas tal conhecimento transcende o niilismo. para se poder descrever o niilismo d e Weber como nobre, preciso romper com a posio por ele assumida. Poder-se-ia fazer a seguinte objeco crtica precedente. O que Weber ueria realmente dizer no pode ser expresso em temos de valores e de ideais; a citao Torna-te no que s, isto , Escolhe o teu destino, muito mais adequada para exprimir o seu pensamento. Segundo esta interpretao, Weber rejeitou as ,normas objectiv por serem incompatveis com a liberdade humana ou com a pbssibilidade de agir. Temos de deixar em aberto a questo de saber se esta razo para rejeitar as n ormas objectivas uma boa razo, e se a consequncia niilista seria evitada por tal i nterpretao do pensamento de Weber. Basta dizer que aceitar esta razo exigiria rompe r com as noes de valor e de ideal sobre as quais se edifica a doutrinade Weber, e que ssa doutrina, e no a interpretao possvel que mencionmos, que domina a cincia social do s nossos dias. ) Frissenschaf tslehre, pp. 60-61, 184, 546, 554. O DIREITO NATURAL E A DISTINO ENTRE FACTOS E VALORES 45 Muitos cientistas sociais do nosso tempo parecem considerar niilismo como uma in convenincia menor que os sbios tm de suportar com serenidade, j que o preo a pagar pe la obteno do bem supremo, uma cincia social verdadeiramente cientfica. Parecem conte ntar-se com quaisquer descobertas cientficas, embora estas no sejam mais do que ver dades estreis que no geram concluses, visto que as concluses so geradas por juzos de v lor puramente subjectivos ou por preferncias arbitrrias. Portanto, temos de ponder ar se a cincia social enquanto tarefa puramente terica, mas que no deixa de conduzi r compreenso dos fenmenos sociais, pode se constituir na base da distino entre facto s e valores. Recordemos uma vez mais a declarao de Weber acerca do futuro da civilizao ocidental. Tal como observmos, Weber encarava a seguinte alternativa: ou uma renovao espiritu al, ou ento a petrificao mecanizada, isto , a extino de todas as possibilidades human com a excepo dos especialistas sem esprito nem viso e volupturios sem corao. Weber t a seguinte concluso: Mas ao dizermos isto entramos no domnio dos juzos de valor e d e f que no devero sobrecarregar esta exposio puramente histrica. No apropriado, no svel, ento, que o historiador ou o cientista social descreva de modo fiel um certo tipo de vida como espiritualmente vazio ou que descreva os especialistas sem vi so e volupturios sem corao tal como so. Mas no ser isto absurdo? No ser um dever ind el do cientista social apresentar os fenmenos sociais de forma verdica e fiel? Com o podemos dar uma explicao causal de um fenmeno social se antes no o vemos tal como ele ? No reconhecemos a petrificao ou o vazio espiritual quando os vemos? E se algum incapaz de ver os fenmenos deste gnero, no ser que este mesmo facto o incapacita par a ser um cientista social, tal como um cego est incapacitado para ser um crtico de pintura? Weber estava particularmente interessado na sociologia da tica e da religio. Essa
sociologia pressupe uma distino fundamental entre ethos e tcnicas de vida (ou regras enciais). Como Weber admitia, o socilogo tem de ser capaz de reconhecer um eihos nas suas caractersticas prprias; tem de ter uma sensibilidade especial, de o saber ap reciar. Mas uma tal apreciao no implica necessariamente um juzo de valor? No implica assimilar que um dado fenmeno um ethos genuno e no uma simples tcnica de vida? Um h que afirmasse ter escrito uma sociologia da arte, quando na realidade escrevera uma sociologia do lixo, no seria recebido DIREITO NATURAL E HISTORIA argalhada? O socilogo da religio tem de distinguir os fenmenos -que tm um carcter rel igioso dos fenmenos no religiosos. Para o f-azer, tem de saber o que a religio , tem de compreender o que 0, religio. Ora, contrariamente ao que Weber sugeria, essa compreenso capacita-o e fora-o a distinguir uma religio genuna de uma religio espria, uma religio mais elevada de outra menos elevada: so mais elevadas as religies que r ecorrem num grau mais intenso Knotivaes especificamente religiosas. Ou podemos diz er que o socilogo se permite reparar na presena ou ausncia da religio ou do aethos pois tratar-se-ia de uma mera observao factual -, mas no pode atrever-se a se pronu nciar sobre o grau de intensidade dessa p- resena, isto , sobre a categoria da rel igio ou do ethos particular que est em estudo? O socilogo da religio no pode evitar re arar na diferena entre quem tenta obter o favor dos deuses atravs da lisonja e do suborno e os que tentam adquirir esse favor atravs de unia converso dos coraes. Ser a apreenso desta diferena possvel sem a simultnea apreenso da diferena de categoria que vem oplcita, a diferena entre uma atitude mercenria e uma atitude no mercenria? No se r forado a perceber que tentar subornar os deuses equivale a tentar ser o senhor o u o patro dos deuses, e que h uma incongruncia fundamental entre tais tentativas e o que homens pressentem quando falam dos deuses? De facto, toda a sociologia da religio de Weber depende de distines como estas: tica da inteno e formalismo sacerdo u mximas petrificadas); pensamento religioso sublime e pura feitiaria; a fonte fresc urna inteleco realmente profunda, e no s na aparncia, e uma confuso de imagens simbl completamente desprovidas de intuio; imaginao plstica e pensamento livresco. A sua ria no s aborrecida como absolutamente absurda se Weber no falasse quase sempre de praticamente todas as virtudes e vcios intelectuais e morais na linguagem apropri ada, isto , na linguagem do elogio e da censura. Estou a pensar em expresses como estas: grandes figuras, grandeza incomparvel, uma perfeio jamais superada, pseudo-s a, este laxismo foi sem dvida um fruto do declnio, completamente destitudo de qualidad artstica, explicaes engenhosas, superiormente instrudo, descrio magistral mpar idade e preciso na formulao, carcter lirne das exigncias ticas, perfeita coerncia osseiras e abstrusas, beleza viril, convico pura e profunda, eito impressionante, o de arte de primeira ordem. Weber O DIREITO NATURAL E A DISTINO ENTRE FACTOS E VALORES 47 e restou alguma ateno influncia do puritanismo na poesia, na msica,, e por a em diante. Reparou num certo efeito negativo que o puritanismo exerceu sobre essas artes. Este facto (se que se trata de um facto) deve a sua relevncia em exclusivo circun stncia de um impulso genuinamente religioso de grande importncia ter sido a causa do declnio da arte, isto , da secagem da fonte anterior de uma arte genuna e notvel. P ois no restam dvidas de que ningum com um mnimo de bom-senso prestaria voluntariamen te a menor ateno a um episdio histrico em que uma superstio moribunda produzira algo q ue no passava de lixo. No episdio estudado por Weber, a causa era uma religio genuna e notvel, e o efeito era o declnio da arte: tanto a causa, como o efeito s se deix am apreender por recurso a juzos de valor em contraposio a simples referncias a valo res. Weber teve de escolher entre a cegueira perante os fenmenos e os juzos de val or. Na sua qualidade de cientista social de profisso, escolheu com sabedorian . A proibio dos juzos de valor na cincia social levaria consequncia de que estamos auto rizados a fazer uma descrio estritamente formal de actos manifestos que podem ser observados em campos de concentrao, e talvez a fazer uma anlise factual da motivao do s actores envolvidos: mas j no estaramos autorizados a falar de crueldade. Todo o l eitor dessa descrio que no seja inteiramente estpido perceberia evidentemente que as aces descritas so cruis. Na verdade, a descrio factual seria uma stira mordaz. O que retendia ser um relatrio simples e directo seria um relatrio invulgarmente pejado de circunlocues. O autor reprimiria deliberadamente o seu prprio julgamento, ou, pa
ra usar a expresso favorita de Weber, cometeria um acto de desonestidade intelect ual. Ou, pra no desperdiar munio moral em coisas que no so dignas dela, todo o process faz lembrar um jogo infantil em que perde quem pronuncia certas palavras, cujo uso objecto de constante incitamento por parte dos parceiros de jogo. Weber, com o todos os que alguma vez discutiram assuntos sociais de uma maneira relevante, no podia impedir-se de falar de avareza, de ganncia, de falta de escrpulos, de vaid ade, de devoo, de sentido das propores, e de coisas semelhantes, isto , no podia imped ir-se de fazer juzos de (17) Ibid., pp. 380, 462, 481483, 486, 493, 554; Religionssoziologie, I, pp. 33, 82, 112 nota, 185 ss., 429, 513; II, pp. 165, 167, 173, 242 nota, 285, 316, 370; III, pp. 2 nota, 118, 139, 207, 209-210, 221, 241, 257, 268, 274, 323, 382, 385 nota; Soziologie und Sozialpolitik, p. 469; Wissenschaft und Gesellschaft, pp. 240, 246, 249, 266. DIREITO NATURAL E HISTRIA valor. Mostrou a sua in.dignao. com quem no percebia a diferen entre Gretchen e urna prostituta, isto , com quem no conseguconseguiavi slumbrar a nobreza de sentiment os que caracterizava uma, mas no a outra. As implicaes da tese de Weber podem ser f ormuladas do seguinte modo: a prostituio um tema reconhecido da sociologia; o tema no ser compreendido se, ao mesmo tempo, o carcter degradante da prostituio no for vis lumbrado; quando se apreende o por contraposio a uma abstraco arbitrria, facto <prostituio, j se emitiu um juzo de valor. O que seria da cincia poltica se no fosse permitido lidar com fenmenos como o facciosismo, o caciquisos grupos de presso, a arte do estadista, a corrupo, e mesmo a corrupo moral, isto , c om fenmenos que so, por assim dizer, constitudos por juzos de valor? Colocar entre a spas os termos que designam estas coisas um truque infantil que permite que se f ale de assuntos importantes enquanto se negam os princpios sem os quais no h assunt um truque que tem por objectivo permitir que se combine as vantag os importantes ens do bom-senso com a negao do bom-senso. Ou, por exemplo, pode-se dizer algo de relevante acerca das sondagens da opinio pblica sem estar a par de que muitas das respostas aos questionrios so dadas por pessoas limitadas na sua inteligncia, pouco informadas, enganosas e irracionais, e que no poucas perguntas so formuladas por pessoas do mesmo calibre? Pode-se dizer algo de relevante acerca das sondagens d a opinio pblica sem fazer juzos de valor uns atrs dos outros? (18) Ou peguemos num exemplo a que o prprio Weber dedicou alguma ateno. O cientista polti co ou o historiador tem, por exemplo, de explicar as aces dos estadistas e dos gen erais, isto , tem de fazer remontar as suas aces s suas causas. No pode faz-lo sem res ponder questo de se esta ou aquela aco foi causada pela ponderao racional dos meios e dos fins ou por factores emocionais, por exemplo. Para este efeito, tem de cons truir o modelo de uma aco perfeitamente racional nas circunstncias dadas. S assim co nseguir discernir quais os factores no racionais, se os houve, que desviaram a aco do seu curso estritamente racional. Weber admitia que este procedimento impl ica uma avaliao: somos forados a dizer que o actor em questo cometeu este ou aquele erro. Mas, argumentava -Weber, a construo do modelo, e o juzo de valor que se lhe s eguia (0) Wissenschaftslehre, p. 158; Religionssoziologie, I, pp. 41, 170 nota; Politi sche Schriften, pp. 331, 435-136. O DIREITO NATURAL E A DISTINO ENTRE FACTOS E VALORES I :sobre o desvio relativamente ao modelo, constituem apenas uma fase -transitria n o processo de explicao causal (19). Como crianas bem comportadas, devemos ento esque cer to cedo quanto possvel algo em que, ao passarmos, no pudemos deixar de reparar mas que no - devamos ter visto. Mas, em primeiro lugar, se o historiador mostra, atravs de uma comparao objectiva da aco de um estadista com o modelo da aco racional circunstncias especficas, que o estadista cometeu erros crassos consecutivos, ele faz um juizo de valOr objectivo que aponta para a ineptido singular desse estadista. Noutro caso, o historiador chega atravs do mesmo procedimento a um juzo de valor igualmente objectivo segundo o qual um certo general mostrou possuir um engenho, urna resoluo e uma prudncia invulgares. impossvel
compreender fenmenos desta natureza sem reter o critrio de julgamento inerente situao, e que aceite de forma natural pelos prprios actores; e impossvel passar avaliao efectiva sem recorre r a esse critrio. Em segundo lugar, pode-se perguntar se o que Weber considerava como meramente acessrio ou transitrio a saber, as suas intuies sobre a loucura e a s abedoria, a cobardia e a bravura, a barbrie e a humanidade, e por a em diante mais digno do interesse do historiador do que qualquer explicao causal maneira de Weber. A questo de saber se os inevitveis e justificveis juzos de valor devem ser expressos ou suprimidos, deve ser com efeito convertida numa outra questo, a de como devem esses juzos de valor ser expressos, onde, quando, por quem e para quem; est, portanto, sob a jurisdio de o utro tribunal que no o da metodologia das cincias sociais. A cincia social s podia evitar os juzos de valor se se mantivesse escrupulosamente dentro dos limites de uma abordagem puramente histrica ou interpretativa. O cientista social teria de se inclinar sem um murmrio perante a auto-interpretao dos assuntos que estuda. Estaria proibido de fal ar de moral, de religio, de arte, de civilizao e por a em diante, quando estivess etar o pensamento de povos ou de tribos que desconhecem essas noes. Por outro lado , teria de aceitar como moral, religio, arte, conhecimento, Estado, etc., tudo o que pretendesse ser moral, religio, arte, etc. De facto, h uma sociologia do conhe cimento segundo a qual tudo o que reivindique para si o estatuto de conhecimento mesmo que seja um inconfundvel absurdo tem de ser (19) Wissenschafislehre, pp. 125, 129430, 337-338; Soziologie undSozialpolitik, p. 483. DIREITO NATURAL E HISTRIA aceite como conhecimento pelo socilogo. O prprio Weber identificou os tipos de aut oridade legtima com o que se pensa ser tipos de autoridade legtima. Mas esta limit ao deixa-nos desprotegidos diante de todas as formas de impostura e iluso da parte dos 'homens que estamos a estudar; penaliza toda a atitude crtica; por si mesma, retira cincia social todo o seu valor. A auto-interpretao de um general desajeitado no pode ser aceite pelo historiador poltico, e a auto-interpretao de um versejador tolo no pode ser aceite pelo historiador da literatura. O cientista social tambm no se pode contentar com a interpretao de um dado fenmeno que seja aceite pelo grupo no seio do qual esse fenmeno ocorreu. Sero os grupos menos propensos a se iludirem a si mesmos do que os indivduos? Era fcil para Weber fazer a seguinte exigncia: A ni ca coisa que importa [para descrever uma dada qualidade como carismtica] o modo c omo o indivduo efectivamente encarado pelos que esto sujeitos autoridade carismtica , pelos seus 'seguidores' ou 'discpulos'. Oito linhas mais adiante, pode-se ler: Um outro tipo [de lder carismtico] o de Joseph Smith, o fundador da seita dos Mrmones , o qual, no entanto, no pode ser classificado desta forma com uma certeza absolu ta, tendo em conta que h a possibilidade de ele ter sido uma espcie de charlato mui to sofisticado, isto , que ele apenas fingia ter um carisma. Seria injusto insisti r no facto de o alemo original , para mais no dizer, muito menos explcito e enftico d o que a traduo inglesa; pois o problema levantado implicitamente pelo tradutor - d esignadamente a diferena entre carisma genuno e fingido, entre profetas genunos e p seudo-profetas, entre lderes genunos e charlates bem sucedidos -no pode ser escamote ado (20) . O socilogo no pode ser obrigado a cumprir as fices legais que um dado gru po nunca se atreveu a considerar como fices legais; ele forado a estabelecer uma di stino ,e ntre a ideia precisa que um dado grupo faz da autoridade que o governa e o verdadeiro carcter dessa autoridade. Por outro lado, a abordagem estritamente h istrica, que se limita a compreender as pessoas da forma como elas se compreendem a si mesmas, pode ser muito frutuosa se no ultrapassar os seus limites. Quando c ompreendemos isto, descobrimos um motivo legtimo que subjaz exigncia de uma-cincia social que no pronuncia juzos de valor. (20) The Theory of Social and Econotnic Organization (Oxford University Press, 1 947), pp. 359, 361; comparar com Wirtschafi and Gesellschaft, pp. 14041, 753. O DIREITO NATURAL E A DISTINO ENTRE FACTOS E VALORES I Hoje banal dizer que o cientista social no deve julgar as outras sociedades segun do os padres da sua prpria sociedade. Gaba-se ele de no elogiar nem censurar, mas d
e compreender. Mas ele no pode compreender sem um enquadramento conceptual ou um quadro de referncia. Ora, muito provvel que o seu quadro de referncia seja um simpl es reflexo do modo como a sua sociedade se compreende a si mesma na sua prpria poc a. Assim, ele interpretar as outras sociedades em termos que so completamente estr anhos a essas sociedades. Estas sero foradas pelo cientista social a entrar na cama de Procusto do seu esquema conceptual. No compreender essas sociedades como elas se compreendem a si mesmas. Como a autointerpretao de uma sociedade um elemento essencial do seu ser, ele no compreender es sas sociedades como elas realmente so. E como no se pode compreender a sua prpria sociedade de uma forma adequada se no se compreender outras sociedades, o cientista social no ser se quer capaz de compreender realmente a sua prpria sociedade. Resta-lhe, ento, compreender as vrias sociedades do passado e do presente, ou as partes significativas dessas sociedades, exactamente com o elas se compreendem ou se compreenderam a si mesmas. Dentro dos limites deste trabalho puramente histrico, e por isso apenas preparatrio ou acessrio, esse tipo de objectividade que requer que se abandone todas as avaliaes , a todos os ttulos, legtima e at indispensvel. Em particular quando o fenmeno uma doutrina, bvio qu no se pode julgar a sua validade nem explic-lo em termos sociolgicos, ou de qualqu er outro gnero, antes de o compreender, isto , antes de o compreender exactamente como o seu autor o compreendeu. curioso que Weber, que tinha uma to grande predileco por esse tipo de objectividade que, requer que se dispensem os juzos de valor, desse provas de uma quase cegueira a respeito do domnio do qual se pode dizer que o ambiente natural, e o nico ambiente natural, da objectiv idade no valorativa. Percebeu claramente que o enquadramento conceptual que aplicava tinha as suas razes na situao social do seu tempo. Por exemplo, no custa perceber que a sua distino dos trs tiposideais de legitimidade (tradicional, racional e carismtica) era um reflexo da situao predominante na Europa continental aps a Revo luo francesa, quando a luta entre os resqucios dos regimes pr-revolucionrios e os reg imes revolucionrios era entendida como um conflito entre a tradio e a razo. A desade quao manifesta deste esquema, que talvez conviesse situao no DIREITO NATURAL E HISTRIA sculo.XIX Mas praticamente a mais nenhuma outra, forou Weber a acrescentar a legitimidade carismtica aos dois tipos que a sua poca lhe imps. Mas este acrscimo no eliminava as limitaes bsicas inerentes ao seu esquema, apenas as ocultava. O acrescentamento dava a impresso de que o esquema era agora exaustivo, mas, de facto, por causa da sua origem paroquial, no havia acrescentamentos que pudessem torn-lo exaustivo: o que fornecera a sua orientao fundamental fora, no uma reflexo englobante sobre a natureza da sociedade poltica, mas apenas a experinc ia de duas ou trs geraes. Como Weber acreditava que nenhum esquema conceptual aplic ado pela cincia social podia ter mais do que uma validade efmera, no se deixou pert urbar pr este estado de coisas. Em particular, no se deixou perturbar pelo perigo que a imposio do seu esquema desde logo datado pudesse trazer ao inibir a compreenso imparcial das situaes polticas anteriores. No se perguntou se o seu esquema convinha maneira como, digamos, os protagonistas dos grandes conflitos polticos registado s na histria haviam interpretado as suas causas, o que vale por dizer queno se per guntou se convinha maneira como estes haviam interpretado os princpios de legitim idade. Fundamentalmente pela mesma razo, Weber no hesitou em descrever Plato como u m intelectual, sem reflectir por um nico instante sobre o facto de toda a obra de P lato poder ser descrita como uma crtica da noo de intelectual. No hesitou em considera o dilogo entre os Atenienses e os Melianos na Histria de Tucdides um fundamen to suficiente para afirmar que na polis helnica da poca clssica, uma forma particula rmente crua de 'maquiavelismo' era tida em todos os aspectos como normal e intei ramente justificvel de um ponto de vista tico. Sem mencionar outras consideraes, no se quedou a perguntar o que que o prprio Tucdides pensara desse dilogo. No hesitou em
escrever: O facto de os sages do Egipto louvarem a obedincia, o silncio e a ausncia de presuno como virtudes divinas, devia-se subordinao burocrtica. Em Israel, a sua or igem radicava no carcter plebeu da clientela. De igual modo, a sua explicao sociolgic a do pensamento hindu baseia-se na premissa de que o direito natural de qualquer tipo pressupe a igualdade natural de todos os homens, se no mesmo um estado de pure za no princpio ou no fim_ dos tempos. Ou, para pegarmos naquele que talvez o exemplo mais ilustrativo, quando discutiu a questo da essncia de um fenme o histrico como o calvinismo, Weber disse: o chamarmos a algo a essncia de um fenmeno histrico, quer-se O DIREITO NATURAL E A DISTINO ENTRE FACTOS E VALORES I dizer aquele aspecto do fenmeno que se julga ter valor permanente, ou ento aquele aspecto atravs do qual o fenmeno exerceu mais influncia histrica. Nem sequer faz alu so a uma terceira possibilidade, e que , de facto, a primeira e a mais bvia, a sabe r, que a essncia do calvinismo, por exemplo, teria de ser equacionada com o que o prprio Calvino afirmava ser a essncia, ou a caracterstica principal, da sua obra ( 21) . Era inevitvel que os princpios metodolgicos de Weber acabassem por afectar a sua ob ra de um modo adverso. Teremos uma ilustrao disso se virmos o seu ensaio histrico m ais famoso, o estudo sobre a tica protestante e o esprito do capitalismo. Weber pr ops que a teologia calvinista era uma causa maior do esprito capitalista. Salienta va o facto de esse efeito no corresponder de modo algum s intenes de Calvino, que Ca lvino ficaria chocado com esse efeito, e o que mais importante que o elo crucial na cadeia de causalidade (uma interpretao peculiar do dogma da predestinao) foi rej eitado por Calvino, mas no obstante surgiu de forma bastante natural entre os seus epgonos e, sobretudo, entre o conjunto alargado dos calvinistas comuns. Ora, se s e fala de um ensinamento da estatura do de Calvino, a simples referncia a epgonos e a homens comuns implica um juzo de valor acerca da interpretao do dogma da predestinao que essas pessoas adoptaram: muito provvel que os epgonos e os homens comuns no per cebam o ponto fundamental. O juzo de valor implcito de Weber inteiramente justific ado aos olhos de todos os que compreenderam a doutrina teolgica de Calvino; a int erpretao peculiar do dogma da predestinao que alegadamente conduziu ao aparecimento do esprito capitalista baseia-se num desconhecimento radical da doutrina de Calvi no. Trata-se de uma corrupo dessa doutrina ou, para usar a linguagem de Calvino, t rata-se de uma interpretao carnal de um ensinamento espiritual. Na melhor das hipte ses, Weber s podia ter reivindicado a demonstrao de que uma corrupo ou degenerao da te logia de Calvino conduziu ao surgimento do esprito capitalista. S com esta qualifi cao decisiva que a tese de Weber pode ser minimamente harmonizada com os factos a que ele se refere. Mas foi impedido de fazer esta qualificao crucial porque impuse ra a si mesmo o tabu dos juzos de valor. Ao evitar um juzo de valor indispensvel, f oi forado a apre(2') Religionssoziologie, I, p. 89; II, pp. 136 nota, 143-145; III, pp. 232-233; Wissenschafislehre, pp. 93-95, 170-173, 184, 199, 206-209, 214, 249-250. retrato factualrnente incorrecto do que acontecera. O seu sentar 'lin . -zos de valor levara-o a identificar a essncia do calvinisdos jul. rece;io aspecto que maior influncia histria exercera. Como 0 seu nio cc.In ,nstinto evitou identificar a essncia do calvinismo com o que que por considerava cabdrio considerava essencial, porque a auto-interpr etao o prPn.0 coai naturalidade serviria de critrio para julgar objectiva-de Calv inaistas que pretendiam ser seguidores de Calvino(22). mente os c I, pp. 81-82, 103-104, 112. Dificilmente se poder dizer (22) R. elitugiao:eisusluiSrifaouSea por Weber no seu estudo sobre o esprito do capitalismo zfoei que o probi,ieata , ....,;taes particulares que se deviam ao seu kantismo. Pode-se dizer soluo, seria prec so libertar a formulao weberiana d resolvidoa. do nu., ficou correctamente o esprito do capitalismo com a Concepo de problern de Weber iiiiimitada de capital e o seu investimento lucrativo um
deverPm moral, nqulao a mais alto dever moral, e defendeu correctamente que este es rito ' ue ide que a acui . mundo ocidental moderno. Mas Weber tambm disse que o espritoPe caracte.ns sul seja No podia demonstrar esta afirmao sem se referir a impresses e talvez s. consiste em considerar a acumulao ilimitada de capital como u do capi . o inesm L,iguas. Foi forado a fazer essa afirmao porque pressupusera u fim em si si mesmo so idnticos. O seu kantismotambm o forou e duvidosas ou ain,,tn ein ral e as'irelaes entre dever moral e bem comum. Na sua anlised a<'dreovmerpinerttoodu.aiso_ _Ittre a justificao tica da acumulao ilimitada de capital e a n" ,..A anterior foi for o a introduzir uma distino, que os textos no ' o Pauerosrrevanorn:,u`taitarista. Co mo consequncia da sua concepo peculiar de tica, ao bem comum na literatura da poca ten diam a parecer aos seaUs, justifica reofetrinInaciagstieda no vil utilitarismo. Pode-se arriscar e dizer que nenhum au tor olhos moral, que n c c,:liaoecisitilvivtseolsbsie: ai a todas as internado num manicmio jamais justificou o dever, ou o direito ilimitada em qualq uer outro fundamento que no o servio do bem da gnese do esprito capitalista ,. ento, idntico ao problema da premissa menor, mas a acumulao ilimitada de capital favorece comume. do apar >,. Pois a premissa maior, nosso dever dedicarmo-nos ao bem muito cimento amor pelos nossos semelhantes, no foi afectada pelo aparecimento dobem comum ciou ao comum ca Essa premissa maior foi aceite tanto pela tradio filosfica, como esprito teolgica. Portanto, a questo consiste em saber que transformao do dipiutalista. pela tra_ filosfica ou cia tradio teolgica ou de ambas causou o aparecimento da "predmiiasosada nina enor mencionada. Weber admitia sem hesitaes que a causa teria de ser transformao da tradio teolgica, isto , na Reforma. Mas no cons r __frito capitalista Reforma ou, em particular, ao calvinismo, exceptose". procuraibu dialctica histrica ou a construes psicolgicas duvidosas. Na ir o ebi' guiu adtr podia dizer que Weber associou o esprito capitalista melhor . recorreu vansmo. Tawney indicou correctamente que o puritanismo ca . "ali das hipteses, s s e por Weber correspondia ao puritanismo tardio, ou que se tratava do estuda , _... . mio se conciliara com o mundo. Isso significa que o puritanismo em corrupado o do cal o mundo capitalista que j existia: o puritanismo em questo puntaiusuw ,i
CO com ta Reforma, -se forado a ter em considerao a hiptese questo se do inundo ca italista ou do esprito capitalista. Se impos svel ois, a causa P associaarat p echnento da premissa menor ter sido um efeito da transformao da ti-ai oPesprito caPitalis no era, nosio transformao da tradio teolgica. Weber ponderou a poaso dfielosfica, por or do esprito capitalista ter de ser procurada no Renascimento, i sibll a d de de a origem O DIREITO NATURAL E A DISTINO ENTRE FACTOS E VALORES 55 e A rejeio dos juzos de valor pe em risco a objectividade histrica: Em primeiro lugar, impede que se chamem as coisas pelo seu nome. Em segundo lugar, pe em risco o tip o de objectividade que legitimamente exige que se suspendam as avaliaes, designada mente a objectividade da interpretao. O historiador que assume partida que os juzos de valor so impossveis no pode levar a srio o pensamento do passado que se baseava no pressuposto de que os juzos de valor objectivos so possveis, isto , praticamente todo o pensamento das geraes anteriores. Por saber de antemo que esse pensamento se baseia numa iluso fundamental, o historiador v-se privado do incentivo necessrio p ara tentar compreender o passado como este se compreendeu a si mesmo. Quase tudo o que dissemos at agora foi necessrio para removermos os obstculos mais importantes que se colocam compreenso da tese central de Weber. S agora podemos ap reender o seu sentido exacto. Retomemos o nosso ltimo exemplo. Weber deveria ter dito que a corrupo da teologia calvinista conduziu ao surgimento do esprito capital ista. Isso traria implcito um juzo de valor objectivo acerca do calvinismo vulgar: sem se darem conta, os epgonos destruram o que queriam preservar. Porm; este juzo d e valor implcito tem um significado muito limitado. No pronuncia um julgamento do que est realmente em causa. Pois, se assumirmos que a teologia mas, como notou correctamente, o Renascimento enquanto tal foi uma tentativa de restaurar o espirito da antiguidade clssica, isto , de um espirito totalmente dife rente do espirito capitalista. Mas esqueceu-se de notar que, no decurso do sculo XVI, ocorreu uma ruptura consciente com toda a tradio filosfica, uma ruptura que se fez no plano do pensamento puramente filosfico ou racional ou secular. Esta rupt ura teve a sua origem em Maquiavel, e conduziu aos ensinamentos morais de Bacon e de Hobbes, pensadores cujas obras antecederam em vrias dcadas as obras dos seus conterrneos puritanos em que a tese de Weber se baseia. Dificilmente se pode dize r mais do que isto: o puritanismo, ao romper mais radicalmente com a tradio filosfi ca pag (isto , sobretudo com o aristotelismo) do que o catolicismo e do que o lutera nismo, estava mais aberto nova filosofia do que um e outro. Assim, o puritanismo podia tornar-se num veiculo, e talvez no veculo mais importante, da nova filosofia q de uma filosofia criada por homens d uer na dimenso natural, quer na dimenso moral e um timbre absolutamente nada puritano. Em suma, Weber sobrestimou a importncia da revoluo que ocorrera ao nvel da teologia, e subestimou a importncia da revoluo que ocorreu ao nvel do pensamento racional. Se prestarmos uma ateno mais cuidadosa do q ue a que foi dispensada por Weber aos desenvolvimentos puramente seculares, esta remos em condies de restaurar a relao, rompida por ele de forma arbitrria, entre o ap arecimento do espirito capitalista e o aparecimento da cincia da economia (cf. ta mbm Ernst Troeltsch, The Social Teaching of the Christian Churches [1949], pp. 62 4e 894). DIREITO NATURAL E HISTORIA calta era uma coisa m, a sua corrupo algo de bom. O que Calvi s r, teria tomado como um entendimento carnal, de um outro o ponto vist?, podia ser aprovado como um entendimento wintraano, e que conduziria a coisas boas como o individualismo lai-
1111111 c e a dernocracia. Mesmo deste ltimo ponto de vista, o calvinismo 1ar manifestar-s e-ia como uma posio impossvel, um compromisgmas prefervel ao calvinismo propriamente dito pela mesma razo se pode dizer que Sancho Pana prefervel a D. Quixote. Seja ll aguai for o ponto de vista adoptado, a rejeio do calvinismo vulgar , inevitvel. Mas isto apenas quer dizer que s depois de se rejeitar o calvinismo vulgar que se confronta a verdadeira questo: a q uesto que ope a religio irreligio, isto , que ope a religio genuna nobre irreligo, em contr osio entre a simples fvie e volupturios sem corao. este o fundo da questo que, idaria, ou o ritualismo me cnico, e a irreligio de especialistas sem so segundo Weber, a razo humana no resolve, tal como no resolve o o onflit0 entre diferentes r eligies genunas do mais elevado estatuto (por exemplo, o conflito entre Deutero-Is aas, Jesus e Buda). Assim, apesar da cincia social depender em absoluto de juzos de valor, a cincia social ou a filosofia social no pode resolver os conflitos de val or decisivos. seguramente verdade que j se fez um juzo de valor quando se fala de Gretchen. e de uma prostituta. Mas, a partir do moilaent em que se confronta uma posio asctica radical que condena toda a sexualidade, este juzo de valor acaba por s e revelar meramente provisrio. Deste ponto de vista, a degradao pblica da sexualidad e na forma da prostituio pode parecer mais sadia do que a dissimulao da verdadeira n atureza da sexualidade por detrs do sentimento e da poesia. seguramente verdade q ue no se pode falar dos assuntos humanos sem louvar as virtudes intelectuais e mo rais e sem censurar os vcios intelectuais e morais. Mas isso no anula a ossibilidde de, em ltima anlise, as virtudes humanas virem a ser Pconsideradas como no sendo m ais do que vcios esplndidos. Seria absurdo negar que h uma diferena objectiva entre um general desajeitado e um gnio da estratgia. Mas se a guerra um mal absoluto, a diferena entre um genera l desajeitado e um gnio da estratgia estar ao mesmo nvel da diferena entre um ladro de sajeitado e um g ni do r To udo no ud co a. ento, que o que Weber realmente pretendia com a sua rejeio dos juzos de valor teria de ser formulado da seguinte - m an eira: Os objectos das cincias sociais constit uem-se por referncia !J O DIREITO NATURAL E A DISTINO ENTRE FACTOS E VALORES 57 a valores. As referncias a valores pressupem uma apreciao dos Valores. Tal apreciao ca pacita e fora o cientista social a avaliar os fenmenos sociais, isto , a distinguir entre o genuno e o esprio, entre o superior e o inferior: entre a religio genuna e a religio espria, entre lderes genunos e charlates, entre conhecimento e simples erud io, ou sofismas, entre virtude e vcio, entre sensibilidade moral e insensibilidade moral, entre a arte e o lixo, entre a vitalidade e a degenerescncia, etc. A refern cia a valores incompatvel com a neutralidade; nunca <puramente terica. Mas a no-neut ralidade no significa necessariamente aprovao; pode tambm significar rejeio. De facto, como os vrios valores so incompatveis entre si, a aprovao de um deles necessariamente implica a rejeio de outros. S a partir da ac u rejeio de valores, e de valores ltimos, e que os objectos das cincias sociais podem ser sujeitos a anlise. No que diz respeito ao trabalho ulterior, anlise causal des tes objectos, pouco importa que o investigador aceite ou rejeite o valor em ques to (23) . Em todo o caso, a ideia que Weber faz do alcance e da funo das cincias sociais asse nta na premissa alegadamente demonstrvel de que o conflito entre valores ltimos no pode ser resolvido pela razo humana. A questo reside em saber se essa premissa foi realmente demonstrada, ou se foi simplesmente postulada sob o impulso de uma pr eferncia moral especfica. No limiar da tentativa de Weber de demonstrar a sua premissa bsica deparamo-nos c om dois factos notveis. O primeiro que Weber, que escreveu milhares de pginas, ded icou pouco mais de 30 a uma discusso temtica do fundamento da sua posio global. Por que que esse fundamento no carecia de uma justificao? Por que que lhe parecia to evi dente? Uma resposta provisria dada pela segunda observao que podemos fazer antes de analisarmos dos seus argumentos. Tal como ele indicou no incio da sua discusso so bre o assunto, a sua tese era apenas a verso generalizada de uma perspectiva mais
antiga e mais difundida, designadamente a de que o conflito entre a tica e a polt ica insolvel: por vezes no possvel agir politicamente sem incorrer em culpa moral. Parece ento que a posio de Weber um produto do esprito da <poltica de poder. Nada m revelador do que o facto de, num contexto semelhante e quando falava de conflit o e de paz, Weber ter posto <paz entre (") Wissenschaftslehre, pp. 90, 124-125, 175, 180-182, 199. DIREITO NATURAL E HISTRIA aspas, ao passo que no tomou esta medida preventiva quando falou de conflito, o conflito era, para Weber, algo que nada tinha de ambguo, mas com a paz j no era assim: a paz uma impostura, mas a guerra real (") A tese de Weber de que no h soluo para o conflito entre valores era unia parte, ou uma consequncia, da viso englobante segundo a qual a vida humana essenci almente um conflito ao qual no se pode escapar. por esta razo, aos seus olhos a paz e a felicidade universal constituam um objectivo ilegtimo ou fantstico. No pensamento de Weber, mesmo se fosse possvel alcanar tal o bjectivo, nem vel faz-lo; seria a condio dos ltimos homens por isso seria desej que inventarain a felicidade, contra quem Nietzsche dirigira a sua crtica devastado ra. Se a paz incompatvel com a vida humana, ou COM uma vida verdadeiramente humana , ento tudo indicaria que o problema moral s admitiria uma soluo clara: a natureza d as coisas exige unia tica guerreira como base de uma poltica de poder que seja guiad a exclusivamente por imperativos de interesse nacional; ou uma forma particularme nte crua de maquiavelismo [teria de ser vista] em todos os aspectos como normal e inteiramente justificvel de um ponto de vista tico. Mas, nesse caso, seramos confr ontados com a situao paradoxal de um indivduo que est em paz consigo mesmo enquanto o mundo regido pela guerra. O mundo dilacerado pelo conflito exige um indivduo di lacerado pelo conflito. O conflito no chegaria s razes do indivduo se este no fosse f orado o prprio a negar princpio da guerra: o indivduo tem de negar a guerra, da qual no pode escapar e qual tem de se dedicar, como um mal ou como um pecado. A paz no deve ser pura e simplesmente rejeitada sob o pretexto de que em parte alguma se vive em paz. No suficiente reconhecer a paz como um tempo necessri o de respirao entre duas guerras. Tem de haver um dever absoluto que nos ponha d ca minho da paz ou da irmandade universais, um dever que conflitua com o igualmente elevado dever que nos comanda a participar na luta eterna por espao suficiente para a nossa nao. No se trataria do conflito supremo se a culpa pudesse ser evitada. Web er j no se interrogou sobre a adequao da noo de culpa quando o homem forado a ser cu do: ele precisava da necessidade da culpa. Tinha de combinar a angstia gerada pel o atesmo (a ausncia da redeno, de consolo) com a angstia gerada pela religio revelada (24) pp. 466, 479; Politische Schrifien, pp. 17-18, 310. O DIREITO NATURAL E A DISTINO ENTRE FACTOS E VALORES 59 e o sentido opressivo da culpa). Sem esta combinao, a vida deixaria de ser trgica e p erderia assim a sua profundidade (25). Weber pressupunha como algo de natural que no h uma hierarquia de valores: todos o s valores tm o mesmo estatuto. Ora, precisamente se assim for, um esquema social que satisfaa os requisitos de dois valores prefervel a um outro cujo alcance seja mais limitado. O esquema englobante poderia exigir que alguns dos requisitos de cada um dos dois valores tivesse de ser sacrificado. Neste caso, surgiria a ques to de se saber se os esqiiemas extremos ou unilaterais so to bons ou melhores do que os esquemas aparentemente mais englobantes. Para responder a essa questo, seria preciso saber se sequer possvel adoptar um dos dois valores rejeitando por comple to o outro. Se for impossvel, a razo ditaria que necessrio sacrificar em alguma med ida os requisitos aparentes dos dois valores. O esquema ptimo poderia no ser reali zvel excepto sob certas condies muito favorveis, e as condies efectivas aqui e agora p odem ser muito desfavorveis. Tal no privaria o esquema ptimo da sua importncia, porq
ue continuaria a ser indispensvel enquanto base do julgamento racional acerca dos diversos esquemas imperfeitos. Em particular, a sua importncia no seria de modo a lgum afectada pelo facto de em determinadas situaes os nicos objectos de escolha po ssvel serem dois esquemas igualmente imperfeitos. Em ltimo lugar por ordem de apre sentao, mas no de importncia, em todas as reflexes .sobre estas matrias no se pode esq ecer por um nico instante as consequncias gerais do extremismo, por um lado, e da moderao, por outro, para a vida social. Weber recusou todas as consideraes deste gner o ao declarar que o meio-termo no em nada mais correcto do ponto de vista cientfico do que os ideais partidrios mais extremos da direita e da esquerda, e que o meiotermo at inferior s solues extremas por ser menos inequvoco (26). A questo, claro est reside em saber se a cincia social no tem de procurar as solues sensatas para os pro blemas sociais, e se a moderao no mais sensata do que o extremismo. Por mais sensat o que Weber tenha sido enquanto poltico, por mais que tenha abominado o esprito do fanatismo sectrio, enquanto cientista social abordou os problemas sociais num es prito que nada partilhava com o esprito do estadista, (") Politische Schriften, pp. 18, 20; Wissenschaftslehre, pp. 540, 550; Religion ssoziologie, 1, pp. 568-569. (26) Wissenschaftslehre, pp. 154, 461. DIREITO NATURAL E HISTRIA , ,ndia servir outro fim prtico seno o de encorajar a obsr A sua f inabalvel na supremacia do conflito forou-o e que 1.14:en.a. tina0 5 Tnisruo pelo menos a mesma considerao que tinha V' modera pelo extre a ter dinasc,s adiar mais o exame das tentativas de Weber de pelas as no pode-ristrar a sua afirmao de que os valores ltimos vivem pura e demo conflito. Teremos de nos limitar discusso de dois -- .trs exemplos 51-lente em simule das suas demonstraes (27) . O primeiro exemplo por Weber para ilustrar o carcter da maioria das quesfotoo-uiebsinedvr:cpaodlitiPca social. A poltica social visa a justia; mas, segund o os requisitos da justia na sociedade no podem ser decididos nalquer que ela seja . Duas perspectivas opostas so por tuna tica, (.1 'tinias ou defensveis. A primeira perspectiva diz que - o airnente legl ic da lula deve receber segundo o que realiza ou contribui; a segunda ctiva defe nde que se deve exigir a cada um segundo o que contribui. aerspe A ser adoptada a primeira perspectiva, ter-se-ia Prealiza ou a oportunidades aos indivduos talentosos. Se for adopd dar grandes taeda a segunda perspectiva, ter-se-ia de impedir o indivduo talentoso superiores aptides. No censuraremos o modo de eacplorar as suas Emborab se referisse muito frequentemente em termos gerais a um ,-dun ro considervel 'Weer (27) de conflitos insolveis entre valores, a sua tentativa de demonspostulado fundamental limita-se, tanto quanto consigo perceber, discusso trar trs ou quatro exemplos. O exemplo que no ser discutido no texto diz respeito de o erotismo e todos os valores impessoais ou suprapessoais: uma r e-
f.'. nflito entre ao _ genuna entre ,um. homem e uma mulher pode ser encarada, de uma co ertica ,,como a unica via ou pelo menos como a via rgia para uma vida Iaat erspectiva., certa a. se algum rejeita, em nome da paixo ertica genuna, toda a santidade ou normas ticas ou estticas, tudo o que tem valor do ponto ger a b'ondade, todas as to personalidade, ento a razo tem de guardar um silncio toda da cultura ou da perspectiva particular que autoriza ou fomenta esta atitude no , como de ovlinto A abs. mas a de intelectuais que sofrem da especializao ou de,&sperar, a de Crmen, vida. Para essas pessoas a vida sexual sem as constries seria rofissionalizao. da da cas'P amento parecia ser a nica ligao que ainda mantm o homem (que, neste to j aban donara por completo o ciclo da existncia camponesa orgnica, simples do P11., 's. em contacto com a fonte natural de toda a vida. Provavelmente, suficient e e.anrug_u'e as aparncias podem iludir. Mas sentimo-nos obrigados a acrescentar que dize q retorno tardio ao que h de mais natural no homem est ligado' segundo Weber, este retomo ele resolveu chamar ache systematische Herausprparierung der Sexualsphre 468-469;. Religionssoziologie, I, pp. 560-562). Assim, Weber der '-senschaftslehre, pp. que o erotismo, tal como ele o entendia, confiitua com todas as Winsstrava com efeito smas ao mesmo tempo demonstrava que a tentativa dos intelectuais 111nas ; especializao atravs do erotismo apenas conduzia especializao no de n estticas. escapar senschaftslehre, p. 540). Por outras palavras, demonstrava que a sua e tismo defensvel perante o tribunal da razo llumana. fi (cf. Wis l-fe1tanschaiiiing no O DIREITO NATURAL E A DISTINO ENTRE FACTOS E VALORES pouco rigoroso com que Weber enunciou o que, de forma bastan te estranha, considerava ser uma dificuldade insupervel. Notamos apenas que Weber no julgava ser necessrio.indicar qualquer razo que pudesse justif car a primeira perspectiva. Contudo, a segunda perspectiva parecia solicitar um argumento explcito. Segundo Weber, pode-se argumentar, como fez Babeuf, da seguin te maneira: a injustia da distribuio desigual dos dons mentais e o sentimento .reco mpensador do prestgio que acompanha a simples posse de dons superiores tm de ser.c ompensados por medidas sociais destinadas a impedir que o indivduo talentoso apro veite as suas grandes aptides. Antes que se diga que esta opinio sustentvel, teramos de saber se faz sentido dizer que a natureza cometeu uma injustia quando distrib uiu os seus dons de modo desigual, se um dever da sociedade remediar essa injust ia e se a inveja tem um direito a ser escutada. Mas mesmo que se reconhecesse que a opinio de Babeuf, tal como exposta por Weber, to defensvel como a primeira persp ectiva, o que se seguiria da? Que temos de fazer uma escolha cega? Que temos de i ncitar os partidrios das duas perspectivas opostas a insistir nas suas opinies com toda a obstinao que conseguirem mobilizar? Se, como Weber prope, nenhuma soluo moral mente superior outra, a consequncia razovel seria que a deciso tem de ser transferi da do tribunal da tica para o tribunal da convenincia ou da oportunidade. Weber ex cluiu categoricamente as consideraes de convenincia da discusso desta questo. Se so fe itas exigncias em nome da justia, declarou, ento a procura da soluo que forneceria os melhores incentivos desapropriada. Mas no existir uma relao-entre a justia e o bem
sociedade, e entre .o bem da sociedade e os incentivos s actividades socialmente benficas? Na realidade, se Weber estivesse correcto ao afirmar que as duas perspe ctivas opostas so igualmente defensveis, a cincia social enquanto cincia objectiva t eria de estigmatizar como um louco varrido quem insistisse que s uma das perspect ivas conforme justia (28) . O nosso segundo exemplo consiste na presuntiva prova de Weber de que existe um c onflito insolvel entre aquilo que chama a tica da responsabilidade e a tica da convic egundo a primeira, a responsabilidade do homem estende-se at s consequncias previsve is das suas aces, ao passo que, na segunda, a responsabilidade do homem limita-se rectido intrnseca das suas aces. Weber (") FVissenschaftslehre, p. 467. DIREITO NATURAL E HISTRIA ilustrou a tica da convico com o exemplo do sindicalismo: para o sindicalista o que conta no so as consequncias, ou o sucesso da sua actdade revolucionria, mas a sua prpria integridade, o que conta to-s a conservao em si mesmo, e o despertar nos outros, de uma certa atitude moral. Mesmo a certeza de que numa dada situao, e por um perodo de tempo que fosse possvel prever, a sua actividade revolucionria conduziria destruio da prpria existncia dos trabalhadores revolucionrios no seria um argumento vlido contra um sindicalista convicto. O sindicalista convicto de Weber uma construo ad hoc, como atesta o seu comentrio em que nota que se o sindicalista for coerente, ento o seu reino no deste mundo. por outras palavras, se fosse coerente, deixaria de ser um sindicalista, isto , um homem que se dedica libertao da classe trabalhadora neste mundo, e atravs de meios que so deste mundo. A tica da convico, qu e Weber imputou ao sindicalismo, , na realidade, urna tica estranha a todos os mov imentos sociais e polticos mundanos. Tal como declarou noutra ocasio, no quadro da aco social propriamente dita, a tica da convico e a tica da responsabilidade no so os absolutos, mas complementam-se uma outra: unidas constituem o ser humano genun o. Essa tica da convico que incompatvel com o que Weber um dia chamou a tica de um se humano genuno consiste numa certa interpretao da tica crist ou, em termos rnais gera is, numa tica estritamente supramundana. O que Weber realmente queria dizer quand o falava do conflito insolvel entre a tica da convico e a tica da responsabilidade er a, ento, que a razo humana no consegue resolver o conflito entre ticas intramundanas e supramundanas (29). Weber estava convencido de que, tendo por base uma orientao estritamente intramund ana, no seria possvel chegar a normas objectivas: normas absolutamente vlidas, e, ao mesmo tempo, especficas, Elo existem a menos que se sustentem na revelao. Porm, Weber nunca demonstrou que a razo humana entregue a si mesma incapaz de chegar a norma s objectivas, ou que a razo humana (5') Para urna discusso mais adequada do problema da responsabilidade e da inteno", co mparar Toms de Aquino, Summa theologica, 1.2, q. 20, a. 5; Burke, _ Eresent.Discontents (lhe Works of Edmund Burke [Bohn's Standard Library], 1, pp, " $75-3,77);. Lorde Charnwood, Abraham Lincoln (ed. Pocket Books), pp. 136-137, 16 4- g5'; ei,urchiu, Marlborough, VI, pp. 599-600. Wissenschaftslehre, pp. 467, 47 5, 476, 546; 'POlitise Schrifien, pp. 441-444,448-449, 62-63; Soziologie und Sozi alpolitilc, pp. 512-514; Rigiorissozio/ogie, II, pp. 193-194.
, O DIREITO NATURAL E A DISTINO ENTRE FACTOS E VALORES 6 impotente para resolver o conflito entre diferentes doutrinas ticas intramundanas . Limitou-se a demonstrar que a tica supramundana, ou, melhor, que um certo tipo de tica supramundana incompatvel com os padres da excelncia humana ou da dignidade h umana que a razo entregue a si mesma discerne. Poder-se-ia dizer sem correr o ris co de exibir irreverncia que o conflito entre as ticas intramundanas e supramundan as no tem de ocupar a ateno da cincia social. Como Weber assinalou, a cincia social t enta compreender a vida social de um ponto de vista intramundano. A cincia social o conhecimento humano da vida humana. A sua luz a luz natural. Tenta encontrar solues racionais ou razoveis para os problemas sociais. As intuies e solues que oferec poderiam ser questionadas da perspectiva do conhecimento sobre-humano ou da rev
elao divina. Mas, como Weber indicou, a cincia social enquanto tal no pode levar em conta esses questionamentos por se basearem em pressupostos que nunca sero eviden tes para a razo humana entregue a si mesma. Ao aceitar pressupostos desse tipo, a cincia social transformar-se-ia numa cincia social judaica ou crist ou islmica ou b udista ou numa outra cincia social confessional. Alm disso, se as concluses genunas da cincia social podem ser questionadas a partir da perspectiva da revelao, ento isso quer dizer que a revelao no s est acima da razo, como contra a razo. Weber no se co de dizer que toda a crena na revelao , em ltima anlise, uma crena no absurdo. Aqui, n recisamos de averiguar se esta opinio de Weber, o qual, afinal, no era uma autorid ade em teologia, compatvel com uma crena inteligente na revelao (30). Uma vez concedida a evidente legitimidade da cincia social, ou do entendimento in tramundano da vida humana, a dificuldade levantada2por Weber parece ser irreleva nte. Mas ele recusou dar a sua concordncia a esta premissa. Props que a cincia ou a filosofia assentam, em ltima anlise, no em premissas evidentes que so acessveis ao h omem enquanto homem, mas na f. Reconhecendo que s a cincia ou a filosofia podem con duzir verdade acessvel ao homem, Weber interrogou-se sobre a bondade da procura p ela verdade conhecvel, e decidiu que esta questo j no pode ser respondida pela cincia ou pela filosofia. A cincia ou a filosofia incapaz de justificar o seu prprio fun damento de maneira clara e precisa. A bondade da cincia (") Wissenschaftslehre, pp. 33 nota 2, 39, 154, 379, 466, 469, 471, 540, 542, 54 5547, 550-554; Politische Schriften, pp. 62-63; Religionssoziologie,1, p. 566. 049-699 -dd `alSo1orzossuoiSna2T `.9.2 '23I "dd ars.zmod !6T79 `L,T79 `0T79 "Kg `69T7 `Igg Stg 'T78t '19-09 .dd `aiteisijiniasuassmi () -stq op EplierigIn E qos sulAr .sopumuauasap sourelsa :tuatuog op , -MIS E saosnll tuas somaqapaad :opessud op suou so- 0pu2aa aregtil anb saosnll sup as-audpuetua apod anb no 'oluatupaquoa op aaonn omaj o Eaatuoa xx pipas op t uatuoq o anb ausuad E unaual Jactam ( is) danusIsais! aapod nas o ianpaquoa apepaan no2au anb a anb aod dossed a-4sa xep ap n113 -adiui o an b o .ouu aanb aaaaquoa sowarasap aanb sua-mor.' so sopol Excel upun 9 anb apepaa nEU upessa.talut pua EUOSOUg E no upu919 anb aazIp as-nosnaaa SEj ouodalsaE xe2a qa tua nonsaq au aaq2M .solsa2 sossou sop apuadap ouu apermen urna Ianpaquoa apep aan upessaaalut 'ma .apeptianas uns -e upol tua apeplrea.1 E reluoajuoa -estio a opaialur o auagpaus usnaaa anb upinutun p 'aJAH upg rum ap olt12111 -upurg o 9 fo.p.sni-E Ep ou5-edtautuaa -eaud oquluna o 'oe-lua Euosotg no ujauap v .tuamoq olurnbua tuatuoq op orJunIts up sem 'opol op o,-eu aluam-e-m .2as '0E3-caulina Eagrem Euamly UI EaWu,S.Fs osg 'suma-Road sapuez2 sop 0E3EDUL1 Ep E 'a ou! 'o-Oram-ma E9 uTau?A9 -ep onnaafqo o anb uTztp maquie', .a2uoT ou-4 To; aaduaas mau aaqS. sumi .somuj.Sai no sTanesuajap aluatuffinar LUELIJO1 95 50 1-13pdED 50 sopol `sapepgpau su supor., .solas JEUOI339[03 9nb apepua.21p utusau t EuI21 apepaan E panaoad E :oluasnuuut tun p upgituoaaoa -earupi mun op par1aar 03X93 um ap ou5tpa .0 no -eu-ginoP eurn gp asau92E ousuaaadt uo9 ou5aaaaoa Ean no uoa E 011103 sapemnpau sotusatu s tua SUU 011103 seaaptsuoa aluaturunSt tuapod u nisaut Is tua apupaan up umpoid urezporen anb saianfre `unssy .samatauns no suptre,n sac)5uaupsnr ulrlissaaau ou u supuaaajaad renb o opun2as oIcipupd o rolueliod `as-aaaquoaax .aluatauns no up tien ou5uaupsnCruan ap ezo2 OEu gani) upuaaajaad uum 9 Elsa anb apnupe Eaffinmba unisaul IS wa apepaan rxnaoad E sezuoreA .tuaq o Exed omoa rem o raud aapod nas o auluata -ne ramu.STs tuamog op aapod o amuam-nu lane,uousanb aurun um tu?,1 `zan uns iod `anb soatnad sopennsaa snas sou elsg moa suuade OTJ'Etusatu tsmO up eztaoren J9S E ETLITU1103 apepaan up -eanaoad E 'EUOSOIg ep no E-Ruela E usoltredsa u5trepniu Elsap ausade `u1910d .tuatuoq an.tssaau 9 a nb upentuu ounut apepaan Essa seuguaalap OEU95 ATIDO!" qo amo apod ouu Eigosoug E no EI3119p E ga2tredval0(j 'xc1o2 .05 rod utuauq-eau s-ennepadxa sun sul/si 'aPEPPIIa.3 ul-PrroP-TaA E Ed LO Ezaanreu Eappe paan E EJEd no anagepaan J95 raud ouujure9 ) elau assln s ourenbua umaiqoad um uung suoa oeu uuosoiu up VRIOISIH 3 'IM1.LVN oflaula O DIREITO NATURAL E A DISTINO ENTRE FACTOS E VALORES 1 toricismo, comeou a interrogar-se se seria possvel falar da situao do homem enquanto
homem ou, caso fosse efectivamente possvel, se esta situao no foi vista de modo dif erente ao longo das vrias pocas, a tal ponto que, em princpio, a perspectiva de uma dada poca seria to legtima ou to ilegtima como a de qualquer outra. Por conseguinte, Weber interrogava-se se o que parecia ser a situao do homem enquanto homem seria apenas a situao do homem actual ou o dado incontornvel da nossa situao histrica. Da que originariamente se apresentava como a emancipao das iluses pudesse eventualmen te apresentar-se como pouco mais do que a premissa contestvel da nossa poca, ou co mo uma atitude que, mais tarde ou mais cedo, seria superada por uma outra atitud e que estaria em conformidade com a poca seguinte. O pensamento da poca actual car acteriza-se pelo desencantamento ou pela intramundaneidade irrestrita ou pela irre ligio. O que pretende ser a emancipao das iluses no mais, nem menos, ilusrio do que a fs que prevaleceram no passado e que podero voltar a prevalecer no futuro. Somos irreligiosos porque, e s porque, esse o nosso destino. Weber recusou sacrificar o intelecto; no esperou por um ressurgimento religioso, nem por profetas, nem por salvadores; e no estava de modo algum seguro de que haveria um ressurgimento reli gioso no futuro. Mas estava seguro de que toda a devoo a causas ou a ideais tinha as suas razes na f religiosa, e, portanto, que o declnio da f religiosa conduziria p or fim extino de todas as causas ou ideais. Tendia a ver perante si a alternativa entre o vazio espiritual total e o ressurgimento religioso. Desesperava da exper incia moderna de intramundaneidade e irreligiosidade, e no entanto no deixava de l he ser leal porque estava condenado a crer na sua ideia de cincia. O resultado de ste conflito que no conseguiu resolver foi a sua crena na incapacidade da razo huma na de resolver o conflito entre os valores (32) . Porm, a crise da vida moderna e da cincia moderna no pe necessariamente em dvida a id eia de cincia. Por isso, temos de tentar enunciar em termos mais precisos o que W eber tinha em mente quando disse que a cincia parecia ser incapaz de dar urna jus tificao clara ou sem hesitaes de si mesma. Os homens no podem viver sem luz, sem orientao, sem conhecimento; s atravs do conheci mento do bem que podem encontrar o bem de que necessitam. A questo fundamental , p ois, saber (52) Wissenschafislehre, pp. 546-547, 551-555; Religionssoziologie, I, pp. 204, 523. DIREITO NATURAL E HISTORIA mens podem adquirir esse conhecimento do bem, sem o qual se os n no podei" as suas vidas individuais e colectivas, recorrendo aseus poderes naturais, ou se, para o adquirir, esto depenalentes da aos divina. Nenhuma alternativa mais fundamental deon ue esta: a orientao Pos humana ou a orientao divina. A primeira qsibilidade prpria da filosofia ou da cincia no sentido originrio do_teernarmop,or recurso a uma qualquer harmonizao ou sntese. a segunda encontra-se na Bblia. No se po de evitar este au Pois tanto a filosofia, como a Bblia, proclamam que s uma coisa s uma coisa conta verdadeirame nte; e o que a Bblia necessria, que Prodama coimo sendo a nica coisa necessria o contrrio do que a filosofia proclama c omo sendo a nica coisa necessria: uma vida de amor obediente ou uma vida de intele co livre. Em todas as tentativas de iz co, em todas as snteses, por mais impressionantes harri" a que sejam, urn dos elementos opostos sacrificado em beneficio do outro, de toa m odo mais ou menos subtil talvez, mas nem por isso filosofia, que entende ser a r ainha, tem de passar a ser menos certo: a a serva da revelao, ou vice-versa. geral da luta secular entre a filosofia e a teologia, Numa vis dificilmente podemos evitar a impresso de que nunca nenhum dos doista-onistas conseguiu refutar totalmente o outro. Todos os an 6 argurnentos e
m favor da revelao s parecem ser vlidos quando se pressup a crena na revelao; e todos s argumentos contra a e velao s parecem ser vlidos quando se pressupe a descrena. re Aparenterueuw este estado de coisas seria muito natural. A revela. , o tem seuipre tantas dvidas quanto razo entregue a si mesma que sempre incapaz de fo rar o seu assentimento, e o homem constitudo de tal maneira que pode encontrar a s ua satisfao, a sua bem-aventurana, na investigao livre, na articulao do enigma do ser. Mas por outro lado, anseia to intensamente por uma soluo , desse enigma, e o conhecimento humano sempre to limitado, que da iluminao divina no pode ser negada e a possia necessidade bilidade da revelao no pode ser refutada. Ora este estado de coisas que parece deci dir irrevogavelmente contra a filosofia e a favor da revelao. A filosofia tem de r econhecer que a revelao possvel. Mas reconhecer isso implica reconhecer que a filos ofia talvez no seja a nica coisa necessria, que a importncia da filosofia talvez sej a pequena. Reconhecer que a revelao possvel signiinfinitamente fica reconhecer que a vida filosfica no necessariamente, nem de a vida boa. A filo sofia, a vida dedicada procura do forma evidente' O DIREITO NATURAL E A DISTINO ENTRE FACTOS E VALORES 67 conhecimento evidente acessvel ao homem enquanto homem, assentaria numa deciso ceg a, arbitrria e nada evidente. Seria a mera confirmao da tese da f segundo a qual uma vida coerente e absolutamente sincera no possvel sem a crena na revelao. O simples f acto de a filosofia e de a teologia no conseguirem refinar-se mutuamente constitu iria a refutao da filosofia pela teologia. Foi o conflito entre a revelao e a filosofia ou a cincia no sentido pleno do termo, e as implicaes desse conflito, que levaram Weber a afirmar que a ideia de cincia o u de filosofia padecia de uma fraqueza fatal. Tentou manter-se fiel causa da,int eleco autnoma, mas desesperou quando sentiu que o sacrifcio do intelecto, algo que a cincia ou a filosofia abomina, subjazia cincia ou filosofia. Mas afastemo-nos destas profundezas horrveis rumo a uma superficialidade que, emb ora no seja exactamente alegre, promete pelo menos um sono descansado. Ao chegarm os uma vez mais superfcie, somos recebidos por cerca de 600 longas pginas dedicada s metodologia das cincias sociais e cobertas pelo menor nmero possvel de frases e p elo maior nmero possvel de notas. Porm, muito rapidamente reparamos que no nos esqui vmos s dificuldades. Porquanto a metodologia de Weber algo diferente de tudo o que normalmente se denomina metodologia. Todos os estudiosos inteligentes da metodo logia de Weber sentiram que se tratava de uma filosofia. possvel articular essa s ensao. A metodologia, enquanto reflexo sobre os procedimentos correctos da cincia, n ecessariamente a reflexo sobre as limitaes da cincia. E se o que caracteriza o homem entre todos os seres terrestres o conhecimento, ento a metodologia a reflexo sobr e as limitaes da humanidade ou sobre a situao do homem enquanto homem. A metodologia de Weber est muito perto de responder a esta exigncia. Para nos mantermos um pouco mais prximos do que Weber pensava da sua metodologia, diremos que a sua ideia de cincia, quer natural, quer social, baseia-se numa viso especfica da realidade. Pois, segundo ele, a compreenso cientfica consiste numa tr ansformao peculiar da realidade. portanto impossvel clarificar o sentido da cincia s em uma anlise prvia da realidade tal como em si mesma, isto , antes da sua transfor mao pela cincia. Weber no disse muito acerca deste assunto. Estava menos interessado no carcter da realidade do que nos diferentes modos em que a realidade transform ada pelos diversos tipos de cincia. Porquanto o seu principal interesse residia n a preservao da integridade das cincias histricas e cultuDIREITO NATURAL E HISTRIA rais contra dois perigos aparentes: contra a tentativa de moldar estas cincias se gundo o padro das cincias da natureza, e contra a tentativa de interpretar o duali smo das cincias da natureza e das cincias histrico-culturais nos termos de um duali smo metafsico (corpo-esprito ou necessidade-liberdade). Mas estas teses metodolgicas p
rmanecem ininteligveis, ou pelo menos irrelevantes, se no forem traduzidas em tese s sobre o carcter da realidade. Por exemplo, quando Weber exigia que a compreenso interpretativa fosse subordinada explicao causal, seguia a orientao da ideia de que o inteligvel muitas vezes subjugado pelo que j no inteligvel ou da ideia de que, na maioria das vezes, o inferior mais forte do que o sukerior. Alm disso, as suas pr eocupaes dispensaram-lhe tempo para indicar a sua opinio acerca do que a realidade antes da sua transformao pela cincia. Segundo Weber, a realidade uma sequncia infini ta e desprovida de sentido, ou um caos, de acontecimentos nicos e infinitamente d ivisveis, que so absurdos em si mesmos: todo o sentido, roda a articulao, tem a sua origem na actividade do sujeito cognoscente ou avaliador. Hoje so muito poucas as pessoas que ficariam satisfeitas com esta viso da realidade, que Weber apropriar a do neokantismo e que foi por ele modificada apenas no acrscimo de um ou dois re toques emocionais. Basta notar que o prprio Weber foi incapaz de se vincular cons istentemente a esta viso. Seguramente no negou que houvesse uma articulao da realida de que precede toda a articulao cientfica: a -articulao, a riqueza de significaes, que temos em mente quando falamos do mundo da experincia comum ou da compreenso natura l do mundo (33) . Mas Weber nem sequer tentou proceder a uma anlise coerente do m undo social tal como este se apresenta ao senso comum, ou da realidade social tal como esta se apresenta vida social ou aco. Na sua obra, o lugar dessa anlise ocupad o por definies de tipos-ideais, de construes artificiais que nem pretendem correspon der articulao intrnseca da realidade social, e que, alm disso, pretendem assumir um carcter estritamente efmero. S uma anlise englobante da realidade social tal cnio a e xperimentamos na vida real, e como os homens sempre a experimentaram desde que e xistem sociedades civis, permitiria uma discusso adequada da possibilidade de uma cincia social valorativa. Tal anlise tornaria inteligveis as alternativas fundamen tais que esto .(33) Wissenschaftslehre, pp. 5, 35, 50-51, 61, 67, 71, 126, 127 nota, 132-134, 161-162, 6',.-171,-.173;- 175, 177-178, 180, 208, 389, 503. O DIREITO NATURAL E A DISTINO ENTRE FACTOS E VALORES I 69 inscritas essencialmente na vida social e que, por isso, forneceriam uma base pa ra julgar com responsabilidade se o conflito entre estas alternativas for, em pr incpio, susceptvel de uma soluo. No esprito de uma tradio de trs sculos, Weber teria rejeitado a sugesto de que a cinci social tem de se fundar numa anlise da realidade social tal como experimentada n a vida social ou como se apresenta ao senso comum. Segundo essa tradio, o senso comum um hbrido, engendrado pelo mundo absolutamente subjectivo das sensaes do indivduo e pelo mundo objectivo progressivamente descoberto pela Cincia. Esta opinio provm do sculo XVII, o perodo que viu nascer o pensamento moderno em virtude de uma ruptura com a filosofia clssica. Mas os originadores do pensamento moderno ainda estavam de acordo com os clssicos quando concebiam a filosofia ou a cincia como a perfeio da compreenso natural do mundo natural. Afastavam-se dos clssicos quando opunham a nova filosofia ou a nova cincia, enquanto verdadeira compreenso natural do mundo, compreenso pervertida do mundo partilhada pela filosofia ou cincia clssica e medieval, ou pela Escola (34). A vitria da nova filosofia ou da nova cincia foi decidida pela vitria da sua parte mais decisiva, designadamente a nova fsica. Essa vitria teve como consequncia eventual tornar a nova fsica, e a nova cincia da natureza em geral, independentes do corpo filosfico remanescente que desde ento veio a chamarse filosofia em contraposio cincia; e, de facto, a cincia ascendeu a uma posio de autoridade sobre a filosofia. Podemos dizer que a cincia a p e bem sucedida da filosofia ou cincia moderna, ao passo que a filosofia a sua parte menos bem sucedida. Assim, foi a cincia moderna da natureza, e no a filosofia moderna, que veio a ser encarada como a perfeio da compreenso natural do mundo nat ral. Mas, no sculo XIX, tornou-se cada Vez mais evidente que era necessrio fazer u ma distino drstica entre o que ento se chamava a compreenso cientfica (ou o mundo da
a) e a compreenso natural (ou o mundo em que vivemos). Tornou-se mais claro que a comp reenso cientfica do mundo surge atravs de uma modificao radical da compreenso natural, por oposio ao seu aperfeioamento. Como a compreenso natural (34) Comparar com Jacob Klein, Die griechische Logistik und die Entstehung der mo dernen Algebra, Quellen und Studien zur Geschichte der Mathematik, Astronomie und Physik (1936) , III, p. 125. DIREITO NATURAL E HISTRIA pressuposta pela compreenso cientfica, a anlise da cincia e do mundo da cincia pressu pe a anlise da compreenso natural, do mundo natural ou do mundo do senso comum. O mun do natural, os e agitnos, no o objecto ou o produto o mundo etn que vivem de uma atitude teriCa; um mundo, no de simples objectos sobre OS quais an arnos o nosso olhar desprendido, mas de coisas ou l assuritOS COI-ri OS quais lidamos. Porm, enquanto identificarmos O mundo natural ou pr-cientfico com o mundo em que vivemos, estaremos a lidar com uma abstraco. O mund o em que vivemos desde logo um produto da cincia, ou 'em todo o caso profundamente afectado pela existncia da cincia. Para no mencionar a tecnologia, o mundo em que vivemos est despovoado de fa ntasmas, bruxas, e por a em diante, .que abundariam no fosse a existncia da cincia. Para apreender o mundo natural como um mundo que radica ente pr-cientfico ou pr-fil osfico, preciso recuar at lm antes do nascimento da cincia ou da filosofia. Para o fazer, no necessrio proceder a amplos estudos antropolgicos e forosamente hipotticos. A informao fornecida pela fi losofia clssica sobre as suas origens, sobretudo se essa informao for complementada com a apreciao das premissas mais elementares da Bblia, suficiente para reconstitu ir o carcter "essencial do mundo natural. Recorrendo a essa informao, assim complemen tada, estaremos em condies de compreender a origem da ideia de direito natural. III A Origem da Ideia de Direito Natural COMPREENDER o problema do direito natural implica partir, no da compreenso cientfica das coisas polticas, mas da sua compreenso natural, isto , do modo como elas se apres entam na vida poltica, na aco quotidiana que nos diz respeito, quando temos de faze r decises. Isso no quer dizer que a vida poltica tem necessariamente conscincia do d ireito natural. O direito natural tem de ser descoberto, e a vida poltica j existi a antes dessa descoberta. Quer apenas dizer que a vida poltica em todas as suas f ormas aponta necessariamente para o direito natural enquanto problema inevitvel. A tomada de conscincia deste problema no mais antiga do que a cincia poltica; ela su a coeva. Da que a vida poltica que ignore a ideia de direito natural ignora necess ariamente a possibilidade da cincia poltica, e, na verdade, ignora a possibilidade da cincia enquanto cincia, tal como a vida poltica consciente da possibilidade da cincia necessariamente reconhece o direito natural como um problema. A ideia de direito natural necessariamente ignorada enquanto se ignorar a ideia de natureza. A descoberta da natureza a tarefa da filosofia. Onde no h filosofia, no h conhecimento do direito natural enquanto tal. O Antigo Testamento, cuja premi ssa fundamental, pode-se diz-lo, a rejeio implcita da filosofia, ignora a natureza: o termo hebraico para natureza no aparece na Bblia hebraica. Nem preciso dizer que o cu e a terra, por exemplo, no reproduzem a mesma realidade que a natureza. O Antigo Tes tamento ignora, portanto, o direito natural enquanto tal. A descoberta da nature za DIREITO NATURAL E HISTORIA cede necessariamentea descoberta do direito natural. A filosofia . 19,- ais anti ga do que a filosofia poltica. filosofia a procura dos princpios de todas as coisas, e isso, fica principalmente a procura das origens de todas as coisas ' 4'-cias coisas primeiras. Neste aspecto, a filosofia confunde-se com Mas o philosophos (o amante da sabedoria) no se confun o "-cora o philomythos (o amante do mito). Aristteles denomina cle,i-juleiros filsofos por homens que discursam sobre a natureza 05clilotingue-os dos homens que os ante
cederam e que discursavam; e tive deuses (1). A existncia da filosofia por oposio ao mito . 9..,.aultnea com a descoberta da natureza; o primeiro filsofo foi o Si'.dueir o homem a descobrir a natureza. Toda a histria da filosofia, 10"-cia ais seno o re gisto das tentativas sucessivas de apreender das as implicaes da descoberta crucia l que alguns gregos fizeram ?r' 10' to A 2600 anos ou mais. Para compreender o sentido dessa descoberta,:.: ll'esolo qu e de forma provisria, preciso recuar da ideia de natur e-,! PI at ao seu equivalente pr-filosfico. . No se apreende o alcance da descoberta da natureza se entenoios por natureza a to talidade dos fenmenos. que a descobei-i: "Ieda natureza consiste precisamente na d iviso dessa totalidade em?- Pl'otnenos que so naturais e em fenmenos que no so natura is.; fe,alatureza um termo de distino. Antes da descoberta da natuassociava-se o co mportamento tpico de uma coisa ou de uma' l'elasse de coisas ao seu costume ou ao seu modo. Dito de outra forma;.' o se fazia qualquer distino fundamental entre cos tumes e modos fitie so sempre e em toda a parte os mesmos e os costumes e modos v ariam de tribo para tribo. O modo dos ces ladrar e abanar a., qutie da, a menstruao o modo das mulheres, as loucuras feitas por ca cos o modo dos loucos, tal como no comer porco o modo d - tideus e no beber vinho o modo dos muulmanos. O costumeo: .ffi ti o medo o equivalente pr-filosfico da natur Embora todas as coisas ou todas as classes de coisas tenham eu costume ou modo, existe um costume ou modo particular que': 5, de suprema importncia: o nosso modo, o modo como lie vemos aqui, o modo de vida do grupo independente a que se ertence. Podemos chamar-lhe o costume ou modo supremo. Nem_ dos os membros do grupo seguem sempre esse modo, mas, desdt (I) Aristteles, Metaflisica 981b27-29, 982b18 (cf. tica a Nicmaco 1117633-35)' 333b 7 ss., 1071b26-27; Plato, Leis 891e, 892e2-7, 896a5-b3. A ORIGEM DA IDEIA DE DIREITO NATURAL 73 -que sejam apropriadamente recordados, a maioria a ele regressa: o modo supremo o caminho certo. A sua justeza garantida pela sua antiguidade: H uma espcie de pres uno contra a novidade qUe provm de uma reflexo profunda sobre a natureza humana e os assuntos humanos; e bem verdadeira a mxima da jurisprudncia que diz, Vetustas pro lege semper habetur. Mas nem tudo o que antigo bom. O nosso modo o modo recto porq ue simultaneamente antigo e nosso, ou porque simultaneamente gerado na nossa casa e consagrado pela prescrio (2) . Tal como o antigo e nosso era originariamente idntico ao recto ou ao bom, tambm o novo e estranho era originariamente assimilado ao mau. A noo que liga o <antigo ao nosso o ancestral. A vida pr-filosfica caracteriza-k s identificao primeva do bom com o ancestral. por isso que o modo recto implica necessariamente um pensamento sobre os antepassados e , por conseguinte, sobre as coisas primeiras (3) . Pois no se pode com razoabilidade identificar o bem com o ancestral se no se admit ir que os antepassados eram absolutamente superiores a ns, e isso quer dizer que er am superiores a todos os comuns mortais; -se levado a crer que os antepassados, o u aqueles que estabeleceram os modos ancestrais, eram deuses ou filhos de deuses ou que pelo menos viviam junto dos deuses. A identificao do bem com o ancestral lev a a pensar que o modo recto foi estabelecido pelos deuses ou pelos filhos dos de uses ou por pupilos dos deuses: o modo recto tem de ser uma lei divina. Como os antepassados so os antepass ados de um determinado grupo, tende-se a crer que existe uma variedade de leis o u cdigos divinos, sendo cada um deles a obra de um ser divino ou semidivino (4). Originariamente, as questes relativas s coisas primeiras e ao modo recto encontram as suas respostas mesmo antes de serem le(2) Burke, Letters on a Regicide Peace, I e IV; cf. Herdoto, 111.38 e 1.8. () Aparentemente, o modo recto seria o elo de ligao entre o modo (ou o costume) em geral e as coisas primeiras., isto , entre as razes das duas acepe mais importantes da palavra natureza: natureza como o carcter essencial de uma coisa
ou de um grupo de coisas, e natureza como as coisas primeiras. Para a segunda acepo v er Plato, Leis 891e1-4 e 892e2-7. Para a primeira acepo, ver como Aristteles e os es ticos se referem a modo nas suas definies de natureza (Aristteles, Fsica 193b13-19, 19 a27-30 e 199a9-10; Ccero, De natura deorum, 11.57 e 81). Quando a natureza negada, o costume retoma o lugar que originariamente ocupava. Comparar com Maimnides, Guia dos Perplexos, 1.71 e 73; e Pascal, Penses, ed. Brunschvicg, frags. 222, 233, 92. (4) Plato, Leis 624a1-6, 634e1-2, 662c7, d7-e7; Minos 318e1-3; Ccero, Leis, 11.27; cf. Fustel de Coulanges, La Cit antique, parte III, cap. ix. DIREITO NATURAL E HISTRIA ,vantadas. As respostas so dadas pela autoridade. Pois a autoridade, nquanto dire ito obedincia, decorre essencialmente da lei, e, na eorigern, a lei no mais do que o modo de vida da comunidade. As coisas primeiras e o modo recto no podem conver ter-se num problema, ou num objecto de uma procura, enquanto a autoridade no dvidas, ou pelo menos enquanto se confiar em tudo que se suscitas izsciein termos gerais, sobre qualquer ser (5). O surgimento da ideia de direito natural pressupe, portanto, que se duvida da autoridade. Plato indicou mais atravs da encen ao dos dilogos da Repblica Leis do que de declaraes explcitas quo indispensvel para a descoberta do direito natural o duvidar da autoridade ou a emancipao face au toridade. Na Repblica, a discusso do direito natural comea muito depois do velho Cfa lo, o pai, o chefe da casa, ter sado para cuidar das ofertas sacrificiais aos deu ses: a ausncia de Cfalo, ou do que ele representa, uma condio indispensvel da procura do direito natural. Ou, se se quiser, homens como Cfalo no necessitam de conhecer o direito natural. De resto, a discusso faz com que os participantes esqueam por a pro completo a corrida de archotes emhonra da deusa a que tencionavam assistir cura do direito natural substitui essa corrida de archotes. A discusso registada rias Leis tem lugar enquanto os participantes, seguindo os passos de Iviinos, o qual, sendo filho e pupilo de Zeus, dera aos cretenses as suas leis divinas, per correm a p o caminho entre uma cidade cretense e a caverna de Zeus. Embora a conv ersa seja relatada do principio at ao fim, no ficamos a saber se os interlocutores atingiram o seu objectivo inicial. O final das Leis dedicado ao tema central da Repblica: o clireito natural, ou a filosofia poltica e a sua culminao, substituem a caverna de Zeus. Se aceitarmos Scrates como o representante da procura do direit o natural, podemos ilustrar a relao dessa procura . com a autoridade da seguinte f orma: numa comunidade governada por leis"divinas estritamente proibido submeter essas leis a uma discusso sria, is to , a um exame critico, na presena de jovens; contudo, no s Scrates discute o direito natural um tema cuja descoberta pressupe que se duvida do cdigo ancestral ou divino na presena de jovens, c omo faz dessa discusso o objecto da conversa que tem com esses jovens. Pouco tempo antes de Plato, Herdoto (5) Cf. Plato, Crmides 161e3-8 e Fedro 275e1-3 com Apologia de Scrates 21b-6-e2; cf. tambm Xenofonte, Apologia de Scrates 14-15 com Educao de Ciro, V:2.15-17. A ORIGEM DA IDEIA DE DIREITO NATURAL 75 sublinhara este estado de coisas ao indicar o lugar onde ocorreu o nico debate po r ele relatado sobre os princpios da poltica: Fierdoto diz-nos que essa discusso liv re teve lugar na Prsia, pas amante da verdade, aps o massacre dos Magos (6) . Nada disto nega que, assim que surgiu a ideia de direito natural e se tornou perfeita mente aceitvel, ela pde adaptar-se sem dificuldade crena na existncia de urna lei di vinamente revelada. Apenas dizemos que a predominncia dessa crena impede o nascime nto da ideia de direito natural, ou faz da sua investigao um propsito infinitamente secundrio: se o homem a partir da revelao divina sabe qual o bom caminho, ento j no em de o procurar pelos seus prprios meios. A forma originria de se duvidar da autoridade e, por conseguinte, a orientao originr ia que a filosofia tomou, ou a perspectiva a partir da qual se descobriu a natur eza, foram determinadas pelo carcter originrio da autoridade. O pressuposto de que h urna diversidade de cdigos divinos depara-se com dificuldades, j que os diferent es cdigos se contradizem. Um cdigo louva sem reservas aces que um outro condena sem reservas. Um cdigo exige o sacrifcio do primognito, ao passo que outro abomina e pr
obe todos os sacrifcios humanos. Os ritos funerrios de uma tribo provocam o horror de outra. Mas o que verdadeiramente conta o facto de os diferentes cdigos se cont radizerem no que diz respeito s coisas primeiras. A ideia de que os deuses nascer am da terra no concilivel com a ideia de que a terra foi criada pelos deuses. Assi m, surge a questo de saber qual o cdigo recto e qual a explicao das coisas primeiras que verdadeira? A autoridade j no garantia do modo recto; torna-se numa questo em aberto ou no objecto de uma investigao. A identificao primeva do bem com o ancestral substituda pela distino fundamental entre o bem e o ancestral; a procura do modo r ecto ou das coisas primeiras doravante a procura do bem por contraposio ao ancestr al (7). Acabar por se revelar como a procura do que por natureza bom em contrapos io ao que bom apenas por conveno. A investigao das coisas primeiras orientada por duas distines fundamentais que antec edem a distino entre o bem e o ancestral. Os homens sempre distinguiram (por exemp lo, em matrias ju(6) Plato, Leis 634d7-635a5; cf. Apologia de Scrates 23e2 ss. com Repblica 538e5-e6 ; Herdoto, 111.76 (cf. 1.132). (7) Plato, Repblica 538d3-4 e e5-6; Poltico 296e8-9; Leis 702e5-8; Xenofonte, Educao de Ciro, 11.2.26; Aristteles, Poltica 1269a3-8, 1271b23-24. DIREITO NATURAL E HISTORIA ,dicials) o que se ouve dizer daquilo que se v com os prprios olhos, e sempre pref eriram o que foi visto ao que foi pura e simplesmente ouvido por outros. Mas o u so desta distino esteve originariamente limitado a assuntos particulares e menos i as coisas primeiras e o modo recto a nica mportantes. Para as questes mais graves fonte , de conhecimento era o ouvir dizer. Confrontado com as contradies entre os muitos cdigos sagrados, algum um viajante, um homem que vira as cidades de muita g ente, e reconhecia a diversidade dos - seus pensamentos e 'dos seus costumes sug eriu que se aplicasse a distino entre ver com os prprios olhos e ouvir dizer a toda s as matrias, e em particular s questes mais graves. Era necessrio suspender o julga mento crtico, ou o assentimento ao carcter divino ou venervel de um cdigo ou de uma narrativa, at que os factos em que se baseavam as suas pretenses se tornassem mani festos ou fossem demonstrados. Tm de se tornar manifestos para todos, em plena lu z do dia. Assim, o homem desperta para a diferena crucial entre o que o seu grupo considera ser inquestionvel e o que ele prprio observa; assim que o Eu se torna c apaz de se opor ao Ns sem qualquer sentimento de culpa. Mas no o Eu enquanto tal q ue adquire esse direito. Os sonhos e as vises haviam sido de uma importncia decisi va para fundar a autoridade do cdigo divino ou da explicao sagrada das coisas prime iras. Em resultado da aplicao universal da distino entre o ouvir dizer e ver com os prprios olhos, fazia-se agora uma distino entre o nico mundo que verdadeiro e comum, e que se apreende no estado viglia, e os muitos mundos inverdicos e privados dos sonhos e das vises. Assim, parece que nem o Ns de um qualquer grupo particular, ne m o Eu nico, mas antes o homem enquanto homem, a medida do verdadeiro e do falso, do ser ou do no-ser de todas as coisas. Por fim, o homem aprende assim a disting uir os nomes das coisas que conhece por ouvir dizer, e que variam de grupo para grupo, das coisas em si mesmas que ele, assim como qualquer outro ser humano, po de ver com os seus prprios olhos. - Pode, ento, comear a substituir as distines arbit rrias das coisas que variam de grupo para grupo pelas suas distines naturais. Dos cdigos divinos e das explicaes sagradas das coisas primeiras dizia-se que eram conhecidos, no por ouvir dizer, mas por meio de uma revelao sobre-humana. Quando se exigiu a aplicao da distino entre ouvir dizer e ver com os prprios olhos s questes ma s graves, exigiu-se que se provasse a origem sobre-humana de toda a revelao sobrehumana, e que essa prova resultasse de um A ORIGEM DA IDEIA DE DIREITO NATURAL exame, no luz de critrios tradicionais utilizados, por exemplo, ara descriminar os orculos verdadeiros e falsos, mas com o auxlio e critrios que decorressem em ltima anlise de uma maneira evidente das regras que nos orientam em matrias plenamente a cessveis ao conhecimento humano. As artes eram o tipo mais elevado de conheciment o humano que estava disponvel antes do aparecimento da filosofia ou da cincia. A s egunda distino pr-filosfica ue originariamente orientou a investigao das coisas primei ras consistiu na distino entre as coisas artificiais, ou as que so feitas pelo home m, e as coisas que no so feitas pelo homem. A natureza foi descoberta quando o hom
em se iniciou na investigao das coisas primeiras luz das distines fundamentais entre , por um lado, o ouvir dizer e ver com os prprios olhos, e, por outro lado, entre as coisas que so feitas pelo homem e as coisas que no so feitas pelo homem. primeira destas distines motivou a exigncia de que as coisas primeiras tm de ser es crutinadas partindo do que todos podem observar num determinado momento. Mas nem todas as coisas visveis constituem um ponto de partida igualmente adequado desco berta das coisas primeiras. A nica coisa primeira a que as coisas feitas pelo homem conduzem o prprio homem, que seguramente no a coi sa primeira sem outras consideraes. As coisas artificiais so tidas por inferiores e m todos os aspectos, ou posteriores, em relao s coisas que no so feitas, mas encontra das ou descobertas pelo homem. Considera-se que devem o seu ser ao engenho ou pr evidncia humana. Se se suspender o julgamento relativo verdade das explicaes sagrad as das coisas primeiras, no se fica a saber se as coisas que no so feitas pelo home m devem o seu ser a alguma previdncia, isto , se as coisas primeiras do origem a to das as outras coisas por meio da previdncia, ou de outra forma. Assim, intui-se a possibilidade de que as coisas primeiras do origem a todas as outras coisas de u m modo fundamentalmente diferente da criao que possa ocorrer por meio da previdncia . A assero de que todas as coisas visveis foram produzidas por seres pensantes, ou de que h seres pensantes sobre-humanos, requer doravante uma demonstrao: uma demons trao que parte daquilo que todos podem observar num determinado momento (8). (8) Plato, Leis 888e-889e, 891e1-9, 892e2-7, 966d6-967e1. Aristteles, Metafisica 9 89b29-990a5, 1000a9-20, 1042a3 ss.; De caelo, 298b13-24. Toms de Aquino, Szonma t heological, q. 2, a. 3. DIREITO NATURAL E HISTRIA Em suma, pode-se dizer que a descoberta da natureza idntica realizao de uma possibi lidade humana que, pelo menos segundo a sua prpria interpretao, trans-histrica, tran s-social, trans-moral e trans-religiosa (9) . A investigao filosfica das coisas primeiras pressupe no apenas que as coisas primeira s existem, mas que elas so sempre, e que as coisas que so sempre ou imperecveis so m ais propriamente seres do que as coisas impermanentes. Estes pressupostos decorr em da premissa fundamental Segundo a qual nenhum ser nasce sem uma causa ou que impossvel que no princpio fosse o Caos, isto , que as coisas primeiras emergiram no s er a partir e atravs do nada. Por outras palavras, as mudanas visveis seriam impossv eis se no houvesse algo de permanente ou eterno: os seres contingentes manifestos requerem a existncia de um elemento necessrio e, portanto, eterno. Os seres que so sempre gozam de uma dignidade superior dos seres impermanentes porque s aqueles podem constituir a causa ltima destes, do seu ser, ou porque o que impermanente e ncontra o seu lugar na ordem constituda pelo que sempre. Os seres impermanentes so menos plenamente seres do que os seres que so sempre, porque o ser perecvel est a meio caminho entre o ser e o no-ser. Tambm se pode exprimir a mesma premissa funda mental dizendo que a omnipotncia significa o poder limitado pelo conhecimento das na turezas (9, o que quer dizer da necessidade imutvel e conhecvel; toda a liberdade e toda a indeterminao pressupem uma necessidade mais fundamental. Uma vez descoberta a natureza, torna-se impossvel entender o comportamento caract erstico ou normal dos grupos naturais e das diferentes tribos humanas como costum es ou modos; os costumes dos seres naturais so reconhecidos como as suas naturezas, e os costumes das diferentes tribos humanas so reconhecidos como as suas conveties. A noo primeva de costume ou de modo divide-se nas noes de natureza, por um lado, e de or (9) Este ponto de vista ainda imediatamente inteligvel, como se pode ver, em Cert a medida, pelo seguinte comentrio de A. N. Whitehead: Depois de Aristteles, OS-inte resses ticos e religiosos comearam a influenciar as concluses metafsicas (...). duvi doso que qualquer metafsica geral propriamente dita possa ir muito mais alm de Aristteles, sem a introduo ilcita de outras consideraes (Science and the Modern [ed. tor Books], pp. 1'73-1'74). Cf. Toms de Aquino, Summa theologica, 1.2, - 58,, a:. 45, e q. 104, a. 1; 11.2, q. 19, a. 7, e q. 45, a. 3 (sobre a relao da filosofia com a moral e com a religio). !'('9) Ver Odisseia, X.303-306. A ORIGEM DA IDEIA DE DIREITO NATURAL
outro. A distino entre natureza e conveno, entre physis e nomos, data portanto da de scoberta da natureza e por isso do aparecimento da filosofia (") No seria necessrio descobrir a natureza se no estivesse escondida. Por isso, a natur eza necessariamente entendida em contraposio a outra coisa, designadamente aquilo q ue esconde a natureza na medida em que a esconde. Alguns estudiosos no aceitam a n atureza enquanto termo de distino porque crem que tudo o que natural. Mas assumem ta citamente que o homem sabe por natureza que a natureza existe ou que a natureza to clara ou to bvia como, digamos, o vermelho. De resto, so forados a distinguir as coisa s naturais ou existentes das coisas ilusrias ou das que aparentam existir sem con tudo existir; mas deixam por articular o modo de ser das coisas mais importantes que aparentam existir sem contudo existir. A distino entre natureza e conveno impli ca que a natureza essencialmente escondida por decises soberanas. Os homens no pod em viver sem ter pensamentos sobre as coisas primeiras, e, presumia-se, no podem viver bem sem se unirem aos seus semelhantes na partilha de pensamentos idnticos sobre as coisas primeiras, isto , sem estarem sujeitos a decises soberanas sobre a s coisas primeiras: a lei que pretende tornar manifestas as coisas primeiras, ou expor o que . Por sua vez, a lei aparecia como uma regra que recolhe a sua fora vin culativa do acordo ou da conveno dos membros do grupo. A lei ou a conveno tem a tendn cia, ou a funo, de esconder a natureza; de tal maneira bem sucedida que, para comea r, a natureza experienciada ou dada apenas enquanto costume. Por isso, a investigao f losfica das coisas primeiras orientada pelo entendimento do ser segundo o qual a di stino mais fundamental dos modos de ser a que separa s. er na verdade e ser em virtud e da lei ou da conveno uma distino que sobrevi.: veu de urna forma quase irreconhecve na distino escolstica entre ens reale e ensfictumr). O aparecimento da filosofia afecta radicalmente a atitude do homem em relao s coisa s polticas, em geral, e s leis, em particular, porque afecta radicalmente o seu en tendimento dessas coisas. (") Sobre os primeiros testemunhos da distino entre natureza e conveno, ver Karl Rei nhardt, Parmnides und die Geschichte der griechischen Philosophie (Bona, 1916), p p. 82-88. (") Plato, Minos 315a1-b2 e 319e3; Leis 889e3-5, 890a6-7, 891e1-2, 904a9-b1; rima i 40d-41a; cf. tambm Parmnides, frag. 6 [Diels]; ver P. Bayle, Penses diverses, 49. DIREITO NATURAL E HISTORIA Originariamente, a autoridade por excelncia, ou a raiz de toda a utoridade, era o ancestral. Com a descoberta da natureza, a pretenso do ancestral desvitalizada; a filosofia abandona o ancestral por aquilo que intrinsecamente bom, por aquilo que .1; elo bem, bom por natureza. Porm, o modo como a filosofia desvitaliza a retenso do ancestral acaba por preservar um dos s eus elementos. r,ois, quando falavam da natureza, os primeiros filsofos referiam-se s coisas prim eiras, isto , s coisas mais antigas; a filosofia abandona o ancestral por algo que mais antigo do que o ancestral. A natureza o antepassado de todos os antepassad os ou a me de todas as mes. A natureza ms antiga do que qualquer tradio; por consegui nte, mais venervel do que qualquer tradio. A ideia de que as coisas naturais gozam de uma dignidade superior das coisas produzidas pelos homens baseia-se, no na imp ortao sub-reptcia ou inconsciente de elementos mticos, ou em resqucios mticos, mas_ na prpria descoberta da natureza. A arte pressupe a natureza, ao passo que a naturez a no pressupe a arte. As capacidades criativas do homem, que so mais admirveis do que qualquer uma das suas criaes, no so em si mesmas produzidas por ele: o gnio de Shakes peare no foi obra de Shakespeare. A natureza fornece no s a matria, mas tambm o model o de todas as artes; as maiores e mais belas coisas so obra da natureza por contrap osio arte. Ao desvitalizar a autoridade do ancestral, a filosofia reconhece que a natureza a autoridade (13). Contudo, seriamenos enganador dizer que a filosofia, ao desvitalizar a autoridad e, reconhece a natureza como o padro. Pois a faculdade humana que, com o auxlio da percepo sensorial, descobre a natureza a razo ou o entendimento, e a relao da razo o do entendimento com os seus objectos fundamentalmente diferente da obedincia automtica que a autoridade propriamente dita impe. Ao charnarnatureza oridade suprema estaramos a toldar a distino que funda toda a filosofia, a distino en tre razo e autoridade. Se se submetesse autoridade, a filosofia, em particular a
filosofia po-, ltica, perderia o seu carcter; degeneraria em ideologia, isto , numa - apologia de uma ordem social dada ou em vias de concretizao, ou transformar-seia em teologia ou em cincia jurdica. A respeito da situao no sculo XVIII, Charles Bea rd disse: O clero e os monarquistas reivindicavam direitos especiais como se corr espondessem ao n Ccero, Leis, 11.13 e 40; De finibus, IV.72; V.17. A ORIGEM DA IDEIA DE DIREITO NATURAL direito divino. Os revolucionrios recorriam natureza (14). O que vale para os revolucionrios do sculo XVIII, vale tambm, mutatis mutandis, para todos os filsofos enquanto filsofos. Os filsofos clssicos fizeram inteira justia grande verdade que subjaz identificao do bem com o anc estral. Porm, no podiam ter posto a verdade subjacente a descoberto se no tivessem rejeitado primeiramente essa mesma identificao. Em particular, Scrates era um homem muito conservador no que diz ia respeito s derradeiras concluses prticas da sua filosofia politica. No entanto, Aristfanes estava prximo da verdade quando sugeriu que a premissa fundamental de Scrates podia induzir um filho a bater no s eu prprio pai, isto , a repudiar na prtica a mais natural de todas as autoridades. A descoberta da natureza ou da distino fundamental entre natureza e conveno a condio ecessria para o aparecimento da ideia de direito natural. Mas no condio suficiente: todo o direito poderia ser convencional. precisamente este o tema da controvrsia primordial em filosofia politica: haver direito natural? Aparentemente, a reposta que prevalecia antes de Scrates era negativa, isto , prevalecia o ponto de vista a que chammos .convencionalismo(15). No surpreende que os filsofos se tenham inclinado inicialmente para o convencionalismo. Para comear, o direito apresenta-se como idntico lei ou a o costume, ou como sendo um dos seus aspectos; e, com o aparecimento da filosofi a, o costume ou a conveno aparece como aquilo que esconde a natureza. O texto pr-socrtico crucial um dito de Heraclito: ,,Para Deus todas as coisas so be las [nobres] e boas e justas, mas os homens supem que algumas coisas so justas e outras so injustas. A prpria distino entre justo .e injusto no passa de uma suposio humana ou de uma conveno humana (16). Deus, ou o que quer que se chame ' causa primeira, est para alm do bem e do mal, e at alm do bom_ e do mau. Deus no se interessa pela justia que relevante para a vida humana enquan to tal. Deus no recompensa a justia nem pune a injustia. A justia no tem qualquer sustentao sobre-humana. A bondade da justia e a m aldade da injustia resultam exclusivamente da agncia humana e, em ltima anlise, da d eciso humana. S se encontram vestgios da justia divina onde reinam os homens justos; (") TheRepublic (Nova Iorque, 1943), p. 38. (") Cf. Plato, Leis 889d7-890a2 com 891e1-5 e 967a7 ss.; Aristteles, Metafisica 99 0a3-5 e De caelo 298b13-24; Toms de Aquino, Stanma theologica, I, q. 44, a. 2. (' a) Frag. 102; cf. frags. 58, 67, 80. 82 DIREITO NATURAL E HISTRIA de outro modo, o mesmo acontece, como vemos, ao homem bom como ao homem mau. Assi m, a negao do direito natural parece ser a consequncia da negao da providncia particul ar (17). Mas bastaria o exemplo de Aristteles para mostrar que possvel admitir o d ireito natural sem acreditar na providncia particular ou na justia divina propriam ente dita ('') . Com efeito, mesmo que se considere a ordem csmica absolutamente indiferente s dist ines morais, a natureza humana, por contraposio natureza em geral, pode muito bem se r a base dessas distines. Ilustrando este ponto com o exemplo da doutrina pr-socrtic a mais conhecida, a saber, o atomismo, o facto de os tomos estarem para alm do bom e do mau no legitima a inferncia de que nada por natureza bom 'ou mau para um det erminado composto de tomos, e em particular para os compostos a que chamamos homen s. De facto, ningum pode dizer que todas as distines que os homens fazem entre bom e mau, que todas as preferncias humanas, so meramente convencionais. Por conseguint e, preciso distinguir os desejos e inclinaes humanos que so naturais dos que tm a su a origem em convenes. Temos ainda de distinguir os desejos e inclinaes humanos que e sto de acordo com a natureza humana, e que so portanto bons para o homem, daqueles
que so destrutivos da sua natureza ou da sua humanidade e, por conseguinte, maus . Somos, assim, conduzidos at ideia de uma vida, de uma vida humana, que boa porq ue conforme natureza (19) . Ambas as partes da controvrsia admitem que uma tal vi da existe, ou, em termos mais gerais, reconhecem a primazia do bem sobre o justo ("). A questo (17) Espinosa, Tractatus theologico-politicus, cap. XIX (20, ed. Bruder). Victor Cathrein (Recht, Naturrecht und positives Recht [Freiburg im Breisgau, 1901], p. 139) diz: (...)se recusarmos a existncia de um criador pessoal e de uma Providncia que rege o mundo, o direito natural deixa de se sustentar. (1') tica a Nicrnaco 1178b7-22; F. Socino, Praelectiones theolog,icae, cap. 2; Grc o, De jure belli ac pacis, Prolegomena 11; Leibniz, Nouveaux essais, livro I, cap . ii; 2. Veja-se os seguintes passos do Contrato Social de Rousseau: V-se ainda que as partes contraentes estariam entre si apenas sob a lei natural e sem qualquer garantia do cumprimento dos seus compromissos mtuos (...) (III, cap. 16) e Consid erando humanamente as coisas, na ausncia de sanes naturais, as leis da justia so vs en tre os homens. (II, cap. 6). (IS) Como Ccero sublinha, esta ideia foi aceite por ' quase todos os filsofos clssico s (Definibus, V.17). Foi sobretudo rejeitada pelos cpticos (ver Sexto Emprico, Pyr rhonica, 111.235). (") Plato, Repblica 493e1-5, 504d4-505a4; Banquete 206e2-207a2; Teeteto 177e6- d7; Aristteles, tica a Nicrnaco 1094a1-3 e b14-18. A ORIGEM DA IDEIA DE DIREITO NATURAL controversa reside em saber se o justo bom (por natureza). ou se a vida conforme natureza humana requer a justia ou a moral. Para chegarmos a uma distino clara entre o natural e o convencional, temos de regr essar ao perodo da vida do indivduo (21) ou da espcie que antecede a conveno. Temos d e regressar s origens. Tendo em vista a relao entre o direito e a sociedade civil, a questo da origem do direito converte-se na questo da origem da sociedade civil o u da sociedade em geral. Por sua vez, esta questo levanta o problema da espcie hum ana. Conduz tambm questo da condio originria do homem: era perfeita ou imperfeita, e, caso fosse imperfeita, essa imperfeio tinha mais o cunho da mansido (bondade ou in ocncia) ou da selvajaria? Se analisarmos o registo da discusso secular que se travou em torno destas discus ses, rapidamente ficamos com a impresso que quase todas as respostas s perguntas ac erca das origens so compatveis com a aceitao ou com a rejeio do direito natural (22). Estas dificuldades contriburam para a desvalorizao, para no dizer o desprezo complet o, das questes acerca da origem da sociedade civil e da condio dos primeiros homens. Dizem-nos que o que importante a ideia do Estado, e de forma alguma a origem histric a do Estado (23) . Esta perspectiva moderna uma consequncia da rejeio da natureza en quanto padro. Natureza e Liberdade, Realidade e Norma, Ser e Dever-Ser acabam por se revelar como completamente independentes um do outro; da que parecesse que at ravs do estudo das origens no poderamos aprender nada de importante sobre a socieda de civil nem sobre o direito. Todavia, do ponto de vista dos antigos, a questo da s origens tem uma importncia decisiva porque a resposta correcta a este problema clarifica o estatuto, a dignidade, da sociedade civil e do direito. A investigao d as origens ou da gnese da sociedade civil, ou do que correcto e incorrecto, justi ficada pelo propsito de saber se o fundamento da sociedade civil, e do que (2') Sobre as reflexes em torno da condio do homem imediatamente desde o momento do seu nascimento, ver, por exemplo, Aristteles, Poltica 1254a23 e tica a Nicmaco 1144b4 -6; Ccero, De finibus, 11.31-32; 111.16; V.17, 43 e 55; Digenes Larcio, X.137; Grcio , op. cit., Prolegomena 7; Hobbes, De cive, 1.2, nota 1. (22) Sobre a combinao do pressuposto das origens selvagens com a aceitao do direito natural, cf. Cicro, Pro Seitio, 91-92 com Tusc. Disp., V.5-6, Repblica, 1.2, e Dev eres, 11.15. Ver tambm Polibio, V1.4.7, 5.7-6.7, 7.1. Tome-se em considerao as impl icaes de Plato, Leis 680d4-7 e de Aristteles, Poltica 1253a35-38. (23) Hegel, Filosofia do Direito, 258; cf. Kant, Metaphysic der Sitten, ed. Vorla ender, pp. 142 e 206-207. DIREITO NATURAL E HISTRIA correcto e incorrecto, a natureza ou apenas a conveno (24) . E a questo da origem es sencial da sociedade civil e do que correcto e incorrecto no pode ser respondida s
em se atender ao que se conhece acerca dos primrdios ou das origens histricas. Em relao 'questo de saber se a condio originria do homem era perfeita ou imperfeita, a resposta que se der decide se a espcie humana inteiramente responsvel pela sua imperfeio actual ou se essa imperfeio sculpada pela imperfeio originria da espcie. Por outras palavras, a ideia de que o pr incpio do homem foi perfeito est de acordo com a identificao do bem como ancestral, assim como se coaduna mais com a teologia do que com a filosofia. Porquanto em t odas as pocas o homem recordou e admitiu que as artes foram inventadas por ele, o u que os primeiros tempos do mundo no conheciam as artes; mas a filosofia pressupe necessariamente as artes; portanto, se a vida filosfica , na realidade, a vida re cta ou a vida conforme natureza, ento as origens humanas foram necessariamente im perfeitas (25). Para os nossos propsitos, suficiente apresentarmos uma anlise do argumento tradici onal invocado pelos convencionalistas. Esse argumento avana que no pode haver dire ito natural porque as coisas justas variam de sociedade para sociedade. Ao longo d os sculos, este argumento gozou de uma espantosa vitalidade, que parece contrasta r com a sua validade intrnseca. Tal como normalmente '- apresentado, o argumento consiste numa simples enumerao das diferentes concepes de justia que prevalecem ou pr evalecer= em diferentes naes ou em diferentes pocas na mesma nao. Como 'indicmos anter iormente, o simples facto da variedade ou mutabilidade das coisas justas ou das co ncepes de justia no justifica a rejeio do direito natural, a menos que se adoptem cert os pressupostos, e na maioria dos casos estes pressupostos no so sequer enunciados . Por conseguinte, somos forados a reconstruir o argumento convencionalista a par tir de comentrios dispersos e fragmentados. Todas as partes reconhecem que no pode haver direito natural se 'os princpios do d ireito no forem imutveis (26). Mas os factos a () Cf. Aristteles, Poltica 1252a18 ss. e 24 ss. com 1257a4 ss. Ver Plato, Repblica 2 69b5-7, Leis 676a1-3; e tambm Ccero, Repblica, 1.3941. (a) Plato, Leis 677b5-678b3, 679e; Aristteles, Metafsica 981b13-25. (a) Aristteles, tica a Nicmaco 1094b14-16 e 1134b18-27; Ccero, Repblica, . 111.1348 e 20; Sexto Emprico, Pyrrohonica, 111.218 e 222. Cf. Plato, Leis 889e6-8 e -.Xenofo nte, Memorabilia, IV.4.19. A ORIGEM DA IDEIA DE DIREITO NATURAL que o convencionalismo se refere no parecem demonstrar que os princpios do direito so mutveis. Parecem apenas demonstrar que as diferentes sociedades tm diferentes concepes de justia ou de princpios de justia. Da mesma maneira que as ideias variveis do universo que o homem forma no demonstram que o universo no existe, nem que no pode haver uma s explicao verdadeira do universo, nem que o homem nunca chegar ao conhecimento verdadeiro e definitivo do universo, tambm as concepes variveis de justia que o homem forma no demonstram que o direito natural no existe, nem que o direito natural seja inconhecvel. A varied ade das concepes de justia podem ser entendidas como uma variedade de erros, que no contradiz, mas antes pressupe, a existncia de uma verdade acerca da justia. Esta ob jeco ao convencionalismo seria vlida se a existncia do direito natural fosse compatve l com a ignorncia universal ou generalizada do direito natural. Mas, quando se fa la do direito natural, fica implcito que a justia de importncia vital para o homem ou que "o homem no consegue viver, ou no consegue viver bem, sem justia; e a vida c onforme justia requer o conhecimento dos seus princpios. Se o homem tem uma tal na tureza que no consegue viver, ou viver bem, sem justia, ento deve ter por natureza o conhecimento dos seus princpios. Mas, se assim fosse, todos os homens estariam de acordo quanto aos princpios de justia, semelhana do que sucede com as qualidades sensveis (27). Porm, esta exigncia parece ser irrazovel; nem quanto s qualidades sensveis existe aco rdo universal. Nem todos os homens, mas s os homens normais, esto de acordo quanto ' aos sons, s cores e a coisas semelhantes. Assim, a existncia do direito natural requer apenas que todos os homens normais cheguem a acordo quanto aos princpios d e justia. A ausncia de uma concordncia universal pode ser explicada pela corrupo da n atureza humana naqueles que ignoram os verdadeiros princpios, a qual corrupo, por razes evidentes, mais frequente e mais efectiva do que a corrupo
ondente que afecta a percepo, das qualidades sensveis (28) . Mas se verdade que as concepes de justia variam de sociedade para sociedade ou de poca para poca, esta idei a de direito natural conduzir dura consequn(27) Ccero, Repblica, 111.13 e Leis, 1.47; Plato, Leis 889e . (") Ccero, Leis, 1.33 e 47.
DIREITO NATURAL E HISTRIA da de que s os membros de uma sociedade particular, ou talvez at s uma gerao de uma s ociedade particular, ou, na melhor das hipteses, s os membros de algumas sociedade s particulares podem ser considerados seres humanos normais. Para todos os feito s prticos, isso significa que quem ensina o direito natural identific-lo- com as co ncepes de justia que so valorizadas pela sua prpria sociedade ou pela sua prpria civil zao. Ao falar do direito natural, no far mais do que reivindicar validade universal p ara os preconceitos do seu grupo. Se se afirmar que, de facto, muitas sociedades concordam quanto aos princpios de justia, pelo menos to plausvel retorquir que esta concordncia se deve a causas acidentais (como a semelhana das condies de vida ou a influncia recproca), como dizer que s essas sociedades particulares preservaram a i ntegridade da natureza humana. Se se afirmar que todas as naes civilizadas concord am quanto aos princpios de justia, preciso primeiro saber o que se entende por civi lizao. Se quem ensina o direito natural identifica civilizao com o reconhecimento do direito natural ou algo equivalente, na verdade limita-se a dizer que todos os h omens que aceitam os princpios do direito natural aceitam os princpios do direito natural. Se ele entende por civilizao um elevado desenvolvimento das artes e das cinc ias, para o refutar basta invocar o facto de que os convencionalistas so muitas v ezes homens civilizados; e que quem acredita no direito natural, ou nos princpios dos quais se diz constiturem a essncia do direito natural, muitas vezes muito pou co civilizado (29). Este argumento contra o direito natural pressupe que todo o conhecimento de que o s homens precisam para viver bem natural no sentido em que a percepo das qualidade s sensveis e outros tipos de percepo que se tem sem esforo so naturais. perde a sua.f ora, ento, assim que se assume que o conhecimento do direito natural tem de ser ad quirido atravs do esforo humano ou que o conhecimento do direito natural tem carcte r cientfico. Isso explicaria por que que o conhecimento do direito natural nem se mpre est disponvel. Conduziria consequncia de que a vida boa ou justa no possvel, ou que a cessao do mal no possvel enquanto esse conhecimento no se tornar disponvel. M cincia tem por seu objecto o que sempre ou o que e (") a. Locke, An Essay Concerning Human Understanding, livro I, cap. iii, sec. 2 0. A ORIGEM DA IDEIA DE DIREITO NATURAL 87 imutvel ou o que verdadeiro. Portanto, o direito natural, ou a justia, tem de exis tir realmente, e portanto tem de ter por toda a parte o mesmo poder (30). Assim, t udo indica que o direito natural tem de produzir sempre o mesmo efeito, e de for ma persistente, pelo menos sobre a ideia humana de justia. Porm, no deixa de ser ve rdade que vemos as ideias humanas de justia num estado de discordncia e flutuao. Mas mesmo este desacordo e esta flutuao pareceriam demonstrar a efectividade do di reito natural. A propsito de coisas to inequivocamente convencionais como os pesos , as medidas, o dinheiro e outras semelhantes, dificilmente se pode falar de discordncia entre as vrias sociedades. Diferentes sociedades ajeitam de diferentes maneiras o s seus pesos, medidas e dinheiro; estas disposies no se contradizem. Se as diferenas que concernem coisas que so inequivocamente convencionais no provocam perplexidad es srias, j as diferenas que concernem os princpios do justo e do injusto provocam-n as necessariamente. Assim, as discordncias a propsito dos princpios de justia parece m revelar uma perplexidade genuna provocada por uma adivinhao ou por uma apreenso in suficiente do direito natural a qual perplexidade tem como causa algo de autnomo ou de natural que escapa apreenso humana. Poder-se-ia pensar que esta suspeita co nfirmada por um facto que, primeira vista, parece advogar de modo decisivo a cau sa do convencionalismo. Em toda a parte se diz que justo fazer o que a lei coman
da ou que o justo idntico ao legal, isto , que o justo idntico ao que os seres huma nos estabelecem como legal ou concordam em considerar legal. Porm, no implica isso que existe alguma concordncia universal a respeito da justia? verdade que, aps ref lectirem, as pessoas negam que o justo seja pura e simplesmente idntico ao legal, pois falam de leis injustas. Mas a concordncia universal irreflectida no apontar par a o modo como a natureza opera? E o carcter insustentvel da crena universal da identificao do justo com o legal no indicar que o legal, apesar de no ser idntico ao justo, reflecte o direito natural de forma mais ou menos plida? Os dados introduzidos pelo convencionalismo so perfeitamente compatveis com a possibilidade da existncia do direito natural e, por assim dizer, solicitam a v ariedade infinita de ideias (30) Aristteles, tica a Nicmaco, 1134b19. DIREITO NATURAL E HISTRIA de justia ou a variedade infinita das leis, ou do que est na raiz de todas as leis (31) A deciso depende agora do resultado da anlise da lei. A lei evela-se como algo de contraditrio. Por um lado, pretende ser algo rssencialmente bom ou nobre: a lei que salva as cidades e tudo resto. Por outro lado, a lei apresenta-se como a opinio comum como a deciso da cidade, isto , de uma multido de cidados. 'in.quanto tal, no de modo algum essencialmente boa ou nobre. pode muito bem ser a obra da loucura e da vi leza. Seguramente que no h razo para se presumir que quem faz a lei seja, por regra , mais sbio do que tu ou eu; por que que, ento, tu e eu devemds nos submeter s suas ises? O simples facto de as mesmas leis que foram solenemente adoptadas pela cida de serem revogadas com igual solenidade pela mesma cidade pareceria pr a nu o carcter duvidoso da sabedoria que presidiu sua elaborao ("). A questo, pois, consiste em saber se a pretenso da lei de ser algo de bom ou nobre pode ser pura e simplesmente afastada por ser em absoluto desprovida de fundamento ou se contm um elemento de verdade. . A lei diz em sua defesa que salva a cidade e tudo o resto. Apresenta-se como a garantia do bem comum. Mas o bem comum exactamente aquilo que queremos dizer qu ando mencionamos o justo. As leis so ustas na medida em que promovem o bem comum. Mas se o justo j idntico ao bem comum, ento o justo ou o que recto no pode ser convencional: as con venes de uma cidade no conseguem transformar o que , na realidade, fatal para uma ci dade em algo que seja bom para essa mesma cidade, ou vice-versa. a natureza das coisas, e no a conveno, que determina em cada caso o que justo. Isso implica que o que justo pode muito bem variar de cidade para cidade e de uma poca para outra: a diversidade das coisas justas no s compatvel com 0 princpio de justia, com a identif icao do justo com o bem comum, como iima sua consequncia. O conhecimento do que jus to aqui e agor.a, o conhecimento do que , por natureza, ou intrinsecamente, bom p ara esta cidade neste momento no pode ser cientfico. Ainda menos pode ser assimila do ao conhecimento sensvel. Determinar o que justo em cada caso funo da arte ou da habilidade poltica. Essa arte (31) Plato, Repblica 340a7-8 e 338d10-e2; Xenofonte, Memorabilia, IV.6.6; Aristteie s, tica a Nicmaco 1129b12; Heraclito, frag. 114. (32) Plato, Hipias Maior 284d-e; Leis 644d2-3 e 780d4-5; Minos 314c1-e5; Xenofont e, Memoraa, 1.2.42 e IV.4.14; Esquilo, Os Sete contra Tebas, 1071-72; Aristfanes, _ Nuvens, 1421-22. A ORIGEM DA IDEIA DE DIREITO NATURAL ou habilidade comparvel arte do mdico, que determina o que em cada caso saudvel ou bom para o corpo humano (33). O convencionalismo evita esta consequncia ao negar que existe um verdadeiro bem c omum. Aquilo a que se chama o bem comum , de facto, em cada caso, o bem, no do todo, mas de uma parte. As leis que pretendem visar o bem comum pretendem, na verdade , ser a deciso da cidade. Mas a cidade deve a sua unidade, e por isso o seu ser, sua constituio ou ao seu regime: a cidade sempre uma democracia ou uma oligarquia ou uma monarquia e por a em diante. A diferena de regimes tem a sua raiz na diferena
das partes ou das seces que compem a cidade. Portanto, todo o regime corresponde ao mando de uma seco da cidade. Da que as leis sejam, de facto, a obra no da cidade, m as dessa seco da cidade que nesse momento se encontra no poder. escusado dizer que a democracia, que pretende ser o governo de todos, , de facto, o governo de uma parte; pois a democracia , na melhor das hipteses, o governo da maioria de todos o s adultos que habitam o territrio da cidade; mas a maioria constituda pelos pobres ; e os pobres formam uma seco, por mais numerosa que ela seja, que tem um interess e distinto dos interesses das outras seces. A seco governante-ocupa-se, evidentement e, apenas do seu prprio interesse. Mas, por uma razo bvia, proclama que as leis que estabelece tendo em vista o seu prprio interesse so boas para a cidade como um to do (34). No entanto, no poder haver regimes mistos, isto , regimes que com maior ou menor su cesso tentam estabelecer um justo equilbrio entre os interesses em conflito das p artes essenciais da cidade? Ou no ser possvel que o verdadeiro interesse de uma par te particular (a dos pobres ou a dos gentil-homens, por exemplo) coincida com o interesse comum? Objeces deste tipo pressupem que a cidade um todo genuno ou , mais precisamente, que a cidade existe por natureza. Mas a sua unidade parece ser convencional ou fictcia, Pois o que natural realiza-se e existe sem violncia. Toda a violncia aplicada a u m ser fora-o a fazer algo que contraria a sua ndole, isto , que contraria a sua nat ureza. Mas a cidade assenta na violncia, na compulso ou na coero. No existe, ento, uma diferena essencial entre o governo poltico e o mando de um senhor sobre os seus e scravos. Mas o carcter anti-natural da escravatura parece ser bvio: (") Cf. Aristteles, tica a Nicmaco 1129b17-19 e Poltica 1282b15-17 com Plato, Teeteto 167c2-8, 172a1-b6, e 177c6-178b1. (34) Plato, Leis 889d4-890a2 e 714b3-d10; Repblica 338d7-339a4 e 340a7-8; Ccero, Re pblica, 111.23. DIREITO NATURAL E HISTRIA
ser reduzido escravatura ou ser tratado como um escravo contraria a ndole de qual quer homem (35) , Alm disso, a cidade composta por uma multido de cidados. uni cidado o filho, o produto natural, da unio de cidados nativos, de um pai e de u ma me que so ambos cidados. Porm, s cidado aquele cujos pais esto casados legalmente, ou melhor cujo pai presumvel o marido da sua me. Caso contrrio, ser .apenas um filho natural e no um filho legtimo. E a qualidade de filho legtimo provm no da natureza, mas da lei ou da conveno, Pois a famlia em geral, e a famlia monogmica em particular, no um grupo natural, como at Plato foi forado a admitir. Existe ainda o facto chamado naturalizao, em virtude do qual um estrangeiro natural artificialmente convertido num cidado natural. Em suma, a lei, e s a lei, que decide quem , e quem no , cidado. A diferen re cidados e no-cidados no natural, mas convencional. Portanto, todos os homens so fe tos cidados, e nenhum nasce cidado. a conveno que arbitrariamente isola um segmento espcie humana dos restantes e os coloca em oposio. Por um instante, poder-se-ia pen sar que a sociedade civil verdadeiramente natural, ou a sociedade civil genuna, c oincidiria com o grupo que rene todos aqueles, e s aqueles, que falam a mesma lngua . Mas as lnguas so reconhecidamente convencionais. Assim, a distino entre gregos e br baros meramente convencional. to arbitrria como a diviso de todos os membros em doi s grupos, em que o primeiro constitudo pelo nmero 10 000 e outro constitudo por tod os os outros nmeros. O mesmo vale para a distino entre homens livres e escravos. Es ta distino baseia-se na conveno de que quem feito prisioneiro na guerra e no resgata o ser reduzido escravatura; a conveno, e no a natureza, que faz os escravos, e por c onseguinte os diferencia dos homens livres. Para concluir, a cidade composta por uma multido, de seres humanos que esto unidos, no pela natureza, mas apenas pela c onveno. Uniram-se ou agruparam-se para cuidarem do seu interesse comum e o defende rem dos outros seres humanos rine no se diferenciam deles por natureza: os estran geiros e os escravos. Da que o que pretende ser o bem comum seja, de facto, o (35) Aristteles, Politica 1252a7-17, 1253b20-23, 1255a8-11 (cf. tica a Nicmaco 1096
a5-6, 1109b35-1110a4, 1110131547, 11791328-29, 1180a4-5, 18-21; Metafisica 1015a 26-33). Plato, Protgoras 337c7-d3; Leis 642c6-d1; Ccero, Repblica, I11.23; De finibs , V.56; Fortescue, De laudibus legam Angliae, cap. XLII (ed. Chrimes, p. 104). o A ORIGEM DA IDEIA DE DIREITO NATURAL 91 a interesse de uma parte que pretende ser um todo, ou de uma parte que forma uma u nidade apenas em virtude dessa pretenso, desse pretexto, dessa conveno. Se a cidade convencional, ento o bem comum convencional, e assim se demonstra que o direito ou a justia convencional (36) . Diz-se que o alcance da adequao desta explicao se anuncia pelo facto de que salva os fenmenos da justia; diz-se que torna inteligveis aquelas simples experincias do bom e do mau que esto na raiz das doutrinas do direito natural. Nessas experincias, ent ende-se a justia como o hbito de se abster de causar danos aos outros ou o hbito de ajudar os outros ou o hbito de subordinar o bem de uma parte (o bem do indivduo o u de uma seco) ao bem. do todo. Entendida deste modo, a justia efectivamente necessr ia para a preservao da cidade. Mas, infelizmente para os defensores da justia, tambm um requisito da preservao de um bando de ladres: o bando no duraria um nico dia se o s seus membros no se abstivessem de causar danos uns aos outros, se no houvesse en treajuda no seu seio, ou se cada um dos membros no subordinasse o seu prprio bem a o bem do bando. Objectar-se- que a justia praticada pelos ladres no justia genuna, ou ento que precisamente a justia que distingue a cidade de um bando de ladres. A aleg ada justia dos ladres est ao servio de uma injustia gritante. Mas no se poder dizer amente o mesmo da cidade? Se a cidade no um todo genuno, ento aquilo a que se chama o bem do todo, ou o justo, por oposio ao injusto ou ao egosmo, , de facto, apenas a e xigncia de um egosmo colectivo; e no h qualquer razo para que o egosmo colectivo seja mais respeitvel do que o egosmo do indivduo. Por outras palavras, dos ladres diz-se que s praticam a justia entre eles, ao passo que da cidade se diz que tambm pratica a justia com quem no pertence cidade ou com as outras cidades. Mas ser verdade? As mximas da poltica externa sero essencialmente diferentes das mximas que inspiram a conduta dos ladres? Podem elas ser diferentes? Para poderem prosperar, as cidades no estaro constrangidas a recorrer fora e fraude ou a tirar de outras cidades o qu e lhes pertence? No devem elas o seu aparecimento (") And-fon, em Diels, Vorsolcratiker (5a ed.), B44 (A7, B2). Plato, Protgoras 337 c7-d3; Repblica 456b12-c3 (ver o contexto); Poltico 262c10-e5; Xenofonte, Hiero, 4. 3-4; Aristteles, Poltica, 1275a1-2, b21-31, 1278a30-35; Ccero, Repblica, 111.16-17 e Leis, 11.5. Cf. o sentido da comparao das sociedades civis com rebanhos (ver Xenofo nte, Educao de Ciro, 1.1.2; cf. Plato, Mil7OS 318a1-3). DIREITO NATURAL E HISTRIA uma parte da superficie da terra que por natureza pertence de alm ell te a todas as outras? (") tenc g Ae igualmente pode, evidentemente, abster-se de causar danos a outras cidades ou resignar-se p obreza, tal como o indivduo pode viver de um modo justo se assirn quiser. Mas q uesto reside em saber se ao agirem dessa forma os homens estariam a viver conform e natureza ou se estaarn apenas a seguir a conveno. A experincia mostra que h poucos 1-1 ndivid-uos e praticamente nenhumas cidades a agir com justia sem se-1 ern forad os a faz-lo. A experincia mostra que a justia por si mesma r inoperante. Isso apenas confirma o que se mostrou anteriormente, a saber, que ajustia no tem qualquer rai z na natureza. O bem conium acabou por se revelar como o interesse egosta de uma colectividade. O interesse egosta da colectividade decorre do interesse egosta dos seus nicos elementos naturais, designadamente dos indivduos. Por natureza, todos procuram o seu prprio bem e nada mais seno o seu prprio bem. contudo, a justia diz-n os para servirmos o bem alheio. Ento, o que a justia nos exige contrrio natureza. O bem natural e substantivo, o bem que no depende dos caprichos e loucuras do home m, parece ser exactarnente o contrrio desse bem fugaz chamado direito ou justia . coind de com o bem prprio para o qual todos so atrados por natureza, ao passo que o direi
to ou a justia s se tornam atractivos pela comPuls ltima e, em ' tima anlise, pela conveno. Mesmo aqueles que afirmam que o direito natural tm de r econhecer que a justia consiste numa espcie de reciprocidade; aos homens pede-se q ue faam aos outros o que eles gostariam que lhes fizessem. Os homens so compelidos a beneficiar os outros porque desejam ser beneficiados por eles: quem deseja se r bem tratado tem de mostrar bondade. A justia parece assim decorrer do egosmo e s er-lhe submissa. Isso equivale a admitir que por natureza cada um procura apenas o seu prprio bem. A prudncia ou a sabedoria consiste em ser bom na procura do bem prprio. A prudncia ou a sabedoria , portanto, incompatvel com a justia propriamente dita. o homem que verdadeiramente justo insensato ou tolo trata-se de um homem ludibriado pela conveno (38) (37) lato, Repblica 335d1142 e 351c7-c113; Xenofonte, Memorabilia, IV.4.12 e 8.11; Aristteles, tica a Nicmpco 1129b11-19, 1130a3-5 e 1134b2-6; Ccero, Deveres, 1.28-29; Repblica 111.11-31., (98) Trasimaco, em Diels, Vorsokratiker (58 ed.), B8; Plato, Repblica 343c3, 6-7, d2, 348c1142, 360d5; Protgoras 333d4-el; Xenofonte, Memorabilia, 11.2.11-12; Aris tiiteles, tica a Nicrnaco 1130a3-5, 1132b33-1133a5, 1134b5-6; Ccero, Repblica, 111.1 6, - 20, 1, 23, 24, 29-30. A ORIGEM DA IDEIA DE DIREITO NATURAL 93 O convencionalismo pretende ser perfeitamente compatvel com a ideia de que a cida de e o direito so teis para o indivduo: o indivduo demasiado fraco para viver, ou pa ra viver bem, sem o auxlio dos outros. Na sociedade civil goza de uma situao melhor do que numa condio de solido e de selvajaria. Porm, no por algo ser til que se demon tra que tambm natural. As muletas so teis para quem perdeu uma perna; mas o uso de muletas conforme natureza? Ou, em termos mais adequados, pode-se dizer que so nat urais ao homem as coisas que existem exclusivamente em resultado de um clculo que determinou que elas so teis? Pode-se dizer que so naturais ao homem as coisas que so exclusivamente desejadas em resultado de um clculo ou as coisas que no so desejad as de modo espontneo nem por si mesmas? No h dvida de que a cidade e o direito so benf icos; mas estaro isentos de grandes inconvenientes? Por conseguinte, inevitvel o c onflito entre o interesse do indivduo e as exigncias da cidade ou do direito. A cidade no pode resolver este confl ito seno pela declarao de que a cidade e o direito gozam de uma dignidade superior do interesse individual ou que so sagrados. Mas esta pretenso, que inerente essncia da cidade e do direito, essencialmente fictcia(39). O cerne do argumento convencionalista , ento, o seguinte: o direito convencional p orque resulta por essncia da cidade (49) e a cidade convencional. Contrariamente nossa primeira impresso, o convencionalismo no afirma que o significado do direito ou da justia intei ramente arbitrrio ou que no existe acordo universal de qualquer espcie a respeito d o direito ou da justia. Pelo contrrio, o convencionalismo pressupe que todos.os homens entendem por justia fundamen talmente a mesma coisa: ser justo significa no causar danos a outrem, ou signific a ajudar os outros ou estar preocupado com o bem comum. O convencionalismo rejei ta o direito natural pelas seguintes razes: 1) a justia est inevitavelmente em tenso com o desejo natural de cada um, que se dirige unicamente para o bem prprio; 2) na medida em que a justia tem um fundamento natural em termos gerais, na medida em que benfica para o indivduo as suas exigncias limitam-se aos membros da cidade, i sto , de uma unidade convencional; aquilo a que se chama direito natural consiste (9?) Plato, Protgoras 322b6, 327c4-el; Ccero, Repblica, 1.39-40, 111.23, 26; De finibus, 11.59; cf. tambm Rousseau, Discours sur l'origine de I 'ingalit (ed. Flamm arion), p. 173. (40) Aristteles, Poltica 1253a37-38. DIREITO NATURAL E HISTORIA ojunto de regras rudimentares de convenincia social que s n 'mon paxa os membros de um grupo particular e que, alm dis-
s-o vr so ;universalmente Vlidas nem mesmo para as relaes no so o do grupo; 3) o que se entende geralmente por direito ou inten no determina o significado exacto de ajudar ou de cau jusdtian 0 ou do bem comu s atravs de uma especificao pstes termos adqUirem um sentido pleno, e toda a especificao que _donal. A diversi dade das concepes de justia confirma mais convee" demonstra o carcter convencional d a justia. do qatinando Plato tenta estabelecer a existncia do direito natural, do a tese con vencionalista premissa de que o bem idntico ao re praietAo invs, vemos que o hedon ismo clssico conduziu desva.,..o mais intransigente de toda a esfera poltica. No ser ia sur1rl eie:dente se a identificao primitiva do bem com o ancestral tivesPr,ido substitudo, antes de mais, pela identificao do bem com o se ler. pois quando a identificao primeva rejeitada em virtude da Prab_o entre natureza e conveno, as coisas proibidas pelo costudisuan"Cestral ou pe la lei divina apresentam-se de modo enftico como gleturais e, por isso, intrinsec amente boas. Essas coisas so proibidas .1113 ae,dloascpsor coenveno mostra que no so desejadas por conveno, ancestral porqu esejadas; e o facto de serem proibidas por natureza. Ora o que induz o homem a se desviar do caminho 111,streito do co stume ancestral ou da lei divina parece ser o desejo de roer e a averso dor. Assim, o bem natural parece ser o prazer. PA orientao segundo o prazer torna-se no primeiro substituto da o segundo o ancestral (41) . ienta ti A fornia mais desenvolvida do hedonismo clssico o epicuris-' _0. Foi seguramen te esta forma de convencionalismo que exerceu maior influncia ao longo dos sculos. O epicurismo inequivocamente materialista. E foi no. materialismo que Plato enco ntrou a raiz - do convencidlialismo (42) . O argumento epicurista o seguinte: Pa ra el' _contra o que bom por natureza, temos de ver quais so as coisas cuja bondade garan tida pela natureza, ou cuja bondade se sente independentemente das opinies, e, po r isso, em particular, indedentemente da conveno. O que bom por natureza mostra-se pen (41) Autifon, em Diels, Vorsokratiker (54 ed.), B44, A5; Tucdides, V.105 (A7, B2) . piata -o Repblica 364a2-4 e 538c6-539a4; Leis 662d, 875b1-c3, 886a8-b2, 888a3; Prot-g- 352d6 ss.; Clitofon 407d4-6; Carta VIII 354e5-355a1 (cf. tambm Grgias 49 5d1-5); kerasnofonte, Memorabilia, 11.1; Ccero, Leis, 1.36 e 38-39. '- (42) Leis 889b-890 a. A ORIGEM DA IDEIA DE DIREITO NATURAL n que procuramos a partir do momento em que nascemos, antes de qualquer raciocnio, clculo, disciplina, restrio ou compulso. Neste sentido, o bem apenas o prazer. O pr azer o nico bem que imediatamente sentido ou percepcionado pelos sentidos como ta l. Portanto, o prazer primrio o prazer do corpo, e isso quer dizer, claro, o praz er do prprio corpo; cada um procura por natureza o seu prprio bem; toda a preocupao com o bem alheio secundria. A opinio, que inclui raciocnios certos e falsos, conduz os homens a trs tipos de objectos de escolha: o maior prazer, o til e o nobre. Qu anto ao primeiro, como notamos que h vrios tipos de prazer que esto associados dor, somos induzidos a distinguir entre prazeres mais ou menos preferveis. Assim, rep aramos na diferena entre os prazeres naturais que so necessrios e os que no so necessr ios. Alm disso, apercebemo-nos de que h prazeres que no esto associados a qualquer d or e outros que esto. ,Por fim, observamos que o prazer tem um trmino, que h um pra zer completo, e que acaba por se revelar como o fim para o qual tendemos por nat ureza e que s acessvel atravs da filosofia. Quanto ao til, no em si mesmo prazenteir , mas conducente ao prazer, ao prazer genuno. Por outro lado, o nobre no nem genui namente prazenteirp, nem conduz ao prazer genuno. O nobre aquilo que louvado; que prazenteiro apenas porque louvado ou porque considerado honroso; o nobre bom ap enas porque as pessoas chamam-lhe bom ou dizem que bom; bom apenas por conveno. O
nobre reflecte de urna maneira distorcida o bem substancial em vista do qual os homens estabeleceram a conveno fundamental ou o pacto social. A virtude pertence c lasse das coisas teis. , com efeito, desejvel, mas no desejvel por si mesma. S se tor a desejvel aps um clculo, e contm' um elemento de compulso e, portanto, de dor. Contu do, gera prazer (43). Porm, h uma diferena crucial entre a justia e as outras virtud es. A prudncia, a temperana e a coragem geram prazer pelas suas consequncias natura is, ao passo que a justia s produz o prazer que se espera dela uma sensao de segurana
(43) Epicuro, Ratae sententiae, 7; Digenes Larcio, X, 137; Ccero, De finibus, 1.30, 32, 33, 35, 37, 38, 42, 45, 54, 55, 61, 63; 11.48, 49, 107, 115; 111.3; IV.51; Deveres, 111.116117; Tusc. Disp., V.73; Acad. Pr., 11.140; Repblica, 111.26. Cf.a formulao do principio epicurista por Philip Melanchthon (Philosophiae mora/is ept ome, Parte I: Corpus Reformatorum , vol. XVI, col. 32): O fim aquela aco para a qua l a natureza se move de forma livre, e no por obrigao. Ora os homens so livremente a rrastados para o prazer pelo maior dos impulsos; virtude s a custo podem ser obri gados. Logo o fim do homem o prazer, no a virtude.. Cf. tambm Hobbes, De cive, 1.2. DIREITO NATURAL E HISTORIA .r de uma base convencional. As outras virtudes exercem um etIsalutar independen temente de se as outras pessoas sabem ou 0. to e 4lie somos prudentes, temperantes ou corajosos. Mas -a justia bons efeitos para o. indivduo se ele for considerado justo frob ge- outros. Os restantes vcios so mal es independentemente de e/5 detectados ou detectveis pelos outros, ou no. Mas a inj ustia fefeill mal por causa do perigo dificilmente evitvel da deteco. b-o entre ajust ia e o que por natureza bom aparece de forma te0P ,ssiina quando se compara a justia com a amizade. Ambas tm a 1010llge In no clculo, mas a amizade acaba por se tornar intrnseca-te P 1,0 razenteira ou desejvel por si mesma. De qualquer forma, a n fpe" ode incompatvel com a compulso. Mas a justia e a associao 005 ocupa da justia a cidade dependem em absoluto da como. se 4tle -o. E esta o oposto do prazer (44). r1,11% tnalor documento do convencionalismo filosfico, e, na reali0 nico documento 'de que dispomos que simultaneamente Pci,,e1.;tico e englobante, o poema Da Natureza das Coisas da autoria 0,I)t-oicurista Lucrcio. Segundo Lucrci o, no princpio os homens (10 %In nas florestas, sem laos sociais de qualquer espcie ou sem e 1tier restrio convencional. A sua fraqueza e o medo dos pee's dos aniniais s elvagens que os ameaavam levou-os a unirem-/4g- ra se defenderem ou pelo prazer qu e decorre da segurana. oe r' (44) Epicuro, Ratae sententiae, 34; Gnomo logium Vaticanum, 23; Ccero, De finibus , 41), 65-70;11.28 e 82; Deveres, 111.118. Nas Ratae sententiae, 31, Epicuro diz : O 01.kto Lou a justia] natural um syinbolon do beneficio que decorre de os homen s direi alisarem danos uns aos outros e de no os sofrerem.. Como se mostra em Rat ae cntiae, 32 ss., isso no significa que existe um direito natural no sentido est rito do se ,ate o, isto , um direito independente de, ou anterior a, todas as conv enes ou pactef";, symboion uma espcie de contrato. Epicuro sugere que, apesar da in finita varie-de coisas justas, por toda a parte a justia ou o direito se destina principalmente to5.3:; daL"" nPritl'uma nica funo: o direito entendido luz da sua funo universal ou a cipa1 , num certo sentido, o direito da natureza. Ope-se s explicaes fabulosupersticiosas da justia que so normalmente aceites nas cidades. O direito de sas e ia o principio do direito que reconhecido pela doutrina convencionalista. Otti,if a-se assim no equivalente da natureza do direito (Ratae sententiae, 37), em opo5, falsas opinies acerca do direito. A expresso a natureza do direito utilizaSiPor Gl con no seu resumo da doutrina convencionalista na Repblica (359b4-5): do. PuiTeia do direito consiste numa certa conveno contrria natureza. Gassendi, rrioso restaurador do epicurismo, tinha um incentivo mais forte do que os antigo
s ,.istas para afirmar a existncia do direito natural. Alm disso, Hobbes ensinara. c191ccorno que o epicurismo podia ser combinado com a afirmao do direito natural . Gassendi no aproveita esta oportunidade indita. Ver a sua parfrase de Ratas flterit oe 31 (Ananadversiones [Lyon, 1649], pp. 17484749).. e A ORIGEM DA IDEIA DE DIREITO NATURAL Depois de constiturem uma sociedade, a vida selvagem original deu lugar aos hbitos da bondade e da fidelidade. Esta primeira sociedade, a sociedade que antecedeu em muito a fundao das cidades, foi a melhor e mais feliz de todas as sociedades. O direito seria natural se a vida da primeira sociedade fosse a vida conforme nat ureza. Mas a vida conforme natureza a vida do filsofo. E na primeira sociedade a filosofia impossvel. O lugar natural da filosofia a cidade, e a destruio, ou pelo m enos o enfraquecimento, do modo de vida caracterstico da primeira sociedade prprio da vida na cidade. A felicidade do filsofo, a nica felicidade verdadeira, situa-s e numa poca inteiramente diferente da que prpria felicidade da sociedade. Existe, ento, uma desproporo entre os requisitos da filosofia ou da vida conforme natureza e os requisitos da sociedade enquanto sociedade. devido a esta desproporo necessria que o direito no pode ser natural. A desproporo necessria pela seguinte razo: A feli cidade da primeira sociedade livre d coero devia-se em ltima anlise ao domnio de uma i luso salutar. Os membros da primeira sociedade viviam num mundo finito ou num hor izonte fechado; confiavam na eternidade do universo visvel ou na proteco que lhes e ra dada pelas muralhas do mundo. Era esta confiana que os tornava inocentes, amisto sos e dispostos a se dedicarem ao bem alheio; pois o medo que converte os homens em selvagens. A confiana na firmeza das muralhas do mundo ainda no fora abalada por especula6es acerca das catstrofes naturais. Assim que esta confiana foi abalada, o s homens perderam a sua inocncia e se tornaram selvagens; e assim surgiu a necess idade de uma: sociedade coerciva. Uma vez abalada a confiana, os homens no tiveram outra alternativa seno procurar o apoio e o consolo da crena em deuses activos; o livre-arbtrio dos deuses devia garantir a firmeza das muralhas do mundo, que no era tida por intrnseca ou natural; a bondade dos deuses devia substituir a ausncia de firmeza intrnseca das muralhas do mundo. A crena em deuses activos nasce, portanto, o mundo do sol e da lua e do receio pelo nosso mundo e da ligao que temos com ele das estrelas, e a terra que todas as Primaveras se cobre de erva fresca, o mund o da vida por contraposio aos elementos inanimados mas eternos (os tomos e o vazio) a partir dos quais o nosso mundo se constituiu e aos quais regressar. Porm, por M ais reconfortante que a crena em deuses activos.pudesse ser, gerou males inominvei s. O nico remdio reside em abater as muralhas do mundo em que a religio se detm e na r econciliao com o facto DIREITO NATURAL E HISTORIA de que vivemos em todos aspectos numa cidade sem muralhas, num universo infinito em que nada que o homem possa amar eterno. O nico remdio reside no filosofar, a ni ca fonte do prazer mais slido. Todavia, a filosofia repugna o povo porque a filos ofia requer a emancipao da ligao ao nosso mundo. Por outro lado, o povo no pode regres ar simplicidade feliz da primeira sociedade. Tem, portanto, de prosseguir a vida totalmente anti-natural que se caracteriza pela cooperao da sociedade coerciva co m a religio. A vida boa, a vida conforme natureza, a vida recolhida do filsofo que vive nas franjas da sociedade civil. A vida dedicada sociedade civil e ao servio dos outros no 'a vida conforme natureza (45). Impe-se uma distino entre o convencionalismo filosfico e o convencionalismo vulgar. Este ltimo apresentado na sua forma mais clara n o discurso injusto que Plato confiou a Trasmaco e a Glucon e Adimanto. Segundo esse d iscurso, o bem maior, ou a coisa mais prazenteira, ter mais do que os outros ou mandar nos outros. Mas a cidade e o direito impem necessariamente algumas restries ao desejo do maior prazer; so incompatveis com o maior prazer ou com o que o bem m aior por natureza; so contrrios natureza; tm a sua origem na conveno. Hobbes diria que a cidade e o direito tm a sua origem no desejo pela vida, e que esse desejo pelo menos to natural como o desejo de mandar nos outros. A esta objeco o representante do convencionalismo vulgar responderia que a vida nua uma misria, e que uma vida miservel no aquela que a nossa natureza procura. A c
idade e o direito so contrrios natureza porque sacrificam o bem maior em beneficio do bem menor. verdade que o desejo de su perioridade s pode crescer na cidade. Mas isso significa apenas que a vida confor me natureza consiste em tirar habilmente partido das oportunidades criadas pela conveno ou em (45) Q.Liando se l o poema de Lucrcio, preciso ter sempre presente o facto de que o que intriga o leitor em primeiro lugar, e essa a inteno, o doce (ou o que reconfo tante para o homem no filosfico), e no .o amargo ou o triste. O louvor a Vnus que abre o poema e a descrio sombria da peste com que o mesmo termina so apenas os exemplos mais bvios, mas nem por isso os mais importantes, do principio enunciado em 1.935 ss. e W.10 ss. Para compreender a seco sobre a sociedade humana (V.925-1456), pre ciso tambm ter em considerao o plano desta seco particular: (a) a vida pr-poltica (925 1027), (b) as invenes desse perodo (1028-1104), (c) a sociedde poltica (1105-60), (d) as invenes deste ltimo perodo (1161-1456). CE a referncia ao fogo em 1011 com 1091 s s. Cf. deste ponto de vista 977-981 com 1211 ss.; cf. tambm 1156 com 1161 e 12221225 (ver 11.620-623, e Ccero, De finibus, 1.51). Ver tambm 1.72-74, 943-945; 111. 1647, 59-86; V.91-109, 114-121, 1392- .1435; VI.1-6. 596-607. A ORIGEM DA IDEIA DE DIREITO NATURAL aproveitar a confiana cndida que a maioria deposita na conveno. Tal aproveitamento r equer que no se esteja inibido por um respeito sincero pela cidade e pelo direito . A vida conforme natureza requer uma emancipao interior em relao ao poder da conveno de tal modo perfeita que assuma a aparncia de um comportamento convencional. A ap arncia de justia combinada com a injustia efectiva conduziria ao auge da felicidade . Com efeito, preciso ser-se hbil para conseguir esconder a injustia enquanto esta est a ser praticada em larga escala; mas isso apenas significa que a vida confor me natureza apangio de uma pequena minoria, da elite natural, daqueles que so verd adeiros homens e no nasceram para ser escravos. Para ser mais rigoroso, o auge da felicidade a vida do tirano, do homem que conseguiu cometer o maior de todos os crimes ao subordinar a cidade como um todo ao seu bem particular, e que se pode dar ao luxo de abandonar a aparncia de justia ou de legalidade (46). O convencionalismo vulgar a verso vulgarizada do convencionalismo filosfico. Ambos esto de acordo quanto ao seguinte: por natureza cada um procura apenas o seu prpr io bem; conforme natureza que no se d importncia ao bem dos outros; o cuidado com o s outros resulta apenas da conveno. Porm, o convencionalismo filosfico recusa-se a r econhecer que no dar importncia aos outros equivale a desejar ter mais do que os o utros ou a desejar ser superior a eles. O convencionalismo filosfico, longe de co nsiderar o desejo de superioridade como natural, v nele um produto da vaidade e d a opinio. Os filsofos, que, por serem filsofos, saborearam prazeres mais slidos do q ue os que decorrem da riqueza, do poder e de coisas semelhantes, no poderiam iden tificar a vida conforme natureza com a vida do tirano. O convencionalismo vulgar deve a sua origem a uma corrupo do convencionalismo filosfico. Faz sentido apontar os sofistas como a origem dessa corrupo. Pode-se dizer que os sofistas publicaram e, por isso, degradaram o ensinamento convencionalista dos filsofos pr-socrticos. Sofista um termo que tem muitas acepes. Entre outras coisas, pode designar um filsofo , ou um filsofo que defende opinies impopulares, ou um homem que exibe o seu mau gosto ao pedir dinheiro em troca do ensino de assuntos nobres. Pelo menos desde Plato que sofista normalmente usado po r oposio a filso.fo e, por conseguinte, num sentido pejorativo. Historicamente, os (46) Plato, Repblica 344a-c, 348d, 358e3-362c, 364a1-4, 365c6-d2; Leis 890a7-9. DIREITO NATURAL E HISTORIA sofistas so gregos que so apresentados por Plato e por outros filsofos como sofistas no sentido rigoroso do termo, isto , como no-filsofos de um certo tipo. No sentido rigoroso do termo, o sofista um professor de uma falsa sabedoria. Esta no se conf unde com uma doutrina errnea. Se assim fosse, Plato, aos olhos de Aristteles, teria sido um sofista, e vice-versa. Um filsofo que est errado no tem absolutamente nada em comum com um sofista. Nada impede que um sofista ensine por vezes a verdade ou que talvez at o faa habitualmente. O que caracteriza o sofista a sua desconsiderao pela ver dade, isto , pela verdade sobre o todo. O sofista, em contraposio ao filsofo, no se m ove pelo ferro da conscinda da diferena fundamental entre a convico, Ou a crena, e a i
nteleco genuna. Mas isso demasiado geral, pois a desconsiderao pela verdade sobre o t odo no exclusiva do sofista. Ele um homem a quem a verdade deixa indiferente, ou que no ama a sabedoria, embora saiba melhor do que a maioria dos restantes homens que a sabedoria ou a cincia a mais elevada excelncia humana. Ao estar ciente do c arcter nico da sabedoria, o sofista sabe que a honra que decorre da sabedoria a ma is elevada que se pode ter. Interessa-se pela sabedoria, no por ela mesma, no porq ue detesta a mentira na alma mais do que qualquer outra coisa, mas por causa da honra ou do prestgio que acompanha a sabedoria. Vive ou age segundo o princpio de que o prestgio ou a superioridade sobre os outros, ou ter mais do que eles, o bem maior. Age segundo o princpio do convencionalismo vulgar. Com o o sofista aceita o ensinamento do convencionalismo filosfico, e , por isso, mais articulado do que a maioria que age segundo o mesmo princpio que ele, pode ser v isto como o mais adequado representante do convencionalismo vulgar. Contudo, col oca-se uma dificuldade. O bem maior do sofista o prestgio decorrente da sabedoria . Para alcanar o seu bem maior, ele tem de mostrar sabedoria, o que vale por dize r que tem de ensinar que a vida conforme natureza ou a vida do sbio consiste na c ombinao da injustia efectiva com a aparncia da justia. Porm, admitir que se , de facto injusto incompatvel com a conservao bem :sucedida da aparncia de justia. incompatv com a sabeoda; e.portanto inviabiliza a honra decorrente da sabedoria. Por oriegi iinte, mais tarde ou mais cedo, o sofista forado a esconder a sWli'tldria ou a incli nar-se perante opinies que na sua perspectiva,ap..puramente convencionais. Tem de se resignar a retirar o seu )1 e`tgio da propagao de opinies mais ou menos respeitvei s. A ORIGEM DA IDEIA DE DIREITO NATURAL por esta razo que no se pode falar do ensinamento dos sofistas, isto , do seu ensin amento explcito. Plato atribui ao mais famoso de todos os sofistas, Protgoras, um mito que esboa a t ese convencionalista. O mito do Protgoras baseia-se na distino entre natureza, arte e conveno. A natureza representada pela aco subterrnea de certos deuses e pela aco Epimeteu. Epimeteu, o ser em quem o pensamento vem depois da produo, representa a natureza no sentido em que o materialismo a entende, ou seja, o pensamento poste rior aos corpos sem pensamento e aos seus movimentos impensados. A aco subterrnea d os deuses no iluminada, desprovida de inteligncia, e tem portanto fundamentalmente o mesmo significado que a obra de Epimeteu. A arte representada por Prometeu, p elo roubo de Prometeu, pela sua rebelio contra a vontade dos deuses nas alturas. A conveno representada pela ddiva da justia que Zeus faz a todos: essa ddiva apena rna efectiva atravs da actividade punitiva da sociedade civil, e os seus requisit os so perfeitamente cumpridos pela simples aparncia de justia(9 . Concluo este captulo com uma breve observao acerca do direito natural pr-socrtico. No falarei sobre as doutrinas do direito natural que foram plenamente desenvolvidas por Scrates e pelos seus discpulos. Limitar-me-ei a fazer um esboo de uma dessas d outrinas que foi rejeitada pelos clssicos: o direito natural igualitrio. A dvida quanto ao carcter natural tanto da escravatura, como da diviso do gnero huma no em grupos polticos ou tnicos distintos, encontra a sua expresso mais simples na tese de que os homens so por natureza livres e iguais. A liberdade e a igualdade naturais so inseparveis uma da outra. Se todos os homens so por natureza livres, ni ngum . por natureza superior aos demais, e, por conse'nte, todos os homens so por natureza iguais entre si. Se todos os homens so por n atureza livres e iguais, ento contrrio natureza tratar algum como se no fosse livre nem igual; a preservao ou a (47) Protgoras 322b6-8, 323b2-e2, 324a3-c5, 325a6-d7, 327d1-2. Parece haver uma c ontradio entre o mito do Protgoras e o Teeteto, onde a tese convencionalista aprese ntada como uma verso melhorada da tese de Protgoras, que nas suas rejeies das concepes habitualmente defendidas vai muito alm do convencionalismo (167c2-7, 172a1-b6, 1 77c6-d6). Mas, como se percebe pelo contexto, o que Protgoras diz no mito do Protg oras igualmente uma verso melhorada da sua verdadeira tese. No Protgoras o melhora mento efectuado pelo prprio Protgoras sob a presso das circunstncias (a presena de um provvel futuro aluno), ao passo que no Teeteto o melhoramento efectuado em seu n ome por Scrates. DIREITO NATURAL E HISTORIA
restaurao da liberdade ou da igualdade natural uma exigncia do ireito natural. Assim, a cidade parece ser contrria ao direito natural porque se funda na desigualdade ou na subordinao e restrio da liberdade. A negao efectiva da lib erdade e da igualdade natural pela cidade tem de ser atribuda violncia e, em ltima anlise, ao erro na opinio ou corrupo da natureza. Isso quer dizer que se presume que , no princpio, quando a natureza ainda no fora corrompida pela opinio, a liberdade e a igualdade natural eram plenamente efectivas. A doutrina da liberdade e da ig ualdade natural forja, assim, uma aliana com a doutrina de uma idade de ouro. Porm , pode-se assumir que a inocncia originria no est irreparavelmente perdida e que, ap esar do carcter natural da liberdade e da igualdade, a sociedade civil indispensve l. Nesse caso, preciso procurar um modo de harmonizar em alguma medida a socieda de civil com a liberdade e igualdade naturais. A nica via possvel admitir que a so ciedade civil, na medida em que ,estiver de acordo com o direito natural, se bas eia no consentimento ou, mais rigorosamente, no contrato entre indivduos livres e iguais. duvidoso que as doutrinas da liberdade e igualdade naturais, assim como as doutr inas do contrato social, tivessem originariamente urna inteno poltica em vez de ser em teses tericas que punham em causa o carcter questionvel da sociedade civil enqua nto tal. Enquanto a natureza fosse vista como o padro, a doutrina contratualista, quer se baseasse na premissa igualitria, quer na premissa desigualitria, implicav a necessariamente uma depreciao da sociedade civil porque implicava que a sociedad e civil no era natural, mas convencional(48). preciso ter isso em mente para comp reender o carcter especfico e o tremendo efeito poltico das doutrinas contratualist as dos sculos XVII e XVIII. Porquanto na era moderna, a ideia de que a natureza o padro foi abandonada, e com ela o estigma que pesava sobre tudo o que convencion al ou contratual. Quanto aos tempos que antecederam a era moderna, pode-se assum ir com confiana que todas as doutrinas contratualistas implicavam a depreciao de tu do o que devia a sua origem a um contrato. Numa passagem do Grito de Plato, Scrates apresentado como -algum que deriva o seu d ever de obedincia cidade de Atenas e s sifasleis de um contrato tcito. Para compree nder esse passo, preciso Aristteles, Poltica 1280b10-13; Xenofonte, Memorabilia, W.4.13-14 (Cf. Resp. ed:-! ..5); A ORIGEM DA IDEIA DE DIREITO NATURAL 103 compar-lo com um passo paralelo na Repblica. Na Repblica o dever e obedincia do filso fo para com a cidade no decorre de contrato algum. A razo evidente. A cidade da Re pblica a melhor cidade, a cidade conforme natureza. Mas a cidade de Atenas, uma d emocracia, era do ponto de vista de Plato uma cidade imperfeitssima(49) S a lealdad e para com uma comunidade inferior pode decorrer de urn contrato, porque um home m honesto cumpre as suas promessas com todos, independentemente do valor daquele a quem se fez a promessa. (49) grito 50c4-52e5 (cf. 52e5-6); Repblica 519e8-520el. o O Direito Natural Clssico SCRATES, diz-se, foi o primeiro a fazer a filosofia descer dos cus e a for-la a inve stigar a vida e os usos, as coisas boas e ms. Por outras palavras, diz-se que Scra tes foi o fundador da filosofia poltica (1). Na medida em que esta afirmao for verd adeira, Scrates deu origem a toda a tradio do direito natural. Podezse -chamar dout rina clssica do direito natural doutrina particular do direito natural que teve a sua origem em Scrates e foi desenvolvida por Plato, por Aristteles, pelos esticos e pelos pensadores cristos (em particular por Toms de Aquino). E necessrio distingui -la da doutrina moderna do direito natural que apareceu no sculo XVII. A compreenso plena da doutrina clssica do direito natural exigiria a compreenso ple na da mudana no pensamento que foi efectuada por Scrates. Tal compreenso no est ao no sso alcance. A partir de uma leitura superficial dos textos relevantes que prime ira vista parecem fornecer a informao mais autntica, o leitor moderno chega quase i nevitavelmente seguinte concluso: Scrates afastou-se do estudo da natureza e limit ou as suas investigaes s coisas humanas. Por no estar interessado na natureza, recus ou-se a olhar para as coisas humanas luz da distino subversiva entre natureza e le
i (conveno). Preferiu identificar a lei com a natureza. Pelo (1) Ccero, Tzisc. Disp., V.10; Hobbes, De eive, prefcio, in princ. Sobre as origen s alegadamente pitagricas da filosofia poltica, ver Plato, Repblica 600a9-b5, assim como Ccero, nac. Disp., V.8-10 e Repblica, 1.16. DIREITO NATURAL E HISTRIA os identificou o justo com o legal(2). Restaurou assim a moral oellstral, embora o tivesse feito no plano da reflexo. Esta concluso 00e,tuide o ambguo ponto de partida de Scrates ou o resultado coi"I'guo das suas investigaes com a substncia do seu pensamento. i quanto referimos apenas que a distino entre natureza e lei yo'" veno) mantm toda a sua importncia para Scrates e para o (c11ito natural clssico e geral. Os clssicos pressupem a validade diSesa distino quando exigem que a lei deve acompanhar a ordem Delecida pela natureza, ou quando falam da cooperao entre a es-vreza e a lei. negao do direito natural e da moral natural, os 0,tsicos contrapem a distino entre o dire ito natural e o direito civo, assim como a distino entre a moral natural e a moral (me-r51,....11 te) humana. Ao distinguirem a virtude genuna da virtude po010, ou vulgar, esto a preservar aquela distino. As instituies que JP-cacterizam o melh or regime de Plato so conformes natureza, J.o contrrias aos hbitos ou ao costume, o que as institui-Co opostas, as que no seguimento do costume esto em vigor um c) 0tico por toda a parte, so contrrias natureza. Aristteles no P1,iseguia explicar o q e 6 o dinheiro seno recorrendo distino c tre riqueza natural e riqueza convencional. No conseguia explicar que a escravatura seno atravs da distino entre escravatura :t l e escravatura legal (a). 11- vejamos, ento, o que est implcito na viragem de Scrates para estudo das coisas h umanas. O seu estudo das coisas humanas con em fazer a pergunta O que ? relativamente a essas coisas 515 or exemplo, O que a cor agem? ou O que a cidade?. Mas --ro se limitava a fazer a pergunta O que ? relativamen e a coi11,9' especificamente humanas, como as diferentes virtudes. Scrates n. forado a qu estionar o que so as coisas humanas enquanto tais, questionar o que a ratio rerum humanarum(4). Mas imposapreerider o carcter especfico das coisas humanas enquanto sem apreender a diferena essencial entre as coisas humanas e as tais (2) Plato, Apologia de Scrates 19a8-d7; Xenofonte, Memorabilia, 1.1.11-16; 14' 4.1 2 ss., 7, 8.4; Aristteles, Metafsica 987b1-2; De part. anim. 642a28-30; acero, can'blica, 1.15-16. lj (3) Plato, Repblica 456b12-c2, 452a7, e6-7, 484c7-d3, 500d4-8, 501b1-c2; Leis ,-94,34-795d5; Xenofonte, Oeconomicus, 7.16 e Hiero 3.9; Aristteles, tica a Nicmaco 5a29-31 e 1134b18-1135a5; Poltica 1255a1-b15, 1257b10 ss. 1' (4) Comparar acero, Repblica, 11.52, onde se diz que a compreenso da ratio civilium, em contraposio elaborao de um modelo para a aco poltica, eri . , onsutut o propsito da Repblica de Plato. O DIREITO NATURAL CLSSICO coisas que no so humanas, isto , as coisas divinas ou naturais. Por sua vez, isso p ressupe algum entendimento das coisas divinas ou naturais enquanto tais. O estudo socrtico das coisas humanas baseava-se, ento, no estudo englobante de todas as coi sas. Como todos os outros filsofos, Scrates identificava a sabedoria, ou o objectiv o da filosofia, com a cincia de todos os seres: nunca deixou de considerar o que c ada um dos seres (5). Contrariamente s aparncias, a viragem socrtica para o estudo das coisas humanas apo iava-se, no na desconsiderao das coisas divinas ou naturais, mas numa nova abordage m compreenso de todas as coisas. Na realidade, a natureza dessa abordagem permiti a, e favorecia, o estudo das coisas humanas enquanto tais, isto , das coisas huma nas na medida em que no se reduzem s coisas divinas ou naturais. Scrates afastou-se dos seus predecessores ao identificar a cincia do todo, ou de tudo o que , com a compreenso do que cada um dos seres. Porquanto ser significa ser uma certa coisa e, isso, ser diferente das coisas que so outra coisa; portanto, ser significa ser uma e. Da que o todo no possa ser no mesmo sentido em que tudo o que uma certa coisa tem de estar para alm do ser. E, no entanto, o todo a totalidade das partes. Compre
ender o todo significa, ento, compreender todas as partes do todo ou a articulao do todo. Se ser ser uma certa coisa, o ser de uma coisa, ou a sua natureza, principalm ente o seu quid, a sua figura ou forma ou carcter, por contraposio em particular qu de essa coisa brota. A coisa em si mesma, a coisa realizada, no pode ser compreen dida como um produto de um processo que a ela conduz, mas, pelo contrrio, o proce sso no pode ser compreendido seno luz da coisa realizada ou do fim do proceso. O qu id , enquanto tal, o carcter de uma classe ou de uma famlia de coisas de coisas que p or natureza esto relacionadas umas com as outras ou que formam um grupo natural. O todo tem uma articulao natural. Portanto, compreender o todo j no significa primor dialmente descobrir as razes donde cresceu o todo na sua integridade, o todo arti culado,- o todo que consiste em diferentes grupos de coisas, o todo inteligvel, o cosmos, nem significa descobrir a causa que transformou o caos num cosmos, nem perceber a unidade que se esconde por detrs da diversidade das coisas ou das aparn cias, mas significa compreender a unidade que se revela na articula(5) Xenofonte, Memorabilia, 1.1.16; I.V.6.1, 7; 7.3-5. DIREITO NATURAL E HISTORIA ,0 manifesta do todo na sua integridade. Esta concepo fornece Q'f tindamento para a d istino entre as vrias cincias: a distino O tre as vrias cincias corresponde articul ral do todo, ,e11,ta. concepo permite, e favorece em particular, o estudo das cois as Pit"' /panas enquanto tais. Scrates parece ter considerado a mudana que introduziu como 0,1 retorno sobriedade e moderao, depois da loucura l'1,105 seus predecessores. Em contraposio aos seus pre sores, 'bcrates no separou a sabedoria da moderao. Na linguagem dos '-'ossos dias, pode-se descrever a mudana em causa como um retorno 110 <<senso comum ou ao mundo d o senso comum. O que a perta O que ? visa o eidos de uma coisa, a figura ou a forma ou o %rcter ou a ideia de u a coisa. No acidental que o termo eidos cisoifi.que em primeiro lugar o que visvel para todos sem grande foro, ou o que se poderia chamar a superfcie das coisas. Scrates tinha por ponto de p artida, no o que primeiro em si mesmo ou or natureza, mas o que primeiro para ns, o que chega primeiro Pos nossos olhos, os fenmenos. Mas o ser das coisas, o seu q uid, che;, primeiro aos nossos olhos, no no que vemos nelas, mas no que se 5, sobr e elas ou nas opinies acerca delas. Assim, para compreender as naturezas das cois as, Scrates partia das opinies acerca das suas orurezas. Pois toda a opinio se base ia numa tomada de conscincia, fitona percepo de qualquer coisa atravs do olho da men te. Scrates deixava implcito que desconsiderar as opinies acerca das naturezas das coisas equivalia a renunciar ao mais importante acesso realidade, ou aos mais im portantes vestgios da verdade que esto ao nosso alcance. Deixava implcito que a dvida universal relativamente a todas as opinies conduzir-nos-ia, no ao corao da verdade, mas a to vazio. Por conseguinte, a filosofia consiste em partir do mundo da Opin io rumo ao conhecimento ou verdade, num movimento de ascenso do qual se pode dizer que orientado pelas opinies. sobretudo esta ascenso que Scrates tinha em mente quan do cha filava dialctica filosofia. A dialctica a arte da conversao ou do debate ami . O debate amigvel que conduz verdade torna-se possvel ou necessrio pelo facto de a s opinies acerca do que as coisas so, ou as opinies acerca do que alguns grupos mui to importantes de coisas so, serem contraditrias. Ao se reconhecer as contradies, -se forado a ir alm das opinies rumo a uma concepo coerente da natureza das coisas em qu esto. Essa concepo coerente - torna visvel a verdade relativa das opinies contraditria s; a concepO DIREITO NATURAL CLSSICO o coerente acaba por se revelar como a concepo englobante ou total. Assim, as opinies so vistas como fragmentos da verdade, fragmentos manchados da verdade pura. Por outras palavras, as opinies acabam por ser solicitadas pela verdade auto-subsis?ente, e a ascenso verdade acaba por ser orie ntada pela verdade auto-subsistente que cada homem nunca deixa de pressentir. Assim sendo, torna-se possvel compreender por que que a diversidade de opinies sob re o direito ou sobre a justia no s compatvel com a existncia do direito natural ou com a ideia de justia, como uma das suas condies. Poder-se-ia dizer que a diversidade
de concepes de justia refuta a existncia do direito natural, se esta tivesse como condio o consentimento efectivo de todos os homens relativamente aos princpios do direito. Mas aprendemos com Scrates, ou com Plato, que o consentimento no tem de ser seno potencial. como se Plato dissesse: Tome-se qualquer opinio sobre o direito, por mais bizarra ou <primitiva que seja; antes mesmo de a investigar, podemos estar certos de que ela aponta para alm de si mesma, que as pessoas que a acarinham contradizem-na de algum modo, e que, desde que haja um filsofo entre elas, sero assim foradas a super-la na direco da verdadeira concepo de tia. Tentemos exprimir esta ideia em termos mais gerais. Todo o conhecimento, por mai s limitado ou cientfico que possa ser, pressupe um horizonte, uma viso englobante no seio da qual o conhecimento possvel. Toda a compreenso pressupe urna.apreenso fundamental do todo: antes de qualquer percepo de coisas particulares, a alma humana teve de ter uma viso das ideias, uma viso do todo articulado. Por muito diferentes que sejam as vises englobantes que animam as diversas sociedades, so todas vises do mesmo objecto do todo. Portanto, no so apenas diferentes umas das outras, como se contradizem entre si. Este facto fora o homem a perceber que cada uma destas vises, considerada em si mesma, no passa de uma opinio acerca do todo ou uma articulao desadequada da apreenso fundamental do todo, apontando assim para a sua superao, para uma articulao adequada. No h garantia de que a procura da articulao adequada nos levar mais longe do que compreenso das alternativas fundamentais, ou que a filosofia conseguir legitimamente passar da fase da discusso ou da disputa e chegar fase da deciso. Contudo, o carcter interminvel da procura da articulao adequad a do todo no autoriza que se limite a filosofia compreenso apenas de uma parte, po r mais importante que DIREITO NATURAL E HISTRIA ela possa ser. Porquanto o sentido de uma parte depende do sentido d. todo. Em p articular, a interpretao de uma parte que se baseie enas em experincias fundamentai s, sem recorrer a pressupostos otticos sobre o todo, no , em ltima anlise, superior a outras interpretaes dessa mesma parte que se apoiam de modo franco em tois pressupostos tericos. O convencionalismo desconsidera a compreenso incorporada na opinio e apela directa mente para a natureza. Por essa razo, para oo mencionar outras, Scrates e os seus s ucessores foram forados a demonstrar a existncia do direito natural nos termos escolhidos pelo convencionalismo. Tiveram de demonstrar a existncia do direito natarai apelando aos factos por contraposio aos discursos (6) corno se ir ver, este apelo aparentemente mais directo ao ser apenas confirma a tese socrtica fundamental. . A premissa bsica do convencionalismo parecia ser a identificao do bem com o prazer. Assim, um aspecto essencial do ensinaincuto do direito natural clssico consiste na crtica do hedonismo. segundo a tese dos clssicos, o bem essencialmente diferente do prazer, o bem mais fundamental do que o prazer. Os prazeres mais comuns esto relacionados com a satisfao das necessidades; estas precedem os prazeres; as necessidades, por assim dizer, disponibiliiam os canais dentro dos quais o prazer se pode mover; elas determioain o que pode ser prazenteiro ou no. O facto primordial no o prazer, ou o desejo de prazer, mas antes as necessidades e o esforo de as satisfazer. E a diversidade de necessidades que explica a diversidade de prazeres; a diferena nos tipos de prazer no pode ser entendida em termos de prazer, mas apenas por referncia s necessidades que tornam possvel os vrios tipos de prazer. Os diferentes tipos de necessidade no constituem um cabaz de desejos; existe uma ordem natural das neces sidades. Os diferentes tipos de seres procuram ou experimentam diferentes tipos
de prazer: os prazeres de um asno so diferentes dos prazeres de um ser humano. A ordem das necessidades de um ser remete para a sua constituio natural, para o seu quid; essa constituio que determina a ordem, a hierarquia, das diversas necessidades ou das diversas inclinaes de um ser. constituio especfica corresponde uma operao especfica, um funcionamento especfico. Um ser bom, e st em ordem, se faz bem o que tem a fazer. Da que o homem seja bom quando cumpre bem o seu trabalho (6) Ver Plato, .kepblica 358e3, 367b2-5, e2, 369a5-6, c9-10, 370a8b1. O DIREITO NATURAL CLSSICO e de homem, o trabalho que corresponde sua natureza e que esta requer. Para determ inar o que por natureza bom para o homem ou o que o bem humano natural, preciso determinar o que a natureza do homem ou a constituio natural do homem. a ordem hie rrquica da constituio natural do homem que fornece o fundamento do direito natural tal como os clssicos o entendiam. De uma forma ou doutra, todos distinguem o corp o da alma; e todos podem ser forados a admitir que impossvel negar que a alma supe rior ao corpo, sem incorrerem numa contradio. O que distingue a alma humana das al mas dos animais selvagens, o que distingue o homem dos animais selvagens, a pala vra ou a razo ou o entendimento. Por conseguinte, o prprio do homem consiste em vi ver reflectidamente, em compreender, e na aco pensada. A vida boa a vida conforme ordem natural do ser-do homem, a vida que fhli de uma alma harmoniosa ou s. A vid a boa a vida em que os requisitos das inclinaes naturais do homem so satisfeitos do modo apropriado e ao mais elevado grau, a vida do homem que est mais intensament e desperto, a vida de um homem em cuja alma nada se desperdia. A vida boa a perfe io da natureza humana. a vida conforme natureza. Pode-se, ento, chamar lei natural egras que circunscrevem o caracter geral da vida boa. A vida de acordo com a nat ureza a vida da excelncia ou da virtude humanas, a vida de uma pessoa de classe su perior, e no a vida do prazer pelo prazer (7) . A tese de que a vida de acordo com a natureza a vida da excelncia humana pode ser sustentada em fundamentos hedonistas. Porm, os clssicos protestaram contra esta m aneira de entender a vida boa. Pois, do ponto de vista do hedonismo, a nobreza d e caracter boa porque conduz a uma vida de prazer ou porque lhe mesmo indispensve l: a nobreza de caracter a serva do prazer; no boa em si mesma. Segundo os clssico s, esta interpretao distorce os fenmenos tal como so entendidos pela experincia de to dos os homens imparciais e competentes, isto , por todos os que no so moralmente obtus s. Admiramos a excelncia sem atender aos nossos prazeres ou aos nossos benefcios. Ningum confunde um homem bom ou um homem excelente com quem leva uma vida de praz er. Distinguimos os homens melhores dos piores. Com efeito, a (7) Plato, Grgias 499e6-500a3; Repblica 369c10 ss.; comparar Repblica 352d6-353e6, 4 33a1-b4, 441d12 ss, e 444d13 445b4 com Aristteles, tica a Nicmaco 1098a8-17; Ccero, De finibus, 11.33-34, 40; 1V.16, 25, 34, 37; V.26; Leis 1.17, 22, 25, 27, 45, 58 -62. DIREITO NATURAL E HISTORIA diferena entre eles reflecte-se na diferena dos tipos de prazer que preferem. Mas no se pode compreender esta diferena no nvel dos prazeres em termos de prazer; pois esse nvel determinado no pelo prazer, mas pela eminncia dos seres humanos. Sabemos que se trata de um erro vulg ar identificar o homem de excelncia com quem nos beneficia. Por exemplo, admiramo s um estratega genial ao comando do exrcito vitorioso dos nossos inimigos. H coisa s que so intrinsecamente admirveis, ou nobres por natureza. Todas ou quase todas s e caracterizam por serem indiferentes aos nossos interesses egostas ou por dispen sarem inteiramente o clculo. As diferentes coisas humanas que so por natureza nobr es ou admirveis so essencialmente as partes da nobreza humana na sua plenitude ou pelo menos esto relacionadas com ela; todas indicam a alma harmoniosa, que , sem r ival, o fenmeno humano mais admirvel. A lgica hedonista ou utilitarista no consegue explicar o fenmeno de admirao da excelncia humana, a menos que se introduzam hipteses ad hoc. Estas hipteses conduzem afirmao de que toda a admirao , na melhor das hipte , uma espcie de clculo refinado dos beneficios que podemos colher. So o resultado d
e uma perspectiva materialista ou cripto-materialista, que fora os seus defensore s a no ver no que superior mais do que o efeito do que inferior, ou que os impede de considerar a possibilidade de que h fenmenos que pura e simplesmente no so redutv eis s suas condies, que h fenmenos que por si mesmos formam uma classe parte. Tais hi pteses no so concebidas no esprito de uma cincia emprica do homem (8). O homem por natureza um animal social. constitudo de tal forma que no pode viver, ou viver bem, se no viver com outros. Como a razo ou a capacidade discursiva que o distingue de outros animais, e como o discurso comunicao, o homem social num sent ido mais radical do que qualquer outro animal social: a prpria humanidad'e socialidade. O homem refere-se a si mesmo a outros, ou melhor refere-se aos outros em cada acto humano, quer esses actos sejam sociai s, quer sejam anti-sociais. A sua socialidade no procede, pois, de um clculo dos praz eres que antecipa da associao; pelo contrrio, o homem retira prazer da associao porqu e por natureza social, O amor, a afeio, a amizade, a compaixo; (8) Plato, Grgias 497d8 ss.; Repblica 402d1-9; Xenofonte, Hellenica -V11.3.12, Ari tteles, tica a Nicmaco 1174a1-8; Retrica 1366b36 ss.; Ccero, De finibus, 11.45," - 64 -65, 69;V.47, 61; Leis, 1.37, 41, 48, 51, 55, 59. O DIREITO NATURAL CLSSICO So to naturais para o homem como a preocupao que tem com o seu prprio bem, e so to naturais como o clculo do que conduz a esse mesmo bem. A soc ialidade natural do homem a base do direito natural no sentido estrito da expres so direito. por o homem ser por natureza social que a perfeio da sua natureza inclui a virtude social por excelncia, a justia; a justia e o direito so naturais. Todos os membros de uma mesma espcie so aparentados. No caso do homem, esse parentesco nat ural aprofundado e transfigurado por causa da sua socialidade radical. No caso d o homem, a preocupao do indivduo com a procriao apenas uma parte da sua preocupao co Preservao da espcie. No h uma relao do homem com o homem em que este seja absolutamen e livre para agir como lhe apetece ou como mais lhe convm. E todos os homens esto de algum modo conscientes desse facto. Toda a ideologia uma tentativa de justifi car perante si mesmo ou perante os outros uma linha de conduta que por alguma ra zo se julga carecer de justificao, isto , cuja rectido no evidente. Por que que os nienses acreditavam que eram autctones se no fosse porque sabiam que roubar a terr a dos outros injusto, e porque sentiam que uma sociedade que se respeita a si me sma no pode conciliar-se com a noo de que foi fundada no crime? (9) Por que que os Hindus acreditam na sua doutrina do kharma se no for porque sabem que de outro mo do o seu sistema de castas seria indefensvel? Em virtude da sua racionalidade, o homem tem uma gama de alternativas como mais nenhum outro ser mundano. A conscincia dessa abundncia de alternativas, dessa liberdade, acompanhada pela conscincia de que o exerccio pleno e irrestrito dessa liberdade no correcto. A liberdade do homem acompanhada por uma reverncia sagrada, por uma espcie de pressentimento de que nem tudo permitido (1) . Podemos chamar a conscincia natural do homem a este medo reverente. A conteno portanto to natural -ou to imediata como a liberdade. Enquanto o homem no tiver cultivado adequadament e a sua razo, alimentar todos os gneros de noes bizarras sobre os limites da sua libe rdade; elaborar tabus (9) Plato, Repblica 369b5-370b2; Banquete 207a6-cl; Leis 776d5-778a6; Aristteles, P oltica 1253a7-18, 1278b18-25; tica a Nicmaco 1161b1-8 (cf. Plato, Repblica 395e5) e 1 170b10-14; Retrica 1373b6-9; Iscrates, Panegyricus 23-24; Ccero, Repblica, 1.1, 38-4 1; 111.1-3, 25; 1V.3; Leis, 1.30, 33-35, 43; De finibus, 11.45,78, 109-110; 111. 6271; 1V.17-18; Grcio, De jure belli ac pacis, Prolegomena, 6-8. (10) Ccero, Repblica, V.6; Leis, 1.24, 40; De finibus, 1V.18. DIREITO NATURAL E HISTORIA absurdos. Mas o que induz os selvagens aos seus actos selvagens no a selvajaria, mas o pressentimento do direito. O homem no pode alcanar a sua perfeio seno na sociedade ou, em termos mais exactos, n a sociedade civil. Esta, ou a cidade como os clssicos a entendiam, uma sociedade fechada e , por acrscimo, o que hoje chamaramos uma sociedade exgua. Pode-se dizer que uma cidade uma co
munidade em que todos se conhecem uns aos outros, ou pelo menos em que todos con hecem algum que conhece os restantes membros da sua comunidade. Uma sociedade que se prope possibilitar a perfeio humana tem de ser cimentada pela confiana recproca, e a confiana pressupe que as pessoas se conhecem. Sem essa 'confiana, pensavam os c lssicos, no pode haver liberdade; a alternativa cidade, ou a uma federao de cidades, era o imprio governado ao modo desptico (encabeado, se possvel, por um governante divinizado) ou uma condio prxima da anarquia. Uma cidade uma comunidade co-extensiv a s capacidades naturais do homem de conhecer em primeira-mo ou de forma directa. Trata-se de uma comunidade que se deixa mostrar a um s golpe de vista, ou trata-s e de uma comunidade em que um adulto se pode orientar por meio da sua prpria obse rvao, sem ter de se apoiar regularmente em informao indirecta nas matrias de importnci a vital. Pois o conhecimento directo dos homens s pode ser substitudo sem prejuzo p elo conhecimento indirecto na medida em que os indivduos que compem a multido poltic a sejam uniformes ou homens-massa. S uma sociedade suficientemente pequena para per mitir a confiana recproca possibilita a responsabilidade mtua e a superviso recproca uma superviso das aces ou das maneiras que indispensvel para a sociedade que se ocup a da perfeio dos seus membros; numa cidade muito vasta, numa Babilnia, cada um pode v iver mais ou menos como quiser. Tal como a capacidade natural do homem de conhec er em primeira-mo, tambm a sua capacidade de amar, ou de se preocupar activamente, por natureza limitada; as fronteiras da cidade coincidem com o alcance da preoc upao activa do homem com indivduos que no so annimos. Mais, a liberdade , poltica, e e particular a liberdade poltica que se justifica a si mesma pela prossecuo da exceln cia humana, no um dom dos cus; s se concretiza pelo es-foro de muitas geraes, e a sua preservao exige sempre a vigilncia mais apertada. muitssimo improvvel que todas as so ciedades sejam capazes de ter liberdade genuna ao mesmo tempo. Porquanto todas as coisas preciosas so muitssimo raras. _ -
O DIREITO NATURAL CLSSICO Uma sociedade aberta, ou que abranja o mundo inteiro, incluiria um grande. nmero de sociedades em nveis muito diferentes de maturidade poltica, e seria quase certo que as sociedades inferiores arrastariam consigo as superiores. Uma tal socieda de ser humanamente inferior a uma sociedade fechada que, ao longo de vrias geraes, f ez um esforo supremo no sentido da perfeio humana. H portanto maior probabilidade de encontrar uma sociedade boa se houver uma multido de sociedades independentes do que se s houver uma nica sociedade independente. Se a sociedade em que o homem po de alcanar a perfeio da sua natureza necessariamente uma sociedade fechada, ento a d iviso do gnero humano em vrios grupos independentes conforme natureza. Essa separao natural no sentido em que os membros de uma qualquer sociedade civil so por natu reza diferentes dos membros de outras sociedades civis. As cidades no crescem com o as plantas. No se fundam pura e simplesmente numa descendncia comum. Nascem de a ctividades humanas. H um elemento de escolha e at de arbitrariedade na coabitao destes seres humanos particulares e na excluso dos restantes. Tal s seria injusto se a c ondio dos que so excludos fosse posta em causa em resultado dessa mesma exduso. Mas a condio de pessoas que ainda no fizeram qualquer esforo srio para atingir a perfeio hu ana , no aspecto mais decisivo, necessariamente m; no pode ser posta em causa pelo simples facto de alguns dentre eles cujas almas atenderam ao chamamento da perfe io fazerem esse esforo. Alm disso, no existe nenhuma razo necessria por que os exclud no possam formar uma sociedade civil prpria. De acordo com a justia, a sociedade ci vil enquanto sociedade fechada possvel e necessria porque conforme natureza (U). S a conteno to natural ao homem como a liberdade, e como em muitas ocasies a conteno m de ser compulsria para ser eficaz, ento no se pode dizer que a cidade convencional, ou contrria natureza, por ser uma sociedade coerciva. O homem est constitudo de ta l modo que no pode alcanar a perfeio da sua humanidade se no dominar os seus impulsos inferiores. No pode governar o seu corpo pela persuaso. S este facto j mostra que m esmo o mando desptico no em si mesmo contrrio natureza. O que (") Plato, Repblica 423a5-c5; Leis 681c4d5, 708b1-d7, 738d6-e5, 949e3 ss.; Aristtel es, tica a Nicmaco 1158a10-18, 1170b20-1171a20; Poltica 1253a30-31, 1276a2734 (cf. Toms de Aquino, ad. loc.), 1326a9-b26; Iscrates, Antidosis, 171-172; Ccero, Leis, 1
1.5; cf. Toms de Aquino, Sunana theologica, I, q. 65, a., 2, ad. 3. DIREITO NATURAL E HISTRIA vale para a conteno, para o autodomnio e para a auto-disciplina aplica-se, em princp io, conteno, coero e ao domnio sobre outrem. Considerando o caso limite, o mando des ico injusto apenas se for aplicado a seres que podem ser governados pela persuaso ou cujo entendimento est suficientemente desenvolvido: o governo de Prspero sobre Calib justo por natureza. A justia e a coero no so mutuamente exclusivas; na verdade no inteiramente errado descrever a justia como uma espcie de coero benvola. Ajustia a virtude em geral so necessariamente um tipo de poder. Dizer que o poder enquant o tal maligno ou corruptor seria, portanto, equivalente a dizer que a virtude ma ligna ou corniptora. Enquanto alguns homens so corrompidos pelo exerccio do poder, outros so aperfeioados: o poder revela o homem (12). A realizao plena da humanidade pareceria, ento, consistir, no numa pertena passiva so ciedade civil, mas na actividade devidamente orientada do estadista, do legislad or ou do fundador. A preocupao sria com a perfeio da comunidade exige um grau mais el evado de virtude do que a preocupao sria com a perfeio do indivduo. O juiz e o governa nte tm oportunidades mais vastas e mais nobres de agir com justia do que o homem c omum. O homem bom no simplesmente o bom cidado, mas o bom cidado que exerce a funo de governante na sociedade boa. O que aguarda as mais altas funes , pois, algo de mai s slido do que o esplendor brilhante e o clamor, e o que induz os homens a presta r homenagem grandeza poltica algo de mais nobre do que a preocupao com o bem-estar dos seus corpos. Sendo sensveis aos grandes objectivos da humanidade, a liberdade e o imprio, sentem de algum modo que a poltica o domnio em que a excelncia humana s e pode manifestar em toda a sua plenitude; e que todas as formas de excelncia dependem de certa forma do seu cultivo apropriado. A 4iberdad e e o imprio so desejados enquanto elemen tos ou condies. da felicidade. Mas os sentimentos que se exaltam quando se pronunc iam as palavras liberdade e imprio indicam um entendimento mais adequado de felicidad e do que aquilo que subjaz sua identificao com o bem-estar do corpo ou com a grati ficao da vaidade; indicam a ideia de que a felicidade ou o cerne (9 Plato, Repblica 372b7-8 e 607a4, 519e4-520a5, 561d5-'7; Leis 689e ss.; Aristtele s, tica a Nicmaco 1130a1-2, 1180a14-22; Poltica 1254a18-20, b5-6, 1255a3-22, 1,525b 7 ss. O DIREITO NATURAL CLSSICO da felicidade consiste na excelncia humana. A actividade politica , pois, devidame nte orientada se tiver como finalidade a perfeio humana ou a virtude. Em ltima anlis e, a cidade no tem outro fim seno o indivduo. A moral da sociedade civil ou do Esta do a mesma que a moral do indivduo. A cidade essencialmente diferente de um bando de ladres porque no um mero rgo, no uma mera expresso, do egosmo colectivo. Como ltimo da cidade - o mesmo que o do indivduo, o fim da cidade no a guerra, nem a con quista, mas a actividade pacfica em conformidade com a dignidade do homem (13). Por encararem os assuntos morais e polticos luz da perfeio do homem, os clssicos no e ram igualitrios. Nem todos os homens esto igualmente dotados por natureza para pro gredir no caminho para a perfeio, ou nem todas as naturezas so boas naturezas. Embora odos os homens, isto , todos os homens normais, sejam capazes de virtude, alguns precisam de guias, ao passo que outros podem dispens-los por completo ou s precisa m de muito menos orientao. De resto, sejam quais forem as diferenas em termos de ca pacidades naturais, nem todos os homens procuram a virtude com a mesma convico. Po r maior que seja a influncia que deve ser atribuda ao modo como os homens so educad os, a diferena entre uma boa e uma m educao deve-se em parte diferena entre um ambien e natural favorvel e um outro desfavorvel. Como os homens so desiguais no que diz re speito perfeio humana, isso , no aspecto mais decisivo, os clssicos consideravam que os direitos iguais seriam injustssimos. Afirmavam que alguns homens so por nature za superiores aos outros e que deviam, portanto, segundo o direito natural, gove rn-los. Por vezes sugere-se que a concepo dos clssicos foi rejeitada pelos esticos, e m particular por Ccero, e que esta mudana constituiu um ponto de viragem na evoluo d a doutrina do direito natural ou uma ruptura radical com a doutrina do direito n atural de Scrates, Plato e Aristteles. Mas o prprio Ccero, e temos de presumir que el e sabia bem do que falava, ignorava por completo que houvesse uma diferena radica l entre o seu ensinamento e o de Plato. O passo crucial nas Leis de Ccero,
('') Tucdides, 111.45.6; Plato, Grgias 464b3-c3, 478a1-b5, 521d6-el; Clitofon' 408b 2-5; Leis 628b6-el, 645b1-8; Xenofonte, Memorabilia 11.1.17; 111.2.4; IV.2.11; A di= ttles, tica a Nicmaco 1094b7-10, 1129b25-1130a8; Poltica 1278b1-5, 1324b23-41 1333b39 ss.; Ccero, Repblica, 1.1; 34-41; VI.13, 16; Toms de Aquino, De regimine principum, 1.9. Pr" DIREITO NATURAL E HISTORIA 118 ue segundo uma opinio generalizada tem como propsito estacibeiecer.o direito natur al igualitrio, visa, na realidade, demonstrar . social natural do homem. De modo a demonstrar a socialidade natural do homem, Ccero fala da semelhana entre todos os boiens, isto , do par entesco que existe entre todos eles. Apresenta a dita semelhana como o fundamento natural da benevolncia do borriem pelo homem: simile simili gaudet. Trata-se de uma questo relativamente secundria saber se uma expresso usada por Ccero /leste cont exto no poderia indicar uma ligeira inclinao em favor das concepes igualitrias. Basta assinalar que nas obras de Ccero abundam as declaraes de reafirmao da viso clssica, se undo a qUal os homens so desiguais no aspecto mais decisivo, e das suas juiplicaes polticas (14) . Para alcanar a sua mais elevada estatura, o homem tem de viver 0a rnelhor das soc iedades, na sociedade que conduz mais segura1/lente excelncia humana. A essa soci edade os clssicos chamaa melhor po/iteia. Com esta expresso indicavam, antes de mais, que, para ser boa, a sociedade tem de ser civil ou poltica, tem de ser urria sociedade onde tem de haver governo dos homens e no ape0as uma administrao das coisas. Normalmente, po/it eia traduz-se nor constituio. Mas quando usam o termo constituio num reoutexto polti s homens modernos referem-se quase inevitavemente a um fenmeno legal, a algo como a lei fundamental do pas, e no a algo como a constituio do corpo ou da alma. Porm, a politeia no um fenmeno legal. Os clssicos serviam-se do ter-010 poiiteia por contr aposio a leis. A po/iteia mais fundamental do que quaisquer leis; a fonte de todas a s leis. Corresponde mais distribuio factual de poder no seio da comunidade do que s esdpulaes da lei constituc ional que dizem respeito ao poder poltico. A po/iteia pode ser definida pelas lei s, mas no tem de o ser. As leis relativas a uma po/iteia podem ser enganadoras, d e forma no propositada ou at propositada, quanto ao seu verdadeiro carcter. Nenhuma lei, e por isso nenhuma constituio, pode ser o facto poltico fundamental, porque t odas as leis dependem de seres huulauos. As leis tm de ser adoptadas, preservadas e administradas (14) Plato, Repblica 374e4-376c6, 431c5-7, 485a4-487a5; Xenofonte, Memorabi- . ais/ ,1.2; Hiercio, 7.3; AristOteles, tica a Nicmaco 1099b18-20, 1095b10-13, 117967-: 1180a10, 1114a31-b25; Poltica 1254a29-31, 1267b7, 1327b18-39; Ccero, Leis, 1.28-35 ; Repblica,1.49, 52;111.4, 37-38; De finibus, IV.21, 56; V.69; nac. Disp., 11.11, 13; W.31-32; .v.68; Deveres, 1.105, 107. Toms de Aquino, Summa theologica, I, q. 96, a. 3 e 4.
O DIREITO NATURAL CLSSICO por homens. Os seres humanos que constituem uma comunidade poltica podem ser organ izados de modos muito diferentes no que diz respeito ao controlo dos assuntos com uns. Politeia refere-se primordialmente organizao factual de seres humanos na sua re lao com o poder poltico. A constituio americana no a mesma coisa que o modo de vida americano. Politeia sign ifica mais o modo de vida de uma sociedade do que a sua constituio. Porm, no se trat a de um acidente que a traduo insatisfatria constituio seja normalmente preferida tr odo de vida de uma sociedade. Quando falamos de constituio, pensamos no governo; no pensamos necessariamente no governo quando falamos do modo de vida de uma comuni dade. Quando falavam de po/iteia, os clssicos pensavam no modo de vida de uma com unidade na medida em que era essencialmente determinado pela sua forma de governo. Traduziremos po/iteia por regime, a que atribuiremos a acepo mais alargada da palav ra tal como quando por vezes falamos, por exemplo, do Ancien rgime francs. A ligao i ntelectual entre o modo de vida de uma sociedade e a forma de governo pode ser provi soriamente enunciada nos seguintes termos: O carcter, ou o tom, de uma sociedade
depende do que aos seus olhos mais respeitvel ou mais digno de admirao. Mas ao atri buir o maior respeito a certos hbitos ou atitudes, uma sociedade reconhece a supe rioridade, a superior dignidade, dos seres humanos que as encarnam da forma mais perfeita. Isso vale por dizer que toda a sociedade considera um determinado tip o humano (ou uma determinada mistura de tipos humanos) como portador de autorida de. Quando o tipo humano portador de autoridade o homem comum, perante ele que t udo tem de se justificar; o que no encontra a sua justificao perante o homem comum torna-se suspeito ou menosprezado, ou , na melhor das hipteses, simplesmente toler ado. E mesmo aqueles que no reconhecem esta jurisdio so, apesar de tudo, moldados pe los seus veredictos. O que vale para a sociedade governada pelo homem comum vale tambm para as sociedades governadas pelo padre, pelo rico mercador, pelo senhor da guerra, pelo gentil-homem, e por a em diante. Para serem verdadeiramente porta dores de autoridade, os seres humanos que encarnam os hbitos e atitudes admirados devem ter uma voz decisiva no seio da comunidade vista de todos: tm de formar o regime. Quando os clssicos se interessavam principalmente pelos diferentes regime s, em particular pelo melhor regime, estavam a sugerir que DIREITO NATURAL E HISTORIA o fenmeno social primordial o regime, e que s os fenmenos naturais so mais fun damentais do que o regime ('s) . Em certa medida, a importncia central dos fenmenos que se chamam regimes dissipou-se . As razes para esta mudana so as mesmas que foram responsveis pelo facto de a histri a politica ter cedido a sua preeminncia anterior histria social, cultural, econmica e a sua , etc. O aparecimento destes novos ramos da histria encontra o seu apogeu legitimao no conceito de civilizaes (ou culturas). Enquanto ns temos o hbito de ivilizaes, os clssicos falavam de regimes. A civilizao o substituto moderno do r saber o que uma civilizao. Diz-se que uma sociedade vasta, mas no nos dizem com cl areza de que tipo so essas sociedades. -Se investigarmos o modo como podemos dist inguir as civilizaes umas das outras, aprendemos que a caracterstica mais evidente e menos enganadora reside na diferena de estilos artsticos. Isso significa que s ci vilizaes so sociedades que se caracterizam por algo que nunca est no primeiro plano das preocupaes das sociedades vastas enquanto tais: as sociedades no se guerreiam p or causa de diferenas nos estilos artsticos. A orientao das nossas investigaes segundo o conceito de civili7ao, em vez do de regime, parece dever-se a um estranhamento pecu liar relativamente aos problemas de vida e de morte que mobilizam e animam as so ciedades e as mantm unidas. Hoje, o melhor regime chamar-se-ia regime ideal ou simplesmente um ideal. A palavra moderna ideal veicula um conjunto de conotaes que impede a compreenso daquilo que os clssicos (9 Plato, Repblica 497a3-5, 544d6-7; Leis 711c5-8. Xenofonte, As rendas 1.1; Educao de Ciro 1.2.15; Iscrates, To Nicocles 31; Nicocles, 37; Areopagiticus, 14; Aristte les, tica a Nicmaco 1181b12-23; Poltica 1273a40 ss., 1278b11-13, 1288a23-24, 128921 2-20, 1292b11-18, 1295b1, 1297a14 ss.; Ccero, Repblica, 1.47; Leis, 1.14-15, 17, 1 9; 111.2. Ccem indicou a superior dignidade do regime., por oposio s leis", contrastan do as circunstncias em que se desenrolam os dilogos na Repblica e nas Leis. As Leis pretendem ser uma continuao da Repblica. Na Repblica, Cipio, o jovem, um filsofo-rei, tem uma conversa com alguns dos seus contemporneos sobre o melhor regime e que dura trs dias; nas Leis, Ccero tem uma conversa durant e um dia com alguns dos seus contemporneos sobre as leis mais apropriadas ao melh or regime. A discusso na Repblica tem lugar no Inverno: os intervenientes procuram o sol; alm disso, a discusso tem lugar no ano da morte de Cipio: as coisas polticas so analisadas luz da eternidade. A discusso nas Leis tem lugar no Vero: os interve nientes procuram a sombra (Repblica, 1.18; VI.8, 12; Leis, 1.14, 15; 11.7, 69; 11 1.30; Deveres, Md). A ttulo de ilustrao comparar, inter alia, Maquiavel, Discorsi, 111.29; Burke, Conciliation with America, in fine; John Stuart Mill, Autobiograp hy (ed. Oxford World's Classics.), pp. 294 e 137. 120 O DIREITO NATURAL CLSSICO entendiam por melhor regime. Os tradutores modernos por vezes usam ideal para trans mitir o que os clssicos diziam ser conforM aspirao ou conforme s preces. O melhor aquele ao. qual se aspira ou pelo qual se roga. Um exame mais atento mostraria q
ue o melhor regime o objecto da aspirao ou. das preces de todos os homens bons ou de todos os gentil-homens: aos olhos da filosofia poltica clssica, o melhor regime o objecto da aspirao ou das preces dos gentil-homens, tal como esse objecto inter pretado pelo filsofo. Mas o melhor regime, no entendimento dos clssicos, no apenas muitssimo desejvel; pretende ser tambm exequvel ou possvel, isto , possvel na terra.E imultaneamente desejvel ou possvel porque conforme natureza. Como conforme naturez a, a sua realizao no requer qualquer mudana; miraculosa ou no, da natureza humana; no requer a abolio ou a extirpao do mal ou da imperfeio que essencial ao homem e vida ana; , portanto, possvel. E, como est de acordo com os requisitos da excelncia ou da perfeio da natureza humana, muitssimo desejvel. Porm, embora o melhor regime seja po ssvel, a sua realizao no de modo algum necessria. A sua realizao muito difcil, e, to, improvvel, at mesmo extremamente improvvel. Porquanto o homem no controla as con dies da sua realizao. A sua realizao depende do acaso. O melhor regime, que conforme atureza, talvez nunca tenha existido; no h nenhuma razo para assumir que existe act ualmente; e pode nunca vir a existir. Faz parte da sua essncia existir em palavra s por contraposio a existir em acto: Numa palavra, o melhor regime , em si mesmo pa ra usar uma expresso cunhada por um dos mais profundos leitores da Repblica de Pla to , uma utopia (16). O melhor regime s possvel nas condies mais favorveis. Portanto, s justo ou legtimo condies mais favorveis. Em condies mais ou menos desfavorveis, s os regimes mais ou me os imperfeitos so possveis e, por conseguinte, legtimos. H apenas um melhor regime, Mas h vrios regimes legtimos. A variedade dos regimes legtimos corresponde diversida de de circunstncias relevantes. Enquanto o melhor regime s -possvel nas condies mais favorveis, os regimes legtimos ou justos so possveis ou m6=. (16) Plato, Repblica 457a3-4, e2, d4-9, 473a5-bl, 499b2-e3, 502c5-7, 540(11-3, 592 a11; Leis 709d, 710c7-8, 736c5-d4, 740e8-741a4, 742e1-4, 780b4-6, el-2, 841c-6-8 ; 960d5-e2; Aristteles, Politica 1265a18-19, 1270b20, 1295a25-30, 1296a37-38, 132 8a20- 21, 1329a15 ss., 1331b18-23, 1332a28-b10, 1336b40 ss. DIREITO NATURAL E HISTORIA Tolamente necessrios em todos os tempos e em todos os lugares. A distino entre o me lhor regime e os regimes legtimos tem a sua raiz na distino entre o nobre e o justo . Tudo o que nobre justo, mas nem tudo o que justo nobre. Pagar as dvidas justo, mas no nobre. O castigo merecido justo, mas no nobre. Os agricultores e artesos na melhor comunidade poltica de Plato levam vidas justas, /nas no vidas nobres: carece m de oportunidades para agir com nobreza. O que um homem faz sob presso justo por que no pode ser censurado por aquilo que faz; mas nunca ser nobre. Como diz Aristte les, as aces nobres exigem um certo equipamento; sem esse equipamento elas no so pos sveis. Mas somos obrigados a agir com justia em todas as circunstncias. Um regime m uito imperfeito pode providenciar a nica soluo justa para o problema de uma dada co munidade; mas, como esse regime no pode conduzir efectivamente perfeio plena do hom em, nunca ser nobre (17) Para evitar mal-entendidos, necessrio dizer algumas palavras sobre a resposta car acterstica dos clssicos questo do melhor regime. Este o regime em que normalmente o s melhores homens governam; nina aristocracia. Se a bondade no idntica sabedoria, est pelo menos dependente dela: o melhor regime parece ser o governo dos sbios. Na realidade, para os clssicos a sabedoria era, segundo a natureza, o mais elevado ttulo para governar. Seria absurdo obstruir o livre fluir da sabedoria com quaisq uer regulamentos; da que o governo dos sbios tenha de ser absoluto. Seria igualmen te absurdo obstruir o livre fluir da sabedoria com a integrao dos insensatos desej os dos insensatos; dai que os governantes sbios no devam ser responsveis perante os seus sbditos insensatos. Submeter o governo dos sbios escolha dos insensatos ou a o seu consentimento equivaleria a sujeitar o que por natureza superior ao contro lo do que por natureza inferior, isto , seria agir contrariamente natureza. No en tanto, esta soluo, que primeira vista parece ser a nica soluo justa para uma sociedad e onde h homens sbios, , por regra, impraticvel. Os poucos homens sbios no podem gover nar muitos insensatos pela fora. A multido insensata tem de reconhecer os sbios enq uanto sbios e obedecer-lhes livremente em virtu.de da sua sabedoria. Mas a capaci dade dos sbios de persuadir os insensatos extremamente limitada: Scrates, que vi_ (11) Plato, Repblica 431b9-433d5, 434c7-10; Xenofonte, Educao de Ciro, vI11.2.23; Ag
esilau, 11.8; Aristteles, tica a Nicmaco 1120a11-20, 1135a5; Poltica 1288b10 ss., 12 93b22-27, 1296b25-35 (cf. [Toms de Aquino] ad. loc.), 1332a10 ss.; -Retrica 1366b3 1-34; Polbio, VI.6.6-9. O DIREITO NATURAL CLSSICO via de acordo com que ensinava, fracassou na tentativa de governar Xantipe. Por conseguinte, extraordinariamente improvvel que se renam as condies exigidas para o g overno dos sbios. mais provvel que um homem insensato, fazendo apelo ao direito na tural da sabedoria e acatando os desejos mais vis da multido, a persuada do seu d ireito: as possibilidades da tirania so mais fortes do que as do governo dos sbios . Assim sendo, o direito natural dos sbios tem de ser posto em questo, e os requis itos indispensveis da sabedoria tm de ser condicionados pelo requisito do consenti mento. O problema poltico reside em reconciliar o requisito da sabedoria com o re quisito do consentimento. Mas ao passo que, do ponto de vista do direito natural igualitrio, o consentimento goza de prioridade sobre a sabedoria, do ponto de vi sta do direito natural clssico, a sabedoria goza de prioridade sobre o consentime nto. Segundo os clssicos, a melhor maneira de conciliar estes requisitos to radica lmente diferentes o da sabedoria e o do consentimento ou da liberdade seria ter um legislador sbio que elaborasse um cdigo a que o conjunto dos cidados, devidament e persuadidos, desse a sua livre aprovao. Esse cdigo, que , por assim dizer, a expre sso da razo, tem de estar to pouco sujeito a alteraes quanto possvel; o governo das le is toma o lugar do governo dos homens, por mais sbios que sejam. A administrao da l ei tem de ser confiada a um tipo de homem de quem se espera que actue com equida de, isto , segundo o esprito do legislador sbio, ou. que <<complete a lei de acordo com as exigncias das circunstncias que o legislador no podia ter previsto. Os clssic os defendiam que este tipo de homem o gentil-homem. O gentil-homem no o sbio. o re flexo poltico, a imagem do sbio. Os gentil-homens partilham com os sbios a condescen dncia com muitas coisas que so altamente estimadas pelo Vulgo, ou a experincia em co isas nobres e belas. Diferem dos sbios porque tm um desprezo nobre pela exactido, p orque recusam conhecer certos aspectos da vida, e porque, para poderem viver com o gentil-homens, precisam de riquezas. O gentil-homem ser detentor de um patrimnio herdado no excessivamente grande, constitudo sobretudo por terras, mas o seu modo de vida ser urbano. Ser um patrcio urbano que obtm o seu rendimento da agricultura. O melhor regime ser, ento, uma repblica em que a nobreza fundiria, que ao mesmo tem po o patriciado urbano, de boas maneiras e com esprito cvico, obedecendo s leis e c ompletando-as, governando e sendo governada alternadamente, predomina e d socieda de o seu caracter. Os clssicos esboaram ou recomendaram vrias instituies que pareDIREITO NATURAL E HISTORIA favorecer o governo dos melhores. Provavelmente a sugesto mais fluente foi a do re gime misto, uma mistura de realeza, aristocracia e cilleuriocracia. No regime misto o elemento aristocrtico a gravidade do senado ocu pa a posio intermdia, isto , a posio chave ou cen,al. Na realidade, o regime misto retende. ser unia aristocra's, que fortalecida e protegida pelo acrescentamento de instituies onrquicas e democrticas. Em suma, pode-se dizer que prprio do 10sitiarn nto do direito natural clssico culminar numa dupla resposta e.. ques to do melhor regime: o regime melhor em absoluto seria o go:errio absoluto dos sbios; o melhor regime na prtica o governo, sob s leis, dos gentil-homens, ou o regime misto (18 ). a segundo uma opinio que hoje bastante comum e que pode ser descrita como marxist a ou cripto-marxista, os clssicos preferiam o governo do patriciado urbano porque eles prprios pertenciam ao patriciado urbano ou dependiam dele. No preciso discut ir o argumento de que, quando estudamos uma doutrina politica, temos de tomar em conta a parcialidade, e mesmo a parcialidade de classe, do seu fundador. Basta exigir que a classe a que o pensador em questo pertence seja correctamente identi ficada. A opinio comum muitas vezes se esquece mie h um interesse de classe dos fi lsofos enquanto filsofos, e este e-Lsquecimento deve-se em ltima anlise negao da poss bilidade da filosofia. Os filsofos enquanto filsofos no saem em famlia. O interesse egosta ou de classe dos filsofos consiste em conseguir que os deixem ern paz, em s erem autorizados a viver na terra a vida dos abenoados na dedicao investigao dos assu ntos mais importantes. Ora trata-se de lima experincia de muitos sculos em climas naturais e morais muito diferentes que houve uma, e s uma, classe que normalmente
manifestava simpatia pela filosofia e no de forma intermitente como os reis; essa classe foi o patriciado urbano. O povo comum no tinha qualquer simpatia pela filosofia, nem pelos filsofos. Como disse Ccero, a filosofia era sus peita os olhos da multido. S no sculo XIX que este estado de coisas mudou de modo pr ofundo e manifesto, e, em ltima anlise, a oradana deveu-se a uma alterao radical no s ignificado da filosofia. (18) Plato, Poltico 293e7 ss.; Leis 680e14, 684c1-6, 690b8-c3, 691d7-692b1, 69311e8, 701e, 744b1-dl, 756e9-10, 806d7 ss., 846d1-7; Xenofonte, Memorabilia; 111.9. 10-13; IV.6.12; Oeconomicus, 4.2 ss., 6.5-10, 11.1 ss.; Anabasis, V.8.26; Aristte les; tica a Nicmaco 1160a32-1161a30; tica a Eudemo 1242b27-31; Poltica 1261a38-b3, 265b33-1266a6, 1270b8-27, 1277b35-1278a22, 1278a37-1279a17, 1284a4-b34, 1289a39 1 VI.51.5-8; Ccero, Repblica, 1.52, 55 (cf. 41), 56-63, 69; 11.3740, 55-56, 59; rsr.s; Di6genes Larcio, VH.131; Toms de Aquino, Summa theologica, 11.1, q. 95, a. ad. 2 e a. 4;' q. 105, a. 1. O DIREITO NATURAL CLSSICO Na sua forma originria, a doutrina do direito natural clssico; se for plenamente d esenvolvida, idntica doutrina do melhor regime. Pois a questo o que por natureza re cto? ou o que a justia? s encontra a sua resposta completa na elaborao com palavras melhor regime. O carcter essencialmente poltico da doutrina do direito natural clss ico aparece de forma muito clara na Repblica de Plato. Um outro facto quase to reve lador como este prende-se com a circunstncia da discusso do direito natural levada a cabo por Aristteles ser uma parte da sua discusso do direito poltico, o que se t orna mais ntido se se contrastar em particular o incio da exposio de Aristteles com a exposio de Ulpiano, onde o direito natural introduzido como uma parte do direito privado (19). O carcter poltico do direito natural dissipou-se, ou deixou de ser e ssencial, sob a influncia conjunta do direito natural igualitrio antigo e da f bblic a. Segundo a f bblica, o melhor regime em absoluto a Cidade de Deus; portanto, o m elhor regime coevo com a Criao e , por isso, sempre real; a cessao do mal, ou a Reden o efeito da aco sobrenatural de Deus. Assim, a questo do melhor regime perde a sua importncia crucial. O melhor regime, tal como os clssicos o entendiam, deixa de s er idntico com a ordem moral perfeita. O fim da sociedade civil j no a vida virtuosa enquanto tal, mas apenas um determinado segmento da vida virtuosa. A ideia de De us enquanto legislador adquire uma certeza e um carcter definitivo que nunca poss uiu na filosofia clssica. Por conseguinte, o direito natural ou, melhor, a lei na tural torna-se independente do melhor regime e adquire prioridade sobre ele. A S egunda Tbua do Declogo e os princpios nela incorporados tm uma dignidade infinitamen te superior do melhor regime (2) . sob esta forma profundamente modificada que o direito natural clssico exerceu a influncia mais poderosa sobre o pensamento ocide ntal quase desde o princpio da era crist. (19) Aristteles, tica a Nicmaco 1134b18-19; Poltica 1253a38; Digesto, 1.1.14. (") Comparar Toms de Aquino, Summa theologica, II.1 , q. 105, a. 1 com q. 104, a. 3, q. 100, a. 8, e q. 99, a. 4; tambm 11.2, q. 58, a. 6 e a. 12. Ver tambm Heinri ch A. Rommen, The State in Catholic Thought (St. Louis, Mo.: B. Herder Book Co., 1945), pp. 309, 330-331, 477, 479. Milton, Of Reformation Touching Church-Disci pline in England (Milton 's Prose [ed. Oxford World's Classics], p. 55): As nossas fundadoras no so nem a common law, nem a lei civil, mas a piedade e a justia; no mud am de opinio, nem se vergam Aristocracia, Democracia ou Monarquia, nem sequer int errompem as suas justas caminhadas, mas, estando muito acima de repararem nestes detalhes delicados com perfeita simpatia, onde quer que se encontrem, elas beij am-se.. Os it2 licos no esto no original. '1 'v '99 'b `r `T,g -13 'ri' v3l2oloalp vuiums 'otigibv sT."2',L f9VA !8 `siuillbrda `cup3D VUIP1V ff.g-giu9ott fgg -OTTSIE860I-bgq460I vovutRIN v 03R? `slns!-IV 'I PvitiPIV :gq-reggg `g-ic[ogg alpag t4-e9gg-gin8g oD1no,gt9Ing9-1e39 vonql)day 'agem (a) seitau-em sai] no 'cotssw reimuu Oltaitp op somamuutsua p sod -11 sail itn2upstp somapod csoBrA onnut souual tua irrej :eira -oltad59.1 nas r tunmtan as anb saotutdo SEU no somnssu sassap EDI9YE ztp as anb ou apisai c.repupared tua teiruEu onaitp o 'osst iod 'a 'Etreumq Ezaimru rp or5
tajaad areprusa rared oprpdoidE Eppared p oluod o 'Eurtunq Ezaanyeu E JE13411S9 r ied op -EtadOide Eppared ap omod o Efas anb ianbrenb .olr ma oru a 'gemei -rd ma 'oltrepod '915-pra .or5Eztreaa ap oru a or3r1ids-e ap pargo um oulco alspra apm. un E 'sopol tua iaztp oru Eared `sosw sop alardiatem EM .apruitn no or3tapad uns Ep aluaiajtp ripurtu Etun p 9 VIEW -nq Ezaanlru y (ra)O pr op ipared E na E.red somarem as as-nanai Epualod E 'opriluco Tad 'mu 'Epualod rp ip.red E oprumualap .1[S apod oru op r o a 'Epualod E Eared Elsa olye o 011103 -eurtunq Ezaanyeu E -e.red is pripp E anb iaztp Et-as-iapod '59'91915w p ma2Erdur1 E opus n ' sanou a ge-IsnrsEstco srp onadsai E EpunmoDsTp E remou 9 anb ossEd or tuatuoti um 9 aas opeutunalap um as iaqrs E owenb srpunimpstp .Eq oru aluatu-epead fa o E5p snf ap rpm E anb tua op -puas ou EnEmaiqoad 9 ou mamoq ap rpm E anb Er '5-eTapr ap odp Ano um E iaDualiad 91E aaared E5psnf p rpm E `tuatuoti ap rpm E mo o opurardmoD samaiajtp selam ors srm `E5psnr ap rpm E uma Tanpediuw ' Eptnnp ILI9S '9 u_tamoti 9p rpm E 'orind p IL192E112UTI opursn .Eurtunq Ezaimru r p optznpap ias apod oru arpppred tua E5psnr rp a aprpag rp ospaid ialypw o .Eurtunq Ezairpru up or5 -tajiad E no apmatn E 9 rimo 'Eu-etunq Ezairpru E 9 ESTO) nina .efas anb ianb an b op oi-rznpap r,-as-Japod 'r_uatuotr op renTeu UflJ op teimou oltaitp o apnpap E,-as-iapod z-rei Essa Eird oppaulai -uausElaitp ioj as optpuaaidulco aluamrprnbapr aas reaturu o apod outop 'omema oN .Enllod-ridns zrei rum 191 nig/kap reimEu onaitp o 'ontio d-ridns ioj mamoq op ommiy tuu o s suauloti ipu92 otuco saossaidx9 somrsn opurnb 'md maxa iod soprluoij -uco aidmas opts soma] anb tuco apEpp-purp Em= E rnon 913 sou -una' sawe no 'apEpp-wmp Enou rum r znpuco or5En1asqo Elsa 'En95cq4 tln E aprptu2 tp ma aopajut aluaturepuassa 9 rel owenbua -enriod Eptn E 'sap opun2as -scotssEp smad Eprdpalur 'opout oi p 'toj pis omauremsua op rept-11 or5Entpout Elsa omsam 'ultssr Epuw VRIO.LSIFIE -1~11:59N O DIREITO NATURAL CLSSICO diferentes de os clssicos entenderem o direito natural. So ,eles o socrtico-platnico , o aristotlico e o tomista. Quanto aos esticos, parece-me que o seu ensinamento d o direito natural cabe no tipo socrtico-platnico. Segundo um parecer que hoje bast ante comum, os esticos fundaram um tipo inteiramente novo de ensinamento do direi to natural. Mas, para no mencionar outras consideraes, esta opinio no tem em conta a relao estreita entre o estoicismo e o cinismo (22), e foi um socrtico que esteve na origem do cinismo. Para descrever de modo to conciso quanto possvel o carcter do que arriscaremos cham ar o ensinamento socrtico-platnico-estico do direito natural, partiremos do conflito entre as duas opinies mais comuns acerca da justia: a justia boa e a justia consiste em dar a cada um o que lhe devido. a lei que define o que devido a um homem, is to , a lei da cidade define o que devido a algum. Mas esta lei pode ser estpida e, por isso, nociva ou m. Por conseguinte, a justia, que consiste em dar a cada um o que lhe devido, pode ser m. Para que a justia permanea boa, temos de a conceber com o sendo essencialmente independente da lei. Por isso, definiremos a justia como o hbito de dar a cada um o que lhe devido segundo a natureza. A opinio generalizada segundo a qual injusto devolver uma arma perigosa ao seu legtimo dono quando est e louco, ou est decidido a destruir a cidade, d-nos uma ideia do que devido aos ou tros segundo a natureza. Isso significa que nada que cause danos aos outros pode ser justo, ou que a justia o hbito de no causar danos aos outros. Contudo, esta de finio no abrange os casos frequentes em que censuramos como injustos os homens que, na realidade, nunca causaram danos a outros, mas tambm tiveram sempre o cuidado de nunca ajudar ningum com actos ou palavras. A jus'tia ser, pois, o hbito de fazer o bem aos outros. O homem justo aquele que d a cada um, no o que uma lei possivelm ente estpida prescreve, mas o que bom para o outro, isto , o que por natureza bom para ele. No entanto, nem todos sabem o que bom para o homem em geral, e para o indivduo em particular. Tal como s o mdico sabe realmente o que , em cada caso, bom para o corpo, tambm s o sbio sabe realmente o que , em cada caso, bom para a alma. A
ssim sendo, se a justia dar a cada um o que por natureza (22) Ccero, De finibus, 111.68; Digenes Larcio, VI.14-15; V11.3, 121; Sexto Emprico, Pyrrhonica, 111.200, 205. Montaigne ope Da] secte Stoque, plus franche secte Peripatt ique, plus civile (Essais, 11.12 [Chronique des lettres franaises, vol. IV], p. 40). 128 1 DIREITO NATURAL E HISTORIA bom para ele, ento s pode haver justia numa sociedade controlada de modo absoluto p elos sbios. Tomemos o exemplo do rapaz grande que tem um casaco pequeno e do rapaz pequeno q ue tem um casaco grande. O rapaz grande o legtimo dono do casaco pequeno porque e le, ou o seu pai, o comprou. Mas o casaco no bom para ele; no lhe serve. O governa nte sbio tirar o casaco grande ao rapaz pequeno para o dar ao rapaz grande sem ate nder propriedade legal. O mnimo que podemos dizer que a posse justa algo completa mente diferente da posse legal. Para haver justia, os governantes sbios tm de atrib uir a cada um realmente o que lhe devido, ou o que por natureza bom.'Daro a cada um apenas o que cada um poder usar bem. Por isso, a justia incompatvel com o que no rmalmente se entende por propriedade privada. Em ltima anlise, todo o uso tem por finalidade a aco ou fazer qualquer coisa; portanto, a justia requer, sobretudo, qu a cada um seja atribuda uma funo ou um trabalho que ele possa cumprir bem. Mas cada um faz melhor aquilo para que est mais habilitado por natureza. Ento, s h justia numa sociedade em que cada um est encarregue de fazer o que pode fazer bem, e em que cada um tem o que pode usar bem. A justia resume-se pertena dedicada a uma socieda de desse tipo a uma sociedade conforme natureza (") . Temos de ir mais alm. Pode-se dizer que a justia da cidade consiste em agir de aco rdo com o princpio de cada um segundo a sua capacidade e a cada um segundo os seus mritos. Uma sociedade justa se o seu princpio fundamental for a igualdade de oportu nidades, isto , se cada ser humano que dela faa parte tiver a oportunidade, corresp ondente s suas capacidades, de bem merecer do todo e de receber a recompensa apro priada aos seus merecimentos. Como no h boas razes para assumir que a capaciz, dade meritiiria est ligada ao sexo, beleza, etc., a discriminao por causa do sexo, da fea ldade, etc., injusta. nica recompensa apropriada pelo servio prestado a honra, e, por conseguinte, a nica recompensa apropriada por um servio prestado extraordinrio uma grande autoridade. Numa sociedade justa, a hierar(23) Plato, Repblica 331c1-332c4, 335d11-12, 421e7-422d7 (cf. Leis 73968-e3 e Aris tteles, Poltica 1264a13-17), 433e3-434a1; Grito 49c; Clitofon 407e8-408b5, 410b13; Xenofonte, Memorabilia, W.4.12-13, 8.11; Oeconomicus, 1.5-14; Educaao de Ciro, I .3.16-17; acero, Repblica, 1.27-28; 111.11; Leis, 1.18-19; Deveres, 1.28, 29, 31; 111.27; De finibus, 111.71, 75; Lucullus, 136-137; cf. Aristteles, Magna moralia 1199b10-35. O DIREITO NATURAL CLSSICO 129 quia social corresponder estritamente hierarquia do mrito, e s do. mrito. Ora, como regra, a sociedade civil exige como condio indispensvel do acesso aos altos cargos que o indivduo em questo tenha nascido cidado, que seja filho de um pai cidado e de uma me cidad. Noutros termos, de um modo ou de outro a sociedade civil atenua o pr incpio do mrito, isto , o princpio por excelncia da justia, com o princpio completamen e independente da cidadania nativa. Para ser realmente justa, a sociedade civil teria de prescindir deste condicionamento; teria de se transformar num Estado mun dial. Segundo uma certa opinio, esta mudana parece ser necessria se tomarmos em cont a que a sociedade civil enquanto sociedade fechada implica necessariamente que h mais do que uma sociedad e civil, e, por conseguinte, que a guerra uma possibilidade. Assim, a sociedade civil tem de cultivar hbitos belicosos. Mas esses hbitos so contrrios s exigncias da j ustia. Se as pessoas fazem a guerra, ento procuram a vitria, e no esto preocupadas em atrib ao inimigo aquilo que um juiz imparcial e criterioso consideraria benfico para e le. O seu objectivo causar danos aos outros, ao passo que o homem justo apareceu -nos como algum que no causa danos a ningum. Portanto, a sociedade civil forada a es tabelecer uma distino: o homem justo aquele que no faz mal aos seus amigos ou vizin hos, isto , aos seus concidados, mas que, pelo contrrio, os, ama; em contrapartida, faz mal ou odeia os seus inimigos, isto , os estrangeiros que enquanto tais so Pe lo menos inimigos potenciais da sua cidade. Podemos chamar moral cvica a este tipo
de justia, e diremos que a cidade no a pode dispensar. Mas a moral cvica padece de uma contradio inevitvel. Afirma que h diferentes tipos de regras de conduta que se a plicam na guerra e na paz, mas no deixa de considerar como universalmente vlidas p elo menos algumas regras relevantes que, ao que parece, s se aplicam em tempo de paz. A cidade no se pode limitar a declarar que, por exemplo, a artimanha, e em p articular a artimanha que prejudica os outros, m em tempo de paz, mas louvvel em t empo de guerra. No pode deixar de encarar com suspeio o homem que bom na artimanha, ou no pode deixar de encarar como desprezveis ou repugnantes os mtodos sinuosos e dissimulados que so necessrios para garantir o sucesso de uma artimanha. Porm, a ci dade tem de ordenar, e at louvar, esses mtodos quando so usados contra o inimigo. P ara evitar esta contra:, dio, a cidade tem de se transformar num Estado mundial. Mas 130 DIREITO NATURAL E HISTORIA nenhum ser humano, nem nenhum grupo de seres humanos, pode governar todo a human idade de forma justa. por isso que, quando se entende por Estado mundial uma socie dade humana global sujeita a um s governo humano, na realidade tem-se em mente o cosmos governado por Deus, que, por sua vez, a nica verdadeira cidade, ou a cidad e absolutamente conforme natureza, porque a nica cidade que absolutamente justa. Os homens s6 so cidados desta cidade, ou nela so homens livres, quando so sbios; a su a obedincia lei que ordena a cidade natural, a sua obedincia lei natural, coincide com a prudncia (24) . (24) Plato, Poltico 271d3-272a1; Leis 713a2-e6; Xenofonte, Educao de Ciro, 1.6.27-34 ; 11.2.26; Ccero, Repblica, 111.33; Leis, 1.18-19, 22-23, 32, 61; 11.8-11; frag. 2 ; De finibus, W.74; V.65, 67; Lucullits 136-137.J. von Arnim, Stoiconim veterum fragmenta, III, frags. 327 e 334. O problema discutido neste pargrafo abordado na Repblica de Plato por meio do seguinte pormenor, entre outros: A definio de Polemar co segundo a qual a justia consiste em ajudar os amigos e em causar danos aos ini migos preservada no requisito de os guardies trem de ser semelhantes a ces, quer di zer, terem de ser mansos para os amigos ou conhecidos e o oposto de mansos para os inimigos ou estrangeiros (375a2-376b1; cf. 378c7, 537a4-7; e Aristteles, Poltic a 1328a7-11). E preciso notar que Scrates, e no Polemarco, quem primeiro fala de in imigos (332b5; cf. tambm 335a6-7), e que Polemarco serve como testemunha de Scrates na sua discusso com Trasmaco, ao passo que Cltofon serve como testemunha deste ltim o (340a1-cl; cf. Fedro 257b3-4). Se tomarmos em considerao estes elementos, j no nos espantamos com a informao que nos dada no Cltofon (410a7-b1), a saber, que a nica d efinio de justia que Scrates sugeriu a Cltofon aquela que na Repblica Polemarco avan com o auxlio de Scrates. Muitos intrpretes de Plato no ponderam suficientemente a pos sibilidade de Scrates estar to interessado em compreender o que a justia, isto , em compreender toda a complexidade do problema da justia, como est em pregar a justia. Pois se algum est interessado em compreender o problema da justia, tem de passar p ela etapa em que a justia se apresenta a si mesma como idntica moral cvica, e no pod e apressar essa etapa. Pode-se exprimir a concluso do argumento esboado neste pargr afo dizendo que no pode haver verdadeira justia se no houver um governo Ou uma prov idncia divinos. No seria razovel esperar muita virtude ou muita justia da parte de h omens que esto habituados a viver numa condio de escassez extrema a ponto de terem de lutar constantemente uns com os outros para poderem sobreviver. Para haver ju stia entre os homens, tem de se assegurar que eles no sero forados a pensar constant emente na sua mera preservao e a agir para com os seus semelhantes da forma como a maioria dos homens age nessas circunstncias. Mas uma tal responsabilidade no pode caber providncia humana. A causa da justia infinitamente fortalecida se a condio do homem enquanto homem, e em particular a condio do homem no princpio dos tempos (qu ando este ainda no pde ser corrompido por opinies falsas), for um estado de ausncia de escassez. Existe, ento, uma profunda afinidade entre a ideia de lei natural e a ideia de um estado original perfeito: a era de ouro ou o Jardim do den. ' Cf. P lato Leis 713a2-e2, assim como Poltico 271d3-272b1 e 272d6-273a1: o governo de Deu s estava associado abundncia e paz; a escassez conduz guerra. C Poltico 74b5ss. com Protgoras 322a8 ss. 131 O DIREITO NATURAL CLSSICO e Esta soluo do problema da justia transcende obviamente os limites, da vida poltica (
"). Implica que a justia possvel na cidade no pode ser mais do que imperfeita ou no pode ser inequivocamente boa. H ainda outras razes que foram os homens a procurar a justia perfeita, ou em termos mais gerais, a procurar a vida que verdadeiramente conforme natureza alm da esfera poltica. Aqui s podemos indicar essas razes. Em pri meiro lugar, os sbios no desejam governar; tm por isso de ser forados a faz-lo. Assim tem de ser porque toda a sua vida dedicada prossecuo de algo que absolutamente su perior em dignidade s coisas humanas a verdade imutvel. E parece ser contrrio natur eza que se prefira o que inferior ao que superior. Se a procura do conhecimento da verdade eterna o fim ltimo do homem, a justia e a virtude moral em geral s podem ser plenamente legitimadas pelo facto de que so necessrias a esse fim, ou pelo fa cto de serem condies da vida filosfica. Deste ponto de vista, o homem que apenas ju sto ou moral sem ser filsofo como um ser humano mutilado. Assim, surge a questo de saber se o homem moral ou justo que no filsofo pura e simplesmente superior ao ho mem ertico que tambm no filsofo. No mesmo sentido, surge a questo de saber se a just a moral em geral, na medida em que so necessrias vida filosfica, so idnticas, no que diz respeito tanto ao seu sentido como sua extenso, justia e moral tal como so com ummente entendidas, ou se a moral tem duas razes totalmente diferentes, ou se o q ue Aristteles chama virtude moral , na realidade, uma virtude meramente poltica ou vulgar. Esta ltima questo pode tambm ser formulada de uma outra maneira: quando se converte a opinio acerca da moral em conhecimento da moral, no se transcende a dim enso da moral no sentido politicamente relevante do termo? (26) (") Ccero, Leis, 1.61-62; 111.13-14; De finz'bus, W.7, 22, 74; Luczt/hts, 136-137 ; Sneca, Ep. 68.2. (26) Plato, Repblica 486b6-13, 51967-e7, 520e4-521b11, 61967-d1; Fdon 82a10- el; Te eteto 174a4-b6; Leis 804b5-cl. Sobre o problema da relao entre justia e eros, compa rar o Grgias como um todo com o Fedro como um todo. Uma tentativa nesta direco foi feita pr David Grene, Man in His Pride: A Study in the Political Philosophy of Th ucydides and Flato (Chicago: University of Chicago Press, 1950), pp. 13746 (cf. Social Research, 1951, pp. 394-97). Aristteles, tica a Nicmaco 1177a25-34, b16-18, 1178a9-b21; tica a Eudenzo 1248b10-1249b25. Comparar Poltica 1325b24-30 com o para lelismo entre a justia do indivduo e a justia da cidade na Repblica. Ccero, Deveres, 1.28; 111.13-1'7; Repblica, 1.28; De finibus, 111.48; W.22; cf. tambm Repblica, VI. 29 com 111.11; Toms de Aquino, Sunzma theologica, 11.1, q. 58, a. 4-5. DIREITO NATURAL E HISTRIA Seja como for, tanto a dependncia evidente da vida filosfica relativamente cidade, como a afeio natural que os homens tm uns pelos outros, e em particular pelos seus aparentados, quer estes homens tenham boas naturezas ou sejam filsofos potenciais, quer no, obrigam o filsofo a descer uma vez mais caverna, isto , a encarregarem-se dos assuntos da cidade, de uma forma directa ou mais distante. A o descer caverna, o filsofo admite que o que intrinsecamente, ou por natureza, su perior no o mais urgente para o homem, o qual essencialmente um ser a meio caminho entre as bestas e os deuses. Quando tenta dirigir a cidade, o filsofo sabe de antemo que , para que sejam teis ou boas para a cidade, as exigncias da sabedoria tm de ser di ludas ou condicionadas. Se estas exigncias so idnticas ao direito natural ou lei nat ural, ento o direito natural ou a lei natural tm de ser diludos para que sejam comp atveis com as necessidades da cidade. Esta requer que a sabedoria seja conciliada com o consentimento. Mas admitir a necessidade do consentimento, isto , do conse ntimento dos insensatos, equivale a admitir o direito da insensatez, isto , equiv ale a admitir um direito irracional, se bem que inevitvel. A vida cvica requer um compromisso fundamental entre a sabedoria e a tolice, e isso significa um compro misso entre o direito natural que discernido pela razo ou pelo entendimento e o d ireito que se funda exclusivamente na opinio. A vida cvica requer a diluio do direit o natural por meio de um direito simplesmente convencional. O direito natural te ria um efeito explosivo na sociedade civil. Por outras palavras, o bem puro e si mples, o bem por natureza que radicalmente distinto do ancestral, tem de se conve rter no bem poltico, que , por assim dizer, o quociente do bem puro e simples e do ancestral: o bem poltico o que suprime uma grande quantidade de mal sem chocar um
a grande quantidade de preconceitos. nesta necessidade que a convenincia da inexac tido na poltica ou nos assuntos morais em parte se funda(27). A ideia de que o direito natural tem de ser diludo para se tornar compatvel com a sociedade civil constitui a raiz filosfica da distino mais tardia que se fez entre o direito natural primrio e secundrio (28). A distino estava relacionada com a conce po de (27) Plato, Repblica 414b8-415d5 (cf. 331c1-3), 501a9-c2 (cf. 500c2-c18 e 484c8-d3 ).; Leis 739, 757a5-758a2; Ccero, Repblica, 11.57. (28) Cf. R. Stintzing, Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft, I (Munique e . Leipzig, 1880), pp. 302 ss., 307, 371; ver tambm, por exemplo, Hooker, Laws ofE ccle_ siastical Polity, livro I, cap. x, sec. 13. O DIREITO NATURAL CLSSICO que o direito natural primrio, que exclui a propriedade privada e outros traos caractersticos da sociedade civil, dizia respeito ao homem no seu est ado original de inocncia, ao passo que o direito natural secundrio solicitado depois da corrupo do homem como remdio para essa corrupo. ontudo, no podemos negligenciar a diferena entre a ideia de que o direito natural tem de ser diludo e a ideia de um direito natural secundrio. Se os princpios vlidos na sociedade civil correspondem ao direito natural diludo, ento so muito menos vene rveis do que se forem vistos como de direito natural secundrio, isto , como sendo d e instituio divina e acarretando um dever absoluto para o homem decado. S neste ltimo caso que a justia, tal como comummente entendida, inequivocamente boa. S assim qu e o direito natural em sentido estrito ou o direito natural primrio deixa de ser explosivo na sociedade civil. Ccero incorporou nas suas obras, em particular no terceiro livro da Repblica e nos dois primeiros livros das Leis, uma verso mitigada da doutrina estica original da lei natural. Na sua apresentao, no resta quase nenhum vestgio da relao entre o estoic ismo e o cinismo. Tal como apresentada por Ccero, aparentemente a lei natural no p recisa de ser diluda para ser compatvel com a sociedade civil; parece estar em har monia na.tural com a sociedade civil. Assim, o que somos tentados a chamar a dout rina ciceroniana da lei natural est mais prxima daquilo que alguns estudiosos conte mporneos julgam ser a doutrina tpica pr-moderna da lei natural do que qualquer outr a doutrina anterior da qual tenham restado mais do que alguns fragmentos. por is so que importante compreender bem a posio de Ccero face a essa doutrina (29). Nas Leis, onde Ccero e os seus companheiros procuram a sombra e onde ele apresent a a doutrina estica da lei natural, Ccero indica que no est seguro da verdade dessa doutrina. Isso no surpreende. A doutrina estica da lei natural baseia-se na doutri na da providncia divina e numa teleologia antropocntrica. Em Da Natureza dos Deuse s, Ccero sujeita essa doutrina teolgica-teleolgica a uma crtica severa, o que no lhe permite aceit-la seno como uma aparncia aproximativa da verdade. No mesmo sentido, nas Leis, Ccero aceita a doutrina estica da adivinhao (que uma ramificao da doutrina stica da providncia), ao passo que a reprova no segundo livro da Da Adivinhao. Um do s interlocutores nas Leis tico, o amigo de Ccero, (29) Ver, por exemplo, De finibus, 111.64-67. DIREITO NATURAL E HISTRIA que concorda com a doutrina estica da lei natural; mas, por ser um epicurista, tic o no podia ter subscrito essa doutrina porque a considerava verdadeira, ou na qualidade de pensador; subscreveu-a antes na qualidade de cidado romano, e em particular como apoiante da aristocracia, por que a considerava politicamente salutar. E razovel pressupor que a aceitao aparentemente incondicional por parte de Ccero da doutrina estica da lei natural tem a mesma motivao que a de tico. O prprio Ccero diz que escrev eu dilogos para no revelar os seus pontos de vista demasiado abertamente. Afinal d e contas, ele era um cptico da Academia e no um estico. E o pensador de quem se rec lama, e quem mais admira, Plato, o fundador da Academia. O mnimo que se pode dizer que Ccero no considerava que a doutrina estica da lei natural, na medida em que ia mais longe do que a doutrina de Plato do direito natural, era incontestavelmente verdadeira (") . Na Repblica, onde os interlocutores procuram o sol e que reconhecidamente uma imi
tao livre da Repblica de Plato, a doutrina estica da lei natural, ou a defesa da just ia (isto , a demonstrao de que a justia por natureza boa), no apresentada pela pers gem principal. Cipio, que na obra de Ccero toma o lugar que Scrates ocupa no modelo de Plato, est perfeitamente convencido da pequenez de todas as coisas humanas e a spira, portanto, vida contemplativa que se segue morte. Essa verso da doutrina es tica da lei natural a verso exotrica que est em perfeita harmonia com as pretenses d sociedade civil confiada a Llio, que desconfia da filosofia no sentido pleno e e strito do termo, e que se sente absolutamente em casa neste mundo, em Roma; ele senta-se no meio dos interlocutores, imitando assim a terra. Llio chega mesmo ao ponto de no detectar qualquer dificuldade na conciliao da lei natural com as preten ses do Imprio romano. Em contrapartida, Cipio expe a doutrina estica da lei natural n a sua verso original e integral, que incompatvel com as pretenses da sociedade civi l. Mostra igualmente como a fora e a fraude foram necessrias em grandes doses para edificar a grandeza de Roma: o regime romano, que o melhor regime existente, no pura e simplesmente justo. Parece assim indicar que a lei natural em que a socieda de civil se pode apoiar nos seus actos , na realidade, a y (3) Leis, 1.15, 18, 19, 21, 22, 25, 32, 35, 37-39, 54, 56; 11.14, 32-34, 38-39; 1 11.1, 37; Repblica, 11.28; IV.4; De natura deorum, 11.133 ss.; 111.66 ss., 95; De divinatione, ss.; Deveres, 1.22; De finibus, 11.45; Tusc. Disp. V.11. Comparar a anterior nota 24 com nota 22 do capitulo III. O DIREITO NATURAL CLSSICO lei natural diluda por um princpio inferior. Os argumentos contra o carcter natural do direito so apresentados por Filo, um cptico da Academia tal como Ccero (3') . , pois, enganador dizer que Ccero um apoiante da doutrina estica da lei natural. Examinemos agora o ensinamento de Aristteles em matria de direito natural. Desde l ogo temos de notar que o nico tratamento temtico do direito natural que com toda a certeza da autoria de Aristteles, e que exprime os seus prprios pontos de vista pessoais, mal ocupa uma pgina da tica a Nicmaco. Alm disso, a passagem singularmente evasiva; no ilustrada com um nico exemplo do que por natureza justo. Todavia, podemos dizer o seguinte com confiana: segundo A ristteles, no existe uma desproporo fundamental entre o direito natural e as exigncias da sociedade poltica, ou no existe uma necessidade essencial de diluir o direito natural. Neste como em muitos outros aspectos, Aristteles, com a sua mpar sobriedade, ope-se loucura divina de Plato e, por antecipao, aos paradoxos dos estico s. Aristteles d a entender que um direito que transcende necessariamente a socieda de poltica no pode ser o direito natural ao homem, o qual por natureza um animal p quer seja a cidade, quer sejam os cus ou os oltico. Plato nunca discute um assunto nmeros sem manter presente a questo socrtica elementar: Qual a vida boa?. E a vida f losfica impe-se como a verdadeira vida boa. Plato acaba por definir o direito natur al recorrendo directamente ao facto de que a vida do filsofo a nica vida que pura e simplesmente justa. Por sua vez, Aristteles trata os diferentes nveis dos seres, e em particular cada nvel da vida humana, nos seus prprios termos. Quando discute a justia, fala da justia que toda a gente conhece e como entendida na vida poltica , e recusa-se a ser arrastado para o turbilho dialctico que nos leva muito alm da j ustia no sentido comum do termo, rumo vida filosfica. No que Aristteles negue a just ificao ltima desse processo dialctico; e tambm no nega a tenso que existe entre as exi cias da filosofia e as da cidade; ele sabe que o melhor regime em absoluto e o p leno desenvolvimento da filosofia pertencem a pocas totalmente diferentes. Mas su bentende que as etapas intermdias desse processo, embora no sejam absolutamente co nsistentes, so suficientemente consistentes para todos os efeitos prticos. verdade que essas etapas (3') Repblica, 1.18, 19, 26-28, 30, 56-57;111.8-9; I17.4; VI.17-18; cf. ibid., 11 .4, 12, 15, 20, 22, 26-27, 31, 53, com 1.62; 111.20-22, 24, 31, 35-36; cf. tambm De finilms, 11.59. DIREITO NATURAL E HISTRIA s podem existir na penumbra, mas uma razo suficiente para que o 'analista e em par ticular para o analista que tem como preocupao principal a orientao das aces humanas s deixe nessa penumbra. Na penumbra que essencial para a vida humana, enquanto v
ida meramente humana, a justia que pode estar disponvel nas cidades aparenta ser a justia perfeita e inequivocamente boa; no necessrio diluir o direito natural. Aris tteles diz simplesmente que o direito natural uma parte do direito poltico. Isso no quer dizer que o direito natural no exista fora da cidade ou anteriormente a ela . Para no mencionar as relaes entre pais e filhos, a relao de justia que se estabelece entre dois perfeitos estranhos que se encOntram numa ilha deserta no corresponde a uma relao de justia poltica e, no obstante, determinada pela natureza. Aristteles ugere, ento, que a forma mais plenamente desenvolvida de direito natural a que oc orre entre concidados; s entre concidados que as relaes que constituem o objecto do d ireito ou da justia atingem a sua maior densidade e, com efeito, o seu pleno cres cimento. A segunda afirmao feita por Aristteles a respeito do direito natural uma afirmao muit o mais surpreendente do que a primeira a de que todo o direito natural mutvel. Se gundo Toms de Aquino, esta declarao tem de ser entendida com uma restrio os princpios do direito natural, os axiomas donde so deduzidas as-_; regras mais especficas do direito natural, so universalmente vlidos e imutveis; s as regras mais especficas so m utveis (por exemplo; a regra que determina que se devem devolver os depsitos). A i nterpretao tomista est relacionada com a ideia de que h um habitus de princpios prtico s, um hbitus a que Toms de Aquino chama conscincia ou, em termos mais rigorosos, synderesis. Os prprios termos mostram que e sta perspectiva no era partilhada por Aristte les; tem a Sua origem na Patrstica. Alm disso, Aristteles diz explicitamente que.todo o direito e, por maioria de razo, tambm todo o direito natural mu tvel; di-lo Sem quaisquer reservas. Existe urna interpretao medieval alternativa da doutrina de Aristteles, designadamente a perspectiva averrosta ou, em termos mais exactos, a perspectiva que c aracterizava os falsifa (isto , os aristotlicos islmicos), assim como os aristotlicos judaicos. Esta perspectiva foi avanada no mundo c risto pOr Marslio de Pdua e presumivelmente por outros averrostas cristos ou latinos. Segundo Averrois, por direi4 natural Aristteles entende o direito natural positiv o. Ou, cord3- diz Marslio, o direito natural apenas quasi-natural; na verdade, O DIREITO NATURAL CLSSICO 137 produto da instituio humana ou da conveno; mas distingue-se do direito positivo pelo facto de se basear em convenes admitidas de modo universal. Em todas as sociedade s civis se desenvolvem necessariamente as mesmas regras genricas que definem a ju stia. Especificam os requisitos mnimos da sociedade; em traos gerais, correspondem Segunda Tbua do Declogo, mas incluem o comando de adorar a divindade. Apesar do fa cto de essas regras parecerem ser evidentemente necessrias, e de serem universalm ente reconhecidas, elas so convencionais pela seguinte razo: A sociedade civil inc ompatvel com regras imutveis, por mais elementares que sejam; pois, em certas cond ies, a preservao da sociedade pode exigir que se ignorem essas regras; mas, por razes pedaggicas, a sociedade tem de apresentar certas regras, que no so mais do que ger almente vlidas, como se tivessem uma validade universal. Como normalmente as regr as em questo esto em vigor, todos os ensinamentos sociais as proclamam, e no as sua s raras excepes. A eficcia das regras gerais depende de serem ensinadas sem reserva s, sem hesitaes nem condies. Mas a omisso das condies que conferem eficcia s regras, a-as ao mesmo tempo falsas. As regras absolutas so de direito convencional, no de direito natural (32). Esta concepo do direito natural est de acordo com Aristteles n a medida em que admite a mutabilidade de todas as regras de justia. Mas afasta-se da concepo de Aristteles na medida em que implica a negao do direito natural propria mente dito. Ento, como encontrar um meio-termo seguro entre estes tremendos adver srios, Averrois e Toms de Aquino? -se tentado a fazer a seguinte sugesto: Quando fala de direito natural, Aristteles no est a pensar sobretudo em proposies gerais, mas antes em decises concretas. Toda a aco se relaciona com situaes particulares. Da que a justia e o direito natural assent em, por assim dizer, em decises concretas, e no em regras gerais. Na maioria dos c asos, muito mais fcil ver com Clareza que este acto particular de matar foi justo do que especificar com clareza a. diferena entre o homicdio justo enquanto tal e o homicdio injusto enquanto tal. Pode-se dizer de uma lei que resolve com justia u m problema particular de um pas num determinado momento que mais justa do que uma
qualquer regra geral de lei natural que, devido sua generalidade, pode impedir uma deciso justa num caso (") Ver Leo Strauss, Persecution and lhe Ari of Writing (Glencoe, III.: Free"Prs; 1952), pp. 95-141. DIREITO NATURAL E HISTRIA concreto. Em todos os conflitos humanos existe a possibilidade de haver uma deci so justa fundada no exame exaustivo de todas as circunstncias, de haver uma deciso reclamada pela situao. O direito natural consiste nessas decises. Entendido deste m odo, o direito natural obviamente mutvel. Todavia, dificilmente se pode negar que em todas as decises concretas esto implcitos e pressupostos certos princpios gerais . Aristteles reconhecia a existncia de tais princpios, por exemplo, dos princpios qu e declarava quando falava de justia comutativa e distributiva. No mesmo sentido, a su a discusso do carcter natural da cidade (uma discusso que lida com as questes de pri ncpio levantadas pelo anarquismo e pelo pacifismo), para no mencionar a sua discus so da escravatura, uma tentativa de estabelecer princpios de direito. Esses princpi os pareceriam ser universalmente vlidos ou imutveis. Ento, o que quer Aristteles diz er quando afirma que todo o direito natural mutvel? Ou por que que o direito natu ral, em ltima anlise, assenta em decises concretas, e no em regras gerais? A justia comutativa e a justia distributiva no esgotam todos os sentidos da palavra justia. Antes de ser comutativo e distributivo, o justo o bem comum. Normalmente , o bem comum consiste no que exigido pela justia comutativa e distributiva, ou p or outros princpiOS morais desse tipo, ou no que compatvel com essas exigncias. Mas , claro est, o bem comum tambm abrange a mera existncia, a mera sobrevivncia, a mera independncia, da comunidade poltica em questo. Chamemos situao extrema a uma situao e que est em jogo a prpria existncia ou a independncia de uma sociedade. Em situaes ext remas pode haver conflitos entre o que necessrio para a sobrevivncia da sociedade e as exigncias da justia comutativa e distributiva. Em tais situaes, e s nelas, podese dizer com justia que a salvao pblica a lei suprema. Uma sociedade decente no faz a guerra se no tiver uma causa justa. Mas o que far durante_ a guerra depender em ce possivelmente um inimigo selvagem e absolutamente de rta medida do que o inimigo sprovido de escrpulos a forar a fazer. A partida, no se podem definir limites, no se pode impor limites ao que podem vir a ser represlias justas. Mas a guerra project a a sua sombra sobre a paz. A mais justa das sociedades no pode sobreviver sem int elligence, isto , sem espionagem A espionagem impossvel sem que sejam suspensas certa s regras do direito natural. Mas a ameaa s sociedades no provm apenas do exterior. A s consideraes que se aplicam a inimigos estrangeiros po= O DIREITO NATURAL CLSSICO 139 dem muito bem aplicar-se aos elementos subversivos no interior da sociedade. Dei xemos cair um vu pudico sobre estas tristes exigndas. Basta repetir que, em situaes extremas, as regras normalmente vlidas do direito natural so legitimamente alterad as, ou alteradas segundo o direito natural; as excepes so to justas como as regras. E Aristteles parece sugerir que no existe uma nica regra, por mais fundamental que possa ser, que no seja passvel de excepo. Poder-se-ia dizer que em todos os casos se tem de preferir o bem comum ao bem particular, e que esta regra no tem excepes. Ma s esta regra diz apenas que preciso ser justo, e ns estamos ansiosos por saber qu ais so as exigncias da justia ou do bem comum. Ao dizer que em situaes extremas a sal vao pblica a lei suprema, fica implcito que a salvao pblica no a lei suprema em s rmais; em situaes normais, as leis supremas so as regras comuns de justia. A justia t em dois princpios diferentes ou dois conjuntos diferentes de princpios: por um lad o, as exigncias da salvao pblica, ou o que necessrio nas situaes extremas para salva rdar a sociedade, e, por outro lado, as regras de justia no sentido mais exacto d o termo. E no h um princpio que defina claramente em que tipo de casos a salvao pblic , ou as regras exactas de justia, a prevalecer. Pois no possvel definir com preciso o que constitui uma situao extrema em contraposio a uma situao normal. .Todo o perigos o inimigo externo ou interno engenhoso no que toca capacidade de converter o que , com base na experincia anterior, pode razoavelmente ser considerado como uma si tuao normal numa situao extrema. Para ser capaz de lidar com o engenho da perfdia, o direito natural tem de ser mutvel. A justia do que no pode ser decidido antecipadam ente atravs de regras universais, a justia do que pode ser decidido no momento crti co pelo estadista mais competente e mais consciencioso, poder ser mostrada, em re
trospectiva, a todos; um dos deveres mais nobres do historiador consiste na disc riminao objectiva entre aces extremas que foram justas e as aces extremas que foram in justas (33) . importante que a diferena entre a viso aristotlica do direito natural e o maquiavel ismo seja claramente entendida. Maquiavel nega o direito natural porque toma com o referncia as situaes ex(") No que concerne os outros princpios de direito reconhecidos por Aristteles, ba sta notar aqui que, no seu parecer, um homem que no seja capaz de ser um membro d a sociedade civil no necessariamente um ser humano defeituoso; pelo contrrio, pode tratar-se de um ser humano superior. DIREITO NATURAL E HISTORIA tremas em que as exigncias da justia esto reduzidas aos requisitos . da necessidade, e no as situaes normais em que as exigncias da justia no sentido estr ito do termo so a lei suprema. Mais, Maquiavel no tem de superar uma qualquer relutncia perante todos os desvios em relao ao que normalmente justo. Pelo contrrio, parece tirar grande prazer da con templao desses desvios, e no est interessado numa investigao detalhada que mostre se um determinado desvio realmente necessrio, ou no. Por outro lado, o verdadeiro estadista no sentido aristotlico toma como ref erncia a situao normal e o que normalmente justo; com relutncia que se desvia do que normalmente justo e apenas o faz para salvar a causa da justia e da prpria humani dade. No se pode encontrar uma expresso legal desta diferena. Mas a sua importncia p oltica evidente. Os dois extremos opostos, que hoje em dia se chamam cinismo e ideal ismo, coligam-se para tornar a diferena imperceptvel. E, como todos podem ver, no se pode acus-los de terem sido mal sucedidos. A variabilidade das exigncias dessa justia que os homens podem praticar foi reconh ecida no s por Aristteles, mas tambm por Plato. Ambos evitaram a Cila do absolutismo e a Carbdis do relativismo recorrendo a uma concepo que podemos tentar resumir do segui nte modo: Existe uma hierarquia de fins universalmente vlida, mas no existem regra s de aco universalmente vlidas. Sem repetir o que j foi indicado, quando decidimos o que deve ser feito, isto , o que deve ser feito por este indivduo (ou este grupo de indivduos) aqui e agora, preciso perceber no s qual dos objectivos concorrentes goza de um estatuto superior, mas tambm qual o mais urgente nas circunstncias actu ais. O objectivo mais urgente legitimamente preferido ao que menos urgente, e o mais urgente goza, em muitos casos; de um estatuto inferior ao menos urgente. Ma s no se pode erigir em regra universal que a urgncia goza de prioridade sobre o es tatuto; Porquanto, na medida do que nos for possvel, nosso dever fazer da activid ade superior a coisa mais urgente ou a mais necessria. E o mximo de esforo que se p ode esperar varia necessariamente de indivduo para indivduo. A hierarquia de fins o nico padro universalmente vlido. Esse padro suficiente para que se formulem julgam entos ser: bre o grau de nobreza dos indivduos ou dos grupos, das aces e da -institu ies. Mas insuficiente para orientar as nossas aces. ,AdoUtrina tomista do direito natural ou, em termos mais gerais, da lei natural, est isenta das hesitaes e ambiguidades que caracterizam os ensinamentos, no s de Plato e de Ccero, mas tambm O DIREITO NATURAL CLSSICO de Aristteles. Em preciso e nobre simplicidade, a doutrina tomista supera at a dout rina estica da lei natural na sua verso mitigada. Nessa doutrina no restam dvidas qu anto harmonia fundamental entre o direito natural e a sociedade civil, nem quant o ao carcter imutvel das proposies fundamentais da lei natural; os princpios da lei m oral, em particular tal como foram formulados na Segunda Tbua do Declogo, no abrem excepes, a menos talvez que haja urna interveno divina. A doutrina da synderesis ou da conscincia explica por que que a lei natural pode ser em todas as circunstncias devidamente promulgada para todos os homens, sendo, assim, universalmente obrig atria. razovel supor que estas mudanas profundas se deveram influncia da crena na re elao bblica. Se esta suposio estiver correcta, -se forado a perguntar se a lei natural, tal como Toms de Aquino a entende, lei natural no sentido estrito do termo, isto , uma lei conh ecvel pelo esprito humano sem outros auxlios, pelo esprito humano que no iluminado pe
la revelao divina. Esta dvida reforada pela seguinte ponderao: A lei natural que co cvel pelo esprito humano sem outros auxlios, e que prescreve principalmente aces no s entido estrito do termo, est relacionada com o fim natural do homem, ou funda-se nesse fim; o fim duplo: a perfeio moral e a perfeio intelectual; a perfeio intelectua superior em dignidade perfeio moral; mas a perfeio intelectual ou a sabedoria, tal como a razo humana sem outros auxlios a entende, no requer virtude moral. Toms de Aq uino resolve esta dificuldade ao praticamente avanar que, segundo a razo natural, o fim natural do homem insuficiente, ou que aponta para alm de si mesmo, ou, de f orma mais precisa, que o fim do homem no pode consistir na investigao filosfica, par a no mencionar a actividade poltica. Assim, a prpria razo natural cria uma presuno em favor da lei divina, que completa ou aperfeioa a lei natural. Em todo o caso, a d erradeira consequncia da concepo tomista da lei natural que a lei natural praticame nte inseparvel no s da teologia natural isto , de uma teologia natural que na realid ade se baseia na crena na revelao bblica mas inclusivamente da teologia revelada. Fo i em parte como reaco a esta absoro da lei natural pela teologia que apareceu a concepo moderna da lei natural. Os esforos modernos a oiaram-se, em parte, na premissa, que teria sido aceitvel para os clssicos, segund o a qual os princpios morais gozam de uma maior evidncia do que at os ensinamentos da teologia natural, e, portanto, a lei natural ou o direito natural devem mante r DIREITO NATURAL E HISTRIA a sua independncia da teologia e das suas controvrsias. O segundo aspecto importante que constitui um ponto de contacto entre os clssicos e o pensamento poltico moderno por via da sua oposio concepo tomista ilustrado por questes como a indissolubilidade do casamento e o controlo da natalidade. No se compreende uma obra como o Esprito das Leis de Montesquieu se no se levar em considerao o facto de se dirigir contra a concepo tomista do direito natural. Montesquieu tentou devolve r arte do estadista uma amplitude que fora consideravelmente restringida pela do utrina tomista. Os pensamentos privados de Montesquieu sero sempre matria de contr ovrsia. Mas no arriscado dizer que o que ele, enquanto estudioso da poltica e quand o explicita os seus ensinamentos, recomenda como politicamente salutar e justo e st mais prximo do esprito dos clssicos do que de Toms de Aquino. O Direito Natural Moderno DE todos os tericos modernos do direito natural, o mais famoso e o mais influente foi John Locke. Mas Locke dificulta bastante a nossa tarefa de reconhecer quo mo derno ele , ou at que ponto se afasta da tradio do direito natural. Locke era um hom em eminentemente prudente que soube colher a recompensa da sua superior prudncia: foi escutado por muita gente, e exerceu uma influncia extraordinria sobre homens de aco e sobre uma grande parte da opinio. Mas faz parte da prudncia saber quando fa lar e quando estar calado. Por saber isso perfeitamente, Locke teve o bom senso de citar apenas os autores certos e de guardar silencio sobre autores de outro t ipo, apesar de, em ltima anlise, ter mais em comum com os ltimos do que com os prim eiros. Aparentemente Rrchard Hooker, o grande telogo anglicano, que se distinguiu pela elevao de sentimento e pela sobriedade, a sua autoridade: o judicioso Hooker, como Locke, imitando outros, gosta de lhe chamar. Ora, a concepo do direito natura l em Hooker a mesma de Toms de Aquino, e, por sua vez, a concepo tomista recua at ao s Padres da Igreja, os quais, por sua vez, foram discpulos dos esticos, dos discpul os dos discpulos de Scrates. Tudo indica que somos, ento, confrontados com uma trad io ininterrupta de perfeita respeitabilidade que se estende de Scrates at Locke. Mas -.assim que nos damos ao trabalho de confrontar o ensinamento de Locke como um todo com o ensinamento de Hooker como um todo, apercebemo-nos de que, apesar de haver uma certa concordncia DIREITO NATURAL E HISTRIA entre Locke e Hooker, as concepes de direito natural de ambos so fundamentalmente d iferentes. Na passagem de Hooker para Locke, a ideia de direito natural sofrera uma mudana fundamental. Dera-se uma ruptura na tradio do direito natural. No h aqui n ada de surpreendente. O perodo que decorreu entre Hooker e Locke testemunhara o a parecimento da cincia natural moderna, da cincia natural no-teleolgica, e por conseg uinte a destruio do fundamento do direito natural tradicional. O primeiro homem a
tirar para o direito natural as consequncias desta mudana importantssima foi Thomas Hobbes, esse extremista imprudente, mpio e iconoclasta, o primeiro filsofo plebeu , que um autor to delicioso precisamente pr causa da sua franqueza quase juvenil, da sua sempre presente humanidade e da sua clareza e fora maravilhosas. Foi merecidamente castigado pela sua temeridade, em particular pelos seus conterrneos. Apesar de tudo, exerceu uma influncia enorme sobre todo o pensamento poltico posterior, sobre o pensamento continental mas tambm sobre o pensamento ingls, e sobretudo sobre Locke sobre o judicioso Locke, que judiciosamente evitou tanto quanto pde mencionar o nome vituperado com toda a justia de Hobbes. para Hobbes que nos temos de virar se quisermos compreender o carcter especfico do direito natural moderno. A. HOBBES Thomas Hobbes considerava-se a si mesmo o fundador da filosofia poltica ou da cinc ia poltica. bvio que sabia que a grande honra que reivindicava para si era atribuda , por um consentimento quase universal, a Scrates. Nem lhe era permitido esquecer o facto notrio de a tradio que Scrates inaugurara ser ainda poderosa na sua poca. Ma s estava seguro de que a filosofia poltica tradicional era mais um sonho do que um a cincia (1). Os nossos estudiosos contemporneos no se deixam impressionar com a reivindicao de Ho bbes. Fazem notar que Hobbes tinha uma profunda dvida para com a tradio que desprez ava. Alguns deles chegam quase a sugerir que Hobbes foi um dos ltimos esco, (1) Elements of Law, Epistola Dedicatria; 1.1, sec. 1; 13, sec. 3, e 17, sec. 1 .P Corpore, Epistola Dedicatria; De cive, Epistola Dedicatria e prefcio; Opera Lati na, p. xc. Leviathan, caps. XXXI (241) e XLVI (438). Nas citaes de Leviathan, os nm eros entre parntesis indicam as pginas da edio Blackwell's Political Texts. 144 O DIREITO NATURAL MODERNO lsticos. Para que no confundamos as rvores com a floresta, reduziremos por agora os resultados significativos da erudio contempornea a uma nica frase. Hobbes devia tra dio uma nica, mas importantssima, ideia: recebeu da tradio a ideia de que a filosofia poltica ou a cincia poltica possvel ou necessria. Para compreender a espantosa pretenso de Hobbes preciso prestar a mesma ateno sua r ejeio enftica dessa tradio, por um lado, e sua concordncia quase silenciosa com ela, or outro. Assim, primeiro preciso identificar o que essa tradio. Em termos mais rigorosos rimeiro preciso ver a tradio como Hobbes a viu, e esquecer, por alguns momentos, c omo ela se apresenta aos olhos do historiador contemporneo. Hobbes designa pelo n ome os seguintes representantes da tradio: Scrates, Plato, Aristteles, Ccero, Sneca, T to e Plutarco (2) Identifica tacitamente a tradio da filosofia poltica com uma tradio particular, com a tradio cujas premissas podem ser enunciadas da seguinte maneira: o nobre e o justo distinguem-se fundamentalmente do prazenteiro, e so, por natur eza, preferveis a este; ou, h um direito natural que inteiramente independente de qualquer pacto ou conveno humana; ou, h uma ordem poltica que a melhor porque confor me nature-,aa. Hobbes identifica a filosbfia poltica tradicional com a procura do melhor regime, ou da ordem social que pura e simplesmente justa, e portanto com uma actividade que poltica, no s porque lida com assuntos polticos, mas sobretudo p orque animada por um esprito poltico. Identifica a filosofia poltica tradicional co m essa tradio particular que era inspirada por um esprito cvico, ou que era para usa r um termo que , com efeito, muito impreciso, mas que ainda hoje em dia facilment e inteligvel idealista. Quando fala de filsofos polticos anteriores, Hobbes no menciona essa outra tradio qua l poderamos associar os sofistas, Epicuro e Carnades como os seus mais famosos representantes. A tradio anti-ideal a pura e simplesmente no existia para ele enquanto tradio de filosofia poltica. Porq uanto ignorava a prpria ideia de filosofia poltica tal como Hobbes a entendia. Est ava de facto interessada na natureza das coisas polticas, e em particular da just ia. Estava tambm interessada na questo da vida boa do indivduo e, portanto, na questo de saber se, ou como, o indivduo podia usar
a sociedade civil para os seus fins privados e apolticos: para o seu (2) De cive, prefcio, e XII.3; Opera Latina, V, pp. 358-359. DIREITO NATURAL E HISTORIA conforto e para a sua glria. Mas essa tradio no era poltica. No era inspirada por um e sprito cvico. No conservava a orientao dos estadistas ao mesmo tempo que alargava as suas perspectivas. No se dedicava ao cuidado com a ordem justa da sociedade como algo que digno de ser escolhido por si mesmo. Ao identificar tacitamente a filosofia poltica tradicional com a tradio idealista, Hobbes exprime, pois, a sua concordncia tcita com a viso idealista quanto funo ou alc ance da filosofia poltica. Tal como Ccero, Hobbes alinha com Cato na oposio a Carnades . Apresenta a sua 'nova doutrina como o primeiro tratamento verdadeiramente cien tfico ou filosfico da lei natural; concorda com a tradio socrtica ao afirmar que a fi losofia poltica tem por objecto o direito natural. Hobbes tenciona mostrar o que a lei, como Plato, Aristteles, Ccero e outros fizeram; no se refere a Protgoras, nem a Epicuro, nem a Carnades. Receia que o seu livro Leviat possa fazer recordar os seu s leitores da Repblica de Plato; ningum sonharia em comparar o Leviat ao De rerum na tura de Lucrcio(3). a partir de um acordo fundamental com a tradio idealista que Hobbes a rejeita. Pre tende fazer adequadamente o que a tradio socrtica fez de uma maneira perfeitamente desadequada. Pretende ser bem sucedido onde a tradio socrtica falhou. Atribui o fra casso da tradio idealista a um erro fundamental: a filosofia politica tradicional pressups que o homem por natureza um animal poltico ou social. Ao rejeitar esse pr essuposto, Hobbes junta-se tradio epicurista. Aceita a sua perspectiva de que o ho mem por natureza, ou originariamente, um animal apoltico e mesmo associai, assim como aceita a premissa segundo a qual o bem fundamental idntico ao prazer (4). Ma s Hobbes utiliza essa concepo apolitica com uma inteno poltica. Tenta difundir o espri to do idealismo (3) Elements, Epstola Dedicatria; Leviathan, caps. XV (94-95), XXVI (172), XXXI (2 41), e XLVI (437-38). (4) De eive, 1.2; Leviathan, cap. VI (33). Hobbes fala com maior nfase da preserv ao de si mesmo do que do prazer, e aparenta, assim, estar mais prximo dos esticos do que dos epicuristas. A razo pela qual Hobbes acentua a preservao desi consiste no facto de o prazer ser uma aparncia cuja realidade subjacente apenaSmovimento, ao pass o que a preservao de si pertence esfera, no s da aparn?' mas tambm do movimento (c nosa, tica, II, proposio 9 schol. e 1,1 schol,). A superior importncia que Hobbes at ribui preservao de si em relao ao Prazer deve-se, ento, sua concepo de natureza e cia da natureza. Resuha, portanto, de uma motivao inteiramente diferente da que fu nda a perspectiva estoi, apesar de serem na aparncia idnticas. O DIREITO NATURAL MODERNO poltico na tradio hedonista. Assim, Hobbes tornou-se no criador do hedonismo poltico , uma doutrina que revolucionou por toda a parte a vida humana numa proporo jamais igualada por qualquer outra doutrina. A transformao histrica que somos forados a atribuir a Hobbes foi bem compreendida po r Edmund Burke: Anteriormente, a ousadia no era o sinal caracterstico dos ateus enq uanto tais. O seu carcter era quase o oposto; os ateus eram como os antigos epicu ristas, uma raa bastante pouco empreendedora. Mas, nos ltimos tempos, tornaram-se mais activos, imaginativos, turbulentos e sediciosos (5). O atesmo poltico um fenmen o especificamente moderno. Antes disso, nenhum ateu duvidava de que a vida socia l exigia a crena em Deus, ou nos deuses, e a sua adorao. Desde que no nos deixemos e nganar por fenmenos efmeros, percebemos que o atesmo poltico e o hedonismo Poltico so duas faces da mesma moeda. Surgiram no mesmo momento e na mesma mente. Ao tentar compreender a filosofia poltica de Hobbes, no podemos perder de vista a sua filosofia natural. Esta pertence ao tipo que, em termos clssicos, ilustrado p ela fisica de Demcrito e de Epicuro. Porm, Hobbes considerava Plato, e no Epicuro ou Demcrito, o melhor dos filsofos antigos. O que aprendeu com a filosofia natural de Plato no foi que o universo no pode ser compreendido se no for governado por uma int eligncia divina. Independentemente do que possam ter sido os seus pensamentos ntim os, a filosofia natural de Hobbes to atesta como a fisica de Epicuro. Hobbes apren deu com a filosofia natural de Plato que a matemtica a me de toda a cincia da naturez a (6). Por ser simultaneamente matemtica e materialistamecanicista, a filosofia na
tural de Hobbes uma combinao da fsica platnica e da fsica epicurista. Deste ponto de vista, a filosofia ou a cincia pr-moderna no seu conjunto foi mais um sonho do que uma cincia precisamente porque no foi capaz de imaginar essa combinao. Pode-se dizer que a filosofia de Hobbes como um todo o exemplo clssico de uma combinao tipicament e moderna de idealismo poltico com uma viso materialista e atesta do todo. As posies que originariamente so incompatveis uma com a outra podem ser combinadas d e dois modos diferentes. O primeiro (5) Thoughts on French Affairs, em Works. of Edmund Burke (ed. Bohn's Standard Li brary, vol. III), p. 377. (6) Leviathan, cap. XLVI (438); English Works, VI1, p. 346. DIREITO NATURAL E HISTRIA fazer um compromisso eclctico que se mantenha no mesmo plano em que se situavam as posies originrias. O outro modo consiste na sntese possibilitada pela transio do pensamento do plano das posies originrias para um outro plano inteiramente diferente. A combinao efectuada po r Hobbes uma sntese. Pode ter ignorado, ou no, que, de facto, estava a combinar du as tradies opostas. Mas estava perfeitamente ciente que o seu pensamento pressupun ha uma ruptura radical com todo o pensamento tradicional, ou que pressupunha o a bandono do plano em que o platonismo e o epicurismo haviam prosseguido a sua luta se cular. Hobbes, assim como os seus contemporneos mais ilustrs, sentia-se esmagado ou eufric o pela percepo do fracasso completo da filosofia tradicional. Bastou um olhar pela s controvrsias presentes e passadas para o convencer que a filosofia, ou a procur a da sabedoria, no conseguira converter-se em sabedoria. Essa transformao, h muito t empo aguardada, seria agora efectuada. Para ser bem sucedido onde a tradio falhara , era preciso comear por reflectir sobre as condie que tm de ser reunidas para realiz ar a sabedoria: era preciso comear por reflectir sobre o mtodo certo. O propsito de stas reflexes era garantir a realizao da sabedoria. O que manifestou com maior clareza o fracasso da filosofia tradicional foi o fac to de a filosofia dogmtica ter sido sempre acompanhada pela filosofia cptica, como se da sua sombra se tratasse. O dogmatismo ainda no conseguira superar o ceptici smo de uma vez por todas. Garantir a realizao da sabedoria significa erradicar o cepticismo no sem fazer justia verdade nele incorporada. Com este objectiv o em vista, preciso dar rdea solta ao cepticismo extremo: o que sobreviver ao ass alto do cepticismo extremo constitui o fundamento absolutamente seguro da sabedoria. A realizao da sabedoria idnti ca construo de um edificio dogmtico absolutamente confivel sobre os alicerces do cep ticismo extremo (/). A experincia do cepticismo extremo foi ento orientada pela antecipao de um novo tipo de dogmatismo. De todas as pesquisas cientficas conhecidas, s a matemtica fora bem sucedida. Assim, a nova filosofia dogmtica tinha de ser construda segundo o model o da matemtica. O simples facto de o nico conhecimento seguro xvidip estava disponv el no &atar dos fins, mas consistir apenas na com (7) Comparar o argumento de Hobbes com a tese da primeira Meditao Descartes. O DIREITO NATURAL MODERNO 149 parao de figuras e de movimentos gerou um preconceito contra qualquer viso teleolgica , ou um preconceito favorvel a uma perspectiva mecanicista (8) . Talvez seja mais exacto dizer que fortaleceu um preconceito que j existia. Pois provvel que o que Hobbes tinha sobretudo em mente era a viso, no de um novo tipo de filosofia ou de cincia, mas de um universo que unicamente constitudo por corpos e pelos seus movim entos incertos. O fracasso da tradio filosfica predominante podia ser directamente atribudo dificuld ade com que toda a flsica teleolgica se confronta, e de forma bastante natural su rgiu a suspeita de que, graas a presses sociais de vrios tipos, perspectiva mecanic ista nunca fora dada uma oportunidade de dar provas das suas virtudes. Mas preci samente por Hobbes estar principalmente interessado numa perspectiva mecanicista que foi conduzido inevitavelmente, no ponto em que as coisas estavam, ideia de uma filosofia dogmtica fundada no cepticismo extremo. Porquanto Hobbes aprendera com Plato e com Aristteles que, se o universo como a flsica de Demcrito e de Epicur o o descrevem, ento fica excluda a possibilidade de qualquer flsica, de qualquer c
incia, ou, por outras palavras, que o materialismo coerente culmina necessariamen te no cepticismo. O materialismo cientfico no seria possvel se no se conseguisse asseg urar a possibilidade da cincia contra o cepticismo gerado pelo materialismo. S a r evolta preventiva contra um universo entendido ao modo materialista tornaria pos svel uma cincia de um tal universo. Era necessrio descobrir ou inventar uma ilha qu e estivesse isenta do fluxo da causalidade mecnica. Hobbes teve de contemplar a p ossibilidade de uma ilha natural. Um esprito incorpreo estava fora de questo. Por o utro lado, o que aprendera com Plato e com Aristteles f-lo de algum modo perceber q ue o esprito corpreo, composto por partculas muito uniformes e redondas e -que sati sfizera Epicuro, era uma soluo desadequada. Foi forado a perguntar-se se o universo no teria lugar para uma ilha artificial, para uma ilha a ser criada pela cincia. A soluo foi-lhe sugerida pelo facto de a matemtica, o modelo da nova filosofia, ter estado ela mesma exposta a um ataque do cepticismo e se ter revelado capaz de l he resistir por meio de uma transformao ou de uma interpretao especfica. Para evitar o s sofismas dos cpticos relativos a essa to clebre evidncia da geometria (...) julguei (8) Elements, Epistola Dedicatria, 1.13, sec. 4; De cive, Epistola Dedicatria; lev iathan, cap. XI (68); cf. Espinosa, tica, I, Apndice. DIREITO NATURAL E HISTORIA que seria necessrio nas minhas definies exprimir esses movimentos que desenham e de screvem as linhas, as superficies, os slidos e as figuras. Em termos gerais, apena s temos um conhecimento absolutamente seguro ou cientfico dos objectos de que som os a causa, ou cuja construo est ao nosso alcance ou depende da nossa vontade arbit rria. A construo no estaria inteiramente ao nosso alcance se houvesse um nico passo d essa construo que no estivesse totalmente sujeito nossa superviso. A construo tem de er uma construo consciente; impossvel conhecer uma verdade cientfica sem saber ao me smo tempo que fomos os seus autores. A construo no estaria inteiramente ao nosso al cance se recorresse a alguma matria, isto , a qualquer coisa que no fosse uma const ruo nossa. O mundo (-1.2s nossas construes est completamente despido de enigmas porqu e somos a sua nica causa e porque temos um conhecimento perfeito da sua causa. A causa do mundo das nossas construes no tem uma causa ulterior, uma causa que no este ja plenamente ao nosso alcance; o mundo das nossas construes tem um comeo absoluto, trata-se de uma criao no sentido estrito do termo. O mundo das nossas construes , po rtanto, a ilha desejada que est isenta do fluxo da causalidade cega e incerta(9). A descoberta ou a inveno dessa ilha parecia garantir a possibilidade de uma filos ofia ou cincia materialista e mecanicista, sem que isso forasse a pressuposio de uma alma ou de um esprito irredutvel matria mvel. Essa descoberta ou inveno (9) English Works,VI1, p. 179 ss.; De homine, X.4-5; De cive, XV1II.4 e XVII.28; De corpore, XXV .1; Elements, ed. Tnnies, p. 168; quarta objeco s Medita0es de Desc artes. A dificuldade a que a concepo hobbesiana de cincia est exposta indicada pelo facto de que, como diz Hobbes, toda a filosofia ou a cincia desfia consequncias" (c f. Leviathan, cap. IX), embora tenha a sua origem em experincias (De cive; XV11.12) , isto , em ltima anlise, a filosofia ou a cincia dependem do que dado; e no do que onstrudo. Hobbes tentou resolver esta dificuldade distinguindo as ncias propriamen te ditas, que so puramente construtivas ou demonstrativas (a mate mtica, a cinemtic a e a cincia poltica), da fsica, que goza de um estatuto inferior s primeiras (De co rpore,XXV.1; De homine, X.5). Essa soluo cria uma nova dificuldade, j que a cincia p olitica pressupe o estudo cientfico da natureza do homem, o que faz parte da fsica (Leviathan, cap. IX em ambas as verses; De homine, Epistola Dedicatria; De corpore , VI.6). Aparentemente, Hobbes tentou resolver esta nova dificulda:.. de da segu inte maneira: possvel conhecer as causas dos fenmenos polticos, quei- descendo dos fenmenos mais gerais (a natureza do movimento, a natureza dos serOk vivos, a natu reza do homem) at a essas causas, e ascendendo dos fenmenos poltico tal como cada u m os conhece pela experincia, at a essas mesmas causas (De corpore, VI.7). Em todo o caso, Hobbes afirmava energicamente que a cincia poltica pode , basear, ou cons istir, na experincia por oposio s demonstraes (De honzk, Epstola Dedicatria; De Leviathan, introduo e cap. XXXII, in princ.) O DIREITO NATURAL MODERNO acabaria por permitir uma atitude de neutralidade ou de indiferena face ao confli to secular entre o materialismo e o espiritualismo. Hobbes tinha o desejo sincer o de ser um materialista metafisico. Mas foi forado a contentar-se com um materiali
smo metdico. S compreendemos aquilo que criamos. Como no criamos os seres naturais, estes so ini nteligveis no sentido estrito do termo. Segundo Hobbes, este facto perfeitamente compatvel com a possibilidade de uma cincia da natureza. Mas tem como consequncia q ue a cincia da natureza , e ser sempre, fundamentalmente hipottica. Porm, isso tudo o que necessitamos para nos convertermos em donos e senhores da natureza. Ainda a ssim, por muito bem sucedido que o homem possa ser na conquista da natureza, nun ca ser capaz de compreend-la. O universo permanecer para o homem um perfeito enigma . Em ltima anlise, este facto que explica a persistncia do cepticismo, e que em cer ta medida o justifica. O cepticismo o resultado inevitvel do carcter ininteligvel d o universo ou da crena infundada na sua inteligibilidade. Por outras palavras, co mo as coisas naturais enquanto tais so misteriosas, o conhecimento ou a certeza g erada pela natureza carece necessariamente de evidncia. O conhecimento baseado no exerccio natural da mente humana est necessariamente sujeito dvida. por esta razo q ue Hobbes se afasta em particular do nominalismo pr-moderno. O nominalismo pr-mode rno confiava no exerccio natural da mente humana. Em particular, exibia essa conf iana quando ensinava que natura occulte operatur in universalibus, ou que as antec ipaes em funo das quais nos orientamos tanto no decurso da vida quotidiana, como na c incia, so produtos da natureza. Para Hobbes, a origem natural dos universais ou da s antecipaes constitua uma razo irrecusvel para os abandonar em favor de ferramentas i ntelectuais artificiais. No existe harmonia natural entre o esprito humano e o univ erso. O homem pode garantir a realizao da sabedoria, j que a sabedoria idntica construo l e. Mas a sabedoria no pode ser uma construo livre se o universo for inteligvel. O ho mem pode garantir a realizao da sabedoria, no apesar de o universo ser ininteligvel, - mas, pelo contrrio, porque o universo ininteligvel. O homem s pode ser soberano p orque a sua humanidade no encontra qualquer - ponto de apoio no cosmos. S pode ser soberano porque um absoluto estranho no un iverso. S pode ser soberano porque forado a ser soberano. Como o universo ininteligvel, e como o domnio da natureza no requer a sua compreenso, no h limites conhecveis DIREITO NATURAL E HISTORIA conquista da natureza pelo homem. O homem no tem nada perder seno os seus grilhes, e, tanto quanto lhe dado a perceber, pode ter tudo a ganhar. Apesar de tudo, uma coisa certa: a misria o estado natural do homem; a viso da Cidade do Homem erigid a sobre as runas da Cidade de Deus uma esperana infundada. Para ns dificil compreender como Hobbes pde ser to optimista quando havia tantas ra zes pari desesperar. provvel que, de algum modo, a experincia, assim como a antecip ao legtima, de um progresso inaudito na esfera que est sujeita ao controlo humano o tenha tornado insensvel ao silncio eterno desses espaos infinitos ou fendas dos moeni a mundi. Para sermos justos para com Hobbes, Cpreciso acrescentar que as inmeras desiluses sofridas pelas geraes posteriores ainda no conseguiram extinguir a esperana que ele alimentava juntamente com os seus contemporneos mais ilustres. Menos ain da conseguiram destruir os muros que Hobbes levantou, e que, dir-se-ia, tinham c omo funo limitar a sua viso. Com efeito, as construes conscientes foram substitudas pe los movimentos no imprevistos da Histria. Mas a Histria limita a nossa viso exactamen da mesma forma que as construes conscientes limitaram a viso de Hobbes: tambm a Histri a desempenha a funo de enaltecer o estatuto do homem e do seu mundo ao lev-lo ao esque cimento do todo ou da eternidade (10). No seu estdio final a limitao especificament e moderna encontra a sua expresso na sugesto de que o princpio supremo, que, enquan to tal, no (1) Duas citaes de autores que pertencem a campos opostos mas mesma famlia espiritua l podem servir de ilustrao. Lemos na obra de Friedrich Engels, Ludwig Fezterbach u nd der Aztsgang der dezaschen klassichen Philosophie: .nada subsiste ante ela [a filosofia dialctica] seno o ininterrupto processo do devir e do perecer, da ascen so sem fim do inferior ao superior (...) No precisamos de entrar aqui na questo de saber se esta maneira de ver est de acordo com o estado actual da cincia da nature mas para a sua habitabil za que prev para a existncia da prpria Terra um possvel fim idade um fim bastante seguro , que, portanto, atribui tambm histria humana no s um ra
mo ascendente como tambm um descendente. Encontramo-nos, em todo o caso, ainda ba stante longe do ponto de viragem. Lemos na obra de J. J. Bachofen, Die Sage von T anaquil: O Oriente atm-se ao critrio da natureza, o Ocidente substitui-o pelo histri co (...) Poderamos sentir a tentao de reconhecer nesta subordinao da ideia divina hum ana o ltimo grau da decadncia de um ponto de partida mais antigo e mais elevado (. .) E, no entanto, este retrocesso contm contem o germe de um progresso muito mais importante. Pois como tal que devemos considerar cada libertao do nosso esprito dos grilhes paralisantes de um modo csmico-fsico de considerar a vi (...) Se o Etrusco de temperamento sombrio cr na finitude da sua raa, j Romano se a legra com a eternidade do seu Estado de que no capaz de duvidar.. (Os - itlicos no e sto no original). O DIREITO NATURAL MODERNO tem qualquer relao com nenhuma causa ou causas possveis do todo, o substrato mister ioso da Histria e, por estar associado ao homem e s a ele, no eterno, mas coevo da hi stria humana. Para regressar a Hobbes, a sua concepo de filosofia ou de cincia tem as suas razes n a convico de que uma cosmologia teleolgica impossvel, e no sentimento de que uma cos mologia mecanicista no satisfaz o requisito da inteligibilidade. Hobbes soluciona o problema afirmando que o fim ou os fins sem os quais nenhum fenmeno pode ser c ompreendido no tm de ser inerentes aos fenmenos; o fim inerente ao interesse no con hecimento suficiente. O conhecimento enquanto fim fornece o princpio teleolgico in dispensvel. O que substitui a cosmologia teleolgica no a nova cosmologia mecanicist a, mas aquilo a que mais tarde se chamar epistemologia. Contudo, o conhecimento no p ode constituir o fim se o todo for pura e simplesmente ininteligvel: Scientia pro pter potentiam(1l). Em ltima anlise, toda a inteligibilidade ou toda a significao es t enraizada nas necessidades humanas. O fim, ou o fim mais premente que o desejo humano impe, o princpio supremo, o princpio organizador. Mas se o bem humano se torna no princpio supremo, en to a cincia poltica ou a cincia social torna-se no tipo mais importante de conhecime nto, como Aristteles antevira. Nas palavras de Hobbes, Dignissima certe scientiar um haec ipsa est, quae ad Principes pertinet, homines que in regendo genere huma no occupatos(12). Assim, no basta dizer que Hobbes concorda com a tradio idealista quanto funo e alcance da filosofia poltica. As suas expectativas relativamente filo sofia politica so incomparavelmente maiores do que as expectativas dos clssicos. No h um sonho de Cipio iluminado por uma viso verdadeira do todo a recordar os seus l eitores da derradeira futilidade de tudo o que os homens podem fazer. Da filosof ia poli.tica assim concebida, Hobbes o verdadeiro fundador. Foi Maquiavel, maior do que Colombo, que descobrira o continente onde Hobbes pod ia erigir a sua estrutura. Quando se tenta compreender o pensamento de Maquiavel , muito conveniente recordar as palavras que o inspirado Marlowe lhe atribuiu: Eu (...) declaro que a (11) De colpore, 1.6. O abandono do primado da contemplao ou da teoria em favor do primado da prtica a consequncia necessria do abandono do plano sobre o qual o platonismo e o epicurismo haviam prosseguido a sua luta. Porquant o a sntese do platonismo e do epicurismo depende por inteiro da ideia de que comp reender fazer. (12) Aristteles, tica a Nicmaco 1141a20-22; De cive, prefcio; cf. Opera Latina, IV, pp. 487488: a filosofia poltica a nica parte sria da filosofia. DIREITO NATURAL E HISTRIA ignorncia o nico pecado. Esta quas a definio do filsofo. De resto, nenhuma pessoa da jamais duvidou que Maquiavel, no seu estudo dos assuntos polticos, tivesse espr ito cvico. Sendo um filsofo com esprito cvico, Maquiavel prosseguiu a tradio do ideali smo poltico. Mas combinou a concepo idealista da nobreza intrnseca da aco politica com uma concepo anti-idealista, se no do todo, pelo menos das origens do gnero humano o u da sociedade civil. A admirao de Maquiavel pela prtica poltica da antiguidade clssica e, em particular, d a Roma republicana apenas a outra face da sua rejeio da filosofia poltica clssica. M aquiavel rejeitou a filosofia poltica clssica, e por conseguinte toda a tradio da fi losofia poltica no sentido pleno da palavra, por ser intil: A filosofia poltica clss ica tinha por referncia a pergunta como devem os homens viver?; ora o modo correcto
de responder questo da ordem justa da sociedade consiste em ter por referncia a m aneira como os homens efectivamente vivem. A revolta realista de Maquiavel contra a tradio conduziu substituio da excelncia humana, ou, mais precisamente, da virtude m oral e da vida contemplativa, pelo patriotismo ou pela virtude meramente poltica. Acarretou um abaixamento deliberado do objectivo final. O objectivo final abaix ado de forma a aumentar a probabilidade de o alcanar. Tal como mais tarde Hobbes abandonaria o sentido originrio de sabedoria de forma a garantir a sua realizao, ta mbm Maquiavel abandonou o sentido originrio da boa sociedade ou da vida boa. Maqui avel no estava nada preocupado com o que aconteceria s inclinaes naturais do homem, ou da alma humana, cujas exigncias pura e simplesmente transcendem esse objectivo limitado. Desconsiderava essas inclinaes. Limitou o seu horizonte para obter resu ltados. E quanto ao poder do acaso, a Fortuna aparecia na forma de uma mulher qu e pode ser dominada pelo tipo certo de homem: o acaso pode ser conquistado. Maquiavel justificava a sua procura de uma filosofia poltica realista atravs de refl exes sobre os fundamentos da sociedade civil, o que significa, em ltima anlise, ref lexes sobre o todo no seio do qual o homem vive. A justia no tem um fundamento natu ral, nem sobre-humano. Todas as coisas humanas esto sujeitas a demasiada oscilao pa ra podermos sujeit-las a princpios estveis de justia. Mais do que o propsito moral, a necessidade que determina, em cada caso, qual deve ser a conduta a adoptar. Por tanto, a sociedade civil no pode aspirar a ser pura e simplesmente justa. Toda a legitimida_.de tem as suas razes na ilegitimidade; todas as ordens sociais O DIREITO NATURAL MODERNO ou morais 'foram estabelecidas com o auxlio de meios moralmente questionveis; a so ciedade civil tem as suas razes, no na justia, mas na injustia. O fundador da mais cl ebre de todas as comunidades polticas era um fratricida. Seja qual for a acepo que se lhe atribua, a justia s possvel depois de instaurada uma ordem social; a justia s possvel no seio de uma ordem criada pelo homem. Porm, a fundao da sociedade civil, o exemplo supremo em poltica, , no interior da sociedade civil, imitada em todos os casos extremos. Maquiavel tem como ponto de referncia no tanto a situao em que os h omens vivem, mas antes o caso extremo. Acredita que a situao extrema mais revelado ra das razes da sociedade civil, e, portanto, do seu verdadeiro carcter, do que a situao normal (13) . A raiz ou a causa eficiente toma o lugar do fim ou do propsito . Foi a dificuldade implicita na substituio da virtude moral pela virtude meramente poltica, ou a dificuldade implcita na admirao de Maquiavel pelas polticas predadoras da Roma republicana (14), que induziu Hobbes a tentar restaurar os princpios mora is da poltica, isto , a tentar restaurar a lei natural, no mesmo plano do realismo m aquiavlico. Ao fazer essa tentativa, Hobbes teve sempre presente no seu esprito o facto de o homem no conseguir garantir a realizao da ordem social justa se no tiver um conhecimento seguro ou exacto ou cientfico tanto da ordem social justa, como d as condies da sua realizao. Portanto, tentou, em primeiro lugar, proceder a uma rigo rosa deduo da lei natural ou moral. Para evitar os sofismas dos Cpticos, era preciso tornar a lei natural independente de quaisquer antecipaes naturais e, por isso, do c onsensus gentium(5). A tradio predominante definira a lei natural por relao ao fim o u perfeio do homem enquanto animal racional e social. O que Hobbes tentou fazer co m base na objeco fundamental de Maquiavel ao ensinamento utpico da tradio, apesar de se opor soluo maquiavlica, foi conservar a ideia de lei natural, mas separando-a da ideia da perfeio humana; a lei natural s ser eficaz ou s ter valor prtico se puder se deduzida do modo 'em que os homens efectivamente vivem, se puder ser deduzida d a fora mais poderosa que efectivamente determina a conduta de todos os homens, ou da maior parte dos homens na maior parte das ocasies. O fundamento completo da l ei natural tem de ser ('a) Cf. Bacon, Advancement of Learning (ed. .Everyman's Library ), pp. 70-71. (14) De cive, Epstola Dedicatria. (15) Ibid., DA. DIREITO NATURAL E HISTRIA procurado, no no fim do homem, mas nas suas origens(16), na prima naturae ou, mel hor, no primum naturae. O que mais poderoso para a maior parte dos homens na maior parte das ocasies no a razo, mas a paixo. A lei na tural no ser eficaz se os seus princpios forem contestados pela paixo ou se lhe desa
gradarem (17). A lei natural tem de ser deduzida da mais poderosa de todas as pa ixes. Mas a mais poderosa de todas as paixes ser um facto natural, e no devemos pressupor que a justia, ou o que humano no homem, tm um fundamento natural. Ou existir uma p aixo, ou um objecto da paixo, que seja em certo sentido anti-natural, e que marca o ponto de indiferena entre o natural e o no-natural, que , por assim dizer, o stat us evanescendi da natureza, e, portanto, uma origem possvel para a conquista da n atureza ou para a liberdade? A mais poderosa de todas as paixes o medo da morte, e, mais precisamente, o medo da morte violenta s mos de outros homens: no a naturez a, mas esse terrvel inimigo da natureza, a morte, isto , a morte na medida em que o homem possa fazer algo para a evitar, ou para a vingar, que providencia a orient ao crucial('8). A morte ocupa o lugar do telas. Ou, para manter a ambiguidade do p ensamento de Hobbes, digamos que o medo da morte violenta exprime com a maior ac uidade o mais poderoso e o mais fundamental de todos os desejos naturais, o desej o inicial, o desejo de preservao de si mesmo. Se, ento, a lei natural tem de ser deduzida do desejo de preservao de si, por outra s palavras, se o desejo de preservao de si a nica raiz de toda a justia e de toda a moral, ento o facto moral fundamental no um dever, mas um direito; todos os devere s derivam de um direito fundamental e inalienvel de preservao de si. No h, pois, deve res absolutos ou incondicionais; os deveres s so vinculativos na 3 medida em que o seu cumprimento no ponha em causa a nossa preservao. S o direito de preservao de si ncondicional ou absoluto. (16) No subttulo de Leviatil (A Matria, Forma e Poder de uma Comunidade Poltica), o fim no mencionado. Ver tambm o que Hobbes diz sobre o seu mtodo no prefcio d e De cive. Afirma que deduziu o fim das origens. Na verdade, Hobbes deu o fim po r adquirido; pois descobriu as origens por meio de uma anlise da natureza humana e dos assuntos humanos com esse fim (a paz) em vista (cf. De cive, 1.1, e Leviat han, cap. XI, in jorinc.). No mesmo sentida_ na sua anlise do direito e da justia, Hobbes d por adquirida a concepo de justia geralmente aceite (De cive, Epstola Dedic atria). (17) Elements, Epstola Dedicatria. (15 Ibid., 1.14, sec. 6; De cive, Epstola Dedicatria, 1.7, e 111.31; Leviathan, ca ps. XIV (92) e XXVII (197). Teramos de partir daqui para compreendermos o papel d o romance policial na orientao moral dos nossos dias. '41:4 00 O DIREITO NATURAL MODERNO Por natureza apenas existe um direito perfeito e nenhum dever per feito. A lei n atural, que formula os deveres naturais do homem, no uma lei no sentido prprio da palavra. Como o facto moral fundamental e absoluto um direito, e no um dever, a f uno da sociedade civil, bem como os seus limites, tm de ser definidos em termos do direito natural do homem, e no em termos do seu dever natural. O Estado tem a funo, no de gerar ou promover a vida virtuosa, mas de salvaguardar o direito natural d e cada um. E o poder do Estado encontra o seu limite absoluto nesse direito natu ral e em mais nenhum outro facto moral (19) . Se podemos chamar liberalismo dout rina poltica que considera os direitos do homem, por contraposio aos seus deveres, como o facto poltico fundamental, e que identifica a funo do Estado com a proteco ou a salvaguarda desses direitos, ento temos de dizer que Hobbes foi o fundador do l iberalismo. Ao transplantar a lei natural para o terreno de Maquiavel, Hobbes originou sem dv ida um gnero inteiramente novo de doutrina poltica. As doutrinas pr-modernas da lei natural ensinavam os deveres do homem; quando prestavam alguma ateno aos direitos era para conceb-los essencialmente como derivaes dos deveres. Como j se notou frequ entemente, no decurso dos sculos XVII e XVIII colocou-se uma nfase muito maior nos direitos do que acontecera at ento. Pode-se dizer que a nfase posta nos deveres na turais foi substituda pela nfase nos direitos naturais("). Mas mudanas quantitativa s deste tipo s se tornam inteligveis quando so vistas no contexto de uma mudana qual itativa e fundamental, para no dizer que tais mudanas quantitativas s so possveis graa s a uma mudana qualitativa e fundamental. A mudana fundamental de uma orientao segun
do deveres naturais para unta orientao segundo direitos naturais encontra a sua ex presso mais clara e mais sintomtica no ensinamento de Hobbes, o qual fez directame nte de um direito natural incondicional a base de todos deveres naturais, sendo estes, portanto, apenas condicionais. Hobbes o porta-voz clssico e o fundador de uma doutrina da lei natural especificamente moderna. Esta mudana profunda pode se r directamente atribuda ao interesse (19) De cive, 11.10, in fine, 18-19; 111.14, 21, 27 e anotaes, 33; VI.13; XIV.3; L eviathan, caps. XIV (84, 86-87), XXI (142-143), XXVIII (202) e XXXII (243). (") Cf. Otto von Gierke, The Development of Political Theory (Nova Iorque, 1939) , pp. 108, 322, 352; e J. N. Figgis, The Divine Right of Kings (20 ed.; Cambridg e: Cambridge University Press, 1934), pp. 221-223. Kant j se pergunta por que que a filosofia moral se chama a doutrina dos deveres e no a doutrina dos direitos ( ver Metaphysik der Sitten, ed. Vorlaender, p. 45). DIREITO NATURAL E HISTORIA de Hobbes numa garantia humana da reali7ao da ordem social justa ou sua inteno realista. A reali7ao de uma ordem social que se define em termos dos deveres do homem necessariamente incerta e at improvvel; uma tal ordem pode muito bem parecer utpicaj uma ordem social que se d efine em termos dos direitos do homem bastante diferente. Porquanto os direitos em questo exprimem, ou pretendem exprimir, algo que todos efectivamente desejam; consagram o interesse prprio de c ada indivduo tal como cada um o entende ou pode ser facilmente levado a conceb-lo. Podemos contar mais seguramente com que os homens lutem pelos seus direitos do que cumpram os seus deveres. Nas palavras de Burke: O pequeno catecismo dos direi tos dos homens, rapidamente aprendido; e as inferncias esto nas paixes (21). A respeito da formulao c sica de Hobbes, acrescentamos que as premissas esto j nas paixes. O que se exige para tornar o direito natural moderno eficaz recorrer s luzes ou propaganda, em vez de exortaes morais. A partir daqui odemos compreender o facto frequentemente observado de que, no perodo moderno, a lei natural tornou-se numa fora muito mais revolucionria do que fora no passado. Esse facto uma consequncia directa da mudana fundamental no carcter da prpria doutrina da lei natural. A tradio a que Hobbes se ops pressupusera que o homem no pode alcanar a perfeio da sua natureza seno no interior, e atravs da, sociedade civil, e, portanto, que a sociedade civil anterior ao indivduo. Foi este pressuposto que conduziu ideia de que o principal facto moral o dever e no os direitos. No se podia afirmar a primazia dos direitos naturais sem afirmar que o indivduo , em todos os aspectos, anterior sociedade civil: todos os direitos da sociedade civil ou do sobera no decorrem dos direitos que originariamente pertencem ao indivduo (22). O indivduo enquanto tal, o indivduo independentemente das suas qualidades e no apenas, como Aristteles propusera, o homem que tran scende a humanidade tinha de ser pensado como um ser essencialmente completo, sem que a sociedade civil lhe fosse necessria. Es ta concepo est implcita na afirmao de que existe um estado de natureza que antecede a sociedade civil. Segundo Rousseau, os filsofos que examinaram os fundamentos da so ciedade civil sentiram todos a necessidade de recuar at ao estado de natureza. ver dade que a procura- da ordem social justa inseparvel da refle(21) Thoughts on French Affairs, p. 367. (2') De cive, VI.5-7; Leviathan, caps. XVIII (113) e XXVIII (202-203). O DIREITO NATURAL MODERNO 159 e xo sobre as origens da sociedade civil ou sobre a vida pr-poltica do homem. Mas a i dentificao da vida pr-poltica do homem com o estado de natureza urna concepo partic uma concepo que de modo algum partilhada por todos os filsofos polticos. S com Ho que mesmo assim quase pedia desculpa por usar esse termo, que o estado de natur eza se converteu num tpico essencial da filosofia poltica. S a partir de Hobbes que a doutrina filosfica da lei natural se tornou essencialmente numa doutrina do es tado de natureza. Antes dele, o contexto natural da expresso estado de natureza era
a teologia crist, e no a filosofia poltica. O estado de natureza distinguia-se em particular do estado de graa, e subdividia-se em estado de natureza pura e estado de natureza decada. Hobbes abandonou a subdiviso, e substituiu o estado de graa pe lo estado de sociedade civil. Negava, assim, se no o facto, pelo, menos a importnc ia da Queda, e afirmava, em conformidade, que aquilo que era necessrio para remed iar as deficincias ou as inconvenincias do estado de natureza no era a graa divina, ma s o tipo certo de governo humano. Esta implicao anti-teolgica do estado de natureza s com dificuldade pode ser separada do seu sentido intrinsecamente filosfico, que o de tornar inteligvel a primazia dos direitos em contraposio aos deveres: o estado de natureza originariamente caracterizado pelo facto de nele haver direitos perf eitos, mas no deveres perfeitos(). (") De eive, prefcio: conditionem hominum extra societatem civilem (quarn conditio nem appellare liceat statum naturae).. Cf. Locke, Treatises of Civil Government, II, 15. Para o significado originrio do termo, cf. Aristteles, Fsica 246a10-17; Ccer o, Deveres, 1.67; De finibus, 111.16, 20; Leis, 111.3 (cf. tambm De cive, 111.25) . Segundo os clssicos, o estado de natureza seria a vida numa sociedade civil sau dvel e no a vida que antecede a sociedade civil. verdade que os convencionalistas afirmam que a sociedade civil convencional ou artificial, o que implica a sua de svalorizao. A maioria dos convencionalistas no identifica a vida que antecede a soc iedade civil com o estado de natureza: identifica, sim, a vida conforme natureza com a vida de plenitude humana (seja ela a vida do filsofo ou a vida do tirano); a vida conforme natureza , portanto, impossvel na condio primeva que antecede a soc iedade civil. Por outro lado, os convencionalistas que identificam a vida confor me natureza, o estado de natureza, com a vida que antecede a sociedade civil, co nsideram que o estado de natureza prefervel sociedade civil (cf. Montaigne, Essai s, 11.12, Chronique des lettres franaises, III, p. 311). A ideia hobbesiana de es tado de natureza pressupe a rejeio tanto da concepo clssica, como da concepo convenci lista, porque Hobbes nega a existncia de um fim natural, de uni summum bonum. Por conseguinte, identifica a vida natural com as origens, com a vida dominada pelas necessidades mais elementares; e, ao mesmo tempo, Hobbes defende que estas orige ns so defeituosas e que a deficincia remediada pela sociedade civil. Segundo Hobbe s, no h qualquer tenso entre a sociedade civil e o que natural, ao passo que, segun do o convencionalismo, existe uma tenso entre a sociedade civil e o que natural. Da DIREITO NATURAL E HISTRIA Se cada um tem por natureza o direito de se preservar, ento tem forosamente o direito aos meios necessrios para a sua preservao. Neste ponto do raciocnio surge a questo de saber quem deve ser o juiz dos meios necessrios para a preservao de cada um, ou quais os meios que so apropriados ou justos. Os clssicos teriam respondido que o juiz natur al o homem de sabedoria prtica, e esta resposta reconduziria, por fim, concepo de q ue o melhor regime em absoluto o governo absoluto dos sbios, e que o melhor regim e praticvel o governo dos gentil-homens. Contudo, segundo Hobbes, cada um por nat ureza o juiz dos meios justos para garantir a sua preservao. Pois, mesmo concedend o que o sbio , em princpio, um juiz mais competente, estar muito menos preocupado co m a preservao de um tolo do que o prprio tolo. Mas se cada um, por mais tolo que se ja, for por natureza o juiz do que necessrio para a sua preservao, ento tudo pode se r legitimamente considerado necessrio para a preservao de si: tudo por natureza jus to ("). Podemos falar de um direito natural da tolice. Mais, se cada um por natu reza o juiz do que favorece a sua preservao, ento o consentimento adquire prioridad e sobre a sabedoria. Mas o consentimento no eficaz se no se converter em sujeio ao s oberano. Pela razo indicada, o soberano soberano no por causa da sua sabedoria, ma s porque o pacto fundamental o tornou soberano. Chega-se assim derradeira conclu so de que o comando ou a vontade, e no a deliberao ou a argumentao, o cerne da sobera ia, ou que as leis so leis em virtude, no da que, para o convencionalismo, a vida conforme natureza seja superior sociedade c ivil, ao passo que, para Hobbes, a primeira inferior ltima. Acrescentamos que o c onvencionalismo no necessariamente igualitrio, ao passo que a orientao de Hobbes imp lica necessariamente o igualitarismo. Segundo Toms de Aquino, o status legis natu rae a condio em que o homem vivia antes da revelao da lei de Moiss (Summa theologica,
1.2, q. 102, a. 3 ad. 12). Trata-se do estado em que os gentios vivem e , por is so, uma,condio de sociedade civil (cf. Suarez, Tr. de legi bus, 1.3, sec. 12; 111. 11 [in pura lutara, vel in gentibus]; 111.12 [<in statu purae naturae, si in illo esset respublica verum Deum naturaliter colens]; tambm Grcio, De jre belli ac pacis , 11.5, sec. 15.2 usa status naturae em contraposio ao statu legis Christianae; quando Grcio [111,7, sec, 1] diz: citra factum humanum aut primaevo naturae statu, mostra, ao acrescentar primaevo, que o estado de natureza enquanto tal no citra factura humanum, e, por isso, no antecede essencialmente a sociedade civil. Contudo, Se a lei humana vista como o resultado da corrupo humana, o status legis naturae converte-se na condio em que o homem estava sujeito apenas lei natural, e em que ainda no estava submetido a quaisquer leis humanas (Wyclif, De civill dominio, 11 .13, ed. Poole, p. 154). Sobre a pr-histria da ideia hobbesiana de estado de natureza c f. tambm a doutrina de Soto descrita por Suarez, op. cit., 11.17, sec. 9. (24) De cive, 1.9; 111.13; Leviathan, caps. XV (100) e XLVI (.448). O DIREITO NATURAL MODERNO verdade ou da razoabilidade, mas apenas da autoridade (25) . No ensinamento de H obbes, a supremacia da autoridade em contraposio razo decorre de uma extenso extraor dinria do direito natural do indivduo. A tentativa de deduzir a lei natural ou a lei moral do direito natural de preser vao de si mesmo, ou do poder inexorvel do medo da morte violenta, conduziu a profundas modificaes no contedo da lei moral. Em primeiro lugar, essa modificao traduziu-se numa simplificao conside rvel. Em geral, o pensamento dos sculos XVI e XVII inclinou-se para a simplificao da doutrina moral. Para mais no dizer, essa t endncia deixou-se absorver sem grande resistncia pela preocupao mais ampla com a gar antia de realizao da ordem social justa. Tentou-se substituir a multiplicidade desc onexa das virtudes irredutveis por uma nica virtude, ou por uma nica virtude bsica da qual se poderiam deduzir todas as restantes virtudes. Havia dois caminhos bem t raados para atingir esta reduo. No ensinamento moral de Aristteles, cujas opinies tm h je em dia, e por estas bandas, uma autoridade superior a quaisquer outros escrit os humanos (Hobbes), h duas virtudes que contm todas as restantes virtudes ou, pode mos diz-lo, h duas virtudes gerais: a magnanimidade, que abrange todas as outras vir tudes na medida em que contribuem para a excelncia do indivduo, e a justia, que abr ange todas as outras virtudes na medida em que contribuem para o servio a outrem. Assim sendo, poder-se-ia simplificar a filosofia moral reduzindo a moral magnan imidade, ou ento justia. Descartes optou pela primeira via, Hobbes pela segunda. A escolha de Hobbes teve a vantagem particular de ser favorvel a uma simplificao adi cional da doutrina moral: a identificao sem reservas da doutrina das virtudes com a doutrina da lei moral ou natural. Por sua vez, a lei moral seria bastante simp lificada ao ser reduzida ao direito natural de preservao de si mesmo. A preservao de si requer a paz. Por conseguinte, a lei moral converteu-se na soma de regras s q uais se tem de obedecer para haver paz. Tal como Maquiavel reduziu a virtude k v irtude poltica do patriotismo, Hobbes reduziu-a virtude social da pacificidade. A s formas de excelncia humana que no se relacionam de forma directa ou inequvoca com a coragem, a temperana, a magnanimidade, a libea pacificidade (25) De cive, VI.19; XIV.1 e 17; Leviathan, cap. XXVI (180); cf. tambm Sir Robert Filmer, Observations concerning the Original of Government, prefcio. 162 DIREITO NATURAL E HISTORIA ralidade, para no mencionar a sabedoria deixam de ser virtudes no sentido estrito do termo. A justia (em conjuno com a equidade e com a caridade) ainda se mantm enquanto virtude, mas o seu sentido radicalmente alterado. Se o nico facto moral incondicion.al o direito natural de cada um sua preservao, e portanto todas as obrigaes p ara com os outros resultam de contratos, a justia torna-se equivalente ao hbito de cumprir esses contratos. A justia j no consiste em satisfazer padres que so independ entes da vontade humana. Todos os princpios materiais de justia as regras da justia comutativa e distributiva ou da Segunda Tbua do Declogo deixam de ter validade in trnseca. Todas as obrigaes materiais resultam do acordo entre contratantes, o que n
a prtica vale por dizer da vontade do soberano (9 . Porquanto o contrato que poss ibilita todos os outros contratos o contrato social ou o contrato de sujeio ao sob erano. Se a virtude assimilada pacificidade, o vcio ser idntico ao hbito ou paixo que p incompatvel com a paz porque consiste essencialmente em ofender os outros e, por assim dizer, de forma deliberada; para todos os efeitos prticos, o vcio ser idntico ao orgulho ou vaidade ou ao amour-propre, em vez de estar associado devassido ou fraqueza da alma. Por outras palavras, se a virtude se reduzir virtude social o u benevolncia ou amabilidade ou s virtudes liberais, ento as virtudes severas ou o domnio perdero a sua importncia("). Aqui temos uma vez mais de recorrer anlise do es prito da Revoluo francesa feita por Burke; pois os exageros polmicos de Burke foram e so indispensveis para arrancar os disfarces, intencionais ou no, sob os quais a no va moral se apresentou: Os filsofos parisienses (...) desacreditam ou tornam odiosa ou desprezvel essa categoria de virtudes que restringem os apetites. (...) Em lu gar de tudo iss, colocam uma virtude a que chamam humanidade ou benevolncia (28). E sta substituio o cerne daquilo a que chammos hedonismo poltico. (26) Elements, 1.17, sec. 1; De cive, Epistola Dedicatria; 111.3-6, 29, 32; VI.16 ; XII.1; X1V.9-10, 17; XV1I.10; XV1II.3; De homine, XI11.9; Leviathan, caps. XIV (92), XV (96, 97, 98, 104) e XXVI (186). (27) .Temperantia privado potius vitiorum quae oriuntur ab ingeniis cupidis (qui bus non laeditur civitas, sed ipsi) quam virtus moralis (est) (De homine, XIII.9) . curta a distncia que separa esta ideia dos vcios privados, benefcios pblicos.. _(28) Carta a Rivarol, 1 de Junho de 1791. O DIREITO NATURAL MODERNO Para determinar a significao do hedonismo poltico em termos algo mais rigorosos, te mos de contrastar o ensinamento de Hobbes com o hedonismo apoltico de Epicuro. Ho bbes podia concordar com Epicuro nos seguintes pontos: o bem fundamentalmente idn tico ao prazer; portanto, a virtude no digna de ser escolhida por si mesma, mas a penas com o intuito de obter prazer ou de evitar a dor; o desejo de honra e de glria inteiramente vo, isto , os prazeres sensuais so, enquanto tais, preferveis honra ou glria. Para tornar possvel o hedonismo poltico, H obbes teve de se opor a Epicuro em dois pontos cruciais. Em primeiro lugar, teve de rejeitar a negao implcita por parte de Epicuro de um estado de natureza no sent ido estrito do termo, isto , de uma condio pr-poltica de vida em que o homem goza de direitos naturais; porquanto Hobbes concordava com a tradio idealista ao pensar que as pretenses da sociedade civil dependiam em absoluto da existncia de direitos naturais. De resto, no podia aceitar as implicaes da distino fei ta por Epicuro entre os desejos naturais que so necessrios e os desejos naturais q ue no so necessrios; pois tal distino implicava que a felicidade requer um estilo de vida asctico e que a felicidade consiste num estado de repouso. As exigncias severas que Epicuro dirigia ao autodomnio eram forosamente utpicas para a grande maioria d os homens; por conseguinte, tinham de ser afastadas por uma doutrina poltica reali sta. A abordagem realista poltica forou Hobbes a eliminar todas as restries procur prazeres sensuais desnecessrios, ou, em termos mais precisos, da commoda hujus vi tae, ou do poder, com a excepo das restries que a manuteno da paz requer. Como, nas pa lavras de Epicuro, a natureza tornou facilmente acessveis [apenas] as coisas neces srias, a emancipao do desejo de cOnforto exigia que a cincia fosse posta ao servio da satisfao desse desejo. Sobretudo exigia que a funo da sociedade civil fosse radicalm ente redefinida: a vida boa, em vista da qual os homens se incorporam na sociedade civilj no mais a vida da excelncia humana, mas a vida cmoda que recompensa o trabalh duro. E o dever sagrado dos governantes j no o de tornar os cidados bons e prontos a fazer coisas nobres, mas o de se esforarem, tanto quanto as leis o permitirem, pa ra providenciar abundantemente os cidados com todas as coisas boas (...) que traz em consigo o deleite (") . (29) De cive, 1.2, 5, 7; XIII.4-6; Leviathan, caps. XI (63-64) e XIII, in fine; De corpore, 1.6. DIREITO NATURAL E HISTORIA Para os nossos propsitos no necessrio acompanhar passo a passo o pensamento de Hobb es no seu trajecto que parte do direito . natural de cada um, ou do estado de na tureza, at chegar instaurao da sociedade civil. Esta parte da sua doutrina no preten
de ser mais do que uma consequncia estrita das suas premissas. Culmina na doutrin a da soberania, da qual se reconhece em geral que Hobbes o intrprete clssico. A do utrina da soberania uma doutrina jurdica. Essencialmente, no se trata de ser vanta joso atribuir a plenitude do poder autoridade governante, mas outrossim de a ple nitude do poder pertencer por direito autoridade governante. A base de atribuio do s direitos de soberania ao poder supremo a lei natural, e no a lei positiva nem o costume. A doutrina da soberania formula a lei natural pblica (30). Esta jus pub licurn universale seu naturale tona nova disciplina que apareceu no sculo XVII. O seu apareciniento deveu-se mudana radical de orientao que aqui tentamos compreende r. A lei natural pblica representa um das duas formas especificamente modernas da filosofia poltica, sendo a outra forma a <poltica no sentido da razo de Estado maquia vlica. Ambas so fundamentalmente diferentes da filosofia poltica clssica. Apesar do que as separa, so motivadas fundamentalmente pelo mesmo espirito (31). Na sua ori gem est a mesma preocupao com a ordem (30) Leviathan, cap. XXX, terceiro e quarto pargrafos da vers.o latina; De cive, X.2, in princ., e 5; XI.4, infine; XII.8, infine; XIV.4; cf. tambm Malebranche, T rait dela ~rale, ed. Joly, p. 214. A diferena entre a lei natural no sentido comum do ter-/no e a lei natural pblica consiste em que esta e o seu objecto (a comuni dade poltica) se baseiam numa fico fundamental, a saber, na fico de que a vontade do soberano a vontade de todos e de cada um ou que o soberano representa todos e ca da um (De cive, V.6, 9, 11; VII.14). A vontade do soberano tem de ser vista como a vontade de todos e de cada um, ao passo que existe, de facto, uma discrepncia essencial entre a vontade do soberano e as vontades dos indivduos, as nicas que so naturais: obedecer ao soberano significa precisamente fazer o que o soberano que r, no o que eu quero. Mesmo quando a minha razo normalmente me diz para querer o q ue o soberano nuer, esta vontne racional no necessariamente idntica minha vontade compleai minha vontade actual ou explcita (cf. a referncia s vontades implcitas em fiel/lent s, 11.9, sec. 1; cf. tambm De cive, XII.2). Segundo as premissas de Hobbes, a repr esentao no uma convenincia, mas uma necessidade essencial. (3') Cf. Fr. J. Stahl, Geschichte der Rechtsphilosophie (2a ed.), p. 325: uma peculiaridade da poca moderna o facto de a sua teoria do Estado (o direito natural) e a sua arte do Estado (preferencialmente designada por poltica) dominarem duas cin cias completamente diferentes. O Ethos procurado na razo, mas esta no dispe de nenh um poder sobre os dados e a sucesso natural; o que as relaes exteriores reclamam e aquilo a que obrigam no se harmoniza com aquela, com porta-se de modo hostil quela , tomar em considerao isso no pode, portanto, er assunto da tica do Estado.. Cf. Grcio, De jure belli ac peVs, Prolegomena, 57. s O DIREITO NATURAL MODERNO 165 social boa ou s cuja realizao provvel, se no mesmo segura, ou que no depende do acaso Assim, baixam de modo deliberado o objectivo da poltica; j no esto interessadas em ter uma conscincia clara da suprema possibilidade poltica relativamente qual todas as ordens polticas existentes podem ser julgadas de uma maneira responsvel. A esc ola da razo de Estado substituiu o melhor regime pelo governo eficiente. A escola da natural pblica substituiu oo melhor regime pelo governo legtimo. A filosofia poltica clssica reconhecia a diferena entre o melhor regime e os regime s legtimos. Por conseguinte, propunha uma variedade de tipos de regimes legtimos; isto , quando questionada sobre qual o tipo de regime/ que_ legtimo em certas circu nstncias, a filosofia poltica clssica resp-Ondia que tal depende das circunstncias. Por outro lado, a lei natural pblica ocupa-se da ordem social justa cuja realizao p ossvel em todas circunstncias. Tenta, por isso, delinear a ordem social que possa reivindicar legitimidade ou justeza em todos os casos, independentemente das cir cunstncias. Podemos dizer que a lei natural pblica :substitui :a ideia de melhor r egime, que no responde, nem pretende responder, tentativa de saber qual a ordem j usta aqui e agora, pela ideia da ordem social justa, que responde a esse problem a prtico bsico de uma vez por todas, isto , independentemente do tempo ou do lugar (32). A lei natural pblica quer dar uma soluo universalmente vlida ao problema poltic o que possa ser universalmente aplicvel na prtica. Por outras palavras, enquanto p ara os clssicos a teoria poltica propriamente dita tem a necessidade fundamental
de ser complementada pela sabedoria prtica do estadista, o novo tipo de teoria po ltica resolve definitivamente o problema prtico crucial, a saber, que ordem justa aqui e agora. Ento, no aspecto mais decisivo, a arte do estadista, em contraposio com a teoria poltica, j no mais ne cessria. Podemos chamar odoutrinarismo a este tipo de pensamento, e diremos que o doutrinarismo apareceu pela primeira vez na filosofia poltica visto que os jurist as formam uma classe completamente parte no sculo XVII. Foi nessa altura que a flexibilidad e sensata da filosofia poltica clssica deu lugar rigidez fantica. Tornou-se cada ve z mais difcil distinguir o fil(") Cf. De eive, prefcio, in fine, sobre os estatutos inteiramente diferentes da questo da melhor forma de governo, por um lado, e da questo dos direitos do sobera no, por outro. DIREITO NATURAL E HISTRIA sofo poltico do partidrio. O pensamento histrico do sculo XIX tentou recuperar para a arte do estadista a latitude de aco que a lei natural pblica restringira to severa mente. Mas como esse pensamento histrico estava absolutamente seduzido pelo realismo moderno, s conseguiu destruir a lei natural pblica destruindo ao mesmo tempo todos os princpios morais da poltica. No que diz respeito teoria da soberania de Hobbes em particular, o seu carcter do utrinrio torna-se mais claramente evidente nas negaes que lhe esto implicitas. A dou trina da soberania em Hobbes implica a negao da possibilidade de distinguir os bon s dos maus regimes (a realeza da tirania, a aristocracia da oligarquia, a democr acia da oclocracia) assim como da possibilidade de existncia de regimes mistos e do imprio da lei (33). Como estas negaes so contrrias aos factos observados, a doutrin da soberania equivale na prtica, no a uma negao da existncia das possibilidades menc ionadas, mas da sua legitimidade: a doutrina da soberania em Hobbes atribui ao p rncipe soberano ou ao povo soberano um direito incondicional a desconsiderar todo s os limites legais e constitucionais, segundo as suas convenincias(34), e impe at aos homens sensatos a proibio de lei natural de censurar o soberano e os seus acto s. Mas seria incorrecto esquecer o facto de a deficincia basilar da doutrina da s oberania ser partilhada, se bem que em diferentes graus, por todas as outras dou trinas da lei natural pblica. Basta recordar o que significa na prtica a doutrina segundo a qual o nico regime legtimo a democracia. Os clssicos haviam concebido os regimes (po/iteiai) no tanto em termos de instituies , mas em termos dos objectivos efectivamente prosseguidos pela comunidade ou pel a sua parte preponderante. Assim, consideravam o melhor regime como aquele cujo objectivo a virtude, e defendiam que o tipo certo de instituies realmente indispen svel para estabelecer e assegurar o governo dos virtuosos, mas que as hastituies, q uando comparadas com a educao, isto , com a formao do carcter, tm apenas uma import cun(") De cive, VII.2-4; XII.4-5; Leviathan, cap. XXIX (216). Ver, no entanto, a re ferncia a reis legtimos e ilegtimos em De cive, X11.1 e 3. De cive, VI.13, in fine, e VII.14, mostram que a lei natural, tal como Hobbes a entende, fornece a base para uma distino' objectiva entre realeza e tirania. Cf. tambm ibid., XII.7, com XI II.10. (") Sobre a discrepnci entre a doutrina de Hobbes e a prtica do gnero hu:mano, ver L eviathan, caps. XX, in fine, e XXXI, in fine. Sobre as consequncias revolucionrias da doutrina hobbesiana da soberania, ver De eive, VII.16 e 17, bem como .g.evia than, caps. XIX (122) e XXIX (210): no h qualquer direito de prescrio; o soberano o soberano actual (ver Leviathan, cap. XXVI [175]). O DIREITO NATURAL MODERNO dria. Por outro lado, do ponto de vista da lei natural pblica, o que - necessrio par a instaurar a ordem social justa no tanto a formao do carcter, mas a concepo de boas nstituies. Como disse Kant' ao rejeitar a ideia de que a instaurao da ordem social j usta requer uma nao de anjos: Por mais duro que possa soar, a instaurao do Estado [is to , a ordem social justai um problema que pode ser resolvido mesmo por uma nao de demnios, contanto que tenham entendimento, isto , desde que sejam orientados pelo e gosmo iluminado; o problema politico fundamental um simples problema de boa organi
zao do Estado, de que o homem realmente capaz. Nas palavras de Hobbes, quando [as co munidades polticas] so dissolvidas, no pela violncia externa, mas pela desordem inte stina, a culpa no dos homens enquanto matria dessa comunidade poltica, mas dos home ns enquanto seus criadores e ordenadores (35). O homem enquanto criador da socied ade civil pode resolver de uma vez por todas o problema inerente ao homem enquan to matria da sociedade civil. O homem pode garantir a realizao da ordem social just a porque capaz de conquistar a natureza humana atravs da compreenso e da manipulao d o mecanismo das paixes. H uma palavra que exprime na forma mais condensada o resultado da mudana introduzi da por Hobbes. Essa palavra <poder. na doutrina poltica de Hobbes que o poder se t orna pela primeira vez eo nomine um tema central. Se tomarmos em considerao o fact o de, segundo Hobbes, a cincia enquanto tal existir com vista gerao do poder, podem os chamar filosofia de Hobbes como um todo a primeira filosofia do poder. Poder um a palavra ambgua. Traduz potentia, por um lado, e, potestas (ou jus ou dominium), por outro (36) . Significa simultaneamente poder fsico e poder legal. A ambiguidade essencial: s se potentia e potestas forem essencialmente duas faces da mesma moed a que h a garantia de realizao da ordem social justa. O Estado, enquanto tal, ao me smo tempo a fora humana superior e a suprema autoridade humana. O poder (") Leviathan, cap. XXIX (210); Kant, Paz Perptua, Artigos Definitivos, Suplement o Primeiro. (") Cf., por exemplo, os ttulos do capitulo X nas verses inglesa e latina de Levia t , e os ttulos de Elements, 11.3 e 4, com os de De cive, VIII e IX. Para uni exem plo do uso sinnimo de potentia e potestas, ver De cive, IX.8. A comparao do ttulo de Leviat com o prefcio de De cive (no incio da seco sobre o mtodo) sugere que .poder ico a gerao.. Cf. De cmpore, X.1: potentia o mesmo que causa. Contrariamente ao Bis po Bramhall, Hobbes insiste na identidade de poder e potncia. (English Works, IV, p . 298). DIREITO NATURAL E HISTORIA legal a fora irresistvel (37) . A coincidncia necessria da fora humana superior e da suprema autoridade humana corresponde exactamente coincidncia necessria da paixo ma is poderosa (o medo da morte violenta) e do direito mais sagrado (o direito de p reservao de si mesmo). A potentia e a potestas tm um ponto em comum, a saber, ambas s so inteligveis em contraposio com o actus, e em relao com ele: a potentia de um hom m o que ele pode fazer, e a potestas ou, em termos mais gerais, o direito de um homem o que ele tem a permisso de fazer. Por conseguinte, a predominncia do intere sse pelo poder apenas a outra face da moeda da relativa indiferena perante o actus, ou, dito outra forma, perante os propsitos ao servio dos quais o poder fsico, assim como o poder legal, ou deve ser utilizado. Essa indiferena pode ser explicada direc tamente pela importncia que Hobbes atribua ao carcter exacto ou cientfico da sua dou trina poltica. O bom uso do poder fsico assim como o bom exerccio dos direitos depend e da prudentia, e nada do que pertence ao domnio da prudentia susceptvel de exacti do. H dois tipos de exactido: matemtica e jurdica. Do ponto de vista da exactido matem ica, o estudo do actus e, portanto, dos fins substitudo pelo estudo da potentia. O poder fsico, por oposio aos propsitos para os quais utilizado, moralmente neutro, por isso, acomoda-se melhor ao rigor matemtico do que a sua utilizao: o poder pode ser medido. Isso explica por que que Nietzsche, que foi muito mais longe do que Hobbes e declarou que a vontade de poder a essncia da realidade, concebeu o pode r em termos de quanta. Do ponto de vista da exactido legal, o estudo dos fins subst itudo pelo estudo da potestas. Os direitos do soberano, por oposio ao exerccio desse s direitos, admitem uma definio exacta sem qualquer considerao por circunstncias impr evisveis, e este tipo de exactido uma vez mais inseparvel da neutralidade moral: o direito, declara o que permitido, por contraposio ao que e honroso (38) . O poder, em contraposio com o fim para o qual ou deve ser utilizado, torna-se no tema cent ral das reflexes polticas em virtude dessa limitao do horizonte que necessria de modo a garantir a realizao da ordem social justa. (37) De cive,XIV.1 e XVI.15; Leviathan, cap. X (56). (38) De cive, X.16 e VI.13, anotao in fine. Cf. Leviathan, cap. XXI (143), para a distino entre o que permitido e o que honroso (cf. Salmsio, Defensio regia [16491, pp. 40-45). Cf. Leviathan, cap. XI (64) com Toms de Aquino, Summa contra Gentiles , 111.31.
O DIREITO NATURAL MODERNO A doutrina poltica de Hobbes pretende ser universalmente "apli cvel, em particular aos casos extremos. Com efeito, pode-se dizer que este o trofu que orgulha a dou trina clssica da soberania: tom em devida considerao a situao extrema, toma em devida considerao o que tem validade em situaes de emergncia, ao passo que aqueles que conte stam essa doutrina so acusados de no enxergarem alm das fronteiras da normalidade. Assim, Hobbes construiu toda a sua doutrina moral e poltica com base em observaes d a situao extrema; a experincia em que se baseia a sua doutrina do estado de naturez a a experincia da guerra civil. na situao extrema, quando o edificio social se desm orona por completo, que emerge com nitidez o fundamento resistente sobre o qual, em ltima anlise, toda a ordem social tem de assentar: o medo da morte violenta, a fora mais poderosa na vida humana. Porm, Hobbes foi forado a reconhecer que o medo da morte violenta s comummente, ou s na maioria dos casos, que se torna na fora mais poderosa. O princpio do qual se esperaria que possibilitasse uma doutrina poltica de aplicabilidade universal afinal no universalmente vlido, e , portanto, irreleva nte para aquela que , do ponto de vista de Hobbes, a situao mais importante: a situ ao extrema. Pois como se pode excluir a possibilidade de que seja precisamente na situao extrema que a excepo venha a prevalecer? (39) Em termos mais precisos, h dois fenmenos politicamente importantes que parecem mos trar com invulgar clareza os limites da validade da afirmao de Hobbes a respeito d o poder avassalador do medo da morte violenta. Em primeiro lugar, se o nico facto moral incondicional o direito individual preservao de si, ento a sociedade civil d ificilmente pode exigir do indivduo que abdique desse direito tanto em situaes de g uerra, como quando est em causa a pena capital. Quanto ao ltimo caso, Hobbes era s uficientemente coerente para conceder que, mesmo sendo condenado morte em condies justas e de respeito pela legalidade, ainda assim o indivduo no perde (99) Leviathan, caps. XIII (83) e XV (92). Tambm se pode enunciar esta dificuldad e do seguinte modo: Partilhando o esprito do dogmatismo que assenta no cepticismo , Hobbes viu no que o cptico Carnades aparentemente considerava ser a refutao conclu siva das pretenses da justia a nica justificao possvel dessas pretenses: a situao ex a situao de dois nufragos que disputam uma prancha que suporta apenas um deles rev ela, no a impossibilidade da justia, mas o fundamento da justia. Todavia, Carnades no defendia que numa tal situao um dos nufragos forado a matar o seu rival (Ccero, Repb ica, 111.29-30): a situao extrema no revela uma necessidade real. DIREITO NATURAL E HISTRIA o direito de defender a sua vida resistindo aos que o atacam: um assassino justame nte condenado retm ou melhor, adquire o direito de matar os seus guardas e qualqu er outra pessoa que lhe obstrua o caminho para a fuga quando tal necessrio para s alvar a sua preciosa vida(40). Mas, ao fazer esta concesso, Hobbes reconhecia, de facto, que h um conflito insanvel entre os direitos do governo e o direito natura l do indivduo sua preservao. Este conflito foi resolvido em conformidade com o espri to, se bem que contra a letra, da obra de Hobbes por Beccaria, que inferiu da pr imazia absoluta do direito de preservao de si a necessidade de abolio da pena de mor te. Quanto guerra, Hobbes, que declarou com orgulho que fora o primeiro a fugir aq uando da ecloso da Guerra Civil, era suficientemente coerente para conceder que al guma margem deve ser dada para a cobardia natural. E, como se desejasse tornar pe rfeitamente claro que no se pouparia a esforos para se opor ao esprito predador de Roma, continua assim: Quando dois exrcitos combatem, h de um dos lados, ou em ambos , uma debandada: porm, quando tal acontece sem que haja traio, mas apenas por medo, no se considera que houve injustia, mas desonra (41). No entanto, com esta concesso , Hobbes destruiu a base moral da defesa nacional. A ilegalizao da guerra, ou a in staurao de um Estado mundial, a nica soluo para esta dificuldade que preserva o espri o da filosofia poltica de Hobbes. Para Hobbes s havia uma nica objeco fundamental ao seu pressuposto fundamental que o atingia profundamente e que tudo fez para superar. Em muitos casos o medo da mo rte violenta acabava por constituir uma fora menos poderosa do que o medo do fogo dos infernos ou do que o medo de Deus. A dificuldade bem ilustrada por dois pas sos bastante separados de Leviat. No primeiro passo, Hobbes diz que o medo do pod er dos homens (isto , o medo da morte violenta) comummente maior do que o medo do p oder dos espritos invisveis, isto , do que a religio. No segundo passo, Hobbes: diz qu
e o medo das trevas e dos fantasmas maior do que os outros, medos (4). Hobbes viu um modo de resolver esta contradio: o medo dos poderes invisveis mais forte do que o medo da morte - violenta enquanto as pessoas acreditarem em poderes invisveis, iStO (40) Leviathan, cap. XXI (142-143); cf. tambm De eive, VIII.9. (41) Leviathan, cap. XXI (143); English YVorks, IV, p. 414. Cf. Leviathan, cap. XXX (227) e De cive, XIII.14, com o captulo de Locke sobre a conquista. (42) Leviathan, caps. XIV (92) e XXIX (215); cf. tambm ibid., cap. XXXVIII, in, p rinc.; De cive,VI.11; XII.2, 5; XVII.25 e 27. O DIREITO NATURAL MODERNO , enquanto estiverem sob o domnio de iluses sobre o verdadeiro carcter da realidade; o medo da morte violenta s se revelar inteiramente, e s manifestar todos os seus ef eitos, quando as pessoas forem esclarecidas. Isso implica que todo o esquema sug erido por Hobbes exige para funcionar o enfraquecimento, ou, antes, a eliminao, do medo dos poderes invisveis. Uma mudana to radical de orientao s pode consumar-se com o desencantamento do mundo, com a difuso do conhecimento cientfico ou com o esclar ecimento das massas. A doutrina de Hobbes a primeira que de forma necessria e ine quvoca indica a sociedade completamente iluminada, isto , no religiosa ou atesta, como a soluo do problema social ou poltico. Esta consequncia importantssima da doutrina d e Hobbes foi explicitada no muitos anos aps a sua morte por Pierre Bayle, o qual t entou demonstrar que uma sociedade atesta possvel(43). Assim, s a expectativa com que Hobbes aguardava o esclarecimento das massas que pd e dar sua doutrina a consistncia que possui. As virtudes que Hobbes esperava do e sclarecimento so realmente extraordinrias. O poder da ambio e da avareza, diz ele, a ssenta nas falsas opinies do vulgo acerca do que certo e do que errado; portanto, assim que os princpios de justia sejam conhecidos com certeza matemtica, a ambio e a avareza perdero (4') Uma boa razo para relacionar a famosa tese de Bayle com a doutrina de Hobbes , e no, por exemplo, com a de Fausto Socino, dada pela seguinte declarao de Bayle ( Dictionnaire, art. Hobbes, nota D): Com esta obra [De eive], Hobbes cfiou muitos in imigos; mas preciso confessar aos mais clarividentes que nunca se penetrou to fun do nos fundamentos da poltica.. No posso demonstrar aqui que Hobbes era ateu, mesm o segundo o seu prprio entendimento de atesmo. Tenho de me limitar a pedir ao leit or que compare De cive,XV.14 com English Works, IV, p. 349. Muitos investigadore s dos nossos dias que escrevem sobre este tipo de assuntos no parecem estar sufic ientemente conscientes da dose de circunspeco ou de concesso s ideias aceites que no utros tempos se exigia aos desviacionistas que desejavam sobreviver ou morrer em p az. Esses investigadores pressupem tacitamente que as pginas das obras de Hobbes s obre assuntos religiosos podem ser compreendidas se forem lidas do mesmo modo co m que se deve ler as declaraes correspondentes de, digamos, Lorde Bertrand Russell . Por outras palavras, no ignoro o facto de haver inmeros passos nas obras de Hobb es que foram usadas por ele, e que podem ser usadas por qualquer outra pessoa, p ara demonstrar que era um testa e at um bom anglicano. O procedimento prevalecente apenas conduziria a erros histricos, mesmo que fossem graves, no fosse o facto de os seus resultados serem empregues para reforar o dogma que afirma que a mente d o indivduo incapaz de se libertar das opinies reinantes na sua sociedade. A ltima p alavra de Hobbes sobre a questo do culto pblico a de que a comunidade poltica pode estabelecer um culto pblico. Se a comunidade poltica no o fizer, isto , se permitir m uitos tipos de culto, como seu direito, no se pode dizer que a comunidade poltica tenha qualquer religio. (cf. Leviathan, cap. XXXI [240] com a verso latina [p.m. 171] ). 172 DIREITO NATURAL E HISTORIA o seu poder e o gnero humano usufruir de paz durvel. Pois evidente que o conhecimen to matemtico dos princpios de justia (isto , a nova doutrina do direito natural e a nova lei natural pblica que dela resulta) no pode destruir as opinies erradas do vu lgo, se o vulgo no for informado dos resultados desse conhecimento matemtico. Plato dissera que tais males no deixaro de atormentar as cidades enquanto os filsofos no se tornarem reis, ou enquanto a filosofia e o poder poltico no estiverem nas mesma s mos. A confiana de Plato na concretizao dessa salvao da natureza mortal no excedia limites da razoabilidade, at porque incidia numa coincidncia sobre a qual a filoso
fia no exercia qualquer controlo, e que o filsofo apenas pode converter no objecto dos seus votos ou das suas preces. Hobbes, pelo contrrio, estava seguro de que a filosofia pode consumar a coincidncia da filosofia com o poder poltico atravs da p opularizao da filosofia e da sua transformao em opinio pblica. O acaso ser conquistado por uma filosofia sistemtica que produza o esclarecimento sistemtico: Paulatim eru ditur vulgus("). Com a concepo do tipo certo de instituies, e atravs do esclareciment o do conjunto dos cidados, a filosofia garante a soluo do problema social, soluo essa que no pode ser garantida pelo homem se for vista como uma questo de disciplina m oral. Na sua oposio ao .utopismo dos clssicos, Hobbes estava interessado numa ordem social cuja realizao fosse provvel e mesmo certa. A garantia da sua realizao poderia parece r que estava j presente no facto de a ordem social s se basear na mais poderosa de todas as paixes, e, por isso, na fora mais poderosa no homem. Mas (") De cive, Epstola Dedicatria; cf. De corpore, 1.7: a causa da guerra civil a ig norncia das causas das guerras e da paz; da que o remdio seja a filosofia moral. As sim, Hobbes, que aqui se afasta de Aristteles de uma forma muito prpria (Poltica 12 02a35 ss.), procura as causas da rebelio principalmente nas doutrinas falsas (De cive, XII). A crena nas possibilidades do esclarecimento popular De homine,XIV.13 ; Leviathan, caps. XVIII (119), XXX (221, 224-225), e XXXI, .in fine baseia-se n a ideia de que a desigualdade natural entre os homens no que concerne os dons in telectuais inconsidervel (Leviathan, caps. XIII [80] e XV [100]; De cive, 111.13) . A esperana de Hobbes no esclarecimento parece ser contraditria com a sua crena no poder da paixo, e em particular do orgulho ou da ambio. A contradio resolve-se quand o per cebemos que a ambio que periga a sociedade civil prpria de uma minoria: a dm .sbditos ricos e poderosos de um reino, ou dos que so vistos como os mais doutos; s e .o povo comum), a quem a necessidade amarra aos seus afazeres e ao trabalho for a propriadamente instruido, a ambio e a avareza dos poucos tornar-se-o impotentes Cf. tambm English Works, IV, pp. 443-444. O DIREITO NATURAL MODERNO se o medo da morte violenta realmente a fora mais poderosa no homem, ento seria de esperar que a existncia da ordem social desejada fosse constante, ou quase constante, porque resultaria de uma necessidade natural, resultaria da ordem natural. Hobbes supera esta dificuldade pressupondo que os homens na sua estupidez entravam a ordem natural. Normalmente, a ordem social justa no se estabelece por uma necessidade natural p orque o homem a ignora. A mo invisvel permanece ineficaz se no for sustentada pelo Le viat ou, se se preferir, pela Riqueza das Naes. H um paralelismo notvel e uma discrepncia ainda mais notvel entre a filosofia teortic a de Hobbes e a sua filosofia prtica. Em ambas as partes da sua filosofia, Hobbes ensina que a razo impotente e omnipotente, ou que a razo omnipotente porque impotente. A razo impote nte porque a razo ou a humanidade no tm uma sustentao csmica: o universo ininteligvel e a natureza dissocia os homens. Mas o prprio facto de o universo ser ininteligvel permi te que a razo se satisfaa com as suas construes livres, que estabelea atravs das suas construes uma base arquinndica de operaes, e que antecipe um progresso ilimitado na conquista da natur eza. A razo impotente contra a paixo, mas pode tornar-se omnipotente se cooperar com a paixo mais poderosa ou se se colocar ao servio dessa paixo. Por isso, em ltima anlise, o racionalis mo de Hobbes assenta na convico de que, graas bondade da natureza, a paixo mais poderosa a nica paixo que pode constituir a origem de sociedades grandes e duradouras ou na convico de que a paixo mais poderosa a paixo mais racional. No caso das coisas humanas, o fundamento no uma construo livre, mas a fora natural mais poderosa no homem. No caso das coisas human as, no compreendemos apenas o que criamos, mas tambm o que cria a nossa criao ou as nossas criaes. Se a filosofia ou a cincia da natureza permanece fundamentalmente hipottica, j a fi losofia poltica assenta num conhecimento no
hipottico da natureza do homem (45). Enquanto a abordagem de Hobbes prevalecer, a filosofia que atende s coisas humanas permanecer o ltimo refgio d a natureza. Pois de um modo ou de outro a natureza consegue ser escutada. A afirmao moderna de que o homem pode mudar o mundo ou fazer recuar a natureza no irrazovel. Pode-se mesmo com toda a segurana i muito (") Cf. nota 9 acima. DIREITO NATURAL E HISTRIA mais longe e dizer que o homem pode expulsar a natureza com uma forquilha. S deix amos de ser razoveis quando nos esquecemos do que o poeta filosfico acrescenta, ta men usque recurret. B. LOCKE primeira vista, Locke parece rejeitar por completo a noo hobbesiana da lei natural e acompanhar o ensinamento tradicional. No h dvida de que Locke fala dos direitos naturais do homem como se decorressem da lei natural, e por conseguinte fala da lei natural como se fosse uma lei no sentido estrito do termo. A lei natural impe deveres perfeitos ao homem enquanto homem, quer ele viva no estado de natureza, quer na sociedade civil. A lei natural uma regra eterna para todos os homens, poi s evidente e inteligvel para todas as criaturas racionais. idntica lei da razo. atural pode ser conhecida pela luz da natureza; isto , sem o auxlio da revelao positi va. Locke considera que inteiramente possvel que a lei natural ou a lei moral seja elevada ao estatuto de uma cincia demonstrativa. Essa cincia estabeleceria a parti r de proposies auto-evidentes, atravs de consequncias necessrias (...) as medidas do bom e do mau. Assim, o homem tornar-se-ia capaz de elaborar a partir dos princpios da razo, um corpo de doutrina moral, que seria de modo demonstrativo a lei natural e ensinaria todos os deveres da vida, ou todo o corpo da 'lei nat ural', ou a moral completa, ou um cdigo que nos d a lei natural integral. Esse cdigo conteria, entre outras coisas, a lei natural penal (46). Porm, Locke nunca fez um esforo srio para elaborar esse cdigo. Foi por causa do problema posto pela teologia que nunca embarcou nessa grande empresa(9 . A lei natural uma declarao da vontade de Deus. , a voz de Deus no homem. Portanto, po de ser chamada lei de Deus ou lei divina ou mesmo lei eterna; a lei suprema. a lei de Deus, mas, para ser lei, tem de er conhecida como a4ei de Deus. Sem esse conhecimento, o homem no pode agir moral mente. Porquanto o verdadeiro fundamento da moral (...) s pode ser a vontade e a l ei (46) Treatises of Government, I, 86, 101; II, 6, 12, 30, 96, 118, 124, 135. An E.s say Concerning Human Understanding, 1.3 13, e IV.3, 18; The Reasonableness of Chri stianity (The Works of John Locke in Nine Volumes, VI [Londres, 1824], 140-142). (47) Cf. a .auctor non libenter scribit ethica. de Descartes (Oevvres, ed. AdamT annery, V, 178). e O DIREITO NATURAL MODERNO 1 175de um Deus. A lei natural pode ser demonstrada porque a existncia e os atributos d e Deus podem ser demonstrados. A lei divina promulgada, no s na, e pela, razo, mas tambm pela revelao. De facto, foi pela revelao e o homem primeiro a conheceu na sua integralidade, mas a razo confirma esta. lei divina assim revelada. Isso no significa que Deus no revelou aos homens algumas l eis que so puramente positivas: Locke preserva a distino entre a lei da razo, que ob riga o homem enquanto homem, e a lei revelada nos Evangelhos, que obriga os cris tos (48) . Pode-se questionar se o que Locke diz acerca da relao entre a lei natural e a lei revelada est isento de dificuldades. Seja como for, o seu ensinamento est exposto a uma dificuldade mais fundamental e mais bvia, a uma dificuldade que parece pr em perigo a prpria noo de lei natural. Por um lado, Locke diz que, para que seja lei, a lei natural tem no s de ser dada por Deus e de ser conhecida como tal, mas alm d isso tem de ter como sanes recompensas e castigos, de infinito peso e durao, noutra v ida. Por outro lado, Locke diz que a razo no consegue demonstrar que existe uma out ra vida. S atravs da revelao que temos conhecimento das sanes da lei natural ou da verdadeira pedra de toque da rectido moral. Portanto, a razo natural incapaz de con hecer a lei natural enquanto lei(48). Isso significaria que no existe lei natural
no sentido estrito do termo. (48) Treatises, I, 39, 56, 59, 63, 86, 88, 89, 111, 124, 126, 128, 166; II, 1, 4, 6, 25, 52, 135, 136n., 142, 195; Essay, 1.3 6 e 13; 11.28 8; IV.3 18 e IV.10 7; Reasona bleness, pp. 13, 115, 140, 144 (a lei suprema, a lei natural.), 145; Second Vindi cation of the Reasonableness of Christianity (Works, VI, 229): Enquanto homens, D eus o nosso rei, e estamos submetidos lei da razo: enquanto cristos, Jesus, o Mess ias, o nosso rei, e estamos submetidos lei por ele revelada no Evangelho. E embo ra todo o cristos como desta e como cristo, esteja obrigado a estudar quer a lei na tural, quer a lei revelada (...).. Cf. n. 51 abaixo. (") Essay, 1.3, 5, 6, 13; 11.28, 8; 1V.3, 29; Reasonableness, p. 144: Mas como que as suas obrigaes [as obrigaes das justas medidas do bom e do mau] podiam ser meticulos amente conhecidas e autorizadas, e fossem tidas por preceitos de uma lei, da lei suprema, da lei natural? Tal seria impossvel sem que se conhecesse e reconhecess e com clareza um legislador, e de grandes recompensas e castigos, respectivament e para os que lhe obedecessem e para os que no lhe obedecessem. Ibid., pp 150-151: A viso do paraso e do inferno lev-los-o a desdenhar os pequenos prazeres desta prese nte condio, e tornar mais atractiva e dar mais encorajamento prtica da virtude que a razo e o interesse, e o cuidado com as nossas pessoas, no podem deixar de autoriza r e preferir. Sobre esta fundao, e s sobre ela, a moral mantm-se firme, e pode desaf iar todas as alternativas.. Second Reply to the Bishop of Worcester (Works, III, p. 489; ver tambm pp. 474, 480): A verdade anunciada pelo Esprito da verdade to fir me que, embora a luz da razo tivesse dado algum vislumbre obscure, algumas espera nas incertas de uma condio future, no entanto a razo humana no poderia 176 I DIREITO NATURAL E HISTRIA Aparentemente, esta dificuldade superada pelo facto de que a veracidade de Deus a demonstrao da verdade do que ele revelou (50). O que vale por dizer, a razo natural , na verdade, incapaz de demonstrar que as almas dos homens vivero para sempre. M as a razo natural capaz de demonstrar que o Novo Testamento o documento perfeito da revelao. E como o Novo Testamento ensina que as almas dos homens vivero para sem pre, a razo natural consegue demonstrar o verdadeiro fundamento da moral, e, dess e modo, estabelecer a. dignidade da-lei natural enquanto lei autntica. Ao se demonstrar que o Novo Testamento um documento da revelao, fica demonstrado q ue a lei promulgada por Jesus' uma lei no sentido prprio do termo. Esta lei divin a mostra estar em completa conformidade com a razo; mostra ser a formulao absolutam ente abrangente e perfeita da lei natural. Assim, percebe-se que a simples razo no teria sido capaz de descobrir a lei natural na sua integralidade, mas que a razo que aprendeu com a revelao pode reconhecer o carcter absolutamente razovel da lei r evelada no Novo Testamento. Uma comparao do ensinamento do Novo Testamento com out ros ensinamentos morais mostra que a lei natural est disponvel por inteiro no Novo Testamento, e s no Novo Testamento. A lei natural integral est disponvel s no Novo Testamento, e est a disponvel com perfeita clareza e evidncia (51). providenciar qualquer clareza, nem qualquer certeza a seu respeito, algo que s Je sus Cristo fez, ao 'dar a conhecer a vida e a imortalidade atravs do Evangelho' ( ...), este artigo da revelao, que (...), segundo o que as Escrituras nos asseguram , s a revelao estabeleceu e tornou numa certeza. (Os itlicos no esto no original). (") Second Reply to the Bishop of Worcester, p. 476. Cf. ibid., p. 281: Penso que possvel ter a certeza do testemunho de Deus (...) quando sei que se trata do tes temunho de Deus; porque nessas circunstncias, esse testemunho capaz, no s de me fazer acreditar, mas, se estiver certo, de fazer saber que assim ; e desse modo posso ter a certeza. Pois a veracidade de Deus mais capaz de me fazer saber que uma pr oposio verdadeip do que qualquer outra forma de demonstrao, e, portanto, nesse caso no me limito a acreditar, mas sei que tal proposio verdadeira, e assim alcano a cert eza.. Ver tambm Essay, IV.16, 14. (51) Reasonableness, p. 139: A julgar pelo pouco que se fez nesta matria at agora, parece que se trata de uma tarefa demasiado difcil para a razo entregue a si mesma estabelecer a moral em todas as suas partes, e sobre os seus verdadeiros fun da mentos, com uma luz clara e convincente. Ibid., pp. 142-143: . verdade, existe uma lei natural: mas houve algum que nos tivesse apresentado essa lei como uma lei, ou que tivesse tentado apresnt-la na sua integridade; que nos tivesse apresentado"
nem mais, nem menos, tudo o que ela continha e as suas obrigaes? Antes do tempo d o nosso Salvador, houve algum que tivesse compreendido todas as suas partes, -aS reunisse e recorresse a ela como sua regra infalvel? (...) Essa lei da moral foinos dada por Jesus Cristo no Novo Testamento (...) pela revelao. Ele deu-nos uma r egra total O DIREITO NATURAL MODERNO 177 Se a forma mais certa, mais segura e mais efectiva de ensinar a lei natural integr al, e por maioria de razo qualquer parte dela, fornecida pelos livros inspirados; e nto, o ensinamento completo e perfeitamente claro da lei natural, em particular n o que respeita ao governo, consistiria em citaes apropriadas da Escritura e, em pa rticular, do Novo Testamento. Por conseguinte, esperar-se-ia de Locke que tivess e escrito uma Politique tire des propres paroles de l'criture Sainte. Mas, de facto, Locke escreveu os Dois Tratados do Governo. O que ele fez contrasta de forma gr itante com o que disse. Ele prprio <sempre pensou que as aces dos homens eram os me lhores intrpretes dos seus pensamentos (52). Se aplicarmos esta regra quela que foi talvez a sua maior aco, somos forados a suspeitar que encontrou alguns obstculos ocu ltos no seu caminho para uma doutrina da lei natural na sua relao com o governo es tritamente baseada nas Escrituras. Talvez tenha tomado conscincia das dificuldade s que obstruam a demonstrao do carcter revelado das Escrituras ou a assimilao da lei d o Novo Testamento lei natural, ou ambas. Locke no era homem para deambular por estas dificuldades. Era um escritor cautelo so. O facto de ser, em geral, conhecido como um escritor cauteloso mostra, contu do, que a sua cautela nem sempre discreta, e que, portanto, talvez no seja o que comummente se entende por cautela. Em todo o caso, os estudiosos que notam que L ocke era cauteloso nem sempre consideram que o termo cautela designa uma variedade de fenmenos, e que o nico intrprete autntico da cautela de Locke o prprio Locke. Em particular, os estudiosos dos nossos dias no consideram a possibilidade de que pr ocedimentos que eles, do seu ponto de vista, justamente encaram como roando a ext ravagncia possam ter sido encarados noutras pocas, e por homens de outro tipo, com o algo absolutamente irrepreensvel. A cautela uma espcie de medo nobre. Cautela no designa a mesma coisa quando se aplic a teoria em contraposio prtica ou poltica. Um terico no ser chamado cauteloso se da caso, no precisar com clareza o valor dos vrios argumentos que e suficiente para a nossa orientao, e conforme regra da razo. ibid., p 147: <E, para nos instruirmos nada mais necessrio do que ler os livros inspirados: todos os dev eres da moral esto l expostos, com clareza e simplicidade, fceis de compreender. E aqui pergunto se este no o modo mais seguro, mais certo, mais eficaz, de ensinar: em particular, se acrescentarmos mais esta considerao, que tal como se adequa s ma is fracas capacidades das criaturas razoveis, tambm alcana e satisfaz, mais, ilumin a as capacidades mais elevadas. (Os itlicos no esto no original). (52) Essay, 1.3, 3. DIREITO NATURAL E HISTORIA emprega ou se suprimir algum facto relevante. Um homem da vida prtica que seja ca uteloso neste sentido ser censurado por ser falho em cautela. Pode haver factos e xtremamente relevantes que, se forem postos em destaque, inflamariam as paixes po pulares e assim impediriam um tratamento sbio desses mesmos factos. Um escritor p oltico cauteloso faria a defesa da boa causa de uma maneira que presumivelmente c riaria uma boa-vontade geral a seu respeito. Evitaria mencionar tudo o que retira sse o vu por detrs do qual a parte respeitvel da sociedade dissimula as suas divises. nquanto o terico cauteloso desprezaria o recurso aos preconceitos, o homem prtico cauteloso tentaria reunir todos os preconceitos respeitveis no servio boa causa. A lgica no admite qualquer compromisso. A essncia da poltica o compromisso. Agindo nest e esprito, os estadistas que foram responsveis pelo acordo de 1689 que Locke defen deu nos Dois Tratados, estavam pouco preocupados em saber se a sua premissa maior concordava com a sua concluso, desde que a sua premissa maior assegurasse duzent os votos, e a concluso outros duzentos>, (53). Agindo com o mesmo esprito, Locke, na defesa que fez do acordo revolucionrio, apelou tanto quanto pde autoridade de H ooker um dos homens menos revolucionrios que jamais existiram. Tirou o melhor par tido da sua concordncia parcial com Hooker. E evitou as inconvenincias que poderia m ter sido causadas pela sua discordncia parcial com Hooker ficando praticamente
calado sobre o assunto. Como escrever significa agir, Locke no procedeu de uma ma neira inteiramente diferente quando com-. ps a sua obra mais terica, o Ensaio: como nem todos, nem sequer a maioria daqueles que crem num Deus, do-se ao trabalho, ou tm a capacidade, de examinar e compreender de forma clara as demonstraes do seu se r, no estive disposto a mostrar a fraqueza do argumento aqui referido [no Ensaio, TV.10 7]; pois alguns homens provavelmente encontrariam a a confirmao da crena num D eus o que suficiente para conservar neles os verdadeiros sentimentos da religio e da moral (54) . Locke foi sempre, como Voltaire gostava de lhe chamar, le sageLoc ke. Nalgumas passagens de Reasonableness of Christianity, Locke explicou mais pausad amente a sua concepo de cautela. Ao falar dos filsofos antigos, diz: "A parte racion al e pensante da humanidade (53) Macaulay, The History of England (Nova Iorque: Allison, n. d.), II, p. 49L (>4) Leiter to the Bishop of Worcester (Works, III, pp. 53-54). O DIREITO NATURAL MODERNO e 179 (,..), quando o procurava, encontrava o Deus nico, supremo e invisvel; mas s o reco nheceram e adoraram no seu esprito. Guardaram esta verdade bem fechada no seu pei to como um segredo, nem nunca se atreveram a divulg-la junto do povo; e muito men os junto dos padres, esses guardies ciosos dos seus prprios credos e invenes proveit osas. Na verdade, Scrates ops-se e riu-se do seu politesmo e das opinies erradas que t inham da divindade; e vemos como foi recompensado por isso. As opinies que Plato e os mais sbrios filsofos pudessem ter da natureza e ser do Deus nico no os impediu d e, nas profisses exteriores e no culto, acompanhar o rebanho e de observar a reli gio estabelecida pela lei (...). Nada indica que Locke considerasse repreensvel a c onduta dos filsofos antigos. Ainda assim, poder-se-ia pensar que essa conduta inc ompatvel com a moral bblica. Locke no pensava assim. Ao falar da cautela ou da reserva de Jesus, ou da forma como se ocultava, Locke diz que Jesus usava palavras demasiad o equvocas para poderem ser utilizadas contra si, ou palavras obscuras e equvocas, e menos susceptveis de serem utilizadas contra si, e que tentava manter-se fora do a lcance de quaisquer acusaes que pudessem parecer justas ou graves aos olhos do del egado romano. Jesus complicava a sua mensagem, em circunstncias tais que sem esse com portamento prudente e sem essa reserva, no podia ter cumprido a obra por causa da qual viera (...). De tal modo embrulhava o sentido das suas palavras que no era fcil compreend-lo. Se tivesse agido de maneira diferente, tanto os Judeus, como as autoridades romanas, lhe teriam tirado a vida; ou, pelo menos, teriam obstrudo a s ua obra. Mais, se no tivesse sido cauteloso, teria criado um perigo manifesto de tu multo e sedio; teria havido razes para recear que [a sua pregao da verdade] causaria ( ..) distrbios nas sociedades civis e nos governos do mundo (55). Vemos, portanto, que, segundo Locke, o discurso cauteloso legtimo, quando a franqueza incondiciona l pode entravar uma obra nobre ou pr a paz pblica em perigo; e a cautela legtima pe rfeitamente compatvel com o acompanhar do rebanho nas profisses exteriores, ou com o uso de linguagem ambgua, ou com o embrulhar do sentido das palavras de forma a no se poder ser facilmente compreendido. Admitamos por um momento que Locke era um racionalista puro, isto , que considera va a razo entregue a si mesma no s (55) Reasonableness, pp. 35, 42, 54, 57, 58, 59, 64, 135-136. DIREITO NATURAL E HISTRIA como a nica estrela e bssola (56) do homem, mas tambm como suficiente para conduzir o homem felicidade, e que, por conseguinte, rejeitava a revelao por ser suprflua e, portanto, impossvel. Mesmo nesse caso, dadas as circunstncias em que escreveu, os seus princpios d ificilmente lhe permitiriam ir alm de sugerir que aceitava os ensinamentos do Novo Testamento como verdadeiros porque o seu carcter revelado foi demonstrado, e porque as regras de conduta que tra nsmitem exprimem de forma absolutamente perfeita toda a lei da razo. Contudo, para compreender por que escreveu os Dois Tratados do Governo, e no uma Politique tire des propres paroles de l'criture S ainteo, no necessrio pressupor que ele prprio tinha d-
vidas a respeito da verdade das duas afirmaes mencionadas. Basta admitir que tinha algumas hesitaes quanto a saber se aquilo para que se inclinava a considerar como demonstraes slidas apareceria mesma luz a todos os seus leitores. Pois, se tinha h esitaes deste tipo, foi forado a tornar o seu ensinamento poltico, isto , o ensinamen to da lei natural a respeito dos direitos e deveres de governantes e sbditos, to i ndependente das Escrituras quanto possvel. Se se quiser compreender por que Locke no estava seguro de que todos os seus leit ores ficariam convencidos com a demonstrao do carcter revelado do Novo Testamento, basta analisar o que ele considerava como a prova da misso divina de Jesus. Essa prova fornecida pela multido de milagres que ele fez perante todo o tipo de pessoa s. Ora, segundo Locke, que neste ponto acompanha tacitamente Espinosa, no se pode provar que um dado fenmeno um milagre alegando que o fenmeno em questo sobrenatural ; pois, de forma a provar que um fenmeno no se deve a causas naturais, preciso con hecer os limites do poder da natureza, e tal conhecimento no est ao nosso alcance. suficiente que o fenmeno de que se diz comprovar a misso divina de um homem exiba um poder superior ao dos fenmenos dos quais se diz que refutam essa pretenso: Pod e-se duvidar se se pode estabelecer assim uma distino clara entre milagres e acont ecimentos no milagrosos, ou se se pode basear um argumento demonstrativo na noo loc keana de milagre. Seja como for, de forma a persuadirem pessoas que os no testemu nharam, os milagres tm de ser suficientemente comprovados. Os mila=. gres do Anti go Testamento no foram suficientemente comprovados ao ponto de convencerem os pago s, mas os milagres de Jesus e dm (5) Treatises,1, 58. O DIREITO NATURAL MODERNO Apstolos foram suficientemente comprovados ao ponto de convencerem todos os homen s, e de tal modo que os milagres operados por [Jesus] (...) nunca foram, nem pode riam ser, negados por nenhum dos inimigos, ou adversrios, do cristianismo (57). Es ta afirmao, feita com extraordinria ousadia, particularmente surpreendente na boca de um competentissimo contemporneo de Hobbes e Espinosa. Talvez se pudesse achar o comentrio de Locke menos estranho se pudssemos ter a certeza de que ele no era be m versado naqueles autores <justamente vilipendiados (58) . Mas ser preciso ser be m versado em Hobbes e Espinosa para saber que estes negam a realidade, ou pelo m enos a certeza, de todos os milagres? E a pouca familiaridade de Locke com as ob ras de Hobbes e de Espinosa no desvalorizaria consideravelmente a sua competncia n estas matrias, ele que escrevia no final do sculo XVII? Mas deixemos isso de parte . Se ningum nega os milagres relatados no Novo Testamento, aparentemente seguir-s e-ia que todos os homens so cristos, pois quando se admite o milagre, no se pode rej eitar a doutrina (59) . Porm, Lo(57) A discourse of miracles, Works, VIII, pp. 260-264; Reasonableness, pp. 135 e 146. Ibid., pp. 137-138: a revelao do Antigo Testamento esteve encerrada num pequeno canto do mundo (...). No mundo dos gentios, no tempo do nosso Salvador, e muitos sculos antes dele, s os prprios Judeus podiam atestar os milagres sobre os quais o s Hebreus edificaram a sua f; os Judeus eram um povo desconhecido da maior parte do gnero humano; e as naes que os conheciam, desprezavam-nos e tinham deles uma m op inio (...). Mas o nosso Salvador (...) no confinou os seus milagres ou a sua mensa gem terra de Cana, nem os seus fiis a Jerusalm. Ele prprio pregou na Samaria, e fez milagres nas fronteiras de Tiro e de Sidon, e perante multides de gente provenien te de todas as partes. E depois da sua ressureio, enviou apstolos para as vrias naes, e f-los acompanhar de milagres; que foram feitos em todas as partes com tanta fre quncia, e perante tantas testemunhas to variadas, em plena luz do dia, que (...) o s inimigos do cristianismo nunca se atreveram a neg-los; no, nem sequer Juliano: a quem no faltava talento nem poder para investigar a verdade. Cf. nota 59 abaixo. (58) Second Reply to the Bishop of Worcester, p. 477: No sou suficientemente bem v ersado em Hobbes, net-ri em Espinosa, para poder dizer quais eram as suas opinies nesta matria [a vida depois da morte]. Mas possivelmente haver quem considere a a utoridade de vOssa Senhoria mais til para decidir este caso do que esses nomes ju stamente vilipendiados. A Second Vindication of the Reasonableness of Christianit y (Worlcs, VI, p. 420): No conhecia essas palavras que ele citou do Leviatii, nem nada que se lhes assemelhasse. E s a sua citao me faz acreditar que essas palavras esto efectivamente no livro, pois ainda no as verifiquei.
(") A Discourse of Miracles, p. 259. Talvez se sugira que Locke fez uma dis'no subtil entre no negar os milagres e admitir os milagres.. Assim sendo, o facto de os milagres relatados no Novo Testamento nunca terem sido negados, e de no podere m ser negados, no provaria que a misso de Jesus fosse divina, e assim no existiria uma prova demonstrativa do caracter divino da sua misso. Em todo o caso, a sugesto mencionada contraditria com o que Locke diz alhures. Cf. Second VinDIREITO NATURAL E HISTORIA cke sabia que havia homens que estavam familiarizados com o Novo Testaniento e no eram crentes: a obra Reasonableness of Christianity, ,rn que aparece a sua afir mao mais enftica a respeito dos milagres -do Novo Testamento, foi principalmente con cebida para os deis tas", OS quais existiam aparentemente em grande nmero no seu tewpo (60). Visto que Locke sabia, como ele prprio reconhecia, da existncia de destas no seu tempo e no seu pas, tinha de estar ciente do facto de que um ensinamento poltico baseado nas Escritu ras no seria aceite por todos como inquestionavelmente verdadeiro, pelo wenos no s em um argumento preparatrio e muito complexo que no se encontra nas suas obras. possvel pr a questo em termos mais simples da seguinte maneira: A veracidade de Deu s , com efeito, uma demonstrao de todas as proposies reveladas por ele. Porm, toda a f ra da certeza depende do nosso conhecimento de que Deus revelou a proposio em causa, ou a nossa segurana no pode ser maior do que o nosso conhecimento de que uma revel ao de Deus. Pelo menos no que diz respeito a todos os homens que s conhecem a revelao atravs da tradio, o conhecimento que temos de que esta revelao veio de Deus nunca pode ser to seguro como o conhecimento que ternos da percepo clara e distinta do acordo ou desacordo das nossas prprias ideias. Assim sendo, a nossa certeza de que as al mas dos homens vivero para sempre pertence ao domnio da f, e no ao da razo(61). Todav ia, como sem essa certeza as justas medidas do bom e do mau no tm o carcter de lei, e ssas justas medidas no so uma lei para a razo. Isso significaria que no existe lei n atural. Portanto, para haver uma lei conhecvel pela luz da natureza, isto , sem o a uxlio da revelao positiva, essa lei tem de consistir num conjunto de regras cuja val idade no pressuponha a vida depois da morte ou a eria numa vida depois da morte. cr Tais regras foram estabelecidas pelos filsofos clssicos. Os filsofos pagos, que falav am com a razo, pouco mencionavam Divindade na sua tica. Mostravam que a virtude a pe rfeio e dication, p. 340: A principal destas [marcas particularmente apropriadas ao Messi as a sua ressurreio dos mortos; que por ser grande prova demonstrativa de que ele era o Messias (...) com ibid., p. 342: .Se ele era ou no era o Messias depende em absoluto da [sua ressurreio] (...) quem acreditar na ressurreio, tem de acredita em ambas as coisas; quem negar a ressurreio, no pode acreditar nem numa coisa nen nout ra.. (6') Second Vindication, pp. 164, 264-265, 375. (Gi) Essay, IV.18, 4-8; cf. nota 50 acima. e O DIREITO NATURAL MODERNO a excelncia da nossa natureza; que a sua prpria recompensa, e que recomendar os nos sos nomes posteridade, mas deixaram-na desprovida (62). Porquanto os filsofos clssico s no foram capazes de mostrar que havia uma relao necessria entre a virtude e a pros peridade ou a felicidade, relao essa que no visvel nesta vida e s pode ser assegurada se houver uma vida depois da morte (63). Ainda assim, embora a razo entregue a s i mesma no possa estabelecer uma relao necessria entre a virtude e a prosperidade, o u a felicidade, os filsofos clssicos, assim como praticamente todos os homens, ape rceberam-se de que existe uma relao necessria entre um certo tipo de prosperidade o u felicidade e um tipo ou parte da virtude. Na verdade, existe uma relao visvel ent re a felicidade pblica, ou a prosperidade e a felicidade temporal dos povos, e o cump rimento geral de .vdrias regras morais. Estas regras, que aparentemente so uma par te da lei natural integral, podem receber uma aprovao muito geral por parte da huma nidade, sem conhecerem nem admitirem o verdadeiro fundamento da moral; que s pode ser a vontade e a lei de um Deus que v os homens no escuro, que tem nas suas mos as recompensas e os castigos e poder suficiente para trazer responsabilidade o o
fensor mais orgulhoso. Mas mesmo se, e precisamente se, essas regras forem separa das do verdadeiro fundamento da moral, permanecem assentes nas suas verdadeiras bas es: [Antes de Jesus], essas justas medidas do bom e do mau, que foram introduzidas pela necessidade em toda a parte, que foram prescritas pelas leis civis ou reco mendadas pelos filsofos, permaneceram assentes nas suas verdadeiras bases. Eram v istas como vnculos da sociedade, e convenincias ,(62) Daqui decorre que, .por mais estranho que parea, o legislador no se intromet e nas virtudes e vcios morais, e limita-se na sua funo proteco da propriedade (cf. Tr atises, II, 124; e J. W. Gough, John Locke's Political Philosophy [Oxford: Claren don Press, 1950], p. 190). Se a virtude por si mesma ineficaz, a sociedade civil tem de encontrar outro fundamento que no seja a perfeio humana ou a inclinao para el a; tem de se basear no desejo mais forte no homem, no desejo de preservao de si, e portanto na seu preocupao com a propriedade. (63) Reasonableness, pp. 148-149 : .A virtude e a prosperidade muitas vezes anda m separadas; e, portanto, a virtude raramente tem seguidores. E no espanta que no tenha prevalecido num estado em que eram visveis e prximas as inconvenincias que a aguardavam; e as recompensas duvidosas e distantes. O gnero humano que prossegue a sua felicidade, e a isso tem de ser autorizado, mais, no se pode impedi-lo; no p odia seno julgar-se isento do cumprimento estrito de regras que pareciam contribu ir to pouco para o seu fim priinordial, a felicidade; ao mesmo tempo que lhe nega vam os prazeres desta vida; e tinha poucos indcios e certeza de que havia outra. C f. ibid., pp. 139, 142-144, 150-151; Essay, 1.3, 5, e 11.28, 10-12. .184 DIREITO NATURAL E HISTRIA da vida comum e prticas salutares. (64). Por mais duvidoso que o estatuto da lei natural integral possa se ter tornado no pensamento de Locke, a lei natural parcial, que est limitada ao que a felicidade pblica. um bem da humanidade neste mundo incontestavelmente requer, parece manter-se firme. Em ltim a anlise, s esta lei natural parcial pode ter sido reconhecida por Locke como uma lei da razo, e, por conseguinte, como uma verdadeira lei natural. Temos agora de tomar em considerao a relao entre aquilo a que por enquanto chamamos a lei natural parcial e a lei do Novo Testamento. Se o Novo Testamento fornece ne m mais, nem menos do que lei natural integral, se todas as partes da lei natural'es to expostas no Novo Testamento de uma maneira que clara, simples e fcil de compreen der., ento o Novo Testamento contm as prescries da lei natural que os homens tm de cu mprir para garantir a felicidade poltica sob a forma de expresses claras e simples (66). Segundo Locke, uma das regras da lei de Deus e da natureza indica que o gove rno no pode aumentar os impostos sobre a propriedade do povo sem o seu consentimen to, dado por si mesmo ou pelos seus deputados.. Locke nem sequer tenta confirmar esta regra atravs de declaraes claras e simples das Escrituras. Uma outra regra mu ito importante e reveladora da lei 'natural, tal como Locke a entende, nega ao c onquistador o direito e o ttulo s posses dos vencidos: mesmo numa guerra justa o c onquistador no pode desapossar a posteridade dos vencidos.. O prprio Locke admite q ue esta parea urna doutrina estranha., isto , uma doutrina nova. De facto, pareceri a que a doutrina oposta pelo menos to justificada pelas, Escrituras como a de Loc ke. Por mais de uma vez, Locke cita o dito. de Jeft, que o Senhor Juiz seja o juiz, mas esquece-se de mencionar o facto de que a declarao de Jeft feita no contexto de uma controvrsia acerca do direito de conquista, assim como no refere a opinio inte iramente no-lockeana de Jeft quanto aos direitos do conquistador(9. -se tentado a d izer que a declarao de Jeft, que se refere a uma controvrsia entre duas naes, usada p r Locke como o locus classicus das controvrsias entre o governo e o povo. Na dout rina de Locke, a declarao de Jeft ocupa o lugar da declarao (64) Reasonableness, pp. 144 e 139. Essay, 1.3, 4, 6 e 10 (os itlicos no esto n origin al); Treatises, II, 7, 42, 107. (65) Cf. tambm Essay, 11.28, 11. (66) Treatises, II, 142 (cf. 136, nota), 180, 184; cf. tambm nota 51 acima. Ibid., 21 ,176, 241; cf. Juzes 11:12-24; cf. tambm Hobbes, Leviathart, cap. XXIV (162). O DIREITO NATURAL MODERNO de Paulo Que cada alma esteja sujeita aos poderes superiores, palavras que ele pra
ticamente nunca cita (67) . Alm disso, o ensinamento poltico de Locke depende em absoluto da sua doutrina da l ei natural a respeito das origens das sociedades polticas. Este ltimo ensinamento no pode ser bem fundado nas Escrituras porque a origem de uma sociedade politica com a qual a Bblia est principalmente interessada a do Estado judaico foi a nica or igem de uma sociedade poltica que no foi natural(68). Mais, todo o ensinamento polt ico de Locke baseia-se na pressuposio de um estado de natureza. Esse pressuposto c ompletamente ignorado pela Bblia. O seguinte facto suficientemente revelador: no Segundo Tratado do Governo, onde Locke apresenta a sua prpria doutrina, abundam a s referncias explcitas ao estado de natureza; se no estou enganado, no Primeiro Tra tado, onde critica a doutrina do direito divino dos reis em Filmer, alegadamente retirada das Escrituras, e, portanto, recorre com muito maior frequncia Bblia em comparao com o Segundo Tratado, apenas ocorre uma nica meno ao estado de natureza(69) . Do ponto de vista bblico, a distino importante no entre o estado de natureza e o e stado da sociedade -civil, mas entre o estado de inocncia e o estado aps a Queda. O estado de natureza, tal como Locke o concebe, no idntico nem ao estado de inocnci a, nem ao estado posterior Queda. Se houver algum lugar na histria bblica para o e stado de natureza de Locke, comearia a seguir ao dilvio, isto , muito tempo depois da Queda; pois antes da promessa de Deus a No e aos seus filhos, os homens no tinh am o direito natural carne, que uma consequncia do direito natural preservao de si mesmo, e o estado de natureza o estado em que cada homem tem todos os direitos e privilgios da lei natural (75 . Ora, se o estado de natureza se inicia muito tempo depois da Queda, tudo indicaria que o estado (67) Cf. em particular a citao de Hooker em Treatises, II, 90 nota, cm o contexto e m Hooker: em Hooker o passo citado por Locke imediatamente precedido pela citao da Epistola aos Romanos 13:1. A declarao de Paulo aparece numa citao (Treatises, 237). Cf. tambm ibid., 13, onde Locke se refere a uma objeco em que aparece a declarao de q ue no h dvida de que Deus designou governos., declarao que no aparece na resposta de L cke. (66) Treatises, II, 101, 109 e 115. (6) Ibid., I, 90. (70) Ibid., I, 27 e 39; II, 25; cf. Tambm II, 6 e 87; e II, 36 e 38. Em II, 56- 57, L e aparentemente diz que Ado vivia no estado de natureza anterior Queda. Segundo i bid., 36 (cf. 107, 108, 116), o estado de natureza situa-se nas primeiros tempos d o mundo ou no principio das coisas (cf. Hobbes, De cive, V.2); cf. tambm Treatises, II, 11, in fine, com Gnesis 4:14-15 e 9:5-6. DIREITO NATURAL E HISTRIA de natureza partilharia de todas as caractersticas do estado corrupto de homens de generados. Mas, na realidade, trata-se de uma poca pobre mas virtuosa, uma poca carac terizada pela inocncia e sinceridade, para no dizer que a poca de ouro (71). Tal como a prpria Queda, tambm o castigo pela Queda deixou de ter qualquer significado par a a doutrina poltica lockeana. Locke mantm que mesmo a maldio de Deus sobre Eva no im pe ao sexo feminino um dever de no procurar evitar essa maldio: as mulheres podem evit ar as dores do parto, se tal puder ser remediado (72). A tenso entre o ensinamento da lei natural de Locke e o Novo Testamento talvez ma is bem ilustrada por aquilo que ele diz acerca do casamento e de temas prximos de ste (73). No Primeiro Tratado, qualifica o adultrio, o incesto e a sodomia como p ecados. A indica que se tratam de pecados independentemente do facto de contrariar em a principal inteno da natureza. por isso que se forado a perguntar se o seu carct r pecaminoso no se deve sobretudo revelao positiva. Mais adiante, Locke levanta a que sto qual a diferena de natureza entre uma esposa e uma concubina? Locke no responde ergunta, mas o contexto sugere que a lei natural guarda silncio sobre esse difere na. De mais a mais, Locke indica que a distino entre as mulheres com quem os homens podem ou no podem casar baseia-se exclusivamente na lei revelada. Na discusso temt ica da sociedade conjugal no Segundo Tratado(74), mostra de forma bastante clara que, (7') Cf. Reasonableness, p. 112, e Treatises, I, 16 e 44-45 com ibid., II, 110-111 e 128. Note-se o plural todas essas [pocas]. ibid., 110; houve muitos exemplos de es tados de natureza, ao passo que s por uma vez houve um estado de inocncia. (7') Treatises, I, 47.
(79) Sobre a relao entre o ensinamento de Locke sobre a propriedade e o ensinament o do Novo Testamento, aqui basta mencionar a sua interpretao de Lucas 18:22: assim que vejo o sentido deste passo; vender tudo o que se tem e d-lo aos pobres no um.a . lei em vigor do reino [de Jesus], mas antes um comando de iniciao para aquele jo vem; tratava-se de testar se o jovem acreditava verdadeiramente que ele era o Me ssias, e se estava pronto a obedecer aos seus comandos, e a prescindir de tudo p ara o seguir, quando ele, o seu prncipe, o solicitasse (Reasonableness, p. 120). (74) A discusso temtica da sociedade conjugal ocorre no captulo VII do Segundo Trat ado, num captulo intitulado, no Da Sociedade Conjugal., mas Da Sociedade Poltica ou C ivil. Por acaso, esse captulo seguido pelo nico captulo dos dois - Tratados que comea com a palavra Homens. O captulo VII comea com uma clara referncia divina instituio casamento como assinalada em Gnesis 2:18; ainda Mais notvel o contraste entre a do utrina bblica (em particular na sua interpretao rist):e a-doutrina de Locke. Com efe ito, tambm s h um captulo no Essay que comea com a palavra Deus e que seguido pelo captulo do mesmo livro cuja imeira palavra Homem. (III.1 e 2). No nico captulo do Es say que comea com O DIREITO NATURAL MODERNO 187 segundo a lei natural, a sociedade conjugal no necessariamente estabelecida para toda a vida; o fim da sociedade conjugal (a procriao e a educao) requer apenas que na espcie humana o macho e a fmea estejam ligados por uma unio mais prolongada do que as restantes criaturas. No se limita a dizer que os laos conjugais tm de ser mais dur douros no homem do que nas outras espcies de animais; tambm exige que esses laos sej am mais firmes (...) no homem do que nas outras espcies de animais; contudo, esquec e-se de nos dizer quo firmes devem ser esses laos. No h dvida de que a poligamia perf eitamente compatvel com a lei natural. Tambm se deve notar que o que Locke diz sob re a diferena entre uma sociedade conjugal de seres humanos e uma sociedade conju a saber, que a primeira , ou deve ser, mais firme e duradoura do que gal de animais a ltima no implica qualquer proibio contra o incesto, e, portanto, se deve notar ta mbm o seu silncio quanto a tais proibies. De acordo com tudo isto, Locke declara um pouco mais adiante, concordando por inteiro com Hobbes e discordando por inteiro de Hooker, que a sociedade civil o nico juiz de quais so as transgresses merecedoras , ou no, de castigo (75). A doutrina de Locke a respeito da sociedade conjugal afecta naturalmente o seu e nsinamento a respeito dos direitos e deveres dos pais e dos filhos. No se cansa d e citar honra os teus pais. Mas d aos comandos bblicos um significado no bblico ao ign orar completamente as distines bblicas entre as unies legtimas e ilegtimas de homens e mulheres. Mais, no que respeita obedincia que os filhos devem aos seus pais, Loc ke ensina que esse dever cessa com a menoridade do filho. Se os pais retm uma rdea fo rte sobre a obedincia dos filhos depois destes atingirem a maioridade, isso devea palavra Deus, Locke tenta mostrar que as palavras em ltima instncia dependem de ide ias sensveis, e comenta que, atravs das observaes a que se refere, podemos imaginar qu e espcie de noes tinham os primeiros que falaram aquelas lnguas, donde lhes vinham a o esprito (...) (Os itlicos no esto no original). Assim, Locke contradiz com precauo a doutrina bblica que adopta em Treatises, II, 56, e segundo a qual o primeiro homem a usar a palavra, Ado, foi criado como um homem perfeito, dotado de um corpo na p lena posse da sua fora e de um esprito na plena posse da sua razo; desde o primeiro momento da sua existncia que era capaz (...) de governar as suas aces de acordo co m os ditames da lei da razo que Deus implantou nele. (') Treatises, I. 59, 123, 128; II, 65 e 79-81. Cf. Treatises, II, 88 e 136 (e nota) c om Hooker, Laws ofEcclesiastical Polity, 1.10, sec. 10, e 111.9, sec. 2, por um lado, e Hobbes, De cive, XIV.9, por outro. Cf. Gough, op. cit., p. 189. Sobre a preeminncia do direito da mulher, quando comparado com o do pai, ver em particula r Treatises, I, 55, onde Locke tacitamente acompanha Hobbes (De cive, IX.3). Cf. nota 84 abaixo. DIREITO NATURAL E HISTRIA se apenas ao facto de o pai deter normalmente o poder de dispor das suas posses c om uma mo mais parcimoniosa ou mais liberal, de acordo com a menor ou maior adequ ao do comportamento deste ou daquele filho sua vontade e ao seu humor. Para citar o eufemismo de Locke, esta no uma rdea negligencivel na obedincia dos filhos. Mas, com afirma de modo explcito, no seguramente uma rdea natural: os filhos que atingem a ma
ioridade no esto sujeitos a qualquer obrigao da lei natural para obedecer aos seus p ais. Locke insiste com ainda mais veemncia na obrigao perptua dos filhos de honrar os eus pais. Nada pode anular este dever. sempre devido pelos filhos aos pais. Locke enc ontraa base natural desse dever perptuo no facto de os pais gerarem os seus filho s. Contudo, admite que se os pais forem contra natura descuida-. dos com os seus f ilhos, possvel talvez que percam o seu direito <ca uma grande parte desse dever abran gido no mandamento, 'Honra os teus pais'. Locke vai mais longe. No Segundo Tratad o indica que o simples acto de gerar no fundamenta qualquer pretenso dos pais a sere m honrados pelos seus filhos: a honra devida por um filho coloca nos pais um dire ito perptuo ao respeito, reverncia, apoio e, tambm, submisso, em funo do cuidado, des esa e amabilidade que o pai despendeu com a sua educao (76). Donde se segue que se o cuidado, despesa e amabilidade do pai se reduzirem a zero, o seu di reit o honra ser igualmente zero. O imperativo categrico Honra o teu pai e a tua me converte-se no imperativo hipottico Honra o teu pai e a t ua me se eles o merecerem. Pensamos que se pode dizer com segurana que a lei natural pardal de Locke no idntica aos ensinamentos claros e simples do Novo Testamento ou das Escrituras em geral. Se todas as partes da lei natural esto expostas no Novo Testamento de uma maneira clara simples, segue-se que a lei natural parcial no pertence de todo lei natural. Esta concluso tambm apoiada pela seguinte considerao: Para ser uma lei no sentido prp rio do termo, a lei natural tem de ser reconhecida como tendo sido dada por Deus . Mas a lei natural parcial no requer a crena em Deus. A lei natural parcial circunscr eve as condies que uma nao tem de cumprir de forma a ser civil du (76) Treatises, I, 63, 90, 1:00; II, 52, 65-67, 69, 71-73. Parece estar implcito em_ Locke que, mantendo tudo o resto constante, os filhos dos ricos esto sob uma obr igao mais apertada de honrar os seus pais do que os filhos dos pobres. Tal estaria On total acordo com o facto de os pais abastados terem um controlo maior sobre a obedi ncia dos seus filhos do que os pais pobres. O DIREITO NATURAL MODERNO civili7ada. Ora, os Chineses so um grande povo e muito civil e os Siamitas so uma nao ivilizada, e nem os Chineses, nem os Siarnitas, tm a ideia e o conhecimento de Deus (77). A lei natural parcial> no , ento, urna lei no sentido prprio do termo (78). Chegamos assim concluso de que Locke no pode ter reconhecido qualquer lei natural no sentido prprio do termo. Esta concluso contrasta de modo gritante com aquela qu e normalmente se pensa ser a sua doutrina, e em particular cOm a doutrina do Seg undo Tratado. Antes de procedermos ao exame do Segundo Tratado, pedimos ao leito r que tome em considerao os seguintes factos: A interpretao aceite do ensinamento de Locke conduz admisso de que Locke est cheio de falhas ilgicas e de inconsistncias (7 ), de inconsistncias, acrescentamos ns, to bvias que no podem ter escapado ateno de homem da sua estatura e da sua sobriedade. Mais, a interpretao aceite baseia-se no que acaba por ser uma completa desconsiderao da cautela de Locke, de um tipo de c autela que , para mais no dizer, compatvel com o embrulhar do sentido da mensagem d e forma a no se poder ser facilmente compreendido e a acompanhar o rebanho nas pr ofisses exteriores. Sobretudo, a interpretao aceite no presta suficiente ateno ao carc er do Tratado; de algum modo, pressupe que o Tratado contm a apresentao filosfica da doutrina poltica de Locke, quando, na realidade, contm apenas a sua apresentao civil. No Tratado, menos Locke, &filsofo, do gue Locke, o ingls, que se dirige, no a filsof os, mas aos ingleses (85 . E por esta razo que o argumento dessa obra se baseia e m parte em opinies geralmente aceites, e at, em certa medida, em princpios das Escr ituras: A maioria no pode conhecer, e portanto tem de acreditar, de tal modo que, m esmo que a filosofia nos tivesse dado a tica sob a forma de uma (77) Treatises, I, 141; Essay, 1.4, 8; Second Reply to the Bishop of Worcester, p. 486. Reasonableness, p. 144. Essas justas medidas do bom e do mau (...) permanec eram assentes nas suas verdadeiras bases. Eram vistas como vnculos da sociedade, e convenincias da vida comum e prticas salutares. Mas [antes de Jesus] como que as obrigaes que impunham podiam ser meticulosamente conhecidas e autorizadas, e foss em tidas por preceitos de uma lei; da lei suprema, da lei natural? Tal nunca aco nteceria sem que se conhecesse e reconhecesse com clareza o legislador, (compara r com p. 183 acima e nota 49 [p. 175] ). (78) Assim, Locke por vezes identifica a lei natural, no com a lei da razo, mas co
m a razo pura e simples (cf. Treatises, I, 101, com II, 6, 11, 181; cf. tambm ibid., I, 111, in fine). (79) Gough, op. cit., p. 123. (8') Cf. Treatises, II, 52, in princ., e I, 109, in princ., com Essay, 111.9, 3, 8, 15, e cap. XI, 11; Treatises, prefcio, I, 1 e 47; II, 5, 177, 223 e 239. DIREITO NATURAL E HISTRIA cincia comparvel matemtica, em todos os pontos demonstrvel, ) ainda assim, seria mel hor deixar a instruo do povo aos preceitos p.rincpios do Evangelho (81). porm, por mais que Locke, no Tratado, tivesse seguido a tradiuma comparao sumria da sua doutrina com as doutrinas de o, Hooker e de Hobbes mostraria que Locke se afastou consideravelmente da doutrina tradicional da lei natural e seguiu os passos dados por bbes(82). Na realidade, h apenas um passo no Tratado em que Locke assinala explicitamente que se afasta d e Hooker. Mas o passo chama a nossa ateno para um afastamento radical. Depois de c itar gooker, Locke diz: Ms eu acrescento que todos os homens esto por natureza no [ estado de natureza] Deste modo, Locke sugere que, segundo Hooker, alguns homens estavam de facto ou acidentalmente o estado de natureza. Na verdade, Hooker no dissera nada sobre o n estado de natureza: toda a doutrina do estado de natureza baseia-se nutria ruptu ra com os seus princpios, isto , com os princpios da doutrina tradicional da lei na tural. A ideia de estado de natureza em Locke inseparvel da doutrina de que no est ado de natureza todos tm o poder executivo da lei natural. Por duas vezes afirma no contexto que esta doutrina estranha, isto , nova (83). referido (81) Reasonableness, p. 146. Cf. as aluses vida alm da morte em Treatises, II, 21, com 13, in fine. Cf. as aluses religio em Treatises, II, 92, 112, 209-210. I" (82) Em Treatises, II, 5-6, Locke cita Hooker, 1.8, sec. 7. O passo usado por Hooker para estabelecer o dever de se amar o prximo como a si mesmo; usado por Locke para estabelecer a igualdade natural de todos os homens. No mesmo contexto, ocke substitui o dever do amor mtuo, de que falava Hooker, pelo dever de evitar causa r danos a outros, isto , deixa cair o dever de caridade (cf. Hobbes, De cive, 1V. 12 e 23). Segundo Hooker (I.10, sec. 4), os pais detm por natureza o poder supremo no io das suas famlias.; segundo Locke (Treatises, II, 52 ss.), todos os direitos naturais 5,4en Dai so, para mais no dizer, inteiramente partilhados pela me (cf. no ta 75 acima). Hooker (I.10, sec. 5), a lei natural prescreve a sociedade civil; segundo Locke Sj,,g.e.atises, II, 95 e .13), qualquer conjunto de homens pode forma r uma sociedade (os itlicos no esto no original). Cf. Hobbes, De cive, VI.2 e nota 67 acima. Cf. -,linterpretao da preservao de si em Hooker, 1.5, sec. 2, com a interp retao comtamente diferente em Treatises, 1, 86, 88. Considerar, sobretudo, a discordn cia Pideical entre Hooker (1.8, secs. 2-3) e Locke (Essay, 1.3) relativa ao pape l do consensus entium na demonstrao da existncia da lei natural. (ss) Treatises , II, 9, 13 e 15; cf. 91 nota, onde Locke, citando Hooker, num co, eotrjo explicativo alude ao estado de natureza que no mencionado por Hooker; t bin 1 4 com Hobbes, Leviathan, cap. XIII (83). Sobre o caracter estranho)? doutrina seg undo a qual no estado de natureza todos tm o poder executivo da lei %tura], cf. T oms de Aquino, Summa theologica, 11.2, q. 64, a. 3, e Suarez, Tr. de legibu.s,,,, e. 3 secs. 1 e 3, por um lado, e Grcio, De jure bali acpacis, 11.20, secs. 3 e 7 e 11.25, sec sim. como Richard Cumberland, De legi bus naturae, cap. 1, sec. 26, por outro. O DIREITO NATURAL MODERNO Qual , pois, a razo por que, segundo Locke, admitir a lei natural requer que se ad mita um estado de natureza, e de modo mais particular, a admisso de que no estado de natureza cada homem tem o direito de (...) ser o executor da lei natural.? (. ..) Como seria completamente em vo supor uma regra a impor s aces livres do homem, s em lhe juntar alguma sano do bem e do mal para determinar a sua vontade, sempre qu
e supomos uma lei, temos tambm de supor uma recompensa ou um castigo que acompanh em essa lei. Para ser uma lei, a lei natural tem de ter sanes. Segundo a concepo trad icional, essas sanes so dadas pelo julgamento da conscincia, que o julgamento de Deu s. Locke rejeita esta perspectiva. Segundo ele, o julgamento da conscincia no mais do que a nossa prpria opinio ou julgamento acerca da rectido ou depravao moral das no ssas prprias aces.. Ou para citar Hobbes, o qual Locke implicitamente acompanha: as conscincias privadas (...) no passam de opinies privadas.. Portanto, a conscincia no pode ser um guia; muito menos pode gerar sanes. Ainda que o veredicto da conscincia seja identificado com a opinio recta acerca da qualidade moral das nossas aces, po r si mesmo completamente impotente: Basta ver um exrcito a saquear uma cidade, e c omparar a sua observncia ou o seu sentido dos princpios morais, ou os seus escrpulo s de conscincia, com todos os ultrajes que comete.. Se h sanes para a lei natural ne ste mundo, essas sanes tm de ser executadas por seres humanos. Mas qualquer execuo da ei natural que ocorrer na, e pela, sociedade civil parece ser o resultado de uma conveno humana. Portanto, a lei natural no ser efectiva neste mundo, e, por consegu inte, no ser uma verdadeira lei, se no for eficaz no estado que antecede a sociedad e civil ou o governo no estado de natureza; mesmo no estado de natureza todos tm de ser efectivamente responsveis perante os outros seres humanos. Contudo, isso e xige que no estado de natureza cada um tenha o direito de ser o executor da lei natural: a lei natural seria v, tal como as outras leis que concernem os homens ne ste mundo, se no houvesse algum que no estado de natureza tenha o poder de executa r esta lei. Com efeito, a lei natural dada por Deus, mas para que seja uma lei, no necessrio que se saiba que foi dada por Deus porque ela imediatamente sancionada , no por Deus, nem pela conscincia, mas por seres humanos (84) . (84) Reasonableness, p 114: .se no houvesse castigo para os transgressores da [le i de Jesus], as suas leis no seriam leis de um rei (...), mas apenas palavras vaz ias, sem fora, nem influncia. Treatises, II, 7, 8, 13, in fine, 21 in fine; cf. ibid ., 11, with I, 56. Essa)', 1.3, 6-9, e 11.28, 6; Hobbes, Leviathan, chap. XXIX (212). Quando fala :192 DIREITO NATURAL E HISTORIA A lei natural no pode ser verdadeiramente uma lei se no for efectiva no estado de natureza. No pode ser efectiva no estado de natureza se o estado de natureza no for um estado de paz. A lei natural impe a todos o dever perfeito de preservar o resto do gnero humano tanto quan to for possvel, mas s quando a sua prpria preservao no estiver em causa. Se o estado de natureza fosse caracterizado pelo conf lito habitual entre a preservao de si mesmo e a preservao dos outros, a lei natural que quer a paz e a preservao de todo o gnero humano seria inoperante: a exigncia prior itria da preservao de si mesmo no deixaria espao preocupao com os outros. Portanto, stado de natureza tem de ser um estado social; no estado de natureza todos os ho mens formam uma s sociedade em virtude da lei natural, embora no tenham um superior c omum na terra. Na medida em que a preservao de si mesmo requer alimento e outras co isas necessrias, e que a escassez de tais coisas leva ao conflito, o estado de na tureza tem de ser um estado de abundncia: Deus deu-nos todas as coisas em abundncia. A lei natural no pode ser uma lei se no for conhecida; tem de ser conhecida e por tanto tem de ser conhecvel no estado de natureza(85). Depois de ter tirado ou sugerido este retrato do estado de natureza, em particul ar nas primeiras pginas do Tratado, Locke vai demoli-lo medida que avana no seu ar gumento. O estado de natureza, que, primeira vista, parece ser a idade de ouro g overnada por Deus ou por bons demnios, literalmente um estado sem governo, uma ana rquia pura. Poderia durar para sempre, no fosse a corrupo e perversidade dos homens d egenerados; mas infelizmente a maior parte no respeita escrupulosamente a equidade e a justia. Por esta razo, para no mencionar outras, o estado de natureza tem grande s inconvenincias. Muitas ofensas, injrias e males recprocos (...) do direito naval de cada um ser o executor da lei natural, Locke refere-se a essa grande lei natural, 'Quem derramar o sangue do homem, ter o seu prprio sangue der ramado' (Gnesis 9:6). Mas omite a razo bblica, porque o homem foi feito . imagem de De us. A razo lckeana para o direito de infligir a pena capital aos assassinos a de qu e o homem pode destruir coisas nocivas para o homem (os itlicos no esto no original). Locke negligencia o facto de tanto o assassino, como o assassinado terem sido c
riados imagem de Deus: o assassino pode ser destrudo como um leo ou um tigre, um de sses animais selvagens com os quais o homem no pode viver em sociedade, nem em se gurana (Treattses, II, 8, 10, 11, 16, 172, 181; cf. I, 30). Cf Toms de Aquino, Summa t heologica, I, q. 79, a. 13 e 11.1, q. 96, a. 5 ad 3 (cf. a. 4, obj 1); Hooker,L9 , secs. 2-10, sec. 1; Grcio, De jure belli ac pacis, Prolegomena, 20e 27 Cumberlan d. loc. cit. (") Treatises, I, 43; II, 6, 7, 11, 19, 28, 31, 51, 56-57, 110, 128, 171, 172. O DIREITO NATURAL MODERNO aguardam os homens no estado de natureza; a, os tumultos e os problemas seriam infindveis. O estado de natureza est cheio de medos e perigos contnuos. Trata-se de uma m condio. Longe de ser um estado de paz, um estado em que a paz e o sossego so incertos. O estado de paz a sociedade civil; o estado que antecede a sociedade civil o estado de guerra(88). Trata-se ou da causa, ou do efeito, do facto de o estado de natureza ser um estado, no de abundncia, mas de penria. Os que nele vivem esto carenciados e miserveis. A abundncia requer a sociedade civil (87), Por ser uma anarquia pura, no provvel que o estado de natureza seja um estado social. De facto, caracteriza-se pela ausncia da sociedade. Sociedade e sociedade civil so termos sinnimos. O estado de natureza desregrado. Po to o primeiro e mais forte desejo que Deus plantou nos homens no foi o cuidado com os outros, nem sequer o cuidado com a prpria descendncia, mas o desejo de preservao de si mesmo (88). O estado de natureza seria um estado de paz e de boa vontade se os homens no est ado de natureza estivessem submetidos lei natural. Mas ningum pode estar submetido a uma lei que no lhe foi promulgada. O homem conheceria a lei natural no estado de natureza se os ditames da l ei natural estivessem implantados nele ou escritos nos coraes do gnero humano. Mas no h regras morais inscritas nos nossos espritos ou escritas nos [nossos] coraes ou impressas nos [nosso espritos ou implantadas em ns. Como no h qualquer habitus de princpios morais, como no h synderesis ou conscincia, todo o conhecimento da lei natural adquire-se atravs do estudo: par a conhecer a lei natural preciso ser um estudante dessa lei. A lei natural s pode ser conhecida atravs da demonstrao. Portanto, a questo saber se os homens no estado de natureza so capazes de se tornarem estudantes da lei natural. A maior parte da humanidade carece de lazer ou de capacidade para a demonstrao (...) E com mais razo podeis esperar fazer de jornaleiros e comerciante s, e de solteironas e amas de leite, perfeitos matemticos do que torn-los deste mo do peritos em tica.. Todavia, um jornalei(86) Ibid., II, 13, 74, 90, 91 e nota, 94, 105, 123, 127, 128, 131, 135 nota, 136, 212, 225-27. (") Ibid., 32, 37, 38, 41-43, 49. (") Ibid., 21, 74, 101, 105, 116, 127, 131, in princ., 132 , in princ., 134, in prim. (cf. 124 in princ.), 211, 220, 243; cf. I, 56 com 88. Cf. ambas as passagens, ass im como I, 97, e II, 60, 63, 67, 170, com Essay, 1.3, g3, 9, 19. DIREITO NATURAL E HISTRIA ro em Inglaterra goza de uma situao mais confortvel do que um rei dos Americanos, e no principio, o mundo inteiro era a Amrica, e mais ainda do que agora. As primeiras pocas caracterizam-se mais por uma inocncia negligente e imprevidente do que por hbit os perigos co os de estudo (89). A condio em que o homem vive no estado de natureza ntnuos e a penria impossibilita o conhecimento da lei natural: no estado de natureza a lei natural no promulgada. Como a lei natural, para ser uma lei no sentido prpri o do termo, tem de ser promulgada no estado de natureza, somos uma vez mais forad os a concluir que a lei natural no uma lei no sentido prprio do termo (90). Qual , ento, o estatuto da lei natural na doutrina de Locke? Qual o seu fundamento ? No h nenhuma regra da lei natural que seja inata, isto , (...) impressa no espirit o como um dever. Isso mostra-se pelo facto de no haver regras da lei natural que, c omo deveriam fazer os princpios prticos, continuem constantemente a operar e a inf
luenciar todas as nossas aces sem cessar [e que] podem ser observadas em todas as pessoas e em todas as pocas, de forma estvel e universal. Contudo, a Natureza (...) introduziu no homem um desejo de felicidade e uma averso misria; na realidade, est es so princpios prticos inatos: so universal e constantemente eficazes. O desejo de f elicidade, e a prossecuo da felicidade a que d azo, no so deveres. Mas tem de se permi tir aos homens que prossigam a sua felicidade, mais, no se pode impedi-los. O dese jo de felicidade e a prossecuo da felicidade tm o carcter de um direito absoluto, de um direito natural. H, ento, um direito natural inato, ao passo que no h qualquer d ever natural inato. Para compreender como isso possvel, basta reformular a nossa l tima citao: a prossecuo da felicidade um direito, tem de ser permitido, porque no p er impedido. Trata-se de um direito que precede todos os deveres pela mesma razo q ue, segundo Hobbes, estabelece o direito de preservao de si mesmo como o facto mor al fundamental: tem de se permitir que o homem defenda a sua vida contra a morte violenta porque levado a faz-lo por uma certa necessidade natural semelhante que arrasta uma pedra que cai. Por (") Cf. sobretudo, Treates, II, 11 in fine, e 56, com Essay, 1.3, 8, e 1.4, 12; Trea tises, II, 6, 12, 41;49, 57, 94, 107, 124, 136; Essay, 1.3, 1, 6, 9, 11-13, 26, 27; Reasonableness, pp. 146, 139, 140. Cf. nota 74 acima. (90) Cf. o uso do termo crime (em oposio a <pecado) em Treatises, II, 1O, 11, 87, 128, 218, 230, com Essay, 11.28, 7-9. O DIREITO NATURAL MODERNO ser universalmente efectivo, o direito natural, em contraposio ao dever natural, e fectivo no estado de natureza: o homem no estado de natureza senhor absoluto da s ua prpria pessoa e das suas posses (91). Como o direito natural inato, ao passo qu e a lei natural no o , o direito natural mais fundamental do que a lei natural, e o seu fundamento. Como a felicidade pressupe a vida, o desejo de vida, em caso de conflito, goza de prioridade sobre o desejo de felicidade. Este ditame da razo ao mesmo tempo uma necessidade natural: o primeiro e mais forte desejo que Deus plantou nos homens, e que forjou nos princpios da sua natureza, foi o da preservao de si mesmo. O mais f undamental de todos os direitos portanto o direito de preservao de si mesmo. Embor a a natureza tenha posto no homem um forte desejo de preservar a sua vida e o seu ser, s a razo humana pode ensinar-lhe o que necessrio e til ao seu ser. E a razo lhor, a razo aplicada a um objecto que ser agora especificado a lei natural. A razo ensina que quem senhor de si mesmo e da sua vida tem tambm um direito aos meios d e a preservar. A razo mais ensina que, como todos os homens so iguais em relao ao des ejo, e por conseguinte ao direito, de preservao de si, so tambm iguais no que essenc ial, no obstante todas as outras desigualdades naturais (92). Daqui Locke conclui , tal como Hobbes concluiu, que no estado de natureza cada um juiz dos meios nec essrios para a sua preservao, e isso leva-o, como levou Hobbes, concluso adicional d e que, no estado de natureza, todo o homem pode fazer o que lhe parece convenient e (93). Portanto, no surpreende que o estado de natureza esteja cheio de medos e pe rigos contnuos. Mas a razo ensina que a vida no pode ser preservada, muito menos usu fruda, seno num estado de paz: a razo quer a paz. Portanto, a razo quer modos de con duta que conduzam paz. Assim, a razo dita que ningum deve fazer mal a outrem, que a quele que fizer mal a outro e (91) Essay, 1.3, 3 e 12; Reasonableness, p. 148; Treatises, II, 123 (cf. 6). Cf. Hob bes, De cive, 1.7, e 111.27 nota. (92) Treatises, I, 86-88, 90 in princ., 111 in fine; II, 6, 54, 149, 168, 172. Podese descrever a relao do direito de preservao de si com o direito prossecuo da felicid de do seguinte modo: o primeiro o direito de subsistir e implica o direito ao que necessrio ao ser do homem; o segundo o direito de gozar as convenincia da vida ou pr servao confortvel e tambm implica, por conseguinte, o direito ao que til para o ser d homem sem que lhe seja necessrio (cf. Treatises, I, 86, 87, 97; II, 26, 34, 41). (93) Ibid., II, 1o, 13, 87, 94,105, 129, 168, 171. 196 DIREITO NATURAL E HISTRIA que por isso renunciou razo pode ser punido por todos e que o ofendido deve obte uma indemnizao. Estas so as regras fundamentais da lei natural sobre a qual se bas eia o Tratado: a lei natural no mais do que a soma dos ditames da razo relativos se gurana mtua dos homens ou paz e segurana do gnero humano. Como no estado de natureza
dos os homens so juzes em causa prpria, e como, portanto, o estado de natureza cara cterizado pelo conflito constante que surge da prpria lei natural, o estado natur eza <i intolervel: o governo ou a sociedade civil o nico remdio. Em conformidade, a r azo dita o modo de construo da sociedade civil e quais so os seus direitos ou limite s: existe um direito pblico racional ou um direito constitucional natural. O prin cpio desse direito pblico que todo o poder social ou governamental decorre de pode res que por natureza pertencem aos indivduos. O contrato dos indivduos realmente i nteressados na sua preservao no o contrato de pais enquanto pais, nem a designao divi na, nem um fim do homem que seja independente das vontades actuais de todos os i ndivduos cria todo o poder da sociedade: o poder supremo em cada comunidade poltica no [] seno o poder conjunto de cada membro da sociedade (94). A doutrina da lei natural de Locke pode ento ser compreendida na perfeio se admitir mos que as lei naturais que ele aceita so, como disse Hobbes, apenas concluses, ou teoremas acerca do que conduz preservao e defesa do homem contra outros homens. ass im que se tem de compreender a doutrina da lei natural de Locke, j que a concepo al ternativa est exposta s dificuldades que foram apresentadas. A lei natural, como L ocke a entende, formula as condies de paz ou, em termos mais gerais, da felicidade pblica ou da prosperidade de qualquer povo. Existe portanto uma espcie de sano para a ei natural neste mundo: o desrespeito pela lei natural corrduz misria pblica e penr ia.. Mas esta sano insuficiente. O cumprimento universal da lei natural garantiria , com efeito, a paz perptua e a prosperidade em todo o mundo. Mas, se esse cumpri mento universal falhar, pode bem acontecer que a sociedade que cumpre a lei natu ral goze de menos felicidade temporal do que a sociedade que a transgride. Pois, tanto nos assuntos externos como nos assuntos internos, a vitria nem sempre favo rece a parte justa: os grandes ladres (...) so demasiado grandes para as mos (94) Ibid., 4, 6-11, 13, 96, 99,127-30, 134, 135, 142, 159. O DIREITO NATURAL MODERNO 197 fracas da justia neste mundo. Contudo, permanece pelo menos a seguinte diferena ent re os que cumprem escrupulosamente a lei natural e os que no a cumprem, que s os p rimeiros podem agir e falar com coerncia; s os primeiros podem afirmar sem contrad io que existe uma diferena fundamental entre sociedades civis e bandos de ladres, um a distino qual todas as sociedades e todos os governos so sempre forados a apelar. N uma palavra, a lei natural mais uma criatura do entendimento do que uma obra da n atureza; uma noo, existe apenas no esprito, e no nas prprias coisa.s. Esta a que permite que a tica seja elevada ao estatuto de uma cincia demonstrativa(95). No se pode clarificar o estatuto da lei natural sem ponderar o estatuto do estado de natureza. Locke mais categrico do que Hobbes ao assegurar que os homens viver am efectivamente no estado de natureza ou que o estado natureza no uma mera press uposio hipottica(96). Isso quer dizer, em primeiro lugar, que os homens viveram rea lmente, e podem viver, sem estarem sujeitos a um superior comum na terra. Ademai s, Locke quer dizer que os homens que vivem nessa condio, e que estudam a lei natu ral, saberiam como remediar as inconvenincias da sua condio e lanar as bases da feli cidade pblica. Mas homens destes s poderiam conhecer a lei natural enquanto viviam no estado de natureza, se j tivessem vivido numa sociedade civil, ou, melhor, nu ma sociedade civil em que a razo tivesse sido convenientemente cultivada. por isso que, para ilustrar o caso de homens que esto no estado de natureza sob a lei nat ural, o exemplo de uma elite entre os colonos ingleses na Amrica seria mais aprop riado do que o dos ndios selvagens. Um exemplo melhor ainda seria o de quaisquer homens altamente civilizados aps o colapso da sua sociedade. E curta a distncia qu e separa este exemplo da ideia (95) Ibid., 1, 12,176-77, 202; Essay, 111.5, 12, e W.12, 7-9 (cf. Espinosa, tica, IV, prefcio e 18 schol.). Sobre o elemento de fico legal que est implcito na lei natural e da razo, cf. Treatises, II, 98 in princ., com 96. Cf. Reasonableness, p. 11: .a lei da razo, ou, como chamada, a lei natural. Cf. tambm Seco A, nota 8 acima, e notas 11 3 e 119 abaixo. Hobbes, De cive, Epstola Dedicatria, e Leviathan, cap. XV (96 e 10 4-105) (") Cf. Leviathan, cap. XIII (83) ver tambm a verso latina com Treatises, 14, 100-10 3, 110. A razo para o afastamento de Locke relativamente a Hobbes que, segundo Ho bbes, o estado de natureza pior do que qualquer tipo de governo, enquanto para L ocke o estado de natureza prefervel ao governo arbitrrio e sem lei Dai que Locke e
nsine que o estado de natureza mais vivel do ponto de vista dos homens sensatos d o que a monarquia absoluta: o estado de natureza tem de ser, ou foi, real. 198 DIREITO NATURAL E HISTRIA de que o exemplo mais bvio de homens que esto no estado de natureza sob a lei natu ral o de homens que vivem na sociedade civil e que reflectem sobre o que com jus tia podem exigir dela, ou sobre as condies de razoabilidade da obedincia civil. Assi m, torna-se finalmente irrelevante saber se o estado de natureza entendido como um estado em que os homens esto sujeitos apenas lei natural, e no a um qualquer su perior comum na terra, chegou ou no a existir (9. com base na concepo hobbesiana da lei natural que Locke se ope s concluses de Hobbes. Locke tenta mostrar que o princpio de Hobbes o direito de preservao de si mesmo , l onge de favorecer o governo absoluto, requer o governo limitado. A liberdade, a l iberdade em relao ao poder arbitrrio e absoluto, a barreira da preservao de si mesm r conseguinte, a escravido contrria lei natural, salvo se for substituta da pena c apital. Nada que seja incompatvel com o direito bsico de preservao, e portanto nada que se no possa supor como objecto de consentimento livre por parte de uma criatu ra racional, pode ser justo; da que a sociedade civil ou o governo no possam ser estabelecidos legitimamente pela fora ou pela conqui sta: s o consentimento criou ou podia criar um governo legtimo no mundo. Pela mesma razo, Locke condena a monarquia absoluta ou, mais precisamente, o poder arbitrrio a bsoluto (...) de um s ou de vrios, assim como o governo sem leis firmemente estabele cidas (98). Apesar das limitaes que Locke exige, a comunidade poltica permanece para ele, como para Hobbes, o poderoso leviat: ao entrar na sociedade civil, os homens p rescindem de todo o seu poder natural em favor da sociedade na qual entram. Tal c omo Hobbes, tambm Locke admite um s contrato: o contrato de unio que cada indivduo f az com todos os outros indivduos da mesma multido idntico ao contrato de sujeio. Tal como Hobbes, tambm Locke ensina que, graas ao contrato fundamental, todo o homem contrai uma obrigao perante todos os membros dessa sociedade de se su bmeter determinao da maioria e de se deixar dirigir por ela; ensina, portanto, que o contrato fundamental estabelece imediatamente urna democracia incondicionada; ensina que esta primeira democracia pode por voto maioritrio manter-se a si (97) Cf. Tratados, II, 111I, 121, 163; cf. Hobbes, De cive, praef.: .in jure civi tads, civiumque officiis investigandis opus est, non quidem ut dissolvatur civit as, sed tarnen ut tarnquarn dissoluta consideretur . (") Treatises, I, 33 e 41; II, 13, 17, 23, 24, 85, 90-95, 99, 131, 132, 137, 153, 175-76, 201-2; cf. Hobbes, De cive, V.12, e VI11.1-5. _ O DIREITO NATURAL MODERNO 199 mesma ou transformar-se noutra forma de governo; e ensina que o contrato social , pois, de facto idntico a um contrato de sujeio ao soberano. (Hobbes) ou ao poder sup remo. (Locke), e no sociedade (99). Locke contraria Hobbes ao ensinar que indepen dentemente da instncia em que o povo ou a comunidade., isto , a maioria, colocou o po der supremo, esta retm um poder supremo de remover ou alterar o governo estabelecid o, isto , retm um direito de revoluo (100). Mas este poder (que em tempo de normalid ade est dormente) no condiciona a sujeio do indivduo em relao comunidade ou socied Pelo contrrio, justo dizer que Hobbes reala de forma mais vincada do que Locke o d ireito individual de resistir sociedade ou ao governo sempre que a sua preservao e steja em perigo ('"). No obstante, Locke teria razo em afirmar que o poderoso leviat, tal como o construra , proporcionava maiores garantias para a preservao do indivduo do que o Leviat de Ho bbes. O direito individual de resistncia sociedade organizada, que Hobbes realara e que Locke no negou, uma garantia ineficaz da preservao do indivduo (102). Como a ni ca alternativa anarquia pura a uma condio em que a preservao de cada um est sob amea constante reside nos homens prescind [ir] em de todo o seu poder natural em favor da sociedade na qual entram.; a nica garantia eficaz dos direitos dos indivduos r eside na construo de uma sociedade incapaz de oprimir os seus membros: s uma socied ade ou um governo assim construdos so legtimos ou conformes lei natural; s uma socie dade dessas pode com justia exigir que o indivduo prescinda de todo o seu poder (99) Treatises, II, 89, 95-99, 132, 134, 136; Hobbes, De cive, V.7; VI.2, 3, 17; V
III.5, 8, 11; cf. tambm Leviathan, caps. XVIII (115) e XIX (126). (19 Treatises, II, 149, 168, 205, 208, 209, 230. Por um lado, Locke ensina que a s ociedade pode existir sem governo (ibid., 121 e 211), e, por outro lado, que a soc iedade no pode existir sem governo (ibid., 205 e 219). A contradio desaparece se toma rmos em considerao o facto de que s no momento da revoluo que a sociedade existe, e a ge, sem governo. Se a sociedade, ou o povo, no existisse e, por isso, no pudesse agi r enquanto no houvesse governo, isto , enquanto no houvesse governo legtimo, no poder ia haver qualquer aco do povo contra um governo de facto. Assim entendida, a aco revol ucionria uma espcie de deciso majoritria que estabelece um novo poder legislativo ou um novo poder supremo no momento exacto em que abole os poderes antigos. '101, ) E por esta razo que Locke acentua bastante mais o dever do servio militar para o indivduo do que Hobbes (cf. Treatises, II, 88, 130, 168, 205, e 208, com Lev iathan, caps. XXI [142-43], XIV [86-87], e XXVIII [202]). (102) Treatises, II, 168 e 208. DIREITO NATURAL E HISTRIA natural. Segundo Locke, as melhores salvaguardas institucionais dos direitos dos indivduos so fornecidas por uma constituio que, em praticamente todos os assuntos internos, subordine de forma escrupulosa o poder executivo (que tem de ser forte) lei, e em ltima anlise a uma assembl eia legislativa bem definida. A assembleia legislativa tem estar limitada elaborao das leis em contraposio a decretos arbitrrio e extemporneos seus membros tm de ser eleitos pelo povo por perodos razoavelmente curtos, e porta nto estarem eles mesmos sujeitos s leis que elaboraram; o sistema eleitoral tem de tomar em conta tanto a dimenso da populao, como as riquezas("s) . Pois embora Locke parea ter pensado que a preservao do individtio estivesse menos ameaada pela maiori a do que por governantes monrquicos e oligrquicos, no se pode dizer que tivesse uma crena implcita na maioria como garantia dos direitos do indivduo (104). Nos passos em que Locke parece descrever a maioria como se fosse uma garantia desse tipo, ele descreve os casos em que a preservao do indivduo ameaada por governantes tirnicos , monrquicos ou oligrquicos; logo, a derradeira e nica esperana para o indivduo sofre dor repousa obviamente nas disposies da maioria. Locke considerava o poder da maio ria como urna barreira ao mau governo e como uma ltima instncia contra o governo t irnico; no via nela um substituto do governo, nem a considerava idntica ao governo. No seu pensamento, a igualdade incompatvel com a sociedade civil. A igualdade de todos os homens em relao ao direito de preservao de si mesmo no anula por completo o direito particular dos homens mais razoveis. Pelo contrrio, o exerccio desse direi to particular propcio preservao e felicidade de todos. E sobretudo, como a preservao de si mesmo e a felicidade requerem propriedade, a tal ponto que se pode dizer q ue o fim da sociedade civil a preservao da propriedade, a proteco dos membros pos sidentes da sociedade contra as reivindicaes dos indigentes ou a proteco dos industr iosos e racionais contra os preguiosos e contendores essencial para a felicidade pblica ou para o bem comum('5). A doutrina da propriedade de Locke, qu& quase literalmente a parte central da su a doutrina poltica, seguramente a sua parte mais (m) Ibid., 94, 134, 136, 142, 143, 149, 150, 153, 157-59. (1") Ver os exemplos de tirania mencionados em Tratados, II, 201: no dado qualquer exemplo de uma tirania da maioria. CE tambm os comentrios de Locke ao Carctendo povo, ibid., 223: o povo ma is lento. do que inconstante.. (I") ibid., 34, 54, 82, 94, 102, 131, 157-58. O DIREITO NATURAL MODERNO caracterstica (1n. Distingue de forma muito clara a sua doutrina politica, no s da de Hobbes, mas tambm das doutrinas tradicionais. Por ser uma parte da sua doutrin a da lei natural, partilha das mesmas complexidades. A sua dificuldade peculiar pode ser apresentada provisoriamente da seguinte maneira: A propriedade uma inst ituio da lei natural; a lei natural define o modo e as limitaes da apropriao justa. Os homens possuem propriedade antes de haver sociedade civil; entram na sociedade civil com vista a preservar ou proteger a propriedade que adquiriram no estado d e natureza. Mas, assim que se forma a sociedade civil, se que no antes, a lei nat
ural no que toca propriedade deixa de ser vlida; aquilci a que podemos chamar pro priedade convencional ou civil a propriedade que possuda no seio da sociedade civil aseia-se apenas na lei positiva. Porm, embora a sociedade civil seja a criadora d a propriedade civil, no sua senhora: a sociedade civil tem de respeitar a proprie dade civil; a sociedade civil, por assim dizer, no tem outra funo seno servir .a sua prpria criao. Locke reclama para a propriedade civil uma santidade muito maior do que para a propriedade natural; isto , a propriedade que adquirida e possuda exclu sivamente com fundamento na lei natural, na lei suprema. Ento, por que est Locke to i mpaciente por provar que a propriedade antecede a sociedade civil? (107) O direito natural propriedade um corolrio do direito fundamental preservao de si me smo; no decorre do pacto, nem de qualquer acto da sociedade. Se todos tm o direito natural de se preservarem, ento tm necessariamente o direito a tudo o que necessri o para a sua preservao. O necessrio para a preservao de si no consiste tanto, como Hob bes parece ter acreditado, em facas e armas, mas em vveres. Os alimentos s contrib uem para a preservao se forem comidos, isto , apropriados de tal maneira que se (106) Depois de ter concludo este captulo, chamaram a minha ateno para o artigo de C . B. Macpherson, Locke on Capitalist Appropriation., Western Political Quarterly, 1951, pp. 550-566. Existe uma considervel rea de concordncia entre a interpretao do captulo sobre a propriedade feita pelo Sr. Macpherson e a interpretao exposta neste texto. Cf. American Political Science Review, 1950, pp. 767-770. (107) Parece haver alguma incoerncia entre a sua aceitao do 'consentimento' como bas e dos direitos de propriedade existentes e a teoria de que o governo existe com o propsito de defender o direito natural de propriedade. No h dvida de que Locke ter ia resolvido a contradio passando da fraseologia da 'lei natural' para consideraes u tilitrias, o que acontece de modo constante.. (R. H. I. Palgrave, Dictionaty of P olitical Economy, s. v. Locke). Locke no tem de passar'> da lei natural para consid eraes utilitrias porque a lei natural, tal como ele a entende, a saber, como a form ulao das condies da paz e da felicidade pblica, em si mesma utilitria.. DIREITO NATURAL E HISTORIA tornam propriedade exclusiva do indivduo; existe ento um direito natural a uma espci e de domnio privado exclusivo do resto do gnero humano. O que vale para os alimentos aplica-se mutatis mutandis a todas as outras coisas necessrias para a preservao de si, e at para a preservao confortvel, pois o homem tem um direito natural no s sua p eservao, mas tambm procura da felicidade. Para no se tornar incompatvel com a paz e a preservao do gnero humano, o direito natu ral de cada um a se apropriar de tudo o que til para si tem de ser limitado. Esse direito natural tem de excluir qualquer direito de apropriao de coisas que j foram apropriadas por outros; tirar coisas que outros apropriaram, isto , causar danos a outros contrrio lei natural. A lei natural tambm no encoraja - a mendicidade; a necessidade enquanto tal no constitui um ttulo propriedade. A persuaso no constitui melhor ttulo propriedade do que a fora. O nico modo honesto de apropriar coisas ret ir-las, no dos outros homens, mas directamente da natureza, a nossa me comum; fazer s eu o que anteriormente no pertencia a ningum, e que portanto podia ser tomado por qualquer um; o nico modo ho= nesto de apropriar coisas atravs do trabalho individu al. Por natureza, cada um o proprietrio exclusivo do seu corpo e, por conseguinte , do agir do seu corpo, isto , do seu trabalho. Portanto, se um homem mistura o s eu trabalho mesmo que seja apenas o trabalho de colher amoras com coisas que nin gum possui, essas coisas convertem-se numa mistura indissolvel da sua propriedade exclusiva com a propriedade de ningum, e portanto convertem-se em sua exclusiva p ropriedade. O trabalho o nico ttulo propriedade que conforme ao direito natural. O homem, por ser senhor de si mesmo e proprietrio da sua prpria pessoa, das suas aces e do seu trabalho, [tem] em si mesmo o grande fundamento da propriedade (108). Na origem da propriedade est, no a sociedade, mas o indivduo o indivduo incentivado ap enas pelo seu irkteresse prprio. A natureza estabeleceu uma medida da propriedade: h limites impostos pela lei natur al ao que um homem pode apropriar para si. Atravs do seu trabalho, cada um pode a propriar-se de tanto quanto for necessrio e til para a sua preservao. Em particular, pode apropriar-se de toda a terra que conseguir usar para cultivo ou pasto. Se tiver mais de um tipo de coisas (A) do que conseguir usar, e menos ue conseguir usar de outro tipo (B), poderia usar (A) trocando-o
,9.y..Treat:ises, II, 26-30, 34, 44. O DIREITO NATURAL MODERNO por (B) . Assim, atravs do seu trabalho, cada homem pode apropriar-se no s do que e m si mesmo til para si, mas tambm do que se pode tornar til para si se for trocado por outras coisas teis. Atra.vs do seu trabalho, o homem pode apropriar-se das coi sas que so, ou podem vir a ser, teis para si, mas s disso; no pode apropriar-se de c oisas que deixariam de ser teis por causa da sua apropriao; pode apropriar-se de tu do quanto puder usar para qualquer convenincia da vida antes que se estrague. Pode, por isso, acumular muito mais nozes que esto prontas a consumir durante um ano in teiro do que ameixas que apodrecem numa semana.. Quanto s coisas que nunca se estra gam, e, alm disso, no tm qualquer uso real, como o ouro, prata e diamantes, pode acumular tanto quanto quiser. Porquanto no a grandeza daquilo que o homem apropria atravs do seu trabalho (ou atravs da troca d os produtos do seu trabalho) que o torna culpado de um crime contra a lei natura l, mas o perecimento intil de alguma coisa nas suas mos. Por conseguinte, s pode acum ular muito poucas coisas perecveis e teis. Pode acumular muitas coisas durveis e tei s. Pode acumular ouro e prata at ao infinito (100). Os terrores da lei natural j no atingem quem cobia, mas quem desperdia. A lei natural em matria de propriedade ate nta na preveno do desperdcio; ao apropriar-se de coisas atravs do seu trabalho, o ho mem tem de pensar exclusivamente na preveno do desperdcio; no tem de pensar nos outr os seres humanos("). Chacun pour soi; Dieu pour nous tous. A lei natural em matria de propriedade, tal como foi at agora resumida, aplica-se apenas ao estado de natureza ou a uma certa fase do estado de natureza. a lei nat ural original que vigorava nas primeiras pocas do mundo ou .no princpio ) E vigorava n esse passado distante apenas porque as condies em que os homens ento viviam o exigiam. A lei natural podia permanecer em silncio quanto aos interesses e necessidades dos outros homens porque essas necessidades eram supridas pela nos sa me comum; por mais que um homem com o seu trabalho apropriasse, havia o suficien te e igualmente bom em comum para os outros. A lei natural original era o ditame da ra(109) Ibid., 31, 37, 38, 46. (110) Cf. ibid., 4044, com Ccero, Deveres, 11.12-14: o mesmo tipo de exemplo que Cce ro invoca para demonstrar a virtude do auxlio que o homem presta ao homem invocad o por Locke para demonstrar a virtude do trabalho. ('") Treatises, II, 3O, 36, 37, 45. Note-se a transio da conjugao do tempo presente pa ra o passado em 32-51, e em particular, em 51. DIREITO NATURAL E HISTORIA zo no princpio, porque no princpio o mundo era pouco povoado e havia <abundncia das provises naturais (112). Isso no pode querer dizer que os primeiros homens viviam num estado de abundncia providenciado pela sua me comum; pois se assim fosse, o homem no teria sido forado desde o incio a trabalhar para viver, e a lei natural no teria proibido de forma to severa todo o tipo de desperdcio: A abun. dncia natural apenas uma abundncia potencial: a natureza e a terra forneceram apenas os materiais que, por si mesmos, quase no tm valor; forneceram bolotas, gua e folhas, ou peles, a comida e a bebida e o vesturio da idade de ouro ou do Jardim do den, por oposio a po, vinho e panos. A abundncia natural, a abundncia dos primeiros tempos, nunca se tornou abundncia real durante as primeiras pocas; a penria que era real. Assim sendo, era evidente-. mente impossvel ao homem, atravs do seu trabalho, apropriar-se de mais do que os bens estritamente necessrios sua vida, ou do que era absolutamente necessrio para a sua mera preservao (por oposio pre servao confortvel); o direito natural preservao confortvel - era ilusrio. Mas precis nte por esta razo, cada homem foi forado a apropriar-se, atravs do seu trabalho, do que necessitava para a sua preservao sem qualquer considerao pelos outros homens. P ois o _ homem est obrigado a considerar a preservao de outros apenas se, e quando, a sua prpria preservao no est em causa (1") Locke justifica explicitamente o direito na tural do homem de se apropriar possuir sem considerar as necessidades dos outros ao referir-se abun dncia das provises naturais que no princpio estava disposio de t dos; mas, segundo os seus princpios, tal desconsiderao pode ser
(19 Ibid., 27, 31, 33, 34, 36. (1,3) Ibid., 6, 32, 37, 41, 42, 43, 49,107, 110. Locke diz que os primeiros homed no desejavam ter mais do que necessitavam.. Mas temos de nos perguntar se os incliv i;:, duos carentes e uniserveis. que povoavam a terra no princpio tiveram sempre aq uilo de que necessitavam. Pela razo que dada no texto, o homem tem de ter o direi to naitilral de apropriao do que necessita para a sua preservao atravs do seu trabalh o, sM cuidar de saber se sobra o suficiente para os outros. O mesmo raciocnio pare ce conduzir, concluso de que a apropriao legtima no se pode limitar apropriao atra trabalho; porque num estado de extrema escassez, cada um pode tirar aos outros o,qu necessita simplesmente para sobreviver, quer os outros morram de fome, quer no. M4S, isso apenas significa que numa condio de extrema escassez a paz completamenteiini ssvel e a lei natural formula o modo como os homens tm de agir para alcanar.: po .apaz se esta no for completamente impossvel: a lei natural no que respeita propried4e n ecessariamente se mantm dentro dos limites atribudos lei natural enquanto tal Ma n as florestas brumosas que se estendem para alm desses limites, apenas h o direiti: ?i _preservao de si, que a to precrio, como por toda a parte irrevogvel. O DIREITO NATURAL MODERNO 205 igualmente bem justificada se pressupusermos que os homens viviam num estado de penria; e s desta maneira se pode justific-la, j que Locke diz que os nicos homens a quem a lei natural original se aplicava viviam num estado de penria. a pobreza da s primeiras pocas do mundo que explica por que razo a lei natural original (1) com andava a apropriao apenas com base no trabalho, (2) ordenava a preverko do desperdci o, e (3) autorizava a desconsiderao pelas-necessidades dos outros seres humanos. A apropriao sem considerar as necessidades dos outros pura e simplesmente justifica da porque justificada sem que seja preciso saber se os homens viviam num estado de abundncia ou num estado de penria. Tomemos agora em considerao aquela forma de lei natural que substituiu a lei natur al original, e que regula a propriedade no seio da sociedade civil. Segundo a le i natural original, o homem pode apropriar-se, atravs do seu trabalho, de tanto q uanto puder usar antes que se estrague; no exigida nenhuma outra limitao porque sob ra -o suficiente e igualmente bom em comum para os outros que ainda. no foi aprop riado por ningum. Segundo a lei natural original, o homem pode apropriar-se, atra vs do seu trabalho, de tanto ouro e prata quanto quiser porque estas coisas no tm v alor em si mesmas ("4). Na sociedade civil, quase tudo foi apropriado; em partic ular, a terra tornou-se escassa. O ouro e a prata no s so escassos, como, com a inv eno do dinheiro, tornaram-se to valiosos que so entesourados (116). Seria, portanto, d e esperar que a lei natural original tivesse sido substituda por regras que impus essem restries muito mais apertadas apropriao do que as que existiam no estado de na tureza ("6). Como j no h o suficiente e igualmente bom em comum para todos, dir-se-ia que a equidad e exigiria que o direito natural do homem de se apropriar de tanto quanto possa usar deveria ser reduzido ao direito de se apropriar de tanto quanto necessitar, para no condenar os pobres ao sufoco. E, como o ouro e a prata tm agora imenso valo r, a equidade pareceria exigir que o homem deveria perder o direito natural a ac umular tanto dinheiro quanto quisesse. Porm, Locke ensina exactamente o oposto: o direito de apropriao muito mais restrito no estado de natureza do que na s ociedade civil. Um dos privilgios de que o homem gozava no '114, Ibid., 33, 34, 37, 46. ('") Ibid., 45 e 48. (116) .As obrigaes da lei natural no cessam na sociedade; acontece que em muitos casos so delimitadas de forma mais estrita (ibid., 135) (os itlicos no esto no ,ori nal). A propriedade no est contida nos muitos casos a que Locke se refere. DIREITO NATURAL E HISTRIA estado de natureza , na realidade, negado ao homem que vive na sociedade civil: o trabalho j no cria um ttulo suficiente propriedade (117). Mas esta perda apenas um a parte do enorme ganho feito pelo direito de apropriao depois das <primeiras pocas chegarem ao fim. Na sociedade civil o direito de apropriao inteiramente libertado dos grilhes que ainda o acorrentavam sob a lei natural original de Locke: a intro
duo do dinheiro introduziu maiores posses e um direito a elas; o homem pode agora com direito e sem injria, possuir mais do que consegue usar (118). Embora Locke subli nhe o facto de a inveno do dinheiro ter revolucionado a propriedade, no diz uma pal avra que sugira que o direito natural de acumular tanto ouro e prata quanto se q uiser foi afectado por essa revoluo. Segundo a lei natural o que quer dizer segund o a lei moral o homem na sociedade civil pode adquirir propriedade de todos os t ipos e em particular o dinheiro no montante que quiser; e pode adquiri-la de tod as as maneiras que sejam permitidas pela lei positiva, que mantm a paz entre os c oncorrentes e - no interesse dos concorrentes. At a proibio do desperdcio pela lei n atural j no vlida na sociedade civil ("9) . (117) Assim, no principio, o trabalho conferiu o direito de propriedade (ibid., 45) ; o trabalho pde constituir, no inicio, a origem do ttulo de propriedade. (51); cf. tambm 30 e 35 (os itlicos no esto no original). (118) Ibid., 36, 48, 50. ("9) Luigi Cossa, An Introduction to the Study of Political Economy (Londres, 18 93), p. 242: Locke, ao afirmar inequivocamente o poder produtivo do trabalho, evi ta o erro antigo de Hobbes, o qual incluiu o solo e a poupana nos componentes da produo. Segundo Locke, a lei natural original relativa propriedade mantm-se em vigor nas ligaes entre sociedades civis, porque todas as comunidades polticas esto num est ado de natureza relativamente umas s outras (Treatises, II, 183 e 184; cf. Hobbes, D e cive,XIII.11, e XIV.4, assim como Leviathan, caps. XIII [83] e XXX [226]). Da q ue a lei natural original determine os direitos sobre os vencidos que o conquist ador adquire numa guerra justa; por exemplo, o conquistador numa guerra justa no adquire um ttulo propriedade fundiria dos conquistados, mas pode ficar com o seu d inheiro corgo indemnizao por prejuzos sofridos, porque tais riquezas ou tesouros (.. .) tm somente um valor imaginrio e fantstico; no foi a natureza que lhes atribuiu o valor que tm (Treatises, II, 180-184). Ao fazer esta declarao, Locke no se esquece do acto de o dinheiro ser imensamente valioso nas sociedades civis, e de a conquist a pressupor a sua existncia. Resolve-se a dificuldade com a seguinte considerao: A funo principal da dissertao de Locke sobre a conquista consiste em mostrar que esta no pode legitimar o governo. Por conseguinte, tinha de mostrar, em particular, qu e o conquistador no se converte num governante legtimo dos conquistados ao se torn ar proprietrio da sua terra; da que tenha de sublinhar a diferena essencial entre t erra e dinheiro, e o valor superior da primeira para a preservao de si. Ademais, L ocke neste contexto descreve uma situao em que o comrcio e a indstria-. esto estagnad os, e no a preservao confortvel, mas a preservao nua e crua (da. parte inocente do po o conquistado) que est em causa. O DIREITO NATURAL MODERNO 207 Locke no comete o absurdo de justificar a emancipao do desejo de adquirir recorrend o a um inexistente direito absoluto de propriedade. Justifica a emancipao do desej o de adquirir da nica forma pela qual essa emancipao pode ser defendida: Locke most ra que esta conduz ao bem comum, felicidade pblica ou prosperidade temporal da so ciedade. As restries sobre o desejo de adquirir eram necessrias no estado de nature za porque o estado de natureza um estado de penria. Na sociedade civil, podem ser abandonadas sem perigo porque a sociedade civil um estado de abundncia: (...) um rei de um territrio vasto e frtil alimenta-se, aloja-se e veste-se pior do que um jornaleiro em Inglaterra. (120) . O jornaleiro em Inglaterra no tem sequer o dir eito natural de se queixar da perda do seu direito natural apropriao de terra e de outras coisas atravs do seu trabalho: o exerccio de todos os direitos e privilgios do estado de natureza dar-lhe-iam menos riqueza do que a que ele recebe com um salrio de subsistncia pelo seu trabalho. Longe de ficarem sufocados pela emancipao do desejo de adquirir, os pobres enriquecem. Pois a emancipao do desejo de adquirir no s compatvel com a abundncia generalizada, como a sua causa. A apropriao ilimitada s m considerao pelas necessidades dos outros a verdadeira caridade. No h dvida de que o trabalho fornece o ttulo original propriedade. Mas o trabalho ta mbm a origem de quase todo o valor: o trabalho constitui, de longe, a maior parte do valor das coisas de que nos servimos neste mundo. O trabalho deixa de fornecer um ttulo propriedade na sociedade civil; mas permanece o que sempre foi, a orige m do valor ou da riqueza. Por conseguinte, o trabalho importante, no por criar um ttulo de propriedade, mas como origem da riqueza. Qual , ento, a causa do trabalho
? O que que induz os homens a trabalhar? O homem induzido a trabalhar graas s suas necessidades, graas s suas necessidades egostas. Porm, a sua mera preservao apenas pr ecisa de pouqussimas coisas, e, portanto, no exige dele muito trabalho; basta colh er bolotas e apanhar mas das rvores. O verdadeiro trabalho o melhoramento dos dons espont(120) Treatises, II, 41. Considero que o direito de propriedade o direito dos indi vduos de ter e possuir, para seu usufruto particular e egosta, o produto da sua prp ria indstria, com a capacidade de dispor da totalidade desse produto do modo que lhe for mais conveniente, essencial para o bem-estar e at para a perdurao da socied ade (...), pois partilho (...) com o Sr. Locke a convico de que esse direito foi e stabelecido pela natureza. (Thomas Hodgskin, The Natural and Artificial Right of Property Contrasted [1832], p. 24; citado em W. Stark, The Ideal Foundations of Econothic Thought [Londres, 1943], p. 59). DIREITO NATURAL E HISTRIA neos da natureza pressupe que o homem no se satisfaz com o que necessita. Os seus a petites no sero alargados se previamente as suas perspectivas no se alargarem tambm. Os homens de perspectivas mais amplas so os racionais, e que constituem uma minori a. Alm disso, o verdadeiro trabalho pressupe que o homem est disposto a, e capaz de , se submeter ao fardo efectivo do trabalho em nome das convenincias futuras; e os industriosos constituem uma minoria. Os preguiosos e irreflectidos constituem de lon ge a maior parte do gnero humano. Por isso, a produo de riqueza exige que os industr iosos e racionais tomem a dianteira e forcem os preguiosos e irreflectidos a trab alhar contra a sua vontade para o seu prprio bem. O homem que espontaneamente tra balha com afinco no melhoramento dos dons da natureza de forma a ter, no s o neces srio, mas o que pode usar, e por mais nenhuma outra razo, no diminui, antes aumenta os recursos comuns do gnero humano. Ele um maior benfeitor do gnero humano do que a queles que do esmolas aos pobres; esses diminuem, em vez de aumentar, os recursos comuns do gnero humano. Mais, ao se apropriarem de tanto quanto podem usar, os i ndustriosos e racionais reduzem a extenso dos grandes terrenos comuns do mundo que esto desaproveitados; com o acto de cercar, criam um tipo de escassez que fora os pr eguiosos e irreflectidos a trabalhar muito mais afincadamente do que de outro mod o fariam, e assim a melhorar a sua prpria condio atravs do melhoramento da condio de t odos. Mas a verdadeira abundncia no ser produzida se o indivduo no tiver um incentivo para se apropriar de mais coisas do que as que consegue usar. Mesmo os industri osos e racionais retrocedero para a preguia letrgica to caracterstica dos primeiros h omens se o seu amor habendi no puder ter outros objectos alm das coisas que so por si mesmas teis, como a terra frtil, gado e casas cmodas. O trabalho necessrio para a criao da abundncia nunca se concretizar enquanto no houver dinheiro: Encontrai algo c om o mesmo uso e valor do dinheiro, vereis o mesmo homem imediatamente comear a a umentar as suas posses para alm do que era necessrio para que o consumo da sua famlia estivesse amplamente abastecido. Embora o trabalho seja ento a causa necessria da abundncia, no a sua causa suficiente; o incentivo a esse trabalho que produz a ver dadeira abundncia o desejo de adquirir o desejo de ter mais do que o homem conseg ue usar que se realiza atravs da inveno do dinheiro. Temos de acier centar o comentrio de que aquilo que o dinheiro iniciou s chega _ O DIREITO NATURAL MODERNO 209 sua fruio graas s descobertas e invenes geradas pela cincia da natureza: o estudo d ureza (...) pode trazer mais benefcios para o gnero humano do que os monumentos de caridade exemplar que foram construdos, com to grandes custos, pelos fundadores d e hospitais e de asilos. Aquele que primeiro (...) tornou pblica a virtude e o us o correcto do kin-kina (...) salvou mais gente da sepultura do que quem construi u (...) hospitais (121). Se o fim do governo no outro seno a paz, a segurana e o bem pblico do povo; se a paz a segurana so as condies indispensveis da abundncia, e o bem pblico do povo idntic ndncia; se o fim do governo , portanto, a abundncia; se a abundncia requer a emancip ao do desejo de aquisio; e se o desejo de aquisio necessariamente se desvanece quando as suas recompensas no pertencem de forma segura aos que as merecem se tudo isto for verdadeiro, segue-se que o fim da sociedade civil a preservao da propriedade. A p reservao da sua propriedade o fim principal e capital em vista do qual os homens s
e unem em comunidades polticas e se submetem ao governo. Com esta afirmao crucial, L ocke no quer dizer que os homens entram na sociedade civil com vista a preservar os estreitos limites da pequena propriedade de cada um dentro dos quais os seus de sejos estavam confinados pelo modo de vida pobre e simples tpico do princpio das cois as ou do estado de natureza. Os homens entram na sociedade com vista, no tanto pre servao, mas ao alargamento das suas posses. A propriedade a ser preservada pela soci edade civil no a propriedade esttica a pequena quinta que se herdou dos pais e que s er legada aos filhos mas a propriedade dinmica. O pensamento de Locke expresso na pe rfeio pela declarao de Madison: A proteco das [faculdades desiguais e diferentes de aq isio de propriedade] o primeiro objecto do governo (122). Uma coisa dizer que o fim do governo ou da sociedade a preservao da propriedade ou a proteco das faculdades aquisitivas desiguais; outra coisa completamente diferen te, e, dir-se-ia, perfeitamente suprflua, dizer, como Locke diz, que a propriedad e precede a sociedade. Porm, ao dizer que a propriedade precede a sociedade civil , Locke diz que at a propriedade civil a propriedade cuja posse (121) Treatises, II, 34, 37, 38, 40-44, 48-49; Essay, 1.4, 15, e IV.12, 12; cf..1-16 b,bes; Leviathan, cap. XXIV: O dinheiro o sangue da comunidade poltica.-. (1") Treatises, II, 42, 107, 124, 131; The Federalist, nQ 10 (os itlicos no esto no o riginal). Cf. nota 104 acima. DIREITO NATURAL E HISTORIA se baseia na lei positiva , do ponto de vista mais crucial, independente da socie dade: no uma criao da sociedade. O homem, isto , o indivduo, tem ainda em si mesmo nde fundamento da propriedade. A propriedade criada pelo indivduo, e criada em dif erentes graus por diferentes indivduos. A sociedade civil apenas rene as condies par a que os indivduos possam prosseguir sem entraves a sua actividade produtivo-acqu isitiva. Hoje, a doutrina da propriedade em Locke inteiramente inteligvel se for tomada co mo a doutrina clssica do esprito do capitalismo, ou como uma doutrina sobre o princi pal objectivo das polticas pblicas. Desde o sculo XIX que os leitores de Locke sent iram dificuldade em compreender a razo da sua utilizao da fraseologia da lei natural, ou por que que Locke exps a sua doutrina nos termos da lei natural. Mas dizer qu e a felicidade pblica requer a emancipao e a proteco das faculdades aquisitivas equiv ale a dizer que acumular tanto dinheiro (ou outras riquezas) quanto se queira co rrecto ou justo, isto , intrinsecamente justo ou justo por natureza. E as regras que nos permitem distinguir o que justo por natureza do que injusto por natureza , quer em termos absolutos, quer sob condies especficas, chamavam-se proposies da lei natural. Nas geraes seguintes, os seguidores de Locke j no julgavam precisar da fraseo logia da lei natural porque davam por adquirido algo que Locke no dava por adquiri do: Locke ainda pensava que tinha de provar que a aquisio ilimitada de riqueza no e ra injusta ou moralmente incorrecta. Na verdade, era fcil para Locke ver um problema onde os seus sucessores viram ape nas uma ocasio para aplaudir o progresso ou eles prprios, j que na poca de Locke a m aioria das pessoas ainda apoiava a perspectiva mais antiga segundo a qual a aqui sio ilimitada de riqueza injusta ou moralmente incorrecta. Isto tambm explica por q ue que Locke, ao apresentar a sua doutrina da propriedade, embrulhou tanto o que queria dizer, que no fcil compreend-lo ou por que acompanhou o rebanho tanto quanto l e foi possvel. Apesar de ocultar da grande maioria dos seus leitores o caracter r evolucionrio da sua doutrina da propriedade, Locke enunciou-a de forma suficiente mente clara. F-lo invocando ocasionalmente a perspectiva mais antiga, e com apare nte aprovao. Atribuiu a introduo de um direito a posses mais extensas ao desejo de ter mais do que um homem necessita, ou a um crescimento da cobia ou ao amor sceleratus habendi, a vil concupiscncia. Na mesma linha, ,Locke fala com desdm das <pequenas peas de me tal amarelo e das O DIREITO NATURAL MODERNO <pedras cintilantes (123). Mas rapidamente abandona estas niaiseries: o essencial do seu captulo sobre a propriedade que a cobi..,_ e a concupiscnc ia, longe de serem por essncia malignas ou estpidas, se forem devidamente canaliza das, so eminentemente benficas e razoveis, e nesse aspecto muito superiores caridade
exemplar. Se a sociedade civil for construda sobre o fundamento baixo mas slido do e gosmo ou de certos vcios privados, alcanar-se-o benefcios pblicos muito maiores do exortarmos futilmente virtude, que por natureza desprovida. Temos que nos orientar , no pelo modo como os homens deveriam viver, mas pelo modo como os homens realme nte vivem. Locke quase cita as palavras do apstolo, Deus d-nos abundantemente todas as coisas para nosso uso, e fala das bnos que Deus lhe dispensou [ao homem] com uma mo liberal, e no entanto a natureza e a terra fornecem apenas os materiais que, por si mesmos, quase no tm valor (124). Locke diz que Deus o nico senhor e proprietrio d mundo inteiro, que os homens so propriedade de Deus, e que a propriedade do homem sobre as criaturas no mais do que a liberdade de as usar, que concedida por Deus; mas tambm diz que o homem senhor absoluto da sua prpria pessoa e das suas posses (12 5). Locke declara que para um proprietrio ser sempre pecado deixar o seu irmo morrer por falta de assistncia quando os meios abundam. Mas, na sua discusso temtica sobre a propriedade, Locke guarda silncio sobre quaisquer deveres de caridade (126). (123) Treatises, II, 37, 46, 51, in fine, 75, 111. (124) Ibid., I, 40, 43; II, 31, 43. Cf. as declaraes de Locke a respeito da importncia relativa dos dons da natureza e do trabalho humano com a posio de Ambrsio,, Hexarna eron, trad. Goerge Boas, em Essays on Primitivisin and Related Ideas ir: the Mid dle Ages (Baltimore: Johns Hopldns Press, 1948), p. 42. ("5) Treatises, I, 39; II, 6, 27, 123. A propsito, possvel assinalar que se o homem n estado de natureza [] o senhor absoluto das suas prprias (...) posses ou se a prop riedade existe para o exclusivo beneficio e proveito do proprietrio, ento o direito natural dos filhos de herdar os bens dos seus pais (ibid., I, 88, 93 , 97; II, 190) est sujeito a um condicionamento crucial: os filhos tm este direito se os pais no dispuserem de outro modo da sua propriedade, o que, segundo Locke, est ao seu alcance (II, 87; II, 57, 65, 72, 116, in fine). Em suma, o direito natura l dos filhos de herdar a propriedade dos seus pais resume-se a isto: se os pais morrerem intestados, supe-se que teriam preferido ter como herdeiros dos seus ben s os seus filhos erniNkez de estranhos. Cf. I, 89, com Hobbes, De cive, IX.15. (126) Treatises, I, 42 (sobre o uso da palavra pecado, cf. nota 90 acima). Cf; ibid ., 92: A propriedade (...) existe para o exclusivo beneficio e proveito do proprie trio, (Os itlicos no esto no original). Sobre a meno do dever de caridade n:: capitulo sobre a conquista (II, 183), ver nota 119 acima. Cf. nota 73 acima. . DIREITO NATURAL E HISTORIA O ensinamento de Locke em matria de propriedade, e, por maioria de razo, toda a su a filosofia poltica, so revolucionrios no s em relao tradio bblica, mas igualment tradio filosfica. Com a mudana de nfase nos deveres ou obrigaes naturais para os direi os naturais, o indivduo, o ego, tornou-se no centro e origem do mundo moral, j que o homem- e no o fim do homem - se tornou nesse centro ou origem. A doutrina da p ropriedade em Locke uma expresso ainda mais avanada desta mudana radical do que a fil osofia poltica de Hobbes. Segundo Locke, o homem e no a natureza, a obra do homem e no o dom da natureza, a origem de quase tudo o que tem valor: o homem deve aos seus prprios esforos quase tudo o que tem valor. No a gratido resignada, nem a consc iente obedincia ou imitao da natureza, mas a confiana em si e a criadade que doravan te se convertem nas marcas da nobreza humana. O homem emancipa-se efectivamente das constries da natureza, e por conseguinte o indivduo emancipa-se de todos aquele s laos sociais que antecedem o consentimento ou o pacto, atravs da emancipao do seu desejo produtivo de aquisio, que necessariamente, se bem que de forma acidental, b eneficente, e, portanto, susceptvel de se converter no lao social mais forte: a co nteno dos apetites substituda por um mecanismo que tem efeitos benficos. ' essa emanc ipao cumpre-se atravs da intercesso do prottipo d coisas convencionais, isto , o dinhe iro. O mundo onde a criatividad& humana parece ser soberana , de facto, o mundo q ue substituiu a regra da natureza pela regra da conveno. Doravante, a natureza4 fo rnece apenas coisas em si mesmas destitudas de valor; as formaS' so providenciadas pelo homem, pela criao livre do homem.Pois o existem formas naturais, nem essncias inteligveis: as ideias abstractas so invene aturas do entendimento, por ele cri das para seu prprio uso. O entendimento e a cinc ia esto para. que dado 0 como o trabalho humano, estimulado pelo dinheiro, a dar o seu maior esforo, est para a matria-prima. Portanto, no -1; princpios naturais do en
tendimento: todo o conhecimento adqiiirido; todo o conhecimento depende do traba lho e trabalho (1"): Locke um hedonista: O que propriamente bom ou mau,,n nada mais do que o_ simples prazer ou dor. Mas trata-se de u' (19 Referindo-se a uma concesso que os seus opositores no deveriam fazer, cke diz: Pois se destruiria aquela generosidade da natureza que tanto apreciam, admiti do ser o conhecimento daqueles princpios dependente do trabalho da intelignCi (Essay, 1.2, 10) (os itlicos no esto no original). O DIREITO NATURAL MODERNO 213 hedonismo particular: A maior felicidade consiste, no em gozar os mais prazeres, ma s .em ter aquelas coisas que produzem o maior prazer. No inteiramente acidental qu e o captulo em que estas afirmaes ocorrem, e que acaba por ser o captulo mais extens o de todo o Ensaio, se intitule Poder. Pois se, como diz Hobbes, o poder de um home m (...) constitudo pelos seus meios actuais para obter algum bem aparente futuro, Locke diz, com efeito, que a maior felicidade consiste no maior poder. Como no h n aturezas conhecveis, no h uma natureza do homem que constitua a referncia para que p ossamos distinguir entre prazeres conformes . natureza e prazeres contrrios nature za, ou entre prazeres que so por natureza superiores e prazeres que so por naturez a inferiores: o prazer e a dor entre diferentes homens (...) so coisas muito difer entes. Portanto, os filsofos do passado investigaram em vo se o summum bcnzum consis tia na riqueza, ou nos deleites corporais, ou na virtude, ou na contemplao? Na ausnc ia de um summum bonum, o homem estaria privado por completo de uma estrela e de uma bssola para a sua vida se no houvesse um summum malum. O desejo sempre guiado p elo mal, pela fuga ao mal (128). O desejo mais forte o desejo de preservao de si me smo. A morte o mal perante o qual o desejo recua. A morte tem, ento, de ser o mai or dos males: O que nos leva a nos apegarmos vida no a doura natural de viver, mas os terrores da morte. O que a natureza estabelece com firmeza aquilo de que fog e o desejo, o ponto de partida do desejo; o objectivo rumo ao qual o desejo se m ove secundrio. O facto principal a carncia. Mas esta carncia, esta privao, j no da como o que aponta para algo completo, perfeito, ntegro. As necessidades da vid a j no so entendidas como necessrias para a vida completa ou para a vida boa, mas co mo meras inevitabilidades. Por isso, a satisfao das necessidades j no est limitada pe las exigncias da vida boa, e fica destituda de propsito. O objectivo do desejo defi pela negao da dor. No nido pela natureza apenas de modo negativo o prazer mais ou menos obscuramente antecipado que solicita os esforos humanos: o principal, se no o nico, estmulo indstria e aco humanas a inquietude. A primazia n l da dor to poderosa que a negao activa da dor ela mesma dolorosa. O trabalho a dor que remove a dor(129). esta dor, e, por conseguinte, (128) Essay, 11.21, 55, 61, 71; cap. 20, 6. (129) Treatises, II, 30, 34, 37, 42. DIREITO NATURAL E HISTORIA um defeito, que originariamente d ao homem o mais importante de todos os direitos : os sofrimentos e os defeitos, em vez dos mritos ou virtudes, originam direitos. Hobbes identificou a vida racional com a vida dominada pelo medo do medo, pelo medo que nos alivia do medo. Guiado pelo mesmo esprito, Locke identifica a vida r acional com a vida dominada pela dor que alivia a dor. O trabalho ocupa o lugar da arte que imita a natureza; porquanto o trabalho , nas palavras d e Hegel, uma atitude negativa face natureza. O ponto de partida dos esforos human os a misria: o estado de natureza um estado abjecto. O caminho para a felicidade faz-se num movimento de afastamento em relao ao estado de natureza, num movimento de afastamento em relao natureza: a negao da natureza o caminho para a felicidade. E se o movimento para a felicidade a realizao d a liberdade, a liberdade a negatividade. Tal como a dor primria, tambm a dor que a livia a dor cessa apenas com a morte. Como no h, portanto, prazeres puros, no h uma te nso necessria entre, por um lado, a sociedade civil, enquanto poderoso leviat ou en quanto sociedade coerciva, e, por outro lado, a vida boa: o hedonismo converte-se em utilitarismo ou em hedonismo poltico. O doloroso alvio da dor culmina no tanto nos maiores prazeres, mas ,em ter aquelas coisas qu e produzem os maiores prazeres. A vida a descontente procura de contentamento. VI
A Crise do Direito Natural Moderno A. ROUSSEAU A primeira crise da modernidade ocorreu no pensamento de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau no foi o primeiro a sentir que o projecto moderno era um erro radical e a procurar um remdio no regresso ao pensamento clssico. Basta mencionar o nome de Swift. Mas Rousseau no era um reaccionrio. Ele rendeu-se modernidade. -se tentado a d izer que s por ter aceite o destino do homem moderno que Rousseau regressou antig uidade. Seja como for, o seu retorno antiguidade foi, ao mesmo tempo, um avano da modernidade. Embora invocasse Plato, Aristteles ou Plutarco contra Hobbes, Locke ou os Enciclopedistas, desfez-se de elementos importantes do pensamento clssico q ue aind assim haviam sido preservados pelos seus antecessores modernos. Em Hobbes , a razo, fazendo uso da sua autoridade, emancipara a paixo; a paixo adquiriu o est atuto de uma mulher emancipada; a razo continuou a governar, ainda que por contro lo remoto. Em Rousseau, foi a prpria paixo que tomou a iniciativa e se revoltou; u surpando o lugar da razo e negando indignada o seu passado libertino, a paixo comeo u a pronunciar julgamentos sobre as vilanias da razo, com a severidade caractersti ca da virtude de um Cato. As pedras gneas com que a erupo rousseauniana cobrira o mu ndo ocidental, depois de terem arrefecido e depois de terem sido polidas, foram usadas nas estruturas imponentes que os grandes pensadores do final do sculo XVII I e do incio do sculo-XIX edificaram. verdade que os seus discpulos clarificaram as suas DIREITO NATURAL E HISTRIA perspectivas, mas podemos questionar se preservaram a amplitude da sua viso. O se u ataque apaixonado e vigoroso modernidade em nome do que era, ao mesmo tempo, a antiguidade clssica e uma modernidade mais avanada f oi repetido, com no menos paixo e fora, por Nietzsche, que assim instaurou a segund a crise dos nossos tempos. a crise da modernidade Rousseau atacou a modernidade em nome de duas ideias clssicas: por um lado, a cid ade e a virtude, e, por outro, a natureza('). Os polticos antigos falam sem cessar de costumes e de virtude; os nossos s falam de comrcio e de dinheiro. O comrcio, o dinheiro, as luzes, a emancipao do desejo de aquisio, o luxo e a crena na omniptncia d legislao so caractersticas do Estado moderno, quer seja a monarquia absoluta ou a r epblica representativa. As maneiras e a virtude esto em casa na cidade. verdade qu e Genebra uma cidade, mas menos cidade do que as cidades da antiguidade clssica, em particular Roma: no seu encmio de Genebra, aqueles de quem Rousseau diz serem o modelo de todos os povos livres e o mais respeitvel de todos os povos livres, no so os Genebrinos, mas os Romanos. Os Romanos so o mais respeitvel de todos os povo s livres porque constituam o povo mais virtuoso, mais poderoso e mais livre que a lguma vez existiu. Os Genebrinos no so Romanos, nem Espartanos, nem sequerAteniens es, porque lhes falta o esprito pblico ou o patriotismo dos antigos. Esto mais preo cupados com os seus assuntos privados ou domsticos do que com a ptria. Falta-lhes a grandeza de alma dos antigos. So mais burgueses do que cidados. A unidade sagrad a da cidade foi destruda nos tempos ps-clssicos pelo dualismo do poder temporal e d o poder espiritual e, em ltima anlise, pelo dualismo da ptria terrestre e celeste ( 2). (') Neste capitulo so usadas as seguintes referncias abreviadas das obras de Rouss eau: D' Alembert = Lettre d 'Alembert sur les spectacles, ed. Lon Fontaine; .Beaumo nt = Laitre M. de Beaumont (ed. Garnier ed.); Confisses. = Les Confessions, ed. d. V an Bever; .C.S. = Contrat social; Primeiro Discurso= Discours sur les sciences et s ur les arts, ed. G. R. Havens; Segundo Discurso. = Discours sur l'origine de l'ing alit (ed. Flammarion); = mile (ed. Garnier); vHachette = auvres compltes, ed. Hachette; Julie = Julie ou la Nouvelle Hlorse (ed. Garnier); .Montagne. = Lettr es crites de la Montagne (ed. Garnier); Narcisse = Prface de Narcisse (ed. Flammari on); Rveries = Les Rveries du promeneur solitaire, ed. Marcel Raymond. (2) Primeiro Discurso, p. 134 ; Narcisse, pp. 53-54, 57 nota; Segundo Discurso, pp. 66,67,-11-72; D 'Alembert, pp. 192, 237, 278 ; Julie, pp. 112-13; C.S., IV, 4, 8; Montagne, P. 292-93. Nenhum outro pensador moderno compreendeu melhor a concepo fiOsfi da poli s do que Rousseau: a polis a associao completa que corresponde extenso natural da c
apacidade humana de conhecer e de amar. Ver em particular' egundo Discurso, pp. 65-66, e C.S., II, 10. A CRISE DO DIREITO NATURAL MODERNO O Estado moderno apresenta-se a si mesmo como um corpo artificial que se realiza pela conveno e que remedeia as deficincias do estado de natureza. Por conseguinte, para o crtico do Estado moderno surgiu a questo de saber se o estado de natureza prefervel sociedade civil. Rousseau sugeriu o abandono do mundo da artificialidad e e da conveno e props o retorno ao estado de natureza, o retorno natureza. Em toda a sua carreira, nunca se contentou com a simples exortao da cidade clssica contra o Estado moderno. Quase no mesmo flego, invocou o homem da natureza, o selvagem pr-p oltico, contra a prpria cidade clssica(3). H uma tenso bvia entre o retorno cidade e o retorno ao estado de natureza. Esta ten so constitui a substncia do pensamento de Rousseau. Ele apresenta aos seus leitore s o espectculo confuso de um homem que incessantemente oscila entre duas posies dia metralmente opostas. Num certo momento, defende ardentemente os direitos do indi vduo, ou os direitos do corao, contra todas as restries e contra toda a autoridade; n o momento seguinte, exige com idntico ardor a submisso total do indivduo sociedade ou ao Estado e advoga a mais rigorosa disciplina moral Ou social. Hoje, a maiori a dos comentadores srios de Rousseau tendem a pensar que ele acabou por ser bem s ucedido na superao do que consideram ser uma hesitao temporria. Dizem-nos que o Rouss eau amadurecido encontrou uma soluo que, segundo ele, satisfazia por igual as pret enses legtimas do indivduo e as da sociedade, consistindo a soluo num certo tipo de s ociedade (4) . Essa interpretao est sujeita a uma objeco decisiva. Rousseau acreditou at ao fim que mesmo o bom tipo de sociedade uma forma de servido. Da que no pudesse considerar a sua soluo para o problema do conflito entre o indivduo e a sociedade uma aproximao que permanece aber como mais do que uma aproximao tolervel a uma soluo a dvidas legtimas. O adeus sociedade, autoridade, conteno e responsabilidade, ou etorno ao estado de natureza, permanece para ele uma possibilidade legtima (5) . A questo, ento, reside em saber, no como Rousseau resolveu o conflito (3) First Discourse, pp.102 nota, 115 nota, 140. Censuram-me por ter tirado dos a ntigos os meus exemplos de virtude. Parece-me que teria encontrado ainda mais ex emplos, se tivesse conseguido subir mais alto. (Hachette, I, pp. 35-36). (4) A formulao clssica desta interpretao de Rousseau encontra-se em Kant, Idee zu eine r allgemeinen Geshichte in weltbrgerlicher Absicht., Siebenter Satz (The Philosop hy of Kant, ed. Caril Friedrich [ed. Modern Library.], pp. 123-127). (5) C.S., I, 1; II, 7, 11; IH, 15; mile, I, pp. 13-16, 79-80, 85; Segundo Discurs o, pp. 65, 147, 150, 165. DIREITO NATURAL E HISTRIA entre o indivduo e a sociedade, mas antes qual foi o seu entendimento desse confl ito insolvel. O Primeiro Discurso de Rousseau d-nos indicaes para uma formulao mais precisa desta q uesto. Nessa que a primeira das suas obras importantes, Rousseau atacou as cincias e as artes por serem incompatveis com a virtude, e a virtude a nica coisa que imp orta(6) . Aparentemente, a virtude requer o apoio da f ou do tesmo, embora no neces sariamente do monotesmo (7). Porm, a nfase posta na prpria virtude. Rousseau indica qual o sentido da virtude de uma forma suficientemente clara para os seus propsit os ao referir os exemplos do cidado-filsofo Scrates, de Fabrcio, e sobretudo de Cato: Cato foi o maior de todos homens (8) . A virtude principalmente a virtude poltica, a virtude do patriota ou a virtude de todo um povo. A virtude pressupe a sociedad e livre, e a sociedade livre pressupe a virtude: a virtude e a sociedade livre es to ligadas uma outra (9) . Rousseau afasta-se dos seus modelos clssicos em dois as pectos. Seguindo os passos de Montesquieu, Rousseau considera que o princpio da d emocracia a virtude: esta inseparvel da igualdade ou do reconhecimento da igualda de (1) . Em segundo lugar, acredita que o conhecimento que necessrio para a virtud e providenciado, no pela razo, mas por aquilo a que chama conscincia (ou a cincia su me das almas simples) ou pelo sentimento ou pelo instinto. O sentimento que tem e m mente acaba por ser originariamente o sentimento da compaixo, a raiz natural de toda a beneficncia genuna. Rousseau via uma ligao entre a sua inclinao para a democra cia e a sua preferncia pelo sentimento em detrimento da razo (") . (6) Primeiro Discurso, pp. 97-98, 109-110, 116. Hachette, I, p 55: A moral infin
itamente mais sublime do que as maravilhas do entendimento. (7) Primeiro Discurso, pp. 122, 140-141; mile, II, p. 51; Julie, pp. 502 ss., 603 ; Montagne, p.180. (8) Primeiro Discurso, pp. 120-122; Segundo Discurso, p. 150; Julie, p. 325. Hac hette, I, pp. 45-46: A igualdade original .a fonte de toda a virtude. Ibid., p. 5 9: Cato deu ao gnero humano o espectculo e o modelo da virtude mais pura que " jama is existiu. (9) Narcisse, pp. 54, 56, 57 nota; mile, I, p. 308; C.S., I, 8; Confessions, I, p . 244. (10) Hachette, 1, pp. 41, 45-46; Segundo Discurso, pp. 66, 143-144; Montagne, p. 252. Comparar a citao da Apologia de Scrates de Plato (21b ss.) no Primeiro Discurs o (pp. 118-120) com o originai platnico: Rousseau no cita a censura que Scrates faz aos estadistas (democrticos ou republicanos); e substitui a censura socrtica aos artesos por uma censura aos artistas. (11) Primeiro Discurso, p. 162; Segundo Discurso, pp.107-110; mile, I, pp. 286-28 7, 307;.C'onfisses, I, p. 199; Hachette, I, pp. 31, 35, 62-63. A CRISE DO DIREITO NATURAL MODERNO Como Rousseau pressupunha que a virtude e a sociedade livre estavam ligadas uma outra, podia demonstrar que a cincia e a virtude eram incompatveis provando a inco mpatibilidade entre a cincia e a sociedade livre. O raciocnio que subjaz ao Primei ro Disc rso pode ser reduzido a cinco consideraes principais, que, na realidade, no so suficientemente desenvolvidas nessa obra, mas que se tornam suficientemente cl aras se, ao se ler o Primeiro Discurso, se tomar em conta as obras posteriores d e Rousseau ('2). Segundo Rousseau, a sociedade civil essencialmente uma sociedade particular ou, com maior rigor, uma sociedade fechada. Afirma ele que a sociedade civil s pode s er saudvel se tiver um carcter prprio, e isso exige que a sua individualidade seja produzida ou estimulada por instituies nacionais e exclusivas. Estas instituies tm de ser animadas por uma filosofia nacional, por um modo de pensar que no transfervel p ara outras sociedades: a filosofia de um povo desapropriada para um povo diferent e. Por outro lado, a cincia ou a filosofia essencialmente universal. A cincia ou a filosofia necessariamente enfraquece o poder das filosofias nacionais e, por conse guinte, a ligao dos cidados ao modo de vida particular da sua comunidade, ou s suas maneiras. Por outras palavras, enquanto a cincia essencialmente cosmopolita, a so ciedade tem de ser animada por um esprito de patriotismo, por um esprito que de mo do algum incompatvel com dios nacionais. A sociedade poltica, por ser uma sociedade que tem de se defender de outros Estados, tem de estimular as virtudes militare s, e normalmente desenvolve um esprito belicista. A filosofia ou a cincia, pelo co ntrrio, abate o esprito belicista (13) . Ademais, a sociedade requer que os seus m embros se dediquem por inteiro ao bein comum, ou. que estejam ocupados ou activo s em prol dos seus concidados: Todo o cidado ocioso um biltre. Por outro lado, o laz er, que se distingue mal do cio, reconhecidamente um elemento fundamental da cinci a. Por outras palavras, o verdadeiro cidado dedica-se ao dever, ao passo que o fi lsofo ou o (") Este procedimento indiscutvel, j que o prprio Rousseau disse que no Primeiro Di scurso ainda no revelara completamente os seus princpios, e que essa obra no a mais adequada tambm por outras razes (Primeiro Discurso, pp. 51, 56, 92, 169-170); e, por outro lado, o Primeiro Discurso revela a unidade da concepo fundamental de Rou sseau de forma mais clara do que as obras posteriores. (") Primeiro Discurso, pp. 107, 121-123, 141-146; Narcisse, pp. 49 nota, 51-52, 57 nota; Segundo Discurso, pp. 65-66, 134-135, 169-170; C.S., II, 8 (in fine); mi le, 1, p. 13; Gouvernement de Pologne, caps. II e III; Montagne, pp. 130-133. DIREITO NATURAL E HISTORIA cientista prossegue egoisticamente o seu prazer (14). Alm disso, a sociedade requ er que os seus membros adiram sem discusso a certas crenas religiosas. Estas certe zas salutares, os nossos dogmas ou os dogmas sagrados autorizados pelas leis so ameaad os pela cincia. A cincia ocupa-se da verdade enquanto tal, independentemente da su a utilidade, e assim, por causa da sua inteno, est exposta ao perigo de conduzir a verdades inteis ou at perniciosas. Porm, a verdade inacessvel, e portanto a procura da verdade conduz ao erro perigoso ou ao cepticismo perigoso. O elemento fundame
ntal da sociedade a f ou a opinio. Portanto, a cincia, ou a tentativa de substituir a opinio pelo conhecimento, pe necessariamente em perigo a sociedade("). De resto , a sociedade livre pressupe que os seus membros abandonaram a sua liberdade orig inria ou natural em favor da liberdade convencional, isto , em favor da obedincia s leis da comunidade ou s regras uniformes de conduta, para cuja feitura todos pode m ter contribudo. A sociedade civil requer a conformidade ou a transformao do homem enquanto ser natural num cidado. Mas o filsofo ou cientista tem de seguir o seu < prprio gnio com sinceridade absoluta, ou sem qualquer considerao pela vontade geral o u pelo modo de pensar da comunidade (") . Finalmente, a sociedade livre concreti zada (14) Primeiro Discurso, pp. 101, 115, 129-132, 150; Hachette, I, p. 62; Narcisse , pp. 50-53; Segundo Discurso, p. 150; D'Alembert, pp. 120, 123, 137; Julie, p. 517; mile, I, p. 248. (15) Primeiro Discurso, pp. 107, 125-126, 129-133, 151, 155-157; Narcisse, pp. 5 6, 57 nota; Segundo Discurso, pp. 71, 152; CS., II, 7; Confessions, II, p. 226. Hachet te, I, p. 38 nota: Com efeito, a exposio das mximas perniciosas e dos dogmas mpios das suas seitas seria um pormenor bem infamante para a filosofia. (...) haver uma s dentre todas essas seitas que no tenha cado num erro perigoso? E o que dizer da distino das duas doutrinas, to avidamente acolhida por todos os filsofos, e segundo a qual professa vam em segredo sentimentos contrrios aos que ensinavam em pblico? Pitgoras foi o pr imeiro a re.correr doutrina interior; s a revelou aos seus discpulos depciis de os ter posto prova por muito tempo e com o maior dos mistrios. Dava-lhes em segredo _lies de atesmo, e oferecia com solenidade sacrificios a...Jpiter. Os filsofos de ta l maneira aprovavam o mtodo que este se espalhou rapidamente por toda a Grcia, e d a para Roma, como se pode ver pelas obras de Ccero, que corri os seus amigos zomba va . dos deuses imortais, os mesmos que, nos seus discursos no tribunal, eram in vocados com tanta veemncia. A doutrina interior nunca foi levada da Europa para a China; mas tambm ai nasceu com a filosofia; e a essa doutrina que os Chineses de vem agradecer 'pela=rnultidao .de ateus ou de filsofos que h entre eles. A histria dessa doutrina fatal, feita por um homem instrudo e sincero, seria um golpe terrvel contra a filosofia a ntiga e , . . _ _ modma> (Os itahcos nao estao no original). Cf. Confisses, II, p. 329. Primeiro Discurso, pp. 101402, 105-106, 158-159; Segundo Discurso, p. 116; 1,;6' ,..8k II, 7; mile, I, pp. 13-15. A CRISE DO DIREITO NATURAL MODERNO pela substituio da desigualdade natural pela igualdade convencional. Porm, a prosse cuo da cincia requer o cultivo dos talentos, isto , da desigualdade natural; este es tmulo um trao to caracterstico da cincia que se justifica dizer que a preocupao com uperioridade, ou com o orgulho, a raiz da cincia ou da filosofia (9 . Foi por meio da cincia ou da filosofia que Rousseau avanou a tese de que a cincia o u a filosofia incompatvel com a sociedade livre e, por conseguinte, com a virtude . Ao faz-lo, Rousseau tacitamente admitiu que a cincia ou a filosofia pode ser sal utar, isto , compatvel com a virtude. No se limitou a fazer esta admisso tcita. Mesmo no Primeiro Discurso, cobriu de grandes elogios as sociedades eruditas cujos me mbros tm de combinar a instruo com a moral; chamou a Bacon, a Descartes e a Newton os educadores do gnero humano; exigiu que os estudiosos de primeira ordem tivesse m um asilo honroso nas cortes dos prncipes, de modo a que pudessem, a partir da, i luminar os povos quanto aos seus deveres, e assim contribuir para a sua felicida de (18). Rousseau sugeriu trs solues diferentes para esta contradio. Segundo a primeira sugesto , a cincia m para uma sociedade boa e boa para uma sociedade m. Numa sociedade corr upta, numa sociedade governada de forma desptica, o ataque a todas as opinies sagr adas ou preconceitos legtimo porque a moral social no pode ser pior do que j . Numa sociedade dessas, s a cincia pode providenciar alguma dose de conforto ao homem: a discusso dos fundamentos da sociedade pode conduzir descoberta de paliativos par a os abusos reinantes. Esta soluo seria suficiente se Rousseau tivesse dirigido as
suas obras apenas aos seus contemporneos, isto , a membros de uma sociedade corru pta. Mas queria viver como autor para l do seu tempo, e previu uma revoluo. Portant o, escreveu tambm tendo em vista os requisitos de uma sociedade boa, e, com efeit o, de uma sociedade mais perfeita do que jamais existira, que poderia ser instit uda depois da revoluo. Esta soluo, a melhor soluo, para o problema poltico descober la filosofia e s pela filosofia. Da que a filosofia no possa ser somente boa para u ma (17) Primeiro Discurso, pp. 115, 125-126, 128, 137, 161-162; Narcisse, p. 50; Se gundo Discurso, p. 147; C.S., 1,9 (in fine); Hachette, I, p. 38 nota. (18) Primeiro Discurso, pp. 98-100, 127-128, 138-139, 151-152, 158-161; Narcisse , pp. 45, 54. DIREITO NATURAL E HISTRIA sociedade m; indispensvel para o aparecimento da melhor sociedade (19) De acordo com a segunda sugesto de Rousseau, a cincia boa para os indivduos, isto , p ra alguns grandes gnios ou para algumas almas privilegiadas ou para o pequeno nmero de verdadeiros filsofos, entre os quais se inclui a si mesmo, mas m para os povos ou par a o pblico ou para os homens comuns (les hommes vulgaires). Foi por isso que atacou n o Primeiro Discurso, no a cincia enquanto tal, mas a vulgarizao da cincia ou a difuso do conhecimento cientfico. A difuso do conhecimento cientfico desastrosa no s para a sociedade, mas para a prpria cincia ou filosofia; pela vulgarizao, a cincia degenera em opinio, ou o combate contra o preconceito torna-se ele mesmo num preconceito. A cincia tem de permanecer o privilgio de uma pequena minoria; tem de ser mantida em segredo longe do homem comum. Como todos os livros so acessveis no s pequena mino ria, mas a todos os que sabem ler, Rousseau viu-se forado pelos seus princpios a apresentar os seus ensinamentos filosficos ou cientficos com grandes reservas. Na realidade, Rousseau acreditava que numa sociedade corrupta, como aquela em que v ivia, a difuso do conhecimento filosfico j no podia ser perniciosa; mas, como se dis se anteriormente, ele no escreveu apenas para os seus contemporneos. O Primeiro Di scurso tem de ser compreendido luz destes factos. A funo dessa obra afastar da cinc ia, no todos os homens, mas apenas os homens comuns. Quando Rousseau rejeita a cin cia por ser pura e simplesmente m, fala como se fosse um homem comum dirigindo-se a homens comuns. Mas d a entender que, longe de ser um homem comum, um filsofo qu e surge sob a aparncia de um homem comum, e que, longe de se dirigir em ltima anlis e ao povo, dirige-se apenas queles que no esto subjugados pelas opinies do seu sculo, o seu pas ou da sua sociedade (") (J9) Primeiro Discurso, p. 94 (cf. 38, 46, 50); Narcisse, pp. 54, 57-58, 60 nota ; Segundo Discurso, pp. 66, 68, 133, 136, 141, 142, 145, 149; Adie, prefcio (in p rinc.); C.S., 1,1; Beauniont, pp. 471-472. (") Primeiro Discurso, pp. 93-94, 108 nota, 120, 125, 132-133, 152, 157-162, 227 ; Hachette, I, pp. 23, 26, 31, 33, 35, 47 nota 1, 48, 52, 70; Segundo Discurso, pp. 83, 170 175; D'Alembert, pp. 107-108; Beawnont, p. 471; Montagne, pp. 152-15 3, 202, 283. Um crtico do Primeiro Discurso disse-: impossvel dar mais publicidade a verdades que choquem t.o frontalmente com o gosto geral (..:). Rousseau responde u-lhe da se-. g-uinte forma: Discordo completamente desta opinio, e creio que preciso dar ossi-: nhos s crianas. (Hachette, I, p. 21; cf. tambm Confisses, II, pp. 247). O princpio de Rousseau era dizer a verdade sobre todas as coisa teis (Beaumont, pp. 472, 495; Rve_ - A CRISE DO DIREITO NATURAL MODERNO 223 Pode ento parecer que foi a crena de Rousseau na desproporo fundamental entre a cinci a e a sociedade (ou o povo) que constituiu a razo elementar da sua crena de que o co nflito entre o indivduo e a sociedade insolvel, ou de ter apresentado uma derradei ra reserva em beneficio do indivduo, isto , das poucas almas privilegiadas contra as p retenses at da sociedade melhor. Esta impresso confirmada pelo facto de Rousseau en contrar os fundamentos da sociedade nas necessidades do corpo e, ao referir-se a si mesmo, dizer que jamais algo relacionado com os interesses do seu corpo pode ria ocupar verdadeiramente a sua alma; ele prprio encontra a verdadeira felicidad e e uma auto-suficincia divina nas alegrias e xtases da contemplao pura e desinteres sada por exemplo, no estudo das plantas, seguindo o esprito da obra de Teofrasto( 21). Assim, cada vez mais forte a impresso de que Rousseau procurou restaurar a i
deia clssica da filosofia por oposio ao lluminismo. certamente em oposio ao lluminism o que reafirma a importncia crucial das desigualdades naturais entre os homens no que diz respeito aos dons intelectuais. Mas preciso acrescentar imediatamente q ue, assim que Rousseau recupera a concepo clssica, sucumbe uma vez mais aos poderes dos quais se tentou libertar. A mesma razo que o fora a invocar a natureza contra a sociedade civil, fora-o a invocar a natureza contra a filosofia ou a cincia(22) . A contradio do Primeiro Discurso a respeito do valor da cincia resolvida to completa mente quanto possvel por Rousseau com a sua terceira sugesto, que integra a primei ra e segunda sugestes. A primeira e segunda sugestes resolvem a contradio ao disting uir dois tipos de audincia da cincia. A terceira sugesto resolve a conries, IV); da que se possa no s suprimir ou disfarar verdades que esto desprovidas de qualquer utilidade, mas at induzir deliberadamente em erro com a afirmao do contrri o dessas verdades, sem com isso cometer o pecado da mentira. A consequncia relati vamente s verdades nocivas ou perigosas bvia (cf. tambm Segundo Discurso, Primeira Parte in fine, e Beaumont, p. 461). Comparar com Dilthey, Gesammelte Schriften, XI, 92: Uohannes von Mueller refere-se] peculiar tarefa:"exprirnir-se de tal form a que as autoridades aprendam a verdade, sem que os sbditos o compreendam, e ensi nar os sbditos de tal modo que pudessem ficar assaz convencidos da felicidade da sua condio". (21) Primeiro Discurso, p. 101; Montagne, p. 206; Confisses, III, pp. 205, 220-21 ; Rveries, V-VII. (22) Primeiro Discurso, p. 115 nota; Narcisse, pp. 52-53; Segundo Discurso, pp.89, 94, 109, 165; Julie, pp. 415-417; mile, I, pp. 35-36,118, 293-294, 320-321. H achette, I, pp. 62-63: Ousar-se- tomar o partido do instinto contra a razo? precisamente isso q ue eu peo. DIREITO NATURAL E HISTRIA tradio ao distinguir dois tipos de cincia: um tipo de cincia que incompatvel com a vi rtude, e a que se pode chamar metafisica (ou cincia puramente terica), e outro tipo de cincia que compatvel com a virtude, e a que se pode chamar sabedoria socrtica. A s abedoria socrtica o conhecimento de si mesmo; o conhecimento da sua prpria ignornci a. Trata-se, portanto, de uma espcie de cepticismo involuntrio, mas que no perigoso. cepdcismo, um A sabedoria socrtica no idntica virtude, pois a virtude a cincia das almas simples Scrates no era uma alina simples. Se verdade que todos os homens podem ser virtuos os, j a sabedoria socrtica apangio de uma pequena minoria. A sabedoria socr'tica ess encialmente ancilar; a prtica humilde e silenciosa da virtude a nica coisa que imp orta. A sabedoria socrtica tem a funo de defender a cincia das almas simples, ou a con scincia, contra todos os tipos de sofstica. A necessidade dessa defesa no acidental e no se limita a tempos corruptos. Como disse um dos maiores discpulos de Roussea u, a simplicidade ou a inocncia , sem dvida, uma coisa maravilhosa, mas pode ser fa cilmente iludida; portanto, a sabedoria que de qualquer modo consiste mais em faz er, ou em se abster de fazer, do que em conhecer, necessita da cincia. A sabedoria socrtica necessria, no por causa de Scrates, mas por causa das almas simples ou do povo. Os verdadeiros filsofos desempenham a funo absolutamente necessria de serem os guardies da virtude ou da sociedade livre. Por serem os educadores do gnero human o, eles, e s eles, podem iluminar os povos quanto aos seus deveres e ao carcter ex acto da sociedade boa. Com vista ao desempenho desta funo, a sabedoria socrtica rei vindica a totalidade da cincia teortica como seu fundamento; ela o fim e a coroa d a cincia teortica. A cincia teortica, que no est intrinsecamente ao servio da virtude , por onseguinte, m, tem de ser posta ao servio da virtude de modo c a se tornar boa("). Contudo, s pode tornar-se boa se o seu estudo onti nuar a ser o privilgio dos poucos homens que, esto por natureza destinados a guiar os povos; s uma cincia teortica esotrica pode tornar-se boa. Isso no implica que, em tempos de corrupo, a restrio sobre a vulgarizao da cincia no possa e no tenha de se ouxada. (23) Primeiro Discurso, pp. 93, 97, 99-100, 107, 118-122, 125, 128, 129, 130 not a 131-132, 152-154, 161-162; Hachette, I, p. 35; Narcisse, pp. 47, 50-51, 56; Segundo Discu
rso, pp. 74, 76; mile, II, pp. 13, 72, 73; Beaumont, p. 452. Cf. Kant, Grundlegun g zur metaphysik der Sitten, Erster .Abschnitt (in fine). A CRISE DO DIREITO NATURAL MODERNO 225 Poderia considerar-se definitiva uma tal soluo se o cidado virtuoso, e no o homem nat ural, fosse o derradeiro padro de Rousseau. Mas, segundo ele, o filsofo, em certos aspectos, est mais prximo do homem natural do que o cidado virtuoso. Aqui, basta re ferir o cio que o filsofo partilha com o homem natural (24) . Em nome da natureza, R ousseau colocou em questo no s a filosofia, mas tambm a cidade e a virtude. Foi forad o a faz-lo porque a sua sabedoria socrtica, em ltima anlise, se baseia na cincia teort ica ou, melhor, num tipo particular de cincia teortica, designadamente as cincias m odernas da natureza. Para compreender os princpios tericos de Rousseau, preciso recorrer ao Discurso so bre a Origem da Desigualdade. Ao contrrio das-inclinaes dos estudiosos de hoje, Rou sseau sempre considerou o Segundo Discurso uma obra da maior importncia. Afirmou qu e nela desenvolvera os seus princpios por completo, ou que o Segundo Eliscurs o text o em que revelou os seus princpios com a maior ousadiaipara no dizer audcia (25). Na verdade, o Segundo Discurso a obra mais filosfica de Rousseau; contm as suas refle xes fundamentais. Em particular, o Contrato Social assenta nos alicerces disposto s no Segundo Discurso(26). O Segundo Discurso decididamente a obra de um filsofo. A moral a tida, no como uma pressuposio no discutida ou inquestionvel, mas como um obj cto ou como um problema. O Segundo Discurso pretende ser uma histria do homem. Essa histria tem como modelo a exposio do destino do gnero humano feita por Lucrcio no quinto livro do seu poema(2 7). Mas Rousseau retira essa exposio do seu contexto epicurista e coloca-o num con texto fornecido pelas cincias naturais e sociais modernas. Lucrcio descreveu o des tino do gnero humano com o intuito de mostrar que esse destino pode ser perfeitam ente compreendido sem se recorrer actividade divina. Procurou os remdios para os males que foi forado a mencionar na fuga filosfica vida poltica. J Rousseau conta a histria do homem com o propsito de descobrir a ordem poltica que conforme ao direit o natural. De resto, pelo menos no incio, ele acompanha Descartes em (24) Primeiro Discurso, pp. 105-1066; Segundo Discurso, pp. 91, 97, 122, 150-151 168; Confisses, II, p. 73; III, pp. 205, 207-209, 220-221; Rveries, VI (in fine) e VII. f: (25) Confisses, II, pp. 221-246. (26) Cf. em particular C.S., I, 6 (in princ.), que mostra que a razo deserdo cont rato social enunciada, no no CS., mas no Segundo Discurso. CL tambm C.5.4f9.:.; (") Segundo Discurso, p. 84; cf. tambm Confisses, II, p. 244. Ver Jean Morei R che rches sur les sources du discours de l'ingalit., Annales de la Socit V (1909), pp. 163-164. DIREITO NATURAL E HISTORIA vez de Epicuro: pressupe que os animais so mquinas e que o homem s transcende o meca nismo geral, ou a dimenso da necessidade (me'ca), por meio da espiritualidade da sua alma. Descartes integrara a cosmologia e picurista num contexto testa: Deus criou a matria e estabeleceu as leis dos seus mo vimentos, e o universo, com a excepo da alma racional do homem, veio a existir por processos puramente mecnicos; a alma r acional requer urna criao particular porque o pensar no pode ser entendido como uma modificao da matria mvel; a racionalidade a diferena especfica do homem em relao a imais. Rousseau coloca em questo no s a criao da matria, mas tambm a definio tradici do homem. Aceitando a concepo de que os animais selvagens so mquinas, sugere que ape nas h uma diferena de grau entre os homens e os animais no que diz respeito ao ent endimento, ou que as leis da mecnica explicam a formao das ideias. O homem tem o po der de escolher, e a sua conscincia desta liberdade, que no pode ser explicada fis icamente, prova a espiritualidade da sua alma. No , ento, tanto o entendimento que c onstitui a diferena especfica do homem em relao aos animais, mas antes a sua qualida de de agente livre. Porm, independentemente do que Rousseau possa ter pensado a es te respeito, o argumento do Segundo Discurso no se baseia no pressuposto de que a liberdade da vontade a essncia do homem, ou, em termos mais gerais, o argumento no se baseia numa metafisica dualista. Rousseau continua dizendo que a definio j cit
ada do homem est sujeita a contestao, e, por conseguinte, substitui liberdade por perf ectibilidade; ningum pode negar o facto de o homem se distinguir dos animais pela sua perfectibilidade. Rousseau pretende assentar a sua doutrina nos alicerces ma is slidos; no quer torn-la dependente de uma metafsica dualista que est exposta a obje ces insolveis, a objeces poderosas ou a dificuldades insuperveis (28). O argumento do Discurso pretende ser aceitvel tanto para os materialistas como para os restan tes. Pretende ser neutro a respeito do conflito entre materialismo e anti-materi alismo, ou pretende ser cientifico no sentido actual da palavra(29) A investigao .fisica (") do Segundo Discurso pretende ser idntica a um estudo do fund amento do direito natural e, consequente(28) Segundo Discurso, pp. 92-95, 118, 140, 166; Julie, p. 589 nota; mile , II, pp. 24, 37; Beaumont, pp. 461-463; Rveries, III. Cf. Primeiro Discurso, p. 118. I (") Sobre a pr-histria desta abordagem, ver acima, pp. 150-151 e 174-175. (30) Segundo Discurso, pp. 75, 173. A CRISE DO DIREITO NATURAL MODERNO 227 mente, da moral; a investigao fisica pretende revelar o carcter exacto do estado de n atureza. Rousseau admite sem discusso que para estabelecer o direito natural prec iso regressar ao estado de natureza. Aceita a premissa de Hobbes. Repudiando os ensinamentos dos filsofos antigos sobre o direito natural, Rousseau diz que Hobbes viu muito bem o defeito de todas as definies modernas de direito natural. Os modern os ou os nossos juristas (por oposio aos juristas romanos, isto , a Ulpiano) assumem adamente que o homem , por natureza, capaz de fazer um uso pleno da razo, isto , qu e o homem enquanto homem est sujeito a deveres perfeitos da lei natural. Rousseau obviamente entende por definies modernas de direito natural as definies tradicionais que ainda predominavam no ensino acadmico do seu tempo. Rousseau concorda, ento, c om o ataque de Hobbes aos ensinamentos tradicionais da lei natural: a lei natura l tem de ter as suas razes em princpios que so anteriores razo, isto , em paixes que tm de ser especificamente humanas. Vai mais longe na sua concordncia com Hobbes a o encontrar o princpio da lei natural no direito de preservao de si mesmo, o que im plica o direito de cada um ser o nico juiz dos meios apropriados sua preservao. Seg undo ambos os pensadores, esta perspectiva pressupe que a vida no estado de natur eza solitria, isto , que se caracteriza pela ausncia no s da sociedade, mas inclusiv a sociabilidade (SI). Rousseau expressa a sua lealdade ao esprito da reforma das doutrinas-da lei natural levada a cabo por Hobbes ao substituir essa mxima sublime da justia racional 'Faz aos outros o queres que te faam a ti' (...) por esta mxima muito menos perfeita, mas talvez mais til 'Faz o bem a ti mesmo com o menor mal possvel aos outros'. Rousseau tenta basear a justia no entendimento dos homens como eles so, e no como cleVem ser, com no menos seriedade do que Hobbes. E aceita a reduo operada por Hobbes da virtude virtude social (32). (3') Ibid., pp. 76, 77, 90, 91, 94-95, 104, 106, 118, 120, 151; Adie, p. 113; C. S., I, 2; II, 4, 6; cf. tambm mile, II, p. 45. (32) Segundo Discurso, p. 110; cf. tambm C.S., I (in princ.); D'Alembert, pp. 246 , 248; e Confisses, II, p. 267. Rousseau estava perfeitamente ciente das implicaes antibblicas da concepo do estado de natureza. Por essa razo, apresentou originalment e a sua exposio do estado de natureza como sendo inteiramente hipottica; a ideia de que o estado de natureza foi em tempos real contradiz o ensinamento bblico que t odo o filsofo cristo obrigado a aceitar. Mas o ensinamento do Segundo Discurso no d e um cristo; trata-se do ensinamento de um homem que se dirige ao gnero humano; o Liceu do tempo de Plato e de Xencrates, e no o sculo XVIII, o seu ambiente natural; um ensinamento que resulta da aplicao da luz natural ao estudo DIREITO NATURAL E HISTORIA Rousseau afasta-se de Hobbes pelas mesmas duas razes por que se afasta de todos o s filsofos polticos anteriores. Em primeiro lugar, todos os filsofos que examinaram os fundamentos da sociedade sentiram a necessidade de recuar at ao estado de natu reza, mas nenhum deles l chegou. Todos eles pintaram o homem civilizado quando afi rmavam que estavam a pintar o homem natural ou o homem no estado de natureza. Os predecessores de Rousseau tentaram definir o carcter do homem natural olhando pa ra o homem como ele agora. Esse procedimento era razovel enquanto se assumisse qu e o homem , por natureza, social. Partindo deste pressuposto era possvel separar s
em ambiguidades o natural do positivo,' ou do convencional, identificando o conv encional com o que manifestamente estabelecido por conveno. Poder-se-ia presumir s em discusso que so naturais pelo menos todas essas paixes que surgem no homem indep endentemente do fiat da sociedade. Mas assim que se nega, juntamente com Hobbes, a socialidade natural do homem, tem de se considerar a possibilidade de muitas paixes que aparecem no homem tal como o observamos serem convencionais na medida em que tm por origem a influncia subtil e indirecta da sociedade, e, por conseguin te, da conveno. Rousseau afasta-se de Hobbes porque aceita a premissa de Hobbes; H obbes grosseiramente inconsistente porque, por um lado, nega que o homem seja po r natureza social e, por outro lado, tenta definir o carcter do homem natural ref erindo-se sua experincia dos homens, e que a experincia do homem social(33). Ao ex aminar com profundidade a crtica de .da natureza do homem, e a natureza nunca mente. De acordo com estas afirmaes, Rou sseau avana mais tarde que d a sua exposio do estado de natureza por demonstrada. O que permanece hipottico, ou menos seguro do que a exposio do estado de nat ureza, a descrio dos desenvolvimentos que medeiam o estado de natureza e o despoti smo, ou a histria dos governos.. No final da Primeira Parte dessa obra bipartida, Rousseau designa o estado de natureza como um facto.: o problema reside em relaci onar dots factos dados como reais. atravs de urna sequncia de factos intermdios, efec tivamente desconhecidos ou assim considerados.. Os factos dados so o estado de na tureza e o despotismo contemporneo. aos factos intermdios, e no s caractersticas do e stado de natureza, que Rousseau se refere quando diz no primeiro captulo do Contr ato Social que os ignora. Se a exposio rousseauniana do estado de natureza fosse h ipottica, toda a sua doutrina poltica seria hipottica; as preces e a pacincia, e no a insatisfao nem, sempre que possvel, a reforma, seriam as suas consequncias prticas. Cf. Segundo Discurso, pp. 75; 78-79, 81, 83-85, 104, 116-117, 149, 151-152, 165; cf. tambm a referncia aos milhares de sculos, que o desenvolvimento do esprito human o exigiu (ibid., p. 98) com a cronologia bblica; ver tambm Morei, op. Cit., p. 135 . (33) Segundo Discurso, pp. 74-75, 82-83, 90, 98, 105-106, 137-138, 160, 175. A CRISE DO DIREITO NATURAL MODERNO Hobbes perspectiva tradicional, Rousseau deparou-se com uma dificuldade que emba raa a maioria dos cientistas sociais dos nossos dias: s um procedimento especifica mente cientfico, e no a reflexo sobre a experincia humana dos homens, parece ser capaz de conduzir a um conhecimento genuno da natureza do homem. A reflexo de Rousseau sobre o estado de natureza, em contraposio reflexo de Hobbes, assume o carcter de um a investigao fsica. Hobbes identificara o homem natural com o selvagem. Rousseau aceita com frequncia esta identificao e, em conformidade, faz um uso considervel da literatura etnogrfic a da sua poca. Mas a sua doutrina do estado de natureza , em princpio, independente deste tipo de conhecimento, pois, como ele aponta, o selvagem j est moldado pela sociedade, e, portanto, j no um homem natural em sentido estrito. Tambm sugere algu mas experincias que poderiam ser teis na determinao do carcter do homem natural. Mas estas experincias, por serem algo que pertence ao futuro, no podem servir de base sua doutrina. O mtodo que Rousseau utiliza consiste numa meditao sobre as primeiras e mais simples operaes da alma humana; esses actos mentais que pressupem a sociedade no podem pertencer constituio natural do homem, j que o homem solitrio por natureza 34). A segunda razo por que Rousseau se afasta de Hobbes pode ser exposta da seguinte maneira. Hobbes ensinara que, para ser eficaz, o direito natural tem de estar en raizado na paixo. Por outro lado, aparentemente Hobbes concebera as leis naturais (as regras que prescrevem os deveres naturais do homem) ao modo tradicional, co mo ditames da razo; descrevera-as como concluses ou teoremas. Rousseau conclui que, tendo em conta a validade da crtica de Hobbes perspectiva tradicional, tem de se colocar a concepo hobbesiana das leis naturais em questo: no s o direito natural, mas as leis naturais ou os deveres naturais do homem ou as suas virtudes sociais tm de estar enraizadas directamente na paixo; tm de ter uma sustentao muito mais podero sa do que o raciocnio ou o clculo. Por natureza, a lei natural tem de falar imediat amente com a voz da natureza; tem de ser pr-racional, tem de ser ditada pelo sentim ento natural ou pela paixo (35).
(34) Ibid., pp. 74-77, 90, 94-95, 104, 124, 125, 174; cf. tambm Condorcet, Esquis se d'un tableau historique des progrs de 1' esprit humain, Premire poque (in princ. ). (33) Segundo Discurso, pp. 76-77, 103, 107-110; cf. also mile, I, p. 289. DIREITO NATURAL E HISTORIA Rousseau resumiu o resultado do seu estudo do homem natural na clarao de que o homem bom por natureza. Esse resultado pode der entendido como o p roduto de urna crtica doutrina de Hobbes se e se baseia em premissas hobbesianas. Eis o argumento de Rousseau: Viloinern por natureza associal, como Hobbes admit ia. Mas o orguo ou o amour-ProPre pressupe a sociedade. Da que o homem natural 111o possa ser orgulhoso ou vaidoso, ao contrrio do que Hobbes demas o orgulho ou a vaidade a raiz de todos os vcios, como fileobbes tambm defendia . O homem natural est, portanto, despro.do de todos os vcios. O homem natural impe lido pelo amor de si vl ono ou pelo cuidado com a sua preservao; por conseguinte, far 'nal aos outros, se acreditar que a sua preservao depende disso; mas illo procur ar fazer mal por fazer mal, como seria o caso se fosse orguroso ouvaidoso. De res to, o orgulho e a compaixo so incompatveis; a ruedida em que estamos preocupados com o nosso prestgio, somos 11.,sensveis ao s ofrimento dos outros. O poder da compaixo diminui 1-oin o aumento do refinamento ou da conveno. Rousseau sugere cue o homem natural compassivo: o gnero humano no pod eria ger sobredo ao perodo anterior existncia de restries conventiouais se os impuls os poderosos do instinto da preservao de si no c.vessetri sido mitigados pela compa ixo. Rousseau parece pressupor atine o desejo instintivo da preservao da espcie se d ivide em desejo d'e procriao e em compaixo. A compaixo a paixo de onde deorrena todas as virtudes sociais. Conclui que o homem por natureza ic3001 porque por natureza conduzido pelo amor de si e pela compaio e est desprovido de vaidade ou orgulho (35 . -a 'pela mesma razo que o orgulho est ausente no homem natural, ste est tambm desprovido de entendimento ou de razo e, assim, e de liberdade. A razo contempornea da linguagem, e a linguagem ressupe a sociedade: sendo pr-social, o homem natural pr-ra onal. Aqui uma vez mais Rousseau tira das premissas de Hobbes a Pci Concluso necessria que Ho bbes no tirara. Estar dotado de razo significa ter ideias gerais. Mas as ideias g erais, distintas das imagens da nienaria ou da imaginao, no so produto de um processo natural ou inconsciente; pressupem definies; devem o seu ser definio. Da que pressup nham a linguagem. Como a linguagem no natural, a razo no natural. Daqui podemos com preender me(56) segundo Discurso, pp. 77, 87, 90, 97-99, 104, 107-110, 116, 120, 124-125, 1 47, 151, 156-157, 160-161, 165, 176-177, o A CRISE DO DIREITO NATURAL MODERNO 231 lhor por que Rousseau substituiu a definio tradicional do homem como um animal rac ional por uma nova definio. De resto, como o homem natural pr-racional, completamente incapaz de obter qualquer conhec imento da lei natural que a lei da razo, embora ele atribua a si mesmo [de acordo] com a razo o direito s coisas de que necessita. O homem natural pr-moral em todos o s aspectos: no tem corao. O homem natural sub-humano (37). A tese de Rousseau de que o homem por natureza bom tem de ser entendida luz da s ua afirmao de que o homem por natureza sub-humano. O homem por natureza bom porque por natureza esse ser sub-humano que capaz de se tornar bom ou mau. No h verdadei ramente uma constituio natural do homem: tudo o que especificamente humano adquiri do, ou depende, em ltima anlise, do - artifcio ou da conveno. O homem por natureza qu ase infinitamente perfectvel. No h obstculos naturais ao progresso quase ilimitado d o homem ou ao seu poder de se libertar do mal. Pela mesma razo, no h obstculos natur ais degradao quase ilimitada do homem. O homem por natureza quase infinitamente ma level. Nas palavras do Abade Raynal, o gnero humano aquilo que quisermos fazer del e. O homem no tem uma natureza no sentido preciso da palavra que lhe colocaria um limite ao que ele pode fazer de si mesmo (38) . (") Ibid., pp. 85, 89, 93-94, 98-99, 101, 102, 105-106, 109, 111, 115, 118, 157, 168. Morei (op. cit., p. 156) aponta na direco certa quando diz que Rousseau .sub
stitui a fabricao natural das ideias gerais pela sua construo cientificamente reflec tida (cf. acima, pp. 149-151). No modelo de Rousseau, o poema de Lucrcio (V, 10281090), a gnese da linguagem descrita sem qualquer referncia gnese da razo: a razo re eva da constituio natural do homem. Em Rousseau, a gnese da linguagem coincide com a gnese da razo (C.S., I, 8; Beaumont, pp. 444, 457). (38), A afirmao de Rousseau segundo a qual o homem por natureza bom deliberadament e ambgua. Exprime duas perspectivas incompatveis uma perspectiva bastante tradicio nal e uma outra absolutamente contrria tradio. A primeira pode ser enunciada do seg uinte modo: O homem por natureza bom; mau por sua culpa; quase todos os males tm uma origem humana: quase todos os males se devem civilizao; a civilizao tem a sua ra iz no orgulho, isto , no mau exerccio da liberdade. A consequncia prtica desta persp ectiva a de que os homens devem suportar os males agora inevitveis da civilizao com um esprito de pacincia e de orao. Segundo Rousseau, esta perspectiva baseia-se na c rena na revelao bblica. Alm disso, o homem natural ou o homem no estado de natureza, tal como Rousseau o descreve, incapaz de orgulho; da que o orgulho no possa ter sido a razo que levou ao abandono do estado de natureza (um estado de inocncia) nem para a entrega do homem aventura da civilizao. Em termos mais gerais, o homem natural no est dotado de livre-arbtrio; por isso, no pode fazer um mau exerccio da sua liberdade;_o homem natural caracteriza-se pela perfectibilidade, e no pela liberdade. Cf. Segu ndo Discurso, pp. 85, 89, 93-94, 102, 160; C.S., I, 8; cf. acima nota 32. " DIREITO NATURAL E HISTRIA Se a humanidade do homem adquirida, essa aquisio tem de ser explicada. Segundo as exigncias de uma investigao fsica, a humanidade do homem tem de ser compreendida como um produto de uma causalidade acidental. Para Hobbes, este problema nem se coloc ava. Mas decorria necessariamente das suas premissas. Hobbes distinguira a produo natural ou mecnica dos seres naturais da produo voluntria ou arbitrria das construes h manas. Concebera o mundo do homem como uma espcie de universo dentro do universo. Concebera o abandono pelo homem do estado de natureza e a instituio da sociedade civil como uma espcie de revolta do homem contra a natureza. Porm, como Espinosa indicara, a sua'noo do todo exigia que o dualismo entre o estado de natureza e o estado da soc iedade civil, ou o dualismo entre o mundo natural e o mundo do homem, fosse redu zido ao monismo do mundo natural, ou que a transio do estado de natureza para a so ciedade civil, ou a revolta do homem contra a natureza, fosse entendida como um processo natural ("). Hobbes escondera de si mesmo esta necessidade, em parte po rque pressups erradamente que o homem pr-social j um ser racional, um ser capaz de fazer contratos. Portanto, para ele a transio do estado de natureza para a socieda de civil coincidia com a concluso do contrato social. Mas Rouseau, ao apreender as implicaes necessrias das premissas de Hobbes, foi forado a conceber essa transio como um processo natural, ou pelo menos como se tivesse sido assim preparada: o aban dono do estado de natureza, a entrega do homem aventura da civilizao, no se deve a um bom ou mau uso da liberdade do homem, nem necessidade essencial, mas causalid ade mecnica ou a uma srie de acidentes naturais. A humanidade ou a racionalidade do homem adquirida. A razo chega mais tarde do qu e as necessidades elementares do corpo. Aparece no decurso do processo de satisf ao dessas necessidades. Originariamente, estai necessidades simples e uniformes so satisfeitas com facilidade. Mas precisamente este facto leva a um enorme aumento da populao e assim dificulta a satisfao das necessidades elementares. Por conseguin te, o homem forado a pensar - a aprender a pensar - para sobreviver. De resto, as necessidades elementares so satisfeiL tas de diferentes maneiras em climas e con dies diversos. Portanto, o esprito desenvolve-se na-proporo exacta maneira particular em -(") Cf. a crtica de Espinosa a Hobbes na Epstola 50 com Tr. theol.-pol., cap. IV (in princ.) e tica, III, prefcio; cf. acima cap. V, A, nota 9. .; _ 232 A CRISE DO DIREITO NATURAL MODERNO I 233 que as necessidades bsicas ou a sua satisfao so modificadas pelas circunstncias parti
culares. Tais circunstncias moldam o pensamento dos homens. Uma vez assim moldado s, os homens desenvolvem novas necessidades, e, na tentativa de as satisfazer, o esprito desenvolve-se ainda mais. O progresso do esprito , ento, um processo necessr io. necessrio porque os homens so forados a recorrerem inveno por causa de transform (formao de ilhas, erupo de vulces, e coisas semelhantes) que, embora no estejam dirig idas a um fim e serem, por isso, acidentais, so ainda assim os efeitos necessrios de causas necessrias. O acidente impe ao homem o entendimento e o seu desenvolvime nto. Por este ser o carcter especfico da transio do estado de natureza para a vida c ivilizada, talvez no seja surpreendente que o processo de civilizao tenha destrudo a felicidade sub-humana do estado de natureza ou que os homens tenham conietido e rros graves na organizao das sociedades. No entanto, toda esta misria e todos estes erros foram necessrios; foram o resultado necessrio da falta de experincia e da fa lta de filosofia dos primeiros homens. Ainda assim, a razo, por imperfeita que se ja, desenvolve-se na sociedade e atravs dela. Por fim, a falta originria de experin cia e de filosofia suprida, e o homem consegue estabelecer o direito pblico em ba ses slidas (40) . nesse momento, o momento de Rousseau, que o homem deixa de ser moldado por circunstncias fortuitas e passa a ser moldado pela sua razo. O homem, produto de um destino cego, torna-se finalmente o senhor clarividente do seu prpr io destino. A criatividade ou domnio da razo sobre as foras cegas da natureza um pr oduto dessas mesmas foras cegas. Com a doutrina do estado de natureza de Rousseau, o direito natural moderno atin ge a sua fase crtica. Ao analis-lo meticulosamente, Rousseau foi colocado perante a necessidade de o abandonar por completo. Se o estado de natureza sub-humano, a bsurdo regressar ao estado de natureza com o objectivo de a encontrar a norma par a :o homem. Hobbes negara que o homem tem um fim natural. Acredita-, ra que podi a encontrar um fundamento natural ou no arbitrrio do direito nas origens do homem. Rousseau mostrou que as origens do homem no tm qualquer trao humano. Por conseguin te, com base na premissa de Hobbes tornou-se necessrio desistir completamente da tentativa de encontrar o fundamento do direito na naturezas:', na (40) Segundo Discurso, pp. 68, 74-75, 91, 94-96, 98-100, 116, 118-119, 123, 125; 127, 128, 130, 133, 135, 136, 141, 142, 145, 179; Narcisse, p. 54; Adie, p. 633 nota:, DIREITO NATURAL E HISTORIA natureza humana. E aparentemente Rousseau indicou uma alternativa. Pois mostrara que o que caracteriza o humano no o dom da natureza, mas o resultado do que o homem fez, ou foi forado a fazer, de forma a superar ou a mudar a natureza humana: a humanidade do homem produto d o processo histrico. Por um instante o instante durou mais de um sculo parecia ser possvel procurar no processo histrico o critrio da aco humana. Essa soluo pressupunha que o processo histrico ou os seus resultados so inequivocamente preferveis ao estado de natureza, ou que esse processo tem um sentido. Rousseau no podia aceitar esse pressuposto. Compreendeu que na medida em que o processo histrico ac idental, tambm no pode fornecer ao homem um critrio, e que, se esse processo tem um propsito oculto, a sua finalidade no pode ser reconhecida a menos que haja critrio s que transcendam a histria. O processo histrico no pode ser reconhecido como progr essivo sem um conhecimento prvio do fim ou propsito do processo. Para ter sentido, o processo histrico tem de culminar no conhecimento perfeito do verdadeiro direi to pblico; o homem no pode ser, nem tornar-se, o senhor clarividente do seu destino se no possuir esse conhecimento. Logo, no o conhecimento do processo histrico, mas o conhecimento do verdadeiro direito pblico que fornece ao homem o verdadeiro critri o. Avanou-se a sugesto de que a situao precria de Rousseau se deveu a um simples mal-ent endido. Na doutrina acadmica do seu tempo, o estado de natureza era entendido, no como a condio em que o homem realmente vivera no princpio, mas como uma mera suposio: homem no estado de natureza o homem com todas as suas faculdades essenciais con venientemente desenvolvidas, mas considera-se que est sujeito apenas lei natural, e que , portanto, detentor de todos aqueles deveres e direitos, e s daqueles devere s e direitos, que decorrem da lei natural; irrelevante saber se o homem em algum
morneuto realmente viveu nesse estado em que no estava sujeito a qualquer lei po sitiva. No Segundo Discurso, o prprio Rousseau alude a esta concepo do estado de na tureza e parece aceit-la. No incio do Contrato Social, parece dizer que o conhecim ento do estado de natureza histrico irrelevante para o conhecimento do direito natu ral. Por isso, o seu ensinamento sobre o estado de natureza pareceria no ter outr o mrito seno o de ter tornado perfeitamente clara a necessidade de separar em abso luto os dois sentidos completamente independentes entre si de estado de natureza : o estado de natureza como a condio originria do homem (e, portanto, A CRISE DO DIREITO NATURAL MODERNO e como um facto do passado) e o estado de natureza como o estatuto legal do homem enquanto homem (e, portanto, como uma abstraco ou uma suposio). Por outras palavras, Rousseau parece ser uma testemunha algo relutante do facto de a doutrina do dir eito natural acadmico ser superior aos ensinamentos de homens como Hobbes e Locke (9. A sua crtica no tem em conta a ligao necessria entre a questo respeitante exist a, bem como ao contedo, do direito natural, e a questo respeitante s sanes do direito natural, sendo a ltima questo idntica questo do lugar do homem no todo, ou da orige m do homem. Por conseguinte, Rousseau no est inteiramente errado quando diz que to dos os filsofos polticos sentiram a necessidade de regressar ao estado de natureza , isto , condio originria do homem; todos os filsofos polticos so forados a reflect bre a questo de saber se, e em que medida, as exigncias da justia se apoiam em algo que independente das estipulaes humanas. Rousseau no podia ter regressado doutrina acadmica do direito natural do seu tempo, a menos que pura e simplesmente adopta sse a teologia natural tradicional em que essa doutrina se baseava de modo explci to ou implcito (42). O carcter, assim como o contedo, do direito natural pode ser decisivamente afectad o pelo modo como se concebe a origem do homem. Isso no elimina o facto de o direi to natural se dirigir ao homem como ele agora, e no ao animal estpido que vivia no estado de natureza de Rousseau. Portanto, difcil compreender como que Rousseau pd e basear a sua doutrina relativa ao direito natural naquilo que pensava que sabi a sobre o homem natural ou sobre o homem no estado de natureza. A sua concepo do e stado de natureza indica uma doutrina do direito natural que j no se baseia em con sideraes sobre natureza do homem, ou indica uma lei da razo que j no entendida como ma lei da natureza (43) . Pode-se dizer que Rousseau indicou o carcter dessa lei da razo atravs da sua doutrina da vontade geral, atravs de uma doutrina que pode se r vista como o resultado da tentativa de encontrar um substituto realista para a l ei natural tradicional. Segundo essa doutrina, a limitao dos desejos humanos afect ada, no pelos requisitos ineficazes da perfeio do homem, mas (4') Moses Mendelssohn, Gesammelte Schriften (Jubilaeurns-Ausgabe), II, 92; cf. Segundo Discurso, P. 83, e acima, pp. 230-231. (42) Cf. C.S., II, 6 (ver cap. III, nota 18 deste captulo). Sobre a relao entre o C .S. e o Segundo Discurso, ver notas 26 e 32 acima. (42) Cf. C.S., II, 4, e Segundo Discurso, p. 77. DIREITO NATURAL E HISTORIA pelo reconhecimento em todos os outros do mesmo direito que reclamo para mim; to dos os outros tm necessariamente um interesse efectivo no reconhecimento dos seus direitos, ao passo que ningum, ou apenas uns poucos, tm um interesse efectivo na perfeio humana dos outros homens. Neste caso, o meu desejo transforma-se num desej o racional por ser generalizado, isto , por ser entendido como o contedo de uma lei que vincula todos os membros da sociedade por igual; um desejo que passa no test e da generali7ao demonstra ser, por esse mesmo facto, racional e, por conseguinte, j usto. Ao deixar de entender a lei da razo como uma lei da natureza, Rousseau podi a ter separado radicalmente a sua sabedoria socrtica da cincia natural. Porm, Rouss eau no deu esse passo. A lio que aprendera de Montesquieu contrariou no seu pensame nto as tendncias doutrinrias inerentes lei natural constitucional; e o doutrinaris mo extremo foi o resultado da tentativa de tornar a lei da razo radicalmente inde pendente do conhecimento da natureza do homem(). A concluso sobre o estado de natureza que Rousseau tirou das premissas de Hobbes parecia sugerir um retorno concepo do homem como um animal social. Havia ainda out ra razo suplementar que o podia ter feito regressar a essa concepo. Segundo Hobbes, todas as virtudes e deveres provm unicamente do cuidado com a preservao de si mesm
o, e por isso provm imediatamente do clculo. Contudo, Rousseau sentiu que o clculo ou o interesse prprio no suficientemente forte como lao da sociedade, nem suficient emente profundo enquanto raiz da sociedade. Porm, recusou admitir que o homem um animal social por natureza. Pensou que a raiz da sociedade podia ser encontrada nas paixes ou sentimentos humanos, em contraposio a uma socialidade fundamental d o homem. O seu raciocnio pode ser descrito da seguinte forma: Se a sociedade natu ral, ento no se fundamenta essencialmente nas vontades dos indivduos; essencial(44) Rousseau manifesta a sua concordncia com os clssicos quando concorda explicitamente com o princpio estabelecido por Montesquieuw de que por no ser um fruto de todos os climas, a liberdade no est ao alcance de todos os povos. (C.S .:, III, 8). A aceitao desse princpio explica o carcter moderado .da maioria das propost as de Rousseau que visavam uma aplicao imediata. No entanto, Rousseau afasta-se de Montesquieu e dos clssicos quando ensina que todo o governo legtimo reputlicano (II , 6), e que, por isso, quase todos os regimes existentes so ilegtimos: so pouqussimas as naes que tm leis. (III, 15). Isso equivale a dizer que, em muitos cas'Os; os re gimes despticos so inevitveis, sem que esse facto os legitime: o estrangulamento de um sulto to legtimo como todas as suas actividades governamentais "(Segienda- Disc urso, p. 149). _ A CRISE DO DIREITO NATURAL MODERNO 237 mente a natureza, e no a vontade do homem, que o converte num membro da sociedade . Por outro lado, preserva-se a primazia do indivduo em relao sociedade se o lugar que Hobbes atribura ao clculo ou ao interesse prprio for atribudo paixo ou ao sentime nto. Assim, Rousseau recusou regressar concepo do homem como um animal social porq ue estava interessado na independncia radical do indivduo, isto , de todos os seres humanos. Reteve a noo do estado de natureza porque o estado de natureza garantia a independncia radical do indivduo. Reteve a noo do estado de natureza porque estava interessado num padro natural desse tipo que favorecesse ao mximo a independncia d o indivduo (45). Rousseau no podia ter conservado a ideia do estado de natureza se a depreciao ou a destruio do estado de natureza que ele provocou no tivesse sido dominada no seu pen samento por um aumento correspondente na importncia da independncia ou da liberdad e, isto , do trao mais caracterstico do homem no estado de natureza. Na doutrina de Hobbes, a liberdade, ou o direito de cada um ser o nico juiz dos meios necessrios sua preservao, estivera subordinada preservao de si mesmo; em caso de conflito entr e a liberdade e a preservao de si mesmo, esta gozava de prioridade. Contudo, segun do Rousseau, a liberdade um bem maior do que a -vida.- De facto, Rousseau tende a identificar a liberdade com a virtude ou com a bondade. Afirma que a liberdade obedincia lei que cada um deu a si mesmo. Isto significa, em primeiro lugar, que no s a obedincia lei que tem de ter a sua origem no indivduo, mas tambm a prpria l slao. Em segundo lugar, significa que a liberdade no tanto a condio da virtude, nem a sua consequncia, mas antes a prpria virtude. O que verdade em relao virtude tambm pode dizer da bondade; ser-se livre, ou ser-se aquilo que se , ser bom este um d os sentidos possveis da sua tese de que o homem por natureza bom. Sobretudo, Rous seau sugere que a definio tradicional de homem tem de ser substituda por uma nova d efinio segundo a qual a liberdade, e no a racionalidade, que constitui a distino espe cfica do homem (45). Pode-se dizer que Rousseau originou a filosofia da liberdade. Ningum melhor do que Hegel apreendeu a ligao entre a forma desenvolvida da filosofia da liber(46) Hachette, I, p. 374; mile, I, pp. 286-87,306; II, 44-45. (46) Segundo Discurso, pp. 93 (c Espinosa, tica,III, 9 schol.), 116, 130, 138, 140 - 141, 151; C.S., I, 1 -(in princ.), 4, 8, 11 (in princ.); III, 9 nota (in fine) . Cf. os ttulos das duas primeiras partes de De cive de Hobbes; tambm Locke, Treat ises, II, 4, 23, 95, 123. , DIREITO NATURAL E HISTRIA dade, isto , o idealismo alemo, e Rousseau, e portanto Hobbes. Hegel reparou nas af inidades entre o idealismo de Kant e Fichte e os sistemas anti-socialistas do dir eito natural, isto , aquelas doutrinas do direito natural que negam a socialidade natural do homem e postulam o ser do indivduo como a coisa primeira e suprema (47).
Os sistemas anti-socialistas do direito natural haviam surgido em virtude de uma t ransformao do epicurismo. Segundo a doutrina epicurista, o indivduo por natureza li vre de todos os laos sociais porque o bem natural idntico ao que prazenteiro, isto , fundamentalmente idntico ao que d prazer ao corpo. Mas, segundo a mesma doutrina , o indivduo mantm-se por natureza dentro de limites bem definidos porque h um limi te natural para o prazer, a saber, o prazer maior ou supremo: o esforo infindvel por obter prazer contrrio natur eza. A transformao do epicurismo por Hobbes implicou a libertao do indivduo no s em re ao a todos os laos sociais que no tm a sua origem na vontade individual, mas tambm em relao a qualquer fim natural. Ao rejeitar a noo de um fim natural para o homem, Hobb es j no entendia a vida boa como a submisso ou a assimilao do indivduo a um modelo un rsal que apreendido antes de ser objecto da vontade. Concebeu a vida boa em term os das origens do homem, ou do direito natural do homem, em contraposio ao seu dev er ou perfeio ou virtude. O direito natural, tal como Hobbes o entendia, canaliza mais o desejo infinito do que o limita: esse desejo infinito por mais e mais poder, que tem origem na pr eocupao com a preservao de si mesmo, torna-se idntico legtima prossecuo da felicida direito natural assim entendido conduz apenas a deveres condicionais e a uma vi rtude mercenria. Rousseau estava persuadido de que a felicidade como Hobbes a ent endia indistinguvel da misria constante (48) e que o entendimento utilitrio que Hobbe s e Locke tinham da moral no adequado: a moral tem de ter uma sustentao mais slida d o que o clculo. A. tentar restaurar um entendimento adequado de felicidade e de m oral, .Wissenschaftliche Behandlungsarten des Naturrechts., Schriflen Z117" Politik un d Rechtsphilosophie, ed. Lasson, pp. M6-M7: .. certo que, numa abstraco vulgar, se salienta a infinitude enquanto carcter absoluto do sujeito na doutrina da felicid ade em geral e, em particular, no direito natural dos.sistemas que se dizem :ant i-socialistas e pem o ser do particular enquanto primeira e suprema questo; ias.no fia pura abstraco de cuja forma se revestiu no idealismo kantiano ou etitian .O. Cf. Hegel, Encyclopdie, 481-482. (4:9) Segundo Discurso, pp. 104-105,122, 126, 147, 160-163; cf. tambm mile ispp.,2 86,287.
A CRISE DO DIREITO NATURAL MODERNO 1 239 e Rousseau recorreu a uma verso consideravelmente modificada da teologia natural tr adicional, mas sentiu que mesmo essa verso da teologia natural estava exposta a ob jeces insolveis (49) . Na medida em que estava impressionado com a fora dessas objeces no teve outro remdio seno tentar compreender a vida humana partindo da noo hobbesian a da primazia do direito ou da liberdade em contraposio primazia da perfeio ou da vi rtude ou do dever. Tentou enxertar a noo de deveres incondicionais e de uma virtud e no-mercenria na ideia hobbesiana da primazia da liberdade ou dos direitos. Admit iu, por assim dizer, que os deveres tm de ser concebidos como decorrentes dos dir eitos, ou que no existe uma lei natural propriamente dita anterior vontade humana . Porm, apercebeu-se de que o direito bsico em questo no pode ser o direito de prese rvao de si mesmo, isto , um direito que conduz apenas a deveres condicionais e que ele mesmo decorrente de um impulso que o homem partilha com os animais. Para uma compreenso adequada da moral ou da humanidade, seria preciso relacion-las com um direito ou com uma liberdade radical e especificamente humana. Hobbes implicitam ente admitira a existncia dessa liberdade. Pois admitira implicitamente que se se abandonar o dualismo tradicional das substncias, do esprito e do corpo, a cincia d eixa de ser possvel, salvo se o sentido, a ordem ou a verdade tiverem a sua orige m apenas na aco criativa do homem, ou se o homem gozar da liberdade de um criador( 59). Hobbes viu-se, de facto, forado a substituir o dualismo tradicional do corpo e do esprito, no pelo monismo materialista, mas pelo novo dualismo da natureza (o u da substncia) e da liberdade. O que Hobbes, de facto, sugerira a respeito da cin cia, Rousseau aplicou moral. Este tendia a conceber a liberdade fundamental, ou o direito fundamental, como um acto criador que levaria a instituir nica e exclus ivamente deveres incondicionais: a liberdade seria essencialmente auto-legislao. O derradeiro desfecho desta tentativa consistiu na substituio da virtude pela liber
dade, ou na perspectiva de que no a virtude que torna um homem livre, mas a liber dade que torna um homem virtuoso. verdade que Rousseau distingue a verdadeira liberdade ou a liberdade moral, que consiste na obedincia lei que cada um deu a si mesmo, e que pressupe a sociedade c ivil, no s da liberdade civil, mas sobretudo da liberdade natural que pertence ao estado de natu(49) Cf. nota 28 [p. 22e. (50) Ver pp. 149-151 acima. DIREITO NATURAL E HISTRIA reza, isto , a um estado caracterizado pela submisso ao apetite cego e, por isso, caracterizado pela escravatura no sentido moral do termo. Mas tambm verdade que n as suas mos essas distines tornam-se pouco ntidas. Pois tambm diz que na sociedade ci vil cada um obedece apenas a si mesmo e permanece to livre quanto era antes, isto , como era no estado de natureza. Isto significa que a liberdade natural permanece como o modelo da liberdade civil, tal como a igualdade natural permanece como o modelo da igualdade civil (51). Por sua vez, a liberdade civil, sendo em certo sentido a obedincia apenas a si mesmo, est certamente muito prxima da liberdade mor al. O obscurecimento das distines entre liberdade natural, liberdade civil e liber dade moral no um erro acidental: o novo entendimento de liberdade moral teve a su a origem na noo de que o fenmeno moral primordial a liberdade no estado de natureza . Seja como for, o enaltecimento do estatuto da liberdade d uma nova vida ideia qua se desacreditada do estado de natureza na doutrina de Rousseau. Na doutrina de Hobbes e de Locke, o estado de natureza fora, poder-se-ia dizer, um padro negativo: o estado de natureza caracteriza-se por uma contradio interna qu e indica uma, e s uma, soluo suficiente, a do poderoso leviat cujo sangue o dinheiro ntudo, Rousseau pensava que a sociedade civil enquanto tal, para no mencionar a s ociedade civil como Hobbes e Locke a tinham concebido, caracteriza-se por uma co ntradio interna fundamental, e que precisamente o estado de natureza que est isento de contradies internas; o homem no estado de natureza feliz porque radicalmente i ndependente, ao passo que o homem na sociedade civil infeliz porque radicalmente dependente. Portanto, a sociedade civil tem de ser superada na direco das origens do homem, do seu passado mais remoto, e no do seu fim mais elevado. Assim, o est ado de natureza para Rousseau tendia a tornar-se num padro positivo. Porm, Roussea u admitia que a necessidade acidental forara o homem a abandonar o estado de natu reza, e que o transformou de tal maneira que o tornou para sempre incapaz de reg ressar a esse estado abenoado. Da que a resposta de Rousseau questo da vida boa tom asse a seguinte forma: a vida boa consiste na maior aproximao ao estado de naturez a que seja possvel no plano da humanidade (52). (5') C.S., I, 6, 8; Segundo Discurso, p. 65. Sobre a ambiguidade da liberdade, cf. tambm Segundo Discurso, pp. 138-141. (") Segundo Discurso, pp. 65, 104-105, 117-118, 122, 125-126, 147, 151, 160-163, 177-179; Adie, p. 385; C.S., II, 11; III, 15; mile, II, p. 125. A CRISE DO DIREITO NATURAL MODERNO No plano poltico essa maior aproximao alcanada por urna sociedade que seja erigida e m conformidade com os requisitos do contrato social. A semelhana de Hobbes e de L ocke, Rousseau arranca da premissa de que no estado de natureza todos os homens so livres e iguais e que o desejo fundamental o desejo de preservao de si mesmo. Af astando-se dos seus antecessores, Rousseau afirma que, no princpio ou no estado d e natureza original, os impulsos do desejo de preservao de si eram temperados pela compaixo, e que o estado de natureza original foi consideravelmente modificado p ela necessidade acidental antes do homem entrar na sociedade civil; a sociedade civil s se torna necessria ou possvel numa fase muito tardia do estado de natureza. A mudana decisiva que teve lugar no estado de natureza consistiu no enfraquecime nto da compaixo. A compaixo enfraqueceu-se com o aparecimento da vaidade ou do org ulho, e, em ltima anlise, com o aparecimento da desigualdade e, portanto, da depen dncia do homem relativamente aos seus congneres. Em consequncia destes desenvolvime ntos, a preservao de si tornou-se cada vez mais rdua. Uma vez atingido o ponto crtic o, a preservao de si exige a introduo de um substituto artificial para a compaixo nat ural, ou de um substituto convencional para a liberdade natural e para a igualda de natural que havia no princpio. a preservao de todos que requer que a maior aprox
imao possvel liberdade e igualdade originrias seja realizada na sociedade ("). preciso, ento, procurar a raiz da sociedade civil exclusivamente no desejo de pre servao ou no direito de preservao de si mesmo. O direito de preservao de si implica o direito aos meios necessrios a essa preservao. Por conseguinte, existe um direito n atural apropriao. Cada um tem por natureza direito de se apropriar dos frutos da t erra de que necessita. Cada um pode adquirir atravs do seu trabalho, e apenas atr avs do seu trabalho, um direito exclusivo ao produto da terra que cultivou, e por tanto um direito exclusivo prpria terra, pelo menos at colheita seguinte. O cultiv o contnuo pode at tornar legtima a posse contnua da terra cultivada, mas no cria um d ireito de propriedade a essa terra; o direito de propriedade criado pela lei pos itiva; antes da sano da lei positiva, a terra usurpada, isto , adquirida pela fora, e no verdadeiramente possuda. Se assim no fosse, o direito natural consagraria o di reito (55) Segundo Discurso, pp. 65, 75, 77, 81, 109-110, 115, 118, 120, 125, 129, 130 , 134; C.S., 1,6 (in princ.); I, 2. '009 "d !6O9 'd 'ailui3"!(2115(14?) f7 !G '8 `g 'I ''S'D !g9I 'T7I '91-191 'M '911 '411 '901 `g8 Id asunDs7a opun2aS (pg) O 01110D remreu no -eprmad apemon -ens up aparqo o aqapuoD as anb o u -eDgm.2!s Tal EUM 1230A 'mon op sanurre oplyaluoD nas artDuanm Essod spis onarns ECalsa artb ounpr mamoq upeD as a csoupep-D ap oiTalm odioD op riqo maio; os an b soDuq.nd soluatur2inf sassa as 'RI -e. saumo.juoD aluauren.usa maio..1 Enproax a ou5Du ma urennsaa artb sonqr,td soluaureBrriCsassa as s-eprupuoDaa ias mapod an b in Empam -eu `s-eprupuoDaa os salurruTuuoD supue.2-exa smsa oDIN-tyd aluam-82-p r oiad sopmlusqns meras sopemad soluaure2p-tCso a-nb TIISID aprpapos rp upu9ssa up 9 'opeT o.urto aod salurp Eaa OUIOD aami 0E3 assapau-eunad anb assmunad o-eu as no or5rn1asaad uns E rard souus -saDau sotam sop zInCo assaDau-eunad ortpjmpu i o a rtb assumuad ou as renpimpuT o-eDuniasaid r o2pad in -epod repos orealuoD o ( )repos ore.uuoD o raduma a urtpuoD as anb aartbaa um -epeD p or5-en1asa1d E ossIp ausadu culaaod tual -epeu anb so -e.uuoD mal a-nb so EDaionul ir artb Tanunnam f igip ap-ep Eaapod oluauuraotuam -apos up opum2po onajap alsa IEITID SIE= tunquaN oDrtuouoDa iapod ou Emassr oDp-god aapod o :saaqod so EIMOD SODLI soiad -ep e.uadiad ap-nrgriurtu -eluassu rerupuj aprpapos repun o-e5rdinsn r `orti-eliod `-nouop-trEs ru.t.-nua.2 ap-eparadoad ui grzamreu a p pulsa op reuu as-e..T -eu ureuspra omoD TE csi-erup-ej sassod sr nomacusur.r4 s !Ertpul sap-epapos srp asrq ru Elsa anb oprd o ial -qo rssod a alua] o anb o opm r op-enurffl onarm um mal um rprD Ezairtreu p op-elsa ou anb no rDpst-tfuT aaArq um od ou caprpapd -oid uti ou apuo `a)po-1 anus op srulTxum su opunBas a-nb iaznD E alumnba ossi oprd um no ouDuanuoD rum aluuTpaul red r -elu-e1e2 as anb ca olsT `E puaToTA -epaDns onaaTp o artb `sop!..1 sop OLUOD MISSE saaqod sop 'sopo]. assaaaluT op 9 comod alsa opT2urre zan Ema -Eiin p pulsa pApioti u_mu -ezainreu p pulsa op asu..1 Euturn -etuao.Tsu-e.r4 EIA s-epussaDau srs!oD srp orDupdoade papeprssaDau aanoDai ap mal anb saia-nb-ep ona arp o a alurd-nDo apta -pd op onaanD o a.uua onuuoD um aDsru cuussy E5ao.j r a-esn mapod soIno aod op-epdoid-e To..T opm anbiod opdoad ouaaaal um ap 0Apiro op sa nr.ur urenssaDau a-nb op repdoadr as ap saz-edeDuT MaI -0J as -o-e5-en1asa1d EUS E Exed ureussapau a-nb o aprnbpr p reirtreu orramp o uzalaa aIAI u1oq olurnbua s aaqod so fraial as-aussodu tuE1in2asuoD OEU c-ed[nD mala] ossrp tuas zanrel canb saTanbE sopol o-e5-en1asa1d p onagp op oluaurplap ma aluEdrtDo oaputpd op IMIOISIH H IVIMIVN OLIMIDa
A CRISE DO DIREITO NATURAL MODERNO 243 objecto de uma lei que vincula todos por igual e beneficia todos por igual, ou s ignifica restringir o seu desejo egosta tomando em conta as consequncias indesejvei s que se seguiriam se todos os outros satisfizessem tambm o seu desejo egosta. A l egislao pelo corpo de cidados do qual ningum est excludo , portanto, o substituto conv ncional da compaixo natural. Com efeito, o cidado menos livre do que o homem no es
tado de natureza, j que no pode seguir o seu julgamento privado incondicionado, mas mais livre do que o homem no estado de natureza, j que constantemente protegido pelos seus concidados. O cidado to livre quanto o homem no estado de natureza (original), j que, por estar sujeito apenas lei ou vontade pblica ou vontade geral, no est sujeito vontade particular e qualquer outro homem. Mas para evitar qualquer tipo de dependncia pessoal ou de governo particular, tudo e todos tm de estar sujeitos vontade geral; o contrato so cial requer a alienao total de cada associado, com todos os seus direitos, a toda a sociedade, ou a transformao de cada indivduo que em si mesmo um todo perfeito e soli trio numa parte de um todo maior do qual o indivduo, em certo sentido, recebe a su a vida e o seu ser. De forma a permanecer to livre na sociedade quanto era dantes, o homem tem de ser completamente colectivizado ou desnaturado (55). Em sociedade, a liberdade s possvel com a sujeio completa de cada um (e em particula r do governo) vontade de uma sociedade livre. Ao renunciar a todos os seus direi tos em favor da sociedade, o homem perde o direito de recorrer dos seus veredict os, isto , da lei positiva, apelando ao direito natural: todos os direitos tornam -se direitos sociais. A sociedade livre assenta na, e depende da, absoro do direit o natural pela lei positiva.. O direito natural legitimamente absorvido pela lei positiva da sociedade que construda em conformidade com o direito natural. A vontade geral toma o lugar da lei natural. Pelo simple s facto de ser, o soberano sempre o que deve ser (56). Por vezes, Rousseau chama democracia sociedade livre tal como a entende. A democra cia est mais prxima da igualdade do estado de natureza do que qualquer outro regim e. Porm, a democracia tem de ser sabiamente temperada. Embora cada um tenha (") C.S., I, 6, 7; II, 2-4, 7; mile, 1, 13. Rousseau reconhece que a discusso do c ontrato social no Segundo Discurso provisria (p. 141). (56) CS., I, 7; II, 3, 6. Cf. ibid., II, 12 (Diviso das Leis) com os passos parale los em Hobbes, Locke e Montesquieu, para no falar de Hooker e Suarez; Rousseau ne m sequer menciona a lei natural. DIREITO NATURAL E HISTRIA de ter um voto, os votos tm de ser arranjados de maneira a favorecer a classe mdia e a populao rural em detrimento da canaille das grandes cidades. Caso contrrio, aque les que no tm nada a perder poderiam vender a liberdade a troco de po (57). A absoro do direito natural pela lei positiva levada a cabo por uma democracia apr opriadamente limitada seria defensvel se houvesse uma garantia de que a vontade g e isso significa, para todos os efeitos prticos, a vontade da maioria legal eral -- no pudesse errar. A vontade geral ou a vontade do povo nunca erra na medida em que quer sempre o bem do povo, mas o povo nem sempre vislumbra o seu prprio bem. Portanto, a vontade geral tem necessidade de iluminao. Os indivduos iluminados pod em ver o bem da sociedade, mas no h qualquer garantia de que iro promov-lo se tal fo r contrrio ao seu bem particular. O clculo e o interesse-prprio no so laos sociais suf icientemente fortes. Assim, tanto o povo na sua totalidade como os indivduos tm igu almente necessidade de um guia; o povo tem de ser ensinado a saber o que quer, e o indivduo, que enquanto ser natural est exclusivamente preocupado com o seu bem particular, tem de ser transformado num cidado que prefere sem hesitar o bem comu m ao seu bem particular. A soluo para este duplo problema dada pelo legislador, ou pelo pai da nao, isto , por um homem de inteligncia superior, o qual, ao atribuir u ma origem divina a um cdigo que elaborou ou ao honrar os deuses com a sua prpria s abedoria, simultaneamente convence o povo da bondade das leis que submete ao seu voto e converte o indivduo que era um ser natural num cidado. S pela aco do legislad or que a conveno pode adquirir, se no o estatuto da natureza, pelo menos a sua fora. No preciso dizer que os argumentos com que o legislador convence os cidados da su a misso divina, ou da sano divina para o seu cdigo, tm necessariamente uma solidez du vidosa. Poder-se-ia pensar que, assim que o cdigo fosse ratificado, assim que se desenvolvesse um esprito social, e quando a legislao sbia fosse aceite mais por causa da sua sabedoria comprovada do que pela sua presuntiva origem, a crena na origem sobrehumana do cdigo j no seria necessria. Mas esta sugesto negligencia o facto de o respeito vivo pelas leis antigas, ou o preconceito da antiguidade : (57) Segundo Discurso, pp. 66, 143; Julie, pp. 470471; C.S., IV, 4; Montaigne, p p. 252,:300-301. C a critica de Rousseau do principio aristocrtico dos clssicos em
Narisse,. pp:' 5051, e no Segundo Discurso, pp. 179-180. A CRISE DO DIREITO NATURAL MODERNO 245 que indispensvel para a sade da sociedade, s com grande dificuldade conseguir sobre viver ao questionamento pblico do relato da sua origem. Por outras palavras, a tr ansformao do homem natural num cidado constitui um problema correlativo prpria socie dade, e portanto a sociedade tem uma necessidade constante de pelo menos algo eq uivalente aco, revestida de mistrio e inspiradora de assombro, do legislador. Pois a sociedade s pode ser s se as opinies e os sentimentos engendrados por ela superar em e, por assim dizer, aniquilarem os sentimentos naturais. Isto vale por dizer, que a sociedade tem de fazer tudo o que for possvel para fazer os cidados esquece r os mesmos factos que a filosofia poltica coloca no centro da sua ateno como os fu ndamentos da sociedade. A existncia da sociedade livre depende em absoluto de um obscurecimento contra o qual a filosofia poltica necessariamente se revolta. Para que a soluo a que a filosofia poltica conduz funcione, preciso que o problema colo cado pela filosofia poltica seja esquecido (58) . sem dvida verdade que a doutrina rousseauniana do legislador tem por inteno clarifi car o problema fundamental da sociedade civil, e no sugerir uma soluo prtica, except o na medida em que essa doutrina faz aluso funo do prprio Rousseau. A razo exacta pel a qual Rousseau teve de abandonar a noo clssica do legislador consistiu no facto de essa noo tender a obscurecer a soberania do povo, isto , tende a conduzir, para to dos os efeitos prticos, substituio da soberania plena do povo pela supremacia da le i. A noo clssica do legislador irreconcilivel com a noo de liberdade de Rousseau que eva exigncia de se recorrer com regularidade vontade soberana do povo em contrapo sio ao todo da ordem estabelecida, ou vontade da gerao dos vivos em contraposio von e das geraes passadas. Por conseguinte, Rousseau teve de encontrar um substituto p ara a aco do legislador. Segundo a sua ltima sugesto, a funo originariamente confiada ao legislador tem de ser desempenhada por uma religio civil descrita a partir de pontos de vista algo diferentes no Contrato Social, por um lado, e em mile, por o utro. S a religio civil poder gerar os sentimentos que se exigem ao cidado. No precis amos de examinar se Rousseau subscrevia inteiramente a religio que apresentou na profisso de f (58) Narcisse, p. 56; Segundo Discurso, pp. 66-67,143 ; C.S., II, 3, 6-7 ; III, 2, 11. Comparar a referncia aos milagres no captulo sobre o legislador (C.S., II, 7) com a discusso explcita do mesmo problema em Montagne, pp. ii-iii. DIREITO NATURAL E HISTORIA do vigrio da Sabia, questo a que no se pode responder tendo por referncia aquilo que disse quando foi perseguido por causa dessa mesma profisso. O que decisivo o fact o de que, segundo os seus pareceres explcitos sobre a relao entre o conhecimento, a f e o povo, este no pode ter mais do que uma opinio relativamente verdade desta ou de qualquer outra religio. Poder-se-ia at perguntar se algum ser humano pode ter algum conhecimento genuno a este respeito, j que a religio pregada pelo vigrio da Sabia est exposta a objeces insolveis. Portanto, em ltima anlise, to ligio civil pareceria ter o mesmo carcter do relato feito pelo legislador da orige m do seu cdigo, pelo menos na medida em que ambos so essencialmente postos em peri go pelo .pirronismo perigoso fomentado pela cincia; as objeces insolveis a que at as hores religies esto expostas so verdades perigosas. precisamente a sociedade livre que arrisca a sua existncia se aquele que duvida do dogma fundamental da religio c ivil no se lhe conforma no seu comportamento exterior (59). Se excluirmos a religio civil, o equivalente da aco do primeiro legislador o costum e. Tambm o costume socializa as vontades dos indivduos independentemente da genera lizao das vontades que tem lugar no acto de legislar. A lei at precedida pelo costu me. Porquanto a sociedade civil precedida pela nao ou pela tribo, isto , por um gru po que se mantm unido por meio de costumes que decorrem do facto de todos os memb ros do grupo estarem expostos s mesmas influncias naturais e de serem moldados por elas. A nao pr-politica mais natural do que a sociedade civil, j que as causas natu rais so mais eficazes na sua produo do que na gnese da sociedade civil, que produto de um contrato. A nao est mais prxima do estado de natureza original do que a socied ade civil, e portanto , em aspectos importantes, superior sociedade civil. Esta a proximar-se- wais do estado de natureza no plano da humanidade, ou ser mais s, se a ssentar na base quase natural da nacionalidade ou se tiver uma individualidade n
acional. O costume nacional ou a coeso nacional constitui uma raiz mais profunda da sociedade civil do que o clculo e o interesse-prprio, sendo, assim, mais profun da do que o contrato social. O costume nacional e a filosofia nacional so a matriz da vontade geral, tal como o sentimento a matriz da ra-
(") Julie, pp. 502-506; C.S , IV, 8; Beaumont, p. 479; Montagne, pp. 121 -136, 180; cf. tambm nota 28 acima. A CRISE DO DIREITO NATURAL MODERNO zo. Assim, o passado da nao de cada um, e em particular o seu passado mais remoto, tende a ter uma dignidade superior a quaisquer aspiraes cosmopolitas. Se a humanid ade do homem se adquire por causas acidentais, essa humanidade ser radicalmente d iferente de nao para nao e de poca para poca (6) . No supreende que Rousseau no tenha considerado a sociedade livre, tal como ele a e ntendia, como a soluo para o problema humano. Mesmo se essa sociedade cumprisse os requisitos da liberdade de modo mais completo do que qualquer outra sociedade, ento seguir-se-ia que a verdadeira liberdade teria de ser procurada alm da socieda de civil. Se, como sugere Rousseau, a sociedade civil e o dever so coextensivos, ento a liberdade do homem tem de ser procurada at mesmo alm do dever ou da virtude. Ao considerar a ligao entre a virtude e a sociedade civil, assim como o carcter pr oblemtico da relao entre a virtude e a felicidade, Rousseau fez uma distino entre vir tude e bondade. A virtude pressupe esforo e habituao; antes de mais um fardo, e as s uas exigncias so duras. A bondade, isto , o desejo de ser bom, ou pelo menos a ausnc ia completa do desejo de fazer mal, simplesmente natural; os prazeres da bondade provm imediatamente da natureza; a natureza est imediatamente ligada ao sentiment o natural da compaixo; provm do corao em contraposio conscincia ou razo. um fac usseau ensinou que a virtude superior bondade. Porm, a ambiguidade da sua noo de li berdade, ou, por outras palavras, o seu anelo pela felicidade da vida pr-poltica, torna esse ensinamento questionvel do seu prprio ponto de vista("). A partir daqui podemos compreender a atitude de Rousseau relativamente famlia ou, de modo mais rigoroso, ao amor conjugal e paternal, assim como ao amor heteross exual em geral. O amor est mais prximo do estado de natureza original do que a soc iedade civil, o dever ou a virtude. O amor simplesmente incompatvel com a compulso , e at incompatvel com a compulso que cada um exerce sobre si mesmo; ou livre ou no por esta razo que o amor conjugal e paternal podem ser os mais doces sentimentos, ou (60) Narcisse, p., 56; Segundo Discurso, pp. 66-67, 74, 123, 125, 150, 169-170; C.S., II, 8, 10, 12 ; III, 1; Emile,II, pp. 287-288; Pologne, caps. II-III; cf. tambm Alfred Cobban, Rousseau and the Modern State (Londres, 1914), p. 284. (61) Cf. em particular C.S., 1,8, e II, 11; Segundo Discurso, pp. 125-126, 150; Adie, pp. 222, 274, 277; mile, II, pp. 48, 274-275; Confisses, II, pp. 182, 259, 3 03; III, p. 43; Rveries, VI. DIREITO NATURAL E HISTORIA mesmo os mais doces sentimentos da natureza, que os homens conhecem, e que o amor heterossexual pode ser simplesmente a mais doce das paixes ou o sentimento mais delicioso que pode entrar no corao humano. Estes sentimentos do origem aos direitos do sangue e aos direitos do amor; criam laos que so mais sagrados do que quaisquer laos institudos pelos homens. Atravs do amor, o home m alcana um maior grau de aproximao ao estado de natureza no plano da humanidade do que poderia alcanar na vida cvica ou na vida de virtude. Rousseau abandona a cida de clssica rumo famlia e ao casal amoroso. Usando a sua prpria linguagem, podemos d izer que abandona as preocupaes do cidado rumo mais nobre das preocupaes do burgus (6 ) . Porm, pelo menos segundo aquela obra onde Rousseau revelou os seus princpios com a maior ousadia, para no dizer audcia, mesmo no amor existe um elemento convencional ou fctico (63). Por o amor ser um fenmeno social, como o homem um ser por natureza associal, torna-se necessrio perguntar se no ser o indivduo solitrio capaz da maior aproximao ao estado de natureza que possvel no plano da humanidade. Rousseau falou em termos radiantes dos charmes e xtases da contemplao solitria. Por contemplao solit Rousseau no entende a filosofia ou o culminar da filosofia. A contemplao solitria, tal como ele a entende, inteiramente diferente do pensar ou do observar, para no
dizer que lhes hostil. Consiste no, ou conduz ao, sentimento da existncia, isto , ao sentimento prazenteiro que se tem da sua prpria existncia. Se o homem se retirou de tudo o que lhe exterior, se se esvaziou de todas as afeies que no o sentimento d a existncia, ele goza da felicidade suprema goza de uma auto-Suficincia e impassib ilidade divinas; encontra consolo apenas em si mesmo, sendo inteiramente igual a si mesmo e pertencendo por inteiro a si mesmo, j que para ele o passado e o futu ro foram extintos. na entrega completa de si mesmo'a este sentimento que o homem civilizado conclui o regresso ao estado de natureza primitivo no plano da humanidade. Pois, enquanto o homem socivel deri va o sentimento da sua existncia, por assim dizer, exclusivamente a partir das op inies dos seus congneres, j o homem natural na verdade, mesmo o selvagem sente a sua existncia (62) Segundo Discurso, pp.122, 124; D 'Alembert, pp. 256-257; Julie, pp. 261, 33 1, 392, 411 (cdi tambm pp. 76, 147-148, 152, 174 nota, 193, 273-275); Rveries, X ( p. 164). (63) Segundo Discurso, pp. 111, 139. A CRISE DO DIREITO NATURAL MODERNO de modo natural; entrega-se ao nico sentimento da sua existncia actual sem qualquer ideia do futuro. O sentimento da existncia o primeiro sentimento do homem. mais fun damental do que o desejo de preservao de si mesmo; o homem cuida da preservao da sua existncia porque a prpria existncia, a mera existncia, prazenteira por natureza (64 ) . O sentimento da existncia como Rousseau o experimentou e descreveu articulado com uma riqueza que decerto no estava presente no sentimento da existncia que se expe rimentava no estado de natureza. aqui finalmente que o homem civilizado ou aquel es homens civilizados que abandonaram a sociedade civil rumo solido alcanam um gra u de felicidade de que o animal estpido seria totalmente incapaz. Em ltima anlise, s esta superioridade do homem civilizado, ou dos melhores entre os homens civiliz ados, permite a Rousseau afirmar sem hesitaes que, embora o aparecimento da socied ade civil tenha sido pernicioso para o gnero humano ou para o bem comum, foi bom para o indivduo (65). A derradeira justificao da sociedade civil reside, ento, no fa cto de permitir a um certo tipo de indivduo gozar da suprema felicidade ao retira r-se da sociedade civil, isto , ao viver nas suas franjas. Embora na sua primeira obra importante o cidado de Genebra tenha dito que cada cidado intil pode ser consi derado um homem pernicioso, j na sua ltima obra diz que ele prprio foi sempre na rea lidade um cidado intil, e ainda que os seus contemporneos fizeram mal ao proscrev-lo da sociedade como um membro pernicioso, em vez de se limitarem a retir-lo da soc iedade como um membro intil(66). O tipo humano anunciado por Rousseau, que justif ica a sociedade civil transcendendo-a, j no mais o filsofo, mas o que mais tarde ve io a chamar-se o artista. A sua reivindicao a um tratamento privilegiado baseia-se n a sua sensibilidade, e no na sua sabedoria, baseia-se na sua bondade ou compaixo, e no na sua virtude. Admite o carcter precrio da sua reivindicao: um cidado com uma m onscincia. Porm, como a sua conscincia acusa-o ao mesmo tempo que acusa a sociedade a que pertence, ele levado a se considerar como a conscincia da sociedade. Mas no pode deixar de ter uma m conscincia por ser a m conscincia da sociedade. (64) Ibid., pp. 96, 118, 151, 165; mile, I, p. 286; Rveries, V e VII. Ver acima, p p: 261-262. (65) Segundo Discurso, pp. 84, 116, 125-126; Beaumont, p. 471. (66) Primeiro Discurso, p. 131; Rveries, VI (in fine). DIREITO NATURAL E HISTRIA preciso contrastar o carcter onrico da contemplao solitria de Rousseau com o carcter il da contemplao filosfica. Mais, preciso tomar em considerao o conflito insolvel ent e os pressupostos da sua contemplao solitria e da sua teologia natural (e, por cons eguinte, a moral assente nessa teologia). Ento, compreende-se que a reivindicao fei ta em nome do indivduo, ou de alguns indivduos raros, contra a sociedade carece de clareza e preciso. Dito de forma mais rigorosa, o carcter preciso do acto de reiv indicao contrasta fortemente com o carcter impreciso do contedo da reivindicao. Isso n surpreende. A ideia de que a vida boa consiste no regresso ao estado de naturez a no plano da humanidade, isto , a um estado completamente destitudo de todos os t raos humanos, leva necessariamente consequncia de que o indivduo reivindica uma ema
ncipao to radical da sociedade que essa libertao deixa de ter qualquer contedo humano. Mas este defeito fundamental do estado de natureza enquanto objectivo das aspir aes humanas constitua, aos olhos de Rousseau, a sua justificao perfeita: a prpria impr eciso do estado de natureza enquanto objectivo das aspiraes humanas tornou esse est ado no veculo ideal da liberdade. Ter reservas quanto sociedade em nome do estado de natureza significa ter reservas contra a sociedade sem se ser obrigado a, ne m capaz de, indicar o modo de vida ou a causa ou a senda em nome das quais so fei tas essas reservas. A ideia de um regresso ao estado de natureza no plano da hum anidade era a base ideal para reivindicar uma liberdade relativamente sociedade que no fosse uma liberdade para fazer algo. Era a base ideal para invocar contra a sociedade algo impreciso e indefinvel, uma derradeira santidade do indivduo enqu anto indivduo, nem redimido, nem justificado. Foi exactamente assim que a liberda de veio a ser entendida para um nmero substancial de homens. Toda a liberdade que seja uma liberdade para fazer algo, toda a liberdade que se justifique por refe rncia a algo superior ao indivduo, ou superior ao homem meramente enquanto homem, restringe necessariamente a liberdade ou, o que vale pelo mesmo, estabelece uma distino sustentvel entre a liberdade e a licenciosidade. Faz a liberdade depender d o propsito para o qual foi reivindicada. Rousseau distingue-se de muitos dos seus seguidores pelo facto de ainda compreender com clareza a desproporo entre esta li berdade indefinida e indefinvel e os requisitos da sociedade civil. Tal como conf essou no final da sua carreira, nenhum outro livro o atraa ou beneficiava mais do A CRISE DO DIREITO NATURAL MODERNO 251 que a obra de Plutarco (67). O sonhador solitrio ainda se inclinava perante os he ris de Plutarco. B. BURKE As dificuldades que Rousseau encontrou quando aceitou a doutrina do direito natu ral moderno e reflectiu sobre ela poderiam ter sugerido um retorno concepo pr-moder na do direito natural. Foi Edmund Burke quem, no ltimo instante, por assim dizer, tentou esse retorno. Burke alinhou com Ccero e com Suarez contra Hobbes e contra Rousseau. Agora, tal como nos dois ltimos sculos, penso que continuamos a ler de f orma mais generalizada os autores da s antiguidade do que no Continente. So eles q ue ocupam os nossos espritos. Burke alinhou com os autores da s antiguidade contra os filsofos parisienses, e em particular contra Rousseau, os originadores de uma nova moralidade ou os ousados experimentadores da moral. Repudiou com escrnio essa filosof ia que pretende ter feito descobertas na terra australis da moral ("). Na verdade , a sua actividade politica foi orientada pela devoo constituio britnica, mas entendi a esta constituio de forma semelhante ao modo como Ccero entendera o regime de Roma . Burke no escreveu uma nica obra terica sobre os princpios da poltica. Todas as suas d eclaraes relativas ao direito natural aparecem em exposies ad hominem, e que tm um pr opsito prtico especfico imediato. Assim, a sua apresentao dos princpios polticos acomp nhou, at um certo ponto, as mudanas da situao poltica. Da que muitas vezes parecesse s er inconsistente. Na verdade, em toda sua carreira aderiu sempre aos mesmos prin cpios. Uma nica f animou as suas aces em favor dos colonos Americanos, em favor dos c atlicos Irlandeses, contra Warren Hastings e contra a Revoluo francesa. De acordo c om a inclinao eminentemente prtica do seu pensamento, Burke declarou os seus princpi os da forma mais vigorosa e clara sempre que a maior urgncia tornava essa declarao necessria, isto , sempre que esses princpios eram atacados com a maior intransigncia aps a ecloso da Revoe com a maior eficcia (67) Rveries, IV (in princ.). (") The Works of Edmund Burke (Bohn's Standard Library.), II, pp. 385, 529, 535, 541; VI, pp. 21-23. Doravante Works.. DIREITO NATURAL E HISTRIA luo francesa. Este acontecimento afectou as suas expectativas relativamente ao pro gresso futuro da Europa; mas em regra pouco mais fez do que confirmar as suas co ncepes do que , ao nvel poltico e moral, correcto e incorrecto (69). O carcter prtico do pensamento de Burke explica em parte por que no hesitava em usa r a linguagem do direito natural moderno sempre que isso o podia ajudar a persua dir a sua audincia moderna do acerto da poltica que recomendava. Falou do estado d
e natureza, ou dos direitos da natureza ou dos direitos do homem, e do pacto soc ial ou do carcter artificial da comunidade poltica (") . Mas de Burke pode-se dize r que integrou estas noes numa perspectiva dssica ou tomista. Temos de nos limitar a alguns exemplos. Burke est disposto a conceder que os home ns no estado de natureza, os homens no-convencionados, tm direitos naturais; no esta do de natureza cada um tem o direito autodefesa, a primeira lei natural, o direito de se governar a si mesmo, isto , de julgar por si mesmo, e de fazer valer a sua prpria causa, e at um direito a todas as coisas. Mas por terem um direito a todas as c oisas, carecem de todas as coisas. O estado de natureza o estado da nossa natureza nua e trmula, ou da nossa natureza ainda no afectada de algum modo pelas nossas vi rtudes, ou da barbrie originria. Da que o estado de natureza e os plenos direitos do s homens de que dele decorrem no possam fornecer o padro da vida civilizada. Todas as carncias da nossa natureza seguramente, todas as carncias superiores da nossa n atureza apontam para a sada do estado de natureza e para a sociedade civil: a soc iedade civil, no o estado de rude natureza, que constitui o verdadeiro estado de na tureza. Burke admite que a sociedade civil a filha da conveno ou um contrato. Mas u ntrato, uma parceria, de um gnero particular uma parceria em cada virtude, e em toda as perfeies. um contrato quase no mesmo sentido em que a ordem providencial no seu todo, o grande e primeiro cntrato da sociedade eterna, pode ser vista como um contr ato (71). (69) Ibid., II, pp. 59-62; III, p. 104; VI, pp. 144-153. Sobre a questo do progre sso, cf. p. 156; III, pp. 279, 366; VI, pp. 31, 106; VII, pp. 23, 58; VIII, p. 43 9; Letters of ...Edmtind Burke: A Selection, ed. HarOld J. Laski, p. 363 (doravante Letters); cf . tambm Burke; Select Works, ed. E. J. Payne, II, p. 345. : por exemplo, Works, I, pp. 314, 348, 470; II, pp. 19, 29-30, 145, 294-29 5, 31.:3368i p: 82;V, pp. 153, 177, 216; VI, p. 29. Ibid.;-II,,pp. 220, 332-333, 349, 368-370; III, pp. 82, 86;V, pp. 212, 315, 498. A CRISE DO DIREITO NATURAL MODERNO Burke reconhece que o propsito da sociedade civil o de garantir os direitos do ho mem, e em particular o direito prossecuo'da felicidade. Mas a felicidade s se encon tra pela virtude, por restries que so impostas s paixes pelas virtudes. Da que a suje zo, ao governo, lei, ou as restries sobre os homens, assim como as suas liberdades, se devam contar entre os seus direitos. t) homem nunca pode agir sem imposies morais, j que os homens nunca esto num estado de total independncia mtua. A vontade do homem tem de estar sempre sob o domnio da razo, da prudncia e da virtude. por isso que Bu rke procura o fundamento do governo numa conformidade aos nossos deveres, e no em im aginrios direitos dos homens. Assim, nega a afirmao de que todos os nossos deveres s urgem do consentimento ou do contrato (72). A discusso sobre os imaginrios direitos dos homens concentra-se no direito de cada u m ser o nico juiz do que conduz preservao de si mesmo ou sua felicidade. Era esse a legado direito que parecia justificar a exigncia de que cada um deve ter o seu qu inho de poder poltico, e, num certo sentido, que deve ter um quinho to grande quanto o que cabe aos restantes. Burke pe em dvida esta exigncia regressando ao princpio s obre o qual este alegado direito se funda. Burke concede que cada um tem um dire ito natural preservao de si e prossecuo da felicidade. Mas nega que o direito de cad a um preservao de si e prossecuo da felicidade se torne inoperante se cada um no tiv r o direito de julgar os meios necessrios sua preservao e sua felicidade. Portanto, o direito satisfao das necessidades, ou s vantagens da sociedade, no necessariament e um direito participao no poder poltico. Pois o julgamento do grande nmero, ou a sua vontade, e o seu interesse, tm de divergir com muita frequncia. O poder poltico ou a participao no poder poltico no est contida nos direitos do homem, porque os homens tm direito a um bom governo, e no existe uma relao necessria entre o bom governo e o governo do grande nmero; os direitos do homem, bem entendidos, apontam na direco do predomnio da verdadeira aristocracia natural, e, por conseguinte, do predomnio da p ropriedade, em particular da propriedade fundiria. Por outras palavras, verdade q ue cada um capaz de julgar apropriadamente as suas agruras atravs dos seus sentim entos, desde que no seja seduzido por agitadores a julgar as
(72) Ibid., II, pp. 310, 331, 333, 538; III, p. 109;V, pp. 80, 122, 216, 424. 254 I DIREITO NATURAL E HISTORIA suas agruras segundo a sua imaginao. Mas as causas das agruras no so questes de sentim ento, mas de razo e previdncia, e muitas vezes de consideraes remotas, e de uma gran dssima combinao de circunstncias, que [a maioria] absolutamente incapaz de compreend er. Portanto, Burke procura o fundamento do governo no em imaginrios direitos dos ho mens, mas numa proviso para as nossas necessidades, e numa conformidade aos nossos deveres. Assim, nega que o direito natural por si mesmo tenha muito a dizer acerc a da legitimidade de uma determinada constituio: numa determinada sociedade legiti ma a constituio que for mais adequada proviso das necessidades humanas e promoo da v rtude nessa sociedade; a sua adequao no pode ser determinada pelo direito natural, mas apenas pela experincia(73). Burke no rejeita a ideia de que toda a autoridade tem a sua derradeira origem no povo, ou que o soberano , em ltima anlise, O povo, ou que toda a autoridade decorre , em ltima anlise, de um pacto entre homens previamente no convencionados. Mas nega q ue estas verdades ltimas, ou meias verdades, tenham relevncia poltica. Se a sociedad e civil for a filha da conveno, essa conveno tem de ser a sua lei. Para quase todos o s efeitos prticos, a conveno, o pacto originrio, isto , a constituio estabelecida, a toridade suprema. Como a funo da sociedade civil a satisfao das necessidades, a cons tituio estabelecida deriva a sua autoridade mais do seu funcionamento benvolo ao lo ngo de muitas geraes, ou dos seus frutos, do que da conveno originria ou da sua orige m. A raiz da legitimidade no tanto o consentimento ou o contrato, mas a benevolnci a comprovada, isto , a prescrio. S a prescrio, por contraposio ao pacto originrio en elvagens no convencionados, pode revelar a sabedoria da constituio, e, por conseguint e, legitim-la. Os hbitos formados a partir do pacto originrio, e em particular os hb itos virtuosos, so infinitamente mais importantes do que o prprio acto originrio. S a prescrio, por contraposio ao acto originrio, pode consagrar uma determinada ordem s ocial. O povo, longe de ser o senhor da constituio, antes a sua criatura. A noo estr ita da soberania do povo implica que a gerao actual soberana: a convenincia presente torna-se no nico princpio de (73) ibid.., 1, pp. 311, 447; II, pp. 92, 121, 138, 177, 310, 322-325, 328, 330333, 335; IJ, pp. 44-45, 78, 85-86, 98-99, 109, 352, 358, 492493; V, pp. 202, 207, 22 6-227, 322-323, 342; VI, pp. 20-21, 146. A CRISE DO DIREITO NATURAL MODERNO 255 apego constituio. Os possessores temporrios e os locatrios da comunidade politica, erentes ao que receberam dos seus antepassados, tornam-se inevitavelmente indifer entes ao que devido posteridade. O povo, ou para todos os efeitos qualquer outro s oberano, ainda menos senhor da lei natural; a lei natural no absorvida pela vonta de do soberano ou pela vontade geral. Consequentemente, para Burke, a distino entr e guerras justas e injustas permanece perfeitamente relevante; Burke abomina a i deia de que a poltica externa de uma nao deve ser determinada exclusivamente em ter mos do seu interesse material (74). Burke no nega que, em certas condies, o povo possa alterar a ordem estabelecida. Ma s s admite essa hiptese como um direito derradeiro. A sade da sociedade requer que a soberania ltima do povo esteja quase sempre dormente. Ope-se aos tericos da Revol uo francesa porque estes convertem um caso de necessidade numa regra de lei, ou porq ue consideram como normalmente vlido o que s vlido em casos extremos. Mas o prprio hb to de declarar estes casos extremos no muito salutar ou seguro. Por outro lado, as opinies de Burke nunca podem levar a um extremo, porque o seu fundamento assenta na rejeio dos extremos (75). Burke atribui o extremismo da Revoluo francesa a uma nova filosofia. A moral antiga era uma moral de benevolncia social e de renncia individual. Os filsofos parisienses negam a nobreza da renncia individual ou da temperana ou das virtudes severas e restr itivas. Apenas reconhecem as virtudes liberais: uma virtude a que chamam humanidade ou benevolncia (76). Entendida deste modo, a humanidade boa companheira da depravao. Chega (74) Ibid., II, pp. 58, 167, 178, 296, 305-306, 331-332, 335, 349, 359-360, 365367, 422-423, 513-514, 526, 547; III, pp. 15, 44-45, 54-55, 76-85, 409, 497, 498 ; V, pp. 203-205, 216; VI, pp. 3, 21-22, 145-147; VII, pp. 99-103.
(75) Ibid., I, pp. 471, 473, 474; II, pp. 291, 296, 335-336, 468; III, pp. 15-16 , 52, 81, 109; V, p. 120. Cf. G. H. Dodge, The Political Theory of the Huguenots of the Dispersion (Nova Iorque, 1947), p. 105; Jurieu sustentava que melhor para a paz pblica que o p ovo no conhea a verdadeira extenso dos seus poderes; os direitos do povo so remdios qu e no devem ser desperdiados ou aplicados a males menores. H mistrios que no devem ser profanados por uma excessiva exposio aos olhos das massas. Quando se trata da destr uio do Estado ou da religio, ento [estes remdios] podem ser aplicados; para alm desses casos no penso que seja errado encerr-los no silncio. (7') Carta a Rivarol, 1 de junho de 1791 (cf. Works, I, pp. 130-131, 427; II, pp . 56, 418), Works, V, pp. 208, 326. Sobre a relao entre o comrcio e a gentileza das manei ras por oposio sua pureza, cf. Montesquieu, De l'esprit des bis, XX, 1 (e XIX, 16) . DIREITO NATURAL E HISTRIA
mesmo a foment-la: fomenta o relaxamento dos laos matrimoniais e a substituio da igr eja pelo teatro. Mais, a mesma disciplina que (...) relaxa os seus costumes morai s, endurece os seus coraes: o humanitarismo extremo dos tericos da Revoluo francesa c uz necessariamente bestialidade. Pois esse humanitarismo baseia-se na premissa d e que os factos morais fundamentais so direitos que correspondem s necessidades fsi cas bsicas; toda a sociabilidade derivada e, de facto, artificial; a sociedade ci vil , com toda a certeza, radicalmente artificial. Da que as virtudes do cidado no p ossam ser enxertadas no conjunto das afeies naturais. Mas pressupe-se que a sociedade civil no s necessria, como nobre e sagrada. Por isso, os sentimentos naturais, tod os os sentimentos naturais, tm de ser implacavelmente sacrificados em beneficio d as alegadas exigncias do patriotismo ou da humanidade. Os revolucionrios franceses chegam a estas exigncias atravs de uma abordagem aos assuntos humanos em que se a dopta a atitude prpria dos cientistas, dos gemetras ou dos qumicos. Logo, os revolu cionrios franceses so, desde o incio, piores do que indiferentes a esses sentimentos e hbitos, que constituem a sustentao do mundo moral. Nas suas experincias, consideram os homens nem mais, nem menos, como ratos numa bomba de ar, ou num recipiente d e gs mefitico. Assim, esto prontos a declarar que no julgam dois mil anos um perodo de masiado longo para o bem que prosseguem. A sua humanidade no terminou. Limitam-se a dar-lhe um longo prorrogamento. (...) A sua humanidade est no seu horizonte e, t al como o horizonte, est sempre a recuar sua frente. esta atitude cientfica dos revo ucionrios franceses, ou dos seus mestres, que tambm explica por que a sua depravao, que eles contrapem como algo natural s convenes da antiga galanteria, uma mistura inf orme, indelicada, amarga e sombria de pedantismo e lubricidade (77). Burke ope-se, ento, no apenas mudana na substncia da doutrina moral. Ope-se tambm, e at de forma primordial, mudana no que respeita ao se u modo: a nova doutrina moral a obra de homens que pensam sobre os assuntos huma nos como os gemetras pensam sobre figuras e planos em vez de pensarem como homens de, aco que tm diante deles um assunto prtico. esta mudana fundamental de uma aborda gem prtica para uma outra terica que, ndo Burke, deu Revoluo francesa o seu carcter n co. 77 Works pp. 311, 409, 419, 538-540; V, pp. 138, 140-142, 109-113. A CRISE DO DIREITO NATURAL MODERNO 257 A actual revoluo em Frana parece-me (...) ter poucas semelhanas ou analogias com qual quer uma das que foram feitas na Europa segundo princpios puramente polticos. uma revoluo de doutrina e de dogma terico. Tem semelhanas muito maiores com aquelas tran sformaes levadas a cabo por motivos religiosos, das quais o esprito de proselitismo uma parte essencial. Por conseguinte, a Revoluo francesa tem certas semelhanas com a Reforma. Porm, este esprito de faco politica geral, ou esta doutrina armada, est a da religio e , de facto, atesta; o dogma terico que orienta a Revoluo francesa p e poltico. Mas, como essa revoluo estende o poder da poltica religio, e at constit esprito do homem, a primeira revoluo completa na histria do gnero humano. Contudo, sucesso no pode ser explicado pelos princpios polticos que a animam. Esses princpio
s exerceram em todas as pocas uma poderosa atraco, j que lisonjeiam fortemente as pro penses naturais da multido irreflectida. Assim, houve tentativas anteriores de insu rreio fundadas nes- - tes direitos dos homens, como a Jacquerie e a insurreio de John Bali na Idade Mdia e os esforos da ala extremista durante a Guerra Civil inglesa. Mas nenhuma destas tentativas teve sucesso. O sucesso da Revoluo francesa s se expl ica por uma das suas caractersticas que a distingue de todas as outras revolues. A Revoluo francesa a primeira revoluo filosfica. a primeira revoluo a ser levada a homens das letras, por filsofos, por metafisicos de puro-sangue, no como instrumento s subordinados e arautos da sedio, mas como os seus principais maquinadores e orga nizadores. a primeira revoluo em que o esprito de ambio est ligado ao esprito espe o (78). Ao opor-se a esta intruso do esprito especulativo ou do esprito terico no campo da p rtica ou da poltica, pode-se dizer que Burke restaurou a ideia mais antiga segundo a qual a teoria no pode ser, o nico guia, ou o guia suficiente, da prtica. Pode-se dizer que regressou, em particular, a Aristteles. Mas, para no fazer mais do que uma ressalva, preciso acrescentar de imediato que ningum antes de Burke falara so bre este assunto com tanta nfase e tanto vigor. Pode-se at dizer que, do ponto de vista da filosofia poltica, os co(18) Ibid.,II, pp. 284-287, 299, 300, 302, 338-339, 352, 361-362, 382-384, 403-4 05, 414, 423-424, 527; III, 87-91, 164, 350-352, 354, 376, 377, 379, 442-443, 456-45 7; V, pp. 73, 111, 138, 139, 141, 245, 246, 259 (os itlicos no esto no original). 258 DIREITO NATURAL E HISTRIA tnentrios de Burke acerca do problema da teoria e da prtica constituem a parte mai s importante da sua obra. Falou com mais nfase e vigor sobre este problema do que Aristteles o fizera porque tinha de lidar com uma forma nova e poderosssima de esp eculatismo, corri um doutrinarismo poltico de origem filosfica. Esta abordagem espec ulatista politica j retinha a sua ateno crtica bem antes da Revoluo francesa. Anos a s de 1789, Burke falou dos especulatistas da nossa era de especulao. Foi a importncia poltica acrescida da especulao que, muito cedo na sua carreira, virou com grande e nergia a ateno de Burke para a antiga querela entre a especulao e a prtica (79) Foi luz dessa querela que concebeu as suas maiores aces polticas: no s as suas aces tra a Revoluo francesa, mas tambm em favor dos colonos Americanos. Em ambos os caso s, os lderes polticos a quem Burke se ops insistiam em certos direitos: o governo i ngls insistia nos direitos de soberania e os revolucionrios franceses insistiam no s direitos d homem. Em ambos os casos, Burke agiu exactamente da mesma maneira: ps menos em dvida os direitos do que a sabedoria de os exercer. Em ambos os casos t entou restaurar a abordagem genuinamente poltica por oposio a unia abordagem legali sta. Ora Burke, de uma forma muito tpica de si, considerava a abordagem legalista como uma forma de especu semelhana da abordagem do historiador, do metafsico, do telogo e do matemtico. Todas no so controladas pela prudn estas abordagens aos assuntos polticos tm isto em comum cia, a virtude controladora de toda a prtica. Independentemente do que se possa d izer acerca da adequao do uso que Burke fez dessa palavra, aqui basta notar que, a o julgar os lderes polticos a quem se ops nos dois actos mais importantes da sua vi da, atribuiu a sua falta de prudncia mais intruso do espirito terico no campo da po ltica do que paixo (80). Muitas vezes se tem dito que, em nome da histria, Burke atacou as teorias prevale centes na sua poca. Como se ver mais adiante, essa interpretao no inteiramente injust ificada. Mas, para vermos os limites da sua correco, temos de comear com o facto de que o que apareceu s geraes posteriores a Burke como uma viragem para a (79) Ibid.,1, p. 311; II, p. 363; III, pp. 139, 356; V, p. 76; VII, p. 11. (80) Ibid., I, pp. 257, 278, 279, 402, 403, 431, 432, 435, 479-480; II, pp. 7, 2 5-30, 52, 300,304; III, p. 16; V, p. 295; VII, p. 161; VIII, pp. 8-9; cf. tambm E rnest Barker, Essays on Govenunent (Oxford, 1945), p. 221. _ A CRISE DO DIREITO NATURAL MODERNO 259 Histria, para no dizer uma descoberta da Histria, foi sobretudo um regresso perspec tiva tradicional das limitaes essenciais da teoria em contraposio prtica ou prudnci O .especulatismo na sua forma mais acabada seria a ideia de que toda a luz de que
a prtica necessita fornecida pela teoria ou pela filosofia ou pela cincia. Contra esta opinio, Burke afirma que a teoria insuficiente para a orientao da prtica e, pa ra mais, tem urna tendncia essencial de induzir a prtica em erro (81). A prtica e, por conseguinte, a sabedoria prtica ou a prudncia distinguem-se da teoria, em prim eiro lugar, pelo facto de estarem atentas ao particular e ao mutvel, ao passo que a teoria est atenta ao universal e ao imutvel. A teoria, .que considera o homem e os assuntos humanos, est sobretudo interessada nos princpios da moral, assim como nos <princpios da verdadeira poltica [que] so a extenso dos princpios da moral ou nos .fins prprios do governo. Mesmo conhecendo os fins prprios do governo, no se sabe na da sobre como, e em que medida, esses fins podem ser realizados aqui e agora, ne stas circunstncias particulares simultaneamente fixas e transitrias. E so as circun stncias que do .a cada princpio poltico a sua cor distintiva e o efeito diferenciado r. Por exemplo, a liberdade poltica pode ser uma bno ou uma maldio, segundo as diferen es circunstncias. .24 cincia implcita na construo de uma comunidade poltica, ou na sua renovao, ou na sua reforma, em contraposio ao conhecimento dos princpios da poltica, ortanto uma .cincia experimental, que no deve ser ensinada a priori. Assim, a teori a lida no apenas com os fins prprios do governo, mas tambm com os meios para esses fins. Mas praticamente no h qualquer regra relativa aos meios que seja universalme nte vlida. Por vezes, -se mesmo confrontado <com a terrvel urgncia em que a moral se sujeita suspenso das suas prprias regras em favor dos seus princpios (82). Como h mu itas regras deste tipo que so vlidas na maioria dos casos, elas adquirem uma plaus ibilidade que verdadeiramente enganosa quando se consideram os casos raros em qu e a sua aplicao seria fatal. Tais regras no tomam o acaso em devida conta, .ao qual os especulado-, res raramente se dignam a atribuir essa grande parte a que tem justa-, (81) Works,1, pp. 259, 270-271, 376; II, pp. 25-26, 306, 334-335, 552; III, p. 1 10; VI p. 148; Letters, p. 131. (82) Works, I, pp. 185, 312, 456; II, pp. 7-8, 282-283, 333, 358, 406, 426-427, 520, 533, 542-543, 549; III, pp. 15-16, 36, 81, 101, 350, 431-432, 452;V, pp. 15 8, 21(, Vi. pp. 19, 24, 114, 471; VII, pp. 93-94, 101. DIREITO NATURAL E HISTRIA mente direito em todos os assuntos humanos. Ao desconsiderarem o poder do acaso, esquecendo assim que cuidar do nosso prprio tempo talvez a nica coisa de que se pod e dizer com alguma certeza que da nossa responsabilidade moral, eles no falam como polticos, mas como profetas. O interesse no universal ou no geral tende a criar um a espcie de cegueira no que toca ao particular e ao nico. As regras polticas proven ientes da experincia exprimem as lies que se tiram do que teve sucesso ou do que fr acassou at ao momento actual. Por conseguinte, no so aplicveis s novas situaes. Por ve es, surgem novas situaes em reaco s mesmas regras que a experincia anterior, que nunca fora refutada, pronunciava cotno universalmente vlidas: o homem imaginativo no b em e no mal. Pode, pois, acontecer que a experincia baseada em outros dados [que no os das circunstncias actuais do caso] seja de todas as coisas a mais ilusria (83). Daqui segue-se que a histria tem um valor muito limitado. Da histria pode-se adquir ir muita sabedoria poltica, mas apenas como hbito, no como preceito. A histria tende a desviar o entendimento do homem dos afazeres diante de si e a lev-lo a analogias en ganadoras; e os homens esto naturalmente inclinados a sucumbir a essa tentao. Pois articular uma situao, que at ento estava por articular, na sua especificidade solici ta um esforo muito maior do que interpret-la luz de precedentes que foram j articul ados. Tenho observado constantemente., diz Burke, que, em termos polticos, a genera lidade das pessoas est atrasada pelo menos cinquenta anos (...) para elas tudo es t resolvido nos livros, sem ser necessria grande diligncia ou sagacidade.. Isto no n ega que o poltico por vezes precise da histria para lidar com os afazeres diante de si. Por exemplo, a razo e o bom-senso prescrevem em absoluto que, sempre que estam os rodeados por dificuldades criadas pelas medidas que tommos, devemos proceder a um exame rigoroso dessas medidas., ou que devemos levar em considerao o detalhe hi strico com mincia. A histria tem isto em comum com a sabedoria prtica, que ambas esto interessadas no particular; e tem isto em comum com a teoria, que os objectos da histria, isto , as aces ou transaces passadas (acta), no so objectos da aco propri dita (agenda), isto , coisas que temos de fazer agora. Assim, a histria, ou a sabed oria retrospectiva, cria a iluso de poder
(8)ibid.., I, pp. 277-278, 312, 365; II, pp. 372, 374-375, 383; III, pp. 15-17; V, p. 78, pp. 153454, 257. A CRISE DO DIREITO NATURAL MODERNO 261 contribuir admiravelmente para reconciliar a antiga querela entre a especulao e a p rtica (84). Um outro modo atravs do qual os homens tentam escapar pesada tarefa de articular e lidar com situaes dificeis o legalismo. Por vezes agem no pressuposto de que se pode recorrer lei, que, enquanto tal, visa o universal, para responder plenament e s verdadeiras questes polticas, que, enquanto tais, dizem respeito ao aqui e ao a gora. por atender a esta diferena entre o prudencial e o legal que Burke por veze s chama especulativa ou metafsica abordagem legal. Contrasta o carcter limitado e fi o legal, que est adaptado s ocasies normais, com o prudencial, a nica abordagem que po de guiar os homens quando se abre uma cena nova e problemtica (85) . A teoria ento capaz de uma simplicidade, de uma uniformidade ou de uma exactido de que a sabedoria prtica necessariamente carece. um trao caracterstico da teoria que concerne os homens e os assuntos humanos que esteja principalmente interessada quer na melhor ordem ou simplesmente na ordem justa, quer no estado de natureza. Em ambas as possibilidades, a teoria est principalmente interessada no caso mais simples. Este caso simples nunca ocorre na prtica; nenhuma ordem existente pura e simplesmente justa, e todas as ordens sociais so fundamentalmente diferentes do estdo de natureza. Portanto, a sabedoria prtica tem sempre de lidar com excepes, mo dificaes, equilbrios, compensaes ou misturas. Pelas leis da natureza, estes direitos m etafisicos, semelhana dos raios de luz que atravessam um meio denso, deixam de se r linhas rectas e refractam-se na vida comum. Como os objectos da sociedade so da m aior complexidade possvel, os direitos primitivos dos homens no podem continuar na sim plicidade da sua direco originria; e na medida em que [estes direitos] so verdadeiros de um ponto de vista metafsico, so, do ponto de vista moral e poltico, falsos. A sab edoria prtica, em contraposio teoria, requer, ento, a habilidade mais delicada e intr icada, uma habilidade que apenas surge no decurso de uma prtica longa e variada(88 ). Por outro lado, Burke caracteriza a teoria como subtil ou refinada e v na simplicidad e ou clareza um trao essencial da poltica (84) Ibid.,1, pp. 311, 384-385; II, p. 25; III, pp. 456-457;V, p. 258, (88) Ibid .,1, pp. 199, 406-407, 431, 432; II, pp. 7, 25, 28; V, p. 295. (86) Ibid., I, pp . 257, 336-337, 408, 433, 500-501; II, pp. 29-30, 333-335, 437438, 454-455, 515; III, p. 16; V, p. 158; VI, pp. 132-133. DIREITO NATURAL E HISTORIA s: uma poltica refinada foi sempre a me da confuso. Pode-se dizer que as necessidades que a sociedade tem de suprir e os deveres a que se tem de conformar tm de ser co nhecidos por todos atravs dos seus sentimentos e da sua conscincia. A teoria poltic a levanta a questo da melhor soluo para o problema poltico. Para este efeito, para no mencionar outros, transcende os limites da experincia comum: a teoria poltica refi nada. O homem de bom julgamento politico est vagamente ciente da melhor soluo, mas t em a ntida conscincia de quais as modificaes da melhor situao que so mais apropriadas circunstncias. Para pegar num exemplo dos nossos dias, ele est ciente do facto de que actualmente s uma cultura mais ampla, se bem que mais simples (87) possvel. A cl areza que a boa aco solicita no necessariamente aumentada por uma maior clareza qua nto melhor soluo, nem por uma maior clareza terica de qualquer outro tipo: a luz cl ara da torre de marfim, ou, para os mesmos efeitos, do laboratrio, obscurece as c oisas polticas ao depreciar o meio em que elas existem. A habilidade mais delicada e intricada pode ser necessria para conceber uma poltica que se adeqUe suficientemente bem aos fins do governo numa dada situao. Mas essa poltica ser um fracasso se o povo no se aperceber da sua bondade: uma poltica refinada destri a confiana e, por conseguinte, a obedincia plena. Uma poltica tem de ser clara no que respeita aos fundamentos mais gerais da poltica, ao passo que no necessrio que o fundamento de uma medida particular, fazendo parte de um projecto esteja ao alcance das capacidades vulgares daqueles que dela vo beneficiar, ou mesmo que esse fundamento lhes seja divulgado. No aspecto mais e ssencial, os menos curiosos esto e devem estar, em virtude dos seus sentimentos e da sua experincia, em p de igualdade com os mais sbios e mais conhecedores (88) .
De mais a mais, a prtica pressupe uma ligao a um objecto particular ou, mais precisa mente, quilo que nosso (o nosso pas, o nosso povo, o nosso grupo religioso, e por a em diante), ao passo que a t eoria no tem essas ligaes. Ter uma ligao a um objecto significa cuidar dele, interess ar-se por ele, ser-se afectado por ele, envolver-se pessoalmente com ele. Os ass untos prticos, em contraposio aos tericos, atingem os homens directamente nos seus af azeres e na (87) Winston S. Churchill, Blood, Sweat, and Tears (Nova Iorque, 1941), p. 18. (m) Works, I, pp. 337, 428-429, 435, 454, 489; II, pp. 26, 30, 304, 358, 542; II I, pp. 112,441; V, pp. 227, 278; VI, pp. 21, 24; VII, p, 349. A CRISE DO DIREITO NATURAL MODERNO 263 sua intimidade. Enquanto tal, o terico no est mais interessado no seu prprio caso, ou no caso do seu prprio grupo, do que em qualquer outro. imparcial e neutro, para no dizer frio e lnguido. Os especuladores devem ser neutros. Um ministro no pode s-lo homem de aco necessria e legitimamente parcial para com o que seu; seu dever tomar partido. Burke no quer dizer que o terico no pode fazer juzos de valor, mas que, enqu anto terico, um partidrio da excelncia sem cuidar de saber quando e onde ir encontr-l a; prefere sem reservas o bem quilo que seu. Em contrapartida, o homem de aco est in teressado principalmente no que seu, no que lhe est mais prximo e no que lhe mais caro, por mais deficiente em excelncia que possa ser. O horizonte da prtica necess ariamente mais estreito do que o da teoria. Ao rasgar um horizonte mais vasto, r evelando assim as limitaes de qualquer actividade prtica, a teoria tende a ameaar a devoo plena prtica(89). Tambm por no poder esperar, falta prtica a liberdade da teoria: temos de subordinar (...) os assuntos ao tempo. O pensamento prtico o pensamento com vista a um certo prazo. Ocupa-se do que mais iminente, e no do que mais aceitvel. Falta-lhe o sosse go e o lazer da teoria. No permite ao homem fugir a uma opinio ou suspender o seu ju lgamento. Portanto, tem de se satisfazer com um grau inferior de clareza ou de c erteza em comparao com o pensamento terico. Toda a deciso 'terica reversvel; as ac eversveis. A teoria pode e tem ainda e sempre de comear do princpio. Mesmo a questo da melhor ordem social significa que se discutem possibilidades (...) em cima das supostas runas da constituio, isto , significa que se faz algo que no pensamento prti co revelariam um mau hbito. Em contraposio teoria, a prtica limitada pelas decises adas e, portanto, pelo que est estabelecido. Nos assuntos humanos, a posse passa por ser um ttulo, ao passo que em matrias tericas no h qualquer presuno em favor da op nio aceite (9) . Sendo essencialmente privada, a especulao ocupa-se da verdade sem qualquer considerao pela opinio pblica. Mas as medidas nacionais ou os problemas polticos no se ocupam pri ordialmente do que verdadeiro ou falso. Tratam do bem e do mal. (89) Ibid., I, pp. 185-186, 324, 501; II, pp. 29, 120, 280-281, 548; Ill, pp. 17 9-180; VI, p. 226; VIII, p. 458. (") Ibid., I, pp. 87, 193, 323, 336, 405; II, pp. 26, 427-428, 548, 552; VI, p. 19; VII, p. 127. 264 DIREITO NATURAL E HISTORIA Tratam da paz e da convenincia mtua, e para as tratar de forma satisfatria preciso um a confiana insuspeita, consentimento, acordo e compromisso. A aco poltica requer uma g sto judiciosa do temperamento do povo. Mesmo quando se d uma direco (...) ao sentido g eral da comunidade, necessrio seguir (...) a inclinao pblica. Independentemente do q se possa pensar sobre o valor abstracto da voz do povo, (...) a opinio, o grande s uporte do Estado, [depende] absolutamente dessa voz. Da que possa facilmente acont ecer que aquilo que verdadeiro do ponto de vista metaffsico seja falso do ponto de vista poltico. As opinies estabelecidas, as opinies autorizadas que tanto contribue m para a tranquilidade pblica, ho podem ser abaladas, apesar de no serem infalveis. Os preconceitos tm de ser apaziguados.. A vida politica requer que os prprios princpios fundamentais, que, enquanto tais, transcendem a constituio estabelecida, sejam ma ntidos num estado de dormncia. As solues temporrias de continuidade, tm de ser escondi das dos olhares, ou colocadas por detrs de um vu poltico e bem bordado. Deve-se coloca um vu sagrado sobre as origens de todos os governos. Enquanto a especulao inovadora, enquanto as guas da cincia tm de ser agitadas, antes de poderem exercer as suas virtud
es, a prtica tem de se manter to prxima quanto possvel do precedente, do exemplo e da tradio: o costume antigo (...) o maior suporte de todos os governos no mundo. Na ve rdade, a sociedade assenta no consentimento. Porm, o consentimento no se obtm apena 's com base na razo, e em particular no se obtm apenas com base no simples clculo do s beneficios da vida em comum -- um clculo que pode ser feito num curto perodo de tempo -, mas somente atravs dos hbitos e preconceitos que necessitam de longos pero dos para crescer. Enquanto a teoria rejeita o erro, o preconceito ou a superstio, j o estadista pe-nos a bom uso (9'). A intruso da teoria na poltica tende a causar um efeito perturbador e inflamatrio. Nenhuma ordem social existente perfeita. As investigaes especulativas necessariament e tornam visvel o carcter imperfeito da ordem estabelecida. Se estas investigaes for em introduzidas na discusso politica, que, por necessidade, carece da frieza da in vestigao filosfica, tendero a aumentar o descon(") Ibid., I, pp. 87, 190, 257, 502; pp. 27-29, 33-34, 44, 292, 81; 109, 110; V, p. 230; VI, pp. 98, Letters, pp. 299-300. 280, 307, 352, 375, 431, 432, 471, 473, 483, 489, 492, 293, 306, 335, 336, 349, 429-430, 439; III, pp. 3940, 243, 306-307; VII, pp. 44-48, 59, 60, 190; VIII, p. 274; A CRISE DO DIRETTO NATURAL MODERNO 265 tentarnento do povo em relao ordem estabelecida, descontentamento esse que poder tor nar a reforma racional impossvel. Na arena poltica, os problemas tericos mais legtim os convertem-se em questes vexatrias e provocam um esprito de litigncia e fanatismo nsideraes que transcendam os argumentos dos Estados e dos reinos tm de ser entregues s escolas; pois s a podem ser discutidas sem perigo ("). Como se pode inferir dos pargrafos anteriores, Burke no se contenta em defender a sabedoria prtica contra as usurpaes da cincia terica. Afasta-se da tradio aristotlica ando deprecia a teoria e, em particular, a metafsica. Usa frequentemente as palav ras metafsica e metaffsico num sentido pejorativo. Existe uma relao entre este uso e o facto de considerar a filosofia natural de Aristteles indigna dele, ao passo que co nsidera a fsica epicurista como a que mais se aproxima da razo ("). Existe uma relao e ntre as suas crticas metafsica e as tendncias cpticas dos seus contemporneos Hume e R ousseau. Digamos pelo menos que a distino de Burke entre teoria e prtica radicalmen te diferente da distino feita por Aristteles, j que no se baseia numa clara convico da derradeira superioridade da teoria ou da vida teortica. Para apoiar esta afirmao no temos de depender inteiramente duma impresso geral que d ecorre do uso que Burke d s palavras e da inclinao do seu pensamento. Burke escreveu uma obra terica: A Philosophical Inquiry into the Origin of Our Ideas of the Sub lime and Beautiful. Nessa obra, fala num tom no polmico sobre os limites da cincia teortica: Mal damos um passo alm das qualidades sensveis imediatas das coisas, perde mos o p. Tudo o que fazemos a seguir no passa de uma luta frouxa, que mostra que e stamos num ambiente a que no pertencemos. O nosso conhecimento dos fenmenos fsicos e mentais est limitado pelo modo como operam, ao seu Como; nunca pode alcanar o seu Parqu. O prprio ttulo da investigao revela a linhagem do nico esforo terico feito po urke; reminiscente de Locke e de um conhecido de Burke, Hume. Burke diz de Locke que a autoridade deste grande homem sem dvida to grande quanto pode ser a autorida de de um homem. A tese mais importante de Sublime and Beautiful est em perfeito ac ordo com o sensualismo britnico (") Works, I, pp. 259-260, 270-271, 432; II, pp. 28-29, 331; III, pp. 12, 16, 25 , 3 , 81, 98-99, 104, 106; VI, p. 132. (") Ibid., VI, pp. 150-151. 266 1 DIREITO NATURAL E HISTORIA e ope-se explicitamente aos clssicos; Burke nega que exista uma relao entre a beleza , por um lado, e a perfeio, a proporo, a virtude, a convenincia, a ordem, a aptido e t odas as outras criaturas do entendimento desse tipo, por outro. Vale por dizer que recusa entender a beleza visvel ou sensvel luz da beleza intelectual (94). A emancipao da beleza sensvel relativamente afinidade com a beleza intelectual pres suposta pela tradio pressagia ou acompanha uma certa emancipao do sentimento e do in stinto relativamente razo, ou uma certa depreciao da razo. esta atitude nova face r zo que explica os acentos no clssicos na diferena entre teoria e prtica nos comentrios
de Burke. A oposio de Burke ao racionalismo moderno desliza quase insensivelmente p ara uma oposio ao racionalismo enquanto tal (95) . O que ele diz acerca das deficinci as da razo , sem dvida, em parte tradicional. Em algumas ocasies no vai alm de depreci ar o julgamento do indivduo em favor do julgamento do gnero humano, da sabedoria da e spcie ou do senso antigo e permanente da humanidade, isto , do consensus gentium. Em outras ocasies, no vai alm de depreciar a experincia que o indivduo pode adquirir em favor de uma experincia muito mais vasta e variada de uma longa sucesso de geraes ou d a razo reunida dos sculos (96). O elemento novo na crtica da razo feita por Burke reve la-se de modo menos ambguo na sua consequncia prtica mais importante: rejeita a ide ia de que as constituies podem ser feitas em favor da ideia de que estas tm de crescer rejeita portanto, e em particular, a ideia de que a melhor ordem social pode se r, ou deve ser, a obra de um indivduo, de um legislador sbio ou de um fundador(97). (94) Ibid., I, pp. 114 ss., 122, 129, 131, 143-144, 155; II, p. 441; VI, p. 98. (") Em Sublime and Beautifid, Burke diz que os nossos jardins declaram pelo menos que comeamos a sentir que as ideias matemticas no so as verdadeiras medidas da bele za, e que essa viso errada surgiu da teoria platnia da adequao e da aptido (Worics, I . 122). Nas Reflections on the Revolution in France, Burke compara os revolucionr ios franceses aos jardineiros decorativos. franceses (Worics, II, p. 413). Cf. i bid., II, pp. 306, 308; I, p. 280. (") Worics, II, pp. 359, 364, 367, 435, 440; VI, pp. 146-147. Friedrich von Gentz, o tradutor alemo das Reflections on the Revolution in France , diz: As constituies no podem ser objecto de fabrico, tm de se desenvolver gradualme nte a partir de si mesmas, como produes naturais (...) Esta verdade a mais precios a, talvez a nica realmente nova (quando muito teve-se um pressentimento dela, mas nunca anteriormente foi cabalmente reconhecida), com a qual a Revoluo Francesa en riqueceu a mais alta cincia do Estado. (Staatsschriften ztnd - Briefe [Munique, 19 21], I, p. 344) (os itlicos no esto no original). e A CRISE DO DIREITO NATURAL MODERNO 267 Para vermos isso com maior clareza, necessrio contrastar a perspectiva de Burke s obre a constituio britnica, que na sua opinio, para mais no dizer, no tinha igual, com a perspectiva clssica da melhor constituio. Segundo os clssicos, a melhor constituio obra da razo, isto , da actividade consciente, ou do planeamento, de um indivduo ou de poucos indivduos. Est de acordo com a natureza, ou corresponde a uma ordem nat ural, porque cumpre ao mais alto nvel os requisitos da perfeio da natureza humana, ou porque a sua estrutura imita o padro da natureza. Mas no natural no que toca ma neira como produzida: uma obra de um projecto, de um planeamento, de uma construo consciente; a sua existncia no decorre de um processo natural ou da imitao de um pro cesso natural. A melhor constituio dirige-se a uma diversidade de fins que esto, po r natureza, relacionados entre eles de tal maneira que um desses fins o fim mais elevado; a melhor constituio dirige-se, portanto, e em particular, para esse fim n ico que por natureza o mais elevado. Por outro lado, segundo Burke, a melhor con stituio est de acordo com a natureza, ou natural, tambm e principalmente porque a su a existncia no se deve a um planeamento, mas imitao do processo natural, isto , porqu e no depende da reflexo orientada, e porque a sua realizao foi contnua, lenta, para no dizer imperceptvel, no decurso de um perodo alargado de tempo, e atravs de uma gran de variedade de acidentes; todas as repblicas que so imaginadas e fabricadas de raiz so necessariamente ms. Por conseguinte, a melhor constituio no formada segundo um pla o regular ou com alguma unidade de desgnio, mas dirige-se aos fins mais diversos (98 ). Atribuir a Burke a perspectiva de que uma ordem poltica s tem de ser'o produto da Histria ir alm das suas palavras. O que veio a chamar-se histrico ainda era, para Bur ke, o local e o acidental. O que veio a chamar-se processo histrico ainda era para el e causalidade acidental, ou causalidade acidental modificada pela manipulao pruden cial das situaes medida que estas surgiam. Assim, para Burke, a ordem politica s, e m ltima anlise, o resultado imprevisto da causalidade acidental. Aplicou produo da o rdem politica s aquilo que a economia poltica moderna ensinara sobre a produo da pro speridade pblica: o bem comum o produto de actividades que no esto em si mesmas ori entadas para o bem comum (98) Worlcs, II, pp. 33, 91, 305, 307-308, 439-440; V, pp. 148, 253-254. 268 DIREITO NATURAL E HISTORIA
Burke aceitou o princpio da economia poltica moderna que diametralmente oposto ao princpio clssico: o amor do lucro, esse princpio (...) natural e razovel, a grande da prosperidade de todos os Estados (99). A ordem boa ou racional o resultado de foras que no tendem por si mesmas para a ordem boa ou racional. Este princpio foi a plicado em primeiro lugar ao sistema planetrio e da em diante ao sistema de necessi dades, isto , economia(9 . A aplicao deste princpio gnese da ordem poltica s foi dois elementos mais importantes na descoberta da Histria. O outro elemento igualmen te importante foi fornecido pela aplicao do mesmo princpio compreenso da humanidade do homem; esta passou a ser entendida como uma aquisio resultante da causalidade a cidental. Essa ideia, cuja exposio clssica se pode encontrar no Segundo Discurso de Rousseau, conduziu consequncia de que o processo histrico devia ser pensado como cu lminando num momento absoluto: o momento em que o homem, produto do destino cego , se torna no senhor clarividente do seu destino porque pela primeira vez compre ende de uma maneira adequada o que , do ponto de vista poltico e moral, correcto e incorrecto. Conduziu a uma revoluo completa, a uma revoluo que se estendia at cons do esprito humano. Burke nega a possibilidade de um momento absoluto; o homem nunc a se tornar no senhor clarividente do seu destino; o que o mais sbio dos indivduos pode pensar por si mesmo sempre inferior ao que foi gerado no decurso de um perodo alargado de tempo, e atravs de uma grande variedade de acidentes. Nega, ento, se no a possibilidade, pelo menos a legitimidade de uma revoluo completa; todos os outros erros morais e polticos quase que se tornam insignificantes quando comparados co m o erro que subjaz Revoluo francesa. A poca da Revoluo francesa, longe de ser o mome nto absoluto, talvez a poca menos iluminada, a menos qualificada para legislar que alguma vez houve desde a primeira formao da sociedade civil. -se tentado a dizer qu e a poca do estado perfeito de pecado. A atitude condigna no a admirao (") Ibid., II, p. 33; V, p. 313; VI, p. 160; Letters, p. 270. Sobre a concordncia de Burke com os politicos econmicos modernos, ver sobretudo Works, I, pp. 299, 462 ; II, pp. 93, 194, 351, 431432; V, pp.89, 100, 124, 321; VIII, p. 69. Uma das po ucas coisas que Burke parece ter aprendido com a Revoluo francesa que o poder e a influncia no seguem necessariamente a propriedade. Comparar Works, III, pp. 372, 4 56-457; V, p.256, com VI, p. 318; ver tambm Barker, op. cit., p. 159. (1") Cf. Hegel, Rechtsphilosophie, sec. 189 Zusatz. A CRISE DO DIREITO NATURAL MODERNO pelo presente, mas o seu desprezo; a atitude condigna no o desprezo, mas a admirao tudo o que bom herdado. pela ordem antiga, e eventualmente pela era da cavalaria O que preciso no jurisprudncia metafisica, mas jurisprudncia histrica (11). Ass abre o caminho para a escola histrica. Mas a sua oposio intransigente Revoluo franc no nos deve iludir quanto ao facto de que, ao opor-se Revoluo francesa, Burke reco rre ao mesmo princpio fundamental que subjaz aos teoremas revolucionrios e que des conhecido de todo o pensamento anterior. Quase nem preciso dizer que Burke considera a relao entre o amor do lucro e a prospe ridade, por um lado, e uma grande variedade de acidentes e uma ordem poltica s, por outro, como parte da ordem providencial; porque os processos que no so guiados pel a reflexo humana fazem parte da ordem providencial que os seus resultados so infin itamente superiores em sabedoria em comparao com os resultados da reflexo. De um po nto de vista semelhante, Kant interpretou a doutrina do Segundo Discurso de Rous seau como uma justificao da Providncia (12) . Por conseguinte, a ideia de Histria, pr ecisamente como a economia poltica moderna, aparentemente surgiu de uma modificao n a crena tradicional na Providncia. Essa modificao habitualmente descrita como uma sec ularizao. A secularizao a temporalizao do espiritual ou do eterno. a tentativa o eterno num contexto temporal. Pressupe, ento, que o eterno j no entendido como ete rno. Por outras palavras, a secularizao pressupe uma mudana radical do pensamento, uma transio do pensamento para um plano completamente diferente. Esta mudana radical a parece sob a sua forma indisfarada no surgimento da filosofia ou cincia moderna; no primordialmente uma mudana no seio da teologia. Aquilo que se apresenta como a se cularizao de conceitos teolgicos ter de ser entendido, em ltima anlise, como uma adapt da teologia tradicional atmosfera intelectual produzida pela filosofia ou cincia moderna, tanto natural como poltica. A secularizao do entendimento de Providncia culmi na na ideia de que os desgnios de Deus so acessveis aos homens suficientemente ilum inados. A tradio teolgica reconhecia o carcter misterioso da Providncia, em
(11) Works, II, pp. 348-349, 363; VI, p. 413; ver tambm Thomas W. Copeland, Edmund Burke: Six Essays (Londres, 1950), p. 232. (9 Works, II, pp. 33, 307; V, pp. 89, 100, 321; Rant, Siimtliche Werke, ed. Karl Vorlnder, VIII, p. 280. DIREITO NATURAL E HISTORIA particular pelo facto de Deus usar e permitir o mal para os seus bons fins. Port anto, afirmava que o homem no se pode orientar segundo a providncia de Deus, mas a penas pela lei de Deus, que pura e simplesmente probe o homem de fazer o mal. med ida que a inteligibilidade humana da ordem providencial veio a ser afirmada, e, por conseguinte, medida que o mal veio a ser visto como evidentemente necessrio o u til, tambm a proibio de se fazer o mal perdeu a sua evidncia. Da que diversos modos de aco que eram anteriormente condenados por serem maus podiam agora ser tidos por bons. Os objectivos da aco humana foram abaixados. Mas desde o seu incio que a fil osofia poltica moderna teve precisamente a inteno consciente de baixar esses object ivos. Burke estava convencido de que a Revoluo francesa era profundamente m. Condenou-a d e um modo to forte e inapelvel como hoje condenamos a revoluo comunista. Burke admit ia a possibilidade de a Revoluo francesa, que levou a cabo uma guerra contra todas as seitas e contra todas as religies, sair vitoriosa, e de o Estado revolucionrio e xistir como um flagelo sobre a terra durante vrias centenas de anos. Julgava, ento, possvel que a vitria da Revoluo francesa pudesse ter sido decretada pela Providncia. De acordo com o seu entendimento secularizado de Providncia, Burke tirou daqui a co ncluso de que se o sistema da Europa, abrangendo as leis, as maneiras, a religio e a poltica est condenado, aqueles que persistem em se opor a esta poderosa corrente d os assuntos humanos (...) no estaro a ser resolutos nem firmes, mas perversos e ob stinados (103). Burke no est longe de sugerir que a oposio a uma corrente profundamen te m dos assuntos humanos perversa se essa corrente for suficientemente poderosa; ignora a nobreza de resistir at ao fim. No considera que, de um modo que ningum po de prever, a resistncia de uma posio abandonada aos inimigos da humanidade. perder c om as armas a metralhar e a bandeira desfraldada, pode contribuir enormemente par a manter viva a recordao da perda imensa que a humanidade sofreu, pode servir de i nspirao e fortalecer o desejo e a esperana na sua recuperao, e pode tornar-se num far ol para os que humildemente prosseguem os trabalhos da humanidade num vale apare ntemente infindvel de trevas e destruio. No aprecia esta hiptese porque est demasiado seguro que o homem pode saber se uma causa perdida hoje est perdida (13) Works, III, pp. 375, 393, 443; VIII, p. 510; Letters, p. 308. A CRISE DO DIREITO NATURAL MODERNO 271 para sempre, ou que o homem pode compreender suficientemente bem o sentido duma manifestao da Providncia por contraposio lei moral. Deste pensamento de Burke at re ao da distino entre o bom e o mau pela distino entre o que est e o que no est em har com o processo histrico vai apenas um pequeno passo. Estamos aqui certamente no plo oposto ao de Cato, que ousou defender uma causa perdida. Enquanto o conservadorismo de Burke est em pleno acordo com o pensamento clssico, j a sua interpretao do conservadorismo preparou uma abordagem aos assuntos humanos que ainda mais estranha ao pensamento clssico do que o radicalismo dos tericos da Revoluo francesa. A filosofia poltica ou a teoria poltica fora desde a sua origem a procur a da sociedade civil tal como esta deveria ser. A teoria politica de Burke , ou t ende a tornar-se, idntica a uma teoria da constituio britnica, isto , uma tentativa d e descobrir a sabedoria latente que prevalece no actual. Poder-se-ia pensar que Bu rke teria de medir a constituio britnica segundo um padro que a transcendesse para r econhec-la como sbia; e, em certa medida, indubitvel que Burke faz precisamente iss o: no se cansa de falar no direito natural, que, enquanto tal, anterior constituio britnica. Mas tambm diz que a nossa constituio uma constituio prescritiva: uma con io cuja nica autoridade a que existe desde tempos imemoriais ou que a constituio brit ca faz valer e afirma as liberdades dos britnicos como um estado que pertence em p articular ao povo deste reino, sem qualquer outra referncia a qualquer outro dire ito mais geral ou anterior. A prescrio no pode ser a nica autoridade para uma constit uio, e portanto no suprfluo o recurso a direitos anteriores constituio, isto , a d os naturais, a menos que" a prescrio por si mesma seja uma garantia suficiente de bondade. Os padres transcendentes podem ser dispensados se o padro for inerente ao
processo; o actual, o presente o racional. Aquilo que na aparncia seria um retorno equivalncia antiga do bem e do ancestral, na realidade anuncia Hegel ('") . Salientmos anteriormente que o que mais tarde apareceria como a descoberta da His tria, na sua origem correspondeu antes a uma recuperao da distino entre teoria e prtic a. Essa distino fora toldada pelo doutrinarismo dos sculos XVII e XVIII ou, o que (1") Works., II, pp. 306, 359, 443; III, pp. 110, 112; VI, p. 146; Hegel, op. ci t., Vorrede; cf. tambm Barker, op. cit., p. 225. 272 DIREITO NATURAL E. HISTORIA fundamentalmente a mesma coisa, pelo entendimento de que toda a teoria est essenc ialmente ao servio da prtica (scientia propter potentiam). A recuperao da distino entr e teoria e prtica foi desde o incio modificada por um cepticismo a respeito da met afsica terica, um cepticismo que culminou na depreciao da teoria em favor da prtica. De acordo com estes antecedentes, a forma mais elevada de prtica a fundao ou formao d e uma sociedade poltica era vista como um processo quasi natural, no controlado pe la reflexo; assim, pde converter-se num tema puramente terico. A teoria poltica conv erteu-se na compreenso daquilo que a prtica gerou ou a compreenso do actual, e deix ou de ser a procura do que deve ser; a teoria poltica deixou de ser teoricamente p rtica (isto , deliberativa em segunda grau) e tornou-se puramente terica no sentido em que tradicionalmente se entendia que a metafsica (e a fsica) eram puramente teri cas. Apareceu um novo tipo de teoria, um novo tipo de metafsica, que via na aco hum ana e nos seus resultados o seu supremo tema, e j no o todo, que no de todo o objec to da aco humana. No seio do todo e na metafsica que se funda sobre o todo, a aco hum ana ocupa um lugar elevado, mas subordinado. Quando ento a metafsica veio a consid erar a aco humana e os seus resultados como o fim para o qual se orientam todos os outros seres ou processos, a metafsica converteu-se em filosofia da histria. A fi losofia da histria era principalmente teoria, isto , contemplao, da prtica humana e, portanto, necessariamente da prtica humana completa; pressupunha que a aco humana s ignificativa, a Histria, estava completa. Ao se converter no supremo tema da filo sofia, a prtica deixou de ser prtica propriamente dita, isto , deixou de estar rela cionada com agenda. As revoltas contra o hegelianismo por parte de Kierkegaard e Nietzsche, na medida em que agora exercem uma forte influncia sobre a opinio pblic a, surgem assim como tentativas de recuperar a possibilidade da prtica, isto, , de uma vida humana que tem um futuro significativo e indeterminado. Mas estas tenta tivas aumentaram a confuso, j que destruram, tanto quanto estava ao seu alcance, a prpria possibilidade da teoria. O doutrinarismo e o existencialismo so aos nossos olho s dois extremos defeituosos. Apesar de se oporem mutuamente, concordam entre si no aspecto mais decisivo concordam em ignorar a prudncia, o deus deste mundo infer ior (105). A prudncia e este mundo inferior no (105) Works, II, p. 28. A CRISE DO DIREITO NATURAL MODERNO 273 podem ser vistos convenientemente sem algum conhecimento do mundo superior sem the oria genuna. Dentre as grandes obras tericas do passado, nenhuma parece estar mais prxima do es prito dos depoimentos de Burke sobre a constituio britnica do que a Repblica de Ccero. A semelhana ainda mais notvel porque Burke no podia conhecer a obra-prima de Ccero, que s foi recuperada em 1820. Tal como Burke tem como modelo a constituio britnica, tambm Ccero afirma que o melhor regime poltico o de Roma; Ccero escolhe descrever o regime romano em vez de inventar um novo regime, como Scrates fizera na Repblica de Plato. Se forem tomadas por elas mesmas, estas afirmaes de Burke e de Ccero esto e m perfeita consonncia com os princpios clssicos: o melhor regime, sendo essencialme nte possvel, pode ter sido realizado no tempo e no espao. Contudo, deve-se notar que , enquanto Burke pressupunha que a constituio modelar fora realizada no seu tempo, Ccero pressupunha que o melhor regime fora realizado no passado, mas j no existia. Sobretudo, Ccero disse com a maior clareza que as caractersticas do melhor regime podem ser determinadas sem recorrer a qualquer exemplo, e em particular ao exem plo do regime romano. Da perspectiva do assunto em discusso, no h diferena entre Ccer o e Plato em particular; Plato principiou uma continuao da Repblica, designadamente o Crtias, em que se mostraria que o regime inventado da Repblica fora realizado no pa ssado de Atenas. A seguinte concordncia entre Burke e Ccero parece ter maior impor tncia: tal como Burke atribua a excelncia da constituio britnica ao facto de ter surgi
do no decurso de um perodo alargado de tempo, e assim incorporar a razo reunida dos sc ulos, Ccero atribua a superioridade do regime romano ao facto de no ser obra de um h omem s, nem de uma gerao, mas de muitos homens e de muitas geraes. Ccero chama uma cer a via natural ao modo como a ordem romana se desenvolveu at se tornar no melhor re gime. Ainda assim, a prpria ideia de se fabricar um novo governo no enchia Ccero, com o enchia Burke, de desgosto e horror. Se verdade que Ccero preferia o regime romano , que era obra de muitos homens e de muitas geraes, ao regime espartano, que era o bra de um homem s, tambm no negava que o regime espartano fosse respeitvel. Na sua a presentao das origens do regime romano, Rmulo surge quase como a contrapepde Licurg o; Ccero no abandonou a ideia de que as sociedades civis so fundadas por indivduos s uperiores. a deliberao e o treino, 274 DIREITO NATURAL E HISTORIA por contraposio ao acaso, que Ccero associa via natural pela qual o regime romano ati ngiu a sua perfeio; por via natural, no entende os processos que no so guiados pela re lexo (106) Burke discordava dos clssicos quanto gnese da ordem social s porque discordava dele s quanto ao carcter da ordem social s. Tal corno a encarava, a ordem social ou polt ica s no podia ser formada segundo um plano ou com uma unidade de desgnio porque tais procedimentos sistemticos, porque tamanha <presuno da sabedoria das criaes humanas, iam incompatveis com o maior grau possvel de liberdade pessoal; o Estado tem de pros seguir a maior diversidade de fins e tem de sacrificar um deles a um outro, ou ao t odo, to pouco quanto possvel. Tem de se ocupar da individualidade, ou ter a maior ate no possvel ao sentimento individual e ao interesse individual. por esta razo que a g e da ordem social s no pode ser um processo guiado pela reflexo, mas deve ser to sem elhante quanto possvel a um processo natural e imperceptvel: o natural o individua l, e o universal 'uma criatura do entendimento. A naturalidade e o florescimento livre da individualidade so a mesma coisa. Da que o livre desenvolvimento dos ind ivduos na sua individualidade, longe de conduzir ao caos, gere a melhor ordem, um a ordem que no s compatvel com alguma irregularidade na totalidade da massa, como a r equer. H beleza na irregularidade: o mtodo e a exactido, a alma da proporo, acabam por ser mais prejudiciais do que benficas causa da beleza (h7) A querela entre os Anti gos e os Modernos diz respeito finalmente, e talvez at desde o incio, ao estatuto da individualidade. O prprio Burke estava ainda demasiado imbudo do esprito da s antig idade para permitir que a ateno dada individualidade subjugasse a ateno dada virtude (106) Ccero, Repblica, 1.31-32, 34, 70-71; 11.2-3, 15, 17, 21-22, 30, 37, 51-52, 6 6; V2; Deveres, 1.76. Ver tambm Polbio, VI.4.13, 9.10, 10.12-14, 48.2. .(197.) JVo rIcs, I, pp. 117, 462; II, p. 309; V, pp. 253-255. Indice Onomstico Acton, Lorde, 8 Ambrsio, 211 Antifon, 91, 94 Aristfanes, 81, 88 Aristteles, xvn, xxn, xxvi, >com, 9, 12, 16, 23, 27, 34, 38, 72, 73, 75, 77, 78, 81-84, 87-93, 100, 102, 105, 106, 111-113, 115-118, 120-122, 124-126, 128, 130, 131, 135-141, 145, 146, 149, 153, 158, 159, 161, 172, 215, 257, 258, 265 Averris, xvn, 136, 137 Babeuf, 61 Bachofen, J. J., 152 Bacon, 55, 155, 221 Barker, Ernest, 4, 258, 268, 271 Bayle, Pierre, 79, 171, Beard, Charles, 80 Beccaria, 170 Bergbohm, Karl, 12 Burke, x.rv, xv, xvn, xrx, xxr, xxru, 62, 73, 120, 147, 158, 162, 251-261, 263, 265-271, 273,274 Calvino, 53, 54, 56 Carnades, 145, 146, 169 Cathrein, Victor, 82 Charnwood, Lorde, 62 Churchill, 62, 262 Ccero, xxin, xxxn, 73, 80, 82-85, 89-96, 98, 105, 106, 111-113, 115, 117, 118, 12
0, 124, 126128, 130-135, 140, 145, 146, 159, 169, 203, 220, 251, 273, 274 Cobban, Alfred, 247 Condorcet, 229 Copeland, Thomas W., 269 Cossa, Luigi, 206 Cumberland, Richard, 190, 192 Demcrito, 147, 149 Descartes, 15, 148, 150, 161, 174, 221, 225, 226 Dilthey, Wilhelm, 223
Vous aimerez peut-être aussi
- Direito Natural e História - Leo Strauss PDFDocument164 pagesDireito Natural e História - Leo Strauss PDFRenataRamos100% (4)
- Grandes FilosofosDocument8 pagesGrandes FilosofosMarcos Barros0% (1)
- Althusser Freud Lacan Marx FreudDocument94 pagesAlthusser Freud Lacan Marx Freudhuverferia100% (13)
- Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homensD'EverandDiscurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homensÉvaluation : 3.5 sur 5 étoiles3.5/5 (204)
- Introdução A Schopenhauer - Adolphe BossertDocument360 pagesIntrodução A Schopenhauer - Adolphe BossertAsuraK3Pas encore d'évaluation
- História entre ciência e arteDocument24 pagesHistória entre ciência e arteFábio F. GomesPas encore d'évaluation
- O olhar distanciado: Lévi-Strauss e a históriaDocument16 pagesO olhar distanciado: Lévi-Strauss e a históriaGabriel FernandesPas encore d'évaluation
- Ideias de história:: tradição e inovação de Maquiavel a HerderD'EverandIdeias de história:: tradição e inovação de Maquiavel a HerderPas encore d'évaluation
- Direito e História - Uma Relação Equivocada - Por GodoyDocument65 pagesDireito e História - Uma Relação Equivocada - Por Godoytsapadua1877100% (15)
- ProvidenciaDocument27 pagesProvidenciaJúlio SantosPas encore d'évaluation
- A Historia e Feita de Historias A IrrupcDocument27 pagesA Historia e Feita de Historias A IrrupcTiago AlmeidaPas encore d'évaluation
- A Grecia Arcaica - Claude MosseDocument217 pagesA Grecia Arcaica - Claude MosseEduardo Oliveira100% (6)
- GILSON, Etienne. A Filosofia Na Idade MédiaDocument484 pagesGILSON, Etienne. A Filosofia Na Idade MédiaProfFaria1100% (10)
- Vaihinger PrefácioDocument20 pagesVaihinger PrefácioNara AmeliaPas encore d'évaluation
- Historia Augusta - PortuguesDocument232 pagesHistoria Augusta - Portuguesines.de.castroPas encore d'évaluation
- Tucídides Política e História Na Atenas AntigaDocument145 pagesTucídides Política e História Na Atenas AntigaWilson P. da CostaPas encore d'évaluation
- Aristóteles: Ética, Política e Filosofia do HomemDocument25 pagesAristóteles: Ética, Política e Filosofia do HomemSonietzsche SilvaPas encore d'évaluation
- História da filosofia em 7 períodosDocument21 pagesHistória da filosofia em 7 períodosCasalFalex CasalfalexPas encore d'évaluation
- RESENHAS - História Do EstruturalismoDocument5 pagesRESENHAS - História Do Estruturalismoanacastellanoconsulting6306Pas encore d'évaluation
- CHARTIER, R (2002) A Beira Da FalesiaDocument142 pagesCHARTIER, R (2002) A Beira Da FalesiaThaís Jussara100% (2)
- Temas e Problemas para A História Do PresenteDocument10 pagesTemas e Problemas para A História Do PresenteSandro Asc Jr.Pas encore d'évaluation
- O Rei de JustiçaDocument161 pagesO Rei de JustiçaBOMendesPas encore d'évaluation
- A origem da desigualdade segundo RousseauDocument16 pagesA origem da desigualdade segundo RousseauJOSE DE SA ARAUJO NETOPas encore d'évaluation
- Late Antiquity, the Fall of Rome and the DebateDocument34 pagesLate Antiquity, the Fall of Rome and the DebatePedro CarvalhoPas encore d'évaluation
- Atistoteles A Politica - ApresentaçãoDocument4 pagesAtistoteles A Politica - ApresentaçãoCRR Procuradoria Geral do Estado do ParanáPas encore d'évaluation
- Roger Chartier - A Beira Da Falesia PDFDocument58 pagesRoger Chartier - A Beira Da Falesia PDFKaren Kristien75% (4)
- A coragem, a fé e o julgamento: Três grandes homens e suas missões na hora mais escuraD'EverandA coragem, a fé e o julgamento: Três grandes homens e suas missões na hora mais escuraPas encore d'évaluation
- Grandes Guerras: de Sarajevo a Berlim, uma nova perspectiva sobre os dois maiores conflitos do século XXD'EverandGrandes Guerras: de Sarajevo a Berlim, uma nova perspectiva sobre os dois maiores conflitos do século XXPas encore d'évaluation
- Experiências do tempo: da história universal à globalDocument22 pagesExperiências do tempo: da história universal à globalEdna BenedictoPas encore d'évaluation
- Filosofia e Paradigma em CiceroDocument13 pagesFilosofia e Paradigma em CiceroGOOSI666Pas encore d'évaluation
- BESSELAAR Jose Van Den Introducao Aos Estudos Historicos PDFDocument732 pagesBESSELAAR Jose Van Den Introducao Aos Estudos Historicos PDFRenan M. BirroPas encore d'évaluation
- Os domínios do mistério: a influência do ocultismo no NazismoDocument261 pagesOs domínios do mistério: a influência do ocultismo no NazismofabioPas encore d'évaluation
- A circunstância do historiadorDocument26 pagesA circunstância do historiadorSofia Serra100% (1)
- Rómulo de Carvalho - Física em Portugal No Século XVIIIDocument96 pagesRómulo de Carvalho - Física em Portugal No Século XVIIIThomás HaddadPas encore d'évaluation
- A economia do indivíduo segundo a Escola AustríacaDocument253 pagesA economia do indivíduo segundo a Escola Austríacasuellen de fatimaPas encore d'évaluation
- Análise crítica do filme A Negação sobre o julgamento do historiador negacionista David IrvingDocument3 pagesAnálise crítica do filme A Negação sobre o julgamento do historiador negacionista David IrvingVitor SimoesPas encore d'évaluation
- Resenha Marc BlochDocument5 pagesResenha Marc BlochLuiz Henrique SiqueiraPas encore d'évaluation
- Colen, J.a., Vecchio, Cap Karl Popper in A. Porque Pensamos Como Pensamos. Uma História Das Ideias Sociais e Políticas, Porto, Aster, 2022Document15 pagesColen, J.a., Vecchio, Cap Karl Popper in A. Porque Pensamos Como Pensamos. Uma História Das Ideias Sociais e Políticas, Porto, Aster, 2022Thays BatistaPas encore d'évaluation
- (Psicologia) - Freud para Historiadores - Peter GayDocument205 pages(Psicologia) - Freud para Historiadores - Peter GayLeticia Amaral100% (2)
- O Jogo Das Contas de Vidro - Hermann Hesse_240405_062108Document538 pagesO Jogo Das Contas de Vidro - Hermann Hesse_240405_062108César TomoPas encore d'évaluation
- Revisão historiográfica da Revolução InglesaDocument10 pagesRevisão historiográfica da Revolução InglesaCarla BautePas encore d'évaluation
- 107064-Texto Do Artigo-189348-1-10-20151103Document89 pages107064-Texto Do Artigo-189348-1-10-20151103Geraldo InácioPas encore d'évaluation
- Boecio - Consolacao Da Filosofia - Calouste GDocument210 pagesBoecio - Consolacao Da Filosofia - Calouste GFabio100% (3)
- O Mito Político: Entre a Magna Carta e os Parlamentaristas InglesesD'EverandO Mito Político: Entre a Magna Carta e os Parlamentaristas InglesesPas encore d'évaluation
- HISTORY, CONSERVATISM AND POLITICS IN NIETZSCHE AND BURCKHARDTDocument13 pagesHISTORY, CONSERVATISM AND POLITICS IN NIETZSCHE AND BURCKHARDTAugustoPas encore d'évaluation
- ADORNO, Theodor W. Dialética Do EsclarecimentoDocument26 pagesADORNO, Theodor W. Dialética Do EsclarecimentoLeonardo FáveroPas encore d'évaluation
- Encontrar o homem no homem: Dostoiévski e o existencialismoD'EverandEncontrar o homem no homem: Dostoiévski e o existencialismoPas encore d'évaluation
- História Do EstruturalismoDocument11 pagesHistória Do EstruturalismoMatheus BroettoPas encore d'évaluation
- Karl Popper - A Logica Das Ciencias SociaisDocument50 pagesKarl Popper - A Logica Das Ciencias SociaisRobert CooperPas encore d'évaluation
- Fichamento Sobre História de Eric HobsbawmDocument6 pagesFichamento Sobre História de Eric HobsbawmJorge Nairo MarquesPas encore d'évaluation
- ISMU-Aula-3 - Perspectiva Historica Da HFDocument6 pagesISMU-Aula-3 - Perspectiva Historica Da HFDuarte Augusto AmaralPas encore d'évaluation
- REVEL, Jacques - Jogos de EscalasDocument27 pagesREVEL, Jacques - Jogos de EscalasGabriella SouzaPas encore d'évaluation
- A Ciencia e MasculinaDocument9 pagesA Ciencia e Masculinacabriolet009998Pas encore d'évaluation
- História antiga e o antiquárioDocument60 pagesHistória antiga e o antiquárioMayra MarquesPas encore d'évaluation
- Voltaire político: Espelhos para príncipes de um novo tempoD'EverandVoltaire político: Espelhos para príncipes de um novo tempoPas encore d'évaluation
- O espelho riscado: a trajetória do pensamento de esquerda e o desafio do futuroD'EverandO espelho riscado: a trajetória do pensamento de esquerda e o desafio do futuroPas encore d'évaluation
- Odio Deus Kyle BakerDocument0 pageOdio Deus Kyle BakerDebora Linaro BuonoPas encore d'évaluation
- DidaquéDocument9 pagesDidaquéMarcos R Galvão BatistaPas encore d'évaluation
- A Saída de um Ministro da Igreja Evangélica Cristo ViveDocument5 pagesA Saída de um Ministro da Igreja Evangélica Cristo ViveMarcos R Galvão BatistaPas encore d'évaluation
- BookDocument307 pagesBookMarcos R Galvão BatistaPas encore d'évaluation
- John Stott Grandes Questoes Sobre Sexo PDFDocument106 pagesJohn Stott Grandes Questoes Sobre Sexo PDFMarcello AlvesPas encore d'évaluation
- A Mentira BrancaDocument180 pagesA Mentira BrancaMarcos R Galvão Batista100% (1)
- Olavo de Carvalho - A Nova Era e A Revolução CulturalDocument52 pagesOlavo de Carvalho - A Nova Era e A Revolução Culturalapi-373429367% (3)
- Semana 1 A 16 Direito TributarioDocument15 pagesSemana 1 A 16 Direito TributarioMarcos R Galvão BatistaPas encore d'évaluation
- A Filosofia e as CiênciasDocument133 pagesA Filosofia e as CiênciasDaniel Machado100% (1)
- Edir MacêdoDocument236 pagesEdir Macêdojatobjj100% (1)
- DIZIMOS A Farsa Do Dizimo CristaoDocument115 pagesDIZIMOS A Farsa Do Dizimo CristaoMarcos R Galvão BatistaPas encore d'évaluation
- 02-Legislação Penal Especial-Lavagem de CapitaisDocument23 pages02-Legislação Penal Especial-Lavagem de CapitaisMarcos R Galvão BatistaPas encore d'évaluation
- Direito Civil 3 Semana 1Document1 pageDireito Civil 3 Semana 1Marcos R Galvão BatistaPas encore d'évaluation
- Dízimo-A Mentira Contada A 2000 Anos (A Galinha Dos Ovos de Ouro Da Igreja)Document61 pagesDízimo-A Mentira Contada A 2000 Anos (A Galinha Dos Ovos de Ouro Da Igreja)Alexandre Barbado100% (1)
- Teoria do tempo históricoDocument33 pagesTeoria do tempo históricoMarcos R Galvão BatistaPas encore d'évaluation
- Dízimo-A Mentira Contada A 2000 Anos (A Galinha Dos Ovos de Ouro Da Igreja)Document61 pagesDízimo-A Mentira Contada A 2000 Anos (A Galinha Dos Ovos de Ouro Da Igreja)Alexandre Barbado100% (1)
- O Absurdo Da Vida Sem Deus: William Lane CraigDocument11 pagesO Absurdo Da Vida Sem Deus: William Lane CraigMarcos R Galvão BatistaPas encore d'évaluation
- SócratesDocument253 pagesSócratesjose_carlos_da_4581100% (8)
- Volume 01 - 03Document24 pagesVolume 01 - 03diegorrborgesPas encore d'évaluation
- Parte Especial ResumidaDocument33 pagesParte Especial ResumidaMarcos R Galvão BatistaPas encore d'évaluation
- Estudo Direito PenalDocument6 pagesEstudo Direito PenalMarcos R Galvão BatistaPas encore d'évaluation
- Introdução ao Direito PenalDocument20 pagesIntrodução ao Direito Penalspeaker9643Pas encore d'évaluation
- Bom Irei Jogar Um Emocionante Jogo de Xadrez Contra Meu PCDocument1 pageBom Irei Jogar Um Emocionante Jogo de Xadrez Contra Meu PCMarcos R Galvão BatistaPas encore d'évaluation
- Direito Natural StraussDocument187 pagesDireito Natural StraussMarcos R Galvão BatistaPas encore d'évaluation
- Thomas More e a crise religiosaDocument295 pagesThomas More e a crise religiosaMarcio LuzoPas encore d'évaluation
- Atualidade de Carl Schmitt Alain de Benoist PDFDocument160 pagesAtualidade de Carl Schmitt Alain de Benoist PDFDenis CardosoPas encore d'évaluation
- A educação liberal como antídoto à cultura de massasDocument6 pagesA educação liberal como antídoto à cultura de massasptronico100% (1)
- Leo Strauss Entre A História Da Filosofia Polítuca e A Filosofia Da História Autor Igor Campos Da SilvaDocument58 pagesLeo Strauss Entre A História Da Filosofia Polítuca e A Filosofia Da História Autor Igor Campos Da SilvaIeda Marques RochaPas encore d'évaluation
- Leo Strauss e os três movimentos da modernidadeDocument25 pagesLeo Strauss e os três movimentos da modernidadeItalo MedeirosPas encore d'évaluation