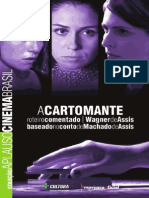Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Alexandre Botton
Transféré par
Luiza RamosCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Alexandre Botton
Transféré par
Luiza RamosDroits d'auteur :
Formats disponibles
i
UFSM
Dissertao de Mestrado
AUTONOMIA DA VONTADE
E INTERESSE MORAL EM KANT
_________________
Alexandre Mariotto Botton
PPGF
Santa Maria, RS, Brasil
2005
ii
AUTONOMIA DA VONTADE
E INTERESSE MORAL EM KANT.
____________
por
Alexandre Mariotto Botton
Dissertao apresentada ao Curso de Mestrado do Programa de
Ps-Graduao em Filosofia, rea de concentrao em Filosofia
Transcendental, linha de pesquisa Fundamentao do Agir
Humano, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM, RS),
como requisito parcial para obteno do grau de
Mestre em Filosofia.
PPGF
Santa Maria, RS, Brasil
2005
iii
Universidade Federal de Santa Maria
Centro de Cincias Humanas
Programa de Ps-Graduao em Filosofia
A Comisso Examinadora, abaixo assinada aprova
esta Dissertao de Mestrado
AUTONOMIA DA VONTADE
E INTERESSE MORAL EM KANT
elaborada por
Alexandre Mariotto Botton
como requisito para obteno do grau de
Mestre em Filosofia
COMISSO EXAMINADORA:
________________________
Miguel Spinelli - UFSM
(Presidente/Orientador)
________________________
Christian Viktor Hamm - UFSM
_______________________
Draiton Gonzaga de Souza
_______________________
Noeli Dutra Rossato- UFSM
(Suplente)
Santa Maria, 05 de Maro de 2005
iv
Sara e Sophia
v
AGRADECIMENTOS
Sara, pela colaborao e carinho.
Ao Professor Dr. Miguel Spinelli, pela orientao.
Aos colegas e professores do programa de mestrado, pelas discusses
pertinentes e esclarecedoras.
Aos professores e funcionrios do Departamento de Filosofia da UFSM.
Aos meus pais, Irma e Daniel, pelo apoio e isncentivo aos estudos.
Ao J oo pela amizade.
CAPES, pela bolsa de estudo, financiadora desta pesquisa.
vi
1
SUMRIO
INTRODUO...................................................................................................06
CAPTULO I
AUTONOMIA E FINITUDE.............................................................................11
1. CONSIDERAES SOBRE A LIBERDADE.........................................11
1.1 A liberdade Transcendental.................................................................11
1.2 Da Liberdade Transcendental Liberdade Prtica..........................13
2. VONTADE E LEI MORAL.....................................................................20
2.1 A Boa Vontade Como Arqutipo da Moralidade................................20
2.2 Agir por Dever e Agir Conforme o Dever............................................23
2.3 Agir Segundo a Representao de Mximas.......................................25
3. INTERESSE E AUTONOMIA.................................................................27
3.1 A Impossibilidade de Fundamentar a Lei Sobre o Interesse.............29
3.2 O Problema da Efetivao da Moralidade..........................................33
CAPTULO II
SOBRE A AUTONOMIA DA VONTADE.................................................38
1. O CONCEITO KANTIANO DE VONTADE...........................................38
1.1. Vontade e Razo Prtica....................................................................39
1.2. Vontade e Razo.................................................................................41
1.3. A razo Prtica...................................................................................43
2. A FACULDADE DE APETIO............................................................47
2
2.1 A Faculdade de Apetio Inferior.............................................................47
2.2 A Faculdade de Apetio Superior............................................................49
3. A AUTONOMIA DA VONTADE COMO PRINCPIO SUPREMO DA
MORALIDADE............................................................................................51
3.1 Sobre a Impossibilidade da Deduo do Princpio Supremo da
Moralidade...................................................................................................55
3.2 Sobre o Faktum da Razo..........................................................................57
CAPTULO III
O INTERESSE PELA MORALIDADE..........................................................63
1. O INTERESSE PRTICO........................................................................63
1.1 Sobre o Primado da Razo Prtica......................................................65
1.2 A Dificuldade de Conceber o Interesse Prtico ..................................67
2. A FUNDAMENTAO DO INTERESSE NA AUTONOMIA..............70
2.1 Sobre a Impossibilidade de Explicar o Interesse que o Homem Toma
pela Moralidade.....................................................................................72
2.2 Interesse e Respeito pela Lei Moral.....................................................77
2.3 O Interesse pelo Bom e o Agradvel....................................................83
2.4 O Bom em Si Mesmo.............................................................................86
CONCLUSO...............................................................................................89
BIBLIOGRAFIA...........................................................................................92
3
ABREVIATURAS
CRP - Crtica da Razo Pura
CRPr - Crtica da Razo Prtica
FMC - Fundamentao Metafsica dos Costumes
MC - Metafsica dos Costumes
CJ - Crtica da Faculdade do Juzo
Pr - Prolegmenos
4
RESUMO
Dissertao de Mestrado
Programa de Ps-Graduao em Filosofia
Universidade Federal de Santa Maria, RS, Brasil
AUTONOMIA DA VONTADE
E INTERESSE MORAL EM KANT
AUTOR: Alexandre Mariotto Botton
ORIENTADOR: Miguel Spinelli
Data e local da Defesa: Santa Maria, 05 de Maro de 2005.
O principal objetivo desta dissertao foi analisar os conceitos de
autonomia da vontade e interesse nas obras em que Kant fundamenta seu
sistema tico. Sendo assim, nosso trabalho encontra suas fontes de pesquisa
principalmente nos escritos do prprio autor, sobretudo, na Fundamentao
da Metafsica dos Costumes (FMC), na Crtica da Razo Prtica (CRPr) e
em algumas partes da Crtica da Razo Pura (CRP). Primeiramente
analisamos, a partir da CRP, o conceito de liberdade, principalmente da
liberdade prtica. Porm, percebemos que na CRP Kant chega apenas a
uma noo negativa de liberdade, a saber, como independncia do arbtrio
frente sensibilidade. Dissertamos, ento, sobre os conceitos de vontade e
dever na FMC, e, a partir deles vimos como Kant chega noo de
autonomia da vontade que serve, como conceito positivo de liberdade, e,
conseqentemente, como princpio supremo da moralidade. Contudo, tal
princpio incompatvel com o agir por interesse, prprio do ser humano,
de modo que, necessrio investigar como o homem pode tomar interesse
pela moralidade sem, no entanto, agir por interesse. Analisamos ento o
conceito de autonomia da vontade com o intuito de saber como ela pode ser
vlida independentemente de qualquer interesse. Conclumos que, segundo
Kant, a lei moral se impe por si mesma conscincia humana como um
factum, o nico factum puro, a priori, denominado de factum da razo.
Retomamos, ento, o conceito de interesse segundo a perspectiva de que
este possa ser fundamentado na autonomia. Por fim, observamos que, tal
qual o sentimento de respeito, o interesse uma conseqncia da validade
da lei moral para seres racionais e sensveis. Sendo assim, poderamos
concluir, sem dvida que o homem toma interesse pela lei moral,
justamente porque, no estando a servio de nenhum interesse particular do
sujeito ela revela o mximo interesse da razo na ampliao de seu uso.
5
ABSTRACT
Masters Dissertation
Post-Graduate Course in Philosophy
Universidade Federal de Santa Maria, RS, Brasil
AUTONOMIUS WILL AND MORAL
INTEREST IN KANT
AUTHOR: Alexandre Mariotto Botton.
ADVISER: Dr. Miguel Spinelli
Santa Maria, March 05, 2004.
The principal objective of this dissertation was to analyze the
concepts of autonomous will and interest in the of Kant and based on his
system of ethics. Our principal source of research are Kants own books,
especially Fundamentals of metaphysics and customs (FMC), Critic of
Pratical Reason (CRPr) and some parts of Critic of Pure Reason (CRP),
first we analyzed , from FMC, the concept of liberty and principally
practical liberty. However, we perceive that in CRPr Kant arrives at only a
negative notion of liberty, that is, how free will is independent of
sensibility. Then we write about the concepts of will and duty in FMC and
from them we see how Kant arrives at the notion of autonomous will that
serves as positive concept of liberty and consequently as the supreme
principal of morality. However, this principle is incompatible with acting
by interest which it becomes necessary to investigate how man can take
interest in morality without , however, by interest. We analyze then the
concept of autonomous will with the idea of knowing how it can be valid
independent of any interest. We conclude that according to Kant moral law
imposes itself on human conscious as a fact, the only pure fact, a priori,
denominated factum of reason. We retake the concept of interest from the
perspective that this can be founded on autonomy. Finally, we observe that
de feeling of respect is a valid consequence of moral law for rational and
sensitive beings. Thus, we conclude that without doubt man takes interest
in moral law exactly because since its not at the service of any particular
interest it reveals a maximum interest of reason and its amplification of its
use.
6
INTRODUO
Na primeira seo da Fundamentao da Metafsica dos Costumes,
para situar a condio da vontade humana, Kant a compara a uma
encruzilhada
1
: de um lado estaria seu princpio formal, isto , a lei
formulada pela razo, de outro, a matria do agir, o objeto que impulsiona a
ao. A partir desta figura poderamos situar a questo que pretendemos
analisar, pois, evidente que enquanto ser sensvel o homem no age sem
interesse. No entanto, sabido que a base sobre a qual Kant sustenta sua
tica justamente a autonomia da vontade e, contudo, este princpio no se
funda em nenhum interesse. Da a questo: como pode o homem ser ao
mesmo tempo autnomo, na determinao de sua vontade, e, enquanto ser
sensvel, tomar interesse pela moralidade?
O conceito de autonomia da vontade , sem sombra de dvida, um
dos maiores feitos da filosofia kantiana e talvez seja o maior de seu sistema
tico. Para tanto, basta dizer que a autonomia que confere a liberdade da
vontade, anteriormente pensada apenas como independncia frente s
determinaes sensveis, um sentido positivo
2
. Tal conceito representa,
pois, a capacidade de auto-legislao do ser humano, ou seja, ele ao
mesmo tempo quem se d a lei e quem obedece. Somente neste sentido o
homem livre, pois, no obedece nenhuma lei seno aquela imposta pela
1
FMC BA 14
2
FMC BA 98.
7
sua prpria vontade. O princpio de autonomia revela assim o mais alto
valor do ser humano na capacidade que ele tem de ser tanto soberano
quanto sdito de si mesmo, e, disto resulta que, a cada ser humano
atribudo um valor nico e incondicional, de maneira que a Autonomia
pois o fundamento da dignidade da natureza humana e de toda natureza
racional (FMC BA 79).
O princpio que garante o imperativo categrico, como o critrio
para saber se uma mxima moral ou imoral, a autonomia, justamente
pela idia de legislao universal e incondicionada da vontade que no
necessita de nenhum interesse. Porm, ao pensar a validade da autonomia
para seres racionais sensveis Kant tem de explicar como a auto-legislao
da vontade, no sendo fundada em nenhum interesse, capaz ainda de
produzir um interesse em seres que, para agir, necessitam ao menos tomar
interesse pela ao.
Assim, este trabalho ser pautado, primeiramente, pela tentativa de
reconhecer quais so os argumentos que permitem o Kant chegar ao
conceito de autonomia da vontade. Essa reconstruo da argumentao
kantiana ser, por assim dizer, de forma bastante sucinta, destacando
apenas os pontos essenciais que corroboram com problemtica que
almejamos desenvolver.
Nesse intuito, desenvolveremos o primeiro captulo, intitulado
Autonomia e Finitude, no qual, inicialmente, tentaremos desenvolver a
idia de liberdade. Num primeiro subttulo, expomos a idia de liberdade
transcendental, embora no nos seja possvel discuti-la em seus
pormenores. Nos deteremos, ento, com maior afinco na idia de liberdade
8
prtica. Neste momento, nos dedicaremos noo de independncia
3
do
arbtrio frente sensibilidade e capacidade que o homem tem de projetar
por si um dever
4
.
Num segundo item, trataremos da relao entre vontade e
representao de leis. Essa discusso estar pautada sobre a
Fundamentao da Metafsica dos Costumes, na qual Kant d melhor
tratamento ao conceito de dever e vontade como capacidade de representar
regras para o agir. A finalidade de tal discusso chegar ao conceito de
autonomia da vontade, que ser, para Kant, o princpio supremo da
moralidade
5
. Contudo, notaremos que, uma condio necessria vontade
autnoma que ela no esteja fundamentada em nenhum interesse
6
. Ento,
ser necessrio esclarecer como possvel que o homem no determine sua
vontade por nenhum interesse, e, no entanto, tome interesse
7
pela
moralidade. Esta a questo final de nosso primeiro captulo que
pretendemos resolver no decorrer dos outros dois.
No segundo captulo, pretendemos fazer uma anlise mais
consistente das condies de possibilidade da autonomia da vontade.
Assim, partiremos do conceito kantiano de vontade e sua relao com a
razo prtica, isto , a vontade como capacidade de agir segundo a
determinao de regras (FMC BA 36). Nos deteremos um pouco mais
sobre a noo de razo prtica, na tentativa de compreender como, segundo
Kant, ela pode, por si mesma
8
, determinar a vontade independentemente de
qualquer estmulo, isto , de qualquer objeto da ao.
3
CRP B 589.
4
CRP B 575.
5
FMC BA 87ss.
6
FMC BA 72ss
7
FMC BA 102.
8
FMC BA 108
9
No segundo item deste captulo, dissertaremos sobre a faculdade de
apetio
9
, destacando a maneira com Kant distingue entre a forma superior
e inferior desta faculdade, baseado na relao da apetio com a razo, isto
, na maneira como a razo determina tal faculdade.
A partir da possibilidade de uma faculdade de apetio superior,
recobraremos a discusso acerca da autonomia como princpio supremo da
moralidade. Neste momento, constataremos, sobretudo, a impossibilidade
de uma deduo do principio de autonomia, e, que apenas podemos
pressup-lo se quisermos pensar um ser como racional e com conscincia
de sua causalidade a respeito de suas aes (CRPr A 102). Ento veremos
que, diante de tal impossibilidade, Kant passa a pensar na conscincia da
lei moral e, portanto, na prpria realidade da lei como um factum da
razo
10
. Este factum atesta, pois, tanto que impossvel quanto
desnecessria uma deduo da autonomia, uma vez que a lei moral se
impe por si mesma, como um factum, conscincia.
No terceiro captulo tomaremos a noo de interesse que, como
vimos no primeiro capitulo, torna-se um problema para a autonomia.
Inicialmente este conceito ser visto a partir da maneira como a razo
desenvolve um interesse que no apenas especulativo, mas tambm, e
sobretudo, prtico. Contudo destacaremos a dificuldade de tornar
compreensvel o interesse prtico.
Posteriormente, tentaremos relacionar novamente os conceito de
autonomia e interesse, porm, levando em considerao que este deve ser
fundamentado naquela. Ento, a questo acerca de como possvel tomar
interesse pela lei moral vista por um ngulo diferente, pois, desde que a
9
CRPr A 16-17 nota.
10
CRPr A 56.
10
lei moral prove sua validade por meio do nico factum da razo a
prpria lei que afeta o homem e gera tanto respeito quanto interesse. Sendo
assim, abordaremos a noo de interesse por meio do conceito de respeito,
de maneira que , tentaremos compreender como a razo pode produzir um
efeito na sensibilidade humana, ou seja, produzir um motivo subjetivamente
vlido que seja capaz, enfim, de produzir um interesse pela lei moral. Por
fim, distinguiremos o interesse pelo bom pelo agradvel, de modo que, a
partir dessa distino, segundo Kant, a razo tem garantido o objeto de seu
maior interesse, isto , o bom em si.
11
Captulo I
AUTONOMIA E FINITUDE.
1. A IDIA DE LIBERDADE.
1.1. A Liberdade transcendental.
Para Kant, toda causalidade pode ser compreendida segundo as leis
da natureza, ou pelo conceito de liberdade sendo esta a faculdade de
iniciar por si mesmo um estado, cuja causalidade no est por sua vez,
segundo as leis da natureza sob uma outra causa que a determinou. (CRP
B 561). Este , pois, o eixo de discusso de uma antinomia
11
gerada a
partir da idia cosmolgica
12
de liberdade. A questo central , ento, saber
se possvel (na natureza) uma causalidade por liberdade, ou seja, uma
causalidade independente das leis naturais.
11
A terceira antinomia exposta por Kant na CRP na seo intitulada de terceiro conflito das idias
transcendentais da antinomia da razo pura, diz respeito relao causal no mundo. A tese afirma que
apesar das leia da natureza possvel ainda uma causalidade por liberdade. A anttese, por sua vez, tenta
provar que no existe liberdade; tudo acontece no mundo somente em concordncia com as leis da
natureza. (CRP B 473). Segundo Hawold Caygill, em seu Dicionrio Kant, Antinomia uma forma
retrica de apresentao citada por Quintiliano em seu Institutio Oratria (Livro VIII, Captulo 7), na
qual argumentos opostos so apresentados lado a lado. (CAYGILL, 200, pp. 28).
12
Sobre a idia de liberdade cosmolgica ver terceiro conflito das idias transcendentais da antinomia
da razo pura In. KANT, Immanuel. Crtica da Razo Pura. Traduo de Valrio Rohden , editora :
Nova Cultural, So Paulo 1996.
12
O empenho em elucidar a questo ao menos da possibilidade de pensar
sem contradio o conceito de liberdade, enquanto poder de iniciar
espontaneamente um estado
13
, tem sua origem na necessidade
14
da razo
em dar acabamento idia de natureza como causalidade de todos os
fenmenos existentes
15
. Isto revela, segundo Kant, uma necessidade bem
mais alta do que um simples soletrar fenmenos (CRP B 385) pois a
prpria razo que se eleva naturalmente a conhecimentos que transcendem
os objetos dados na experincia. Por isso, na sistemtica da primeira
crtica Kant define o lugar da liberdade cosmolgica como uma idia ou
conceito puro da razo.
Para os fins deste trabalho, mais importante que desenvolver toda a
argumentao prpria da tese e anttese da terceira antinomia saber como
Kant resolve. Adiantando os resultados, poderamos dizer que, para Kant,
fica claro que, sendo por enquanto, a liberdade apenas uma idia
transcendental, isto , que transcende o mundo sensvel, nada impede
razo de pens-la sem contradio. Uma causa que est fora do mbito da
sensibilidade denominada por Kant como causa inteligvel. Ento, o que
s pode ser pensado fora do mundo da experincia sensvel deve poder ser
fundamentado somente na razo. Logo, a idia de uma causa que se inicia
por si mesma, sem que pressuponha nenhuma causa anterior, como afirma
a tese, s poder ser admitida se for considerada apenas como causa
13
CRP B 295.
14
No segundo captulo retornaremos com maior cuidado a este ponto ao tratar do momento em que o
autor fala de um destino singular da razo. ver HAMM, 2001,p. 32ss
15
Esta , na terminologia kantiana denominada idia cosmolgica, isto , uma idia que se refere
totalidade absoluta das coisas existentes. Desta maneira, a Idia fornece uma noo de totalidade que
ultrapassa as possibilidades do entendimento. No entanto, a idia de liberdade, tal qual os demais
conceitos puros da razo revelam algo da prpria constituio da razo; ou seja, que a razo est
subordinada s condies da experincia possvel, mas refere-se sempre a totalidade das condies da
experincia. Cf. CRP B 478.
13
inteligvel
16
. Isso porque a anttese s consegue eliminar a causalidade por
liberdade no mundo fenomnico, pois, se os fenmenos so coisas em si
mesmas a liberdade insustentvel. Ento a natureza ser a causa completa
e suficiente determinante de todo evento (CRP B 564). Porm, o
denominado mundo fenomnnico no diz respeito a totalidade das coisas
em si mesmas, mas, somente a totalidade do que podemos conhecer. Resta
enfim, a possibilidade de que ambas as partes (tese e anttese) sejam
pensadas sem contradio.
No plano terico, asseguradas a compatibilidade dos conceitos de
causalidade natural e causalidade por liberdade. A causalidade segundo as
leis da natureza torna-se necessria ao entendimento para compreender o
mundo fenomnico. Por sua vez a causalidade por liberdade, como
propriedade do mundo inteligvel, no qual cessa toda experincia,
admitida (embora no possa ser conhecida) pela razo como necessria
para dar acabamento idia de causalidade.
1.2. Da Liberdade Transcendental Liberdade Prtica.
O resultado apresentado no final da discusso acerca da idia
transcendental de liberdade em oposio causalidade natural, abre
caminho para a construo do conceito de liberdade prtica. No entanto, o
conceito de liberdade prtica no pode simplesmente ser retirado da idia
transcendental de liberdade. Isso ocorre, principalmente, porque o projeto
16
Grosso modo, o inteligvel pode ser dito como atividade pura da razo. Ora, se a liberdade se
restringisse ao plano inteligvel, portanto, sem correspondncia com a sensibilidade, tornar-se-ia
infecunda para a fundamentao da moralidade, uma vez que nossas aes se do sempre no plano
emprico.
14
de fundamentao da moralidade depende da liberdade, no apenas como
um conceito puro da razo. Ora, a moralidade s pode ser fundamentada se
for na razo, pois, da contingncia emprica, a que Kant chama de me das
iluses, nenhum fundamento se extrai. De modo que, para a razo ser
considerada prtica, isto , para que ela sirva de fundamento suficiente
moralidade
17
, a liberdade deve poder ser atribuda, efetivamente, vontade
humana e de todo ser racional em geral. Eis o ponto em que a liberdade
prtica difere da liberdade transcendental.
No tocante liberdade prtica
18
a questo no pode ser resolvida da
mesma maneira. No suficiente apenas admitir que a liberdade possa ser
concebida como uma idia da razo, pois, para os propsitos da
fundamentao da moralidade necessrio confirmar, sobretudo, a
realidade objetiva do conceito prtico de liberdade. Pois a suposio de que
ao homem seja inerente uma faculdade de autodeterminao no encontra
confirmao na CRP tendo que ser admitido apenas como um pressuposto
que apenas receber um tratamento definitivo na CRPr
19
. Embora Kant
ressalte a relao entre o conceito transcendental e o conceito prtico de
liberdade ao afirmar que sobremaneira digno de nota que o conceito
prtico de liberdade se funde sobre esta idia transcendental da mesma
(FMC BA 339*), esta mesma relao que torna difcil de conceber a
liberdade em sentido prtico porque no possvel extrair de um conceito
que , na verdade, uma idia da razo, a realidade objetiva de um conceito
prtico, necessrio fundamentao da moralidade.
17
CRPr Introduo A 29-31.
18
A liberdade no sentido prtico a independncia do arbtrio da coero por impulsos da sensibilidade
(CRP B 538).
19
No segundo captulo trataremos melhor a questo do factum da razoem relao problemtica que
nos dispomos a abordar .
15
No entanto, a liberdade prtica no pode ser desvinculada
20
da idia
transcendental de liberdade. A supresso da liberdade transcendental
acarretaria na extino da liberdade prtica. Por isso Kant dir na CRPr que
a liberdade transcendental deve servir de credencial s leis morais. Por
meio dessa credencial a lei moral prova satisfatoriamente a sua liberdade
tambm para a crtica especulativa (CRPr A 83). Com isto Kant quer dizer
que, uma vez provada a realidade da lei moral, aquela idia apenas terica
da liberdade, que podia to somente ser pensada sem contradio, tem sua
realidade objetiva garantida, embora somente no uso prtico. A liberdade
transcendental tem de ser admitida, no como fundamento mas como uma
espcie de credencial para a lei moral
21
. Ento, dir Kant, a lei moral
prova satisfatoriamente a sua liberdade tambm para a crtica da razo
especulativa (CRPr A 83). Com isso, ele parece afirmar que, uma vez
provada a realidade da lei moral, aquela idia terica de liberdade
22
, que na
primeira crtica era apenas pensada sem contradio, tem sua realidade
objetiva garantida embora somente no uso prtico.
Vejamos, ento, como Kant define o conceito
prtico de liberdade:
20
Cf. ROHDEN, Valrio. Interesse da Razo e Liberdade. So Paulo, editora tica, 1981. Nesta obra o
autor, por vrias vezes destaca a importncia atribuda por Kant ao vnculo entre a liberdade prtica e a
liberdade especulativa. Segundo Rohden, tal vnculo funda-se j no seguinte: primeiro, que a razo
procura explicar a possibilidade da liberdade, no simplesmente com base num interesse especulativo
com vistas completude do sistema, mas com base num interesse prtico; segundo, que a supresso da
liberdade transcendental significaria ao mesmo tempo o extermnio da liberdade prtica. (ROHDEN,
1981, p. 34).
21
CRPr A 83.
22
Em A Commentary on Kants critique of practical reason, L. W. Beck expressa de maneira bastante
convincente o que significa tratar a liberdade transcendental como uma credencial para a moralidade. No
comentrio de Beck lemos que: Este tipo de credencial para a lei moral, isto , que ela mesma seja
demonstrvel como o princpio da deduo da liberdade enquanto causalidade da razo pura um
substituto suficiente para qualquer justificao a priori, j que a razo terica tinha que assumir, pelo
menos, a possibilidade da liberdade a fim de resolver uma das suas prprias necessidades. (BECK, 1966,
p. 174).
16
A liberdade em sentido prtico, a independncia
do arbtrio da coero por impulsos da
sensibilidade. Com efeito, um arbtrio sensvel
na medida em que afetado patologicamente (por
motivaes da sensibilidade); denomina-se animal
(arbtrium brutum) quando ele pode ser
patologicamente necessitado. O arbtrio humano
na verdade um arbtrium sensitivum mas no
brutum e sim liberum, pois ao homem inerente
uma faculdade de determinar-se por si mesmo,
independentemente da coero por impulsos
sensveis (CRP B 589).
notria a nfase atribuda independncia do arbtrio
humano afetado positivamente pela sensibilidade, mas no necessitado por
ela, isto , capaz de mover-se em direes diversas de seus afetos. No
entanto esta o que o autor chama de definio negativa do conceito de
liberdade prtica. Negativa porque ela no demonstra em que consiste a
liberdade prtica, mas apenas a deriva da constatao da insuficincia das
afeces sensveis na determinao do arbtrio humano. O aspecto positivo
de tal definio retirado imediatamente do negativo, ou seja, se a
liberdade prtica definida como a independncia do arbtrio frente
sensibilidade, ento, positivamente, ela s pode ser uma faculdade de
determinar a si mesma. Como essa definio positiva de liberdade
(autodeterminao do arbtrio) retirada da negativa (independncia de
determinaes sensveis), logo, ela no explica como nosso arbtrio pode
ser afetado embora no determinado sensivelmente. Sobretudo, no fica
claro de que maneira o arbtrio poderia determinar a si mesmo. No
17
obstante sua insuficincia, tal definio de suma importncia pois, a partir
dela, Kant destaca o fato de que ao homem inerente a capacidade de
edificar racionalmente suas aes sobre a base de regras e princpios, e no
simplesmente responder a estmulos de maneira quase mecnica .
Para compreender o que significa afirmar que o homem no apenas
responde mecanicamente a estmulos, Kant lana mo do conceito de dever
como a expresso da capacidade que s um ser racional tem de projetar um
curso s suas aes. Assim, sob o conceito de dever so representados os
imperativos que nos impomos; isto , os princpios que justificam e do
sentido s nossas aes
23
. Ora, se possvel admitir, como foi mostrado at
aqui, que os deveres que o homem projeta para si no so simplesmente
respostas a estmulos sensveis, surge a suspeita de que por traz das aes
humanas h algo de espontneo.
Tomemos, pois, a distino kantiana entre causa sensvel e causa
inteligvel, de maneira que, pelo termo inteligvel, Kant denomina aquilo
que num objeto dos sentidos no propriamente um fenmeno (CRP B
566). Feita essa distino, possvel admitir que o ser humano, enquanto
fenmeno, tem suas aes sempre determinadas segundo a srie de eventos
naturais e no encontra nenhuma causalidade incondicionada. Todavia,
enquanto ser racional, o homem um ser inteligvel, isto , um ser que no
depende unicamente do curso da natureza para determinar seu agir. No
homem a razo no propriamente um fenmeno, no est submetida a
23
dever, em sentido genrico, no especificamente moral, significa ter razoes para, e ter razes para ser
capaz de justificar o que se faz por um princpio prtico, isto , um imperativo exprimindo uma regra de
preferncia (mxima) (ALMEIDA, 1992, p. 96).
18
quaisquer condies de sensibilidade, nela no ocorre, mesmo no
concernente sua causalidade, uma sucesso temporal. (CRP B 581).
Da natureza, porm, nada se pode conhecer como um dever ser,
por isso que dela se conhece apenas os fenmenos, isto , somente aquilo
que se nos apresenta segundo leis de causa e efeito. O homem porm,
enquanto inteligncia, capaz de agir segundo a projeo de leis que
determinam o que deve acontecer
24
. O dever ser , pois, o que caracteriza
todos os imperativos das aes humanas. Mesmo os imperativos
considerados por Kant como hipotticos, so as representaes de um
dever. Embora, neste caso, a ao tenha por finalidade um objeto da
sensibilidade, a razo que d a regra, como meio, para alcanar tal
objeto. Assim, por maior que seja o nmero dos fundamentos naturais e
dos impulsos que me incitem o querer, no podem eles produzir o dever,
mas sim unicamente um querer, que, longe de ser necessrio sempre
condicionado. (CRP B 576).
Convm ressaltar que o termo dever
25
no tem, por ora, uma
conotao somente tica, de modo a abarcar tanto regras morais quanto (o
que Kant chama de) regras da prudncia. Aqui, ao que tudo indica, a
capacidade de representar algo como dever est ligada, sobretudo, com a
representao do que pode ser proveitoso ou nocivo; mesmo assim, estas
reflexes em torno do que desejvel em todo o nosso estado, quer dizer,
24
Cf. CRP B 575
25
At mesmo em textos ditos pr-crticos, como o caso das Investigaes Sobre a Evidncia dos
Princpios da Teologia Natural e da Moral, datado de 1764, o termo dever usado para designar uma
necessidade de ao. Encontra-se, por conseguinte, uma distino entre necessidade de meios quando
devo fazer qualquer coisa (como um meio) se quero obter outra coisa (como fim), e necessidade dos
fins quando devo fazer imediatamente outra coisa (como fim) (I. p.154).
19
acerca do que bom e til, repousam sobre a razo (CRP B 830). Na
Fundamentao da Metafsica dos Costumes o conceito de dever parece ser
mais apurado por Kant. A partir dessa obra, que estudaremos logo mais, o
conceito de uma ao praticada por dever remete noo de ao boa em
si mesma, ou seja, independentemente de sua relao com qualquer objeto
do desejo. Kant com efeito, dir que uma ao praticada por dever tem seu
valor moral, no no propsito que com ela se quer atingir, mas na mxima
que a determina. (FMC BA 13).
Diz-se que o homem capaz de eleger um curso de ao sobre a
base de regras e princpios, ou seja, o homem tem a capacidade de atuar
racionalmente de maneira que, mesmo nas aes que tm por finalidade
objetos exteriores, existe alguma base racional. Sobretudo para a
fundamentao da tica necessrio que a razo fornea leis que so
imperativos, isto , leis objetivas da liberdade, e que dizem o que deve
acontecer embora talvez jamais acontea, nisso distingue-se das leis
naturais as quais s tratam daquilo que acontece, e por isso tambm so
denominadas leis prticas (CRP B 830).
O resultado mais enftico da primeira Crtica a
indeterminabilidade do arbtrio frente sensibilidade; isso d margem para
se pressupor que ao homem inerente a capacidade de determinar a si
mesmo pela razo
26
. Kant, todavia, no esclarece se e como seria possvel
uma deduo de leis prticas deste conceito, realmente bastante
26
Por esta faculdade de autodeterminao subentende-se a idia transcendental de uma
espontaneidade racional, cuja causalidade, em sentido prtico, produz leis objetivas da liberdade para o
arbtrio. Sobre esta idia transcendental de espontaneidade ver: ALLISON Henry E: Entre la
Cosmologa y la Autonoma: La Teora Kantiana de la Libertad en la Crtica de la Razn Pura.
In. El Idealismo Transcendental de Kant: Una Interpretacin y Defensa. Barcelona: Antropos; Mxico:
Universidad Autnoma Metropolitana , Iztapalapa, 1992, p. 469 469.
20
problemtico, de liberdade; pois o arbtrio e, conseqentemente, a vontade
denominada livre apenas pela negao do principio de causalidade
27
e,
positivamente, somente pela suposio da espontaneidade da razo. No
entanto, a base para todo o projeto kantiano de fundamentao da
moralidade j est, por assim dizer, assentada nesta condio que, no
obstante as dificuldades, deve ser ainda confirmada, a saber, na liberdade
prtica.
2. VONTADE E LEI MORAL
2.1. A Boa Vontade como Arqutipo da Moralidade.
Na primeira seo da Fundamentao da Metafsica dos Costumes,
Kant inicia uma anlise com a qual intenta alcanar os fundamentos
lapidares da moralidade. famosa a frase inicial da Fundamentao, a
respeito da incondicionalidade da boa vontade: Neste mundo e at
tambm fora dele, nada possvel pensar que possa ser considerado como
bom sem limitao a no ser uma s coisa: uma boa vontade (FMC BA
1). Com esta sentena, o autor pretendia dar um ponto norteador do
processo de analise iniciada por ele nessa obra; isto , a idia de boa
vontade admitida como um arqutipo da moralidade, justamente porque
com ela representa-se o ideal de uma faculdade que : ... no boa por
27
Ento a mesma vontade ser pensada no fenmeno como necessariamente conforme a lei natural e
nessa medida no livre, e por outro lado ainda assim, enquanto pertencente a uma coisa em si mesma,
pensada como no submetida lei natural e portanto livre, sem que isso ocorra uma contradio. (CRP
B. 84)
21
aquilo que promove ou realiza, pela aptido para alcanar qualquer
finalidade proposta, mas to somente pelo querer, isto em si mesma
(FMC BA 3).
Todavia, no homem podem ser encontradas vrias qualidades, porm
a nenhuma delas podemos atribuir o sentido de incondicionalmente boa
28
.
At mesmo as mais nobres virtudes como a moderao nas paixes,
segundo o exemplo usado pelo prprio autor, por melhores que sejam, so
apenas limitadamente boas. Todas estas qualidades esto, sobremaneira,
condicionadas ao uso que delas feito. Contudo, a boa vontade traz
consigo a idia de algo que bom em si mesmo, pois, conquanto o prprio
querer, abstrado da finalidade, seja considerado bom estaremos
representando uma qualidade incondicionalmente boa. No entanto, a boa
vontade no em si uma propriedade que faz parte da natureza humana
29
,
mas pode ser pensada (sem contradio) como uma propriedade da razo
pura.
Dada a impossibilidade de derivar a lei moral da idia de boa
vontade, justamente por ser ela apenas um arqutipo do
incondicionalmente bom, Kant procura enfim saber como poder um ente
racional finito, apenas relativamente bom, fundamentar sua ao de
maneira incondicionada; ou seja, fundamentar o seu agir sem levar em
conta nada que lhe seja exterior, mas to-somente o (at aqui suposto)
querer prprio da razo. Surge, ento a suspeita de que
28
FMC BA 7
29
Embora a noo de boa vontade possa ser pensada sem contradio e, por assim dizer, sirva de ideal
para a ao dita moral, no possvel argumentar sobre a existncia ou sobre se possvel conhecer tal
vontade uma vez que ela transcende os limites do entendimento. Entretanto, a boa vontade no apenas
uma idia vazia, pois tem o seu valor na possibilidade de estabelecer um modelo ideal de ao
irrestritamente boa.
22
h contudo nesta idia de valor absoluto da
simples vontade, sem entrar em linha de conta
para a sua avaliao com qualquer utilidade, algo
de to estranho que a despeito mesmo de toda
concordncia da razo vulgar com ela mesma
pode surgir a suspeita de que no fundo haja talvez
oculta apenas uma quimera area e que a
natureza tenha sido mal compreendida na sua
inteno de dar-nos a razo por governante da
vontade (FMC BA 4).
Se a suspeita fosse logo admitida como verdadeira, Kant se poria
em desacordo com seu prprio sistema. Seria necessrio admitir a
incapacidade da razo em governar a vontade, seno como uma limitada
capacidade de gerar regras pragmticas. Isso no teria sentido para Kant,
uma vez que, em ltima instncia, todas as aes humanas se reduziriam a
algum tipo de estmulo e resposta, de modo que, a nica forma de
causalidade possvel se resumiria s leis da natureza. Ora, se toda
causalidade fosse reduzida s leis naturais ento ficaria suprimido o
resultado da terceira antinomia, a saber, a possibilidade da causalidade por
liberdade
30
.
Cumpre a Kant, ento, analisar o conceito de vontade de um ser
racional, porm, finito, tendo por base no o antagonismo (razo versus
sensibilidade) mas a possibilidade da independncia da razo na
determinao da vontade.
30
com efeito, todo o campo da experincia, por mais que se estenda, transformado num conjunto de
mera natureza. Mas j que dessa maneira no possvel obter uma totalidade absoluta das condies na
relao causal, a razo cria para si mesma a idia de uma espontaneidade que pode por si mesma iniciar
uma ao sem que seja necessrio antepor-lhe uma outra causa (CRP B 339).
23
2.2. Agir por Dever e Agir Conforme o Dever.
Na fundamentao o conceito de dever usado, sobretudo, para
estabelecer a relao entre a idia da boa vontade em concordncia com
um ser racional finito, limitadamente bom. A partir da anlise do conceito
de dever, Kant deixa suficientemente claro que no possvel uma lei da
moralidade que no seja ao menos conforme o dever. Mas, a simples
conformidade ao dever tambm no garante que uma ao seja
moralmente boa, quer dizer, boa em si mesma. legalmente vlido e,
ademais, conforme o dever que, por exemplo, o merceeiro no suba os
preos ao comprador inexperiente, e, quando o movimento do negcio
grande, o comerciante esperto tambm no faz semelhante coisa. (FMC
BA 9). Todavia, por mais justas e legalmente
31
vlidas que estas aes
possam ser, s sero ticas se no forem determinadas pelo proveito que
delas se possa tirar, ou seja por um fim contingente.
Kant exclui ainda, do mbito das aes por dever, aquelas para as
quais temos simplesmente uma inclinao imediata, como por exemplo,
cada qual conservar, simplesmente por instinto, a sua prpria vida. O que
Kant refuta no a ao em si, mas o fato de que uma inclinao,
mesmo sendo imediata, que a fundamenta. Ora, que algum pratique boas
aes porque para isso se sente inclinado no torna a ao
incondicionalmente boa, pois, faltando-lhe a inclinao, falta-lhe todo o
motivo de sua ao
32
. Mas, se da determinao de uma ao se retira toda
a satisfao ligada a seu resultado, e tambm, toda inclinao imediata
31
Mesmo que uma ao possa ser considerada boa , no sentido de sua conformidade com as leis do estado
ou da convivncia, se o princpio que a determina estiver fundamentado na satisfao prpria de quem a
pratica, ento esta ao, mesmo sendo conforme o dever no ser moralmente boa.
32
Cf . FMC BA 9ss
24
que possa determin-la, tem ento a genuna ao por dever. Isso ocorre
porque, na verdade
a vontade est colocada entre seu princpio a
priori, que formal, e seu mbil a posteriori, que
material, por assim dizer numa encruzilhada; e,
uma vez que ela tem que ser determinada por
qualquer coisa, ter de ser determinada pelo
princpio formal do querer em geral quando a
ao seja praticada por dever, pois lhe foi tirado
todo o princpio material. (FMC BA 14)
Temos ento uma proposio fundamental para o sistema tico
kantiano, a saber, que uma ao moral tem seu valor no no propsito que
com ela se quer atingir, mas na mxima que a determina. (FMC BA 14).
Todavia, essa mxima deve poder ser determinada pela pura forma
universal da lei.
Na seqncia, Kant afirma que o dever a necessidade de uma ao
por respeito lei (FMC BA 14). No entanto, essa proposio que define o
dever como ao por respeito lei aparentemente estranha, uma vez que,
para Kant, est claro que a moralidade no pode ser fundamentada em nada
que envolva sensibilidade e, portanto em nenhum sentimento. Kant
esclarece sobre em que medida usada esta noo de respeito em uma
significativa nota de rodap
33
. Nesta nota, Kant salienta sobretudo a
peculiaridade do sentimento de respeito em ter por objeto a lei que nos
impomos a ns mesmos (FMC BA 16), no que difere dos demais
33
No entanto, como qualquer outro sentimento, o respeito no deixa de ser o efeito produzido na
sensibilidade e, por isso, no pode ser extrado dele nada que fundamente a moralidade.
25
sentimentos na medida em que, nestes, o objeto sempre algo emprico.
Assim, o sentimento de respeito deve aparecer como uma conseqncia da
lei da moralidade, diferentemente de qualquer outro sentimento que
pretenda servir de fundamento para esta .
2. 3. Agir Segundo a Representao de Mximas.
Da forma como proposto por Kant, o conceito de mxima traz
consigo a necessidade de se considerar o agir humano de modo a poder
sempre ser representado atravs de alguma regra racional. Por mxima,
deve ser entendido o princpio subjetivo
34
das aes de um ser racional
finito que no faz apenas responder imediatamente a estmulos sensveis,
ou seja, no patologicamente necessitado. Quer dizer que, mesmo quando
esse agente almeje atingir toda sorte de interesses, ou se proponha dar voz
plena a suas paixes, ele o faz segundo uma certa regra por ele assumida
como princpio
35
.
Em grande medida Kant considera, desde a Crtica da Razo Pura,
um certo carter de espontaneidade da Razo envolvido no processo de
formulao e adoo de mximas. Essa espontaneidade, que dever ser
assumida como uma caracterstica necessria de todo imperativo, tem sua
legitimidade garantida a partir da conscincia necessria tanto para a
adoo quanto para a aplicao de regras.
34
Cf . FMC BA 15 nota, BA 51nota.
35
Em ltima instncia todo agir humano, exceto o agir moral, poderia ser reduzido ao principio de
felicidade prpria, isto , todos os princpios prticos materiais so, enquanto tais, no seu conjunto, de
uma e mesma espcie e incluem-se no princpio geral de amor de si ou da felicidade prpria (CRPr A 40.
26
Tanto no conhecimento da regra, quanto na sua adoo e aplicao
ficam implcitas a conscincia e a inteno do agente, de forma que se
algum se propuser, por exemplo, a seguir uma dieta mais favorvel ao seu
paladar do que sua sade, o estar fazendo, no simplesmente por
instinto, mas mediante a adoo de uma mxima segundo a qual se deve
obter o mximo de prazer imediato. Nota-se, neste momento, que a adoo
de mximas s se realiza na medida em que o agente sabe que o realiza e
tem a inteno de realiz-lo, ou seja, na medida em que possui tambm
certa espontaneidade em sua ao.
Porm, uma questo continua a intrigar, e perdurar por toda a
Fundamentao da Metafsica dos Costumes. Tal questo concerne na
possibilidade de identificar a espontaneidade do agente, no que respeita
adoo e aplicao de regras, com a espontaneidade pensada no conceito
de liberdade transcendental, isto , como poder de dar incio a uma srie de
ocorrncias sem ser determinado a isso por nenhuma ocorrncia anterior.
Essa questo se desdobrar na formulao kantiana do Imperativo
Categrico, ele de tal forma elaborado que no contm nada mais do que
a forma do querer, vlida, como um princpio puramente racional, para
todo ser racional em geral. Ento, quando um agente representa-se uma lei
que leva em conta apenas uma determinao da razo admite, na verdade,
que nada mais resta do que seno a universalidade de uma lei em geral
qual a mxima da ao deve ser conforme, conformidade essa que s o
imperativo [categrico] nos representa propriamente como necessria
(FMC BA 51).
27
3. INTERESSE E AUTONOMIA.
Kant, por assim dizer, introduz o imperativo categrico na medida em
que separa e, conseqentemente, exclui da fundamentao da moralidade
todo o material emprico. Pois, dir Kant, se o valor de uma ao no reside
em seu efeito que sempre emprico e, portanto, condicionado no pode
residir em mais parte alguma seno no princpio da vontade, abstrado dos
fins que possam ser realizados por tal ao (FMC BA 14). Esse princpio
da vontade abstrado dos fins justamente o que Kant chama de princpio
formal do querer, e, ao qual se tem acesso por meio de um imperativo que
ordena to-somente a universalizao das mximas.
O agir com base em imperativos abordado por Kant desde a CRP
para explicar o que significa dizer que o homem capaz de um tipo de
ao cujo fundamento nada mais do que um simples conceito, ao passo
que o fundamento de uma simples ao natural tem que ser sempre um
fenmeno (CRP 346). O conceito a que Kant se refere como fundamento
da ao de seres racionais , pois, o conceito de Dever.
Para que se perceba a inteno de Kant ao afirmar que na base de
todo imperativo existe, pelo menos o conceito de dever preciso trazer
tona, novamente, a noo de Arbtrium Lberum do qual s um ser racional
e sensvel capaz. Ora, o Arbitrium Liberum no pode ser apenas um
pressuposto, porque deveras o homem no se deixa determinar
imediatamente pelas afeces sensveis, mas antes, admite-se que a razo
que julga, e alem do mais, representa segundo um imperativo (sob o
conceito de dever) o que julga como bom
36
. Ora, essa forma de representar
36
Tanto na Crtica da Razo Prtica quanto a Crtica do J uzo Kant engendra uma distino entre os
conceitos de bom e agradvel. Segundo essa distino, agradvel aquilo que apraz diretamente nos
28
para si mesmo um dever vlido subjetivamente o que Kant denomina
mxima.
37
Logo, embora a mxima adotada por um sujeito possa estar
completamente ancorada em motivos nada racionais, ela revela sempre um
mnimo de racionalidade no fato de que, para derivar aes de mximas, a
razo se faz necessria.
A tese kantiana de que para todas as nossas escolhas podemos
formular mximas e que essas mximas, por sua vez, esto fundadas em
imperativos, permite fazer uma distino que, doravante o sistema, estar
sempre, ora implcito, ora explcito, na argumentao acerca do
fundamento da moral. Enfim, se afirmamos que todas as nossas aes
podem ser derivadas de mximas por ns adotadas, e que tais mximas
remetem sempre a imperativos, no fundo seremos capazes de conceber que
ao formular um imperativo a razo na verdade estar dando sentido para as
nossas aes.
No obstante a razo determinar a vontade por meio de imperativos,
j pelo fato de que s um ser racional tem a capacidade de agir segundo a
representao de leis (FMC BA 37), a dvida ainda paira quando nos
questionamos acerca da motivao de nossas aes; de modo que tambm
pode acontecer que a razo seja autorizada apenas a formular regras que
nos dizem como agir, em toda sorte de situaes dadas sem, contudo, servir
de motivo
38
para a ao. Logo, todo agir seria sempre heternomo por ter
como motivao sempre uma necessidade sensvel.
sentidos, isto , sem o intermdio da razo; ao passo que bom aquilo que agrada mediante um conceito
da razo.
37
CRPr A 35, FMC BA 15 nota.
38
Neste momento o termo motivo tomado em um sentido bastante amplo querendo significar toda sorte
de razes que impulsionam nossas aes. Assim, no levada em conta ainda a distino entre mbil e
motivo, a qual nos dedicaremos em seguida.
29
3.1. A Impossibilidade de Fundamentar a Lei Sobre o Interesse.
Na segunda seo da Fundamentao, Kant aborda a questo da
motivao moral com o intuito de saber se a razo, assim como d a regra,
tambm pode determinar-lhe o fim. Como bem afirma Kant, o que tem de
ser investigado a
relao de uma vontade consigo mesma enquanto
essa vontade s se determina pela razo, pois que
ento tudo o que se relaciona com o emprico
desaparece por si, porque, se a razo por si s
determina o procedimento (e essa possibilidade
que ns vamos agora investigar) ter de faz-lo a
priori de (FMC BA 64).
este o lugar em que cabe uma certa distino, no sentido de
estabelecer o mbito prprio tanto da razo quanto da sensibilidade na
determinao da vontade. A partir desta distino entende-se que todo
objeto capaz produzir um desejo subjetivamente vlido, portanto particular,
designado pelo termo Mbil
39
(triebferer, literalmente mola propulsora).
Ao passo que todo princpio racional, que na verdade nada mais do que a
forma do querer, ou seja, a lei representada pela razo e que possui
validade objetiva (so vlidas para todo ser racional) denominado
Motivo
40
(Bewegungsgrund, literalmente, razo movente). Logo, os fins
que um ser racional se prope a seu grado como efeitos de sua ao (fins
materiais) so na totalidade apenas relativos; pois o que lhes d o seu valor
39
FMC BA 64
40
FMC BA 64
30
somente a sua relao com uma faculdade de desejar do sujeito com
caractersticas especiais (FMC BA 64).
A totalidade dos fins materiais, denominados mbeis, pode ser
abarcada, em ltima instncia, pelo sujeito em vista a sua felicidade.
Todavia, embora seja possvel afirmar que a felicidade se constitui em uma
busca universal, ela ainda sempre condicionada, uma vez que o
homem no pode fazer idia precisa e segura da soma de satisfao de
todas [as inclinaes] que chama felicidade. (FMC BA 12).
No prefcio da Fundamentao, Kant j afirmara que a filosofia
distingue-se da mera especulao por depurar o que racional de tudo o
que apenas emprico
41
at, por fim, chegar a saber o quanto capaz a
razo pura e de que fontes ela prpria tira seu ensino a priori (FMC BA
VII). Do mesmo modo, a tica, ao tentar responder indagao acerca do
que devo fazer, no pode basear-se em determinaes que levam em conta,
como fundamento, qualquer objeto determinante da vontade. Essa
abdicao necessria para que a moralidade no seja confundida com um
conjunto de regras pragmticas ou com meras habilidades tcnicas. Pois,
que a investigao tica deva centrar-se na razo no apenas uma questo
de mtodo para chegar a um princpio absoluto das leis morais, mas
tambm porque os prprios costumes ficam sujeitos a toda sorte de
perverses quando lhes falta aquele fio condutor e norma suprema de todo
o seu julgamento (FMC BA X).
Ento, supondo que a busca da felicidade fosse estatuda como o
princpio supremo da moralidade, a razo teria seu papel reduzido ao de
41
Aqui, limito-me a perguntar se a natureza da cincia no exige que se distinga sempre cuidadosamente
a parte emprica da parte racional e que se anteponha fsica propriamente dita (emprica) uma Metafsica
da Natureza, e Antropologia prtica uma Metafsica dos Costumes, que deveria ser cuidadosamente
depurada dos elementos empricos (FMC BA VII).
31
instrumento necessrio apenas para unificar todos os fins que so
impostos por nossas inclinaes num nico fim, o da felicidade e em
coordenar os meios de alcan-lo (CRP 476). Isso significa restringir a
razo funo pragmtica de fornecer leis com o nico objetivo de
satisfazer as necessidades dos sentidos, de modo que, a partir deste seu uso
s se pode chegar generalizao de leis que, no final das contas, so todas
contingentes devido a subordinao da razo a interesses particulares.
Na segunda seo da Fundamentao, aps introduzir a noo de
imperativo como forma dos mandamentos que a razo impe vontade
humana,
42
Kant reconhece que uma vontade que fosse perfeitamente boa
poderia estar obrigada. Tal vontade j estaria sempre determinada pela
representao do bem. Neste nterim situado tambm o interesse, pois,
no ele identificado simplesmente com a inclinao
43
, nem pertence a
uma vontade perfeitamente boa. Assim, chama-se interesse a dependncia
em que uma vontade contingentemente determinvel se encontra em face
dos princpios da razo (FMC BA 39).
Todavia, a vontade se relaciona com o interesse de duas maneiras
distintas: ou ela age por interesse, ou toma interesse
44
. Ora, o agir por
interesse revela sempre uma vontade dependente de princpios racionais,
porm, em proveito da inclinao. Por sua vez, o tomar interesse, se for
comprovado, mostrar apenas dependncia da vontade em face dos
princpios da razo (FMC BA 39).
42
FMC BA 38.
43
Em nota de rodap, Kant designa por inclinao a dependncia em que a faculdade de desejar est em
face s sensaes apontando claramente para o carter emprico que move a inclinao. Distingue-se do
interesse porque este, embora possa vir em proveito das inclinaes, o far sempre sob os princpios da
razo. cf FMC BA 39 nota.
44
FMC BA 39
32
Na seqncia do texto, Kant prima pelo esclarecimento e classificao
dos imperativos entre hipotticos e categricos. Destes somente o
imperativo categrico servir como forma da lei moral, visto que s ele
contem uma determinao incondicionada, ou seja, uma determinao que
no provm de nenhum mbil emprico mas apenas da universalizao das
mximas que nos propomos. Poderamos, ento, perguntar: que tipo de
vontade seria capaz de representar-se tal imperativo ? Ora, como candidata
a fundamento de tal imperativo restaria apenas aquela vontade que retira
suas leis no de algum interesse
45
e, sobretudo, uma vontade legisladora
universal por meio de suas mximas
46
. Logo, Kant parece afirmar,
convictamente, que a lei moral, como pura determinao da vontade, se
impe por si mesma sem a ajuda de qualquer outro mbil. Pois, dir Kant,
no possvel que vontade, que ela mesma legisladora suprema,
dependa, enquanto tal, de um interesse qualquer (FMC BA 72).
Anteriormente ele j havia exposto que no por interesse que se faz
uma ao moral. No entanto, o homem toma interesse pela moralidade.
Resta, enfim, saber como possvel que o homem, sem agir por interesse,
possa tomar interesse pela moralidade. At agora somos de parecer que a
resposta a esta questo depende, justamente, da confirmao desta como
princpio da moralidade.
3.2 O problema da Efetivao da Moralidade.
At o momento quisemos deixar bem claro que a procura de leis
prticas puras, ou seja, leis que comandassem [a vontade] de maneira
45
FMC BA 72, 73.
46
FMC BA 72.
33
absoluta e no empiricamente condicionada (CRP 476) faz parte do
projeto kantiano desde a Crtica da Razo Pura. Nesse perodo, j estava
claro para Kant que uma lei que determinasse imediatamente a vontade e
pudesse valer para todo e qualquer ser humano, necessariamente seria um
produto da razo pura (CRP 476). Mas, ao engendrar a ciso mbil/motivo
e, conseqentemente, descartar do sistema tico o material sensvel,
reunido sob o princpio de felicidade prpria, Kant se v diante de um
dilema, a saber, o de explicar como o conhecimento da lei moral possa ter
fora motivadora no s objetivamente, mas tambm subjetivamente.
Esta concepo de motivao moral baseada apenas na determinao
racional da vontade j vinha sendo formulada desde a primeira seo da
Fundamentao na qual, em nota, Kant faz referncia ao sentimento de
respeito como: conscincia da subordinao da minha vontade a uma lei,
sem observao de outras influncias sobre minha sensibilidade (FMC BA
16 nota). Em tal caso, se percebe a necessidade de pressupor, novamente,
uma espcie de causalidade espontnea da razo idntica a que define o
conceito transcendental de liberdade, embora os resultados da terceira
antinomia s permitam-nos pens-lo sem contradio. Contudo, na
Fundamentao, a partir da formulao de imperativo categrico Kant
chega noo de vontade de todo ser racional concebida como vontade
legisladora universal (FMC BA 70). A partir da ele passa a dar um novo
tratamento ao problema, porque da vontade de um ser racional finito,
quando no age por interesses, assegura-se que pelo menos seus princpios
devem valer igualmente para todo ser racional.
34
Assim o princpio, segundo o qual toda vontade
humana seria uma vontade legisladora universal
por meio de todas as suas mximas, se fosse
seguramente estabelecido, conviria perfeitamente
ao imperativo categrico no sentido de que,
exatamente por causa da idia de legislao
universal, ele no se funda em nenhum interesse
(FMC BA 72).
latente, principalmente a partir desse ponto, o desprezo do
interesse como fundamento de uma vontade autnoma.
47
Pois uma
exigncia, tanto para o imperativo categrico quanto para a autonomia da
vontade, que todo elemento sensvel e, portanto, contingente seja recusado.
Ao posso que somente a razo, como vontade pratica pura, livre de toda
influncia externa demonstra sua prpria autoridade legislativa como
legislao suprema (FMC BA 90).
Autonomia da vontade , sem sombra de dvidas, um conceito
bastante peculiar na obra kantiana e, porque no diz-lo, o ponto de
convergncia dos esforos empregados por Kant na fundamentao de seu
sistema tico. Ela se mantm desde a sua descoberta, na segunda seo da
Fundamentao
48
, at ser factualmente confirmada, na Crtica da razo
Prtica, como o princpio supremo da moralidade
49
.
Outro momento que temos de destacar, para a formulao de nosso
problema, que at o incio da terceira seo da Fundamentao a
47
A mesma posio assumida por Kant ao criticar a tradio. Segundo ele, os sistemas ticos formulados
at ento exigiam sempre algum interesse como que para impulsionar o agir moral, deixando a desejar
quanto universalidade de seus princpios, pois, o imperativo tinha que resultar sempre condicionado e
no podia servir como mandamento moral. (FMC BA 74).
48
FMC BA 80,88.
49
CRPr A 58, 72-3, 226.
35
liberdade prtica havia sido definida apenas negativamente como uma
causalidade da vontade de seres racionais pela qual eles se tornam
independente de determinaes estranhas. justamente a autonomia da
vontade que constitui o conceito positivo de liberdade como uma
causalidade segundo leis imutveis, ainda que de uma espcie particular
ou seja, leis que tm sua origem na propriedade da vontade de ser lei para
si mesma (FMC BA 99). O imperativo categrico, por sua vez, a
expresso de tal lei para seres finitos que, no obstante suas limitaes so
capazes de agir autonomamente. Assim, a autonomia da vontade, isto , a
propriedade da vontade de ser lei para si mesma caracterizaria o princpio
de no agir segundo nenhuma outra mxima que no seja aquela que possa
ter-se a si mesma por objeto como lei universal (FMC BA 99). Mas isso j
estava explicito na frmula do imperativo categrico
50
e a autonomia
constitui, portanto, seu fundamento.
Todavia, a fundamentao da moralidade, longe de estar completa,
ainda requer elementos, ou pelo menos um elemento que satisfaa o
objetivo que Kant havia proposto no incio da Fundamentao, a saber, a
busca e a fixao do princpio supremo da moralidade (FMC BA XIV).
Quanto busca do princpio supremo da moralidade, Kant o encontrou ao
desvendar a autonomia da vontade como fundamento do imperativo
categrico; entretanto, a fixao de tal princpio era uma questo sem
resposta, e continuou sendo, acreditamos, durante toda a Fundamentao.
Esse no , porm o problema da aplicao da lei moral, como poderia
objetar-se, e que, segundo o prprio Kant deve ser relegado antropologia.
Ora, o que Kant chama de fixao justamente o que visa tornar a
50
Age como se a mxima de tua ao se devesse tornar, pela tua vontade, em lei universal da
natureza (FMC BA 52.
36
autonomia da vontade no apenas uma idia bem construda, mas,
reconhec-la como dotada de fora motivadora, isto , torn-la efetiva,
sobretudo para a vontade humana.
A questo que designamos sob o ttulo de problema da efetivao da
lei moral expressa por Kant na seguinte pergunta: por que que devo eu
submeter-me a este princpio e isso como ser racional em geral, e portanto
todos os outros seres dotados de razo? (FMC BA 102). neste momento
que a noo de interesse se faz notar como uma incgnita; pois, se a
autonomia deve ser estabelecida como o princpio supremo da moralidade
necessrio presumir que nenhum interesse a faz efetiva, pois da no
poderia resultar nenhum imperativo categrico (FMC BA 103). No
entanto, dir Kant, tenho necessariamente que tomar interesse por isso e
saber como isso se passa (FMC BA 103). Por fim, Kant compara a
impossibilidade de explicar o interesse que o homem toma pelas leis morais
impossibilidade de explicar subjetivamente a liberdade da vontade
(FMC BA 122). Contudo, ao final da terceira seo da Fundamentao
essas questes ainda permanecem sem respostas.
Assim, a questo que nos propomos a partir deste primeiro captulo e
que pretendemos desenvolver e, na medida do possvel resolver, no
decorrer de outros dois captulos tem por pano de fundo o contexto do que
chamamos de efetivao da moralidade. Nosso intuito esclarecer como
Kant esclarece o dilema
51
entre interesse e autonomia da vontade de sorte
que poderemos em fim saber, o que Kant no pode demonstrar na
51
Valrio Rohden nos apresenta uma boa formulao dessa questo ao afirmar que do mesmo modo
como ocorre com os conceitos de motivo e de mxima, o conceito de interesse vincula-se com a limitao
da natureza humana que para agir possui a permanente necessidade de ser estimulada de algum modo
para tal (ROHODEN, 1981, p. 68).
37
Fundamentao, como possvel que o homem tome interesse pela
moralidade.
38
CAPTULO II
SOBRE A AUTONOMIA DA VONTADE.
1. O CONCEITO KANTIANO DE VONTADE
Nada simples a tarefa de analisar o conceito de vontade empregado
por Immanuel Kant nas obras em que procura fundamentar sua filosofia
moral. Apesar de toda sistemtica da obra, alguns de seus conceitos
lapidares so inseridos de maneira to peculiar que desafiam a investigao
de alguns dos seus mais clebres comentadores. Podemos dizer at que
algumas dificuldades do sistema kantiano no so muito difceis de serem
vistas pelo leitor atento. Elas decorrem, principalmente, da ambio
52
do
prprio projeto de fundamentao de uma tica universalmente vlida. No
apenas o famoso factum da razo gera grande contenda dentre os
comentadores, mas tambm conceitos como vontade e interesse chamam a
ateno pela forma como so expostos e, sobretudo, pela maneira como se
relacionam entre si.
A vontade, desde o princpio da teoria moral kantiana, admitida
como o solo fecundo para a elaborao do sistema tico
53
. J o interesse,
primeiramente recusado enquanto motivo de aes morais
54
, mas nunca
excludo do sistema moral enquanto sejam seus agentes seres finitos e que
52
No se trata apenas da ambio de um sistema filosfico que pretendeu fundamentar racionalmente a
lei moral, mas sobretudo, esta , segundo Kant, uma ambio da prpria razo. isto que queremos
tratar na seqncia do texto.
53
Importante achar referncia.
54
Segundo Kant, exatamente por causa da idia de legislao universal a lei moral no se funda em
nenhum interesse (FMC BA 72).
39
no agem sem ao menos tomar interesse
55
.
1.1. Vontade e Razo Prtica.
Apenas de um ser racional possvel dizer que ele age de acordo com
sua vontade, pois vontade uma capacidade a partir da qual se diz que um
ser capaz de determinar um curso para suas aes. A vontade, pelo fato
de ser essencialmente uma capacidade de agir segundo a representao de
leis
56
, assumida como uma espcie de causalidade
57
, no segundo leis
mecnicas, mas sob a projeo de leis racionais. Kant chega a afirmar que
uma vontade autnoma, ou seja, aquela vontade que no se deixa
determinar por nenhum motivo exterior, nada mais pode significar do que a
liberdade em sentido positivo, a saber, como causalidade espontnea da
razo
58
.
fcil compreender que a vontade seja a capacidade exclusiva de seres
racionais, enquanto possuam uma capacidade prpria de representar leis.
Mas, quando se questiona a respeito da finalidade ou do objeto da vontade,
a razo parece insuficiente. por isso que, a despeito de reportar a
racionalidade, a vontade requer ainda algo que, ao que parece, a razo no
lhe pode dar. Pois, se a racionalidade necessria e suficiente para
determinar aquela caracterstica da vontade, segundo a qual todo homem
capaz de representar-se leis, falta ainda a essa definio o objeto que
55
J na terceira seo da Fundamentao lemos que A impossibilidade subjetiva de explicar a
liberdade da vontade idntica a impossibilidade de descobrir e tornar concebvel um interesse pelas leis
morais; e, no entanto, um fato que ele toma realmente interesse por elas. (FMC BA 122).
56
FMC BA 36
57
FMC BA 93
58
FMC BA 209
40
constitui a finalidade do agir. Se a razo nada pode garantir quanto
finalidade, que em ltima instncia sempre determinada por condies
empricas, logo, a vontade est colocada entre seu princpio a priori, que
formal, e seu mbil a posteriori, que material.(FMC BA 14).
Na Crtica da Razo Prtica a situao da vontade, como que numa
encruzilhada entre princpios racionais e objetos empricos, vista a
partir da relao entre a faculdade de apetio e o entendimento
59
. Todavia,
nesta obra, Kant quer investigar ainda uma outra possibilidade segunda a
qual o ente racional finito seria capaz de uma vontade independente de todo
condicionamento emprico e, portanto, autnoma. Neste caso, a vontade
denominada pura, pois, livre de qualquer interesse a razo, mediante a
representao de uma lei, determina a faculdade de apetio
60
, ou seja, a
razo torna-se imediatamente prtica.
Entrementes, em uma de suas obras mais tardias, na Metafsica dos
Costumes, a vontade definida como uma faculdade de desejar cujo
fundamento ntimo de determinao, por conseguinte o prprio arbtrio de
fazer ou no fazer, encontra-se na razo (MC AB 105). Com essa
definio Kant distingue mais precisamente a relao entre o arbtrio em
geral e o arbtrio livre, de forma que s este realmente se relaciona com a
vontade.
No tentaremos, nem nos possvel neste trabalho, esgotar a
discusso acerca do assunto. Assumimos, no entanto, a tarefa de
caracterizar a questo, a fim de compreender porque Kant acreditou lograr
xito no s na determinao da existncia de uma vontade pura
(determinada imediatamente pela razo) como no fato de que s ela capaz
59
CRPr A 96
60
CRP A 96
41
de gerar um interesse moral. Todavia, necessrio antes firmar posio na
questo concernente problemtica relao entre vontade e razo prtica
para, s ento, reconhecer se de fato possvel um tipo de auto-
determinao da vontade que exclui qualquer motivao exterior prpria
lei da razo prtica.
1.2. Vontade e Razo.
A afirmao de que somente um ser racional possui vontade
deduzida da constatao segundo a qual s um ser racional capaz de
representar-se leis
61
para suas aes. Isso equivale a dizer que somente um
ser racional capaz de projetar um curso de aes independentemente de
toda sorte de situaes adversas, e, at mesmo, no caso de suas capacidades
fsicas atestarem o contrrio. Logo, Kant reconhece que, como para
derivar as aes das leis necessria razo, a vontade no outra coisa
seno razo prtica. (FMC BA 36). Mas, essa identificao entre vontade
e razo no bem esclarecida por Kant, alis, ele mesmo quem percebe
as restries que impedem a vontade de um ser racional finito de
identificar-se plenamente com uma determinao puramente racional. Alm
do mais, Kant mesmo quem primeiro supe, a respeito da identificao
entre razo e vontade, que apenas com a condio de que a razo
determinasse infalivelmente a vontade esta seria a faculdade de escolher s
aquilo que a razo, independente da inclinao reconhece como
praticamente necessrio, quer dizer como bom.(FMC BA 36-37).
Na Segunda Crtica, ao tratar de esclarecer a questo acerca da
61
FMC BA 36
42
determinao da vontade, Kant a analisa por via da relao entre faculdade
de apetio e entendimento
62
, com vistas a uma faculdade de apetio
superior, no caso da razo inevitavelmente
63
determinar a vontade. Ao seu
tempo, trataremos em pormenores a temtica da faculdade de apetio,
mencionamos este momento apenas para ressaltar a insistncia de Kant em
tentar confirmar, no sem prejuzos ao entendimento e s inclinaes, que a
razo possa por si s determinar suficientemente a vontade.
Entretanto, se aquela noo de vontade esboada na
Fundamentao - fosse considerada isoladamente, logo geraria algum
estranhamento. Nela, a relao entre razo e vontade no suficientemente
esclarecida, ou seja, no est claro como a razo poderia determinar
infalivelmente a vontade. Com efeito, nenhuma cogitao que respeite
apenas algumas passagens do texto kantiano poder suprir-nos de
elementos to fortes quanto se acompanharmos a prpria construo do
sistema moral, pois, no h em nenhum lugar uma deliberao acabada da
ralao entre vontade e razo prtica. Isso nos faz pensar que tal
problemtica acompanha a prpria construo do sistema.
Na terceira seo da Fundamentao, por exemplo, lemos que: a
razo ultrapassaria logo os seus limites se se arrogasse explicar como que
a razo pura pode ser prtica o que seria a mesma coisa que explicar como
possvel a liberdade.(FMC BA 121). Nota-se, sobretudo, o paralelismo
entre a idia de liberdade, a razo pura prtica e uma vontade purificada de
todo material sensvel. A idia de liberdade , de acordo com a Terceira
Antinomia, reconhecidamente insolvel do ponto de vista terico, e com ela
tambm a espontaneidade da razo, isto , o entendimento incapaz de
62
CRPr A 96
63
CRPr A 96
43
conceber como a razo pode determinar a vontade na independncia de um
mbil sensvel. Portanto, se fosse estabelecido que a razo pura suficiente
para determinar a vontade no apenas segundo a regra para um fim
exterior, mas a priori, tanto a autonomia da vontade quanto a liberdade
ficariam asseguradas.
1.3. A Razo Prtica
Na primeira seo da Fundamentao, Kant havia dissertado muito
sobre a necessidade da lei moral fundamentar-se sobre um dever
incondicionado
64
. Nesse momento j estava presumido que
A razo nos foi dada como faculdade prtica, isto
, como faculdade que deve exercer influncia
sobre a vontade, ento seu verdadeiro destino ser
produzir uma vontade, no s boa qui como
meio para outra inteno, mas uma vontade boa
em si mesma (FMC BA 6).
Esta uma passagem, por assim dizer, tanto problemtica quanto
fecunda. Problemtica porque, em primeiro lugar, envolve a idia de um
certo destino da razo, que seria o de produzir uma vontade boa em si
mesma. Em segundo lugar, porque Kant no esclarece suficientemente em
que consiste afirmar que a razo produz uma vontade boa. Mas, tambm
dissemos que ela fecunda precisamente porque coloca lado a lado estes
64
FMC BA 13
44
dois conceitos: o de um destino e o de produo da boa vontade.
Preliminarmente, poderamos dizer que, em termos gerais, a razo
torna-se prtica quando, dado os objetivos do agente, tem o papel de
formular regras que determinem a via mais eficiente para sua satisfao.
Mas, o que quer dizer Kant quando emprega o temo Destino, e ainda mais,
afirma haver um destino particular da razo que justamente o de ser
prtica? Na verdade este um tema com o qual Kant parece no se ocupar
em demasia, no obstante o estranhamento que possa causar o uso do termo
destino. Se no exagerarmos na interpretao, ento veremos em que
sentido (um tanto quanto alegrico) o termo apropriado peculiar
situao da razo. Essa situao , por assim dizer, o dilema em que ela se
encontra. Enfim, podemos dizer que esta situao da razo exposta por
Kant desde o prefcio da CRP, no qual o autor afiram que:
A razo humana tem um destino singular: ela se
sente importunada por questes a que no pode se
esquivar, pois elas so propostas pela prpria
natureza da razo; mas tambm no pode resolv-
las, j que ultrapassam toda a capacidade da razo
humana.(CRP A VII).
natural ambio da razo em estender ao mximo seus
conhecimentos, confronta-se o tambm natural limite da prpria razo.
Todavia, em que consiste tanto a ambio quanto os limites da razo?
No limiar de ambos, encontram-se as idias ou conceitos puros da
razo. Tais idias so desenvolvidas por Kant na CRP, na assim chamada
transio da Analtica para a Dialtica transcendental. Na primeira parte
(Analtica), Kant j havia estudado e encontrado a possibilidade e os
45
limites de todo o conhecimento. Todavia, eis porque a razo no est
restrita ao mbito do conhecimento de tal sorte que ela a faculdade que
distingue o homem de todas as coisas
65
. Ela capaz de formular conceitos
que extrapolam os limites da experincia e, embora essa sua capacidade a
ponha em conflito com o entendimento, revela
Uma espontaneidade to pura que por ela
ultrapassa de longe tudo que a sensibilidade pode
oferecer ao entendimento; e mostra sua mais
elevada funo na distino que estabelece entre
mundo sensvel e mundo inteligvel marcando
tambm assim os limites do prprio
entendimento.(FMC BA 108).
Logo, se inerente singular constituio da razo como atividade
prpria
66
, essa espontaneidade pura revela o fim da aparente obscuridade
do destino da razo. No desaparece, porm, a dilemtica condio da
razo, antes esta confirmada pela transgresso dos limites que ela mesma
imps ao seu uso terico.
A deduo da lei da moralidade a partir da idia de liberdade,
assumida em seu sentido positivo de autonomia da vontade, estabeleceria
um fim a este dilema
67
, de modo que, a espontaneidade da razo estaria
assegurada em seu uso prtico. Contudo, o problema est justamente em
que a lei moral no pode ser deduzida da idia de liberdade.
65
FMC BA 107.
66
A razo dita atividade prpria na medida em que no segue a ordem das coisas de tal modo que
com inteira espontaneidade criou para si uma ordem prpria (FMC BA 76).
67
ora idia da liberdade est inseparavelmente ligado o conceito de autonomia, e a este o princpio
universal da moralidade, o qual na idia estanha base de todas as aes de seres racionais como a lei
natural est na base de todos os fenmenos. (FMC BA 102).
46
Como vimos, a liberdade enquanto conceito puro da razo carece de
realidade objetiva, pois necessria apenas para o preenchimento de uma
lacuna da razo, isto , por uma necessidade inerente ao seu destino
particular de forma que nesta situao a liberdade no pode ser explicada e
tampouco negada. Ao contrrio, a causalidade segundo as leis da natureza
encontra sua comprovao na experincia emprica, todavia, a causalidade
por liberdade, uma vez que transcende o campo da experincia possvel,
ultrapassa qualquer possibilidade de prova por via de razo terica.
Se atravs do entendimento fica assegurada a impossibilidade que
qualquer prova do conceito positivo de liberdade, e ainda assim a razo,
para dar acabamento a seu sistema, necessita
68
de algum modo garantir a
realidadade da liberdade prtica. Para tanto Kant teve de incidir seu projeto
de fundamentao da tica no mais sobre o uso terico, mas, sobre o uso
prtico da razo.
Uma vez que a razo em seu uso especulativo nada pde decidir
quanto liberdade de nossa vontade, Kant prope que no se faa mais
especulaes
69
quanto possibilidade de se conhecer, no homem, alguma
faculdade que ateste a sua capacidade de determinar-se independentemente
do concurso de suas necessidades. Mas o reconhecimento da
impossibilidade de se conceber analiticamente a liberdade da vontade no
implica, de maneira alguma, o abandono do seu lugar na filosofia kantiana.
Tal situao tem, no final das contas, um carter de guinada, isto , de
mudana do modo de tratar o problema.
68
Segundo Kant h uma relao necessria da razo em fazer uso total do entendimento. , sem
sombra de dvidas essa mesma necessidade que a leva a tomar p firme em esferas que ultrapassam de
todo os limites do entendimento. (CRP BA 824).
69
FMC BA 123 CIT
47
2. A FACULDADE DE APETIO.
2.1. A Faculdade de Apetio Inferior
No prefcio da Crtica da Razo Prtica, Kant constata que em toda
filosofia anterior perpetuara uma definio meramente psicolgica
70
da
faculdade de apetio; e destaca a insuficincia de tal definio, uma vez
que esta propunha que o sentimento de prazer fosse colocado como
fundamento de determinao da faculdade de apetio (CRPr A 16).
Aceitar, pois, que somente o sentimento de prazer sirva de fundamento da
faculdade de apetio implicaria, ao mesmo tempo, em negar a
possibilidade da determinao a priori da vontade, de tal modo que a busca
da felicidade, antes descartada por Kant como fundamento moral,
recobraria toda sua fora. Ademais, isso significa retroceder ao
determinismo emprico e negar a possibilidade de qualquer ao livre. Mas,
no sendo determinada apenas pelo sentimento de prazer, a faculdade de
apetio pode ser, ento, definida como faculdade de ser mediante suas
representaes, causa da efetividade dos objetos dessa
representao.(CRPr A 16).
Na medida em que a representao de um objeto determinante da
ao tem um fundamento exterior ao sujeito que a pratica, portanto no
sentimento de prazer e desprazer, a faculdade de apetio determinada
por algo muito diverso do querer prprio do sujeito. Ora, toda satisfao
ligada ao sentimento de prazer sempre uma determinao exterior ao
70
Cf. CRPr A 16 e 17 nota.
48
sujeito, de maneira que para serem possveis aes morais a faculdade de
apetio deve encontrar um princpio de determinao absoluto, sem a
contingncia da empiria.
Na Anotao referente Definio I da Crtica da Razo Pura, Kant
retoma uma distino j feita na Fundamentao.
71
Ele distingue entre
determinaes subjetivas da vontade, denominadas mximas se a
condio for considerada pelo sujeito como vlida apenas para a vontade
dele (CRPr A 35), e proposies que determinam objetivamente a
vontade, isto , leis prticas se a condio for conhecida como objetiva,
isto , como vlida para a vontade de todo ser racional (CRPr A 35).
Seguindo essa distino, teramos que pensar a vontade como uma
faculdade que fosse, ao mesmo tempo, subjetiva e objetiva; todavia, a nica
maneira de assim proceder admitindo, como o fez Kant, que a razo pura
possa conter um fundamento praticamente suficiente para a determinao
da vontade (CRPr A 35).
Eis o que Kant chama de natureza particular
72
da faculdade de
apetio, sendo essa a particularidade de poder ser determinada tanto
heteronomamente (com vistas a um efeito esperado), quanto
autonomamente (imediatamente pela lei). Abdicando, pois, de toda
condio contingente, ou seja, de todo objeto que determine a faculdade de
apetio resta-lhe, no entanto, a pura forma da lei, que categoricamente
determina a vontade. Esta a condio necessria para que seja admitida
71
Na Fundamentao encontra-se a seguinte nota bastante esclarecedora: mxima o princpio
subjetivo do querer; o princpio objetivo (isto , o que serviria tambm subjetivamente de princpio
prtico a todos os seres racionais, se a razo fosse inteiramente senhora da faculdade de desejar) a lei
prtica. (BA 15 nota)
72
No que prtico a razo tem a ver com o sujeito, ou seja, com a faculdade de apetio, com cuja
natureza particular a regra pode conformar-se de mltiplos modos. A regra prtica sempre um produto
da razo porque ela prescreve como visada ao enquanto meio para um efeito. (CRPr A 36)
49
uma faculdade de apetio superior, de maneira que todas as regras
prticas materiais pem o fundamento determinante da vontade na
faculdade de apetio inferior e, se no houvesse nenhuma lei meramente
formal da vontade, que a determinasse suficientemente no poderia
tampouco ser admitida uma faculdade de apetio superior.(CRPr A 41).
Da possibilidade dessa faculdade que depende principalmente a garantia
de que a lei moral possa valer objetivamente.
2.2 A Faculdade de Apetio Superior.
Que a razo pura determine imediatamente a faculdade de apetio a
condio necessria para que se possa admitir a existncia em seres
racionais finitos, de uma faculdade de apetio superior, de tal sorte que
essa faculdade encontre seu objeto a priori na prpria determinao
racional. Na segunda crtica, Kant salienta a impossibilidade de encontrar
uma diferena entre a faculdade de apetio inferior e a faculdade de
apetio inferior com base na origem que as representaes, vinculadas ao
sentimento de prazer, tenham nos sentidos ou no entendimento.(CRPr A
41). Ou seja, o que est em jogo na determinao da faculdade de apetio
a impossibilidade de tomar o sentimento de prazer como critrio de
distino entre a faculdade de apetio superior e inferior, uma vez que a
forma superior dessa faculdade depende, necessariamente, da objetividade
de sua determinao; objetividade essa que no pode ser proporcionada
pelo sentimento de prazer, pois todo sentimento s vlido subjetivamente.
Nesse caso, tanto faz se a representao de um objeto apetecido, com base
no deleite que ele representa, venha do entendimento ou da sensibilidade.
Desde que o critrio da lei moral seja o prazer, esse critrio ser sempre e
50
inevitavelmente ligado ao objeto que produz a sensao de prazer, o que
caracteriza, por sua vez, a heteronomia da vontade.
A partir dessa posio, Kant critica todas as tentativas de
fundamentao da tica feitas at ento. Grosso modo, pode se dizer que a
crtica de Kant a tradio recai sobre o fato de que at ento se tentava
atribuir homogeneidade ao princpio de felicidade, pois embora a felicidade
seja necessariamente a aspirao de todo ente racional finito (CRPr A
45), essa necessidade apenas subjetiva, de maneira que a necessidade de
ser feliz , sobretudo, uma carncia
73
que necessita de objetividade. Alm
do mais, ter por base da moralidade uma carncia significa amputar do
homem a capacidade de autodeterminao e, conseqentemente, a
possibilidade de um conceito positivo de liberdade. Logo, se a felicidade
fosse suficiente para fundamentar a moralidade teria que conter, em todos
os casos e para todos os entes racionais, exatamente o mesmo fundamento
determinante da vontade. (CRPr A 46). Por conseguinte, tudo indica que a
razo pura pode, ou pelo menos tem de ser prtica, isso porque se no
houvesse nenhuma lei meramente formal da vontade, que a determinasse
suficientemente, no poderia tampouco ser admitida uma faculdade de
apetio superior.(CRPr A 46). E aqui, novamente desembocamos naquela
questo crucial, anteriormente referida, que perpassa toda a Crtica da
Razo Prtica e da qual depende a filosofia prtica kantiana. Estamos
diante de uma questo de saber quem determina a vontade a essa produo
de objetos, se unicamente uma razo pura ou uma razo empiricamente
condicionada.(ROHDEN, 1981, p. 120).
73
Esta carncia a que se refere Kant , pois, uma carncia do homem enquanto ser sensvel e no deve ser
confundida com a carncia da razo a partir de um fundamento determinante objetivo da vontade, a
saber, que brota da lei moral. CRPr A 49
51
3. A AUTONOMIA DA VONTADE COMO PRINCPIO SUPREMO DA
MORALIDADE.
A questo referente a quem produz na faculdade de apetio o objeto
que a determina, no final das contas, remete ao princpio ltimo da
moralidade, isto , autonomia da vontade, que vem sendo reiterado desde
o final da segunda seo da Fundamentao. Ora, temos ento que
pressupor que as condies de possibilidade de uma faculdade de apetio
superior so as mesmas da autonomia da vontade ou, antes ainda, que a
autonomia, uma vez provada a sua realidade como princpio supremo da
moralidade, garante, por conseguinte, a realidade objetiva da faculdade de
apetio superior.
Quando dizemos que a vontade est submetida apenas a uma
legislao que lhe prpria afirmamos que essa vontade capaz de assumir
uma lei, como uma causalidade prpria, no sentido de que ela (a vontade)
pode ser independente do curso da Natureza. Para Kant, isto possvel
desde que a vontade tire a lei que a determina somente da forma
legisladora das mximas (CRPr A 52) abstrada de toda condio material,
de maneira que restem apenas o princpio racional e a universalidade das
mximas
74
como critrio de tal lei.
Assim, a autonomia da vontade concorda perfeitamente com o
imperativo categrico formulado por Kant desde a segunda seo da
fundamentao e destinado a ser o critrio ou a frmula que deve sobrepor
74
Cf. FMC BA 35. CRPr A 35.
52
todo juzo moral. A forma da lei, abstrada de toda matria, e a
universalizao, so justamente as bases deste imperativo. Ento,
poderamos seguramente afirmar que ao ordenar a universalizao das
mximas abstradas de seu elemento material, o imperativo categrico, j
pressupunha essa faculdade da vontade, segundo a qual ela quem formula
sua prpria lei. De tal sorte que o imperativo categrico no manda nem
mais nem menos do que precisamente essa autonomia (FMC BA 88). Pois
somente nestes termos possvel uma lei prtica incondicionada, quer
dizer, uma lei que tenha como nico embasamento este princpio
incondicionado que se chama autonomia da vontade. Alem do mais, a
autonomia da vontade fornece definio de liberdade algo que no se
podia esperar em toda argumentao anterior, principalmente na primeira
crtica.
O principio de autonomia da vontade torna possvel um conceito
positivo de liberdade que, a partir da, s precisa ser confirmado pela lei da
moralidade. Contudo, no contexto da Crtica da Razo Pura, sob o ponto
de vista da razo especulativa, a liberdade transcendental era vista como
um problema para a razo (CRP B 30). A razo poderia, no entanto,
pressupor sempre a sua coexistncia
75
com a causalidade por leis naturais e
torn-la possvel a partir da distino entre fenmeno e numeno
76
.
Desde um ponto de vista prtico, porm, a liberdade pensada a
partir da independncia do arbtrio e, sobretudo pressupondo a existncia
de uma faculdade de se determinar por si mesmo independentemente da
75
importatne notar que desde a CRP um fundamento transcendental, isto , baseado numa lei pura que
deva ser dada pela razo, deve ser pressuposta como base da moralidade, assim lemos que, leis puras
cujo fim dado completamente a priori pela razo e que comandam, no de maneira empiricamente
condicionada mas absolutamente (CRP B 828).
76
Desde a CRP o nico mundo inteligvel admissvel o mundo moral, em cujo conceito fazemos
abstraes de todos os obstculos a moralidade (CRP B 592) Cf. Captulo 1
53
necessitao por impulsos sensveis. (CRP B 572). Esta , em resumo, a
definio negativa de liberdade, denominada assim porque no diz o que
a liberdade, mas retirada da negao da causalidade natural enquanto
determinao absoluta do agir humano. Todavia, essa mesma definio j
aponta para um possvel conceito positivo de liberdade que deve ser
buscado em uma faculdade de determinar-se a si mesma em outras
palavras, o que Kant chamar posteriormente de autonomia.
Fica dito, ento que na CRP Kant aponta para a autonomia mas no
chega a descobrir seu significado, sua origem que , como sabemos a auto
legislao da vontade que dada a priori pela razo prtica
77
. , com
efeito, somente na Fundamentao com o processo de anlise que
culminou na descoberta do imperativo categrico e, sobretudo, com o
conceito de autonomia da vontade como uma espcie de auto-legislao
que Kant pode dar uma definio positiva para o conceito de liberdade.
Outro aspecto que convm ressaltar a respeito da autonomia da
vontade, seu carter auto-legislativo, isto , de soberano e sdito de suas
prprias leis. Esta a particularidade que permite denominar tal vontade de
autnoma, pois enquanto ela est submetida lei moral no h nela
sublimidade alguma; mas h na medida em que ela ao mesmo tempo
legisladora em relao a essa lei moral e por isso lhe est subordinada
(FMC BA 86). Ora, somente essa vontade, que nada requer da experincia
como objeto de sua determinao, e que, por conseguinte, se outorga tanto
o papel de sdito quanto de soberano, pode conferir um significado
77
Podemos tornar-nos conscientes de leis prticas puras do mesmo modo como somos conscientes de
proposies fundamentais tericas puras, na medida em que prestamos ateno necessidade com que a
razo as prescreve a ns e elimonao de todas as condies empricas, a qual aquela nos remete. O
conceito de vontade pura surge das primeiras, assim como a conscincia de um entendimento puro, do
ltimo. (CRPr A 53).
54
definio positiva de liberdade.
Com todos esses atributos, o conceito de autonomia adquire um
lugar relativamente fundamentao da moralidade que ascende da sua
pressuposio com auto-legislao da vontade situao de nico princpio
possvel a ser confirmado como fundamento ltimo da lei moral. Isto se d
principalmente porque s o princpio de autonomia capaz de conferir um
sentido positivo liberdade; de modo que liberdade e autolegislao da
vontade so, em ltima instncia, idnticas
78
. A afirmao da autonomia
enquanto nico princpio necessrio para a moralidade est, por assim
dizer, ancorada principalmente na oposio entre autonomia e heteronomia.
heternoma toda e qualquer determinao exterior a vontade logo,
Quando a vontade busca a lei, que deve
determin-la, em qualquer outro ponto que no
seja a aptido de suas mximas para a sua prpria
legislao universal, quando, portanto passando
alm de si mesma, busca essa lei na natureza de
qualquer um de seus objetos, o resultado ento
sempre heteronomia (FMC BA 88).
Enfim, o caso que todos os preceitos que precisam buscar sua
determinao na matria das mximas, apesar de serem preceitos prticos
so sempre condicionados. So preceitos prticos porque a partir deles
sabemos como, ou pelo menos estamos em condies de orientar nosso
agir, desde que assumamos como finalidade os objetos para o qual eles se
78
Sobre esta questo nos parece de grande importncia a contribuio de Beck , assim, em seu texto ...
ele destaca que: se um ser racional segue um princpio formal ele o faz em conseqncia da liberdade de
sua vontade frente a determinaes empricas. Sendo que uma vontade requer alguma lei para sua
determinao, este ser tem que seguir uma lei no dada para sua vontade pela natureza; esta pode ser
apenas uma lei dada completamente pela razo que trabalha sobre dados empricos. Por isso, a vontade
tem que ser livre tambm positivamente, isto , enquanto autonomia P. 122/123.
55
destinam. Da serem todos eles sempre condicionados. Assim, por
necessitarem sempre de estipular uma matria para o querer dizemos que
eles no servem de base para nenhuma lei universal.
3.1. Sobre a Impossibilidade da Deduo do Princpio Supremo
da Moralidade.
Como vimos no item anterior, Kant chega analiticamente a conceber
o princpio supremo da moralidade sem, no entanto, confirm-lo. Vimos
tambm que este princpio o nico que concorda perfeitamente tanto com
o imperativo categrico quanto com o conceito negativo de liberdade.
Alm do mais, a autonomia da vontade, uma vez confirmada como
propriedade de todo ser racional, o nico princpio capaz de preencher os
requisitos para um conceito positivo de liberdade.
Todavia, o que Kant deduziu, e o que era possvel deduzir, foi
somente que a autonomia da vontade o nico princpio que satisfaz todas
as exigncias necessrias ao princpio supremo da moralidade e, em
decorrncia disso, que temos que pressup-la se quisermos pensar um ser
como racional e com conscincia de sua causalidade a respeito de suas
aes (CRPr BA 102).
Que a liberdade da vontade, isto , sua autonomia, tenha que ser
necessariamente pressuposta se quisermos pensar um ser racional
autnomo, ou seja, um ser auto-determinado por leis de sua prpria
racionalidade no basta para demonstrar a liberdade como algo real
(FMC BA 102). Nesse caso, a prpria conscincia da lei moral tem de ser
56
pressuposta. Assim, a questo como demonstrar que a autonomia da
vontade possa ser um princpio no apenas sistematicamente coerente, isto
, bem formulado, mas, acima de tudo, capaz de determinar a vontade de
seres racionais sensveis de tal sorte que se possa produzir uma obrigao
moral, ou nas palavras de Kant,
Como o simples princpio da validade universal
de todas as suas mximas como leis (que seria
certamente a forma de uma razo pura prtica),
sem matria alguma (objeto) da vontade em que
de antemo pudesse tomar-se qualquer interesse,
possa por si mesma fornecer um mbil e produzir
um interesse que pudesse chamar-se puramente
moral; ou, por outras palavras: como uma razo
pura possa ser prtica explicar isso, eis o de que
toda razo humana absolutamente incapaz; e
todo esforo e todo trabalho que se empreguem
para buscar a explicao disto sero perdidos
(FMC BA 124\125).
Neste caso, explicar como a razo pura pode ser prtica pressupunha
uma tentativa de deduo, tal qual fora feita na CRP com as categorias, o
que, porm se afigura impossvel. No caso das categorias, enquanto
conceitos puros do entendimento, a sua deduo se fez possvel mediante a
referncia ao mundo fenomnico, isto , aos objetos de uma experincia
possvel, o que no possvel para a lei moral. Pelo contrrio, a lei moral
deve, como fica claro pela prpria distino entre autonomia e heteronomia
da vontade, encontrar sua validade de maneira totalmente a priori.
Neste momento, Kant faz referncia tambm questo do interesse.
Todavia, no primeiro captulo vimos que a partir da Fundamentao era
possvel sempre questionar como pode o ser racional sensvel, sem agir por
57
interesse, tomar interesse. Porm gora Kant parece apontar na direo de
um esclarecimento, a saber, de como pode o homem tomar interesse pela
lei moral sem fazer deste interesse o fundamento da validade de tal lei.
Talvez seja o caso de cessar toda tentativa de deduo do princpio
supremo da moralidade e apresentar a questo de uma forma diferente.
Assim, o que tem de ser investigado agora, segundo as prprias palavras de
Kant, como o princpio da validade de todas as suas mximas (da razo)
como leis seja capaz de, por si mesmo, fornecer um mbil e produzir um
interesse que possa ser chamado de puramente moral. Eis em que a
deduo se torna impossvel.
3.2. Sobre o Factum da Razo.
A partir da Crtica da Razo Prtica a maneira como Kant aborda o
problema da fundamentao da moralidade sofre uma mudana
significativa. Na verdade, j na terceira seo da Fundamentao Kant
percebera a impossibilidade de uma deduo do conceito positivo de
liberdade, apesar da necessidade de fundar a lei da moralidade sobre este
conceito. No final da terceira seo da Fundamentao, Kant j havia se
decidido pela renncia tentativa de tal deduo, mas, somente na segunda
crtica que ele formular uma nova maneira de conceber a lei,
renunciando at mesmo a necessidade de uma deduo a priori desta. No
obstante a aparente tentativa de deduo da lei da moralidade, na primeira
parte da segunda crtica o autor introduz, um tanto quanto repentinamente,
uma nova figura de argumentao: pode-se denominar a conscincia dessa
58
lei fundamental um factum da razo, porque no se pode sutilmente inferi-
la de dados antecedentes da razo, por exemplo, da conscincia da
liberdade (CRPr A 55).
Neste texto, no entraremos diretamente no mrito da discusso
acerca do factum da razo, apenas destacaremos esta figura de
argumentao que, apesar do estranhamento que causa, no deixa de ser
sistematicamente coerente. No se pode confundir o factum da razo com o
prprio princpio da moralidade, ou seja, a autonomia da vontade ou com a
lei moral formalizada expressa pelo imperativo categrico. No o factum,
para usar uma figura bem kantiana, o fecho da abbada
79
do edifcio moral,
pois, este fecho a liberdade
80
positivamente confirmada pela lei moral,
que d sustentao e acabamento a todo o edifcio tico.
Ora, se a lei moral no pode ser deduzida a partir da idia de
liberdade e, muito menos, estar alicerada em sentimentos, ou mesmo na
busca da felicidade, ento a constatao de que a lei no apenas uma idia
vazia depende, pois, de um fato, qual seja, o Factum der Vernunft (fato da
razo).
Embora o fato da razo no signifique, pelo menos primeira vista,
uma melhor explicao da moralidade, no tem diminuda a sua
importncia, sobretudo para a efetivao da lei moral. Apesar da
impossibilidade humana de, a partir do uso do entendimento compreender
como a razo pura, sem a afeco da sensibilidade, produz uma lei que se
impe a priori conscincia, Kant acredita que pode pelo menos verificar
os efeitos dessa lei no ser humano. Ou seja, em decorrncia do fato da
razo, como um fato da conscincia da lei moral, que Kant pensa, com
79
CRPr A 4
80
CRPr A 4
59
maior clareza, conceitos como o de respeito, bem como torna
compreensvel de que maneira o homem, sem agir por interesse, toma
interesse pela lei moral.
Sendo, pois, a deduo transcendental restrita ao uso terico da
razo
81
resta a Kant somente investigar se algum outro caminho no
possvel, ou seja, se a lei moral no capaz de comprovar por si mesma a
sua realidade e, por conseguinte, a realidade necessria da liberdade
enquanto sua ratio essendi. Ora, no coroamento desse processo que Kant
introduz o factum da razo
82
. Com efeito, embora a lei da moralidade no
tenha garantido a sua realidade analiticamente, Kant faz notar que a lei
moral no impossvel, ou seja, que uma tal lei pode sempre ser pensada
sem contradio.
Enfim, mostrar que possvel, e sobretudo coerente pensar uma razo
que por si mesma determina a vontade, o mximo que Kant pode chegar
analiticamente desde a formulao do princpio de autonomia da vontade.
Se, por um lado, a deduo esbarra nos limites da razo, por outro , essa
lei, uma vez que ela existe, no deve precisar ser deduzida, assim como a
razo no necessita de nenhum outro mbil para determinar a vontade,
alm, claro da autoconscincia de uma razo pura prtica (CRPr A 52).
Sendo assim,
Pode-se denominar a conscincia dessa lei
fundamental um factum da razo, porque no se
pode sutilmente inferi-la de dados antecedentes da
razo, por exemplo, da conscincia da liberdade
81
A lei moral dada quase como um factum da razo pura, do qual somos conscientes a priori e que
apoditicamente certo, na suposio de que tambm na experincia no se podia descobrir nenhum
exemplo em que ela fosse exatamente seguida (CRPr A 81).
82
CRPr A 55-6.
60
(pois esta conscincia no nos dada
previamente), mas porque ela se impe por si
mesma a ns como uma proposio sinttica a
priori, que no fundada em nenhuma intuio
(CRPr A 56).
Embora pudssemos interpretar que somente a conscincia da lei
moral se constitui em um factum, Kant afirma claramente, na seqncia,
que para considerar essa lei como inequivocamente dada, precisa-se
observar que ela no nenhum fato emprico mas o nico factum da razo
pura, que deste modo se proclama como originariamente legislativa (CRPr
A 56). Assim, Kant parece hesitar ao considerar o factum da razo, ora com
a conscincia da lei moral, ora com a prpria lei dada a priori. Porm,
estamos certos de que uma interpretao coerente do factum deve levar em
conta aquilo que ele realmente confirma, a saber, a validade da lei moral
83
.
Ora, conscincia da lei moral um fato da razo justamente porque
no pode ser deduzida nem justificada por qualquer outro elemento, nem
mesmo pela conscincia da liberdade, pois, como vimos a respeito da
autonomia da vontade, a liberdade s tem que ser pressuposta
necessariamente se quisermos pensar um ser com conscincia moral
84
.
Eis, porm, que para ter conscincia de alguma coisa necessrio atribuir a
ela existncia, isto , no se pode ter conscincia de algo sem a sua
realidade. Assim, possvel afirmar, desde o factum da razo que a
prpria lei moral que se nos impe por si mesma como proposio
sinttica a priori que no est fundada em nenhuma intuio, nem pura nem
emprica (CRPr A 56). Com isso parece certo o que afirmamos
83
HAMM, 2001, p. 60.
84
HAMM, idem, ibidem.
61
anteriormente, ou seja, que o factum expressa, sobretudo, a realidade da lei
moral. Encontramos tambm em Beck uma corroborao deste ponto de
vista, pois segundo ele, somente uma lei dada pela razo para si mesma
pode ser conhecida a priori pela razo pura e ser um facto( BECK, 1984, p.
169).
importante notar ainda que o factum da razo no pode ser
confundido simplesmente com uma conscincia emprica da lei moral, isto
, com a forma como a lei moral pode afetar psicologicamente uma
pessoa, pois dessa forma a lei moral perderia seu carter de lei
necessria. Nesse caso, estaramos em plenas condies de julgar
moralmente ou pelo menos em conformidade com a lei moral, mas no
seramos, necessariamente, obrigados por ela. Logo, a lei moral seria, em
ns, algo contingente. Ento, a partir da afirmao do carter no emprico
do factum como nico factum da razo pura no como uma explicao,
mas, insistimos nisso, uma confirmao tanto da realidade quanto da
incondicionalidade da lei moral enquanto a razo representa essa lei como
um princpio de determinao sobre o qual no deve preponderar nenhuma
condio sensvel e que totalmente independente de tais condies
(CRPr A 53).
Em resumo, o factum j no tem por objetivo a busca do princpio
supremo da moralidade, pois este foi encontrado na autonomia da vontade
85
ou, o que d no mesmo, no conceito positivo de liberdade, como fica
evidente a partir de vrias passagens da Fundamentao e da Crtica da
Razo Prtica. O factum justamente a instncia pela qual a lei moral
prova, por si mesma, a sua realidade, isto , a sua existncia para seres
85
FMC BA 87,88,109. CRPr 58s, 72-3s, 226.
62
dotados de razo e vontade, embora estes possam sempre seguir outros
preceitos.
63
Captulo III
O INTERESSE PELA MORALIDADE
1. O CONCEITO DE INTERESSE PRTICO.
O interesse designa um princpio que serve de base para o exerccio
de uma faculdade. A razo , pois, a faculdade dos princpios que
determina o interesse de todas as faculdades do nimo, mas determina a si
prpria o seu (CRPr A 216). Porm, s se diz que possui interesse um ser
que , ao mesmo tempo, racional e sensvel, pois, como veremos adiante,
interesse sempre a dependncia
86
que um ser, afetado sensivelmente,
encontra diante da razo. Da que, para falarmos de interesse moral,
necessrio saber como a razo de tal ser, enquanto razo pura, determina
seu prprio interesse.
87
Contudo, se faz necessrio, antes de qualquer coisa, compreender
como o interesse inserido no sistema kantiano at, por fim, chegarmos
noo de interesse pratico, com o qual trabalharemos no sentido de
compreender o que torna possvel afirmar que h no ser humano um
interesse pelo agir moral, no obstante esse interesse no sirva de
fundamento s aes morais.
Na Seo Segunda Do Cnone da Razo da Crtica da Razo Pura,
86
FMC BA 39 nota.
87
O interesse no uma condio essencial da prpria razo mas pensado como algo inerente a ela
enquanto seja a razo de um ser finito e, portanto, enquanto seu uso deva ser sempre ampliado. Assim:
s a ampliao e no a simples concordncia consigo mesma computada como interesse da razo
(CRPr A 216).
64
encontra-se uma passagem onde Kant afirma que
todo interesse da minha razo (tanto o
especulativo quanto o prtico) concentra-se nas
trs perguntas seguintes:
O que posso saber?
O que devo fazer?
O que me permitido esperar? (CRP B 833).
Desde a crtica da razo pura Kant destacava dois tipos de interesses
fundamentais razo: o interesse especulativo, que conduz pergunta
acerca da possibilidade de conhecer, e o interesse prtico, que incide sobre
a determinao do agir e a possibilidade da vontade ser livre. Porm, o
mximo interesse da razo prtica est na liberdade
88
, isto , a razo revela
sob o conceito positivo de liberdade uma independncia da sensibilidade
que no seu uso especulativo no era possvel.
Quanto ao interesse terico, se torna latente a questo referente aos
limites do conhecer, isto , qual a real extenso desta capacidade quando
aplicada ao domnio da natureza. Embora no possamos entrar em detalhes,
parece-nos interessante salientar que, ao menos para Kant, esta questo
pode ser satisfeita a partir dos resultados a Crtica da Razo Pura.
A referncia ao interesse prtico na Crtica da Razo Pura revela
que, desde sua primeira obra crtica, Kant admite que a razo toma
interesse por assuntos que esto alm do simples interesse terico.
Ademais, o interesse da razo tem a ver, sobretudo, com a base do projeto
crtico kantiano fundamentado na autonomia, ou seja, a sada do homem
88
Tentaremos seguir um pouco o pensamento de Valrio Rohden , que considera o interesse da razo
pela liberdade a condio de seu conhecimento prtico. De maneira que o interesse pela liberdade
significa, ento, que o homem conhece a sua liberdade, enquanto se deixa determinar praticamente por
ela. ROHDEN, 1981, p. 85. cf. CRPr A 213.
65
da sua menoridade da qual ele prprio culpado (RI A 481). Este , pois,
o terreno prprio, no apenas da possibilidade, mas, sobretudo, da
necessidade da emancipao do pensamento humano, emancipao esta
que, para Kant, s ser possvel se aceitarmos, ao menos como pressuposto,
que a razo possa desenvolver um interesse que , fundamentalmente, um
interesse pela auto-legislao da vontade . Portanto, a sada do homem da
menoridade seria, sobretudo, o resultado do mximo interesse prtico da
razo, isto , ele condiz com o interesse que a razo, desde que seja a razo
de seres finitos
89
, possui em ampliar ao mximo seu uso.
1.1. Sobre o Primado da Razo Pratica.
Na relao entre os usos da razo, o uso prtico deve ter o primado
sobre o especulativo. Quer dizer, o uso pratico que deve servir de base
para o uso terico, pois, antes de qualquer coisa a razo possui um uso
prtico e somente a partir deste seu uso ela tambm terica.
Para compreender como isso se passa, preciso destacar que o
interesse uma propriedade de seres racionais finitos e, para diferenci-lo
da simples inclinao, dizemos que algo interessa mediante algum
princpio da razo, isto , desde que encontremos razes (motivos) para
dizer que algo interessa. Todavia qualquer interesse especulativo nunca
89
A seres puramente racionais no se poderia atribuir nenhum interesse pois, em primeiro ligar, o
interesse no uma condio necessria para se pensar a razo e, portanto, s pode ser pensado como
interesse da razo quando ela possa ser ampliada, ou seja, como razo de um ser incompleto (cf. CRPr A
216). Em segundo lugar, o prprio conceito de interesse, tal qual os conceitos de mxima e motivo,
aplicam-se unicamente a seres finitos. Pois eles pressupem sem seu conjunto uma limitao de um ente,
uma vez que a condio subjetiva de seu arbtrio no concorda por si mesma com a lei objetiva de uma
razo prtica. CRPr A 141.
66
imediato, mas pressupe sempre propsitos de seu uso (FMC BA 122).
Ou seja, o conhecimento interessa na medida que em que bom para
algo
90
, isto , segundo um conceito da razo que designa uma utilidade,
mas no como sendo bom em si mesmo, independente de qualquer
utilidade. Isso quer dizer que, em ltimo caso, todo uso terico da razo
pode ser considerado apenas mediatamente bom, isto , interessa ao homem
com a condio de satisfazer pelo objeto do conhecimento e no em si
mesmo.
Afora tudo o que possa interessar por ser til, o interesse da razo,
como aquilo que a torna prtica, somente o interesse que ela tem em sua
ampliao
91
. Porm, o uso especulativo encontra barreiras
92
ao querer
ampliar-se ao mximo e transcender o mundo fenomnico, ou seja,
barrada sua pretenso de estender-se alm dos objetos dados
empiricamente. Contudo, se tais barreiras limitassem no apenas a razo
especulativa mas tambm a razo prtica Kant teria, de bom grado, que
admitir que a razo prtica estaria subordinada a razo especulativa.
A insubordinao da razo prtica frente s barreiras que delimitam
seu uso terico fora reconhecida desde a Crtica da Razo Pura,
principalmente a partir da idia de liberdade da vontade
93
. No entanto, esta
posio s pode ser confirmada com o reconhecimento da lei da moralidade
90
Adiante trabalharemos mais detidamente na distino entre o Bom e o Agradvel e entre o Bom em si.
Cf. CRPr A 102, 103ss.
91
Aquilo que requerido para a possibilidade de um uso da razo em geral , a saber, que os princpio e
afirmaes da mesma no tm de contradizer uns aos outros no constitui nenhuma parte de seu interesse
mas a condio geral para se ter uma razo; s a ampliao e no a simples concordncia consigo
mesma computada como interesse da razo (CRPr A 216).
92
Preferimos usar o termo barreiras em vez de limites, tendo por base distino feita por Kant nos
Prolegmenos quando ele aborda criticamente a posio ctica de Hume. O termo limite pressupe
sempre um espao que encontrado fora de um certo lugar determinado e o compreende (Pr AK 352).
Barreiras, porm, so meras negaes que afetam uma grandeza enquanto ela no possuir inteireza
absoluta (Pr A 352).
93
Pretendemos ter tratado de maneira satisfatria este problema no item A Razo Prtica no segundo
captulo. Cf CRP A VII.
67
como um Factum, isto , no momento que a razo pura pode ser por si
prtica, e efetivamente o , como a conscincia da lei moral acusa (CRPr
A 218).
Contudo uma e a mesma razo que julga tanto teoricamente quanto
praticamente, de modo que, a conscincia da lei moral (mediante um
Factum) por um lado acusa a inpcia do uso especulativo da razo em
relao a assuntos eminentemente prticos, e, por outro, dispensa a razo
terica do trato de questes prticas. Assim, apenas ao uso prtico da razo
reservado o direito de estender ao mximo o interesse em sua
ampliao
94
.
O primado da razo pratica sobre a especulativa assim justificado
pela ordem do interesse que se conecta com cada uma. Kant dir, pois, que
todo interesse por fim prtico e mesmo o interesse da razo especulativa
somente condicionado e somente no uso pratico completo (CRPr A
219). Pois, todo o interesse puro da razo s possvel na medida que no
revela nenhuma dependncia da sensibilidade, de maneira que, o prprio
interesse da razo depende da autonomia expressa pela nica lei que a
prpria razo se impe, isto , a lei moral.
1.2 A Dificuldade de Conceber um Interesse Prtico.
Nosso trabalho, desde o princpio, pautou-se na tentativa de
94
Todavia, se a razo pura pode ser por si prtica, e efetivamente o , como a conscincia da lei moral o
acusa, ento se trata sempre de uma e a mesma razo que, seja de um ponto de vista terico ou prtico,
julga segundo princpios a priori, e com isso fica claro que, embora sua faculdade, do primeiro ponto de
vista, no baste para estabelecer afirmativamente certas proposies, que, no entanto, tampouco a
contradizem, to logo essas mesmas proposies pertenam inseparavelmente ao interesse prtico da
razo pura CRPr A 218. ( grifos de Kant)
68
compreender como o homem pode, a despeito de todo interesse que o
impele a agir de acordo com suas inclinaes, tomar interesse pela
simples forma de uma lei pura representada pelo imperativo categrico.
Na Segunda Seo da Fundamentao quando Kant chega
analiticamente ao conceito de imperativo categrico, como a frmula de
um mandamento da razo
95
, conseqentemente, ele conclui que todo
imperativo exprime um dever, isto , a relao de uma lei objetiva da razo
com uma vontade que necessita de outros motivos (mbiles sensveis),
alm da regra racional, para determinar-se ao. O imperativo categrico,
porm, no pode encontrar sua validade por meio de nenhum interesse e,
no entanto, desde que seja vlido para seres finitos, deve poder interessar
de alguma maneira. Dito de outro modo, o imperativo exprime a idia de
um dever puro, por isso categrico, que no se conecta com a satisfao de
nenhum interesse pelo objeto da ao, mas tem como nico motivo a lei
96
expressa pelo imperativo, sendo difcil conceber que interesse pode
despertar no ser humano.
Para respaldar a idia de que o homem capaz de agir no apenas
determinado por interesses, mas, em um ato livre, capaz de tomar
interesse pela lei moral, Kant usa a distino entre o bom e o agradvel
97
.
Esses conceitos, que adiante exploraremos melhor, so discutidos por ele
tanto na segunda crtica quanto na terceira crtica. bvio, para Kant,
que se pode distinguir entre o que praticamente bom porque determina
95
FMC BA 38.
96
FMC BA 39 nota .
97
Essa distino feita inicialmente na CRPr A 102-103 e sempre retomada na Crtica do juzo, como
nesta passagem: Para considerar algo bom, preciso saber sempre que tipo de coisa o objeto deva ser, isto
, ter um conceito do mesmo. Para encontrar nele beleza, no o necessito. Flores, desenhos livres, linhas
entrelaadas sem inteno sob o nome de folhagens no significam nada, no dependem de nenhum
conceito determinado e no entanto aprazem CJ B 11ss
69
a vontade por meio de representaes da razo [e portanto] por princpios
que so vlidos para todo ser racional como tal e o que simplesmente
agradvel porque influi na vontade por meio da sensao.
Aludimos a essa distino porque nos parece que ela torna mais clara
a diferena entre interesse e inclinao. denominada propriamente
inclinao a dependncia da faculdade de apetio em relao sensao,
de maneira que a inclinao prova sempre uma necessidade (FMC BA
39) no sentido de necessitao sensvel. Todavia, a dependncia que a
vontade de um ser sensvel encontra frente a razo o que se pode chamar
de interesse
98
.
a partir dessa dependncia da vontade com relao razo que,
mais tarde, Kant poder identificar o interesse como aquilo porque a razo
se torna prtica, isto , se torna uma causa determinante da vontade (FMC
BA 122 nota). Tambm na Crtica do Juzo essa definio corroborada.
Nessa obra, o interesse assumido como a complacncia que ligamos
representao da existncia de um objeto (CJ B 5). Nesse caso a
referncia a representao da existncia de um objeto que liga o interesse
faculdade de apetio, uma referencia feita certamente vontade como
faculdade de representao de leis.
Mas a relao entre o interesse e a determinao moral, mais
precisamente, entre interesse e autonomia da vontade conduz a um impasse
que se apresenta na questo de como uma vontade autnoma, portanto, no
determinada por nenhum interesse, pode ainda interessar-se pela lei moral?
Este impasse, como ousamos afirmar desde o incio de nosso trabalho, s
encontrar um desfecho favorvel a partir da confirmao, na segunda
98
FMC BA 39 nota
70
crtica, da realidade da lei moral. Isso parece estar implcito j na
Fundamentao quando Kant afirmava que a vontade humana seria capaz
de agir no apenas por interesse, quer dizer, determinada pelo interesse
patolgico no objeto da ao (FMC BA 39 nota). Todavia, no sendo o ser
racional sensvel capaz de agir sem interesse, a vontade deve ser capaz de
tomar interesse somente pela ao destituda de seu objeto. No final das
contas, isso significa que a simples forma da lei, representada pelo
imperativo categrico, deve poder interessar a vontade humana, desde que
seja ela simplesmente razo pura prtica.
2. A FUNDAMENTAO DO INTERESSE NA AUTONOMIA.
No primeiro captulo procuramos dar nfase incompatibilidade
entre a determinao autnoma da vontade e a sua determinao por
interesses. Contudo, sempre esteve claro que, por mais que as aes
moralmente boas no possam encontrar uma fundamentao independente
de qualquer interesse este uma condio de possibilidade do prprio agir
humano. O conceito de interesse, como vimos, revela a dependncia que
todo ser racional e sensvel possui em relao razo. A partir da,
percebemos ento que nem todo interesse , em si mesmo, antagnico
autonomia, no entanto, todo agir por interesse estranho auto-legislao
da vontade. Queremos agora explorar essa situao do interesse em relao
autonomia. Pois, chegamos a concluso que o agir moral deve conter
algum interesse, desde que sejam seus agentes seres finitos. Contudo, o
71
simples interesse pela moralidade no pode ser o fundamento da lei que
determina o agir moral. Logo, todo interesse pelo agir moral deve vir da
prpria lei que determina tal ao.
O que temos que investigar , sobretudo, como a lei moral,
formalizada pelo imperativo categrico, ao mesmo tempo que exclui o
interesse da determinao do agir moral, pode ser ela mesma condio de
todo interesse que o homem toma pela moralidade. Essa questo
acompanha o texto kantiano desde a Fundamentao. Num subttulo da
terceira seo
99
, ao qual j nos referimos anteriormente, Kant ratifica a
necessidade de admitir que toda ao moral no se d sem interesse sem,
contudo, ter que admitir que o prprio interesse me impele a isso (FMC
BA 102). Que o interesse no seja o fundamento determinante da lei moral
e sim ela seja a condio de todo interesse
100
.
Afirmamos que o interesse prtico difere de todos os demais
interesses. Isso ocorre porque desde que seja o interesse a dependncia de
princpios racionais ele sempre dependncia para algo. justamente esse
tipo de interesse que se torna estranho ao princpio fundamental da
moralidade, isto , autonomia, de sorte que, preciso conceber que a
vontade seja capaz de um interesse tal que dependa apenas de princpios
racionais, caso haja algum interesse genuinamente moral. Ao contrrio,
todo interesse que comumente tomamos em uma ao s possvel, na
medida em que algum objeto se apresente como objeto do interesse. Isso
ocorre, por exemplo, quando assumimos em nossas mximas imperativos
99
Do Interesse que Anda Ligado s Idias de Moralidade (FMC BA 102ss)
100
se a mxima por um lado, funda-se sobre um conceito de interesse, e se, por outro um agente moral
autnomo no pode colocar nenhum interesse como fundamento da mesma, ento a lei, ou mais
precisamente a conscincia dela, tem que ser a autora da produo do interesse por mximas morais. O
interesse da resultante o interesse, em sentido novo, originado de nossa liberdade na ao moral
(ROHDEN p.73)
72
hipotticos, pois, nesse caso a dependncia da vontade em relao a
princpios da razo sempre em favor do interesse . Nesse caso podemos
dizer que as regras que a razo prescreve ao sujeito tm sua validade
justificada na medida em que possam satisfazer tais interesses.
No entanto, o interesse moral, como vimos, em nada pode se
equiparar aos interesses vlidos a partir da heteronomia da vontade.
Enquanto aqueles interesses eram a condio da validade das regras
heternomas este, digo, o interesse moral, tem de ser a conseqncia da lei
que se impe conscincia de todo ser racional, isto , ele deve ser o
resultado da efetivao da lei e no a sua condio. Todavia, se a lei moral
no vlida por que interessa, mas, interessa porque vlida, ento, cabe a
pergunta feita por Kant na terceira seo da Fundamentao: donde
provm que a lei moral obrigue (FMC BA 104).
2.1. A Impossibilidade de Explicar o Interesse que o Homem
Toma pela Moralidade.
Como sabemos, na Fundamentao, Kant afirma que interesse
justamente aquilo por que a razo se torna prtica, isto , se torna causa
determinante da vontade (FMC BA 122). Desta definio de interesse
necessrio destacar duas conseqncias. Primeiramente, s um ser racional
capaz de tomar interesse; e, posteriormente, o interesse pode ser
considerado como interesse puro quando a razo s toma interesse
imediato, e impuro quando a razo s pode determinar a vontade por meio
de um outro objeto do desejo.
73
A dificuldade de explicar tal interesse, afirma Kant, idntica a
dificuldade que torna impossvel explicar subjetivamente a liberdade da
razo
101
. Subjetivamente, quer dizer explicar como ela pode ser no apenas
uma idia vlida para seres racionais em geral, de modo que ela tem de ser
o fundamento de uma lei que, efetivamente, determine a vontade de seres
que no agem de acordo com uma lei s porque ela racional . A no ser
que a idia de autonomia da vontade encontre uma sustentao que no
dependa de qualquer interesse, quer dizer, que ela por si mesma seja capaz
de produzir um sentimento
102
determinante para a vontade humana.
Talvez pudssemos retirar da idia de liberdade uma noo nova de
interesse, a saber, como algo necessrio ao homem enquanto inteligncia.
Pois, considerado como um ser que no pertence apenas ao mbito do
mundo fenomnico, e, portanto, como ser racional
o homem no pode pensar nunca a causalidade da
sua prpria vontade seno sob a idia de
liberdade, pois que independncia das causas
determinantes do mundo sensvel (independncia
que a razo tem sempre de atribuir-se) liberdade
(FMC BA 109).
Ento, essa causalidade por liberdade, prpria do ser racional,
enquanto fosse eficiente para o homem tambm enquanto sensibilidade
deveria conferir um interesse puro, isto , determinado unicamente pela
101
FMC BA 122
102
Para que um ser , ao mesmo tempo racional e afetado pelos sentidos, queira aquilo que s a razo lhe
prescreve como dever, preciso sem dvida uma faculdade da razo que inspire um sentimento de fazer
ou de satisfao no cumprimento do dever ,e, por conseguinte, que haja uma causalidade da razo que
determine a sensibilidade conforme aos seus princpios FMC BA 122-123
74
liberdade. Porm,
totalmente impossvel a ns compreender, isto
, tornar concebvel a priori, como que um
simples pensamento, que no contm em si nada
de sensvel, pode produzir uma sensao de prazer
ou de dor, pois esta uma espcie particular de
causalidade, da qual, como toda causalidade,
absolutamente nada podemos determinar a priori
(FMC BA 123).
Deste modo, o que at aqui foi analisado no passa do mbito das
condies de possibilidade do interesse pela moralidade, ou seja, a idia de
um mundo inteligvel apenas um ponto de vista que a razo se v
forada a tomar para se pensar a si mesma como prtica (FMC BA 120).
Esse ponto de vista seria declarado absurdo se o homem fosse um ser
existente apenas no mbito dos fenmenos, isto , se ele apenas pudesse ser
conhecido como parte da natureza. Porm, o homem enquanto fenmeno
apenas a forma como ele se considera em ralao a empiria
103
. Logo, fica
aberta a possibilidade de pensar-se como algo mais do que um simples ente
do mundo fenomnico.
Contudo, essa distino ainda no torna possvel explicar como ,
possvel, efetivamente, a autonomia da vontade, assim , se retornarmos
filosofia terica de Kant veremos que somente pode ser explicado o que
103
Kant rebate a acusao daqueles que insinuam qualquer tipo de contradio na teoria que conduz a
noo de liberdade como uma idia da razo possvel de ser pensada sem contradio, dizendo que: essa
contradio desaparece se eles quiserem refletir e confessar, como justo, que por traz dos fenmenos
tem de estar, como fundamento deles, as coisas em si mesmas, ainda que ocultas, a cujas leis eficientes
no se pode exigir que sejam idnticas aquelas a que esto submetidas as suas manifestaes fenomenais
(FMC BA 122).
75
pode ser reduzido s leis da natureza, isto , que pode ser comprovado pela
experincia. Mas, onde cessa toda experincia cessa tambm toda
explicao e nada mais resta seno a defesa (FMC BA 120). Assim, o
mximo que se pode fazer, teoricamente, para salvaguardar a idia de
autonomia refutar toda objeo de quem procura provar a
impossibilidade da liberdade admitindo assim ter visto mais fundo na
essncia das coisas (FMC BA 120).
No que concerne dificuldade de explicar a necessidade de um
interesse prtico, Kant dedica uma parte da terceira seo da
Fundamentao, sob o ttulo: Do interesse que anda ligado s idias da
moralidade, no qual a questo central saber como a simples forma das
mximas tornada universal pode obrigar, ou seja, por que que devo eu
submeter-me a este princpio, e isso como ser racional em geral, e, por
tanto, todos os outros seres dotados de razo? (FMC BA 103).
certo pois que nenhum interesse pode impulsion-lo moralidade,
pois, na dependncia de qualquer interesse nenhuma ao pode ser
considerada autnoma. Porm, desde que seja o homem um ser sensvel, e
Kant enfatiza muito bem isso, necessrio esclarecer de que maneira
possvel confirmar a validade da lei moral, isto , como possvel tomar
interesse por isso e saber como isso se passa (FMC BA 103).
Inicialmente, Kant prope uma teoria que poderamos chamar de
teoria do duplo ponto de vista. Essa teoria parte de
dois pontos de vista dos quais [o homem] pode
considerar-se a si mesmo e reconhecer leis do uso
das suas foras, e portanto de todas as suas aes:
76
o primeiro enquanto pertencente ao mundo
sensvel, sob leis naturais (heteronomia); o
segundo, como pertencente ao mundo inteligvel,
sob leis que, independentes da natureza, no so
empricas, mas fundadas apenas na razo (FMC
BA 109).
Embora no explique como acontece que o homem tome interesse
pela moralidade, sem ser determinado por nenhum interesse, desde que
admitamos aquele ponto de vista sob o qual o homem tomado apenas em
sentido racional, teremos, no como explicar, mas ao menos como defender
tanto a idia de liberdade quanto o interesse que o homem toma pela lei
moral.
Anteriormente, quando nos referamos ao factum da razo,
afirmvamos que embora a lei moral no possa ser deduzida, os efeitos
dessa lei, podem ser conhecidos, desde que ela se imponha em nossa
conscincia. , pois, a partir desse efeito que podemos ter uma idia mais
precisa de interesse que o homem toma pela moralidade.
Kant parece querer mostrar a partir do factum que a legitimidade da
lei moral e sua validade para o ser humano pode ser reconhecida sem a
necessidade de uma deduo, e, portanto, mesmo que a liberdade da
vontade no possa de maneira alguma ser explicada. Assim, afirma Kant, a
prpria lei moral prova no apenas a possibilidade mas a realidade [da
liberdade] em entes que reconhecem essa lei como obrigatria para eles
(CRPr A 82).
Tal ato de aprovao instaurado pela lei moral no deve nunca ser
confundido com um ato contingente, isto , empiricamente dado. Esse um
77
ato puro de reconhecimento da lei moral como auto-legislao prpria da
razo. Kant denominou tal ato de einsicht moral (traduzido para o ingls
como insight moral), como algo que dado por si mesmo e no carece de
justificativa. No nos deteremos neste trabalho, embora seja oportuno e
importante, no tratamento deste tema amplamente discutido pelos
comentadores de Kant. Contudo, a esse respeito gostaramos de fazer
referncia ao trabalho de Henrich
104
pois, segundo ele, e assim tambm
achamos ns, no o contedo mas a realidade do bom [objeto da lei] que
o problema da tica
105
. Assim, gostaramos de salientar, ainda a partir de
Henrich, que o insight moral contm no apenas o aspecto do
reconhecimento da validade da lei moral mas tambm certa
compreenso
106
deste ato.
2.2. Interesse e Respeito pela Moralidade.
Embora no encontremos em Kant uma explicao suficiente acerca
da maneira como a lei moral se torna, para o homem, um motivo
107
subjetivamente vlido, a tese sobre o sentimento moral prope investigar
qual o efeito da lei moral sobre a sensibilidade. No obstante Kant
104
HENRICH, Dieter. The concept of Moral Insight and Kants Doctrine of the Fact of Reason. trad.
Manfred Kuehn. pp. 55-88. In: The Unity of Reason: essays on Kants philosophy. Cambridge,
Massachucetts. London, England: Harvard University Press,1994.
105
HENRICH, p. 57.
106
embora o bom no se torne visvel atravs de um ato reflexivo do sujeito o insight moral uma forma
de auto-compreensso Cf HENRICH p. 63ss.
107
Na Analtica da razo prtica pura da segunda crtica, Kant trata Dos mbeis da razo prtica pura
. O que causa estranhamento justamente o uso do termo Triebfedern (mobil). Todavia, o que Kant quer
mostrar agora que a lei moral, sendo um motivo objetivamente vlido, pode ser tambm considerada
subjetivamente.
78
mesmo afirma que o prprio modo como a lei moral pode ser por si e
imediatamente fundamento determinante da vontade, o que com efeito o
essencial de toda moralidade, um problema insolvel (CRPr A 128).
Porm, como vimos, a partir do factum Kant argumenta no sentido
de mostrar que a lei moral se impe por si mesma como o nico fato puro a
priori, e, uma vez que essa lei se imponha ao homem tudo o que se
oferece, antes da lei moral, como objeto da vontade excludo por essa
prpria lei (CRPr A 130). Ora, a tese do factum o passo que garante
unidade entre a fundamentao da lei na autonomia da vontade e seu efeito
na sensibilidade. O factum confirma o que antes era a condio de
possibilidade da liberdade, isto , a independncia da vontade frente s
determinaes empricas. Logo, a partir do factum possvel dizer que a
razo prtica rompe sua ligao com a necessidade natural inerente ao
homem enquanto ser sensvel. Este rompimento se d de tal forma que a
lei moral inevitavelmente humilha todo homem na medida em que ele
compara com ela a propenso sensvel de sua natureza (CRPr A 132).
Todavia, a ruptura com as inclinaes causa dano ao que Kant chama
amor de si. Por sua vez, o amor de si definido por ele como a propenso
que o homem tem de fazer de si mesmo, com base nos fundamentos
subjetivos do seu arbtrio, o fundamento determinante da vontade em geral
(CRPr A 131). Mas a humilhao que o amor de si sofre apenas um
sentimento negativo, na medida em que representa uma limitao imposta
pela condio de concordncia lei moral. Porm, desde que a lei moral
seja uma determinao da vontade autnoma, isto , que provm
unicamente de princpios racionais, na medida em que causa tal humilhao
sensibilidade, ela tambm causa de um sentimento positivo, a saber, o
79
sentimento de respeito. Assim, Kant afirma no apenas que ao moral
deve basear-se em uma lei racional objetivamente vlida, mas tambm que
essa lei contm tambm o motivo subjetivo da ao. Enfim, o efeito da
conscincia da lei moral em um sujeito racional afetado por inclinaes
chama-se em verdade humilhao, (desdm intelectual) porm, em relao
ao fundamento positivo da mesma, a lei, chama-se ao mesmo tempo
respeito pela lei (CRPr A 133).
O sentimento de respeito expressa, sobretudo, a maneira como a lei
moral afeta subjetivamente o homem, pois, sendo ele no apenas
racionalidade, a validade da lei moral est condicionada capacidade de tal
lei afet-lo sensivelmente. O respeito assim um sentimento que expressa a
validade da lei moral para seres sensveis. Isso to importante para Kant e
ele est to convicto que, de fato, a lei moral afeta sensivelmente o homem
que, parafraseando Fontanelle, afirma:
Diante de um homem humilde e cidado comum,
no qual percebo uma integridade de carter numa
medida tal como no sou consciente em relao a
mim mesmo, meu esprito se curva, quer eu
queira, quer no, e ainda mantendo a cabea
erguida a ponto de no deixar despercebida a
minha preeminncia (CRPr A 136).
Assim como o sentimento de respeito tem sua origem unicamente na
lei moral e, portanto, torna essa lei o nico motivo das aes morais,
tambm o interesse moral um interesse no sensorial puro da simples
razo prtica (CRPr A 141). Para Kant, tal interesse puro pode ser
80
percebido tambm a partir das mximas morais, pois, cada mxima
adotada pelo sujeito requer uma deciso, isto , um ato de arbtrio. Como
j foi visto, essa deciso no pode ter por base nenhum interesse do sujeito.
Porm, sendo difcil conceber uma deciso sem interesse, podemos dizer
que ela interessa porque resulta da autonomia da vontade, de maneira que
todo interesse pela moralidade resulta da validade da lei moral, uma vez
que ela se impe por si mesma sem a necessidade de nenhum interesse para
fundament-la. Assim,
nos totalmente impossvel a ns, homens,
explicar como e porque nos interessa a
universalidade da mxima como lei, e, portanto, a
moralidade. Apenas uma coisa certa: ou seja,
que no porque tenha interesse que tem validade
para ns, mas interessa porque vlida para ns
como homens (FMC BA 123).
O factum j sanou a exigncia de que a lei moral no se
fundamente em nenhum interesse, no entanto, se faz necessrio ainda que a
lei moral, desde que ela seja vlida para o homem, no seja apenas uma lei
expressa na conscincia do dever. A lei moral vlida para o homem tem
que se tornar para ele um motivo sensvel, isto , de alguma forma tem de
afet-lo e produzir nele algum interesse.
No estando ancorada em nenhum interesse particular do sujeito a lei
moral revela o mximo interesse da razo na ampliao de seu uso
108
, uma
108
CRPr A 218-219.
81
vez que, por meio dela a razo se v destituda das amarras da
determinao sensvel. Essa uma discusso, como apontamos
anteriormente, inscrita no mbito da possibilidade de um motivo, ao
mesmo tempo, objetiva e subjetivamente vlido.
Num primeiro momento, a lei moral seria pensada apenas como
uma determinao objetiva da vontade de todo ser racional. No ser racional
sensvel, porm, ela um imperativo que causa dano pretenso de tornar
os mbeis sensveis determinantes exclusivos da vontade. Contudo, este
dano causado pretenso da sensibilidade , por outro lado, o que torna
possvel a elevao da estima moral,
109
isto , enquanto motivo para o
cumprimento de uma lei e enquanto fundamento de mximas de uma
conduta conforme a ela (CRPr A 141). Este um motivo subjetivo pois
nele est contido o efeito da lei sobre a subjetividade humana.
O momento oportuno para saber como possvel que o homem
tome interesse pela moralidade. Desde que o respeito seja o motivo
suficiente de nossas aes morais, ele desperta tambm todo interesse pelo
cumprimento da lei. Sendo, pois, o sentimento de respeito o efeito positivo
da lei sobre a sensibilidade e uma vez que o interesse moral originado
deste sentimento, logo, plausvel admitir que todo interesse que o homem
toma pela moralidade tenha sua origem na prpria lei. Este elemento da
teoria kantiana crucial, uma vez que, sobre o conceito de interesse
funda-se tambm o de mxima. Esta, portanto, s e autenticamente moral
se depende do mero interesse que se toma pela observncia da lei (CRPr A
141).
Enfim, o sentimento de respeito parece definir mais nitidamente o
109
CRPr A 140.
82
papel do interesse na moralidade. Pois, sendo um resultado do efeito que a
lei moral causa no homem, em primeiro lugar, ele no contradiz a
autonomia, como se poderia supor de todo interesse. Sua peculiaridade e
pureza consistem em estar, por assim dizer, fundamentado na autonomia
na medida em que ela impe sua lei. Em segundo lugar, o sentimento de
respeito torna-se motivo suficiente para que todo homem possa tomar
interesse na observncia da lei que a simples razo impe a sua vontade.
Sendo assim, no caso de um ser racional finito, no se pode afirmar
simplesmente que ele possui um interesse moral, todavia, que ele toma
interesse pela moralidade. Dizer que ele toma interesse significa admitir
sua relao com a sensibilidade e, ao mesmo tempo, garantir a autonomia
da vontade, uma vez que ele no forado pela afeco a inclinar-se
para algo, mas, ele mesmo espontaneamente
110
toma interesse pela lei.
Assim como todas as mximas que o homem elege, as mximas morais no
so desprovidas de interesse, pelo contrrio, elas revelam o mais puro
interesse pela liberdade, na medida em que dependem to-somente da lei
dada pela prpria razo.
Outra questo a destacar a satisfao com o agir moral. Tal qual o
interesse, a satisfao com a moralidade no a condio de sua validade,
mas, o seu resultado. Essa satisfao denominada satisfao com o bom,
pois difere da satisfao sensvel relacionada com o meramente agradvel.
110
o interesse no pode ser imposto. O homem capaz de sentir interesse por uma exigncia da razo,
mas o interesse no em si uma exigncia e sim um ato livre. Quer dizer, o interesse pelo bom tem que
ser expresso de uma pessoa agindo de um modo racionalmente livre. Enquanto o homem razo, ele
toma ou capaz de tomar interesse absoluto pelo bom, isto , por aquilo que bom em todos os sentidos e
para qualquer ente racional. ROHDEN, 1981, p. 66.
83
2.3. O Interesse pelo Bom e pelo Agradvel.
Na medida em que uma representao constitui uma sensao, e esta
sensao relaciona-se com o sujeito que a experimentou, ela considerada
sob o ponto de vista do agrado. Ora, a capacidade que o sujeito tem de
emitir um juzo acerca do agrado expressa, pois, a sua capacidade de tomar
interesse pelo agradvel. Na Crtica do Juzo Kant elucida a questo do
interesse pelo agradvel afirmando que :
o juzo sobre um objeto, pelo qual eu o declaro
agradvel, exprime um interesse por ele, j claro a
partir disto: que ele, por sensao, excita um desejo por
tais objetos, portanto a satisfao pressupe no o mero
juzo sobre ele, mas a referncia de sua existncia a meu
estado na medida em que afetado por tal objeto (CJ B
5)
Ao contrrio do agradvel, que nada mais do que uma sensao que
produz prazer, o bom tem sua origem em conceitos da razo. , portanto, a
racionalidade que distingue o bom do meramente agradvel, bem como, o
mau do desagradvel. Em decorrncia dessa distino, Kant admite que
bom e mau sejam sempre ajuizados pela razo, por conseguinte, mediante
conceitos que se deixam comunicar universalmente e no mediante simples
sensao. (CRPr A 102).
Os conceitos de bom e mau so, pois, os nicos objetos da razo
84
prtica pura contanto que o critrio usado para saber se algo ou no
objeto da razo prtica pura somente a distino da possibilidade ou da
impossibilidade de querer aquela ao, pela qual, se tivssemos a faculdade
para tanto (o que a experincia tem de julgar) um tal objeto tornar-se-ia
efetivo. (CRPr A 100).
O centro do argumento kantiano acerca do que pode ser objeto da
razo prtica pura, ou seja, da vontade enquanto pura atividade da razo
independente da sensibilidade, expresso, sobretudo, pelo querer
(wollem). Ao que parece, Kant deixa suficientemente claro, desde a
Fundamentao da Metafsica dos Costumes, que a idia de uma moral
universalmente vlida tem que estar subordinada somente ao conceito da
vontade de um ser racional em geral, e, portanto, no se funda na natureza
emprica do homem. Essa independncia da natureza emprica, por sua vez,
implica a idia de um querer, prprio do ser racional, concebido
imediatamente a partir da autonomia da vontade, isto , a partir da
propriedade que a vontade tem de no agir segundo nenhuma outra
mxima que no seja aquela que possa ter-se a si mesma por objeto de uma
lei universal (FMC BA 98).
Contudo, no segundo captulo da Analtica da Crtica da Razo
Prtica, denominada Do Conceito de um Objeto da Razo Prtica Pura,
Kant d um novo enfoque frmula, aparentemente vazia, usada na
Fundamentao. Assim, Kant admite que o objeto da lei moral nada mais
do que a pura forma da lei. J no prefcio da segunda crtica, Kant
demonstrava a inteno de responder a um certo crtico, amante da
verdade e arguto, nisso portanto sempre digno de respeito, em sua objeo
85
Fundamentao da Metafsica dos Costumes, de que nela o conceito de
bom no foi estabelecido antes do princpio moral (CRPr A 15). Kant no
concorda com este crtico
111
quanto necessidade de estabelecer um
conceito de bem antes da lei moral. Segundo ele, se o conceito de bom for
tomado como o fundamento da lei moral ento ele s pode ser o conceito
de algo cuja existncia promete prazer e, deste modo, a causalidade do
sujeito realizao do mesmo. (CRPr A 101). Ora, algo que bom com
vistas realizao do princpio de prazer , sem dvida, algo distinto da
vontade autnoma determinada unicamente por princpios racionais e,
portanto, caracteriza a heteronomia da vontade j descartada por Kant do
mbito da moralidade. Pois um conceito de bom que fosse estabelecido
anteriormente lei da moralidade, ou seja, antes que a razo determine
vontade princpios puros, no seria um conceito de bom em si mas, sempre
apenas para outra coisa qualquer (CRPr A 103).
Todavia, Kant elucida melhor sua concepo de bom na medida em
que no atribui o termo somente ao que , por assim dizer, bom em si.
Enquanto o agradvel sempre apraz imediatamente aos sentidos, no caso do
bom, preciso perguntar-se se algo mediata ou imediatamente bom. Ora,
o que caracteriza o bom, tanto mediatamente quanto imediatamente, o
fato de que a razo seja capaz de ter perspicincia
112
da conexo dos
meios com seus objetivos (CRPr A 103). Ou seja, em todos os casos a
razo quem determina mximas prticas que norteiam o agir humano.
Todavia, se todas as mximas produzidas pela razo de um ser racional
111
Este crtico chama-se Hermam Andreas Pistorius (1730-1798) pastor na Ilha de Rugen e prior na ilha
de Fehmarn ambas no mar Bltico.
112
H controvrsias quanto a traduo do termo alemo Einsicht, o qual Valrio Rohden preferiu traduzir
por perspicincia, no entanto tambm, pode ser entendido como compreenso.
86
finito fossem apenas meios para atingir um determinado fim, ento o bom
sempre seria meramente o til, e aquilo para que ele serve teria de
encontrar-se todas as vezes fora da vontade, na sensao CRPr A 103).
Mas, o bom enquanto nico objeto da razo pura prtica deve, em primeiro
lugar, distinguir-se do meramente agradvel, e, alem disso, no ser apenas
bom para qualquer coisa, ou seja, bom como meio de alcanar um fim
exterior vontade. necessrio portanto que o conceito de bom seja
tomado em sua forma pura, ou seja, o bom em si mesmo, de modo que
foroso elucidar agora o que significa essa expresso.
3.2 O Bom em si Mesmo.
Kant enuncia melhor o conceito de bom em si a partir do termo latino
bonum que, na lngua alem possui dois conceitos bem diversos
designados pelas palavras Gute e Wohl ( bom e bem estar). O termo Wohl
significa somente uma referncia ao nosso estado de agrado e desagrado
(CRPr A 105), de maneira que somente ser denominado bom , como meio,
um princpio racional tomado como regra pragmtica. No que diz respeito
ao termo Gute (bom) Kant dir que este
significa sempre uma referncia vontade, na
medida que esta determinada pela lei da razo a
fazer de algo seu objeto; alis a vontade jamais
determinada imediatamente pelo objeto e sua
representao, mas uma faculdade de fazer de
87
uma regra da razo a causa motora de uma ao
(CRPr A 105).
Assim, pois, o bom em si mesmo remete-nos novamente
autonomia da vontade, uma vez que, na citao anterior, Kant define
vontade como a faculdade de fazer de uma regra da razo a causa motora
de sua ao. Alm do mais, o que Kant faz nesta parte da Crtica da Razo
Pura muito mais do que relacionar o conceito do bom em si com a
vontade. O que est em jogo sobretudo a necessidade de demonstrar que
o conceito de bom em si possvel, de modo que tal empreendimento
depende, no entanto, da independncia da vontade em relao
sensibilidade, isto , depende da autonomia.
Todavia, deve estar pressuposto nesse momento que a lei da
moralidade e, por conseguinte, a autonomia da vontade como condio
dessa lei, j foram por assim dizer, confirmadas por Kant atravs de um
factum da razo
113
. Ento o bom em si tem de ser admitido a partir de
um princpio da razo [que] j em si pensado
como o fundamento determinante da vontade, sem
considerao de possveis objetos da faculdade de
apetio (logo, meramente atravs da forma legal
da mxima), e ento aquele princpio uma lei
prtica a priori e a razo pura ser admitida como
sendo por si mesma prtica; a lei, ento,
113
A figura argumentativa do Factum der Vernuft (fato da Razo) neste memento no ser devidamente
explorada pois pretendemos ter tratado suficientemente do tema no segundo captulo. Porm temos que
pressup-lo aqui como a nica possibilidade de provar no apenas a coerncia mas, sobretudo, a
efetivao da lei moral em Kant.
88
determina imediatamente vontade, a ao
conforme a ela em si mesma boa e uma vontade
cuja mxima sempre conforme essa lei,
absolutamente e em todos os sentidos boa e a
condio suprema de todo o bem. (CRP A 110)
Enfim, o bom pode interessar ao homem, sem que atravs deste ato
ele vise algum agrado, de maneira que no a satisfao decorrente que
fundamenta o bom e , no entanto, esta satisfao pode estar ligada ao
conceito de bom apenas na medida em que decorre dele. O homem conhece
o bom em si quando toma interesse pela moralidade, mas tal interesse no
pode ser imposto pois seria contraditrio a autonomia. Ento, o interesse
deve expressar um ato livre da vontade enquanto ela capaz de tomar
como lei de seus atos somente um princpio da razo pura prtica. Sendo
assim, a identificao entre vontade e interesse significa, na medida em que
a vontade um livre-arbtrio sob determinao da razo, o prprio
interesse da razo.
89
CONCLUSO
Este trabalho teve por objetivo esclarecer a relao entre a autonomia
da vontade e o interesse no contexto da fundamentao da moralidade em
Kant. Ora, dissemos esclarecer a relao porque a afirmao da autonomia
como princpio supremo da moralidade, tal qual pretendeu Kant, exigiu,
certamente, que se exclusse da determinao do agir moralmente vlido
todo interesse. Essa exigncia da fundamentao produz certa dificuldade
no que diz respeito a validade da lei moral para seres racionais finitos. No
entanto, desde que a lei moral tenha que ser vlida para seres racionais e
sensveis, necessrio que ela possa , de alguma forma interessar.
A partir dessa problemtica, optamos por reconstruir os passos da
argumentao kantiana reconheceu a autonomia da vontade como conceito
positivo de liberdade e, por conseguinte, o princpio supremo da
moralidade. Dessa forma, foi elaborado o primeiro captulo, que teve como
intuito principal, reconhecer o problema da relao entre autonomia e
interesse. Neste captulo destacamos o fato de que uma condio
necessria, desde que a vontade seja pensada como autnoma, que ela no
esteja fundamentada em nenhum interesse. No sendo, portanto, o agir
moral determinado por interesse, Kant procura saber como possvel que o
homem enquanto ser sensvel seja capaz de tomar interesse pela
moralidade. Resta, ento, saber o que significa toam interesse pela
moralidade.
No segundo captulo retomamos o conceito de autonomia, pois
pensamos que nica maneira de admitir que o homem seja capaz de tomar
90
interesse pela moralidade sem, contudo, agir por interesse , em primeiro
lugar, descobrindo como a lei moral se torna para ele uma obrigao
independente de qualquer interesse. Em segundo lugar, preciso saber se a
lei moral o afeta e como o afeta sensivelmente e que tipo de interesse
produz.
Na tentativa de garantir a validade, isto , demonstrar que ela
realmente capaz de obrigar, tentativa de uma deduo de tal lei a partir
da liberdade mostrou-se falha. Contudo, vimos que, segundo Kant, tal
deduo at mesmo desnecessria uma vez que a lei moral se impe por
si mesma, como um factum, vontade humana. Deste modo exploramos a
figura do factum da razo, pois, a partir dele que podemos compreender
como a lei moral tem sua validade confirmada mesmo para seres que no
seguem uma lei somente por ela ser racional.
No terceiro captulo, concentramo-nos no conceito de interesse. Tal
conceito mostrou-se um tanto quanto problemtico, uma vez que difcil
situ-lo dentro da sistemtica kantiana. Contudo analisamos principalmente
a relao entre interesse e razo prtica, de maneira que, ressaltamos o fato
de que confere razo prtica a primazia sobre a terica.
Sobretudo, destacamos neste captulo, a dificuldade tornar
concebvel um interesse prtico, isto , um interesse que o homem toma
imediatamente pela lei moral, abstrada de qualquer objeto. digno de nota
ainda, o fato de que o prprio Kant concluiu que era impossvel explicar tal
interesse.
Procuramos ento, explorar o conceito de interesse a partir da noo
de respeito, isto , do efeito que a lei moral, uma vez que ela se impe por
si mesma, causa na sensibilidade. Ento notamos que s possvel ao
91
homem tomar interesse pela moralidade a partir do momento em que a
prpria lei que se revela como o fundamento de tal interesse. Assim,
podemos concordar com Kant quando ele afirma que a lei moral interessa
porque vlida para ns como homens, pois que nasceu da nossa vontade
como inteligncia, e portanto do nosso verdadeiro eu. (FMC BA 123).
92
BIBLIOGRAGIA
Obras de Kant:
KANT. A paz perptua e outros opsculos. Trad. Artur Moro. Lisboa:
Edies 70, 1988.
_____. Critica da faculdade do Juzo. trad. de Valrio Rohden e Antnio
Marques. Rio de J aneiro: Forense Universitria, 1993.
_____. Crtica da razo pura. trad. Valrio Rohden e Udo Baldur
Moosburger. So Paulo: Editora Nova Cultural, 1996.
_____. Crtica da razo pura. trad. Manuela Pinto dos Santos e Alexandre
Fradique Morujo. 5 ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2001.
______. Critica da razo prtica. trad. de Artur Moro. Lisboa: Edies
70, 1986.
______. Critica da razo prtica. trad. de Valrio Rohden. Baseada na
edio original de 1788. So Paulo: Martins Fontes, 2002.
______. Critique de la raison pratique. trad. de Franois Picavet. Paris:
Universitaires Presses, 1971.
______. Critica de la Razon Prtica. trad. de J . Rovira Armengol, 2a. ed.
Buenos Aires: Editora Losada, 1968.
______. The critique of practical reason. trad. de Thomas Kingsmill
Abbott, 2 ed. Chicago: Encyclopaedia Britannica, 1996.
_____. Fundamentao da metafsica dos costumes. trad. Paulo
Quintela. Lisboa: Edies 70, 1995.
_____. La metafsica de las costumbres. trad. Adela Cortina Orts y J ess
Conill Sancho. Madrid: Editorial Tecnos, 1989.
93
OBRAS COMPLEMENTARES
ALLISON, Henry E. El idealismo trascendental de Kant: una
interpretacin y defensa. Barcelona: Editorial Anthropos, 1992.
_____. Kants theory of freedom. New York: Cambridge University
Press, 1995.
_____. Kants Transcendental Idealism. An interpretation and Defense.
New Haven/ London: Yale University Press, 1983.
BECK, Lewis White. A commentary on Kants critique of pratical
reason. Chicago: University of Chicago Press, 1984.
CRAMPE-CASNABET, Michle. Kant: Uma Revoluo Filosfica. trad.
Lucy Magalhes. Rio de J aneiro: Zahar, 1994.
DELBOS, Victor. La philosophie pratique de Kant. 3 ed. Paris: PUF,
1969.
HFFE, Otfried. Immanuel Kant. trad. Valerio Verra. Bologna:
Sociedade editrice il Mulino, 1986.
ROHDEN, Valrio. Interesse da razo e liberdade. So Paulo: Editora
tica, 1981.
SCHNEEWIND, J .B. A inveno da autonomia: Uma histria da histria
da filosofia moral moderna. trad. Magda Franca Lopes. Rev. lvaro M.
Valls. So Leopoldo: Editora UNISINOS, 2001.
TUGENDHAT. Ernst. Lies sobre tica. trad. Grupo de doutorandos do
curso de pr-graduao em Filosofia da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul; reviso e organizao da traduo de Ernildo Stein e Ronai
Rocha. Petrpolis, RJ : Vozes. 1996.
VANCOURT, Raymond. Kant. trad. Antnio Pinto Ribeiro. So Paulo:
Edies 70, 1986.
94
WIKE, Victria S. Kant on Happiness in Ethics. Albany, New York:
State University of New York Press, 1994.
ZINGANO, Marco Antonio. Razo e histria em Kant. So Paulo:
Brasiliense, 1989.
Artigos:
ALQUI. Ferdinand. Introduction a la lecture de la critique de la raison
pratique. In: Critique de la raison pratique. trad. de Franois Picavet.
Paris: Universitaires Presses, 1971. Pp. VII-XXXIV.
ALMEIDA, Guido A. de. Kant e o fato da razo: cognitivismo ou
decisionismo moral?. In: Studia Kantiana, 1 (1): 53 81, 1998, pp. 53-81.
_____. Crtica, Deduo e Facto da razo. In: Analytica, 4 (1), 1999, pp.
57-84.
AUBENQUE, Pierre. La Prudence chez Kant. In: Revue de Metaphysique
et de Morale. N 2, 80, 1975, pp. 156-82.
BECKENKAMP, J oozinho. Imperativo ou Razo e Felicidade em Kant.
In: Dissertatio, Ufpel (7), Inverno de 1998, pp. 23-56.
HAMM, Christian. Moralidade um fato da razo?. In: Dissertatio,
Ufpel (7), Inverno de 1998, pp. 57-75.
HENRICH, Dieter. The concept of Moral Insight and Kants Doctrine of
the Fact of Reason. trad. Manfred Kuehn. pp. 55-88. In: The Unity of
Reason: essays on Kants philosophy. Cambridge, Massachucetts. London,
England: Harvard University Press,1994.
LOPARIC, Zeljko. O Fato da Razo - uma Interpretao Semntica. In:
Analytica, 4 (1), 1999, pp. 13-56.
95
MARTY, Fraois. La mthodologie transcendentale deuxime partie de
la Critique de la raison pure. In: Revue de Metaphysique et de Morale.
N 1, 80, 1975, pp. 11-31.
ROHDEN, Valrio. Introduo edio brasileira. In: Critica da razo
prtica. trad. de Valrio Rohden. Baseada na edio original de 1788. So
Paulo: Martins Fontes, 2002. Pp. IX-XLVI.
TERRA, Ricardo R. Foucault leitor de Kant: da antropologia ontologia do
presente. In: Analytica.v.2, no. 1, 1997, pp. 73-87.
Dicionrios:
SARAIVA, F.R. dos Santos. Novssimo Dicionrio Latino Portugus.
10 ed. Rio de J aneiro, Belo Horizonte: Livraria Garnier, 1993.
CAYGILL, Howard. Dicionrio Kant. trad. lvaro Cabral. Rio de J aneiro:
J orge Zahar Editor, 1995.
EISLER, Rudolf. Kant-Lexicon. Hildesheim, Zrich, New York: Georg
Olms Verlag, 1994.
Vous aimerez peut-être aussi
- E-Book Oshadhi Oleos Essenciais e SegurançaDocument38 pagesE-Book Oshadhi Oleos Essenciais e SegurançaDeborah Bee93% (42)
- Guia completo da aromaterapia para iniciantesDocument84 pagesGuia completo da aromaterapia para iniciantesBruno Nascimento100% (4)
- Dutra Pragmática Da Investigação Científica 2aed PDFDocument343 pagesDutra Pragmática Da Investigação Científica 2aed PDFLuiza RamosPas encore d'évaluation
- Dutra Pragmática Da Investigação Científica 2aed PDFDocument343 pagesDutra Pragmática Da Investigação Científica 2aed PDFLuiza RamosPas encore d'évaluation
- Hidrolatos guiaDocument29 pagesHidrolatos guiaAmires Antenesca100% (4)
- O Campo Da MenteDocument215 pagesO Campo Da Menterobson rodriguesPas encore d'évaluation
- Plantas MedicinaisDocument21 pagesPlantas MedicinaisThayssa BragaPas encore d'évaluation
- Dossie Mediacoes - Entrevista Com Donna Haraway 2015Document21 pagesDossie Mediacoes - Entrevista Com Donna Haraway 2015Marion QuadrosPas encore d'évaluation
- Wagner de Assis ( ) A CartomanteDocument330 pagesWagner de Assis ( ) A CartomanteLuiza RamosPas encore d'évaluation
- O EducadorDocument8 pagesO EducadorLuiza RamosPas encore d'évaluation
- Gilles Deleuze - O Ato de CriaçãoDocument15 pagesGilles Deleuze - O Ato de Criaçãomostratudo100% (2)
- Mentes e MaquinasDocument180 pagesMentes e MaquinasAugusto YumiPas encore d'évaluation
- Sistema Tegumentar Dos VertebradosDocument40 pagesSistema Tegumentar Dos Vertebradosstarbio5139Pas encore d'évaluation
- 10 Coisas Que As Pessoas Muito Intuitivas Fazem DiferenteDocument4 pages10 Coisas Que As Pessoas Muito Intuitivas Fazem DiferenteVanessa SilvaPas encore d'évaluation
- Cursos de Biologia do Ensino SecundárioDocument63 pagesCursos de Biologia do Ensino Secundáriomanuela saPas encore d'évaluation
- A poesia é provisóriaDocument181 pagesA poesia é provisóriaElaine MeirelesPas encore d'évaluation
- A alegria e a saúde são os maiores bens para a felicidadeDocument2 pagesA alegria e a saúde são os maiores bens para a felicidadeLuiz Felipe GuaycuruPas encore d'évaluation
- Espaços Urbanos em Beira D'águaDocument20 pagesEspaços Urbanos em Beira D'águaThállyn Dávila Thalyane Medeiros100% (1)
- Avaliação de Geografia 2º ANODocument4 pagesAvaliação de Geografia 2º ANOFRANCILENE84% (115)
- Revista de Figueira apresenta conteúdo sobre espiritualidade e grupos de serviçoDocument20 pagesRevista de Figueira apresenta conteúdo sobre espiritualidade e grupos de serviçotrancedj2003Pas encore d'évaluation
- JBC 25Document11 pagesJBC 25Claudio BrittoPas encore d'évaluation
- Historia Da África CentralDocument52 pagesHistoria Da África CentralEduardo Gabriel0% (1)
- Historia Naturalis Brasiliae - Wikipédia, A Enciclopédia LivreDocument10 pagesHistoria Naturalis Brasiliae - Wikipédia, A Enciclopédia Livrealex lottiPas encore d'évaluation
- Carta 52Document7 pagesCarta 52Mônica Perny100% (2)
- O nível do mar de Imbituba e a sustentabilidade da lagunaDocument21 pagesO nível do mar de Imbituba e a sustentabilidade da lagunaMarcelo Alberto RechPas encore d'évaluation
- DO Abilio Coppede CorrigidaDocument202 pagesDO Abilio Coppede CorrigidaodontosidyPas encore d'évaluation
- Prova Final de GeografiaDocument10 pagesProva Final de GeografiaVanemoremaffe100% (1)
- 1 Introdução À EmbriologiaDocument36 pages1 Introdução À EmbriologiaJean Carlos SouzaPas encore d'évaluation
- Investigação geológica em projetos de engenhariaDocument2 pagesInvestigação geológica em projetos de engenhariaKaren LeopoldinoPas encore d'évaluation
- Revisão de Mecânica Dos SolosDocument43 pagesRevisão de Mecânica Dos SolosEcina Unp0% (1)
- Planificação História e Geografia 5º Ano - Século XV e XVIDocument3 pagesPlanificação História e Geografia 5º Ano - Século XV e XVIramiromarquesPas encore d'évaluation
- Estaca Tipo FRANKIDocument42 pagesEstaca Tipo FRANKIJamilson Oliveira50% (2)
- Trabalho AnatomiaDocument3 pagesTrabalho AnatomiaAna Paula Pereira CunhaPas encore d'évaluation
- O Clima Na Península IbéricaDocument3 pagesO Clima Na Península IbéricaSónia RibeiroPas encore d'évaluation
- Importância e conceitos sobre forrageiras tropicaisDocument33 pagesImportância e conceitos sobre forrageiras tropicaisRubens JuniorPas encore d'évaluation
- Recomendações para o Bloco OperatórioDocument5 pagesRecomendações para o Bloco OperatórioJair FatahaPas encore d'évaluation
- MECÂNICA DOS SOLOS I - LISTA DE EXERCÍCIOSDocument1 pageMECÂNICA DOS SOLOS I - LISTA DE EXERCÍCIOSLeonardo Santa RitaPas encore d'évaluation
- Por que a História Ambiental é relevanteDocument9 pagesPor que a História Ambiental é relevanteAlexandre SantosPas encore d'évaluation
- Ciências Naturais 8o ano Teste de AvaliaçãoDocument5 pagesCiências Naturais 8o ano Teste de AvaliaçãoClaudia Moreira100% (1)
- Energia e Instalações EléctricasDocument27 pagesEnergia e Instalações EléctricasJúlio Levi Dali100% (6)
- A Ciência É Inumana ?Document46 pagesA Ciência É Inumana ?Márcio Adriano DiasPas encore d'évaluation
- Avaliação fisioterapêutica aquáticaDocument13 pagesAvaliação fisioterapêutica aquáticaRosimari ParisPas encore d'évaluation