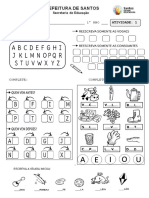Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
O Animal Que Somos (Maria Lúcia)
Transféré par
André Vilela0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
31 vues9 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
31 vues9 pagesO Animal Que Somos (Maria Lúcia)
Transféré par
André VilelaDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 9
XI Congresso Internacional da ABRALIC
Tessituras, Interaes, Convergncias
13 a 17 de julho de 2008
USP So Paulo, Brasil
O animal que somos: interaes identitrias na prosa contempornea
de lngua portuguesa
Prof. Dr. Maria Lcia Wiltshire de Oliveira
1
(UFF)
Resumo:
No bojo de uma reflexo sobre o sujeito e a escritura, parece-me instigante buscar
compreender a considerao do animal como ser dotado de estatuto semelhante ao do
homem. A representao do animal na literatura tem servido de espelho ao ser humano e,
no poucas vezes, o animal alvo de antropomorfizao, sendo idealizado ou denegrido
segundo a viso antropocntrica. No entanto, meu propsito abordar a condio
humana como necessariamente animal e da como identificada ao animal, figurando como
o Outro na fico de Clarice Lispector, Teolinda Gerso e Maria Gabriella Llansol.
Escrever o animal desta forma ensaiar uma ecocrtica no projeto de uma humanidade
que busca transcender os limites ontolgicos, irmanando-se a ele. reverter o papel da
suposta dominao do homem sobre a natureza, abrindo-se espao para uma ecofilosofia.
Palavras-chaves: sujeito, animal, narrativa, ecofilosofia
Introduo
Primeiramente menciono algumas narrativas que me comovem por tratar da morte de no-
humanos. A primeira a histria da formiguinha e da neve, ouvida na infncia; a segunda, so umas
palavras lidas em Gabriela Llansol quando contempla o modo com que os animais aceitam o
fracasso irremedivel, caindo no sono e se abandonando morte; a terceira a do replicante Roy
contando histrias ao seu implacvel caador, na hora de morrrer; e a quarta a narrao
ficcionada da extino de um pssaro por um bilogo.
Movida por estas emoes iniciais, procuro discutir neste trabalho a relao entre animais e
homens a partir da ecocrtica de Garrard e da filosofia de Derrida. Meu interesse mergulhar na
literatura de Lispector, Gerso e Llansol, com a esperana de vislumbrar, ainda que intuitivamente,
uma harmonia entre os homens e o Outro representados por animais, coisas, natureza,Terra -, em
direo a uma nova utopia que a escrita literria possa engendrar.
1 A natureza
Na tradio da cultura ocidental, os animais tem sido associados natureza e o homem
cultura, o primeiro integrado quela; o segundo como um exilado nesta. Segundo o Gnesis, a dor
de ter perdido a inocncia, "prpria" ao animal, levou o homem a demarcar com amargura e culpa
uma fronteira entre si e os demais ocupantes da paisagem, ora de forma saudosista, ora de modo
arrogante.
A relao homem-natureza foi tematizada na literatura desde muito tempo. A princpio ela
tem um sentido primitivo religioso como na Ilada onde "as oraciones y los juramentos invocan,
non solo a los dioses, sino tambin, al cielo, a los rios (CURTIUS, 1989. p. 139). Mas em
Sfocles, a invocao no mais em forma de orao, as foras e as coisas da natureza no so
mais divindades, tornando-se seres humanizados que participan ya de los sentimientos humanos.
Da para frente a natureza ser tpico potico No romantismo, ela invocada, no mais dentro do
contexto religioso pago, mas como uma idade de ouro perdida, a que o poeta clama por reviver.
Diz Schiller no sculo XVIII que amamos nos elementos da natureza a eterna unidade consigo
mesmos. So o que ns fomos; so o que devemos vir a ser de novo (SCHILLER 1991. p. 44). O
XI Congresso Internacional da ABRALIC
Tessituras, Interaes, Convergncias
13 a 17 de julho de 2008
USP So Paulo, Brasil
2
poeta, digo, ou natureza ou a buscar. No primeiro caso, constitui-se o poeta ingnuo; no segundo,
o poeta sentimental( SCHILLER 1991. p. 60). Ainda hoje esta dualidade praticada na arte que
tenta colmatar o fosso entre o ser e o mundo representado na obra. O animal mais um elemento na
paisagem a adornar ou problematizar a criao do poeta.
2 A figurao do animal na literatura
Nas fbulas e nos contos de fada os animais so exemplos para o comportamento humano,
funcionando com inteno pedaggica numa linha declaradamente antropomrfica e
antropocntrica, podendo alternar, como objetos do pensamento humano, entre a contigidade da
modalidade metonmica e a modalidade analgica e distanciada da metfora, como diz WILLIS
(apud GARRARD 2006, p. 198). Existem fbulas de adultos como o caso do romance A
revoluo dos bichos de George Orwell em que os animais ocupam o lugar dos homens com a
inteno de condenar a pretensa humanidade dos homens, fazendo uma rasura na auto-idealizao
que, sob a capa angelical, esconde a barbaridade das bestas. Na novela Metamorfose, de Kafka,
estamos no campo da alegoria em seu sentido benjaminiano. Entre o sujeito humano e o grande
inseto animal, d-se uma continuidade entre dois estados, no porque o animal seja inferior ao
homem mas porque os humanos, representados pela famlia de Gregor Samsa, so capazes de
desumanizar ao mximo o seu semelhante a partir do momento que ele no serve mais aos seus
interesses. No mbito da literatura portuguesa, a coletnea Os bichos de Miguel Torga usa os
animais como protagonistas dos contos que pensam, sentem e agem como pessoas, embora no
sirvam a funes moralistas como nas fbulas tradicionais. So viventes que incorporam as
vicissitudes dos homens, sem perder suas peculiaridades animais. Na prosa de J os Saramago
circulam ces cujas caractersticas especiais os tornam distintos dos animais e ainda os posicionam
acima da condio humana. Apesar disto, eles no estabelecem uma interao afetiva com os
humanos, figurando como smbolos e no propriamente como metforas ou alegorias.
Situao diversa a que ocorre em Co como ns, de Manuel Alegre, certamente inspirado
no Cane come me, de Curzio Malaparte, em que o co tratado como ser de grande nobreza, onde
o afeto pe em destaque a fidelidade e a amizade do animal em relao ao dono, como se
espelhasse o ideal humano que, lamentavelmente, no se observa na humanidade. O homem est de
certo modo numa posio egocntrica e o co gira em torno dele como um servo amoroso que tudo
faz para agradar, esquecendo-se de si e servindo-o com alegria.
3 Ecocrtica e representao do animal
Ao escolher o ttulo Animais e no animal para um captulo do seu livro, Greg Garrard
parece recusar, como Derrida, contra a categoria abstratizante e antropocntrica que a expreso
o animal. Segundo ele, a fronteira entre o humano e animal arbitrria e, alm disso,
irrelevante, j que compartilhamos com os animais uma capacidade de sofrer que s a mo da
tirania` poderia ignorar. (Garrar, 2006, p. 193). Por seu lado a cincia rejeita o argumento sob a
alegao de que o sofrimento no animal projeo antropomrfica, preferindo dizer que um
macaco no fica zangado, e sim exibe agresso (...) (GARRARD 2006, p. 195). Na opinio do
autor, no entanto, h muitos estudos com exemplos notveis de emoes nos animais, entre elas a
esperana, a tristeza, a felicidade e a raiva (GARRARD 2006. 195). Ele faz coro ecocrtica
libertria que denuncia a retrica da regulao moral e social (GARRARD 2006. p. 199) do
comportamento humano fazendo uso de expresses como bestial ou animalesco. Existem muitas
estratgias de um certo antropomorfismo negativo, usado mais para policiar do que para
confundir a linha divisria entre os seres humanos e a natureza (GARRARD 2006. p. 201). Entre
eles est a posse duma alma imortal, a liberdade existencial, a diferenciao neurolgica, o uso da
linguagem simblica e mesmo a anatomia da mo humana que criou ferramentas sofisticadas, num
esforo humano angustiado para construir e reforar continuamente uma diferena que a natureza
no proporcionou (GARRARD 2006. p. 202).
XI Congresso Internacional da ABRALIC
Tessituras, Interaes, Convergncias
13 a 17 de julho de 2008
USP So Paulo, Brasil
3
Ultrapassando o mundo natural, Garrard retoma uma anlise do romance adaptado ao filme
Blade Runner que explora o desafio representado para a identidade humana no apenas pelos
animais, mas tambm pelos seres binicos (GARRARD 2006. p. 202), revelando que nesse
mundo derradeiro, a linha inultrapassvel entre humanos e animais minada, a fim de reforar a
fronteira entre humanos e andrides (GARRARD 2006. p. 203). Mas quando Roy reconhece a sua
prpria mortalidade, isso, mais que qualquer outra coisa, torna insustentvel a fronteira
humano/binico, (GARRARD 2006. p. 205). Esquemas dualistas como organismo/mquina ou
animal/humano perdem progressivamente suas distines, problematizando fronteiras de
identidade e da subjetividade. Em decorrncia o sujeito humano contemporneo obrigado a se
rever enquanto tal frente a outras criaturas.
4 Ecofilosofia em Derrida: logocentrismo e estatuto do Outro
O animal se torna o Outro em O animal que logo sou (a seguir) (1999), longa aula em que
Derrida passa em revista as inmeras referncias ao animal ao longo de sua obra, em interlocuo
com o pensamento de vrios filsofos. Tal como j fez antes a propsito do termo diffrance, aqui
ele cria o termo animot, aglutinando os termos animal e mot (em francs, palavra), numa reflexo
que desconstri o estatuto logocntrico do sujeito.
Toda a discusso do Outro na filosofia se sustenta na distino a priori entre homem e
natureza, baseando-se na pressuposio de que o mundo teria sido feito para o homem, como vem
conjecturado no Gnesis e em inmeras mitologias cosmognicas. Na natureza, da qual ele teria
sado, estaria tudo que lhe dessemelhante - o reino vegetal e animal - sobre o qual ele exerce
poder em razo da sua suposta transcendncia e racionalidade. O Outro, seu igual, sempre aquele
que lhe assemelha, mesmo que em casta inferior, no o que lhe desigual; o Outro sempre o
espelho do Eu, jamais um objeto, uma planta ou um animal, a no ser de forma alegrica ou
metafrica. Assim o Eu aquilo que definido pelo cogito cartesiano e o Outro o seu duplo, seu
reflexo, sua exterioridade especular, um outro corpo diante de si que com o Eu tem semelhanas.
No entanto, este Outro a ns semelhante se apresenta a nossa frente do mesmo modo que objetos
ou animais, segundo Swymikowick. Como ento separar objetos e sujeitos? Sujeitos e animais?
Para Descartes, que em certo sentido ficou fora de moda, a alma e a conscincia que os separa.
Como mostra Derrida, j Montaigne zombava da impudncia humana sobre o prprio dos
animais (DERRIDA 1999. p.19-20), caoando da presuno e da imaginao do homem
quando pretende saber o que se passa na cabea do animal. O autor dos Ensaios concede aos
animais um poder de responder, que ultrapassa a linguagem como signo: esta faculdade que ns
observamos neles de se queixar, de se contentar, de pedir socorro entre eles, de convidar ao amor,
como eles fazem pelo uso de suas vozes (Apud DERRIDA 1999 p. 20). Referindo-se a este outro
falar, Derrida ousa dizer que o pensamento do animal, se pensamento houver, cabe poesia, (...)
e disso que a filosofia, por essncia, teve de se privar (DERRIDA 1999. p. 22).
Em todas as verses do Gnesis, o animal anterior ao homem que o segue. Tendo nascido
primeiro, viu chegar em seu territrio um Outro que se fez senhor, que recusou a sua linguagem
de traos mudos (DERRIDA 1999. p. 40) e a possibilidade de lhe manifestar de alguma maneira
sua experincia de nossa linguagem e nudez. Derrida adverte que O animal nos olha, e estamos
nus diante dele. E pensar comea talvez a (DERRIDA 1999. p. 57). Para o filsofo franco-
argelino, o animal est aqui antes de ns, perto de ns e diante de ns, que estamos atrs (depois)
dele (da o ttulo em francs de seu trabalho: Lanimal que donc je suis. { suivre}), embora a
filosofia o tenha esquecido, sendo ela mesma esse esquecimento calculado desde seu nascedouro,
situao que atualmente a ecofilosofia, ou ecosofia, tenta reverter. Mas o fato de a filosofia ser
logocntrica, no tira do animal o poder de olhar-me, exercendo o seu ponto de vista sobre mim,
que eu ignoro porque no posso deduzi-lo. Assim ele a alteridade absoluta, a opacidade total do
XI Congresso Internacional da ABRALIC
Tessituras, Interaes, Convergncias
13 a 17 de julho de 2008
USP So Paulo, Brasil
4
prximo que eu julguei sempre, equivocadamente, penetrar. Para Derrida, o animal o
completamente outro, mais outro que qualquer outro (DERRIDA 1999. p.29).
Neste texto Derrida levanta duas hipteses: a primeira de que sofrimento o
identificador entre homens e animais. No entanto, usando do poder de nomear dado por Deus, os
homens ignoraram o sofrimento dos animais, sacrificando-os desde a Antiguidade por razes
religiosas ou por motivos prticos em que o assujeitamento est a servio de um certo bem estar e
suposto bem-estar humano do homem (DERRIDA 1999. p.51). Daqui deriva a segunda hiptese
que a da participao engajada, continuada, organizada em uma verdadeira guerra de espcies
(DERRIDA 1999. p. 61) que os homens disfaram mas que se revela pelo uso genrico da
expresso o animal e no os animais, pela qual ele nega sua prpria animalidade. Inclui-se neste
o todos os viventes que o homem no reconheceria como seus semelhantes, seus prximos ou
seus irmos (DERRIDA 1999. p. 65).
Para alm da defesa dos direitos do animal, Derrida diz que preciso levar a srio a
compaixo, mudando-se os alicerces (...) da problemtica filosfica do animal (DERRIDA 1999.
p. 53). A proposta de abandonar a viso do animal segundo o critrio do poder ou ter logos ou
poder-ter-logos, base do logocentrismo, e adotar a perspectiva de que eles podem sofrer ou, em
outras palavras, de que eles podem no-poder, questo que, em ltima anlise, diz respeito no s
aos animais, mas a todos os viventes, inclusive os homens que, diante da finitude/morte, sofrem e
perdem poder.
5 Para alm da figura, a fulgurao
Para entender o embate surdo e invisvel entre sujeito e outras formas de existncia, diz
Canclini que de bom alvitre ouvir o que diz a arte da fico, cujas metforas se aplicam ao
que no cabe em conceitos unvocos, ao que vivemos e est em tenso com o que poderamos viver,
entre o estruturado e o desestruturador (CANCLINI 2003. p. 53). Alterando um pouco a ordem
cronolgica do aparecimento do corpus literrio deste trabalho, comeo com a portuguesa Teolinda
Gerso, para depois revisitar a brasileira e universal Clarice Lispector, finalizando com a escrita
lusitaneamente singular de Garbriella Llanso.
5.1 Teolinda entre a raposa e o co
Em Os guarda-chuvas cintilantes, obra de 1984, h ces e outros animais. A certa altura
algum diz que um co humano e a narradora pensa consoladamente que com os ces pode ter
relaes absolutas, como s h na infncia (GERSO 1984. p. 65). Mas ao observar de forma
no-logocntrica, ela percebe que o co descobriu que o mundo se altera, conforme a companhia;
que capaz de aprender o mundo to bem sozinho, mesmo quando no entende e erra tudo (...) [e
que] entrega-se inteiro s sensaes, porque todas lhe parecem boas (GERSO 1984. p. 67).
Neste curioso livro em forma de (falso) dirio, reproduz-se a historieta publicada num
jornal escandinavo que, resumidamente, a seguinte: diante de uma loja, uma simples bancria fica
fascinada por um casaco de pele de raposa exposto na vitrine. Sentindo que ele fora feito para si, a
moa acaba por compr-lo a prestaes, contentando-se em v-lo diariamente com prazer at que
quitasse a compra e o levasse em definitivo: mas no era isso que a fazia sorrir secretamente, era
antes uma satisfao interior, uma certeza obscura, uma sensao de harmonia consigo prpria
(GERSO 1984. p. 76). Aos poucos, ao fazer a sua habitual corrida na orla da floresta, ela percebe
que uma transformao se inicia em seu corpo, pois (...) estava mais viva, agora, mais alerta (...),
a sua capacidade de percepo crescia, tinha fome de outras coisas (GERSO 1984. p. 77-78).
Uma noite, ao se arrumar para uma festa, sorriu para o espelho e se percebeu com um sorriso
felino, (...) dando-lhe aos traos uma certa orientao triangular (GERSO 1984. p. 78). Na festa
deliciou-se como nunca com o gosto da carne do rosbife, quase crua, o gesto de travar os dentes,
de fazer saltar o sangue, na boca, a inocncia de devorar a pea inteira (GERSO 1984. p. 78).
Comeou a danar, sentindo subir o seu sangue como uma tempestuosa fora interior (GERSO
XI Congresso Internacional da ABRALIC
Tessituras, Interaes, Convergncias
13 a 17 de julho de 2008
USP So Paulo, Brasil
5
1984. p. 78), uma maldio quase alegre. Lembrou ento com satisfao que na manh seguinte
pegaria o casaco, que era seu, que fazia parte dela (GERSO 1984. p. 79). Assim o fez, mas ao
vesti-lo, viu-se em processo de metamorfose: seu rosto enegrecia e os olhos puxavam em fenda.
Saiu apressadamente com medo de ser vista, refreando o impulso incontrolvel de pr as mos no
cho e correr desfilada (GERSO 1984. p. 79). Com esforo sobre-humano alcanou a periferia
da cidade e, sacudindo o dorso e a cauda, farejando o ar, o cho, o vento, uivando de prazer e de
alegria (GERSO 1984. p. 79), desapareceu rapidamente na profundidade da floresta.
Como vemos, a historieta retoma um tema da literatura - a fuso entre humanos e animais
geralmente vista de forma assustadora (p. ex., o lobisomen), mas aqui, ao contrrio, bastante
condizente com a idia de uma convergncia entre as duas categorias a ponto de se extinguir a
linha que as separa. Na imagem do casaco de pele embute-se a idia do luxo produzido pela
depredao dos animais no planeta, a crtica ao consumo desenfreado nas sociedades capitalistas
modernas e o lamento pela extino da espcies. Na ao identificatria da personagem, observam-
se vrios aspectos significativos: primeiro, a sua condio subalternizada que a faz sonhar com uma
vida plena que no lhe garantida como mulher e bancria; segundo, o prazer obtido proporo
em que se afasta da condio chamada humana; terceiro, a escolha da animalidade como alternativa
tica, esttica e pragmtica para uma vida integrada.
Diz a narradora que no dia seguinte ao da publicao da histria, ocorreu um pnico entre
as mulheres que da em diante passaram ao largo das vitrines, o que levou falncia numerosos
industriais do comrcio de peles verdadeiras (GERSO 1984. p. 80). Como diz Nilto Maciel
quando o homem se distancia cada vez mais do animal e da natureza, a experincia de algum que
adquire uma condio extraordinria significa uma lio para os humanos diante do mundo
degradado.
Numa figurao mais afim alegoria do que fbula, os ces esto no livro de mais de uma
forma. Num certo dilogo, h uma disputa objetiva e filosfica em torno de um guarda-chuva da
da narradora que invoca o seu direito de propriedade, falcia que contestada pelo co, lembrando-
nos que sob este argumento os animais so os primeiros proprietrios da terra. Num narrao de
fundo onrico e, portanto, simblico, surge a imagem de um co que fumava, [cujo] fumo era
triste (GERSO 1984. p. 111) e de outros ces, separados como Brancos ou Pretos, figurando a
arrogncia humano em suas segregaes e em suas ilues de superioridade intelectual por terem
realizado muitas proezas, entre as quais a bomba atmica. De repente a sonhadora v um Grande
Co Sentado (seria Deus?) e o co anterior do guarda-chuva, que amigo da narradora, lhe diz
que no h nenhuma soluo fora de ns (GERSO 1984. p. 117). No final da narrativa este co
(ou outro?) reaparece para simbolicamente rasgar com dentes um guarda-chuva (GERSO 1984.
p. 132) juntamente com a narradora que aceitou transformar-se num co igual a ele. Nestas
passagens, no s h uma mesclagem quanto uma fuso de naturezas entre o humano e o no-
humano, culminando com a cena em que ambos rebentam o crculo mgico, como se estivessem
a ultrapassar a linha que separa as criaturas de si mesmas e da natureza.
5.2 Clarice e a barata
Em gua viva, de 1973, assim se pronuncia a narradora: No ter nascido bicho uma
minha secreta nostalgia (LISPECTOR 1990. p.57). Embora no os observe como um Outro,
Clarice Lispector expressa uma crtica contra a antropomorfizao dos animais:
Conheci um ela que humanizava bicho conversando com ele e
emprestando-lhe as prprias caractersticas. No humanizo bicho porque
ofensa h que respeitar-lhe a natureza eu que me animalizo
(LISPECTOR 1990. p.58).
Tambm o mundo vegetal no fica de fora, revelando uma sensibilidade prpria: Sei da
histria de uma rosa. Parece-te estranho falar em rosa quando estou me ocupando com bichos? Mas
XI Congresso Internacional da ABRALIC
Tessituras, Interaes, Convergncias
13 a 17 de julho de 2008
USP So Paulo, Brasil
6
ela agiu de um modo tal que lembra os mistrios animais (...) Uma relao ntima estabeleceu-se
intensamente entre mim e a flor: eu a admirava e ela parecia sentir-me admirada. (...) Durou em
beleza e vida uma semana inteira. (...) Esta (...) tinha tanto instinto de natureza que eu e ela
tnhamos podido nos viver uma a outra profundamente como s acontece entre bicho e homem.
(LISPECTOR 1990. p. 56-7)
Em A paixo segundo G.H., de 1964, esta posio contamina toda a narrativa: (...) diante
da barata viva, a pior descoberta foi a de que o mundo no humano, e de que no somos
humanos (LISPECTOR 1998. p. 69). Ver o mundo significa perceber-se sem as auto-idealizaes
que fazem do humano algo superior que teria transcendido a natureza. Desfazendo-se do
narcisismo, a ultrapassagem da fronteira se explicita, levando-a a ver com olhos limpos: eu
estava saindo do meu mundo e entrando no mundo. que eu no estava mais me vendo, estava era
vendo (LISPECTOR 1998. p. 63). A personagem no faz uma viagem de retorno saudosista ao
paraso perdido, como pretenderam os poetas ingnuos e sentimentais, porque sabia que estava
entrando na bruta e crua glria da natureza (LISPECTOR 1998. p. 64). Ao ver desse jeito, ela
estava vendo o que era ainda anterior ao humano (LISPECTOR 1998. p. 85), ou seja, vendo
aquilo que veio antes de si, aquilo a que seguiu, como apontou Derrida.
Ao medo de enfrentar esta origem nada nobre ou glamourosa que os mitos e a filosofia
pretenderam mascarar durante sculos, ela chama de neutro:
O medo que eu sempre tive do silncio com que a vida se faz. Medo do neutro. O
neutro era a minha raiz mais profunda e mais viva eu olhei a barata e sabia. (...)
Para escapar do neutro, eu h muito havia abandonado o ser pela persona, pela
mscara humana. (LISPECTOR 1998. p. 92)
Para fugir ao confronto e aplacar a angstia, ela teria aceito o preo como uma encarnao
de Ado: Ao me ter humana, eu me havia livrado do deserto. (...) mas tambm o perdera! E
perdera tambm as florestas, e perdera o ar, e perdera o embrio dentro de mim. (LISPECTOR
1998. p. 93) Diante da barata neutra, ela descobre a sua comum condio com a barata, marcadas
ambas pelo sem sentido da vida: No entanto ei-la, a barata neutra, sem nome de dor ou de amor.
(...) Ns duas, as soterradas vivas. (LISPECTOR 1998. p. 93). A barata portanto um novo
espelho para o ser e todo o livro um dilogo com este grande Outro que se impe personagem
na forma de animal abjecto que a leva a interrogar-se:
Sentiria ela [a barata] em si algo equivalente daquilo que meu olhar via nela? At
que ponto ela se aproveitava a si mesma e aproveitava do que era? (...) Que sabia
eu daquilo que obviamente viam em mim? (...) ser no saber? (...) Este o
segredo de se ser uma pessoa? (LISPECTOR 1998. p. 93)
Este confronto no uma fbula, a barata est a como animal mesmo, no como tropo: A
barata de verdade, me. No mais uma idia de barata (LISPECTOR 1998.p. 94). Sua
insistncia na concretude do acontecimento , s vezes, desconcertante: Mas isto tudo no
metfora (...) Ah, estou sendo to direta que chego a parecer simblica (LISPECTOR 1998. p.
137). Efetivamente, nesta obra Clarice consegue atualizar aquela nudez de que fala Derrida quando
olha o animal a olh-lo, a desnud-lo. Diz G.H.: Eu tinha medo da face de Deus, tinha medo de
minha nudez final na parede (LISPECTOR 1998. p. 97). Lutando o tempo todo para vencer o
medo, ela sabe que a escolha sua. Entre o inferno ou o paraso, ela descarta ambos, assim como
desiste da esperana A desistncia uma revelao (LISPECTOR 1998. p. 177) - pois isso
que lhe acontece no representa nada para o futuro mas na verdade significa ao, e hoje
(LISPECTOR 1998. p. 147). Assim, provar a vida significa provar o neutro, o vazio, o gosto do
vivo que um gosto quase nulo (LISPECTOR 1998. p. 154), enfim, a barata comida. Esta ao
significa desumanizar-se, perder os referenciais humanos que a solapam e a fazem afastar-se de
uma dimenso muda e em fulgor (LISPECTOR 1998. p. 128). Retomando Derrida, pensar
comea talvez a (DERRIDA 1999. p. 57):
XI Congresso Internacional da ABRALIC
Tessituras, Interaes, Convergncias
13 a 17 de julho de 2008
USP So Paulo, Brasil
7
Quero o inexpressivo. Quero o inumano dentro da pessoa (...) Quero o material das
coisas. A humanidade est ensopada de humanizao, como se fosse preciso; e essa
falsa humanizao impede o homem e impede a sua humanidade (LISPECTOR
1998. p. 157-8)
Depois de provar o neutro, ela deseja uma ponte, mas No, no o meu anjo: mas a minha
humanidade e sua misericrdia (LISPECTOR 1998. p. 139). Entra na compreenso da carncia
como constitutivo do ser: Minha carncia vinha de que eu perdera o lado inumano fui expulsa do
paraso quando me tornei humana. E a verdadeira prece o mundo oratrio inumano
(LISPECTOR 1998. p. 161).
A importncia do Outro provm da experincia radical, agora j desnecessria, e se dirige ao
amor, fatal e to inerente quanto a prpria carncia (LISPECTOR 1998. p. 170). Ela s queria
falar da emoo que encontrar na palavra do Outro a verdade de uma coisa sentida e no
compreendida. Queria falar da desnecessidade de comer uma barata para perceber que pode se
deixar comer e comer o Outro porque se carente e se est sob lei do humano que precisa do
Outro. No preciso encenaes, basta estender a mo ao outro, sabendo que no precisar deixa
um homem muito s, todo s (LISPECTOR 1998. p. 170).
Neste livro Clarice no precisou ir ao campo para alcanar a integrao csmica com a
natureza. Num pequeno quarto de empregada de um apartamento de uma grande cidade, ela
dialoga com o inumano e se reconhece com paixo como inumana e portanto como no-ser que
assim . Entrega-se com confiana ao no-humano, ao no-ser, para aqum do herosmo e da
santidade.
5.3 Llansol: a celebrao dos animais, a morte de Jade
Servir o afeto com quem oferece um biscoito ao filho. Assim Ana de Penalosa, personagem
de Maria Gabriela Llansol em O livro das comunidades (1977), dava-se a palavra sobre o dedo
indicador ligeiramente curvado como se servisse um aperitivo e um peixe (LLANSOL 1977. p.
12). Repare-se que ela no dava, mas dava-se", numa imagem que mescla alimento, palavra e o
prprio corpo que se afeta, os trs elementos como sustentao e razo da existncia. O afeto no
gesto corporal o que faz a aliana entre um e outra, que se querem existir na troca do alimento-
palavra. Mas estes dois no se limitam relao entre marido e mulher, pais e filhos que
sobrevivem sob a luz comum. A narradora busca outro lugar mesa, ela deseja a luz clara,
aquela que se d entre duas almas crescendo de modo a mudar os hbitos de servir os afectos.
Tais palavras LLansol tece em Amar um co (1990), um pequeno texto escrito em Azenhas
do Mar, no final de agosto de 1990, certamente como homenagem ao seu co J ade, que ento
morria. Como sabemos, as expresses de LLansol no so metforas ou smbolos, pois a autora
procura evitar qualquer recurso que destaque o carter representativo da linguagem, preferindo
caminhar a contrapelo da ordem linear que rege a compreenso do mundo. Assim seu esforo busca
abrir caminhos no percorridos pela linguagem, atrs de um veio que ilumine a natural relao
palavra e mundo, as cenas fulgor. Ao falar do co e de sua relao de afeto com ele, Llansol fala
efetivamente de afeto entre duas almas, tornando-o presente, existente, real. No projeta no co os
desejos ou lamentos que pertencem dona. Nestes quase dilogos em que a dor da perda do co
existe, mas passa, vislumbra-se uma inteira ecofilosofia que coloca LLansol ao lado dos loucos
que falam com coisas, com a natureza e os animais como seres viventes, sem distncia ontolgica
em relao a eles. Llansol tambm nomeia plantas a famosa Triloba que tinha plantada em sua
casa - e com elas estabelece uma horizontalidade relacional que d suporte sua cosmoviso, bem
como ao entendimento do seu texto e ao papel da palavra e da escrita no mundo que habitamos.
Em Onde vais, drama-poesia?( ) a autora declara a falta de no ter a sabedoria do
escondido uso que os animais fazem do mundo, trazendo para o texto o seu fulgurante e
inconfidente canto de amor por ns. Neste poema-carta aos animais, ela fala de uma
XI Congresso Internacional da ABRALIC
Tessituras, Interaes, Convergncias
13 a 17 de julho de 2008
USP So Paulo, Brasil
8
nostalgia, no-ontolgica , no-mtica, que lhe d a ausncia dos animais, no s os seus, mas
todos os outros. Seu recurso ento o texto, onde se d a arte do sonho (no os comuns), onde
se faz um uso secreto das coisas (LLANSOL 2000. p. 173), onde se d o beijo da dupla boca
desse enlace(LLANSOL 2000. p. 174). Observar no texto o prprio dos animais v-los como
arautos da clorofila no limiar da criao, lugar onde nasce o drama-poesia.
Para reintegrar-se natureza, Llansol no faz como os ingnuos (que se despersonalizam),
nem como os sentimentais (que se angustiam). Ela simplesmente se evade da iluso da
representao, reconhecendo ser impossvel retratar a rvore, respeitando-lhe o seu prprio (da
rvore). Para dar o beijo que sela o enlace com a rvore / natureza, oferece-lhe o texto que escreve,
ignorando se o entendem como ignora se sua presena no mundo pode causar alguma mudana; o
importante o sentido: o texto para a rvore, para ambas, e basta. Este enlace de puro
erotismo, aberturas que se dispem a penetraes mtuas, que prescindem de gritos
autobiogrficos (LLANSOL 2000. p. 181). A natureza uma espcie de terceiro sexo, tem vida
prpria intercomunicante, penetrante, no uma tela de projeo como no romance tradicional,
nem se confunde como o neutro de Clarice, mais afim ao vazio e falta de sentido metafsico.
Assim uma simples gota dgua, antes de ser algo sujo a ser limpo por um garon, um vivo,
um terceiro que nos torna trs, que quebra o dual (LLANSOL 2000. p. 215-6). Estilizando lvaro de
Campos, a autora quer ver tudo de todas as maneiras, como est expresso num poema transcrito de
Rosa W. Christinna em que a moral da histria que tudo foge /move na apreenso pois no
conceito, anda um gato fugido do entendimento. (LLANSOL 2000. p. 218).
Numa articulao com a viso ecolgica moderna, o texto de Llansol no quer opinar sobre
a relao dos homens com os animais mas apontar a deteriorao de uma relao ertica para o
homem autista, proliferante e conquistador. O texto no se coloca acima do real querendo mud-lo,
mas antes se trata de atentar para o h do texto, o problemtico de uma relao amorosa,
libidinal, no s degradada, mas provavelmente / perdida, entre os sexos humanos e o sexo da
natureza (LLANSOL 2000. p. 187). O texto afirma a responsabilidade da autora, tal como J ade
responsvel, o pinheiro Letra responsvel, Prunus Triloba responsvel (LLANSOL 2000. p.
187). Sobre a indiferenciao entre vivos e texto, diz LLansol que a vida no essencialmente nem
principalmente humana; (...) o vivo (...) tende a ser matria leve e no coisa, algures, entre o
orgnico, o construdo e o concebido (...) (LLANSOL 2000. p. 190), como figuras que em sua obra
fulgorizam: No so coisas ou metforas, mas vivos, pois o fulgor no fala a linguagem do ser
(LLANSOL 2000. p. 191).
A viso utpica de Llansol ultrapassa as divises da cincia e do pensamento e se
materializa no texto:
eu ando a contar o mal-estar profundo dos seres humanos, dos animais e das
plantas, ando procura de um final feliz. Ando a ver se o fulgor que, por
vezes, h nas coisas, melhor guia do que as crenas que temos sobre elas,
ou do pensamento que, a propsito delas, nos ocorrem. (LLANSOL 2000. p.
227).
Em Amar um co, Llansol celebra o nascimento mas tambm a morte do seu co de
estimao. No outro livro posterior a narradora rememora sem dramatismos o co J ade envelhecido,
cego, com a conscincia de que ele morrer um dia. E diz, numa forma particular de restabelecer o
enlace entre homem e animal: e se trocssemos de sexo? (LLANSOL 2000. p. 298). J que
aprenderam a trocar o Um e o Outro, assim diz Llansol sobre a presena de um no outro: em mim
humana, / nele sou co (LLANSOL 2000. p. 299). Depois que ele morre, ela continuar a
alimentar esse tempo invisvel pois o espao, por exemplo, a poltrona onde dormia, sobreviver.
Aps esses dias de grande dor em que J ade partiu seguindo a geografia do seu corpo, ela o
reencontra no centro de uma cena fulgor (LLANSOL 1990. p. 227).
XI Congresso Internacional da ABRALIC
Tessituras, Interaes, Convergncias
13 a 17 de julho de 2008
USP So Paulo, Brasil
9
Concluso
Ao longo do trabalho, buscamos rever a posicionamento do humano frente a este Outro que
o animal, comeando com dados da nossa emoo. Inicialmente foi necessrio retormar uma
reflexo sobre a natureza e sobre o antropocentrismo que levou os animais para o texto como
metforas, alegorias ou amigos servis e fiis. Sob a inspirao de uma ecocrtica moderna (Garrard)
e de uma ecofilosofia da alteridade (Derrida), focalizamos a interao entre homem e animais sob o
aspecto do compartilhamento da capacidade de sofrer, afastando-nos da definio aristotlica que
foi responsvel pelo desequilbrio da natureza e pela guerra entre espcies movida pela razo
humana.
Com tais pressupostos, estudamos a presena dos animais na narrativa de fico de trs
escritoras que praticam uma nova metafsica e uma outra simbologia que convergem para um
mesmo foco: os afetos. Neles e por eles se estabelecem novas interaes identitrias que acenam
para uma recomposio das relaes intersubjetivas em que o Outro, sejam os animais, sejam os
outros humanos, seja a natureza, constituem a nica possibilidade de utopia num mundo que se
desmanha no ar. Teolinda afirmativa: Mas viver melhor as relaes humanas o nico sentido
da existncia, mantenho irredutvel, obstinada. Daqui no me faro arredar p, por muito que me
empurrem para o lado do vazio (GERSO 1984. p. 19). Clarice tem a coragem de mergulhar no
vazio, no indiferenciado, no neutro, para dali estabelecer a ponte necessria com o Outro, animal,
planta ou gente. Por sua vez, com sua escrita anti-representativa, Llansol tenta de muitas formas
propor a profunda solidariedade entre todos os viventes, em nome de um texto escrevvel e de um
sexo de ler que compem uma nova ertica de interaes.
Assim como LLansol que ignora que sua presena no mundo pode causar alguma
mudana (LLANSOL 2000. p.181), tambm Gerso questiona tal pretenso dos intelectuais.
Contudo, no desmerece a escrita: Os livros no mudam talvez nada no mundo. Mas no
provavelmente razo bastante para no escrever (GERSO 1984. p. 120).
Referncias Bibliogrficas
[1] CURTIUS, Ernst Robert. Literatura Europea y edad media latina, vol. 1, Mxico/ Madrid/
Buenos Aires: Fondo de cultura economica, 1989.
[2] CANCLINI, Nestor G. A globalizao imaginada. Trad. Srgio Molina. So Paulo: Iluminuras,
2003.
[3] DERRIDA, J acques. O animal que logo sou (a seguir) So Paulo: Editora UNESP, 1999.
[4] GARRARD, Greg. Ecocrtica, Braslia: Editora da Universidade de Braslia, 2006.
[5] GERSO, Teolinda. Os guarda-chuvas cintilantes, Lisboa: O J ornal, 1984.
[6] LISPECTOR, Clarice. A paixo segundo G.H., Rio de J aneiro: Rocco, 1998.
[7] ------. gua viva, 11
a
ed. Rio de J aneiro: Francisco Alves, 1990.
[8] LLANSOL, Maria Gabriela. O livro das comunidades, Porto: Afrontamento, 1977.
[9] ------. Amar um co, Colares/Sintra: Colares Editora, [1990].
[10] ------. Onde vais drama-poesia? Lisboa: Relgio dgua, 2000.
[11] SCHILLER, Friedrich. Poesia ingnua e sentimental, So Paulo: Iluminuras, 1991.
Autor(es)
1
Maria Lcia Wiltshire de OLIVEIRA, Profa. Dra. Universidade Federal Fluminense (UFF)
Departamento de Letras Clssicas e Vernculas
maluciao@hotmail.com
Vous aimerez peut-être aussi
- Aspectos Filosóficos PDFDocument66 pagesAspectos Filosóficos PDFAndré VilelaPas encore d'évaluation
- Dissertação Santhyago Camello PDFDocument152 pagesDissertação Santhyago Camello PDFAndré VilelaPas encore d'évaluation
- Simulação de PropostaDocument6 pagesSimulação de PropostaAndré VilelaPas encore d'évaluation
- Gramofone Miolo Pretextuais Prefacio Introd Agosto 2019Document44 pagesGramofone Miolo Pretextuais Prefacio Introd Agosto 2019André VilelaPas encore d'évaluation
- Método Montagem Narração. Walter Benjamin e A Queda Do Céu. 1Document22 pagesMétodo Montagem Narração. Walter Benjamin e A Queda Do Céu. 1André VilelaPas encore d'évaluation
- Introdução À EconomiaDocument2 pagesIntrodução À EconomiaAndré VilelaPas encore d'évaluation
- Método Montagem Narração. Walter Benjamin e A Queda Do Céu. 1Document22 pagesMétodo Montagem Narração. Walter Benjamin e A Queda Do Céu. 1André VilelaPas encore d'évaluation
- Fumar É Fogo e Nadar É ÁguaDocument2 pagesFumar É Fogo e Nadar É ÁguaAndré VilelaPas encore d'évaluation
- 2008 12-RevistaDocument207 pages2008 12-RevistaAndré VilelaPas encore d'évaluation
- Um Olhar Sobre A CidadeDocument15 pagesUm Olhar Sobre A CidadeAndré VilelaPas encore d'évaluation
- Apostila Modulo 3Document97 pagesApostila Modulo 3Rafael MendesPas encore d'évaluation
- Exercícios - 2Document8 pagesExercícios - 2Suellen RochaPas encore d'évaluation
- Bleach 1.0Document14 pagesBleach 1.0Vinicius D. AlmeidaPas encore d'évaluation
- Teste Foto AcopladorDocument1 pageTeste Foto AcopladorRocksley Mariano0% (1)
- Prova de Questões - SeducDocument7 pagesProva de Questões - Seducelaine santosPas encore d'évaluation
- Resumo de História Da Psicologia No BrasilDocument2 pagesResumo de História Da Psicologia No BrasilYngleb Monyk Carvalho100% (1)
- Manual PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS EM SALA DE AULADocument23 pagesManual PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS EM SALA DE AULAAndrezin JoséPas encore d'évaluation
- Hermetismo Revelado PDFDocument1 pageHermetismo Revelado PDFÍtalo MarinhoPas encore d'évaluation
- Exercícios 1 Sobre CircunferênciaDocument2 pagesExercícios 1 Sobre CircunferênciaNicole De Moraes Barrozo100% (1)
- Apontamentos para A História Da Revol Riograndense 1893 - 003Document53 pagesApontamentos para A História Da Revol Riograndense 1893 - 003gelavieiraPas encore d'évaluation
- Revisão Provas Física (Eletricidade e Fundamentos Da Física)Document3 pagesRevisão Provas Física (Eletricidade e Fundamentos Da Física)UilerPas encore d'évaluation
- RAC 01 - Avaliação de AprendizadoDocument1 pageRAC 01 - Avaliação de AprendizadoAmilton Silva de Assunção100% (1)
- Santillana Q10 FichaTrabalho04Document2 pagesSantillana Q10 FichaTrabalho04SílviaPas encore d'évaluation
- Características de Comportamento Empreendedor Conjunto de Realização Busca de Oportunidades e IniciativaDocument2 pagesCaracterísticas de Comportamento Empreendedor Conjunto de Realização Busca de Oportunidades e IniciativaEwerton CorreaPas encore d'évaluation
- Atividade Complementar 1º Ano - Parte 1Document2 pagesAtividade Complementar 1º Ano - Parte 1Francielle de Siqueira CastoPas encore d'évaluation
- Mapeamento E Monitoramento Dos Processos Erosivos No Município de São Luís - MaDocument6 pagesMapeamento E Monitoramento Dos Processos Erosivos No Município de São Luís - MawendelldiasPas encore d'évaluation
- Ficha - Mat CarnavalDocument4 pagesFicha - Mat CarnavalRogério Paulo X RodriguesPas encore d'évaluation
- Cinfotec Huambo Calendario VersoDocument1 pageCinfotec Huambo Calendario Versoboyhustle291Pas encore d'évaluation
- MANÔMETRIADocument18 pagesMANÔMETRIADiego SouzaPas encore d'évaluation
- Mancozeb-Técnico-Indofil FISPQ Rev.01Document13 pagesMancozeb-Técnico-Indofil FISPQ Rev.01GabrielaPas encore d'évaluation
- Avaliação MOPP - MovimentaçãoDocument3 pagesAvaliação MOPP - Movimentaçãojean bueno100% (2)
- Apostila LiderançaDocument30 pagesApostila Liderançailuminarteatelier freirealbanoPas encore d'évaluation
- Estudos Sobre A Contemporaneidade I (2023.1)Document4 pagesEstudos Sobre A Contemporaneidade I (2023.1)Ramon FontesPas encore d'évaluation
- Método ExperimentalDocument2 pagesMétodo Experimentalkrika serpa100% (2)
- A Teoria de Jean PiagetDocument9 pagesA Teoria de Jean PiagetMagno VegnaduzziPas encore d'évaluation
- Pi.13166 Eudosia SR5800WDocument96 pagesPi.13166 Eudosia SR5800WCarlos Alberto GasttiPas encore d'évaluation
- Plano de Negócios Pré-MoldadosDocument11 pagesPlano de Negócios Pré-MoldadosPatrick Ribeiro Do Val0% (1)
- Prevencionismo No Brasil e No MundoDocument6 pagesPrevencionismo No Brasil e No MundoMatheus RodriguesPas encore d'évaluation
- Integrado 1oano Vof 19052021 PDFDocument16 pagesIntegrado 1oano Vof 19052021 PDFJéssica LopesPas encore d'évaluation
- Livro Castanheiro PDFDocument218 pagesLivro Castanheiro PDFEliana E MindoPas encore d'évaluation