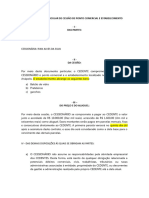Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Terceira Margem - Estética, Filosofia e Ciência Nos Séculos Xviii e Xix
Transféré par
Eduardo RosalTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Terceira Margem - Estética, Filosofia e Ciência Nos Séculos Xviii e Xix
Transféré par
Eduardo RosalDroits d'auteur :
Formats disponibles
TERCEIRA
MARGEM
REVI STA DO PROGRAM A DE PS- GRADUAO
EM CI NCI A DA LI TERATURA
ANO VIII N
O
10 2004
ISSN: 1413-0378
Est t i ca, Fi l osof i a e Ci nci a
nos Scul os XVIII e XIX
TERCEI RA M ARGEM TERCEI RA M ARGEM TERCEI RA M ARGEM TERCEI RA M ARGEM TERCEI RA M ARGEM
2004 Copyri ght by
Uni versi dade Federal do Ri o de Janei ro UFRJ / Facul dade de Let ras
Programa de Ps- Gr aduao em Ci nci a da Li t erat ura
T TT TTo d o s o s d i r ei t o s r eser v o d o s o s d i r ei t o s r eser v o d o s o s d i r ei t o s r eser v o d o s o s d i r ei t o s r eser v o d o s o s d i r ei t o s r eser vad o s ad o s ad o s ad o s ad o s
Facul dade de Let ras/ UFRJ
Ci dade Uni versi t ri a Il ha do Fundo CEP.: 21941-590 Ri o de Janei ro - RJ
T TT TTel : el : el : el : el : (021) 2598-9745 / F / F / F / F / Fax : ax : ax : ax : ax : (021) 2598-9795
e- mai l : e- mai l : e- mai l : e- mai l : e- mai l : t ercei ramargem@l et ras.uf rj .br
Homepage do Pr ogr ama Homepage do Pr ogr ama Homepage do Pr ogr ama Homepage do Pr ogr ama Homepage do Pr ogr ama: :: :: w w w.ci enci al i t .l et ras.uf rj .br
Pr ogr ama de Pr ogr ama de Pr ogr ama de Pr ogr ama de Pr ogr ama de P s- Gr ad u ao P s- Gr ad u ao P s- Gr ad u ao P s- Gr ad u ao P s- Gr ad u ao em Ci nci a da Li t er at ur a em Ci nci a da Li t er at ur a em Ci nci a da Li t er at ur a em Ci nci a da Li t er at ur a em Ci nci a da Li t er at ur a
Coordenador: Joo Cami l l o Penna
V VV VVi ce- coor denador a: i ce- coor denador a: i ce- coor denador a: i ce- coor denador a: i ce- coor denador a:
Ana Mari a Al encar
Edi t or a Convi dada: Edi t or a Convi dada: Edi t or a Convi dada: Edi t or a Convi dada: Edi t or a Convi dada:
Luci a Ri cot t a
Co n sel h o Ed i t o r i al Co n sel h o Ed i t o r i al Co n sel h o Ed i t o r i al Co n sel h o Ed i t o r i al Co n sel h o Ed i t o r i al
Ana M ar i a Al encar Angl i ca M ari a Sant os Soares Eduardo Cout i nho
Joo Cami l l o Penna Lui z Edmundo Cout i nho Manuel Ant oni o de Cast ro Vera Li ns
Co n sel h o Co n su l t i v o Co n sel h o Co n su l t i v o Co n sel h o Co n su l t i v o Co n sel h o Co n su l t i v o Co n sel h o Co n su l t i v o
Benedi t o Nunes - UFPA Cl eoni ce Ber ar di nel l i - UFRJ
Eduardo de Fari a Cout i nho - UFRJ Eduardo Port el l a - UFRJ/ ABL
E. Carnei ro Leo - UFRJ Hel ena Parent e Cunha - UFRJ Leandro Konder - PUC-RJ
Lui z Cost a Li ma - UERJ / PUC - RJ Manuel Ant ni o de Cast ro - UFRJ
Ronal do Li ma Li ns - UFRJ Si l vi ano Sant i ago - UFF
Tani a Franco Carval hal - UFRGS Jacques Leenhardt - Frana
Luci ana St egagno Pi cchi o - It l i a M ari a Al zi ra Sei xo - Port ugal
Pi er r e Ri vas - Fr ana Robert o Fernndez Ret amar - Cuba
Et t ore Fi nazzi - Agr - It l i a
Revi so dos t ext os: Revi so dos t ext os: Revi so dos t ext os: Revi so dos t ext os: Revi so dos t ext os: Sandra Pssaro
Pr oj et o gr f i co / Edi t or ao: Pr oj et o gr f i co / Edi t or ao: Pr oj et o gr f i co / Edi t or ao: Pr oj et o gr f i co / Edi t or ao: Pr oj et o gr f i co / Edi t or ao: 7Let ras
TERCEI RA M ARGEM : Revi st a do Pr ogr ama de Ps- Gr aduao em Ci nci a da
Li t erat ura. Uni versi dade Federal do Ri o de Janei ro, Cent ro de Let ras e Art es, Facul dade
de Let ras, Ps-Graduao, Ano IX, n 10, 2004.
180 p.
1. Let ras- Peri di cos I. Tt ul o II. UFRJ/ FL- Ps-Graduao
CDD: 405 CDU: 8 (05) ISSN: 1413-0378
SUMRIO
APRESENTAO
Lucia Ricotta.................................................................................................. 5
QUEM RI POR LTIMO, RI MELHOR.
HUMOR, RISO E STIRA NO SCULO DA CRTICA
Mrcio Suzuki ................................................................................................ 7
UM ESPELHO NO BOLSO: A PRTICA DO SOLILQUIO EM SHAFTESBURY
LusF. S. do Nascimento............................................................................... 28
CARTA SOBRE A ARTE OU A CINCIA DO DESENHO (1712)
Anthony Ashley Cooper, terceiro CondedeShaftesbury..................................... 50
A EXIGNCIA FRAGMENTRIA
PhilippeLacoue-LabartheeJean-Luc Nancy................................................... 67
FRIEDRICH SCHLEGEL E NOVALIS: POESIA E FILOSOFIA
Mrcio Seligmann-Silva................................................................................ 95
NOVALIS, NEGATIVIDADE E UTOPIA
Vera Lins.................................................................................................... 112
O CONCEITO DE INTERESSE
Maria Lcia Cacciola................................................................................. 125
O HOMEM CULTO DO SCULO XIX: QUESTIONAMENTOS EM TORNO
DO CONCEITO DE BILDUNG NA OBRA DE JOHANN GUSTAV DROYSEN
Pedro Caldas............................................................................................... 135
A PINTURA DE PAISAGEM ENTRE ARTE E CINCIA:
GOETHE, HACKERT, HUMBOLDT
Claudia Vallado deMattos........................................................................ 152
LITERATURA E VIDA: RELEMBRANDO UM GOETHE UM TANTO ESQUECIDO
Luiz BarrosMontez..................................................................................... 170
O PENSAMENTO MITOPOICO
Harold Bloom............................................................................................ 186
APRESENTAO
Luci a Ri cot t a*
Edi t ora convi dada
Em Filosofia, Esttica eCincia nosSculosXVIII eXIX, predomina a
investigao sobre os limites e as distines configuradas nos mltiplos tipos
de relaes possveis entre esses campos. A trade aqui destacada inclui tam-
bm os fundamentos da moral e da poltica, constituindo um sistema de
vasos comunicantes capaz de legitimar a sobriedade romntica do sujeito. O
cerne de discusso deste nmero o impacto que o exame crtico da razo
humana por Kant tem para a gerao contempornea e posterior a ele. No
entanto, o presente volume sugere, de sada, a importncia que a crtica de
seminal prodigalidade filosfica, histrica e esttica vinda da mente iluminista
como a de Shaftesbury criar para muitos dos procedimentos criativos da
modernidade dos pensamentos em questo. Assim apresenta-se o ensaio de
Mrcio Suzuki e Lus Nascimento sobre distintos textos do filsofo, bem
como a traduo de uma Carta sobre a Arte ou a Cincia do Desenho de
1712, feita por Pedro Paulo Pimenta.
Trata-se propriamente de encaminhar o leitor a uma configurao mui-
to especial por que passaram esses trs campos de saber, desde j o incio do
sculo XVIII. Pode-se falar do arranjo singular que vibra a (ainda que em
nuances variadas para cada um dos termos) em consonncia com a busca de
objetivar a autoconscincia sobre a natureza dos limites e dos esperados pon-
tos de dilogo que a esttica como crtica de arte, a filosofia como crtica ao
pensamento e a cincia como processo de racionalizao do mundo consig-
nam a historiadores, filsofos, poetas, pintores, crticos, cientistas etc. Im-
porta lembrar: neste momento, o processo histrico de autoconscincia
paradoxal e permevel a valores de outras reas. O que nos revela que a auto-
referencialidade da esttica e dos conhecimentos filosfico e cientfico ne-
cessria para a construo e preservao de seus mbitos especficos tem
uma contrapartida extravasada lanando para fora de sua unidade fins e inte-
resses essenciais razo humana.
5
* LUCIA RICOTTA Doutora em Histria pela PUC-Rio. Atualmente leciona no Departamento de
Cincia da Literatura da UFRJ como bolsista Prodoc/Capes. autora do livro Natureza, Cincia e
Esttica emAlexander von Humboldt (Mauad, 2003).
6 APRESENTAO
A reflexividade esttica pelos primeiros romnticos tem o seu mrito
nesse contexto; pode-se entend-la a partir do importante ensaio de Lacoue-
Labarthe e Jean Luc-Nancy, A Exigncia Fragmentria aqui traduzido por
Joo Camillo Penna. A temtica caracteriza-se em face da peculiar operao
que a obra de arte instaura sobre sua criao artstica e sobre o sujeito que
dela e nela se investe. Dois outros artigos ligam-se ao primeiro romantismo
alemo: o texto Negatividade e Utopia em Novalis de Vera Lins e Friedrich
Schlegel e Novalis: Poesia e Filosofia de Mrcio Seligmann-Silva, em que se
avalia a teoria primeiro-romntica da poesia do ponto de vista de uma con-
cepo romntica da prpria filosofia.
Pondere-se, alm disso, que ainda em A pintura de paisagem entre arte
e cincia: Goethe, Hackert, Humboldt de Cludia Vallado de Mattos, a
participao de um modelo de uma imagem paisagstica fixada pelo pintor
Hackert se acusa de modo evidente nas observaes de Goethe e Alexander
von Humboldt sobre o ideal harmonizador entre arte e cincia.
O conceito de Interesse por Maria Lcia Cacciola se atm ao reexame
rigoroso da interpretao que Schopenhauer faz da Crtica do juzo esttico.
Longe de aderir ao perspectivismo arbitrrio, ela se apega tentativa de res-
tabelecer o compromisso equilibrado entre a esttica de Shopenhauer e a de
Kant.
Em O pensamento mitopoico de Harold Bloom, traduzido por Suely
Cavendish, seremos levados a perceber, com aprecivel diferena, o interesse
experimental de um Bloom de 47 anos atrs por um dos poetas do romantis-
mo ingls. Nada menos do que Shelley, e seu poema Noite.
O tema de O Homem culto do sculo XIX de Pedro Caldas o com-
plexo conceito de Bildung. A partir da referncia obra de Droysen, aponta-
se a necessidade de considerar o sentido trgico que permanece no fundo
contraditrio desse termo. E, por fim, o texto de Luiz Barros Montez, Lite-
ratura e vida: relembrando um Goethe um tanto esquecido, recupera um
Goethe histrico como meio de acesso noo de totalidade e aos paralelismos
e/ou deformaes entre o gnio de Weimar e a gerao romntica alem.
Esta publicao s foi possvel com o apoio da bolsa Prodoc/Capes.
Mrci o Suzuki 7
QUEM RI POR LTIMO RI MELHOR.
HUMOR, RISO E STIRA NO SCULO DA CRTICA
1
Mrci o Suzuki *
Nada maisdeplorvel emsua origemenada maisexecrvel
emsuasconseqnciasdo queo temor deser ridculo.
Friedrich Schlegel
2
SENSUS COMMUNIS, OR AN ESSAY on theFreedom of Wit and Humour uma
pea literria e filosfica publicada pela primeira vez em 1709. Faz parte do
primeiro volume das Caractersticasdo filsofo Anthony Ashley Cooper, que
ficou mais conhecido no mundo letrado por seu ttulo nobilirquico, o de
III Conde de Shaftesbury. Assim como a Carta sobreo Entusiasmo, publicada
no ano anterior, o ensaio sobre o senso comum foi escrito na forma de uma
epstola, gnero, como se sabe, muito difundido desde a Antigidade roma-
na. Nessa carta, o suposto autor procura desfazer a nuvem de perplexidade
que invadira o esprito de um jovem gentleman amigo seu: este, com efeito,
ficara bastante desorientado depois que, contra todas as regras do decoro,
ouvira o amigo fazer um elogio da zombaria numa reunio social de que
ambos haviam tomado parte poucos dias antes. A carta procura, assim, dis-
sipar qualquer sombra de dvida ou de mal-entendido quanto ao srio pro-
psito daquele elogio.
A questo que imediata e inevitavelmente se pe para algum que faz
uma defesa da zombaria (raillery), diz o missivista, a de saber se ela pode
ser justa (fair).
3
Ao tentar responder a essa pergunta, no se pode fugir a essa
primeira constatao: a zombaria s justa se vale, indiscriminadamente,
para todos. A idia de submeter a opinio de algum ao crivo do ridculo,
para saber se ela vlida, s ter sentido, afirma o autor, se a regra for gene-
ralizada, isto , se tambm as minhasopinies forem objeto do possvel juzo
escarnecedor dos outros. Querer passar ileso, nesse caso, pode ser visto como
um gesto anti-social, sinal de egosmo (selfishness).
4
*MRCIO SUZUKI, professor da rea de Esttica do Departamento de Filosofia da USP, autor de O
Gnio Romntico: Crtica eHistria emFriedrich Schlegel (Iluminuras, 1988). Entre as tradues
publicadas destacam-se: Poesia Ingnua eSentimental (Iluminuras, 1991), A Educao Esttica do Ho-
mem, de Friedrich Schiller (com Roberto Schwarz, Iluminuras, 1990), e os fragmentos dos primeiros
romnticos alemes em O Dialeto dosFragmentos(Iluminuras, 1997).
7
8 Quem ri por l t i mo, ri mel hor. Humor, ri so e st i ra no Scul o da Crt i ca
Mas h ainda uma outra dificuldade: em que consiste a zombaria?
Descrev-la em seu sentido rigoroso seria algo to impossvel quanto definir
o que o senso comum, o humor, o wit, ou, em termos gerais, o que so
boas maneiras ou boa educao.
5
Como ocorre nos outros textos do au-
tor, o que se quer evidenciar aqui a impossibilidade de se transmitir essas
noes nas formas filosficas convencionais (tratado, investigao etc.). Elas
no so objetos de definio, de deduo ou demonstrao; no so
ensinamentos tcnicos ou cientficos, que podem ser passados adiante sim-
plesmente respeitando as boas normas de pedagogia.
Observando-as mais de perto, possvel dizer que essas noes fazem
parte de um conjunto maior, como aspectos de um mesmo senso de sociabili-
dade que o fundamento da poltica, da moral e da esttica. exatamente pela
ausncia desses princpios de refinamento que se viu surgirem, nos tempos
modernos, algumas fissurasno corpo social. A falta de senso para o riso seria
ento, para o remetente da carta, apenas um dos aspectos de uma indisposio
mais geral para o dilogo, para a troca de opinies, para o aprendizado da
sociabilidade indisposio caracterstica da poca moderna e cuja origem precisa
ser explicada. De qualquer forma, nem tudo est perdido: por isso que ainda se
pode escrever uma carta sobre o tema a um jovem do mundo refinado.
6
Uma anedota narrada nas Miscelneas(obra que , dentro das prprias
Caractersticas, um arremate crtico a elas) permite que se pinte melhor o
quadro geral de indisposio para o aprendizado do dilogo e de averso s
virtudes sociais. Comecemos pelas questes em que h controvrsia. mais
que comum nas discusses sobre assuntos controversos vermos um irado
litigante (angry disputant), que no poupar esforos para transformar a boa
causa numa causa ruim.
7
Pensando provavelmente nisso, um clown teve um
dia a veleidade (sentiu o capricho ou inclinao = took a fancy) de ir assistir s
contendas em latim dos doutores de uma universidade. Perguntaram-lhe
ento que prazer pde ter ele auferido daqueles combates, se no podia saber
qual dos oponentes levara a melhor. O clown replicou que, tambm nessa
matria, no podia ser considerado um bobo (fool), porque podia ver quem
era o primeiro a levar o outro a ser tomado de paixo.
8
A natureza mes-
ma, comenta o autor das Miscelneas, ditou essa lio ao clown. Ou seja,
sem que precisasse de nenhum ensinamento alm daquele que ditado por
sua prpria natureza, o bufo era capaz de entender que aquele que estivesse
levando vantagem na discusso se apresentaria vontade e bem-humorado
nela, enquanto aquele que fosse incapaz de defender sua causa pela razo,
perderia naturalmente o controle e se tornaria violento.
9
Mrci o Suzuki 9
Essa historieta jocosa pode ser lida como emblemtica da prpria ciso
em que se encontra a sociedade inglesa (e, por extenso, a europia) para
Shaftesbury. medida que a voltagem do debate aumenta, pode-se perceber
que o scholar que est vencendo vai se mostrando mais vontade e de bom
humor (easy and well-humored), na proporo inversa em que aumentam o
destempero e a violncia do adversrio.
10
Entre um e outro litigante, vemos
a careta risonha do clown (personagem o mais das vezes depreciada na filoso-
fia de nosso autor), que na anedota no aparece como mais um ouvinte
interessado (e apaixonado) do auditrio acadmico, mas surge ali paradoxal-
mente como o nico juiz abalizado do debate, porque, sem compreender
absolutamente nada do que est em jogo, o nico que entende as regras
dele. O clown, como se diz em fenomenologia, ps entre parnteses as teses
dos dois debatedores. Mas uma vez que no h propriamente comunicao
entre eles, entender ou no o que eles dizem no quer dizer nada. E justa-
mente por esse seu distanciamento que o bufo conserva a capacidade
natural de discernir corretamente que o scholar de bom humor deve estar
mais prximo da verdade.
Mas a situao geral de incompreenso entre as partes que compem a
sociedade apenas grosseiramente delineada na anedota. O bufo funciona
mal-e-mal como rbitro da peleja porque ele apenas supre muito precaria-
mente uma ausncia. Ele somente vicrio de uma instncia mais compe-
tente, que no apenas se limitaria a dar um veredicto em cada caso (como
num tribunal), mas tambm estabeleceria uma efetiva mediao entre as
partes em conflito. Como veremos, a atitude do clown no , todavia, abso-
lutamente desprovida de sentido.
As sociedades modernas (e a da Gr-Bretanha no exceo) parecem
se compor de uma maneira tal que inevitvel a ruptura em duas faces.
Essa ruptura mais profunda do que se imagina, pois no se limita s dife-
renas de posio entre os partidos polticos: de um lado, encontra-se uma
classe de pessoas que ainda se mantm num ponto prximo ao estado de
barbrie ou de incultura, e, de outro, uma classe que se refinou e sofisticou a
ponto de perder o contato com a realidade da vida comum. Nessas circunstn-
cias, a imagem da ciso j no representada por duas partes detentoras de
saberes mais ou menos parecidos, como os dois scholarsda anedota, mas por
uma parte qual cabe o saber e outra totalmente desprovida dele. Aqui, os dois
eruditos se opem ao clown, smbolo das camadas rsticas da sociedade.
11
Como quer que seja, tanto num caso quanto no outro, o problema da
incomunicabilidade permanece praticamente o mesmo: todo o ensinamento
10 Quem ri por l t i mo, ri mel hor. Humor, ri so e st i ra no Scul o da Crt i ca
que poderia provir da alta sofisticao dos eruditos se perde por uma falta de
jeito para a comunicao do seu saber. Ou melhor ainda: a falta de jeito
provm da inadequao ou impossibilidade mesma de comunicar esse saber.
Da decorrem duas situaes: ou o sbio despreza e ridiculariza o vulgo que
no o entende, ou este zomba do esforo inglrio do erudito por alcanar
um saber incuo, que ele tenta com todas as foras impingir ao pblico.
Conforme o ponto de vista, o riso pode estar, ou do lado do erudito, ou do
lado do vulgo. Mas pode-se dizer em geral que o desprezo do sbio geral-
mente menos dado ao riso. Por isso, tambm mais perigoso: o pensador
abstrato o que est mais propenso ao dogmatismo e ao fanatismo, manifes-
taes que esto muito prximas da loucura. E por sua maior proximidade
com o riso que o bufo podia dizer que estava longe de ser um fool.
A partir desse quadro se pode compreender o significado do riso nas
sociedades modernas: nelas, o riso uma espcie de reao nervosa provocada
por uma daquelas duas combinaes. Quando os eruditos, extremamente
ciosos de seu saber, tentam fazer com que ele seja aceito fora, isso causa
rancor e ressentimento nos mais simples, rancor e ressentimento que so o
fermento de seu riso escarnecedor; ou ento o vulgo por demais adverso
erudio, o que faz objeto de desprezo e derriso dos sbios.
preciso estar atento a essa grande diviso entre os que sabem e os que
no sabem porque ela tem uma clara implicao poltico-religiosa: o principal
empecilho compreenso dos dois lados se deve a que alguns aparentam pos-
suir conhecimentos ou princpios doutrinais que no podem ser revelados e
so guardados como mistrios. Esse pretenso saber dos devotos ou zelotes o
que desperta o no menos fervoroso ceticismo dos antidevotos ou modernos
reformadores. Como explica o Ensaio sobrea LiberdadedeWit eHumor:
Com freqncia as coisas se fazem assim para serem tomadas como segredos por uma
seita ou partido; e nada ajuda tanto isso quanto a antipatia e o acanhamentode um
partido contrrio. Se subitamente somos tomados de horror e consternao ao ouvir
mximas que pensamos ser venenosas, no nos encontramos em disposio para usar
aquela parte familiar e suave da razo que o melhor antdoto. O nico venenopara a
razo paixo. Pois o raciocnio falso logo corrigido, onde se remove a paixo. Se, no
entanto, simplesmente escutar certas proposies da filosofia suficiente para como-
ver nossa paixo, evidente que o venenoj penetrou em ns e estamos efetivamente
tolhidos no uso de nossa faculdade de raciocinar.
12
O antagonismo criado pela antipatia ao pretenso saber de um partido.
A paixo antiptica acarreta uma timidez ou inibio (shyness) no uso da
razo, que faz com que esta perca sua naturalidade e descontrao. Tal
Mrci o Suzuki 11
descontrao, alis, geralmente incompatvel com prticas filosficas fun-
dadas na reflexo abstrata. Como contraponto essencial paixo, a leveza
gerada no pelo estudo de tratados ou pelos discursos de um orador, mas
pelo hbito de dialogar, pela conversa socivel. A razo, em Shaftesbury,
sempre uma razo dialtica, dialgica:
(...) de acordo com a noo que tenho de razo, nem os tratados escritos do erudito,
nem os discursos do orador so capazes, por si ss, de ensinar o uso dela. Somente o
hbito de raciocinar pode fazer o arrazoador. E no se pode convidar melhor os ho-
mens a esse hbito do que quando tm prazer nele. Uma liberdade de zombaria, uma
liberdade de questionar tudo em linguagem conveniente e uma permisso de desem-
baraar e refutar cada argumento sem ofender o argidor, so os nicos termos que de
algum modo podem tornar agradveis as conversas especulativas.
13
Se bem se entende esse trecho, fica claro que a conversa agradvel e
desimpedida com pessoas igualmente francas no apenas o que propicia o
uso correto da razo, mas, no sentido rigoroso, a prpria razo. Quanto mais
freqentamos pessoas polidas, tanto mais livres nos sentiremos para o verda-
deiro exerccio da razo. O hbito da conversa nos d a rapidez requerida
para no nos deixar tomar de assalto pela paixo. Em seu ponto mximo, a
razo se revela na lcida e inexplicvel lepidez de um resposta imediata e
surpreendente pelo brilho, de um dito espirituoso, de um chiste, enfim, de
todas aquelas conotaes que a lngua inglesa reserva ao wit:
Em matria de razo, mais se d em um minuto ou dois, por meio de questo e respos-
ta, do que por um discurso corrido de horas inteiras.
14
Tornamo-nos melhores no raciocnio se o exercitamos de maneira pra-
zenteira (pleasantly), com leveza, tranqilidade e conforto (at our ease). Po-
demos abordar ou largar um assunto ao bel-prazer ou conforme nossa incli-
nao (aswefancy). E, nessa atmosfera, geralmente acaba sendo muito mais
estimulante que a discusso acabe em impasse, porque isso dar ensejo a que
se retome, sozinho ou em grupo, as suas dificuldades e aporias. A agradvel
confuso que encerra a reunio social da qual participam os amigos , alis,
o que d ensejo s reflexes do missivista na carta ao jovem gentleman.
15
O wit e o humor so os ingredientes indispensveis da conversao
polida e agradvel. Mais que isso: so eles que, como uma pedra-de-toque,
tornam possvel distinguir o que genuno da razo e o que lhe esprio:
Sem wit e humour, a razo dificilmente pode pr-se prova [takeitsproof] ou ser
distinguida.
16
12 Quem ri por l t i mo, ri mel hor. Humor, ri so e st i ra no Scul o da Crt i ca
Sem os dois elementos fundamentais da sociabilidade, no h razo e o
dilogo verdadeiro e franco impossvel. Como no podem chegar liber-
dade das paixes promovida pelo humor, os partidos em que a sociedade se
divide so presa deste grande temor que se manifesta na recusa de passar pelo
teste do ridculo (test of ridicule).
17
Curioso, no entanto, que a animosidade
entre eles tem, entre suas armas, tambm a arma do riso. assim que alguns
gravegentlemen se incumbem de aplicar corretivo a um autor que defende o
uso da zombaria, mas, contraditoriamente, eles mesmos lanam mo dessa
arma, embora sejam por natureza bastante desajeitados no seu uso.
18
Figura-
da como uma cena teatral, essa diviso dos partidos daria a seguinte imagem,
segundo Shaftesbury:
No pode haver viso mais disparatada [preposterous= prepstera, contra a ordem
natural] do que um executor e um palhao [merry-andrew] fazendo seus papis no
mesmo palco. Estou, porm, convencido de que qualquer um concordar ser este o
verdadeiro quadro de alguns zelotes modernos em suas controvrsias escritas. Eles no
so mais mestres da gravidade do que do bom humor. O primeiro [dos debatedores]
sempre corre para uma spera severidade, e o segundo a uma desajeitada bufonaria. E
assim, entre raiva e prazer, zelo e truanice [drollery], seus escritos tm muito daquela
graa das brincadeiras de crianas humorosas [humoursom= ou caprichosas, mima-
das], que, no mesmo instante, so irritadas e inquietas, e podem rir e gritar quase num
nico e mesmo respiro.
19
Essa descrio da cena teatral contm obviamente uma aluso ao teatro
ingls em geral e ao teatro shakesperiano em particular.
20
Mesmo que no se
simpatize com a indecorosa violncia e com a vulgaridade burlesca do palco
ingls, preciso, contudo, saber entender o que h de verdadeiro nele.
21
Para
poder curar um pblico de gosto brbaro, preciso conhecer o mal que o
aflige e saber aplicar o remdio correto. No se pode proceder precipitada-
mente, como aqueles construtores que, alegando que um prdio corria risco
de cair, o escoraram e prenderam de tal maneira, que ele acabou virando e
tombando do lado oposto.
22
Da mesma maneira, nas sociedades modernas
as formas do ridculo so uma reao igualmente desproporcional serieda-
de daqueles que parecem deter verdades muito sutis. Imagine-se algum tendo
de suportar horas a fio um palestrante tedioso, sem poder ter nenhuma pos-
sibilidade de se defender. Esse ouvinte (semper ego auditor tantum!)
23
estar
condenado passividade, ao atrofiamento do uso de sua razo. O riso, nessa
situao, ser uma reao quase natural e inevitvel a esse constrangimento.
Eis como a carta ao jovem gentleman a descreve:
Mrci o Suzuki 13
Nem de admirar que os homens sejam to fracos em raciocnios [faint raisoners] e
cuidem to pouco de debater estritamente sobre qualquer assunto trivial quando esto
com amigos [in company], se eles so to pouco ousados em exercitar suas razes em
grandes questes, e so forados a discutir como aleijados, onde precisariam da maior
atividade e vigor. A mesma coisa, portanto, que acontece aqui, o que acontece nos
corpos robustos e saudveis, que se afastaram do seu exerccio natural e esto confina-
dos num espao exguo. Eles so forados a empregar gestos estrdios e contores.
Eles possuem uma espcie da ao e, todavia, se movem, embora com a pior graa
imaginvel [worst graceimaginable]. E assim os espritos [spirits] naturais livres de
homens engenhosos [ingenious], se so aprisionados e controlados, encontraro ou-
tros meios de se mover, a fim de se aliviar de seu constrangimento: e quer no burlesco,
quer em mmica, quer em bufonaria, ficaro de qualquer modo contentes de se desopilar
e de se vingarem de seus constrangedores.
24
A mmica, o burlesco, a bufonaria so marcas da revolta contra o entu-
siasmo exagerado e a retrica empolada.
25
Resultados da falta de liberdade de
esprito numa nao, eles se tornam voga justamente porque, sem que se
perceba, so reao involuntria coero perpetrada pela autoridade. a
falta de liberdade de pensamento que explica o receio de ser ridicularizado e,
conseqentemente, a falta de verdadeira polidez [truepoliteness] e a corrupo
ou o mau uso da faccia [pleasantry] e do humor.
26
Se o grau de humor varia conforme a autoridade, possvel ento estabe-
lecer uma espcie de frmula algbrica para calcular a relao entre coero da
autoridade (ou seriedade dogmtica: religiosa, moral ou poltica) e o burlesco:
Quanto maior for o peso, tanto mais amargo ser o stiro. Quanto mais alta a escravi-
do, tanto mais esmerada [exquisite] a bufonaria.
27
o que ocorre nos pases onde mais forte a tirania espiritual. Por
isso, a maioria dos bufes so italianos: e nos seus escritos, nas suas conver-
sas mais livres, nos seus teatros e nas suas ruas, a bufonaria e o burlesco esto
na mais alta voga.
28
Tanto quanto o stiro, o bufo italiano uma figura mais que justificada
dentro dessa correlao de foras. A mscara cmica mesmo exemplar na
punio do vcio.
29
Com ela ns aprendemos a justa punio das paixes da
covardia e da avareza, assim como a de um gluto ou um sensualista, que so
to ridculos quanto os outros dois caracteres.
30
V-se que aqui o riso provo-
cado pelo histrio acertado, pois ele de modo algum se volta contra a sabedo-
ria, a honestidade ou as boa maneiras. Exatamente conforme a lio de
Aristteles (e da teoria clssica do riso, descrita por Quentin Skinner), a puni-
o visa a alguma deformidade: Pois nada ridculo, seno o que deforma-
do. E coisa alguma prova contra a zombaria, a no ser o que bonito e justo.
31
14 Quem ri por l t i mo, ri mel hor. Humor, ri so e st i ra no Scul o da Crt i ca
Como o clown que vai academia, os palhaos tm em geral um instinto
natural do ridculo. Eles sabem sobretudo se conservar dentro dos limites do
risvel e no pretendem fazer rir custa de tudo e de todos. No caem no erro
de jovens gentlemen que, por estarem presos aos preconceitos em voga, so
levados a rir (to laugh at) da virtude pblica e da prpria noo de bem co-
mum.
32
Os jovens que assim procedem o fazem apenas pelo princpio acima
exposto (do prdio apoiado do lado errado). Tais gentlemen of fashion so ape-
nas os antpodas dos solenes reprovadores do vcio: enquanto estes conde-
nam a leviandade dos airy wits (mentes arejadas, leves), estes, por sua vez, se
vingam daqueles apelando para a zombaria e o ridculo.
33
A diviso que en-
contramos entre devotos e antidevotos tambm pode ser vista aqui. Pela
extrapolao de sua autoridade, os reprovadores do vcio fazem os jovens
bem-formados buscar refgio num tipo de stira que inadequado, porque,
diferentemente da bufonaria italiana, ali se desconhecem as regras do gnero.
A juventude levada a ridicularizar algo que no pode ser ridicularizado.
sobre essa oposio que se erguem as duas faces opostas no cenrio
poltico, moral e esttico. De um lado, os dogmticos, os devotos, os con-
servadores de uma ordem incompreensvel (porque calcada em princpios
que no se conhecem); de outro, os reformadores, os hobbesianos que rejei-
tam qualquer princpio de sociabilidade natural, os epicuristas que ridicula-
rizam os preceitos da moralidade, os relativistas lockianos que no aceitam
princpios naturais inatos, os artistas geniais que desprezam as regras da arte.
Mas por que esses men of wit tm prazer em esposar tais sistemas parado-
xais?Na verdade, no se pode propriamente dizer que esto plenamente
satisfeitos com esses sistemas. O prazer que deles extraem vem antes de que
imaginam que, mediante esse ceticismo geral por eles introduzidos, levaro a
melhor sobre o esprito dogmtico que prevalece em algumas matriasparti-
culares. Da o esprito de zombaria reinante nas conversaes em geral e o
fato de noes serem propostas e aceitas simplesmente por serem estra-
nhas, singulares (odd) e incomuns (out of way).
34
Esse gnero ctico de
wit
35
acaba por se associar stira e ao ridculo, no mau sentido. O pior
que ele se converte em sistema. Com ele, a stira se torna sistemtica.
Se o riso era uma reao at certo ponto justificvel ao fanatismo e ao
dogmatismo, trata-se agora de apontar a inadequao do riso, fazendo a cr-
tica da stira inadequada, do ridculo sem nenhum propsito ou interesse. E
aqui chegamos ao ponto crucial, o da diferena entre stira e crtica para
Shaftesbury. A crtica a nica capaz de identificar onde h um erro, falta de
gosto ou refinamento na stira e no ridculo. Em geral, se ridiculariza a falsa
Mrci o Suzuki 15
seriedade (falseearnest). Mas a falsa troa passa ilesa e se torna um engo-
do errante [errant deceit] tanto quanto aquela.
36
Isso porque, voltando-se
para o partido oposto, faz com que imperceptivelmente reforce a aparncia
de verdade do seu prprio partido.
Porque, enquanto a dvida vlida somente para um lado, a certeza cresce tanto mais
fortemente no outro. Enquanto apenas uma face do desatino [folly] aparece ridcula, a
outra se torna mais solene e enganadora.
37
A crt i ca e a j ust a medi da do ri so
Masa situao deum bobo da corteque, para sacudir beneficamenteo
diafragma, devetemperar comrisada a refeio desua Majestadefazendo
alusespicantesa seusmaisdistintosservidores, est, dependendo como
tomada, acima ou abaixo detoda crtica.
Immanuel Kant, Antropologia.
38
A ruptura poltica, moral e esttica que se observa nas sociedades mo-
dernas pode ser mais precisamente explicada quando se traa um paralelo
com a civilizao antiga. O caminho do aprimoramento poltico, moral e
esttico na Grcia e em Roma instrutivo para quem quer compreender o
estado atual das naes europias, principalmente o da Gr-Bretanha. A his-
tria da filosofia e da literatura gregas nos fornece alguns parmetros pelos
quais se pode guiar a interpretao que se faz do prprio tempo.
Como surgiu a comdia na Grcia?A resposta a essa pergunta capital
no aparece como uma tarefa fcil aos olhos desse admirador e estudioso da
civilizao grega e romana que foi Shaftesbury, pois requer filologia e erudi-
o. O delineamento geral da histria da literatura grega e romana poder,
todavia, fornecer a chave de compreenso do fenmeno do riso e do humor
tambm nos tempos modernos.
fcil imaginar [it iseasy to imagine], nota o autor das Miscelneas,
que, dentre os muitos estilos e maneiras de discursar ou escrever, o mais
rpido de se alcanar e que mais cedo se pratica o miraculoso, o pomposo, ou
aquele que geralmente chamamos de sublime.
39
O assombro (astonishment)
a primeira paixo despertada na humanidade bruta e inexperiente. Exem-
plos disso?As crianas se entretm com aquilo que espantoso; a melhor
msica dos brbaros feita de sons que agridem os ouvidos e estarrecem o
esprito; as enormes figuras, de cores bizarras e berrantes, pintadas pelos n-
dios tambm visam a um efeito que mescla horror e consternao.
40
16 Quem ri por l t i mo, ri mel hor. Humor, ri so e st i ra no Scul o da Crt i ca
Essas constataes sobre o estilo pomposo ou sublime seriam corrobo-
radas por ningum menos que o prncipe dos crticos (princeof thecriticks).
Aristteles teria, com efeito, assegurado que foi essa espcie de criao que
prevaleceu entre os primeiros poetas, antes da poca de Homero.
41
Mas
com o pai dos poetas (father-poet) tudo muda. Homero destituiu a raa
espria dos poetas entusiastas, conservando apenas aquilo que era decente
do estilo figurativo e metafrico. Ele introduziu o estilo natural e simples:
...ele voltou seus pensamentos para a real beleza da composio, para a unidade do
propsito [design], para a verdade dos caracteres e a justa imitao da natureza em
cada particular.
42
Apoiando-se nas lies da Potica de Aristteles (e tambm na autoridade
de Plato, Horcio, Estrabo e Marco Aurlio), o prximo captulo da
reconstituio shaftesburiana da histria da literatura grega intenta mostrar
que Homero deve ser considerado no apenas o pai da tragdia, por ter
escrito a Ilada e a Odissia, mas tambm da comdia, como autor do poema,
em versos jmbicos, Margites.
43
A argumentao do Solilquio visa mostrar,
alm disso, que a tragdia veio e tinha de vir primeiro. Isso porque uma das
afirmaes do prncipe dos crticos diz que a tragdia j atingira, na poca
dele, o mximo de perfeio possvel para esse gnero dramtico, pois na pr-
tica seria impossvel ir mais longe do que o fizeram Sfocles e Eurpides.
44
Com a comdia, tudo se passa de outra maneira. Como insinua clara-
mente Aristteles (asheplainly insinuates), em sua poca ela ainda no ha-
via chegado ao seu telos, ao seu fim (it lay yet unfinishd), a despeito de todo o
trabalho engenhoso (witty) de Aristfanes e de outros poetas cmicos da
gerao anterior do grande crtico. Por mais perfeitos no estilo e na lingua-
gem e por mais frteis que tenham sido em todas as variedades e giros do
humor, a verdade dos caracteres, a beleza da ordem e a imitao simples da
natureza eram, de certa maneira, totalmente desconhecidas deles.
45
A comdia da poca de Aristfanes ainda no atingiu a perfeio. Ela
no conseguiu muito mais que as antigas pardias, que no passavam de
peas burlescas ou farsas.
46
Isso comprova, mais uma vez, a tese de que a
comdia surgiu depois da tragdia: como no axioma da stira evocado antes
(quanto maior a seriedade, tanto mais forte o riso), a essncia da comdia
ateniense do sculo V o desmascaramento da falsa larva trgica,
47
a detrao
do falso sublime dos poetas antigos e atuais que incorrem nessa maneira
viciosa de criar. Tambm os oradores pomposos e tudo o que quer se impor
pela falsa gravidade ou solenidade tiveram de passar pelo crivo do cmico.
48
Mrci o Suzuki 17
Percebe-se ento que a anterioridade do trgico e a passagem do subli-
me grandioso ao cmico no so casuais. Muito pelo contrrio: a sucesso
ocorrida na Grcia se deve antes necessidade, razo e natureza das
coisas.
49
Mas que tipo de necessidade essa?Ela no de outra ordem que
daquela necessidade fsica ou mdica j descrita antes: com a ajuda de bons
fermentos e de uma saudvel oposio de humores,
50
a prpria constituio
saudvel de um povo livre como os gregos providenciou a cura daquilo que
era excessivo ou lesivo para ele. Assim, o humor floreado e demasiadamente
sanguneo do estilo elevado foi atenuado por algo de natureza oposta. Esse
tratamento deu, em princpio, bons resultados. Mas, como no caso do edif-
cio que tombou do lado oposto, a aplicao reiterada do gnio cmico
como uma espcie de remdio custico aos excessos da oratria acabou
gerando uma nova molstia.
51
Foi essa nova enfermidade (digamos por excesso de riso) que levou
proibio da meno dos nomes de pessoas reais nas comdias em Atenas?
Mas uma resposta afirmativa a essa pergunta no iria contra a equao de
proporcionalidade entre liberdade de pensamento e humor?
A justificativa que Shaftesbury d para a proibio de Lmaco em 404
a.C. especiosa, embora inteiramente coerente com a seqncia natural
de florescimento do gnero que est descrevendo. Longe de ser um gesto
autoritrio, a lei que impedia a nomeao dos cidados nas peas cmicas
demonstra apuramento da sensibilidade dos censores: era preciso uma medi-
da extrema para que a comdia no retrocedesse a seus primrdios e avanas-
se aristotelicamente para a perfeio de sua natureza. Posteriormente,
tambm os romanos lanaram mo de um expediente parecido contra a li-
cenciosidade contrria liberdade pblica, e se a atitude aceita por nin-
gum menos que Horcio,
52
porque ela indcio do aperfeioamento do
gosto na Antigidade. Ela no tem nada a ver com a intolerncia dos religio-
sos para com o espetculo teatral na Inglaterra.
A comdia s chegar perfeio que lhes cabe por natureza o que
ocorrer com Menandro e com os comedigrafos romanos , quando auto-
res e pblico tiverem gosto. Mas esse gosto s vir com a crtica. Isso tanto
mais interessante de observar, porque, de acordo com o Solilquio, o desen-
volvimento da literatura grega apresenta agradvel semelhana com a his-
tria da filosofia. Se o grande sir da poesia foi Homero, porque seu gnio
era ao mesmo trgico e cmico, o patriarca dos filsofos Scrates, por-
que, contendo em si mesmo os diversos gnios da filosofia, deu origem a
todas as diversas maneiras em que essa cincia foi transmitida.
53
A linhagem
18 Quem ri por l t i mo, ri mel hor. Humor, ri so e st i ra no Scul o da Crt i ca
de Scrates no menos numerosa e diversificada que a do pai dos poetas: o
nobre bero e o gnio imponente fizeram de Plato um amante do sublime;
a condio e a constituio inclinaram Antstenes mais para a stira, e a
melhor disposio de humor fez Digenes voltar-se para o cmico. Um ou-
tro discpulo combinou o que havia de mais profundo e slido na filosofia
ao refinamento nas maneiras e no carter de um gentleman. Porque soube se
manter distante tanto do procedimento pomposo, quando do burlesco,
mmico ou satrico, Xenofonte foi o Menandro filosfico de uma poca
anterior (philosophical Menander of earlier Time).
54
O apogeu da comdia est prximo, e a prova disso o curso vivido
pelo pensamento filosfico, que conheceu, em Xenofonte, o seu Menandro
antes do Menandro cmico. Ainda no surgiu um comedigrafo digno do
nome, mas isso estaria prestes a ocorrer, o que, alis, foi previsto profetica-
mente por Aristteles, para quem a comdia, assim como a tragdia, deveria
atingir em breve sua perfeio natural. Grande mestre da arte e remata-
do fillogo
55
, Aristteles foi um acurado inspetor das obras literrias gregas e
pai de um outro gnero de considervel autoridade e peso. O grande cr-
tico foi o iniciador de um estilo metdico de escrita, e seu talento combina
as partes profundas e slidas da filosofia cultura da polidez e s artes.
Em sua escola, havia uma preocupao maior com outras cincias do que
com a tica, a dialtica e a lgica.
56
A proximidade entre o acabamento da arte crtica (critical art) em
Aristteles
57
e a nova comdia no um fato aleatrio, mas fruto de um
mesmo apuramento do gosto na civilizao grega, a qual se pe, finalmente,
para alm das alternativas excludentes da mera seriedade pomposa ou do
mero riso histrinico. Resumindo um pouco o esprito de suas considera-
es, pode-se dizer que, para Shaftesbury, nas comdias romanas e, princi-
palmente, na stira horaciana que a literatura antiga conhece o pice da arte
de combinar seriedade e comicidade, arte, crtica e gosto.
58
Mrci o Suzuki 19
As vi ci ssi t udes do humor e a i nvari abi l i dade do eu
Ns, insulares, almdeoutrasmutabilidades, somosparticularmentenotados
pela variabilidadeeinconstncia denosso clima. E senosso gosto nasletras
tiver alguma correspondncia comessetemperamento denosso clima, certo
que, a nosso ver, umescritor ter deser melhor emseu gnero quanto mais
agradavelmentesurpreender seu leitor mediantemudanas etransportes
sbitos, queo levemdeumextremo a outro.
Shaftesbury
59
Depois dessa curta excurso pelas terras mediterrneas, Shaftesbury pode
conduzir seus leitores de volta s paisagens brumosas da Gr-Bretanha. O
mesmo movimento de aprimoramento da crtica e do gosto que se reconhe-
ceu na Grcia pode ser esperado entre os bretes?Tudo indica que sim. A
forma didtica ou prescritiva de escrever sobre questes tidas como sublimes
agora fatiga mais os ouvidos ingleses que o ritmo de uma velha balada, e a
nica maneira na qual o criticismmostra sua justa fora o cmico
maneira antiga (theancient comick), espcie qual pertencem as primeiras
miscelneas romanasou peas satricas forma de composio posterior-
mente refinada pelo maior gnio e poeta mais polido da nao, que agora j
sabemos ter sido Horcio.
60
A crtica britnica s teve xito quando se aproximou da comdia grega
mais antiga, o que pode ser verificado no Hudibras, de Samuel Butler, e no
Rehearsal, drama satrico atribudo a George Villiers.
61
Contudo, ainda h
muito pouco gnio crtico a guiar o gosto na Gr-Bretanha, diferentemen-
te do que ocorre na Frana de Boileau e de Corneille, autores que aplicaram
sua crtica, com justa severidade, inclusive s suas prprias obras. Se no
fosse o esprito de tirania reinante em Frana, os cidados daquele pas pode-
riam esperar resultados ainda melhores de suas letras.
62
A dificuldade de introduzir o gosto na literatura inglesa de outra or-
dem: convm lembrar, como adverte o autor, que a Gr-Bretanha vive sob
um governo livre e uma constituio nacional (freegovernment and national
constitution).
63
Os obstculos ao aprimoramento do gosto se devem mais ao
gnio prprio da nao, cujas especificidades o crtico no pode absoluta-
mente perder de vista. Shaftesbury, sempre que necessrio, tambm no as
deixa de assinalar. o que ocorre nas pginas iniciais das Miscelneas, onde
procura justificar o feitio heterclito do prprio escrito e, por conseqncia,
das demais obras que compem as Caractersticas. Nessas pginas, o autor
20 Quem ri por l t i mo, ri mel hor. Humor, ri so e st i ra no Scul o da Crt i ca
das Miscelneasrecorda que, tendo freqentado o teatro na Frana, pde
observar o costume que os franceses tinham de inserir, ao final de cada
tragdia grave e solene, uma farsa cmica ou miscelnea, qual chamavam
de pequena pea.
64
tragdia, na Frana, sempre se segue a farsa. De nossa
parte, comenta o autor, seguimos um mtodo bem mais extraordinrio em
nossos palcos, pois acreditamos que agradvel e justo misturar, em cada
ato, a pequena pea ou farsa trama ou fbula principal.
65
Mtodo, alis,
recomendvel, uma vez que nossa tragdia muito mais profunda e san-
grenta que a dos franceses e carece, por isso, de um refresco mais imediato,
proporcionado pela maneira elegante da faccia e do wit burlesco. Esses dois
ingredientes, bem misturados ao condimento que lhes diretamente opos-
to, do como resultado a espcie mais bem acabada de miscelnea teatral,
que chamada por nossos poetas de uma tragicomdia.
66
Se a mistura do trgico e do cmico tem sua razo de ser (e o encontro
do carrasco e do bufo numa mesma cena com isso plenamente justificada),
a crtica deve ento saber como respeitar a ndoledessa literatura e dessa
dramaturgia. Mas saber respeit-la significa tambm saber mimetizar os au-
tores que critica, explicitando seus procedimentos luz dos ideais que ela
supe ser os padres do bom gosto. por isso que se escritores como
Shakespeare, Fletcher, Johnson e Milton no podem ser integralmente apre-
ciados, inegvel, contudo, que neles podemos encontrar os elementos fun-
damentais do esprito da nao. H para Shaftesbury uma plena equivaln-
cia entre aquilo que se percebe no indivduo e aquilo que se observa no seu
tempo. Indivduo e sociedade so como que imagens especulares: h um
espelho interior em que podemos nos reconhecer, tanto quanto um mirror
or looking-glassto theage.
67
A sociedade, assim como o indivduo, dividida em humores. H um
humor srio e um humor jovial, que correspondem grosso modo razo e ao
desejo (appetite) dos homens. A vontade humana oscila entre esses dois ex-
tremos, como se fosse uma bola de futebol ou um pio (a foot-ball or top)
aguerridamente disputados por dois garotos. Toda a arte da poltica ou da
crtica consistir em saber fazer com que cesse a disputa entre os dois meni-
nos, e com que comecem a jogar alegremente um com o outro. Trata-se, em
suma, de transformar os caprichos do humor de cada um no jogo amistoso
do bom humor individual e coletivo.
68
Isso explica por que, num grau maior ou menor, os dois princpios
fundamentais da natureza humana podem ser identificados em quase todas
as obras da literatura. possvel encontr-los at mesmo no teatro ingls,
embora neste a sua combinao seja em geral menos harmnica. Em outros
Mrci o Suzuki 21
autores, como Homero, Horcio, Corneille etc., cujo gosto menos brbaro
ou gtico, reconhecemos a beleza do arranjo, o acerto da composio. Este
o caso tambm dos dilogos platnicos que tm Scrates como personagem
principal: neles, a construo notvel, porque mostra as vicissitudes e a
duplicidade da alma humana (o modelo mais acabado seria justamente o
Fedro) sem que o heri filosfico desses poemas deixe de ser um carter
perfeito.
69
Para o observador desatento, como se Scrates estivesse numa
nvoa, aparecendo com freqncia bastante diferente do que em realidade .
E tal , de fato, o efeito enganador da ironia, essa espcie de zombaria re-
quintada e refinada, em virtude da qual podia tratar conjuntamente os as-
suntos mais elevados e os da capacidade mais comum, tornando-os recipro-
camente elucidativos um do outro. No gnio da forma dialogada aparecem
juntas a veia herica e a veia simples, a trgica e a cmica.
70
Ora, mesmo
que a retomada dos dilogos platnicos seja um expediente invivel e
desaconselhvel nos tempos modernos, o seu gnio que deve inspirar a
prpria escolha e estruturao dos textos. Isso explica por que, nas Caracte-
rsticas, o ensaio sobre o humor vem depois da Carta sobreo Entusiasmo,
71
e
por que um ator srio sobe a seguir no palco e expe-se a si mesmo
crtica.
72
Os Moralistassero, por sua vez, uma rapsdia filosfica em que se
procura imitar os mimos antigos (matriz dos dilogos platnicos) e dar voz a
uma variedade de estilos, como o estilo simples, o cmico, o retrico, sem
contar o estilo potico ou sublime.
73
O que fundamental de reter nessas anlises sobre a variedade estilstica
que ela serve de premissa a uma concluso tico-moral que aparentemente
lhe contradiz: o aprendizado da variabilidade do humor o caminho para a
firmeza de carter em que se cristaliza a identidade pessoal. Como em quase
todo o sculo XVIII, tambm em Shaftesbury h um vnculo inextrincvel
entre moral e esttica. Mas no seu caso existe uma peculiaridade que, para
encerrar este ensaio, convm explicitar.
Pelo que se mostrou anteriormente, bem claro que no pode haver
um gosto legtimo e justo sem o trabalho e os sofrimentos da crtica
(without the antecedent labour and painsof Criticism).
74
Postula-se assim a
existncia de um padro (standard) do gosto, que pode ser imediatamente
reconhecido
75
e no qual no haveria diferena entre belo e verdadeiro. Mas
beleza e verdade devem ser pensadas de um ponto de vista medicinal. Como
explica Shaftesbury:
A sade natural justa proporo, verdadee o curso regular das coisas, na constituio.
a beleza interna do corpo. E se a harmonia e as justas medidas da crescente pulsao,
22 Quem ri por l t i mo, ri mel hor. Humor, ri so e st i ra no Scul o da Crt i ca
os humores circulantes e a locomoo dos ares ou espritos se perderem, surge deformi-
dadee, com ela, calamidadee runa.
76
O critrio de beleza e verdade dado por um ideal clssico de propor-
o das formas encontrada no corpo humano. Mas essa proporo tem de
denotar ainda a beleza interna do corpo. O gosto se funda, assim, na pos-
sibilidade de existncia e de apreenso dessa inward beauty. Ocorre, porm,
que o gosto e congneres a polidez, o wit, o good senseetc. so tambm
resultado de um rduo aprendizado esttico-moral, cujo objetivo buscar
justamente essa beleza e proporo internas. Noutros termos: o cultivo da
sensibilidade e dos sentimentos depende de que o homem seja capaz de dar
uma certa constncia aos seus humores, isto , de que seja sempre mais capaz
de se exercitar e manter no difcil regime do constantebom humor.
Os filsofos e os religiosos que acreditam que a formao do carter
deva se basear unicamente em princpios, deveriam enfim se convencer de
que no apenas estes, mas tambm o gosto governa os homens.
77
Os prin-
cpios prescrevem comportamentos rgidos e uniformes para todos os indi-
vduos; o gosto, ao contrrio, depende de uma formao, de um aprimora-
mento contnuo, que no tem um termo previamente estipulado onde deva
cessar. Como na profecia aristotlica ou numa prolepsisestica, a identida-
de pessoal se funda numa espcie de carta de crdito dada ao nosso ser (being)
por uma espcie de preconcepo ou antecipao
78
daquilo em que devere-
mos nos tornar. A soluo para o problema da identidade pessoal em
Shaftesbury est a igual distncia da identidade sempre igual a si mesma do
metafsico e da negao de toda e qualquer identidade pelo pirrnico.
O que diferencia, como se v, o homem de humor tanto do dogmtico
quanto do ctico, que estes seapressamem encontrar uma resposta para
seus problemas: um se apega imediatamente a seus princpios, enquanto o
outro se obstina teimosamente em neg-los. Um adere precipitadamente
quilo que lhe entusiasma; o outro, por esprito de contradio, se arma at
as unhas e os dentes com o escrnio da derriso. O homem srio no sabe
temperar os excessos de sua sublime exaltao. O sarcstico por reao no
sabe que h uma grande diferena entre procurar como tirar riso de cada
coisa; e procurar, em cada coisa, aquilo de que se pode justamente rir.
79
Um e outro aderem muito ferrenhamente a seus sistemas e no se do
contas do perigo a que se expem. Perigo contra o qual adverte a famosa
frase de Shaftesbury:
O meio mais engenhoso de se tornar louco um sistema.
80
Mrci o Suzuki 23
A crtica no tem pressa. Diferentemente do crente e do descrente, do
dogmtico e do ctico, ela sabe que no se deve precipitar na adeso a uma
seita, partido ou sistema. Ela sabe que toda arte do refinamento e do humor
est em saber escolher o momento certo de se comover e de rir. Pois, confor-
me diz o velho ditado, quem ri por ltimo, ri melhor.
No gostaria de pr um ponto final a estas linhas sem antes mencionar
o quanto as anlises de Shaftesbury impressionaram Immanuel Kant. Se a
idia kantiana de crtica da razo j no pode ser completamente identifi-
cada concepo de crtica do inspetor do ridculo, algumas passagens
confirmam o quanto meditou sobre as suas obras e o quanto absorveu do
esprito crtico dele. Com a palavra o prprio Kant:
Mas se, como afirma Shaftesbury, uma pedra de toque no desprezvel da verdade de
uma doutrina (sobretudo de uma doutrina prtica) saber se resiste ao riso, ento com
o tempo deveria chegar a vez do filsofo crtico de rir, de rir por ltimoe tambm
melhor, vendo ruir um por um os sistemas de papel daqueles que bravatearam por
muito tempo e vendo desaparecer todos os seus sequazes: destino que lhes aguarda,
inevitavelmente.
81
Resumo: Uma das contribuies mais
originais de Shaftesbury para a filosofia
dos sculos XVIII e XIX talvez seja a for-
ma como entende a crtica (literria, fi-
losfica e poltica). Para ele, a crtica deve
constituir um gnero prprio distinto da
stira, porque, diferentemente desta, no
visa a punio dos vcios, mas uma socia-
bilidade fundada numa apreciao positi-
va do homem, no bom humor e no riso
benvolo intrnsecos natureza humana.
Palavras-chave: Shaftesbury, crtica, hu-
mor, riso, Iluminismo britnico.
Abstract: One of Shaftesburys most ori-
ginal contributions to philosophy in the
18th and 19th centuries is perhaps the way
he conceives literary, philosophical and
political criticism. For him, criticism
must be a specific literary genre, different
from satire, because it aims not at the
punishment of vice, but at a sociability
based on a positive conception of man,
on the good humor and benevolent
laughter belonging to human nature.
Keywords: Shaftesbury, criticism, hu-
mor, laughter, British enlightenment.
Not as
1
A expresso Sculo da Crtica para designar a crtica esttica das Luzes foi cunhada, como se sabe,
por Ernst Cassirer. Tambm se sabe, no entanto, que a idia de crtica, no sculo XVIII e depois,
extrapola bastante o mbito esttico.
2
Lyceum, 106. In: O Dialeto dosFragmentos. So Paulo, Iluminuras, 1997, p. 36.
3
Characteristicsof Men, Manners, Opinions, Times. Reproduo fotomecnica da edio de 1711.
Hildesheim, Olms, 1978, volume I, p. 60.
24 Quem ri por l t i mo, ri mel hor. Humor, ri so e st i ra no Scul o da Crt i ca
4
Idem, ibidem.
5
Idem, p. 65.
6
Que ainda se possa ter esperana na grown youth of our polite world, o que tentam mostrar as
Caractersticas(cf. III, pp. 178-179).
7
MiscelllaneousReflectionson theprecedingTreatises, and other Critical Subjects. In: Characteristics, ed.
cit., vol. III, p. 107.
8
I can see whos the first that puts other into a passion. Idem, pp. 107-108.
9
Idem, p. 108.
10
Idem, p. 108.
11
Sobre a origem humilde e rural do clown, veja-se J. G. Salingar, The Social Seting. In: TheAgeof
Shakespeare. Pelican Guideto English Literature. Harmondsworth, Penguin, 1977, pp. 15-47.
12
I, 91.
13
I, 69.
14
I, 70.
15
I, 77. Nessa mesma linha, Hume insistir sobre a necessidade de se combinar as horas de lazer e
conversao com as horas de reflexo sobre as questes ali discutidas.
16
I, 73.
17
I, 11.
18
I, 65.
19
I, 66.
20
Escutamos claramente a queixa de que nossas peas maisrecentes, tanto quanto nas maisantigas,
tanto na comdia, quanto na tragdia, o palco aparece como uma cena de tumulto. essa confuso
que, segundo as Miscelneas, teria levado o autor do Solilquioa comparar o Royal Theater ao circo
popular ou ao jardim para rixa de ursos [popular circusor bear-garden]. (III, 256) A passagem referida
do Solilquio, onde se comenta o gosto pelas lutas de gladiador, a inclinao para massacres, as irregu-
laridades cometidas pelos stage-poets da Gr-Bretanha, encontra-se em I, pp. 269 e segs.
21
Shaftesbury obviamente toma posio contrria dos devotos, para os quais o espetculo teatral no
deve ser tolerado. No preciso ser, diz ele, um religioso ou rgido moralista para perceber que a cena
inglesa se encontra numa condio lastimvel. A prtica e a arte teatral so, todavia, honestas em si
mesmas, e a slida fundao do teatro ingls permite supor que ser aprimorado. Segundo ele, o
teatro no prejudicial aos interesses religiosos (no way injuriousto religiousinterests), embora o possa
ser para as maneiras do povo, para seu cultivo e para a vida civil (III, p. 257). Para compreender a
tomada de posio de nosso autor, importante lembrar que a campanha puritana contra os develish
pastimes que seriam os espetculos teatrais comea abertamente na Inglaterra na dcada de 70 do
sculo XVI. Cf. L. G. Salingar, op. cit., p. 35.
22
I, 97.
23
I, 70.
24
I, 71.
25
A liberdade de pensamento e de expresso, isto , a liberdade do humor, no pode ocorrer no mbito
do tribunal e da assemblia poltica. Como bem mostrou uma estudiosa da obra de Shaftesbury, o
sujeito livre no pode ser de modo algum o ouvinte arrastado pela eloqncia, pelo commovere-movere
Mrci o Suzuki 25
do orador. Cf. Fabienne Brugre, Humour et discours philosophique dans lart de la conversation.
In: Thoriedelart et philosophiedela sociabilitselon Shaftesbury. Paris, Honor Champion, 1999, p.
127. Diferentemente, por exemplo de Hume, a crtica shaftesburiana da retrica vale, inclusive, para
a eloqncia antiga, que um estgio importante, mas inferior, da formao de um povo. Cf. Soliloquy:
or Adviceto an Author. In: Characteristicks, vol. I, pp. 238-240.
26
I, p. 72.
27
Idem, ibidem.
28
I, p. 73. A ligao entre poltica e riso aqui assinalada fundamental para entender a filosofia
shaftesburiana. Como lembra a esse respeito Verena Alberti, o receio do ridculo era uma das preo-
cupaes das pessoas refinadas durante o Antigo Regime na Frana. Ainda segundo ela, a craintedu
ridiculedar lugar a uma aceitao mais liberal do riso na Gr-Bretanha, que concorrer para a insti-
tuio do humor ingls e para a formao do chamado man of humour. Embora aceite o potencial de
explicao dessa diviso geopoltica das concepes do riso e do ridculo, baseada em Fritz Schalk e
Stuart Tave, a autora no acredita que deva ser seguida risca. Cf. Verena Alberti, O Riso eo Risvel na
Histria do Pensamento. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2
a
edio, 2002, pp. 119 e segs. De qualquer forma,
essas consideraes ajudam a compreender o quanto o iluminismo shaftesburiano perspicaz e original
ao estabelecer relaes entre autoridade e humor. Sobre o sentido social da ironia e da stira, pode-se
consultar tambm a seo sobre o mythos do inverno do livro Anatomia da Crtica, de Northrop Frye.
So Paulo, Cultrix, 1973. Traduo de Pricles Eugnio da Silva Ramos, pp. 219-235.
29
I, p. 128.
30
I, p. 129.
31
I, p. 128. Cf. Aristteles, Potica, 1449 a 34 e segs.: O ridculo apenas certo defeito, torpeza
andina e inocente; que bem o demonstra, por exemplo, a mscara cmica, que, sendo feia e disfor-
me, no tem [expresso de dor]. Traduo de Eudoro de Souza. So Paulo, Abril Cultural, 1993, p.
447. Cf. tambm Quentin Skinner, Hobbesea Teoria Clssica do Riso. Traduo de Alessando Zir. So
Leopoldo, Unisinos, 2002.
32
III, pp. 173-174.
33
I, 134.
34
I, pp. 95-96.
35
I, p. 96.
36
I, p. 81.
37
I, p. 81.
38
79. Nota Geral. Edio Akademie, p. 265.
39
I, p. 242.
40
Idem, ibidem.
41
I, p. 243.
42
Idem, ibidem.
43
Potica, 1448 b 4 e segs. Cf. b 33: Mas Homero, tal como foi supremo poeta no gnero srio, pois
se distingue no s pela excelncia como pela feio dramtica das suas imitaes, assim tambm foi o
primeiro que traou as linhas fundamentais da comdia, dramatizando, no o vituprio, mas o ridcu-
lo. Na verdade, o Margitestem a mesma analogia com a comdia que tm a Ilada e a Odissia com a
tragdia. (Traduo citada, p. 446.) Cf. Solilquio, I, p. 253, nota.
26 Quem ri por l t i mo, ri mel hor. Humor, ri so e st i ra no Scul o da Crt i ca
44
I, p 244. Shaftesbury ainda segue de perto a Potica (1449 a 13): at que, passadas muitas transfor-
maes, a tragdia se deteve, logo que atingiu a sua forma natural. Traduo citada, p. 446.
45
I, p. 245.
46
I, p. 246, nota.
47
I, p. 247.
48
I, p. 246.
49
I, p. 247. Veja-se a corroborao dessa tese nas Miscelneas: A real linhageme sucessodo wit est,
com efeito, manifestamente fundada na natureza, o que nosso autor mostrou ser evidente na histria
e nos fatos. III, p. 137.
50
I, p. 248.
51
Idem, ibidem.
52
I, p. 251.
53
I, pp. 253-254.
54
I, pp. 254-255. Shaftesbury, com freqncia, no nomeia diretamente as personagens histricas de
que est tratando, mas se vale de eptetos ou descries. Para essa decifrao dos filsofos por ele
mencionados, sigo as indicaes de Danielle Lories, nas notas sua traduo do Solilquiopara o
francs. In: Soliloqueou Conseil un auteur. Paris, LHerne, 1994, pp. 147-148.
55
to accomplish the prophecy of our grand master of art, and consummate philologist. I, p. 246.
56
I, pp. 255-256.
57
I, p. 255.
58
I, pp. 328-329. Nessa pgina, o autor do Solilquiopede licena para imitar o best genius and most
gentleman-like of Roman poets, reconhecido pelo wit, honesty and good humour.
59
III, pp. 95-96.
60
I, pp. 258-259.
61
I, p. 259.
62
III, pp. 280-281. A despeito da leveza dominante no esprito da nao, os franceses, com muito
esforo e indstria buscaram a verdadeira polidez, a correo, pureza e graa do estilo. Lograram
produzir um nobre satirista, na figura de Boileau. Tiveram menos sucesso na pica e no drama,
porque o elevado esprito da tragdia sobrevive mal onde falta o esprito de liberdade. I, p. 218.
63
I, p. 216. Cf. p. 219.
64
III, p. 6.
65
III, p. 7.
66
Idem, ibidem.
67
I, p. 199.
68
Essa operao filosfica pode ser descrita como a passagem da teoria dos humores para uma teoria
do humor, passagem que ficaria mais clara quando se pensa na distino que a lngua francesa faz entre
humeur e humour. o que explica Fabienne Brugre: Parece-nos que o projeto filosfico de Shaftesbury
no Sensuscommunis... consiste de uma fina anlise da palavra inglesa humour, que ao mesmo tempo
humeur e humour. Shaftesbury mostra como a potncia natural que a humeur deve ser concebida
Mrci o Suzuki 27
com a ajuda da disposio j social e intelectual do humour. Com efeito, se a humeur remete questo
da natureza do homem a um exame fisiolgico e emotivo, a um conjunto de inclinaes imediatas, o
humour, prolongando a humeur no bom humor, na jovialidade, conota uma certa utilizao social da
humeur como camaradagem e benevolncia divertida. Op. cit., pp. 118-119. Caberia lembrar ainda
que, no tocante discusso do riso, a sua ligao com os humoresem Shaftesbury faz com que sua
teoria divirja inteiramente da de Hobbes e de Descartes, para quem o riso est associado s paixes. Sobre
a paixo do riso nesses dois ltimos filsofos, veja-se o livro de Quentin Skinner citado nota 28.
69
I, pp. 194-195.
70
Idem, ibidem.
71
III, p. 97.
72
III, p. 248.
73
III, p. 285.
74
III, p. 165.
75
III, p. 179. A discusso sobre o padro do gosto se estender, como se sabe, por toda a filosofia das
Luzes na Gr-Bretanha. Dela tomaro parte autores como Hutchenson, Burke, Hume e Lord Kames,
entre outros.
76
III, p. 181.
77
III, p. 177. Do ponto de vista da histria das idias, caberia lembrar o quanto se perdeu da filosofia
shaftesburiana quando foi transportada para a Alemanha do Sturmund Drang. Ali, ficou conhecido
pela comparao do poeta a um segundo criador, um Prometeu abaixo de Zeus (I, 207). A Geniezeit
alem se esqueceu, naturalmente, daquilo que no lhe interessava, poucas pginas antes: que o
gnio sozinho no faz um poeta e que a habilidade e a graa na arte de escrever se funda, como
adverte nosso sbio poeta [Horcio] em conhecimento e bom senso [knowledgeand good sense] I, p.
193. Sobre a rejeio idia de gosto e crtica entre os escritores ingleses, cf. tambm III, p. 165.
78
Sobre a antecipao, III, p. 194. Sobre a prolepsis, III, p. 214.
79
I, p. 128.
80
The most ingenious way of becoming foolish, is by a system. I, p. 290.
81
Kant, I. Metaphysik der Sitten, Prefcio, A, p. X.
28 Um Espel ho no Bol so: a Prt i ca do Sol i l qui o em Shaf t esbury
UM ESPELHO NO BOLSO: A PRTICA
DO SOLILQUIO EM SHAFTESBURY
Lus F. S. do Nasci ment o*
PROPRIAMENTE ESTA A QUESTO que abre o livro Soliloquy or adviceto an
author, de Shaftesbury: como algum pode pretender ser um autor?Existi-
riam condutas, normas ou regras bem definidas para aquele que deseja se
dirigir ao pblico?Longe de querer prescrever um modelo fixo e preciso para
tanto, Shaftesbury pretende unicamente aconselhar (to advice). Mas quem
poderia se colocar na privilegiada posio de conselheiro, ditando aos outros
o que deveria ser, segundo sua prpria opinio, o melhor a fazer em um
determinado caso?Ao levar em considerao o modo pelo qual os conselhos
so geralmentedados, Shaftesbury ir concluir que no de se estranhar
que sejam to mal recebidos.
1
H, na maneira usual de aconselhar, uma
inverso que vai de encontro ao que seria o primeiro propsito do conselho:
Curiosamente, havia algo invertido no caso, fazendo daquele que aconselha (Giver) o
nico beneficirio. Pois eu podia observar em muitas ocorrncias de nossas vidas que
aquilo que chamamos dar conselhos era, na verdade, tirar proveito de uma oportuni-
dade para mostrar nosso prprio conhecimento s custas dos outros. (...) Na realida-
de, por mais capaz e disposto (willing) que um homem esteja para aconselhar, no
tarefa fcil transformar conselho em doao espontnea (freeGift). De fato, para trans-
formar conselho em doao espontnea no poderia haver nele nada que prejudicasse
os outros e nos beneficiasse.
2
Como vemos, no fcil fazer do ato de aconselhar uma doao espon-
tnea. Se, em um primeiro momento, a figura do conselheiro a do ho-
mem bom e sbio que quer dividir com os demais seus conhecimentos e
experincias, em um segundo, ao considerarmos asvriasocorrnciasdenos-
sasvidas, notamos que, por trs de uma postura aparentemente to nobre e
despretensiosa, pode se esconder um forte interesse no lugar de dar, ele
pode estar somente querendo receber. Por certo, a questo do conselho j
*LUS F. S. DO NASCIMENTO concluiu o Mestrado em Filosofia pelo Departamento de Filosofia da USP
com a dissertao, Fala e Escritura: As Concepes de Linguagem de Rousseau, Shaftesbury e
Schleiermarcher. Atualmente doutorando da rea de Esttica deste Departamento, onde pesquisa
as relaes entre linguagem e sociabilidade na obra de Shaftesbury. Publicou o ensaio, Imitao das
paixes a origem das lnguas em Rousseau na revista Rapsdia (2002).
28
LUS F. S. DO NASCIMENTO 29
surge como uma ilustrao das relaes humanas e ganha uma importncia
particular no caso dos autores de livros. Os escritores, nos diz Shaftesbury,
so considerados desde a Antigidade como autnticossbios por prescreve-
rem regrasda vida eensinarem costumesebom senso esse era o caso dos
antigos poetas que, embora tivessem como intuito agradar, secretamenteacon-
selham edo instruo.
3
De modo secreto ou no, os autores esto sempre se
colocando na posio de mestres de seus leitores.
Mas e quando nos voltamos para Shaftesbury, o escritor de um livro
como o Soliloquy or adviceto an author?O que pode estar querendo algum
que tem por pretenso dar conselhos para aqueles que so considerados con-
selheiros (os escritores)?At que ponto no existe algum interesse pessoal
nisso, fazendo com que sua doao se afaste da espontaneidade que ele
mesmo defende?O prprio Shaftesbury tem conscincia dessa questo:
Entretanto, se ditar e prescrever to perigoso para a natureza de outros autores, qual no
seria o caso daquele que dita para os prprios autores?A isso respondo que minha pre-
tenso menos dar conselhosdo que considerar a maneira de aconselhar. Minha cincia,
se que assim pode ser chamada, no melhor do que a de ummestredelinguagemou de
um retor (Logician). Pois tenho comigo a convico de que h uma certa habilidade ou
truque (legerdemain) de argumentao pelo qual ns podemos passar pelas partes peri-
gosas do aconselhar com a segurana da aceitao de nosso conselho.
4
Considerar a maneira de aconselhar (theWay and Manner of advising),
algo que vai alm do simples sugerir ou prescrever normas. Como nos
mostra Laurent Jaffro, a noo de conselho em Shaftesbury no se restringe
situao concreta do conselho amigvel, poltico eadulador, mas a uma
categoria abstrata aplicvel a toda situao decomunicao.
5
Essa categoria
abstrata, acrescenta Jaffro, diz respeito aosautoresem geral, todosaqueles
quepor autoridadedesua escritura ou fala pretendem constituir um espao p-
blico
6
. No importa aqui saber o que se est dando ou recebendo, mas a troca
que se estabelece ao aconselhar: o prprio comrcio que institui a esfera p-
blica. Dar conselhos, nesse sentido, no distinto de se comunicar. Transfor-
mado em uma doao espontnea (freeGift), orientando seu leitor sem a
preocupao de lhe prescrever o uso de regras necessrias, o conselho de
Shaftesbury tem por fim fazer com que os candidatos a autores se voltem para
a prpria condio da comunicao: O que preciso para ser um autor, um
conselheiro?Como se dirigir ao pblico?
7
A maneira com que Shaftesbury
introduz essas questes em seu texto nos mostra a sua habilidade, ou truque
(legerdemain), em prosseguir pelaspartesperigosasdo aconselhar.
8
Tal como
30 Um Espel ho no Bol so: a Prt i ca do Sol i l qui o em Shaf t esbury
um poeta antigo que ensinava e prescrevia de modo secreto, no sendo obri-
gado a expor sua pretenso abertamente,
9
o autor do Soliloquy or adviceto an
author recorrer a uma imagem mdica: seu propsito, ele nos diz, conside-
rar essa matria (Affair) como umcaso decirurgia.
10
Nesse momento, Shaftesbury
comea a se utilizar de um recurso que ser empregado ao longo de todo o seu
livro: a opinio de um interlocutor imaginrio. Quando se fala de prtica
cirrgica, esse interlocutor, assumindo as vezes de objetor, pergunta:
Mas, nessa ocasio, sobre quem poderamos praticar?Quem estaria disposto a ser o
primeiro a testar nossas mos e nos assegurar a experincia necessria?
11
Quem estaria disposto a ser o paciente de um cirurgio no familiariza-
do com seu ofcio, que, nas palavras de Shaftesbury, ainda possui uma mo
pesada?Apenas a prtica faz a mo do cirurgio e, no entanto, imposs-
vel encontrar uma cobaia, um paciente suficientemente dcil (a meek Patient)
para se expor ao risco de ser operado por um cirurgio inexperiente. Diante
disso, o projeto da cirurgia parece estar fadado ao fracasso. Shaftesbury
sabe quetodo projeto considervel tem um certo ar defantasia quimrica.
12
Porm, ele tambm advertir o seu leitor do seguinte: se h qualquer coisa
na cirurgia proposta que provoque o riso, talvez essa risada possa se voltar
contra aquele que ri, com seu prprio consentimento econtribuio.
13
E
justamente nesse ponto que a cirurgia encontra o seu paciente: cada um de
ns tem a si mesmo para praticar ns seremos nossos prprios pacientes.
Mera enrolao! (MereQuibble!), dir voc. Poisquem ento semultiplicaria
em duas pessoas, tornando-seseu prprio objeto?
14
eis a objeo que
Shaftesbury imagina encontrar para a sua prtica da cirurgia, a que ele res-
ponde recorrendo aos poetas:
V aos poetas: eles lhe mostraro com muitos exemplos. Nada mais comum para eles
do queessetipo deSolilquio. Uma pessoa de profundas qualidades, ou mesmo de
capacidades medianas, por acaso comete, em alguma ocasio, um erro. Isso o preocu-
pa. Ela sobe sozinha no palco, olha em torno de si para ver se h algum por perto, e
ento comea a censurar a si mesma, sem minimamente se poupar. Voc se admirar
ao ver com que sofreguido ela suscita questes, com que intensidade conduz os afaze-
res da disseco desi mesmo(Self-Dissection). Em virtude desse Solilquio, ela se torna
duas pessoasdistintas: pupilo e preceptor, ensina e aprende.
15
Cirurgia e teatro essas so as duas imagens que Shaftesbury nos d
para apresentar a prtica do Solilquio. Nelas podemos ver a duplicao
daquele que se pe em dilogo consigo mesmo. Embora essa diviso em
duas pessoas soe estranha ao objetor de Shaftesbury, nada mais comum
LUS F. S. DO NASCIMENTO 31
quando vamos aos poetas e percebemos, a partir da leitura de suas obras,
que se trata de uma prtica bastante usual. em nossa prpria carne que
iremos exercitar nossa mo pesada: s assim poderemos adquirir habilida-
de, ou legerdemain. Do mesmo modo, quando nos pomos no palco, vemos
que a platia, que pode vaiar ou aplaudir, tambm parte de ns. Somos
mestres e alunos de ns mesmos. O Solilquio surge aqui, nas palavras de
Shaftesbury, como um remdio, uma conversa, ou retrica, interior que
nos orienta para a vida social. Assim, se em um primeiro momento, a prtica
do Solilquio era um conselho dirigido queles que desejam publicar seus
escritos, agora ela diz respeito ao homem em geral.
16
Todos ns deveramos
subir nesse palco e ter a oportunidade de nos observar tal como se fssemos
outra pessoa. H, porm, algo em nossos costumes atuais que impede que
essa encenao seja praticada por todos, fazendo com que Shaftesbury se
volte para o caso especfico dos autores de livros:
Nossos costumes atuais, devo confessar, no so muito adequados a esse mtodo do
Solilquio, o que impede que ele se torne prtica nacional. parte desse regime que eu
gostaria de tomar de emprstimo e aplicar no uso privado, especificamente no caso
dos autores. (...) Pois sabido que muitos de ns no so como aquele romanoque
desejou abrir janelas em seu prprio peito, de modo que ele pudesse ser to claro como
sua casa, precisamente por essa razo ele a construiu to aberta quanto foi possvel.
17
Os autores de livros so, dentre todos os homens, aqueles que mais
precisam praticar o Solilquio: uma vez que pretende assumir o posto de
conselheiro dos outros, o escritor tem de tornar, para si mesmo, o seu inte-
rior to claro quanto a casa e o peito daquele romano.
18
preciso que ele se
conhea Shaftesbury prope ao candidato a autor que faa um recesso,
que entre em concordncia consigo e com o meio que o cerca que exercite
o seu engenho:
Nota-se em todo grande engenho (Wit) que eles admiram essa nossa prtica e geral-
mente se descreveram como pessoas passveis de cair no ridculo por sua grande loqua-
cidade quando estavam sozinhos, ou por sua profunda taciturnidade em sociedade.
No eram apenas o poeta e o filsofo: tambm o orador se inclinava a recorrer a esse
nosso remdio. (...) Se outros autores no encontram nada que os convidam para esses
recessos, porque seu gnio no tem fora suficiente: seu carter, eles podem imagi-
nar, dificilmente poderia suport-lo.
19
Essa ausncia de fora e de carter, Shaftesbury ir encontrar em um
estilo de escritor em voga no fim do sculo XVII e incio do XVIII: os auto-
res de memrias. Nada, em uma primeira anlise, parece estar mais prximo
32 Um Espel ho no Bol so: a Prt i ca do Sol i l qui o em Shaf t esbury
da concepo de Solilquio do que livros em que os autores tomam a si
mesmos como objeto. No entanto, a maneira efervescente com que eles se
apresentam em pblico apenas mostra que ainda no esto prontos para a
carreira de autor:
sabido que principalmente os escritores de memriase ensaiosso sujeitos a esse tipo de
destempero efervescente (frothy Distemper). Tampouco pode-se duvidar de que essa a
verdadeira razo pela qual esses cavalheiros entretm o mundo, com tanta exuberncia,
naquilo que diz respeito a elesmesmos. Pois como no tiveram oportunidade de conversar
consigo mesmos privadamente, nem de exercitar seu prprio gnio para se familiariza-
rem com ele e testar sua fora, eles imediatamente comeam a trabalhar no lugar errado,
e a exibir no palco do mundo aquela prtica que deveriam manter consigo mesmos (...).
E tampouco o entretenimento do leitor maior quando ele obrigado a assistir ao
discurso experimental de seu autor praticante, que, na realidade, no est fazendo outra
coisa seno mostrar-se nu em pblico (taken hisPhysik in publick).
20
Como podemos ver, existe uma relao de continuidade entre o palco
do mundo (Stageof theWorld) e o palco que o Solilquio nos oferece, o que
equivale dizer: a conversa interna requisito bsico para aqueles que dese-
jam se dirigir ao pblico. O grande problema dos autores de memrias est
no fato de apresentarem um discurso experimental, ainda no acabado.
No por acaso, Shaftesbury chamar essas memrias de grosserias (Cruditys).
Elas representam um tipo de escritor que, no tendo fora para a prtica do
Solilquio, publica um esboo mal concebido. A frase taken his Phisik in
publick, que vimos aparecer no trecho acima citado, guarda um significado
ambguo: ela pode ser vertida por mostrar-se nu (Physick) em pblico ou
por tomar seu purgante (Physick) em pblico. Pode-se notar a crtica de
Shaftesbury: os autores de memrias tornam pblico algo que deveria per-
manecer privado: eles publicam aquilo que ainda no est pronto para tanto,
justamente por no conhecerem a passagem entre o mbito particular e o
pblico. As grosserias so a infelicidadedemuitosengenhos(Wits) quecon-
cebem repentinamente, massem serem capazesdelevar todo o tempo necessrio,
demodo quedepoisdemuitasfrustraeseabortos, elesno conseguem trazer
(bring) nada bem formado ou perfeito ao mundo os prprios autores no
podem estar contentes com suas crias (Offspring) que, decerto modo, rene-
gam em pblico.
21
Porm, dentre todas as memrias existentes, a pior delas aquela que
Shaftesbury chama de grosserias religiosas (religiousCruditys):
Mas se nossos candidatos autoria so do gnero sacro(sanctifyd kind), no se pode
imaginar a que ponto sua caridade pode se estender. to imensa sua indulgncia e
LUS F. S. DO NASCIMENTO 33
bondade pela humanidade, que eles esto sempre preocupados com a possibilidade de
que o menor exemplo de seu exerccio privado venha a se perder. (...) O autor religioso
(Saint-Author) , de todos os homens, o que menos d valor polidez. No que escre-
veram, recusam-se a limitar aquele esprito pelas regras da crtica e pela erudio pro-
fana. Tampouco esto dispostos a criticar eles mesmos ou a regular seu estilo, ou lin-
guagem, pelo padro da boa sociedade e das pessoas da melhor espcie.
22
Na nsia de expressar sua bondade para com o gnero humano, o autor
de grosserias religiosas acaba por deixar de lado aquilo que poderia torn-
lo um bom escritor. Perdidos com problemas e questes que de longe ultra-
passam sua possibilidade de compreenso, eles jamais tero a oportunidade
de fazer uma autocrtica. Nesse sentido, eles se parecem com o exemplo do
amante
23
que no consegue se desprender de sua paixo mesmo nos
maiores recessos, na ocasio em que sai em passeios contemplativos ou al-
cana o topo de uma colina isolada, ele jamais consegue ter um minuto
sequer consigo mesmo (by himself): o rosto de sua bela amada vem sempre
atrapalhar a viso que teria de sua prpria face. Assim tambm o caso
daquele que escreve grosserias religiosas, ele est to embrenhado com
noes preestabelecidas de sua doutrina religiosa, que no capaz deexami-
nar nenhum outro defeito, seno aquelequechama pecado.
24
Desse modo,
seu texto apresenta-se como algo inacabado, no polido.
A prtica da escrita exige cuidados e muito estudo. O prprio Shaftesbury
se preparava em uma espcie de cadernos de estudo: os Exerccios(Askmata).
Organizadospor tpicos, comenta Lawrence Klein, (os cadernos) oferecem
um registro irregular da vida interior (inner life) deShaftesbury, principalmente
entre1698 e1704.
25
Deidade, Vida, Filosofia so alguns dos temas sobre os
quais Shaftesbury discorre em seus Exerccios.
26
Sua inteno no era publi-
car suas primeiras observaes acerca desses tpicos, mas adquirir um certo
domnio sobre eles, sobre a forma de trat-los. Busca-se, assim, um aprimo-
ramento: o autor tem de estar familiarizado com os assuntos que pretende
analisar; mais do que isso: ele precisa conhecer a melhor maneira de apresent-
los, sem a qual seu escrito no passar de uma grosseria. A arte de escrever
exige um preparo e uma dedicao que superam o cuidado que se deve ter
com a linguagem falada. Como mostra um exemplo que nos dado em
Soliloquy or adviceto an author, comum ver em sociedade e mesmo em
assemblias pblicas um tipo de grandes faladores que discursam a respei-
to dos mais diversos temas. Os discursos desses homens, nos diz Shaftesbury,
revelam um certo calor eebulio da fantasia que aponta para o fato de eles
serem grandesfaladoresem sociedade, masjamaiso foram com eles mesmos.
27
34 Um Espel ho no Bol so: a Prt i ca do Sol i l qui o em Shaf t esbury
A ausncia de uma conversa interior (um Solilquio) que antecede os dis-
cursos dos grandes faladores faz com que eles soem incoerentes, mas essa
incoerncia ainda aumentaria caso eles desejassem escrever no lugar de falar:
Mas quando se arriscam para alm do discurso ordinrio e tentam elevar-se condio
de autores, sua situao piora ainda mais. Suas pginas no contm nenhuma das
vantagens de suas pessoas. De nenhum modo eles conseguem trazer para o papel os
ares que eles se do no discurso. Os rodeios (turns) de voz e ao, aos quais recorrem
para exprimir pensamentos estropiados e sentenas incoerentes, tm aqui de ser deixa-
dos de lado, pois o discurso tem de ser tomado por partes, comparadas em conjunto,
e examinado da cabea aos ps. De modo que, a no ser que o candidato a autoria
esteja acostumado a fazer as vezes de crtico de si mesmo, dificilmente resistir s
crticas dos outros. Seus pensamentos nunca podem parecer corretos, a menos que
tenham sido acostumados a encontrar correo por si mesmos, e que tenham sido
bem formados e disciplinados antes de serem trazidos a campo (Field).
28
Os rodeios de voz e ao que, por assim dizer, camuflam a incoerncia
do discurso falado no podem ser trazidos para a escrita. O escritor tem de
estar preparado para tratar de seu assunto de modo justo e coerente: sem
rodeios. Ele precisa ter se exercitado e dominar to bem a sua arte, quanto os
temas que pretende tratar em suas obras da, a necessidade que os escrito-
res tm de praticar o Solilquio. Isso, porm, no quer dizer que a simples
fala no exija preparo e prtica daquele que a emprega, mas que a escritura,
justamente por no contar com certos artifcios prprios fala (tal como os
rodeios de voz e ao vistos acima), necessita de uma destreza e de uma
habilidade que lhe so peculiar.
O exerccio da escritura, nos lembra Klein, poderia estabilizar a ativi-
dadeda reflexo sobresi mesmo e, dessemodo, talvez aperfeioar o processo de
transformao moral.
29
O Solilquio que transforma moralmente o homem,
fazendo com que ele se encontre consigo mesmo, se tornaria, dessa maneira,
mais eficaz, uma vez que a escritura possibilita registrar, atravs de sua grafia,
os caminhos percorridos na procura do si-mesmo (Self ). Esta seria uma van-
tagem da escritura em relao fala que sempre se perde alguns instantes
depois de ser enunciada: a escrita pode ser relida, dando ao praticante do
Solilquio a possibilidade de refazer e corrigir o seu exerccio.
30
Com a escri-
tura, ganha-se a chance de se fazer um discurso mais elaborado: de encontrar
uma forma mais polida de aconselhar. A concepo de exerccio assume, as-
sim, um papel fundamental o Soliloquy or adviceto an author, comenta
Jaffro, tem de ser interpretado no como um tratado deesttica, mascomo a
teoria dasASKHMATA privadas.
31
O conselho de Shaftesbury aos candidatos
LUS F. S. DO NASCIMENTO 35
autoria que, como ele, se exercitem: que critiquem a si mesmos, e que
encontrem uma maneira polida de tratar o tema que escolheram. Surge aqui
o que poderamos chamar de um modo de avaliar os autores, que ter de
levar em conta a maneira com que eles se expressam, o estilo ou uso que
fazem da linguagem, bem como a elaborao ou acabamento do que est
sendo posto em pblico a publicidade no pode ser lugar para grosserias.
Em uma palavra: o escritor ter de ser avaliado pela sua engenhosidade (Wit).
Porm, o engenho, assim como a arte de escrever, algo que deve ser traba-
lhado, exigindo esforo daquele que deseja aperfeio-lo:
Nada mais difcil no mundo do que ser bompensador sem antes ser poderoso exami-
nador desi mesmo(Self-Examiner) e dialogista de passo firme (thorow-paced Dialogist)
nesse caminho solitrio.
32
O pensamento j est englobando a atividade dialtica do Solilquio
pensar , antes de tudo, ser nosso prprio examinador, o que s se torna
possvel quando nos entretemos em uma conversa interior. De acordo com
Shaftesbury, a opinio dos antigos sbios, segundo a qual nstemosem
cada um densum demnio, gnio, anjo, ou esprito guardio, a quem ns
estvamosintimamenteligadosdesdea primeira aurora denossa razo, ou mo-
mento do nosso nascimento,
33
no outra coisa seno dizer que temos, em
ns mesmos, desde que nascemos, um interlocutor interno com quem exer-
citamos a linguagem dos nossos pensamentos, um dialeto do Solilquio:
34
Mas nossos pensamentos geralmente tm uma linguagem to obscura e implcita, que
a coisa mais difcil do mundo faz-los falar claramente. Por essa razo, o mtodo
correto dar-lhes voz e pronncia. E isso, em nossa ausncia, o que os moralistase
filsofosse esforaram em fazer para nos conduzir, na ocasio em que, como usual,
eles nos mostraram um tipo de espelho vocal (vocal Looking-Glass), extraindo som do
nosso peito e instruindo a nos personalizarmos de um modo mais claro.
35
Esse espelho vocal no nos apresenta uma imagem esttica de ns
mesmos, mas a prpria concepo de um interlocutor interno: ele nos fala e
nos ouve nos aconselha. A reflexo, escreve Jaffro, no encontra seu mode-
lo em um olhar ou em um espelho mudo, masno jogo teatral, viva voce, do
dilogo.
36
A dificuldade de encontrar um meio de tornar a obscura lingua-
gem de nossos pensamentos mais clara advm do fato de essa busca no se
distinguir do conhecimento de si mesmo: conhecer-se ser ntimo de nosso
si-mesmo (Self ), poder conversar conosco e, por vezes, ouvir coisas que no
aceitaramos de mais ningum. Nesse teatro, onde nos apresentamos para
36 Um Espel ho no Bol so: a Prt i ca do Sol i l qui o em Shaf t esbury
ns mesmos, nossos pensamentos vo se formando e se esclarecendo. Segun-
do Shaftesbury, a partir dessa conversa interna que se alcana a individua-
lidade, o que ele chama de nossa doutrina dasduas pessoas em um eu (Self)
individual.
37
graas ao embate dessas duas partes do eu que entraremos
em acordo conosco s assim poderemos estar certos de que continuamos
sendo hoje a mesma pessoa que fomos ontem, mas para tanto necessrio
suportar esse dilogo e passar pelo crivo de nosso examinador. Ser ento
preciso encontrar algum mtodo, ou aprendizado, que faa com que possa-
mos praticar o Solilquio de modo mais seguro e eficaz.
A terceira parte do primeiro captulo de Soliloquy or adviceto an author
comea dizendo que existem pessoas que, mesmo sem o auxlio de uma boa
educao, vivendo sempre em ambientes simples e rsticos, so levadas na-
turalmente a uma postura refinada em sociedade. H, tambm, aquelas que
mesmo sendo de muito boa famlia, contando com os melhores mestres,
jamais a atingem. Porm, a verdadeira graa e beleza no comportamento
nasce do aprimoramento de um elemento natural por via de uma educao
liberal. O mesmo pode ser dito para os autores, eles precisam exercitar e
compreender os movimentos da mente (Mind), assim como o jovem cava-
lheiro estuda sua conduta ou comportamento sociais. Os escritores tambm
tero mestres que os guiaro em seus exerccios: os poetas e os filsofos, e a
eles que Shaftesbury recorre quando pensa em verdadeiros dilogos.
A poesia grega anterior filosofia e imitao dramtica
38
j era um
dilogo que expunha seus personagens de maneira viva e direta, dando a
cada um deles um carter que ser mantido do incio ao fim do poema. Esses
poemas no precisavam falar explicitamente de moral para que esse tema
viesse tona a unidade e perfeio de cada personagem, bem como a tota-
lidade do conjunto eram suficientes para indicar a moralidade. Mais uma
vez nos vemos diante do argumento segundo o qual os poetas ensinam de
modo secreto ou implcito. Mesmo a perfeio de seus personagens devem
guardar uma parcela de obscuridade, capaz de orientar o leitor, mas nunca
obrig-lo a seguir um determinado caminho interpretativo. Eles tambm
podiam mesclar os elementos mais elevados aos mais simples, graas ao que
Shaftesbury chama de um certo tom de mistrio e estranheza que perpassava
por todo o poema e que, no entanto, jamais punha em risco a compreenso
de sua unidade. por via dessa capacidade em trabalhar com temas e assun-
tos de naturezas opostas para a constituio de situaes e personagens que o
poeta pode fazer de sua obra um espelho para seu pblico. Ao nos apresentar
personagens to vivos e bem caracterizados, os poetas nos pe diante de ns
LUS F. S. DO NASCIMENTO 37
mesmos. Sua inventividade, ou engenhosidade, em construir situaes que
nos surgem como reais desperta em ns um olhar retrospectivo. Seus dilo-
gos no so a mera representao daquela conversa interior, ao mesmo tem-
po to comum e to complexa para os homens, eles so o seu prprio refle-
xo. E nesse sentido que os vidros mgicos da poesia do ao seu leitor um
hbito especulativo:
Singular nesses vidrosmgicos(magical Glasses) que, por longa e constante inspeo,
as partes acostumadas prtica adquiriam um peculiar hbito especulativo, de modo
que virtualmente traziam consigo uma espcie de espelho debolso(Pocket-Mirrour),
sempre mo e em uso.
39
atravs de um hbito que somos postos diante desse espelho. O
mestre, no caso o poeta, oferece implicitamente algo que estava oculto em
seu aluno. Ele lhe pe diante de um espelho e conduz os exerccios pertinen-
tes a esse olhar reflexivo, at que o pupilo, j familiarizado com o seu prprio
carter (Character), possa fazer de sua inspeo de si mesmo (Self-Inspection)
um procedimento natural. Ele j no necessita de um outro espelho, seno
aquele que carrega bem perto de si, em seu bolso.
s figuras do teatro e da cirurgia, vem agora se juntar a do espelho.
Shaftesbury chamar o espelho de bolso de mtodo dramtico trata-se
da mesma duplicao do indivduo, atravs da qual se tero duas pessoas
em uma: uma comanda, a outra comandada. No de admirar, comenta
Shaftesbury, que os poetas antigos fossem vistos como verdadeiros sbios,
eles dominavam como ningum essa dramaticidade, e j eram mestres do
dilogo antesquequalquer filosofia o tivesseadotado.
40
Neles j se encontra-
va tudo o que depois se veria na tragdia:
[Homero] pinta de modo a no carecer de inscrio sob suas figuras, nos contando o
que so e o que pretende com elas. Umas poucas palavras que escapem em qualquer
simples ocasio de qualquer uma das partes que ele nos apresenta so suficientes para
indicar (denote) seus costumes e distintos caracteres. Com um dedo do p ou da mo
ele consegue apresentar para nossos pensamentos a estrutura (Frame) e a confeco
(Fashion) do corpo todo. Ele no precisa de nenhum outro auxlio da arte para perso-
nificar seus heris e dar-lhes vida. Tudo o que a tragdia pde fazer depois dele foi
construir um palco e transformar seus dilogos e caracteres em cenas, voltando, do
mesmo modo, a uma ao ou evento principal, como aquela considerao a espao e
tempo adequadas a um espetculo real.
41
A simplicidade e, ao mesmo tempo, o modo implcito com que o autor
introduz seus personagens, sem os apresentar diretamente, mas indicando
38 Um Espel ho no Bol so: a Prt i ca do Sol i l qui o em Shaf t esbury
traos que deixam muito claro qual era a personalidade de cada um deles,
a maior prova de sua engenhosidade. assim que, como j dissemos acima,
eles podem, ao expor personagens bem caracterizados, fazer com seus leito-
res se voltem para a formao de seu prprio carter. Essa dramatizao
presente na poesia e que, na expresso de Shaftesbury, s aguardava o palco
para se tornar, de fato, teatro, ser encontrada na filosofia. Assim, como o
drama, a filosofia grega tem na poesia a fonte de onde extrai o dilogo:
Da ser possvel formar uma noo da semelhana, em muitas ocasies j notadas,
entre o prncipe dos poetas e o filsofo divino, que, dizia-se, rivalizava com o primeiro,
e que, juntamente com seus contemporneos da mesma escola, escreveram unicamen-
te no modo do dilogo acima descrito. Da tambm podermos entender por que o
estudo do dilogo era considerado to vantajoso para os autores, e por que essa manei-
ra de escrever foi julgada to difcil, embora, primeira vista, preciso admitir, parea
a mais fcil de todas.
42
Eis o que unia Homero e Plato um mesmo esprito que tinha no
dilogo o seu prprio reflexo. Os dilogos platnicos podem ento ser vistos
como poemas e Scrates, como personagem principal, torna-se um heri:
O heri filosfico desses poemas [Scrates] cujo nome eles traziam tanto em seu
corpo, quanto em sua fronte, e no qual gnio e costumes se faziam representar era
em si mesmo um carter perfeito, porm, de algum modo, to velado e nebuloso (in a
Cloud), que, para um observador (Surveyor) desatento, poderia muitas vezes parecer
bastante diferente do que realmente era. Isso ocorria principalmente em razo de uma
certa zombaria requintada, em virtude da qual ele podia tratar dos assuntos mais ele-
vados e, ao mesmo tempo, das capacidades mais comuns, fazendo de um a explicao
do outro. De modo que nesse gnio de escrita (Geniusof Writing) aprecia-se tanto a
veia herica e simplesquanto a trgica e cmica.
43
Vemos que o dilogo, enquanto maneira de escrever, traz em si a mes-
ma complexidade da conversa interna, ou Solilquio: apresenta-se, ao mes-
mo tempo, como algo simples e natural e que, no entanto, guarda uma
dificuldade que exige estudo e dedicao daquele que deseja pratic-lo. Po-
rm, no fim desse processo, por assim dizer, metdico e sistemtico, a natu-
ralidade reaparece. No por acaso, como nos dizia Shaftesbury, o dilogo
parece um gnero fcil, embora seja o mais difcil de todos. O escritor de
dilogos sempre trabalha com elementos opostos, tais como: simplicidade e
obscuridade, temas baixos e elevados, apresentao indireta de um persona-
gem, que, no entanto, d ao leitor a sua caracterizao completa. O prprio
Scrates, como vimos no trecho citado acima, , ao mesmo tempo, um per-
LUS F. S. DO NASCIMENTO 39
sonagem perfeito e obscuro. Na medida em que trabalha com essa nebu-
losidade na elaborao do dilogo, a linguagem do poeta lembra a obscuridade
de nossos primeiros pensamentos, porm, ao contrrio dessa ltima, a poe-
sia j traz a marca de uma inteno, um propsito do autor, que, mesmo
camuflada e apresentada de modo implcito, ainda orienta e guia seu leitor:
por mais despretensioso que seja um poeta, por mais que seu conselho seja
dado de maneira espontnea (um freeGift), ele permanece sendo um conse-
lheiro um mestre.
44
E justamente no desconhecimento das questes que
envolvem o dilogo que Shaftesbury encontrar a grande falha dos escritores
modernos. De uma questo mais ampla, a de saber como ser autor de livros, o
Soliloquy or adviceto an author parte, agora, para uma formulao mais espec-
fica da mesma questo: como ser escritor na modernidade?O conselho de
Shaftesbury explicita o seu destinatrio: seu leitor o homem moderno que
pretende escrever. So os problemas peculiares ao escritor desse perodo deter-
minado (a modernidade) que comeam a ser analisados nesse instante.
A grande preocupao dos autores modernos com seus leitores, que se
manifesta na forma de epstolasdedicatrias, prefciosenotasao leitor,
45
tem
por fim atrair toda a ateno do pblico para suas opinies, desejos e tudo o
mais que espera fazer no mundo da moda (fashionable World). Para
Shaftesbury, todos os escritos da modernidade, as obras polticas, as crticas
de arte e os livros de filosofia, tm na memria o seu modelo como
algum que precisa incessantemente provar para si e para os outros que exis-
te, o autor moderno busca desesperadamente se reencontrar e se pr no
mundo. Por trs dos mais diversos temas e assuntos, no h outra coisa seno
o desejo do escritor de realar a sua personalidade. Desse modo, ele acaba
por se revelar um ser perdido e bastante infeliz, imbudo em uma coqueteria
(Coquetry) prpria de sua poca:
De fato, todos os escritos de nossa poca se tornaram uma espcie de escritosdemem-
ria (Memoire-Writing). Embora no houvesse nas verdadeiras memrias dos antigos,
mesmo quando escreviam sobre eles mesmos, ao longo de toda a obra, nem o Eu, nem
o Tu. De modo que estava inteiramente afastado todo gracioso amor e carinhoso
intercurso o autor e a obra. (...) Isso ocorre com mais freqncia no dilogo. Pois aqui
o autor est ausente e o leitor, no sendo mais evocado, passa por ningum. As partes
que tm interesse mtuo desaparecem imediatamente. A cena se apresenta por si mes-
ma, como que por acaso, e sem nenhum propsito.
46
Smbolo de uma poca em que surge a diviso entre o Eu e o Tu, as
obras escritas em primeira pessoa (as memrias) vm destruir a naturalidade
presente na Antigidade. A cena j no pode mais se mostrar sem explicitar
40 Um Espel ho no Bol so: a Prt i ca do Sol i l qui o em Shaf t esbury
um propsito: no lugar dos personagens que os poetas nos apresentavam,
vemos agora um autor que no quer se ocultar, muito pelo contrrio ele
quer ser a nica estrela do espetculo. No existe mais a fuso e a harmonia
entre o pblico e o autor, tambm no se pode mais falar de modo implcito
e obscuro, deixando com que a lio de moral atinja naturalmente a alma
do leitor. A modernidade j se pe como um perodo histrico que prima
por estabelecer divises: as distines entre autor e pblico, naturalidade e
propsito (inteno), do o tom de suas obras: o que estava unido na Anti-
gidade, est agora separado. No por acaso Shaftesbury se esfora para re-
encontrar um tempo em que essas distines no existiam. Tarefa difcil,
uma vez que ele mesmo admitir a impossibilidade de se traduzir e compre-
ender por completo as obras antigas.
47
Como escritor moderno, Shaftesbury
sabe que no pode ignorar as particularidades que caracterizam o seu tempo
ele no desconhece a presena de um leitor (um Tu), distinto de seu
Eu, que muitas vezes aparece em seu texto na forma de objetor e a quem
ele, com freqncia, se dirige.
A modernidade ento esse palco em que as diferenas so realadas.
Aqui, a doutrina das duas pessoas em uma no atinge o seu fim: ficamos
apenas com as duas pessoas e no conseguimos torn-las uma. No existe
o dilogo entre as duas partes, e uma quer se sobrepor a outra. Seria ento o
caso de tentarmos fazer um dilogo moda antiga?Shaftesbury nos responde:
Tambm o escritor entre ns modernos, seja ele quem for, que se aventurar a reprodu-
zir seus companheiros modernos no dilogo, deve apresent-los em seus prprios cos-
tumes, gnios, comportamento e humores. Esse o espelho(Mirrour or Looking-Glass)
acima descrito.
48
Podemos ento, quando se quer recuperar aquela harmonia caracters-
tica da Antigidade, escrever como se fazia naqueles tempos?Suponhamos,
nos diz Shaftesbury, a seguinte situao: um filsofo antigo, de aparncia
modesta e usando trajes pobres, caminha tranqilamente em direo a um
templo. No caminho ele encontra um jovem, oriundo de uma das famlias
mais poderosas de seu tempo. O filsofo lhe pergunta, chamando-o pelo
primeiro nome, se ele est indo para o templo prestar suas devoes ao or-
culo, ele responde que sim, mas de tal modo que o sbio percebe alguma
aflio em sua resposta. O queefetivamentetedeixa perplexo?, pergunta ele
ao jovem, que lhe diz no saber ao certo, mas que talvez fosse a preocupao
com os pedidos e os votos que faria deidade. Podeser algum to tolo para
pedir aoscusalgo queno seja para o seu prprio bem?, questiona o sbio.
LUS F. S. DO NASCIMENTO 41
No seelefor capaz deentender qual o seu bem,
49
argumenta o jovem. E
assim, de um encontro casual, comea um debate sobre o que pode ser bom
ou ruim para uma pessoa e inevitavelmente esse dilogo ter de chegar
natureza prpria do bem. Impossvel no associar a figura desse filsofo
maneira com que Plato nos apresenta Scrates em suas obras, embora
Shaftesbury no os nomeie. No entanto, independentemente de ser ou no
Scrates, o que Shaftesbury parece estar querendo nos mostrar o modo
como a cena do dilogo construda de uma situao comum e corri-
queira em sua poca, o encontro de dois amigos, passa-se naturalmente a
uma questo tipicamente filosfica. Nesse encontro entre o filsofo e seu
jovem amigo, vemos as mesmas qualidades que Shaftesbury apontava como
sendo essenciais poesia grega: a construo de personagens bem definidos
que nos aparecem como vivos e o desenrolar natural da situao apresenta-
da, que chega ao seu tema (no caso, a questo sobre o bem) de modo,
diramos, implcito: sem revelar o propsito que o autor tinha em discuti-lo.
Da mesma maneira, o leitor era instrudo sem que em nenhum momento o
escritor tomasse a palavra em seu nome e a dirigisse diretamente ao seu p-
blico. Como vimos, essa era a marca dos escritos antigos: neles autor e leitor
(Eu e Tu) eram aniquilados, fazendo parte de uma mesma unidade, to
naturais e sem propsito quanto o prprio desenvolvimento do dilogo.
Tomemos agora o mesmo encontro entre o sbio e seu amigo e o trans-
portemos para a modernidade. Imaginemos, com Shaftesbury, um filsofo
moderno em um passeio contemplativo pelos campos. Eis que de repente o
rumo de seus pensamentos atrapalhado pelo encontro de um conhecido
cavalheiro que, por razes que desconhecemos, abandonou o luxo de sua
carruagem e caminha pelo mesmo bosque. Como de costume a homens
dessa categoria, eles comeam a se cumprimentar segundo as normas da mais
requintada etiqueta Considereagora muitoscumprimentosecarasafetadas
(simpering Faces)! Quantospreldios, desculpaseelogios! Ponha agora elogios
ecerimnias em um dilogo ever queefeito vai surgir!.
50
Esse o dilema do
dilogo moderno: para sermos coerentes com nossa poca, temos de retrat-
la de acordo com seus costumes e maneiras, no entanto se colocamos isso em
um dilogo teremos de reconhecer a prpria artificialidade com que nos
dirigimos aos nossos amigos. So tantos artifcios, tantas cerimnias e afeta-
es que se pem entre dois amigos que eles j nem podem se chamar pelo
primeiro nome. O escritor moderno est diante de um paradoxo que revela
um problema prprio de seu tempo:
42 Um Espel ho no Bol so: a Prt i ca do Sol i l qui o em Shaf t esbury
Se evitarmos a cerimnia, no seremos naturais; se a utilizamos, e parecermos to natu-
rais quanto somos no modo de saudar e tratar algum que encontramos, odiaremos o
que vemos. O que isso seno odiar nossosprpriosrostos?Seria culpa do pintor?Deveria
ele ento pintar com falsidade ou afetao, misturando antigo e moderno, juntando as
formas ridiculamente, traindo sua arte?Se no, que meio resta?O que resta seno jogar
fora o pincel? Nenhum outro desgnio na vida, nenhum escrito-espelho(Mirrour-Writing),
nem representao pessoal (personal Representation) de qualquer tipo.
51
O pintor, ou escritor, moderno faz fora para nos representar em nossos
prprios trajes, mas diante do que v obrigado a nos vestir com roupas que
jamais usaramos. Por alguma razo desconhecida, nossa natureza no nos
soa natural:
Ento o dilogo chega ao fim. Os antigos podiam ver seus prprios rostos, ns no. E
qual a razo disso?Por que temos de ter menos beleza?Pois assim que nosso
espelho nos mostra. Instrumento medonho (Ugly Instrument)! Por essa razo deve
ser odiado. Nosso comrcio e nossa maneira de conversar, que consideramos os mais
polidos possveis, tal, ao que parece, que ns mesmos no podemos suportar a repre-
sentao da vida.
52
Est detectado o problema da modernidade: ela no pode suportar olhar
para si mesma. Seu espelho, no lugar de se tornar um companheiro ou ami-
go prximo, a ponto de estar sempre bem perto, em seu bolso, se transfor-
ma em um inimigo um oposto que revela ao homem moderno sua falta
de coerncia consigo. O que fazer diante de tal situao?Ir buscar na Anti-
gidade o modelo do dilogo e simplesmente transport-lo para nossa po-
ca?Vimos que isso impossvel, cada perodo histrico tem de construir o
seu espelho ou reflexo da poca (Mirrour or Looking-Glassto theAge):
53
os
costumes de hoje no so adequados ao modo de se expressar de ontem.
Porm, h algo que os antigos sbios podem nos ensinar. Os filsofos e poe-
tas da Antigidade nos mostram que o melhor modo de refletirmos a poca
em que estamos vivendo construir nosso carter, ou seja: determinar
nossa individualidade, o que s se torna possvel quando podemos fazer ns
mesmos nosso prprio personagem. O termo Character, empregado vrias
vezes por Shaftesbury, pode ser vertido tanto por carter, quanto por perso-
nagem. Nesse sentido, nossas caractersticas(Characteristicks) no so outra
coisa seno o que fazemos de ns mesmos no palco do Solilquio. De
acordo com Klein, a palavra carter contm a resposta deShaftesbury ao pro-
blema do si-mesmo (self ), visto queela sereferesqualidadesda consistncia, da
unidadeeda autonomia quesefunda em uma interioridadebem desenvolvi-
da.
54
A etimologia do termo carter, acrescenta ele, refere-sea um complexo
LUS F. S. DO NASCIMENTO 43
deidiassugeridaspelo verbo grego kharasso, quesignifica, entreoutrascoisas,
asseverar, marcar, cunhar egravar.
55
Trata-se, assim, de marcar, de de-
finir, uma personalidade. Isso era, como vimos, o que faziam os poetas da
Antigidade: no lugar de narrar suas aventuras pelo mundo afora, o escritor
antigo apresenta personagens que nos aparecem como vivos. Ele no fica
pginas e pginas divagando sobre sua vida particular, mas nos pe diante de
um mundo que criou. Atravs de seus heris, por via dos interlocutores dos
dilogos, o leitor levado, naturalmente, a reconhecer a unidade do carter
do autor, o que o faz olhar para sua prpria individualidade. No h nesse
processo nenhuma mediao o dilogo j se apresenta como espelho de
seu pblico: ele no precisa se remeter ao leitor, o leitor parte integrante de
sua narrativa. Ao apresentar seus personagens, o autor mostra que foi sufi-
cientemente forte e engenhoso para realizar uma conversa interior com eles,
a ponto de, agora, poder lev-los ao pblico: elaborou to bem o seu discur-
so que j no v problemas em compartilh-lo com os demais. Esse dilogo
que o poeta estabelece com seu leitor no funciona como um espelho im-
vel, que simplesmente nos devolve uma imagem esttica de ns mesmos,
antes aquele espelho viva voce que nos fala e aconselha. Os personagens
no precisam ser necessariamente idnticos a mim, com mesma forma fsica
e personalidade, para que a viso de seu carter faa com eu atente para a
formao de minha prpria pessoa: o meu prprio si-mesmo (Self ). Tambm
no importa o fato de esses personagens serem fruto de uma fico. Para
Shaftesbury, a beleza e a verdade de uma obra dada na maneira como ela
composta, e no na mera cpia ou representao das coisas verdadeiras,
pois fatos inabilmenterelatados, mesmo com a maior sinceridadeeboa f,
podem setornar no pior tipo deengano (Deceit) e merasmentiras judiciosa-
mentecompostasso capazesdenosensinar, melhor do quequalquer outro meio,
a verdadedascoisas.
56
Refletir o pblico , desse ponto de vista, apresentar-
lhe essa verdade bem composta mostrar-lhe personagens bem definidos
que apontam para o carter total da obra: o seu design. A palavra design, que
pode ser traduzida por desenho ou desgnio, indica um plano geral do autor:
uma primeira idia que nos leva naturalmente estrutura da obra. A facili-
dade com que ns, leitores dos dilogos, apreendemos a unidade do traba-
lho de engenho (Wit), a prova do desgnio do autor. a construo desse
desenho (design) ou carter da obra que une a poesia s demais artes:
Assim, a poesia e a arte do escritor, que em muitos aspectos lembram a escultura e a
pintura, seriam ainda mais parecidas com elas, uma vez que seus esboose modelos
44 Um Espel ho no Bol so: a Prt i ca do Sol i l qui o em Shaf t esbury
originais no servem para ostentao, nem para serem exibidos ou copiados para a
vista do pblico, mas sim para estudo e prtica.
57
Pintar, ou escrever, depende mais de uma boa idia e dos exerccios
pertinentes ao desenvolvimento dessa idia, do que de um bom modelo para
copiar. Um artista deve estar muito bem familiarizado com seus primeiros dese-
nhos, ou desgnios: a partir de um insight (uma viso interior) que ele poder
construir a facilidade da vista (Easinessof Sight) e a unidade da viso (united
View) que garantem o design de sua obra.
58
Os grandes artistas, lembra Shaftesbury
em Sensuscommunis: an essay on thefreedomof wit and humor,
foram aqueles que estudaram infatigavelmente as melhores esttuas pois sabiam que
elas eram melhor regra do que os melhores corpos humanos; por isso alguns engenhos
considerveis recomendam os melhores poemas de preferncia s melhores histrias
pois ensinam melhor a verdade dos caracteres e a natureza do homem.
59
Mais uma vez nos vemos diante do argumento segundo o qual cons-
truir personagens no copiar ou fazer um mero retrato de pessoas que
existem ou existiram, mas apresentar caracteres. A funo dos vidros mgi-
cos da poesia no , como j sabemos, simplesmente nos mostrar, eles tm
de criar em ns um hbito especulativo mais do que nos refletir, esse
espelho nos torna reflexivos. E isso que falta ao escritor moderno realizar
obras que soem to familiares ao seu leitor, quanto seria o seu espelho de
bolso: o problema de poetas e escritores modernos encontra-se na ausncia
de uma linguagem elaborada
60
, o que, por sua vez, revela que eles no tive-
ram fora o bastante para conversar consigo: um grande autor dificilmente
no conhecer a si mesmo.
61
A linguagem no um meio, um veculo que
apenas tenta descrever ou se aproximar de algo anteriormente dado. Ela o
prprio movimento do esprito (Mind) que opera a duplicao interna ao
homem e que o far uma pessoa, dando-lhe o seu carter ou persona-
gem: o processo de constituio do indivduo , como sabemos, feito por
uma conversa interna. Sendo assim, uma boa linguagem fruto de um co-
nhecimento de si, smbolo de harmonia e de moralidade, visto que a canalhice
(Knavery) mera dissonncia edesproporo.
62
O bom discurso revela o
bom pensamento, a polidez e o bom senso daquele que o enuncia. Da a
necessidade dos exerccios, da prtica que, ao formar a linguagem, forma o
carter de quem fala. Quando se trata ento de pessoas que querem aconse-
lhar, que desejam se dirigir a um pblico maior e lhe oferecer um espelho,
colocando-se na posio de mestre, essa necessidade se torna ainda mais
LUS F. S. DO NASCIMENTO 45
veemente. Os autores antigos eram to hbeis em sua arte, que sua maneira
de escrever podia se apresentar como uma representao da fala: como dilo-
go. A prtica do Solilquio, que na modernidade no pode, como nos diz
Shaftesbury, se transformar em um hbito nacional, estava to difundida na
Antigidade que os seus modos de pensar, falar e escrever estavam bem pr-
ximos: existia um carter da poca que era, por assim dizer, impresso em
todas as suas manifestaes e lhes dava unidade. Havia, assim, esse esprito do
dilogo que no apenas possibilitava a comunicao entre os interlocutores,
mas os unia: no limite o Eu e o Tu se dissolviam em um nico e mesmo
carter.
O conselho de Shaftesbury, bem como a tarefa do escritor moderno,
torna-se aqui ainda mais difcil: preciso formar o carter de uma poca que
prima pelo contraste e pela dissonncia. necessrio que o autor moderno
encontre a sua linguagem, o seu modo prprio de pensar:
De minha parte, meu Lorde, tenho realmente tanta necessidade de alguma presena e
companhia considervel para fazer surgir meus pensamentos, que, quando sozinho,
devo me empenhar por uma fora da imaginao a suprir tal carncia.
63
Ao escrever, Shaftesbury traz, para o corpo de seu texto, um interlocutor.
Ao contrrio do que ocorria com os dilogos antigos, aqui o interlocutor
tambm far as vezes de leitor. ao leitor que Shaftesbury tem, por vrias
vezes, necessidade de se dirigir: seus pensamentos de escritor moderno pre-
cisam, medida que vo preenchendo o papel em branco, dessa figura ima-
ginria. O trecho que citamos acima foi retirado de A letter concerning
enthusiasm, mas tambm no Soliloquy or adviceto an author encontramos
essa mesma necessidade.
64
Quando, por exemplo, fala da prtica da cirurgia,
Shaftesbury imagina, como j vimos acima, a seguinte objeo de seu leitor:
Mera enrolao! (MereQuibble), dir voc. Poisquem ento semultiplicaria
em duas pessoas e seria seu prprio objeto?.
65
Sua maneira de escrever j
incorpora a presena do leitor com quem dialoga, o que significa dizer: ele
assume, no prprio modo de compor e expor o seu texto, o papel de autor.
O que permanecia secreto e implcito na Antigidade , agora, posto em
evidncia. O dilogo moderno mais uma conversa entre autor e leitor do
que entre dois amigos que se encontram e desenvolvem espontaneamente
um determinado tema. Mesmo quando o destinatrio dito amigo do escri-
tor, como caso de Lorde Sommers, amigo a quem Shaftesbury se dirige em
A letter concerning enthusiasm, ele ainda ser o leitor, distinto do autor. Po-
rm, ao contrrio do que ocorria com o caso dos livros de memrias, agora o
46 Um Espel ho no Bol so: a Prt i ca do Sol i l qui o em Shaf t esbury
leitor no um mero destinatrio, algum que o autor deseja chamar a aten-
o. Ele parte do texto. No se trata mais de um leitor propriamente dito,
mas de um pblico que moldado para satisfazer expectativas e questes
inerentes ao livro: o leitor se torna uma figura, um personagem em que o
argumento central da obra se apia para se desenvolver. Do mesmo modo, o
autor, que toma a palavra em seu nome e nos fala, pode ser entendido como
uma figura que, junto com a do leitor, completa a cena, ou o palco, em
que a discusso ser travada. Por certo, no se trata de personagens to bem
caracterizados como o era Scrates, com opinio, desejos e mesmo o tipo
fsico definidos. Porm, j h aqui algo da unidade presente na Antigidade
e pretendida pelos autores modernos: embora se apresentem separados e,
por vrias ocasies, em conflito, as figuras do autor e do leitor, no decorrer
do Soliloquy or adviceto an author, trabalham em prol de um nico e mesmo
argumento. Apesar das divergncias entre essas duas figuras, o carter da
obra no se torna mais fraco por isso. Pelo contrrio, se fortalece e nos mos-
tra um estilo: uma maneira elaborada, ou polida, de lidar com a linguagem,
prprio de algum que se exercitou e se conhece que praticou o Solilquio.
Se j no h mais como fundir por completo o Eu e o Tu, ainda se pode
vislumbrar a possibilidade de eles entrarem em um acordo: de se comunica-
rem. Transformado na figura do leitor do Soliloquy or adviceto an author, o
candidato autoria participa do livro. Ao assumir esse papel, ele j no
mais um mero destinatrio, mas parte integrante do conselho de Shaftesbury.
Estabelece-se, assim, o jogo do dar ereceber, prprio do aconselhar: existe um
vnculo entre os interlocutores e um carter poder, desse modo, ser formado.
Resumo: O presente texto procura en-
tender a maneira com que Shaftesbury
pensa a linguagem, o dilogo e a dife-
rena entre Modernidade e Antigidade
por meio da anlise do conceito de solil-
quio.
Palavras-chave: Linguagem, Solilquio,
Antigidade, Modernidade
Abstract: The purpose of this paper is to
contri bute to the understandi ng of
Shaftesburys conception of language. The
connection between dialogue as literary
form and soliloquy asmoral exercise enables
the English philosopher to establish a
conceptual distinction between Moderns
and Ancients that plays a central part in
his philosophy of language.
Keywords: Language, Soliloquy, Ancients,
Moderns.
LUS F. S. DO NASCIMENTO 47
Not as
1
Solilquio ou Conselho a umautor. In: Characteristicsof Men. Manners, Opinions, Times(1711; 1714),
vol. 1, p. 153. Ed. Philip Ayers. 2 vols., Oxford, Oxford University Press, 1999.
2
Solilquio, op. cit. p.154.
3
Solilquio, op. cit., p.155.
4
Solilquio, op. cit., p.155.
5
Jaffro, L. thiquedela communication et art dcrire Shaftesbury et lesLumiresanglaise. Paris, P.U.F,
1998 p.121, grifo nosso.
6
Jaffro, thiquedela communication, op. cit., p.121.
7
Jaffro: O Solilquio , acima detudo, isto queaconselhado aosautorespara queelespossam, enfim,
aconselhar demaneira autntica. O ttulo principal, Solilquio, no uma determinao da natureza da
obra, masuma indicao deseu objeto.. tiquedela communication, op. cit., p.117.
8
Solilquio, op. cit., p.155.
9
Solilquio, op. cit., p.155.
10
Solilquio, op. cit., p.156.
11
Solilquio, op. cit., p.156.
12
Solilquio, op. cit., pp.156-157.
13
Solilquio, op. cit., p.157.
14
Solilquio, op. cit., p.157.
15
Solilquio, op. cit., p.157.
16
Solilquio, op. cit., p.189.
17
Solilquio, op. cit., p.160.
18
Esse romano Ccero, como mostra Philip Ayres na edio que fez para verso de 1714 do Soliloquy.
Ver Characteristicksof men, manners, opinions, times, op. cit.
19
Solilquio, op. cit., p.161.
20
Solilquio, op. cit., p.163.
21
Solilquio, op. cit., p.164.
22
Solilquio, op. cit., pp.164-165.
23
Solilquio, op. cit., p.174.
24
Solilquio, op. cit., p.166.
25
Klein, L., Shaftesburyand thecultureof politeness moral discourseand cultural politicsin earlyeighteenth-
century England. Cambridge, Cambridge University Press, 1986, p.71.
26
Tivemos acesso aos Exerccios(ASKHMATA), graas a transcrio, ainda no prelo, que Pedro Paulo
Pimenta fez do original em ingls. Shaftesbury Papers, PRO 30/24/27/10, 30/24/27/11.
27
Solilquio, op. cit., p.167.
28
Solilquio, op. cit., pp.167-168.
48 Um Espel ho no Bol so: a Prt i ca do Sol i l qui o em Shaf t esbury
29
Klein, Shaftesbury and cultureof politeness, op. cit., p.82.
30
A esse respeito, ver: Chaimovich, F., Escrita eleitura tcnica pedaggica etestemunho filosfico na
obra deShaftesbury. Tese apresentada ao Departamento de Filosofia, p. 115. So Paulo, FFLCH/USP.
31
Jaffro, thiquedela communication, op. cit., p.32.
32
Solilquio, op. cit., p.168.
33
Solilquio, op. cit., p.168.
34
Solilquio, op. cit., p.170.
35
Solilquio, op. cit., p.170.
36
Jaffro, thiquedela communication et art dcrire, op. cit., p.156.
37
Solilquio, op. cit., p.185.
38
Solilquio, op. cit., p.193.
39
Solilquio, op. cit., p.195.
40
Solilquio, op. cit., p.196.
41
Solilquio, op. cit., p.197.
42
Solilquio, op. cit., p.198.
43
Solilquio, op. cit., pp.194-195.
44
No lugar dedar a si mesmo aresprofessoraisemagistrais, o poeta quaseno cria uma figura, emal se
revela emseu poema. Isso o quefaz umverdadeiro mestre. (Solilquio, op. cit., p.197).
45
Solilquio, op. cit., p.200.
46
Solilquio, op. cit., pp.200-201, grifo nosso.
47
Esseo grandedilema emrelao maneira antiga deescrever, queno podemosnemimitar, nem
traduzir, por maior queseja o prazer quepossamosencontrar na leitura dessesoriginais. Solilquio, op.
cit., p.204.
48
Solilquio, op. cit., p.202.
49
Solilquio, op. cit., pp.202-203.
50
Solilquio, op. cit., p.204.
51
Solilquio, op. cit., pp.204-205.
52
Solilquio, op. cit., p.205.
53
Solilquio, op. cit., p.199.
54
Klein, Shaftesbury and thecultureof politeness, op. cit., p.91.
55
Klein, Shaftesbury and thecultureof politeness, op. cit., p.91.
56
Solilquio, op. cit., p.346.
57
Solilquio, op. cit., p.206.
58
SensusCommunis; in: Characteristics, op. cit., vol. 1, pp.143-144, grifo nosso.
59
SensusCommunis, op. cit., p.145.
LUS F. S. DO NASCIMENTO 49
60
Devo confessar que dificilmente se encontra raa de mortais mais inspida do que aquela que ns
modernos gostamos de chamar de poetas, justamente por terem alcanado uma linguagem sem ne-
nhum critrio e com um uso fortuito do engenho e da fantasia. Solilquio, op. cit., p.207.
61
Solilquio, op. cit., p.207.
62
Solilquio, op. cit., pp.207-208.
63
Carta do entusiasmo, in: Characteristics, op. cit., vol. 1., p. 08.
64
Para Jaffro, na medida em que tratam de questes referentes comunicao e formao do espao
pblico, A letter concerningenthusiasme Soliloquy podem ser ditos textosperfeitamentesimtricos.
thiquedela communication et art dcrire, op. cit., p.29.
65
Solilquio, op. cit., p.157.
Bi bl i ograf i a
CHAIMOVICH, F. Escrita eleitura tcnica pedaggica etestemunho filosfico
na obra deShaftesbury. Tese apresentada ao Departamento de Filosofia da
FFLCH/USP. So Paulo, 1998.
DIDEROT, D. Ensaiossobrea pintura. Traduo de Magnlia Costa dos
Santos. Campinas, Papirus/ Unicamp, 1993.
JAFFRO, L. thiquedela communication et art dcrire Shaftesbury et les
Lumiresanglaise. Paris, Puf, 1998.
KLEIN, L. Shaftesbury and thecultureof politeness moral discourseand cul-
tural politicsin early eighteenth-century England. Cambridge, Cambridge
University Press, 1986.
SHAFTESBURY. Soliloquy, or adviceto an author. In: Characteristicsof Men.
Manners, Opinions, Times(1711; 1714), vol. 1. Ed. Philip Ayers. 2 vols.,
Oxford, Oxford University Press, 1999.
_________. SensusCommunis, or An Essay on thefreedom of wit and humour.
In: Characteristicsof Men. Manners, Opinions, Times(1711; 1714), vol. 1.
Ed. Philip Ayers. 2 vols., Oxford, Oxford University Press, 1999.
_________. A letter of Enthusiasm. In: Characteristicsof Men. Manners, Opin-
ions, Times(1711; 1714), vol. 1. Ed. Philip Ayers. 2 vols., Oxford, Ox-
ford University Press, 1999.
__________. ASKHMATA. Manuscritos. 2 vols. In: Shaftesbury Papers,
PRO 30/24/27/10, 30/24/27/11. Transcrio: Pedro Pimenta.
50 Cart a sobre a art e ou a ci nci a do desenho
CARTA SOBRE A ARTE OU A CINCIA DO DESENHO (1712)
Ant hony Ashl ey Cooper, t ercei ro Conde de Shaf t esbury
Traduo, apresent ao e not as: Pedro Paul o Pi ment a*
Apresent ao
O primeiro texto do volume no qual Shaftesbury trabalhava quando mor-
reu, no incio de 1713 Caracteressecundriosou a linguagem dasformas se
intitula, no plano da obra, A Letter ConcerningDesign. O manuscrito do
texto traz um ttulo mais extenso e explicativo: A Letter concerning theArt or
Scienceof Design. Sua leitura no deixa dvidas de que se trata de uma reco-
mendao, do filsofo (Shaftesbury) para o homem pblico (Lorde Sommers),
das virtudes das artes plsticas. Ao mesmo tempo, a carta introduz a nova
obra e explica a continuidade entre ela e a obra anterior, Caractersticasde
Homens, Maneiras, Opinies, pocas(3 vols., 1711).
1
O plano de Second Charactersor theLanguageof Formsprev cinco tex-
tos diferentes: Prefatory Thoughts, A Letter concerning theArt or Scienceof
Design, A Notion of theHistorical Draught or Tablatureof theJudgement of
Hercules, TheTablatureof Cebesaccording to Prodicuse Plastics, or theOrigi-
nal, Progressand Power of Designatory Art. Desses, apenas Cebesno foi redi-
gido. Os outros textos encontram-se nos Shaftesbury Papers, depositados no
Public Record Office, em Londres, com as seguintes referncias: Carta sobre
o desenho e Hrcules, PRO 30/24/26/1 (Virtuoso Copy-Book); Prefcio e
Plstica, PRO 30/24/27 (Notebook on arts, painting and painters).
Enquanto a Carta e Hrculesapareceram no terceiro volume das edi-
es das Caractersticasa partir da segunda edio (1714), com muitas altera-
es em relao ao texto manuscrito, a edio completa dos textos teve de
esperar quase dois sculos. Editados e publicados por Benjamin Rand em
1900, eles trazem, infelizmente, inmeras incorrees e imprecises.
2
A
Standard Edition corrige esses equvocos com uma cuidadosa transcrio
*PEDRO PAULO PIMENTA concluiu o Doutorado em Filosofia pela USP em 2002. Atualmente ps-
doutorando em Histria da Filosofia Moderna pelo Departamento de Filosofia da USP. autor de
Reflexo eMoral emKant (Azougue Editorial, 2004).
50
ANTHONY ASHLEY COOPER, TERCEIRO CONDE DE SHAFTESBURY 51
filolgica dos manuscritos, acompanhada de valioso material referente com-
posio dos textos e de tradues para o alemo.
3
O texto da Carta sobrea Arteea Cincia do Desenho que utilizamos nesta
traduo o do manuscrito acima referido, que tivemos a oportunidade de
transcrever durante estgio em Londres para pesquisa de doutorado finan-
ciada pela Fapesp. Algumas correes foram feitas a partir do texto da SE. A
paginao do original (tambm reproduzida na SE) encontra-se entre col-
chetes, em negrito. As palavras em negrito so as que aparecem no manuscri-
to duplamente sublinhadas; as sublinhadas uma s vez esto em itlico. As
notas de Shaftesbury so indicadas por asterisco; as do tradutor so numera-
das. O leitor poder consultar, alm do texto original aqui reproduzido, tra-
dues para o alemo e para o francs.
4
Uma palavra sobre a traduo. Como indica o ttulo do texto, Carta
sobrea Arteou a Cincia do Desenho, trata-se de considerar o desenho pai
das artes plsticas de arquitetura, escultura e pintura na qualidade de arte
ou cincia. Ao faz-lo, Shaftesbury desconsidera as pretenses da cincia e da
filosofia dos modernos (Descartes et alii) de restringir o epteto de cientfi-
co aos ramos do conhecimento dedicados compreenso matemtica dos
fenmenos naturais, e recupera o estatuto de cincia que a Renascena italia-
na reserva ao disegno.
5
Fundamento da plstica, o desenho, propriamente
falando, uma capacidade cognitiva, a declarao de uma idia, de uma con-
cepo que, pelas mos do artista, exprime o sentido de uma totalidade or-
gnica, de uma natureza. Enquanto tal, o desenho pode tambm ser dito
desgnio, num sentido bem preciso: conceber (to design): no a respeito de
qualquer coisa futura ou intencionada (intended): esse sentido deve ser bani-
do da mente (Plstica, p. 78 do manuscrito). Firme e certeiro, o telosda
exposio se encontra inscrito na idia mesma a se expor, que s se torna
completa e viva no ato da exposio. Entre pensamento e expresso, ao con-
trrio do que diz a cano, no h nem pode haver a lifetime: se o desenho
certo, a idia certa e vice-versa. Entende-se, assim, que o artista par do
filsofo, e que a pintura, que tambm pode ser mero passatempo, encontra
seu justo lugar enquanto rgo da filosofia.
6
dessa imbricao que fala a
Carta sobrea Arteou a Cincia do Desenho.
52 Cart a sobre a art e ou a ci nci a do desenho
[ Treat i se I.vi z.]
A l et t er [ A l et t er [ A l et t er [ A l et t er [ A l et t er [ f rom I t al y] I t al y] I t al y] I t al y] I t al y] concerni ng t he AR AR AR AR ART TT TT, ,, ,, or SCI ENCE of DESI GN: or SCI ENCE of DESI GN: or SCI ENCE of DESI GN: or SCI ENCE of DESI GN: or SCI ENCE of DESI GN: w ri t t en
f rom It al y (on t he occasi on of some desi gns i n pai nt i ng). To my Lord * * * *
[Docti Rationem Artisintelligunt, Indocti Voluptatem.Quintili: IX. 4.]
Anteomnia Musae.Virg. Georg. Li. ii
[1] [Treatise I.viz.]
A letter from Italy &c.
March 6. (S.N.)1712.
My Lord,
thisletter comesto your lordship, accompanied with a small writing entitled a
Notion. For such alonecan that piecedeservingly becalled, which aspiresno
higher than to theforming of a project, and that too in so vulgar a scienceas
painting. But whatever thesubject be; if it can [but] proveanyway entertaining
to you, it will sufficiently answer my design. And should it possibly havethat
good success, I should haveno ordinary opinion of my project: sinceI know how
hard it would befor anyoneto giveyour Lordship a real entertainment of anything
which [that] wasnot in somerespect worthy and useful. [2]
On thisaccount I must, by way of prevention, inform your Lordship, that
after I haveconceived my Notion such asyou seeit upon paper, I wasnot contented
with this, but fell immediately to work, and by thehand of a master-painter
brought it [my Notion] into practice, and formed a real design. Thiswasnot
enough. I resolved afterwardsto seewhat effect it would have, when taken out of
mereblack-and-white, into colours: and thusa sketch wasafterwardsdrawn.
Thispleased so well; that being encouraged by thevirtuosi, who areso eminent
in thispart of theworld, I resolved at last to engagemy painter in thegreat work.
Immediately a cloth wasbespokeof a suitabledimension, and thefigurestaken
asbig or bigger than thecommon life; thesubject being of theheroic kind, and
requiring rather such figuresasshould appear aboveordinary human stature.
ANTHONY ASHLEY COOPER, TERCEIRO CONDE DE SHAFTESBURY 53
Trat ado I.
Cart a sobre a Art e ou a Ci nci a do Desenho. Redi gi da na It l i a a propsi t o
de desenhos em pi nt ura. Para Mi l orde * * * * .
9
Docti Rationem Artisintelligunt, Indocti Voluptatem. Quintiliano, Livro
IX, Captulo 4.
Anteomnia Musae. Verglio. Gergicas, linha 2.
[1]
6 de Maro de 1712.
Milorde,
esta carta vos chega acompanhada de um pequeno escrito intitulado uma
Noo.
10
S assim merece ser chamada uma pea como esta, que no aspira
a mais do que formar um projeto, e numa cincia to vulgar quanto a pintu-
ra. Mas, no importa o assunto, ela responder meu desgnio se puder vos
entreter; e, se tiver xito, minha opinio do projeto no ser ordinria, pois
eu sei como difcil vos entreter com o que no seja, em nenhum respeito,
digno e til. [2]
Por isso vos informo, a ttulo de preveno, que, tendo concebido mi-
nha Noo, tal como a vedes no papel, no fiquei satisfeito, e imediatamen-
te me pus ao trabalho. Pelas mos de um mestre em pintura, formei um
desenho real, e trouxe minha Noo prtica. No parei por aqui. Decidi ver
qual efeito ela teria quando transposta do mero preto-e-branco para o colo-
rido. Traou-se ento um esboo, que se mostrou to aprazvel, que, encora-
jado pelos virtuosi, to eminentes nesta parte do mundo, decidi por fim
engajar meu pintor na obra principal. Disps-se imediatamente uma tela, de
dimenso conveniente a figuras tomadas como to grandes ou como maio-
res do que na vida comum, pois o tema do gnero herico e requer estatura
mais alta do que a humana.
54 Cart a sobre a art e ou a ci nci a do desenho
Thusmy Notion aslight asit may provein thetreatise, isbecomevery
substantial in theworkmanship. Thepieceisstill in hand; and liketo continue
so, for so time. Otherwisethefirst draught or design should haveaccompanied
thetreatise; asthetreatisedoesthisletters. But thedesign having grown thusinto
a sketch, and thesketch afterwardsinto a picture; I thought it fit your Lordship
should either seetheseveral piecestogether, or betroubled only with that which is
best; asundoubtedly thegreat onemust prove, if themaster I employ sinksnot
very much below himself, in thisperformance. [3]
Far surely should I be, my Lord, in conceiving any pridein amusementsof
such an inferior kind asthese; especially werethey such asthey may naturally at
first sight appear. I pretend not here[indeed] to apologiseeither for them, or for
my-self. Your Lordship however knowsI havenaturally ambition enough to
makemedesirousof employing my-self in businessof a higher order: sinceit has
been my fortunein public affairsto act often in concert with you, and in the
sameviewson theinterest of Europe and mankind. Therewasa time, and that
a very early onein my life, when I wasnot wanting to my country, in thisrespect.
But after someyearsof hearty labour and painsin thiskind of workmanship, an
unhappy breach in my health drovemenot only from theseat of business, but
forced meto seek thisforeign climates; where, asmild aswinters[
7
] generally are,
I havewith much ado lived out thislatter-one [latter-season]; and am now, as
your Lordship finds, employing my-self in such easy studiesasaremost suitable
to my stateof health, and to thegeniusof thecountry whereI am confined.
Thisin themean timeI can with someassurancesay to your Lordship, in a
kind of spirit of prophecy, from what I haveobserved of therising geniusof our
nation; [4] that if weliveto seea peaceany way answerableto that generous
spirit with which thiswar wasbegun, and carried on, for our own liberty and
that of Europe; thefigureweareliketo makeabroad, and theincreaseof
knowledge, industry and senseat home, will render united Britain theprincipal
seat of arts; and by her politenessand advantagesin thiskind, will show evidently,
how much shehasbeen owing to thosecouncils, which thought her to exert her-
self so resolutely on behalf of thecommon cause, and that of her own liberty,
and happy constitution, necessarily included.
I can my-self remember thetimewhen, in respect of musick, our reigning
tastewasin many degreesinferior to theFrench. Thelong reign of luxury and
pleasureunder king Charlesthe Second, and theforeign helpsand studied
advantagesgiven to musick in a following reign, could not raiseour geniusthe
least in thisrespect. But when thespirit of thenation wasgrown morefree;
though engaged at that timein thefiercest war, and with themost doubtful
ANTHONY ASHLEY COOPER, TERCEIRO CONDE DE SHAFTESBURY 55
E assim minha Noo, to superficial no tratado, tornou-se muito subs-
tancial no acabamento. A pea ainda est mo e continuar assim por al-
gum tempo. De outra maneira, o rascunho ou desenho inicial acompanha-
ria o tratado, assim como o tratado acompanha esta carta; mas como o dese-
nho tornou-se esboo, e o esboo, posteriormente, quadro, pensei que a me-
lhor disposio seria a que permitisse a vossa senhoria ver as muitas peas
juntas, ou ento s a melhor delas; que, no tenho dvidas ser a principal,
se o mestre que me serve no se mostrar indigno de si mesmo. [3]
Longe de mim, Milorde, ter vaidade ou orgulho por distraes como
estas, especialmente quando parecem, primeira vista, de gnero to inferior.
No pretendo aqui me desculpar, seja por elas, seja por eu mesmo. Vossa
senhoria sabe, entretanto, que minha ambio naturalmente suficiente para
querer me dedicar a questes de ordem mais elevada. Tive, muitas vezes, a
fortuna de atuar nos negcios pblicos em consonncia convosco, com quem
compartilho da mesma perspectiva no interesse da Europa e do gnero hu-
mano. Houve um tempo, bem cedo em minha vida, em que, quanto a isso,
no faltei com meu pas.
11
Aps alguns anos de trabalho dedicado e de apli-
cao nesse gnero de atividade, a debilidade de minha sade no somente
me afastou dos negcios como me obrigou a buscar ares estrangeiros. Mes-
mo com invernosgeralmente brandos, a muito custo sobrevivi ao mais re-
cente, para dedicar-me, como vedes, a estudos mais simples e convenientes,
minha sade e ao gnio do pas em que me encontro.
Entrementes, o que observei no crescente gnio de nossa nao me
permite vos afirmar, com alguma certeza e esprito proftico, [4] que, se
vivermos para ver paz que corresponda ao generoso esprito que deu incio e
levou a cabo esta guerra,
12
em nome de nossa prpria liberdade e da liberda-
de da Europa, nossa provvel imagem no exterior, aliada ao incremento de
conhecimento, diligncia e bom senso tornaro a Bretanha unida a princi-
pal sede das artes. Sua polidez e suas contribuies para o gnero podero
evidenciar o quanto ela deve aos conselheiros que a ensinaram a se exercer,
com tanta resoluo, em prol da causa comum, que inclui, necessariamente,
sua prpria liberdadee sua afortunada constituio.
Lembro-me bem do tempo em que o gosto musical predominante en-
tre ns era, em muitos graus, inferior ao francs. O longo reinado de luxo e
prazer sob o rei Carlos Segundo,
13
e, depois dele, os estmulos estrangeiros e
benefcios calculados para a msica, no foram suficientes para despertar
minimamente nosso gnio musical. Mas quando o esprito da nao se tor-
nou mais livre, mesmo engajado na mais feroz guerra, e com xito duvidoso,
56 Cart a sobre a art e ou a ci nci a do desenho
success, weno sooner began to turn our-selvestowardsmusick and enquirewhat
Italy in particular produced, than in an instant weoutstripped our neighbours
theFrench, entered into a geniusfar beyond theirs, and raised ourselvesan ear,
and judgement not inferior to thebest now in theworld.
In thesamemanner, asto painting. Though wehaveasyet nothing of our
own nativegrow in thiskind worthy of being mentioned; [5] yet sincethepublic
hasof latebegun to expressa relish for engravings, drawings, copyings, and for
theoriginal paintingsof thechief Italian schools(so contrary to themodern French)
[relish], I doubt not, that [but] in very few years, weshall but makean equal
progressin thisother science. And when our humour turnsusto cultivatethese
designingarts: our genius, I am persuaded, will naturally carry usover theslighter
amusements, and carry usover to that higher, moreserious, and nobler part of
imitation, which relatesto history, human nature, and the chief degree or
order of beauty; I mean that of therational life; distinct from themerely vegetable
and sensible; asin animals, or plants: according to thoseseveral degreesor orders
of painting, which your Lordship will find suggested in thisextemporary Notion
I havesent you.
Asfor architecture, it isno wonder if no many nobledesignsof thiskind
havemiscarried amongst us; sincethegeniusof our nation hashitherto been so
littleturned thisway, that through several reignswehavepatiently seen the
noblest public buildingsperish (if I may say so) under thehand of onesingle
court-architect; who if hehad been ableto profit by experience, [6] would have
long sinceat our expensehaveproved thegreatest master in theworld. But I
question whether our patienceisliketo hold so much longer. Thedevastation so
long committed in thiskind, hasmadeusbegin to grow rudeand clamorousat
thehearing of a new palacespoilt, or a new design committed to so harsh or
impotent pretender.
Tisthegood fortuneof our nation in thisparticular, that thereremainsyet
two of thenoblest subjectsfor architecture; our Princespalace and our House of
Parliament. For I cannot but fancy that when Whitehall isthought of, the
neighbouring Lords and Commons will at thesametimebeplaced in better
chambersand apartments, than at thepresent; wereit only for majestyssakeand
asmagnificencebecoming theperson of thePrince; who hereappearsin full
solemnity. Nor do I fear that when thesenew subjectsareattempted, weshould
miscarry asgrossly aswehavedonein othersbefore. Our State in thisrespect,
may proveperhapsmorefortunatethan our Church; in having waited till a
national tastewasformed, beforetheseedificeswere[havebeen] undertaken.
But thezeal of thenation could not, it seems, admit so long a delay in their
ANTHONY ASHLEY COOPER, TERCEIRO CONDE DE SHAFTESBURY 57
logo rumamos para a msica e investigamos o que a Itlia, em particular,
produziu, e, no mesmo instante, superamos nossos vizinhos franceses. Com-
partilhando de gnio muito superior ao deles, elevamos ouvido e juzo, sem
nada dever ao que h de melhor no mundo.
Da mesma maneira na pintura. Ainda no criamos, verdade, nada dig-
no de meno no gnero; [5] mas o pblico comea a saborear gravuras, dese-
nhos, cpias e pinturas originais das principais escolas italianas(to contrrias
ao paladar francsmoderno), e no tenho dvidas de que em poucos anos
faremos igual progresso nessa outra cincia. Quando nossa indulgncia nos
levar ao cultivo das artes do desenho, estou convencido de que nosso gnio
naturalmente nos levar, das distraes superficiais, parte mais elevada, sria
e nobre da imitao, que se refere histria, natureza humana e ao principal
grau ou ordem da beleza, ou seja, a vida racional, que se distingue da meramen-
te vegetal e sensvel, de plantas e animais, conforme os muitos graus ou ordens
de pintura que vossa senhoria ver sugeridos no rascunho da Nooanexa.
No admira que nossos muitos nobres projetos no gnero da arquitetura
tenham desandado, pois at hoje o gnio da nao no tomou o caminho que
leva a ela. Nossa pacincia vem testemunhando, em sucessivos reinos, a des-
truio (por assim dizer) de nossos prdios pblicos, pelas mos de um arqui-
teto da corte
14
que, se fosse capaz de aprender com a experincia, [6] h muito
teria se mostrado, s nossas expensas, o maior mestre do mundo. Mas eu me
pergunto se nossa pacincia pode suportar mais. A devastao cometida nesse
gnero nos faz rudes e clamorosos meno de um novo palcio arruinado, de
mais um projeto entregue a esse impostor precipitado e incapaz.
A nao tem a fortuna de contar ainda, nesse particular, com dois dos
mais nobres temas da arquitetura, o palcio do prncipee a Casa do Parla-
mento. No posso deixar de imaginar que, quando se pensar algo para
Whitehall, os Lordese Comunssero instalados em cmaras e em apartamen-
tos melhores do que os atuais, nem que seja em nome de sua prpria majes-
tade, e que a magnificncia que cabe pessoa do prncipe aparecer, no
palcio, em plena solenidade. Tampouco receio que, ao tratarmos desses te-
mas, cometamos equvocos to grosseiros quanto os anteriores. Nosso Esta-
do se mostra, nesse respeito, mais afortunado do que nossa Igreja, pois espe-
rou a formao do gosto nacional antes de se lanar a empresas como essas.
Tudo indica, ao contrrio, que o zelo nacional no pde esperar tanto para
erguer estruturas eclesisticas, particularmente as metropolitanas. renova-
o dessa sorte de zelo entre ns devemos as muitas espirais que, de longe se
58 Cart a sobre a art e ou a ci nci a do desenho
ecclesiastical structures; particularly their metropolitan. And sincethezeal of
thissort hasbeen newly kindled amongst us, wemay seeactually from afar the
many spiresrising in our great City, with such a hasty [7] and sudden growth as
may betheoccasion perhapsthat our immediaterelish may behereafter censured
asretaining much of what artist call thegothick kind.
Hardly, indeed, asthepublic now stands, should webear to seea Whitehall
treated likea Hampton-Court, or even a new cathedral likeSt. Pauls. Almost
every onenow becomesconcerned, and interestshimself in such public structures.
Even thosepiecestoo arebrought under common censure, which though raised by
privateman, areof such a grandeur and magnificence, asto becomenational
ornaments. Thisordinary man may build hiscottage, or theplain gentleman his
country-houseaccording ashefancies: but when a great man builds, hewill find
littlequarter from thepublic, if instead of a beautiful pile, heraises, at a vast
expense, such a falseand counterfeit pieceof magnificence, as can bejustly
arraigned from itsdeformity by so many knowing men in art, and by thewhole
people; who, in such a conjecture, readily follow their opinion.
In reality the people areno small partiesin thiscause. Nothing moves
successfully without them. Therecan beno public, but wherethey areincluded.
And without a public voice, knowingly guided and directed, thereisnothing
which can raisea trueambition in theartist; nothing which can exalt thegenius
[8] of theworkman; or makehim emulousof after-fame, and of theapprobation
of hiscountry, and of posterity. For with these henaturally, asa free-man,
must takepart: in these hehasa passionateconcern and interest, raised in him
by thesamegeniusof liberty, thesamelaws and government by which his
property and therewardsof hispainsand industry aresecured to him, and to his
generation after him.
Everything co-operates, in such a State, towardstheimprovement of art
and science. And for thedesigning arts in particular, such asarchitecture
painting and statuary, they arein a manner linked together. Thetasteof one
kind bringsnecessarily that of theothersalong with it. When thefree spirit of a
nation turnsit-self thisway; judgementsareformed; criticsarise; thepublic eye
and ear improves; a right tasteprevails, and in a manner forcesitsway. Nothing
so improving, nothingso natural, so con-genial to theliberal arts, asthat reigning
liberty and high spirit of a people, which from thehabit of judging in thehighest
Mattersfor themselves, makesthem freely judgeof other subjects, and enter
thoroughly into thecharactersaswell asof men and manners, asof theproducts
or works of men, in art and science. So much, my Lord, areweowing to the
excellenceof our national constitution, and legal monarchy; happily fitted to us;
ANTHONY ASHLEY COOPER, TERCEIRO CONDE DE SHAFTESBURY 59
v, despontam em nossa grande City, num crescimento to rpido e sbito
que pode dar motivo [7] para que a posteridade venha a censurar nosso atual
paladar, to afeito ao gnero que os artistas chamam de gtico.
Dada a atual posio do pblico, dificilmente veremos Whitehall trata-
do como Hampton Court, ou mesmo uma nova catedral como a de So
Paulo. Quase todos, hoje em dia, se preocupam com estruturas pblicas e se
interessam por elas. A censura comum no poupa nem mesmo estruturas
que, erguidas por homens privados, so suficientemente grandes e magnfi-
cas para serem monumentos nacionais. Permite-se ao homem ordinrio cons-
truir seu chal, e, ao cavalheiro, sua casa de campo, de acordo com a prpria
fantasia. Mas um homem importante no encontra descanso do pblico se,
a vastas expensas, em lugar de uma bela habitao, ergue outra, falsamente
magnfica, que justamente merece o reproche de deformidade, seja de ho-
mens versados em arte, seja do povo em geral; que, em conjunturas como
essas, segue prontamente a opinio deles.
O povo no , em verdade, parte menor nessa causa. Nada se move sem
ele. S h pblico se ele includo. Sem uma voz pblica, sabiamente guiada
e dirigida, nada pode despertar verdadeira ambio no artista, nada pode
exaltar o gnio [8] do criador ou lev-lo a emular a fama pstera e a aprova-
o, de seu pase da posteridade. O artista participa naturalmente, enquanto
homem livre, de seu pas e de sua posteridade, que lhe concernem e interes-
sam apaixonadamente. Essa paixo desperta nele devido ao mesmo gnio de
liberdade, s mesmas leise ao mesmo governo que garantem, para si e para os
seus, propriedade e recompensas por sua diligncia.
Num Estado como esse tudo coopera para aprimorar artese cincias. As
artesdo desenho, em particular, como arquitetura, pintura e estaturia, esto,
de certa maneira, interligadas. Gosto num gnero resulta, necessariamente,
em gosto nos outros. Quando o esprito livrede uma nao toma esse rumo,
juzos se formam, crticos despertam, olhar e ouvido pblico aprimoram-se,
o gosto correto prevalece e como que abre caminho. Nada aprimora tanto as
artes liberais, nada to natural e congenial a elas quanto a liberdade predo-
minante e o elevado esprito de um povo que, habituado a julgar por si
mesmo nas matrias mais elevadas, aprende livremente a julgar outros as-
suntos, e a compartilhar profundamente de caracteres, tanto de homensquanto
de maneiras, nas produese obrasdas artes e cincias. Isso ns devemos,
Milorde, excelncia de nossa constituio nacional e de nossa monarquia
legal, to bem dispostas para ns, que mantm unido povo to intempestivo
60 Cart a sobre a art e ou a ci nci a do desenho
and which alonecould hold together so mighty a people; all sharers(though at so
far a distancefrom each other) in thegovernment of themselves; and meeting
under one head in one vast metropolis; whoseenormous growth, however
censurablein other respects, isactually a causethat workmanship and artsof so
many kindsariseto such perfection. [9]
What encouragement our higher powersmay think fit to givethesegrowing
arts, I will not pretend to guess. ThisI only know; that it isso much for their
advantageand interest to makethemselvesthechief partiesin thecause, that I wish
no other court or ministry besidesa truly virtuousand wiseone, may ever concern
themselvesin theaffair. For should they do so: they would in reality do moreharm
than good: sinceit isnot thenatureof a court (such ascourtsgenerally are) to
improve, but rather corrupt a taste. And what isin thebeginningset wrongby
their example, ishardly ever afterwardsrecoverablein thegeniusof a nation.
Content thereforeI am, my Lord, that Britain standsin thisrespect asshe
now does. Nor can one, methinks, with just reason regret her having hitherto
madeno greater advancement in theseaffairsof art. Asher constitution has
grown, and been established, shehas in proportion fitted her-self for other
improvements. Therehasbeen no anticipation in thecase. And in thissurely she
must beesteemed wise, aswell ashappy; that eresheattempted to riseher-self any
other tasteor relish, shesecured her-self a right onein government. Shehasnow
theadvantageof beginning in other matters, on a new foot. Shehasher models
yet to seek her scale and standard to form with deliberation, and good choice.
Ableenough [10] sheisat present to shift for herself; however abandoned or
helplessshehasbeen left by thosewhom it becameto assist her. Hardly, indeed,
could sheprocurea singleacademy for thetraining of her youth in exercises. As
good soldiersasweare, and asgood horsesasour climateaffords, our Princes
rather than spend their treasurethisway, hassuffered our youth to passinto a
foreign nation, to learn to ride. Asfor other academies such asthosefor painting,
sculpture, or architecture, wehavenot so much asheard of theproposal; whilst
thePrinceof our rival nation raisesacademies, breedsyouth, and sendsrewards
and pensionsinto foreign countries, to advancetheinterest and credit of hisown.
Now if notwithstanding theindustry and painsof thisforeign court, and the
supineuncorcernednessof our own; thenational tastehowever raises, and already
showsit-self in many respectsbeyond that of our so highly assisted neighbours;
what greater proof can therebe, of thesuperiority of geniusin oneof thesenations,
abovetheother?
Tisbut thismoment that I chanceto read in an articleof oneof thegazettes
from Paris, that it isresolved at court to establish a new academy for political
ANTHONY ASHLEY COOPER, TERCEIRO CONDE DE SHAFTESBURY 61
a compartilhar, por si mesmo (e apesar da distncia), de um mesmo governo
que se encontra sob um nico comando na vasta metrpole, cujo enorme
crescimento, por censurvel que seja sob outros aspectos, causa atual de
perfeio em tantos gneros de artesanato e de arte. [9]
Prefiro no imaginar quais encorajamentos nossos poderes superiores
julgam dispor para o crescimento das artes. Disto eu sei: seria to vantajoso
tomar partido nessa causa, que fao votos de que nenhuma corte ou minis-
trio jamais se envolva no assunto, a no ser que tenha verdadeira virtude e
sabedoria. Do contrrio, causaria mais dano do que bem. No da natureza
de cortes (tais como geralmente so) aprimorar o gosto, mas sim corromp-
lo, e dificilmente se recupera, no gnio de uma nao, o que comea mal
com seu exemplo.
Contenta-me portanto, Milorde, a presente situao da Bretanha. Nin-
gum pode, em minha opinio, lamentar que ela no tenha avanado muito
nos negcios de arte. medida em que sua constituio se desenvolveu e se
estabeleceu, ela se predisps, por si mesma, para outros aprimoramentos.
No houve, nesse caso, precipitao. Deve-se certamente estim-la sbia e
afortunada, pois antes de elevar por si mesma outro gosto ou paladar, asse-
gurou-se de gosto correto em governo. Pode agora iniciar-se, com vantagem,
em outras matrias. Precisa ainda, com deliberao e boas escolhas, encon-
trar modelos, formar escala e padro. Ela hoje suficientemente [10] hbil
para prosseguir por si mesma, apesar do abandono e do descuido daqueles
que deveriam ajud-la. No conta nem mesmo com uma academia para o
treino prtico de sua juventude. Somos bons soldados, e nosso clima nos
fornece bons cavalos: mas nossos prncipes, em lugar de gastar seus tesouros
aqui, enviam nossos jovens para uma nao estrangeira onde aprendem a
cavalgar. Quanto a outras academias, como de pintura, escultura ou arquite-
tura, nem sequer foram propostas. Enquanto isso, o prncipe de nossa nao
rival ergue academias, instrui a juventude e oferece recompensas e penses
para estrangeiros, promovendo assim o interesse e o crdito de sua prpria
nao. Ora, se mesmo com a diligncia e os esforos dessa corte estrangeira,
de um lado, e a supina despreocupao da nossa prpria corte, de outro, o
gosto nacional se eleva e se mostra, em muitos aspectos, superior ao de nos-
sos vizinhos altamente assistidos, eu pergunto: haveria melhor prova da su-
perioridade do gnio de uma dessas naes sobre a outra?
H pouco, tive a oportunidade de ler, em artigo de um peridico de
Paris, que a corte decidiu estabelecer uma nova academia para negcios po-
62 Cart a sobre a art e ou a ci nci a do desenho
affairs. In it thepresent chief minister isto preside: having under him six
academists, douz des talens ncessaires. No person to bereceived under the
ageof twenty-five. A thousand livrespension for each scholar. Ablemastersto
beappointed for teaching them [11] thenecessary sciences, and instructing them
in theTreatisesof Peaceand Alliances, which havebeen formerly made. The
membersto assemblethreetimesa week Cest de cet seminaire (saysthewriter)
quon tirera les secretaires dAmbassade; Qui par degrez pourront monter
de plus hauts emplois.
I must confess, my Lord, as great an admirer as I am of theseregular
institutions, I cannot but look upon an academy for ministers as a very
extraordinary establishment; especially in such a monarchy asFrance, and at
such a conjectureasthepresent. It looksasif theministersof that court had
discovered lately somenew methodsof negotiation, such astheir predecessors
Richelieu and Manzarin never thought of: or that, on thecontrary, they have
found themselvesso declined, and at such a lossin themanagement of thispresent
treaty, asto beforced to taketheir lesson from someof thoseministerswith whom
they treat: a reproach of which, no doubt, they must behighly sensible. [12]
But tisnot my design here, to entertain your Lordship with any reflections
upon politics, or themethodswhich theFrench may taketo raisethemselvesnew
ministers, or new generals; who may provea better match for usthan hitherto,
whilst weheld our old. I will only say to your Lordship on thissubject of academies;
that indeed I havelessconcern for thedeficiency of such a oneasthis, than any
other which [besidesthat] could bethought of, for England; and that asfor the
seminary of statesmen, I doubt not but, without thisextraordinary help, we
shall beable, out of our old stock, and thecommon courseof business, constantly
to furnish a sufficient number of able-headed duly qualified personsto serve
upon occasion, either at home, or in our foreign treaties; asoften assuch persons
accordingly qualified shall duly, honestly and bon fide berequired to serve.
I return thereforeto my virtuoso-science; which being my chief amusement
in thisplaceand circumstance, your Lordship hasby it a fresh instancethat I can
never employ my thoughtswith satisfaction on any subject, without making you
a party. For even thisvery notion had itsrisechiefly from theconversation of a
certain day which I had thehappinessto passa [13] few yearssince, in the
country, with your Lordship. Twasthere[, at which time] you showed mesome
engravingswhich had been sent you from Italy. And onein particular, I well
remember; of which thesubject wasthevery samewith that of my written notion
enclosed. But by what hand it wasdone, or after what master, or how executed,
I havequiteforgot. It wasthesummer season, when you had recessfrom business.
ANTHONY ASHLEY COOPER, TERCEIRO CONDE DE SHAFTESBURY 63
lticos. Ser presidida pelo atual primeiro ministro, com doze acadmicos
subordinados, douez destalensnccesaires. No sero aceitas pessoas com
menos de vinte e cinco anos. Mil libras de penso para cada pesquisador.
Mestre hbeis sero indicados para ensinar-lhes [11] as cincias necessrias e
instru-los em Tratados de Paz e Alianas anteriores. Os membros se reuni-
ro trs vezes por semana. Cest decet seminaire(diz o autor) quon tirera les
secretairesdAmabassade; qui par degrez pourront monter deplushautsemplois.
15
Devo confessar, Milorde, que, por mais que admire tais instituies
reguladoras, no posso deixar de ver numa academia para ministrosum esta-
belecimento muito extraordinrio, especialmente numa monarquia como a
Frana, e na presente conjuntura. Parece que os ministros dessa corte desco-
briram recentemente novos mtodos de negociao que Richelieu e
Mazarino
16
jamais pensaram; ou que, ao contrrio, se viram to desfavorecidos
e prejudicados na resoluo do presente tratado,
17
que foram constrangidos
a aprender a lio de alguns ministros com os quais lidaram; reproche de que
esto, sem dvida, cientes. [12]
Mas meu desgnio aqui no entreter vossa senhoria com reflexes
sobre poltica ou sobre eventuais mtodos dos franceses para formar novos
ministros e generais do mesmo nvel dos que j temos. Se o assunto so as
academias, declaro a vossa senhoria que me preocupa menos, na Inglaterra, a
ausncia de uma academia como essa, do que de outras possveis. No tenho
dvidas de que, mesmo sem a assistncia extraordinria de um seminrio de
estadistas, conseguiremos fornecer, de nosso antigo estoque e do curso co-
mum dos negcios pblicos, nmero suficiente de pessoas de boa inteno e
qualificadas para servir nos negcios domsticos e estrangeiros, sempre que
seja o caso e se requeira seu servio devido, honesto e de boa f.
Retorno, portanto, minha cincia de virtuose; que, sendo minha princi-
pal distrao neste pas e nesta circunstncia, pode servir como exemplo de
que s consigo ocupar meus pensamentos satisfatoriamente quando os com-
partilho com vossa senhoria. Mesmo esta noo se deve principalmente nos-
sa convivncia, num dia que tive a felicidade de passar convosco no campo, h
alguns anos atrs. [13] Foi ento que me mostrastes algumas gravuras que
recebestes da Itlia. Lembro-me bem de uma em particular, cujo objeto era
o mesmo de minha presente noo. No me lembro qual mo se devia, nem
qual mestre a executara. Corria o vero, e estavas licenciado dos negcios
pblicos. Por isso calculei esta epstola e este projeto para o recesso e o lazer.
Quando chegarem Inglaterra a primavera estar no fim e os assuntos nacionais
praticamente encerrados para os que no ocupam a administrao direta.
64 Cart a sobre a art e ou a ci nci a do desenho
And I haveaccordingly calculated thisepistle and project for thesamerecess
and leisure. For by thetimethiscan reach England, thespring will befar
advanced, and thenational affairsin a manner over, with thosewho arenot in
the immediate administration.
Werethat indeed your Lordshipslot, at present; I know not whether in
regard to my country I should darethrow such amusementsasthesein your way.
Yet even in thiscase, I would ventureto say however, in defenceof my project,
and of thecause of painting; that could my young hero cometo your Lordship as
[but so] well represented ashemight havebeen, either by thehand of a Marat
8
or a Jordano (themasterswho werestill in being, and in repute, when I first
travelled herein Italy) thepicture it-self, whatever thetreatise proved, would
certainly havebeen worth notice, and might havebecomea present worthy of
our court and Princespalace; especially wereit so blessed asto lodgewithin it a
royal issueof her Majestys. Such a pieceof furnituremight well fit thegallery,
[14] or hall of exercises, whereour young Princesshould learn their usual lessons.
And to seevirtue in thisgarb and action, might perhapsbeno slight memorandum
hereafter to a royal youth, who should oneday cometo undergo thistrial himself;
on which hisown happiness, aswell asthefateof Europe and of theworld would
in so great a measuredepend.
This, my Lord, ismaking (asyou see) themost I can of my project, and
setting off my amusementswith thebest colour I am able; that I may bethemore
excusablein communicating them to your Lordship, and expressing thus, with
what zeal I am,
my Lord,
your Lordships
most faithful
humbleservant.
P.S. Your Lordship, I know, will havethegoodnessto excusemy having used
anothershand in thislong letter.
ANTHONY ASHLEY COOPER, TERCEIRO CONDE DE SHAFTESBURY 65
Fosse essa a presente situao de vossa senhoria, no sei ao certo se a
considerao que tenho por meu pas permitiria vos oferecer distraes como
estas. Apesar disso, arrisco-me a afirmar, em prol de meu projeto e da causa
da pintura, que, se meu jovem heri chegasse a vossas mos to bem repre-
sentado quanto possvel, pela mo de um Marata ou de um Giordano (mes-
tres que ainda eram vivos e reputados quando primeiro estive na Itlia),
18
o
quadro mesmo, no importa o que provasse o tratado, certamente seria dig-
no da distino de agraciar o palcio de nosso prncipe, especialmente se
contasse com a bno da rainha. Uma pea de moblia como essa predispe-se
bem para a galeria [14], ou ento para o salo de exerccios onde nossos jovens
prncipes usualmente aprendem suas lies. Testemunhar a virtude em ao com
tal garbo serviria, provavelmente, como memorando permanente para a ju-
ventudereal que um dia passar, ela mesma, por julgamento como esse, do
qual dependem, em grande medida, sua prpria felicidade e o destino da
Europa e do mundo.
Como vedes, Milorde, extra o mximo de meu projeto, apresentando
minhas distraes no melhor colorido de que sou capaz. Na esperana de
que possa ser desculpado por comunic-lo a vossa senhoria, expresso o zelo
com que sou,
Milorde,
de vossa senhoria,
o mais fiel e
humilde servo.
[Shaftesbury]
P. S. Vossa senhoria ter a bondade de desculpar-me por recorrer mo
alheia para redigir esta carta.
19
66 Cart a sobre a art e ou a ci nci a do desenho
Not as
1
Characteristicsof Men, Manners, Opinions, Times. 2 Vols. Edited by Philip Ayres. Oxford, Oxford
University Press, 1999.
2
Second Characters, or theLanguageof Forms. Edited by Benjamin Rand. Bristol, Thoemmes Press,
1995.
3
Standard Edition, I. Aesthetics, Volume 5. Edited with a German translation and commentary by W.
Benda, W. Lottes, F. Uehlein, E. Wolff. Stuttgart-Bad Cannstatt, Fromman-Holzbog, 2001.
4
Eine Brief ber das Gestalten, In: Standard Edition, op. cit.; Lettre sur lart et la science du
Dessin. Trad. Fabienne Brugre e Laure Hariot, in: Revuedesthtique, no. 38, 1995/96.
5
Ver Michael Baxandall, English Disegno, In: Wordsfor Pictures. New Haven, Yale University Press,
2003.
6
Estudei essa questo em minha tese de doutoramento, A LinguagemdasFormas(FFLCH/USP, 2002).
7
[Sem texto].
8
Carlo Marat was yet alive at the time when this letter was written; but had long been superannuated,
and incapable of any considerable performance.
9
John Somers, poltico whig, amigo e patrono de Shaftesbury, a quem este dedicara as Caractersticas.
10
Noo do esboo histrico ou do quadro do julgamento deHrcules.
11
Shaftesbury foi membro do partido whigna Cmara dos Lordes entre 1702 e 1703. Desse perodo
data seu nico escrito poltico, Paradoxosdo Estado, publicado anonimamente.
12
Guerra da Sucesso Espanhola (1701-1713). Inglaterra e Holanda lutaram contra Frana, Espanha
e a Casa de Habsburgo.
13
Carlos II, rei da Inglaterra entre 1660 e 1685.
14
Sir Cristopher Wren (1632 - 1732), Supervisor Geral de Obras Reais nos reinados de Carlos II,
Jaime II e Guilherme III, responsvel por, entre outras, a reconstruo da catedral de So Paulo, em
Londres, e a reforma do Palcio de Hampton Court.
15
Trechos em francs, no original: dotados dos talentos necessrios; desse seminrio que sairo os
secretrios de Embaixada, que gradualmente podero obter cargos mais altos.
16
Richelieu, cardeal, duque de (1588-1642), a partir de 1629, primeiro-ministro e homem forte do
governo francs; Mazarin, cardeal (1602-61), sucessor de Richelieu.
17
Tratado de Utrecht (1713), que pe fim Guerra da Sucesso Espanhola.
*
Carlo Marata ainda vivia quando esta carta foi escrita; mas h muito se retirara e se tornara incapaz de
qualquer realizao considervel.
18
Carlo Marata (1625-1713), pintor romano; Luca Giordano (1634-1705), pintor napolitano.
Shaftesbury visitou a Itlia pela primeira vez em 1688-89.
19
Shaftesbury ditou o texto da Carta a seu secretrio particular.
PHILIPPE LACOUE-LABARTHE E JEAN-LUC NANCY 67
A EXIGNCIA FRAGMENTRIA
Phi l i ppe Lacoue-Labart he e Jean-Luc Nancy*
Traduo e apresent ao: Joo Cami l l o Penna* *
Apresent ao
Extrado de L Absolu Littraire. Paris: Ed. du Seuil, 1978. A estrutura
do volume intercala captulos de autoria de Philippe Lacoue-Labarthe e Jean-
Luc Nancy, com a traduo francesa de conjuntos de textos dos primeiros
romnticos alemes, feita em colaborao com Anne-Marie Lang, incluindo
as primeiras tradues integrais para o francs dos Fragmentos: Lyceum,
Athenum, Idias, etc. O volume constitui, em grande medida, entre outras
coisas, uma generosa introduo e apresentao da obra dos primeiros ro-
mnticos alemes ao pblico francs. Enquanto comentrio envolvente des-
tes fragmentos, os captulos tericos e o presente no poderia ser uma
exceo fazem referncias freqentes aos fragmentos que discutem. A pre-
sente traduo remete-se, portanto, traduo brasileira dos fragmentos ci-
*PHILIPPE LACOUE-LABARTHE professor de filosofia aposentado da Faculdade de Filosofia, Cincias da
Linguagem e Comunicao, da Universidade de Strasbourg. Autor com Jean-Luc Nancy, alm de Labsolu
Littraire(1978), de O ttulo da letra. Uma leitura deLacan (1972; traduo brasileira: Escuta,1991); O mito
nazista (1980;1991; traduo brasileira: Iluminuras, 2002). Publicou sozinho, dentre outros: Lesujet dela
philosophie(TypographiesI) (1979); La posiecommeexprience(1987); La fiction du politique(1987); Musica
ficta (FiguresdeWagner) (1991); e Agonietermine, agonieinterminable Sur MauriceBlanchot (2003). Em
portugush uma coletnea de seusensaios, Imitao dosmodernos(Paz e Terra, 2000). Alm disso tradutor:
Nietzsche. La naissancedela tragdie(1977); e de Hlderlin, LAntigonedeSophocle(1978;1998) e Oedipele
tyran (1998). E diretor de teatro: Antigone, de Sfocles/Hlderlin(com Michel Deutsch) (1978 e 1979);
Lesphniciennes, de Eurpides (com M. Deutsch) (1981); Oedipeletyran de Sfocles/Hlderlin.
JEAN-LUC NANCY professor de filosofia da Faculdade de Filosofia, Cincias da Linguagem e Comuni-
cao da Universidade de Strasbourg. Alm dos livros escritos em parceria com Philippe Lacoue-Labarthe
mencionados acima, publicou sozinho, dentre outros: La remarquespculative(1973); Lepartadedes
voix (1982); La communautdesoeuvre(1986); Lexpriencedela libert(1988); Unepensefinie(1990);
Corpus(1992); Lesensdu monde(1993; 2001); Lintrus(2000; sobre a experincia de seu transplante de
corao); Lil y a du rapport sexuel (2001); Lvidencedu film(com Abbas Kiarostami); La cration do
monde ou la mondialisation (2002); Noli metangere. Essai sur la levedu corps(2003).
**JOO CAMILLO PENNA, Doutor em Literatura Comparada pela Universidade da Califnia,Berkeley, em
1993, professor e coordenador do Programa de Ps-Graduao em Cincia da Literatura da Faculdade
de Letras da UFRJ. organizador e tradutor da coletnea de ensaios do filsofo Philippe Lacoue-Labarthe,
A Imitao dosModernos(Paz e Terra, 2000).Entre os ensaios publicados destaca-se: Este corpo, esta dor,
esta fome: notas sobre o testemunho hispano-americano em Histria, Memria, Literatura. O Testemu-
nho na Era dasCatstrofes(Editora Unicamp, 2003) e Marcinho VP: Ensaio sobre a Construo do
Personagem em Estticasda Crueldade(Atlntida, 2004).
67
68 A exi gnci a f ragment ri a
tados. Mantiveram-se aqui ainda em sua integralidade as observaes de or-
dem editorial e metodolgica sobre os fragmentos que o captulo apresenta,
assim como todas as referncias que remetem a outras partes do volume. A
opo pode provocar s vezes estranheza no leitor, apresentado a um texto
vazado por remisses exteriores ao contorno do captulo, mas visa antes de
mais nada a assegurar a estrutura e a integridade do texto tal qual foi conce-
bido por seus autores. De resto, resvalamos na prpria problemtica do frag-
mento, j que, como veremos, toda a completude tem de parecer faltar
algo, como se tivesse sido arrancado.
H tanta poesia, eno entanto, nada maisraro queumpoema!
Eiso quefaz a abundncia deesboos, estudos, fragmentos, ten-
dncias, runasedemateriaispoticos.
F. Schlegel, Fragmentos crticos, Lyceum, 4.
1
O ROMANTISMO SERIA ENTO O QUE PE em jogo um outro modelo de obra.
Ou ainda, e sendo mais preciso, o que pe em obra [met loeuvre] de um
modo diferente.
2
O que no quer dizer que o romantismo seja o momento,
o aspecto, ou o registro literrio do idealismo filosfico nem, de resto,
que o inverso seja justo. A diferena no obrar [miseen oeuvre] pode-se dizer
tambm: a diferena de operao que precisa ser sinalizada entre Schelling
e o Athenum
3
para circunscrever a especificidade do romantismo no reme-
te de forma alguma diferena entre o filosfico e o literrio; antes, ela a
torna possvel, sendo ela prpria a diferena interna que afeta, neste mo-
mento de crise, o pensamento da obra em geral (moral, poltica, ou religio-
sa assim como artstica e terica). Da mesma forma, poder-se- encontrar
sem dificuldades, mesmo que no sem surpresa, em todos os fragmentos que
se seguem, muitas proposies concernindo toda sorte de domnios ou de
operaes estranhas literatura. E teremos vrias vezes a ocasio de constatar
que apenas com a condio de encarar o carter total da empresa que pode-
remos situar, com alguma preciso, a teoria literria dos Romnticos.
Resta, no entanto e da que preciso partir , que bem uma idia
da obra literria ou potica, qualquer que seja, por ora, o seu contedo exa-
to, que orienta e informa precisamente a empresa em sua totalidade. E que
orienta e informa, em primeiro lugar, pelo gnero em que so escritos os
textos sem dvida mais clebres dos Romnticos de Jena, o gnero ao qual
PHILIPPE LACOUE-LABARTHE E JEAN-LUC NANCY 69
ele mais ou menos inevitavelmente associado: o fragmento. Mais ainda do
que o gnero do romantismo terico, o fragmento considerado a sua
encarnao, a marca mais distintiva de sua originalidade, e o signo de sua
radical modernidade. E bem, de fato, o que reivindicaram ao menos os
prprios Friedrich Schlegel e Novalis,
4
se bem que cada um de uma maneira
diferente. O fragmento precisamente o gnero romntico por excelncia.
Isto, no entanto, s absolutamente exato sob certas condies, que
convm precisar, antes de poder abordar o gnero em si mesmo.
A primeira destas condies consiste em lembrar que o gnero do frag-
mento no uma inveno de Jena. Longe disso, Friedrich Schlegel recebe,
ao contrrio, a revelao do fragmento, se podemos dizer assim, da primeira
publicao de Pensamentos, MximaseAnedotas, de Chamfort, publicao
pstuma que teve lugar em 1795.
5
Atravs de Chamfort, o gnero e o moti-
vo do fragmento remetem a toda a tradio dos moralistas ingleses e france-
ses (digamos, para reter apenas os dois nomes sintomticos: Shaftesbury e la
Rochefoucauld), a qual por sua vez, atravs da publicao dos Pensamentos
de Pascal, nas condies que conhecemos, obrigam-nos a remontar ao g-
nero cujo paradigma erigido em toda a histria moderna, pelos Ensaiosde
Montaigne. Deveremos retornar adiante significao desta filiao, aqui
esboada mais do que grosseiramente. Contentemo-nos, por ora, em salien-
tar que, com o fragmento, os Romnticos recolhem de fato uma herana, a
herana de um gnero que se pode caracterizar, pelo menos do exterior, por
trs traos: o relativo inacabamento (ensaio) ou ausncia de desenvolvi-
mento discursivo (pensamento) de cada uma de suas peas; a variedade e a
mistura dos objetos que podem ser tratados por um mesmo conjunto de
peas; a unidade do conjunto, por outro lado, como constituda de certa
maneira fora da obra, no sujeito que se d a ver a ou no juzo fornecido por
suas mximas. Sublinhar esta parte considervel da herana, no tem por
finalidade reduzir a originalidade dos Romnticos: trata-se, ao contrrio, de
aquilatar o que eles tiveram a originalidade de querer realizar at o fim e
que constitui justamente o prprio gnero da originalidade, o gnero, falan-
do absolutamente, do sujeito, medida em que este no possa ou no possa
mais ser concebido sob a forma de um Discurso do mtodo
6
e cuja reflexo ele
ainda no empreendeu verdadeiramente enquanto sujeito.
A segunda condio consiste em colocar em relevo um estado de coisas
que , um pouco freqentemente demais, desconhecido ou negligenciado: a
saber, que os fragmentos escritos pelos membros do grupo de Jena esto
longe de constituir um conjunto homogneo e indiferenciado do qual todos
70 A exi gnci a f ragment ri a
os fragmentos seriam fragmentos ao mesmo ttulo, como o deixa entender
a meno, corrente em citaes, como: um fragmento de Novalis diz que....
S existe, em realidade, um conjunto, aquele que foi publicado sob o ttulo
nico de Fragmentos, que responde em todos os pontos (se isso de todo
possvel) ao ideal fragmentrio do romantismo, notadamente pelo fato de
que nenhum objeto particular lhe seja consignado e por ser annimo, sendo
composto de peas de vrios autores. A bem dizer, estes dois traos so tam-
bm os que, na forma, distinguem-nos de seus modelos anteriores. Sem ob-
jetivo, e sem autor, os Fragmentosdo Athenumquerem-se de certa forma
postos por si mesmos, absolutamente. Mas eles so os nicos a representar,
assim, a pureza do gnero, e qualquer que seja a importncia de seu volu-
me total, esta existncia nica, paradoxalmente pontual, no certamente
indiferente caracterizao do gnero. Os Fragmentoscrticosde F. Schlegel
anteriores so especificados por seus eptetos e pela assinatura. Assim quase
de forma idntica com os que Novalis publicou, igualmente antes dos Frag-
mentos, no Athenum: mais precisamente, entre o seu ttulo (Plen), o exrdio
e a concluso (o ltimo fragmento),
7
eles enfeixam uma teoria do prprio
fragmento como semente em vista de um tipo de obra indita. quase des-
necessrio, de outra parte, mencionar o outro conjunto de fragmentos ou
de aforismas devidos a Novalis, de tal forma o seu ttulo, FeAmor,
suficiente para distingui-lo dos precedentes. Quanto ao segundo conjunto
publicado no Athenumpor F. Schlegel, e que contm, ele tambm, em sua
concluso, uma teoria de sua forma, ele representa sem dvida um desvio
ainda mais decisivo j no prprio ttulo: Idias, o qual consiste, em suma, em
anunciar outra coisa que no puros fragmentos. Ser preciso retornar a estas
diferenas, e bem especialmente, j o percebemos, ltima.
Mas preciso, alm disso, e sem delongas, dissipar uma outra confuso:
da quantidade considervel de escritos pstumos dos Romnticos (sobretu-
do quando se trata de F. Schlegel), costumamos citar excertos com a indica-
o de fragmento (no se precisa nem sempre mesmo pstumo), sem
buscar adiante distinguir se se trata de esboos interrompidos ou de frag-
mentos destinados publicao como tal.
8
Entretemos assim e s vezes
exploramos uma indistino entre, digamos, o trecho marcado de inacaba-
mento e aquele que visa prpria fragmentao. Deixamos assim, em uma
penumbra propcia, o essencial do que o gnero implica: o fragmento como
propsito determinado e deliberado, assumindo ou transfigurando o aci-
dental e o involuntrio da fragmentao.
PHILIPPE LACOUE-LABARTHE E JEAN-LUC NANCY 71
preciso enfim acrescentar uma ltima condio: o fragmento est
muito longe de ser a nica forma de expresso dos Romnticos. O prprio
Athenumcomportou no todo mais textos longos ensaios, resenhas, dilo-
gos e cartas do que fragmentos, para no falar dos textos publicados alhu-
res pelos autores do grupo, nem dos numerosos cursos e conferncias profe-
ridas pelos irmos Schlegel. Ou seja, os prprios Romnticos esto longe de
haverem se limitado ao enunciado considerado como romntico o frag-
mento da teoria; eles a expuseram (em todo o caso, os Schlegel) na forma
clssica de exposio, e sabemos, por seus escritos pstumos (trata-se agora
mais de F. Schlegel e Novalis), que eles esboaram projetos de exposio
completa, inteiramente articulada ou seja, sejam quais forem as diferenas
que estes projetos possam apresentar com relao ao tratado filosfico clssi-
co (com relao ao de Fichte ou do Schelling do Sistema do idealismo
transcendental), eles tambm visaram apresentao sistemtica da teoria,
sua apresentao propriamente terica. Seremos conduzidos adiante a com-
plicar esta afirmao: mas nos necessrio, em primeiro lugar, partir desta
observao de que o fragmento no exclui a exposio sistemtica. O que
no quer dizer que esta seja um acrscimo ou um resto de hbitos universit-
rios. A co-presena do fragmento com o sistemtico tem uma dupla e deci-
siva significao: ela implica que tanto um quanto o outro se estabelecem,
em Jena, no mesmo horizonte e que este horizonte o prprio horizonte
do Sistema, cuja exigncia o romantismo recolhe e relana.
Estas observaes preliminares justificam em primeiro lugar a escolha
dos textos publicados nesta seo. Trata-se de dois conjuntos de fragmentos
mais propriamente (ou menos impropriamente) ditos, aos quais, bem en-
tendido, preciso no deixar de associar o Plen de Novalis. As Idiasde F.
Schlegel pertencero seo seguinte, por razes que podemos, sem dvida,
adivinhar e que sero precisadas adiante. Encontraremos portanto aqui:
Os Fragmentoscrticospublicados em 1797 por F. Schlegel na revista
Liceu das belas-artes(em Berlim, 1
o
volume, 2
a
parte) dirigida por
Reichardt. So os primeiros fragmentos publicados pelo autor, para quem
a descoberta de Chamfort, e do gnero, era recente. Eles so ao mesmo
tempo contemporneos do projeto de fundao do Athenum, que de-
veria comear a sair no ano seguinte, e observaremos que o fragmento
114 constitui uma chamada fundao de um grupo e de uma revista
que se consagrava exclusivamente a realizar aos poucos a tambm ne-
72 A exi gnci a f ragment ri a
cessria crtica (DF p.38). De resto, F. Schlegel brigou com Reichardt
por causa da zombaria, no fragmento precedente (113), feita ao fillogo
Voss, cuja traduo de Homero gozava de autoridade.
Os Fragmentospublicados no segundo nmero do primeiro volume
do Athenum, em 1798. Desde a publicao annima destes fragmen-
tos, seja a declarao de certos autores (em particular A. Schlegel, desde
1801), seja os trabalhos modernos de erudio, permitiram imputar a
tal ou qual autor um nmero bastante importante de fragmentos. As
edies correntes se fundamentam ainda em particular sobre a lista atri-
buda a F. Schlegel por seu editor Minor. Entretanto, trabalhos mais
recentes, e em particular os de Eichner na edio crtica do mesmo F.
Schlegel,
9
tornaram menos segura uma parte no negligencivel destas
atribuies. Reproduzimos, ao final da traduo dos Fragmentos, o qua-
dro das atribuies tal qual ele foi estabelecido por Eichner.
10
As precaues que devem ser tomadas para abordar, do exterior, o frag-
mento, consistem em prop-lo como um gnero ou uma forma precisa,
determinada, tendo a ver com o propsito ou o projeto geral do Sistema.
Em nenhum lugar, no entanto, qualquer um dos Romnticos deu uma defi-
nio do fragmento que permitisse, sem delongas, fornecer um contedo a
este quadro. da prtica dos fragmentos que preciso partir para tentar
apreender a natureza e o que est em jogo no fragmento.
E, em primeiro lugar, do uso do termo fragmento. No ocorre pratica-
mente nunca nestes textos que o seu emprego o confunda com o puro e
simples trecho separado,
11
resduo de um conjunto partido (razo pela qual
os Romnticos digam Bruchstck, trecho, literalmente: pea rompida),
nem com o bloco errtico (como as boas massas, aqui, Massen, salvos em
Jean Paul, no Athenum42. DF pp. 132-134).
12
Se o fragmento bem uma
frao, ele no pe em primeiro lugar, nem exclusivamente, o acento sobre a
fratura que o produziu. Ele designa no mnimo, se podemos dizer, tanto as
bordas da fratura como forma autnoma quanto informidade ou disfor-
midade do rasgo. Mas tambm porque o fragmento, termo erudito, um
termo nobre: ele possui antes de mais nada uma acepo filolgica e tere-
mos que retornar ligao capital entre o modelo antigo e o estado de frag-
mento de muitos dos textos da Antigidade. O fragmento filolgico pode
investir, na tradio de Diderot em particular, o valor de runa. Runa e
fragmento renem as funes do monumento e da evocao: e o que desta
forma lembrado como perdido, e apresentado como uma espcie de esboo
PHILIPPE LACOUE-LABARTHE E JEAN-LUC NANCY 73
(quase de depurao), sempre a unidade viva de uma grande individualida-
de, obra ou autor.
O fragmento tambm um termo literrio: j publicara-se no sculo
XVIII, mesmo na Alemanha, Fragmentos,
13
ou seja, precisamente pela for-
ma, ensaios maneira de Montaigne. O fragmento designa a exposio que
no pretende exaustividade, e corresponde idia, sem dvida propria-
mente moderna, de que o inacabado pode, ou mesmo deve, ser publicado
(ou ainda idia de que o publicado no nunca acabado). Desta maneira,
o fragmento se delimita por uma dupla diferena: se, de uma parte, ele no
puro trecho, de outra, ele no tampouco nenhum destes termos-gneros
de que se serviram os especialistas: pensamento, mxima, sentena, opinio,
anedota, observao. Estes tm mais ou menos em comum a pretenso a um
inacabamento da prpria cunhagem do trecho. O fragmento, ao contr-
rio, compreende um inacabamento essencial. por isso que ele , segundo o
Athenum22, idntico ao projeto, fragmento do futuro (DF p.50), medi-
da em que o inacabamento constitutivo do projeto precisamente o que ele
tem de melhor, devido a sua capacidade de ao mesmo tempo idealizar e
realizar imediatamente (ibidem).
14
Neste sentido, todo fragmento proje-
to: o fragmento-projeto no vale como programa ou prospecto, mas como
projeo imediata daquilo que, no entanto, ele inacaba.
Quer dizer que o fragmento funciona simultaneamente como resto de
individualidade ecomo individualidade o que explica tambm que ele no
seja nunca definido, ou que estas aproximaes de definio possam ser con-
traditrias. Quando F. Schlegel anota os aforismas so fragmentos coeren-
tes,
15
ele indica que uma propriedade do fragmento a falta de unidade e de
completude. Mas o clebre fragmento 206 do Athenumenuncia que o frag-
mento tem de ser (...) acabado em si mesmo como um porco-espinho (DF,
p. 82). Seu dever-ser, seno seu ser (mas no preciso entender que h ape-
nas ser enquanto dever-ser, e que este porco-espinho um animal kantiano?),
formado precisamente pela integridade e pela integralidade da individuali-
dade orgnica.
Mas devemos, de fato, ler este fragmento 206 inteiro: Um fragmento
tem de ser como uma pequena obra de arte, totalmente separado do mundo
circundante e perfeito e acabado em si mesmo como um porco-espinho
(ibidem). A fragmentao , portanto, compreendida aqui como separao,
isolamento, o que vem a reconduzir exatamente completude e totalidade.
Para emprestar um termo de uma tradio posterior, mas que no ser sem
relao com o romantismo, a de Schopenhauer e de Nietzsche, seremos ten-
74 A exi gnci a f ragment ri a
tados a dizer que a essncia do fragmento a individuao. Este termo, en-
quanto indicador de um processo e no de um estado, ter para si o grande
fragmento 116 do Athenum, que d como essncia verdadeira da poesia
romntica a de s poder vir a ser, jamais ser de maneira perfeita e acabada
(DF, p. 65). E de uma certa maneira, o fragmento 116 volta, de fato, a definir
a totalidade da poesia romntica, ou seja, a totalidade da poesia, como frag-
mento. Da mesma forma acabamos de ler que o fragmento deve ter os traos
da obra, e da obra de arte.
Entretanto, alm do fato de que uma definio circular do fragmento
pela poesia universal progressiva, e reciprocamente, no faz mais do que
aguar ainda mais a questo do fragmento e mesmo negligenciando de
outra parte, por ora, o fato de a poesia romntica do fragmento 116 no
esgotar a idia ou o ideal da poesia total, infinita, dos Romnticos , o frag-
mento no tampouco simplesmente a obra-projeto desta poesia. Ele ao
mesmo tempo mais e menos. Ele mais na medida em que prope a exign-
cia de seu total acabamento, em suma, o inverso da poesia progressiva.
Mas menos na medida em que, no fragmento 206, como em vrios outros,
ele proposto apenas como comparao com a obra de arte e com uma
pequena obra de arte. A obra fragmentria no direta nem absolutamente
obra. Mas , no entanto, em sua relao com a obra que preciso entender a
sua individualidade prpria.
A individidualidade fragmentria , antes de mais nada, a multiplicidade
inerente ao gnero os Romnticos pelo menos no publicaram um Frag-
mento nico ; escrever sob a forma de fragmento escrever em fragmentos.
Mas este plural o modo especfico pelo qual o fragmento visa, indica, e, de
uma certa maneira, pe o singular da totalidade. at certo ponto legtimo
aplicar a todos os Fragmentos a frmula empregada por F. Schlegel para as
Idias: cada um deles indica o centro (Idias, 155. DF, p.164). Entretanto,
nem um nem outro conceito empregado aqui pertencem ao espao dos Frag-
mentos propriamente ditos, e preciso dizer que no se trata com eles exata-
mente nem de um indicar nem de um centro. Antes, a totalidade frag-
mentria, conforme o que deveramos nos arriscar a nomear a lgica do
porco-espinho, no pode ser situada em nenhum ponto: ela est simultanea-
mente no todo e na parte. Cada fragmento vale por si mesmo em sua indivi-
dualidade acabada. Da mesma forma a totalidade plural dos fragmentos
que no compem um todo (de um modo, digamos, matemtico), mas que
replica o todo, o prprio fragmentrio, em cada fragmento. Que a totalida-
de esteja presente como tal em cada parte, e que o todo seja no a soma mas
PHILIPPE LACOUE-LABARTHE E JEAN-LUC NANCY 75
a co-presena das partes enquanto co-presena, finalmente, do todo a si mes-
mo (j que o todo tambm separao e acabamento da parte), tal a neces-
sidade da essncia que se desdobra a partir da individualidade do fragmento:
o todo-separado o indivduo, e para cada indivduo h infinitas definies
reais (Athenum, 82. DF, p.59). Os fragmentos so, para o fragmento, suas
definies, e o que instala a sua totalidade como pluralidade, e o acaba-
mento como inacabamento da infinitude.
tambm o que, alis, obrigaria a analisar mas ns o assinalamos
aqui simplesmente de passagem o modo como o gnero fragmentrio
no talvez, de fato, limitado forma-fragmento dos Romnticos. Pode-se
ler em Athenum77 a maneira como dilogo, cartas e memrias (outra
forma de monumento) remetem ao fragmentrio; poderemos ver tambm
nas sees seguintes como os textos longos [suivis] dos Romnticos aqueles
mesmos que invocamos h pouco, a ttulo de exposio sistemtica apre-
sentam-se de fato freqentemente, em sua composio, sob o regime que
precisa ser denominado fragmentrio. Isto se deve sem qualquer dvida, e
em parte, a uma espcie de inaptido ou de incapacidade de praticar uma
verdadeira exposio sistemtica, no sentido mais ordinrio do termo. Mas
isto testemunha sobretudo da impossibilidade fundamental de proceder a
uma tal exposio, j que falta uma ordem de princpios a partir da qual se
desdobra a ordem das razes. Uma tal ordem falta aqui mas em suma por
excesso, por assim dizer, mais do que por falta. A exposio no saberia se
desenvolver a partir de um princpio, ou de um fundamento, j que o fun-
damento pressuposto pela fragmentao consiste precisamente na totalida-
de fragmentria, em sua organicidade. O fragmento constitui-se assim na
escrita mais mimolgica
16
da organicidade individual. assim que leremos
no fragmento 103 do Lyceumo elogio, contra as obras apreciadas pelo belo
encadeamento, das que consistem em uma diversificada poro de acha-
dos (DF, p.35), cuja identidade profunda, substancial, repousa sobre o con-
vvio livre e igual das partes. Uma poltica ideal e, conseqentemente,
segundo a mais constante tradio da poltica metafsica, uma poltica org-
nica fornece o modelo da fragmentao. De maneira anloga, se a Bblia
permanece ou torna-se o modelo do livro, , como o vemos vrias vezes, mas em
particular em Idias95, como o livro plural (ta biblia), e, enquanto tal, Um.
a mesma lgica obedecida pelo princpio, colocado em prtica ao
menos uma vez, da escrita coletiva
17
dos fragmentos. O anonimato apaga os
autores apenas para melhor assegurar, por aquilo que nomeado em alguns
lugares sinfilosofia ou simpoesia, a universalidade da visada do todo. Mais
76 A exi gnci a f ragment ri a
ainda, aqui no se trata de uma universalidade obtida por acrscimo, nem
mesmo unicamente pela complementariedade dos indivduos. Trata-se, de
fato, do prprio mtodo (e de propsito que retomamos a palavra-mestra
de Descartes) que convm ao acesso verdade. A comunidade faz parte da
definio da filosofia, como o prova o fragmento 344 do Athenum: e isso
porque seu objeto, o conhecimento universal, tem ele mesmo a forma e a
natureza da comunidade, ou seja, o carter orgnico. Aqui, de fato, como
em Descartes e por causa de Descartes o objeto da filosofia determina-se
segundo o objeto, e o anonimato dos Fragmentos, como o do Discurso, est a
para melhor assegurar a posio absoluta de seu sujeito: neste sentido, fora-
mos apenas um pouco as coisas ao dizer que os primeiros so simplesmente
a coletivizao do segundo.
Eles so tambm, em um outro sentido, a sua radicalizao ou exacer-
bao. O objeto o pensamento que a filosofia deve pensar , em razo do
seu fundamento subjetivo (cf. ainda aqui, Athenum77, que prope o frag-
mentrio, o fragmentrio ideal, como identidade do objetivo e do subjetivo
[DF p. 58]), deve doravante ser dotado de fisionomia (Athenum, 302.
DF, p.101). A fisionomia o que deve, antes de mais nada, ser caracterizada
com alguns rabiscos a lpis (ibidem): a fisionomia chama o esboo ou o
fragmento como mtodo filosfico. E, da mesma forma, esta filosofia de
pensamentos entremesclados (ibidemDF, p. 100) implica a pluralidade
dos autores. Pois no se chega verdade pela via solitria da demonstrao
(tornada deriso em Athenum82), mas pela troca, pela mescla, pela amiza-
de
18
e, voltaremos a isso adiante , pelo amor. A sinfilosofia implica a troca
ativa e o afrontamento dos indivduos-filosfos. Ela implica tambm o di-
logo, esta coroa de fragmentos (Athenum77. DF, p. 58), e sem nenhuma
dvida esta perfeio do dilogo que deve ser o ideal do drama romntico tal
como dever-se-ia seguir o seu motivo discreto mas insistente, atravs dos
Fragmentos, para localizar a em particular o ideal da troca natural, e de sua
encenao por sua vez natural. O acabamento do fragmento se perfila ento
na troca [change] ou troco [change] absoluto, absolutamente natural, de
pensamentos-indivduos entre os indivduos-pensamentos, que tambm,
em cada fragmento, a produo deste mesmo natural verdadeiro como obra
de arte. A verdade do fragmento no est portanto completamente na
progressividade infinita da poesia romntica, mas na infinitude em ato,
pelo dispositivo fragmentrio, do processo mesmo de verdade. E se desta
forma o fragmento no exatamente dilogo, tambm talvez porque ele
seja antes, o que faz a passagem do dialgico ao dialtico, sob o modo pr-
PHILIPPE LACOUE-LABARTHE E JEAN-LUC NANCY 77
prio ao romantismo. Com a condio de entendermos este termo, com
Heidegger, no sentido recoberto por ele, para toda a metafsica, do pensa-
mento da identidade pela mediao da no-identidade.
19
Pois a exatamen-
te que se assenta a totalidade fragmentria.
preciso ento necessariamente chegar a colocar e sempre seguindo
as anlises de Heidegger, mas tambm, neste sentido, as de Benjamin
20
que
a fragmentao constitui a visada propriamente romntica do Sistema, se por
Sistema (que por esta razo munimos de uma maiscula) entendermos no
a ordenao dita sistemtica do conjunto, mas aquilo pelo qual um conjunto
se mantm junto, e se erige por si mesmo na autonomia do ajuntamento con-
sigo mesmo que faz a sua sstasis, para retomar as palavras de Heidegger.
21
Que sobretudo no nos enganemos: no se trata de sustentar que o
pensamento romntico um pensamento sistemtico. Podemos verific-lo
de muitas maneiras nos textos: ele se ope a este tipo de pensamento. Mas
poderemos antes verificar que ele se impe como pensamento do Sistema, e
segundo o esquema de que Benjamin fornece, sem dvida, a melhor formu-
lao, quando escreve de F. Schlegel: De qualquer forma, o absoluto era
para Schlegel, na poca de Athenum, o sistema na figura da arte. Mas ele
no buscou compreender sistematicamente este absoluto; antes, ao contr-
rio, tentou compreender de maneira absoluta o sistema.
22
E por esta razo, porque o prprio Sistema deve ser absolutamente
apreendido, que o fragmento como individualidade orgnica implica a obra,
o organon. A sstasistem necessariamente lugar como organicidade de um
organon, que este seja um vivente natural (o porco-espinho), sociedade, ou
obra de arte. Ou melhor, que ele seja tudo isso ao mesmo tempo como o
indica a ausncia de objeto especificado para a totalidade dos Fragmentos.
Ou mais precisamente ainda, que, sendo tudo isso ao mesmo tempo (e se-
gundo o ao mesmo tempo da fragmentao e da sinfilosofia), ele s possa
finalmente ser, como obra de arte.
No que o fragmento como tal encarne a obra. J vimos que ele s se
apresentava como analogon da obra e preciso voltar a isso adiante. Em
nenhum lugar encontraremos nos textos uma teoria da obra como fragmen-
to, pura e simplesmente se bem que se possa vislumbrar por toda a parte
traos e ndices disso. A obra no cessa de implicar para os Romnticos o
motivo fundamental do acabamento. Atravs dele, tal motivo mesmo leva-
do ao seu cmulo. A obra verdadeira, a obra absoluta, harmnica e univer-
sal, esta vida do esprito em que vivem todos os indivduos, tal como a
78 A exi gnci a f ragment ri a
apresenta o ltimo dos Fragmentos(Athenum451. DF, p.142), e tal qual ela
se distingue precisamente das obras da poesia e da filosofia isoladas (por-
tanto, fragmentadas), cujo acabamento mesmo permanece inacabado. A obra
neste sentido ausente de obras e a fragmentao sempre tambm o sinal
desta ausncia. Mas este signo ao menos ambivalente segundo a lgica
mais persistente deste tipo de pensamento cujo modelo a teologia negativa
, e o lugar vazio contornado por uma coroa de fragmentos desenha muito
exatamente os contornos da Obra. Basta apenas mais um passo, que consiste
em pensar que a Obra como obra, como organon e indivduo, d-se precisa-
mente por sua forma, para compreender simultaneamente que a Obra ,
para alm de toda a arte isolada, obra de arte, e que o sistema de fragmen-
tos (Athenum77. DF, p. 58) desenha muito exatamente, por meio dos traos
de sua configurao fragmentria, os contornos sem dvida exteriores, mas que
so os contornosprprios Obra de arte, sua Fisionomia absoluta.
Desta maneira, o fragmento em si fornece tambm, imediatamente, de
certa forma, a verdade de toda obra. Alm ou aqum da obra, ele prope a
sua operatividade mesma. Pois a obra indivduo toda a obra indivduo,
todo o conjunto de obras, como a Antigidade, indivduo, conforme se l
em muitos fragmentos. O que ainda mais propriamente individual que o
indivduo, ou o que torna a sua individualidade radical, a abertura e a
manifestao de sua vida e de sua verdade mais ntima ( a este motivo que
consagrado o mais longo dos Fragmentos, Athenum336. DA p.106s). Esta
manifestao necessria s obras e de maneira ao mesmo tempo parado-
xal e doravante previsvel, pelo fragmento que esta pode ter lugar. Da mes-
ma forma como o fragmento da Antigidade entrega a essencial originalida-
de da obra antiga, o fragmento moderno caracteriza esta originalidade, e
pelo mesmo gesto esboa o projeto da obra futura, cuja individualidade
reunir e render [relvera]
23
dialeticamente (estamos de fato salvo no que
toca arte bem perto de Hegel) o dilogo pensante, vivo e operante dos
fragmentos antigos e modernos.
A relao entre fragmento e Sistema, ou melhor, a absoluta apreenso
fragmentria do Sistema, liga-se portanto dialtica que se trava no frag-
mento por ocasio [au sujet de] da Obra. O fragmento , de fato, de uma
certa maneira, a prpria obra, ao menos como uma pequena obra de arte,
medida em que ele tem como tarefa apreender e bosquejar em todas as
coisas poema, poca, cincia, costumes, pessoas, filosofia a sua silhueta
prpria, se que as coisas tm silhueta, ou seja, medida em que ela seja (e
setenha) formada em obra. (O que explica o motivo to constante e capital
PHILIPPE LACOUE-LABARTHE E JEAN-LUC NANCY 79
em todos os fragmentos da Bildungem seus dois valores de formao/tomar
forma e de formao/cultura. O homem assim como a obra de arte s o
que se gebildet, ao tomar forma e figura do que deve ser. O motivo da
educao do gnero humano desabrocha e se transfigura em Jena, para
alm de Lessing, Herder e Schiller, no motivo da tomada de forma total de
uma humanidade absolutamente essencial e absolutamente individual, na
qual todo indivduo infinito deus e h tantos deuses quanto ideais
(Athenum406. DF p. 128): o que consiste em dizer, ao mesmo tempo, que
o acabamento da Bildung a manifestao-em-forma do ideal (o qual no
o inacessvel, mas a realidade da idia, cf. Athenum412), ou o ideal como
obra, e que o ideal, como o indivduo, to numeroso quanto o fragmento
ou que a idealidade que faz a pluralidade do fragmentrio).
Pequena obra, o fragmento o , portanto, tambm, sem dvida, en-
quanto miniatura ou microcosmo da Obra. Mas o tambm pelo fato de,
detendo assim de alguma forma a funo de obra da obra, ou da operao
[miseen oeuvre] da obra, operar, em suma, ao mesmo tempo nas fundaes
da obra [en sous-oeuvre] e na cobertura da obra [en sur-oeuvre]. O fragmento
figura mas figurar, bilden e gestalten, aqui obrar, e apresentar, darstellen
o fora do corpo da obra [hors-doeuvre] essencial obra, mais essencial obra
do que a prpria obra.
24
Ela funciona como a [palavra francesa] exergue
[exrdio], nos dois sentidos do verbo grego exergazmai: inscrevendo-se fora
da obra, e completando-a.
25
O fragmento romntico, longe de encenar a
disperso ou o despedaamento da obra, inscreve a sua pluralidade como
exrdio da obra total, infinita.
sem dvida tambm porque o infinito se apresenta apenas por seu
exrdio e que se a Darstellung do infinito constitui, aps Kant e apesar
dele, a preocupao essencial do idealismo, o romantismo, pela literatura em
fragmento, forma o exrdio do idealismo filosfico. aqui que os Romnticos
ocupam, juntamente com Hlderlin, a posio j lembrada por ns, e associa-
da ao seu nome, na Abertura. O acabamento puramente terico impossvel
bem o que enuncia o fragmento 451 e muitos outros como ele, todos
aqueles que reclamam a reunio da filosofia com a poesia , pois o infinito
terico permanece assimpttico. O infinito em ato a infinitude da obra de
arte. Diferentemente de Hlderlin, e, no entanto, em uma proximidade mui-
to maior com o idealismo, os Romnticos propem-se simultaneamente os
motivos do infinito presente, efetuado, em uma obra resumida obstinada-
mente pela lgica do fragmento, segundo os contornos do seu ideal, e o que
no fundo o correlato do que precede do prprio infinito potencial en-
80 A exi gnci a f ragment ri a
quanto atualidade da obra. De fato, para voltar ao fragmento 116 do
Athenum, pela sua prpria progressividade e infinitude de seu movi-
mento que a poesia romntica forma, desde a Antigidade e para todo o
futuro, a verdade de toda poesia. O romantismo em ato, como sabemos, no
est nunca a e sobretudo no na poca daqueles que, alis, no se nomeiam
Romnticos, nem mesmo quando escrevem o fragmento 116 , j que ainda
no h nenhum que seja fragmentrio (Athenum77. DF p. 58): mas exata-
mente no estando a, nunca ainda a, que o romantismo e o fragmento so, abso-
lutamente. O work in progressenuncia doravante a infinita verdade da obra.
Em outras palavras ainda e retomando o termo explorado aqui , a
poesia infinita do fragmento 116, ou esprito em devir da poesia do frag-
mento 93 (Lyceum. DF p. 34), ou a poesia infinitamente valiosa (Lyceum
87. DF. p. 33), so essencialmente poesia na medida de sua natureza poitica.
O que potico menos a obra do que o que obra, menos o organon do
que o que organiza. E aqui que o romantismo visa ao corao ou s
profundezas nesta intimidade mais profunda de que os textos so semea-
dos, e que nos enganaramos em remeter a uma interioridade sentimental
do indivduo e do Sistema: sempre a poiesis, ou, para usar um equivalente,
sempre a produo. O que faz um indivduo, o que o faz manter-se junto, a
sstasisque o produz; o que faz a sua individualidade a sua capacidade de
produzir, e, antes de mais nada, produzir-se a si mesmo, por esta fora forma-
dora bildendeKraft herdada do organismo de Kant, e que o romantismo
transcreve em vispoetica interior que faz com que no eu, tudo se forma
organicamente (Athenum338. DF p.112), e que todos os homens cultos
devem, em caso de necessidade, poder ser poetas (Athenum430. DF p.138).
Trata-se, portanto, definitivamente de consignar o Sistema como Poe-
sia, e de apreend-lo no lugar mesmo de sua produo e como produo
de exibi-lo como produo original. preciso, ento, tambm apreender
nesta mesma profundeza a unidade dialtica da produo artificial da arte
e da produo natural: da procriao, da germinao e do nascimento.
No devemos nunca nos esquecer, quando nos textos encontramos o termo
ingnuo [naf] (especialmente a propsito da poesia ingnua dos Antigos),
que, desde Schiller,
26
esta palavra recobre, ao mesmo tempo, a ingenuidade
(a inocncia) e a natividade. O motivo da reunio do Antigo e do Moderno,
tal como podemos v-lo circular to freqentemente nos fragmentos, con-
siste sempre na exigncia de fazer renascer, segundo a poesia moderna, a
antigidade ingnua. O que reconduz ao fragmento: o fragmento apenas
em germe j que ele no inteiramente completo (Athenum77), e o frag-
PHILIPPE LACOUE-LABARTHE E JEAN-LUC NANCY 81
mento um germe, uma semente; segundo o ltimo Plen de Novalis: Frag-
mentos desta espcie so sementes literrias. Pode, sem dvida, haver muito
gro mouco entre eles mas contanto que alguns brotem.
27
A fragmentao
no portanto uma disseminao,
28
mas a disperso que convm semeadura e
s futuras colheitas. O gnero do fragmento o gnero da gerao.
Se o fragmento assinala assim o seu pertencimento profundo ordem
do orgnico em primeiro lugar, com toda evidncia, porque o prprio
orgnico deve engendrar-se do fragmento e pelo fragmento e porque o org-
nico essencialmente a auto-formao, ou a forma verdadeira do sujeito. No
eu, j o vimos acima, tudo toma forma orgnica. O fragmento, a este ttu-
lo, tanto a forma da subjetividade para retomar a palavra de Heidegger
quanto o o discurso especulativo, tal qual ele se completa em Hegel.
Ou mais exatamente, ele forma o duplo ou o reverso deste discurso.
Para este, como j para Fichte, a prpria discursividade tornada possvel,
em definitivo, pela presena original do organon total que pode engendrar
todo o resto. Ainda que negligenciemos a extrema dificuldade do comeo
em Hegel, para consider-lo em sua oposio ao gesto romntico, resta que
no discurso filosfico a potncia sistemtica deve ser doada, em ato, desde o
incio. Basta que nos desviemos apenas um pouco deste dado de origem e
este desvio que abre a possibilidade do romantismo no seio do idealismo, e
do gnero literrio como tal para esbarrarmos, por exemplo, e sem nem
mesmo sair da filosofia, na dificuldade ainda mais obscura (e que permanece
obscura para o seu prprio autor) da Indiferena original de Schelling. Em-
bora a Indiferena (que encontraremos adiante como Witz schlegeliano) faa-
se conceito. Mas o organon romntico agrava ainda mais o seu caso, se pode-
mos dizer assim, pelo fato de seu conceito, a sua prpria concepo, seu siste-
ma seminal, dar-se como fragmento e, portanto, sempre, apesar de tudo, nas
fundaes da obra [en sous-oeuvre]. A organicidade do fragmento designa
tambm a fragmentao do organon, e em vez do puro processo de cresci-
mento a necessidade de reconstituir a individualidade orgnica assim como
de constitu-la. O modelo mas que talvez no atinja completamente o
statusde modelo verdadeiro, de arqutipo permanece sendo ainda aqui a
Antigidade em fragmentos, a paisagem em runas. O indivduo Grego,
Romano, Romntico , antes de tudo, a ser reconstrudo.
O que quer dizer, j que ainda no h nenhum que seja fragment-
rio,
29
que o fragmento representa tambmo trecho separado, o bloco errtico.
No segundo uma alternncia de valores da palavra fragmento ou das fun-
82 A exi gnci a f ragment ri a
es de diversos fragmentos: mas absolutamente ao mesmo tempo e pelo
mesmo gesto da fragmentao que o fragmento, por assim dizer, sistemati-
za-se e no se sistematiza. O fragmento sobre o fragmento-porco-espinho
este porco-espinho em sua proposio mesma, por meio do qual ele enuncia
simultaneamente que o porco-espinho no est a. O fragmento bloqueia em
si mesmo, de certa forma, o acabamento e o inacabamento, ou de maneira
ainda mais complexa, no seria sem dvida impossvel dizer que ele acaba e
inacaba ao mesmo tempo a dialtica do acabamento e do inacabamento. A
este ttulo, a fragmentao consistiria em concentrar ou precipitar sobre um
ponto o processo pelo qual o discurso filosfico, ainda em Hegel, pode de-
signar seu prprio inacabamento, control-lo e faz-lo passar ao elemento
do puro pensamento, que o acabamento. O fragmento sobre o porco-
espinho desenha, e faz todos os que o circundam desenharem, o puro con-
torno do porco-espinho, da Obra ausente; este mesmo gesto simplesmen-
te a escrita do fragmento consiste, conseqentemente, tambm em subtra-
ir este fragmento da Obra, na ambigidade indefinidamente renovada da
pequena obra de arte, e consiste, em suma, em fragmentar o fragmento. Con-
siste, conseqentemente, em deslocar a unidade orgnica do porco-espinho
e apresentar a fragmentao dos Fragmentosapenas como um conjunto de
membra disjecta: ou seja, ainda, se se quiser, em reinvestir de pronto, justa-
mente no cerne do valor artstico do fragmento, sobre o seu valor filolgico,
e entregar a Modernidade a si prpria apenas do modo com o qual ela recebe
a Antigidade, ou seja, sob o modo da perda completa da grande Individua-
lidade.
A origem romntica assim o sempre-j-perdido do Organon e , con-
seqentemente, pura e simplesmente o caos. A diversificada poro de acha-
dos do Lyceum103 pode perfeitamente ser apreendida, segundo o seu es-
prito, como a harmonia de um verdadeiro sistema, resta, no entanto, ain-
da, que ele se d, imediatamente, como diversificada poro e que a
poca dos Romnticos a do caos das obras, ou das obras caticas. F. Schlegel
havia escrito, antes dos Fragmentos:
30
Quando observamos com igual aten-
o a ausncia de regras e de objetivos do conjunto da poesia moderna e a
excelncia das partes tomadas isoladamente, a massa desta poesia aparece
como um oceano de foras em luta onde as partculas da beleza dissolvida, os
pedaos da arte dislocada se entrechocam na desordem de uma mistura tur-
va. Podemos chamar de caos a tudo o que sublime, belo e sedutor. Assim,
Jean Paul nos Fragmentos (Athenum421) considerado um caos, o mes-
mo Jean Paul sobre o qual a Conversa sobrea poesia dir que ele , no entan-
PHILIPPE LACOUE-LABARTHE E JEAN-LUC NANCY 83
to, um dos nicos produtos romnticos de nossa poca to pouco romnti-
ca. No apenas a poca literria, mas, bem entendido, toda a poca cati-
ca, como o sublinha entre outras coisas a Revoluo Francesa (Athenum
424). O caos de fato a situao da ingenuidade sempre-j perdida da arte
absoluta nunca advinda, e neste sentido o caos define tambm a condio do
homem: somos seres orgnicos em potncia, caticos, diz um fragmento
pstumo de F. Schlegel (e a este ttulo legtimo reconhecer na especificida-
de do romantismo uma espcie de persistncia ou de resistncia, no seio do
idealismo, de uma parte ao menos do pensamento kantiano da finitude
31
).
H, entretanto, se ousamos dizer, caos e caos. O fragmento 389 do
Athenumope ao grotesco moderno os pavilhes chineses da literatura
(e o contexto faz aqui do grotesco um companheiro do caos), o sbio caos
32
de vrias filosofias antigas que tiveram solidez bastante para durar mais que
uma igreja gtica e da qual se poderia apreender a desorganizao, ou nas
quais a confuso ordenadamente construda e simtrica (DF p. 125).
preciso tambm, conforme os preceitos dos Romnticos, ler a verdade da
ironia
33
: o caos tambm algo que se constri, e a partir da que seria
preciso agora fazer ainda uma leitura suplementar do fragmento sobre a
diversificada poro de achados (DF, p. 35). A tarefa propriamente ro-
mntica poitica no dissipar ou reabsorver o caos, mas constru-lo ou
fazer Obra da desorganizao. Para seres orgnicos em potncia, a organi-
zao a gerao podem e devem ter lugar no seio da desorganizao ao
mesmo tempo como a sua prpria pardia e segundo o verdadeiro mtodo
e simetria do Sistema. A este ttulo, o fragmento o gnero da pardia da
operao da obra [miseen oeuvre], ou da produo pardica da obra, e termi-
na sempre remetendo ao caos tambmcomo Obra exemplar, especialmen-
te na stira romana e mais ainda no drama shakesperiano (cf., por exemplo,
Athenum383). Afirmando-se desta maneira ainda como dramatizao, a
fragmentao remeteria assim, ao mesmo tempo pardica e seriamente, ao
seu prprio caos como gnero da Obra.
Ora, nesta duplicidade bem conhecida da pardia que se refugiou
justamente, e desde o incio, um outro valor do caos. preciso seguir algu-
mas linhas do texto citado acima sobre o caos da poesia moderna para ler o
seguinte: Poderamos chamar de caos a tudo o que sublime, belo e sedu-
tor, um caos que, semelhantemente ao caos antigo a partir do qual a lenda
diz que se ordenou o mundo, est espera de um amor e de um dio para
separar as partes diferentes, mas reunir as que se assemelham. O caos
tambm o lugar das geraes possveis, ele potncia de produo e, desde
84 A exi gnci a f ragment ri a
Descartes, reconstruindo o mundo a partir de um caos primitivo que o
sujeito d a medida do seu saber e de seu poder, ou seja, simplesmente,
constitui-se em sujeito.
Seria preciso voltar adiante sobre o desenvolvimento deste motivo do
caos, que no ocorre por acaso nas Idias, fora dos fragmentos propriamente
ditos. Contentemo-nos em reter, por ora, que a fragmentao enquanto caos
tambm a matria oferecida ao criador de um mundo neste sentido o
Fragmento romntico ratifica e instala definitivamente a figura do artista
como Autor e Criador.
Este criador, no entanto, no o sujeito de um cogito, nem no sentido
de um saber imediato de si, nem no sentido da posio de uma substncia
do sujeito.
34
Ele por intermdio, portanto, da crtica decisiva que sofreu
em Kant o sujeito do juzo, o sujeito da operao crtica precisamente, ou
seja, da operao que distingue os incompatveis e constri a unidade objetiva
dos compatveis. Nada alm, em suma, do que o sujeito da operao do dio
e do amor pelo qual, segundo F. Schlegel, o caos potico moderno estaria
espera, ou melhor ainda, nada alm do sujeito enquantoesta operao. visa-
da da Obra responde o estatuto que preciso chamar operatriodo sujeito.
este estatuto operatrio que destacado em um dos motivos mais
conhecidos do romantismo, o motivo do Witz [chiste], que tem para com a
fragmentao o mais estreito vnculo.
35
Com o Witz tocamos, sem dvida,
no elemento ltimo e mais especfico desta fragmentao, da mesma forma
como, por outro lado, se quisermos medir o romantismo pelo Witz, somos
conduzidos a traar uma circunscrio mais estreita que o ordinrio ao redor
dele em torno unicamente, ou quase, de F. Schlegel, Jean Paul, e mais
tarde, Solger, acrescentando a isso um aspecto, mas apenas um aspecto, de
certos textos de Novalis , circunscrio em torno da qual, no por acaso, a
crtica hegeliana da arte romntica se concentrar.
O Witz toca no fragmento em primeiro lugar enquanto ambos os g-
neros (se podemos nome-los desta maneira) implicam o achado (Einfall,
a idia que cai por cima de ns, segundo a qual o achado menos achado
do que recebido). A diversificada poro de achados implica algo do Witz,
exatamente como j que alguns achados chistosos so como o supreendente
reencontro de dois pensamentos amigos aps uma longa separao
(Athenum37. DF p. 53) o Witz parece implicar nele toda a estrutura
fragmentria, dialgica e dialtica que acabamos de esboar. A essncia do
achado ser sntese de pensamentos. De uma tradio que remonta pelo
menos ao sculo XVII, o Witz recebeu a qualificao fundamental de ser a
PHILIPPE LACOUE-LABARTHE E JEAN-LUC NANCY 85
reunio de heterogneos, ou seja, ao mesmo tempo o substituto da verdadei-
ra concepo (que tem lugar em e pelo homogneo), e o duplo julgamento
(que apenas liga o heterogneo sob o controle do homogneo). porque de
fato, desde a sua origem semntica (Witz duplica Wissen, saber), e atravs
de toda a sua histria sob as espcies do esprit francs e do wit ingls, o Witz
constitui como que o outro conceito de saber, ou o nome e o conceito de
um saber outro: ou seja, do saber outro que no o saber da discursividade
analtica e predicativa. O que consiste em dizer que o Witz, tal qual os Ro-
mnticos o recolhem e o enobrecem, constitui-se o mais perto possvel da-
quilo que Hegel vai fixar com o nome de saber absoluto, que menos
absoluto por ser um saber sem limites do que por ser o saber que se sabe ao
mesmo tempo que sabe o que sabe, e que forma assim o infinito em ato do
saber, e o seu Sistema.
36
O Witz representa muito exatamente uma sntese a
priori, no sentido kantiano, mas desbastada das condies limitativas e dos
procedimentos crticos de Kant, e comportando junto com a sntese de um
objeto a do sujeito ou pelo menos a sntese do poder produtor-sujeito: o
Witz em suma a este ttulo a soluo do enigma do esquematismo
transcendental, tal qual o evocamos na Abertura.
Assim, o Witz no apenas uma forma ou um gnero (alis, como
podemos ver nos Fragmentos, o gnero mais prprio da conversao, da
sociabilidade(cf. Lyceum9), o gnero de uma literatura representada como
troca viva e livre de propsitos, de pensamentos e de sentimentos em uma
sociedade de artistas, em um grupo como o dos Fragmentos) ao mesmo
tempo, tambm, segundo uma pluralidade de valores que poderamos loca-
lizar nos textos, uma qualidade atribuvel a toda sorte de gneros ou de obras,
uma faculdade do esprito, um tipo de esprito. Ou talvez o esprito-tipo,
aquele que apreende com um golpe de vista, e com a rapidez do relmpago
(a assonncia Blitz-Witz foi muito praticada, embora no aparea nos Frag-
mentos), na confuso de um caos heterogneo, as relaes novas e inditas,
em suma, criativas que ele capaz de dar a lume. O Witz criador, ele
fabrica semelhanas, escreve Novalis em Plen. O Witz um saber-ver ime-
diato, absoluto: ele a viso devolvida ao ponto cego do esquematismo, e a
viso mergulhando, conseqentemente, diretamente sobre a capacidade pro-
dutiva das obras. No Witz romntico se produz precisamente a assuno
daquilo que nos permitido nomear eidesttica: ele se assemelha, resume e
leva ao auge a metafsica da Idia, do saber-de-si da Idia em sua auto-mani-
festao. Ele no de maneira alguma reservado a uma categoria de produ-
es grotescas, picantes, inslitas, em geral bizarras, para retomar a pala-
86 A exi gnci a f ragment ri a
vra que encontramos, dentre outros lugares, em Athenum429 (DF p.137s):
veremos, ao contrrio, na leitura deste fragmento, como o infinitamente
bizarro pode se estender a todos os gneros e at suprema formao (Bildung),
em outras palavras, como, de fato, se o bizarro pode ser infinito, sem dvida
porque o infinito s pode ser bizarro em sua manifestao, seno em sua essn-
cia. Por estas bizarras combinaes de heterogneos, o Witz desempenha nada
menos do que o papel mesmo do saber especulativo (tambm pode ser dito fim
em si, Lyceum59. DF p. 29; cf. tambm Lyceum16 e 126).
Em sua Teoria da linguagem, um autor prximo dos Romnticos,
Bernhardi, escrever em 1805 (e A. Schlegel citar a passagem em sua rese-
nha da obra) que a essncia da verdade ser Witz, pois toda cincia Witz
da inteligncia, toda a arte Witz da fantasia, e toda piada witzigsomente
na medida em que ela lembra o Witz da verdade. Veremos, percorrendo a
rede de Fragmentos sobre o Witz que, se no encontramos a e por razes
que ficaro claras adiante uma frmula absolutamente idntica, estamos
freqentemente muito perto dela. Em tudo isso, o Witz fornece, no fundo,
a essncia do fragmento, e precisamente o que o qualifica, no fragmento 9
do Lyceum(DF p. 22): Chiste esprito social incondicionado, ou genialidade
fragmentria. O que deve, antes de mais nada, ser entendido como
genialidade do fragmento, genialidade potica da produo no instante, na
luminosidade do relmpago, da forma acabada do Sistema no seio do
inacabamento do Caos. Na conflagrao do Witz (cf. Lyceum34 e 90), ope-
ra-sea especulao fragmentria, a identidade dialtica do Sistema e do Caos.
Ao mesmo tempo, no entanto, o Witz reproduz ou manifesta o deslo-
camento fragmentrio. Poderemos percorrer, na rede do Witz, a srie de frag-
mentos que nos pem em alerta contra um Witz baixo, equvoco ou perigo-
so. Este gesto de desconfiana perante o Witz da parte de seus prprios pra-
ticantes to antigo quanto toda a sua tradio. O Witz nunca pde ser
verdadeiramente assimilado a um gnero ou a uma obra. Sua combinatria
absoluta sempre ameaada pelo baixo de seu carter infame, fugaz e quase
informe. Tambm o Witz deve ser poetizado, como o diz o fragmento 116 do
Athenum. Idia absoluta da Obra, ele tambm o ainda-no-obra que deve
ainda ser obrado. O motivo do Witz , conseqentemente, quase sempre
dividido em dois: por um lado, convm reter ou conter o Witz catico,
telrico, que provoca calafrio e coagulao, segundo os termos de vrios
fragmentos pstumos de F. Schlegel; mas por outro, preciso, no entanto, e
mesmo a exigncia maior quanto ao Witz, abandonar-se ao seu carter
fundamentalmente involuntrio (cf. Athenum32, 106). Querer ter Witz
PHILIPPE LACOUE-LABARTHE E JEAN-LUC NANCY 87
sossobrar na Witzelei [zombaria] (Athenum32
37
), o Witz forado, artificial,
o pavilho chins no lugar do drama shakespeariano. A solua paradoxal-
mente e se podemos nome-la soluo encontra-se no fragmento 394 do
Athenum(DF p.126): s se pode entender o verdadeiro chiste se escrito.
preciso retir-lo s condies imediatamente explosivas, perigosas, de sua
existncia de salo. Ou seja, preciso faz-lo passar obra.
38
A escrita do
fragmento constitui portanto, em suma, a Aufhebungdialtica da antinomia
interna do Witz. A genialidade fragmentria conserva o Witz como obra e
o suprime como no-obra, sub-obra [sous-oeuvre] ou anti-obra. O que su-
pe, evidentemente, que a genialidade forma tambm a Aufhebungdo vo-
luntrio e do involuntrio.
Escrita e genialidade fornecem, portanto, as chaves do fragmento. A
escrita enquanto passagem forma, legalidade formal da obra, podemos
dizer, explorando sem excesso a comparao encontrada em Athenum 394
(DF p. 126): s se pode entender o verdadeiro chiste se escrito, como as
leis; e a genialidade como a auto-assuno do Witz, do esprito no Witz,
segundo Athenum366: Entendimento esprito mecnico, o chiste es-
prito qumico, gnio esprito orgnico (cf. Athenum426).
Que a verdade do organon se torne acessvel na genialidade no nada
supreendente: nisso o romantismo menos romntico do que herdeiro do
sculo XVIII e de Kant. O que provm mais propriamente do romantismo
antes o fato de, a propsito do gnio que no final das contas no mais
bem definido do que o fragmento nem do que o Witz , travar-se nos Frag-
mentos toda a problemtica do fragmentrio. A comear por isso: que se o
chiste genialidade fragmentria, mas se por outro lado, para alm do Witz,
a obra verdadeiramente potica permanece tomada pela prpria infinita
progressividade romntica, temos o direito de nos perguntar se o gnio
orgnico pode se apresentar na poca do caos. Ele no pode, sem dvida,
tendo em vista que a antigidade inteira um gnio, o nico gnio que se
pode chamar sem exagero grande, nico e inatingvel (Athenum248. DF
p. 91). Como o indivduo, e porque Indivduo, o gnio sempre-j perdi-
do, e, como a Antigidade, existe apenas como fragmentos.
Da mesma forma, podemos perceber em mais de um texto que o termo
gnio designa de fato alternadamente o Gnio nico, o indivduo-Anti-
gidade, e um tipo que, por ser o tipo do criador, no deixa de ser inferior ou
retirado com relao a este outro tipo, ou melhor, ideal, que constitui o
homem culto (gebildet). O homem culto, absolutizao romntica do honnte
88 A exi gnci a f ragment ri a
homme[homem honesto] e do Aufklrer, o sujeito de uma razo superior
acabada em sua forma total: tal o acabamento celebrado no Athenum
419, divindade plcida sem a fora trituradora do heri e a atividade forma-
dora do artista (DF p. 132). A Bildungenquanto acabamento designa algu-
ma coisa que se subtrai ao devir e ao esforo do prprio bilden. Ela constitui
de certa forma o Sistema como pura conjuno da forma consigo mesma, o
Bild ou a Idia , enfim, apresenta, e, em primeiro lugar, apresenta-se a si
mesma. O gni o, ao contrri o, i mpli ca, como o Witz, uma relativa
informidade seno disformidade como potncia de formalizao [mise
en forme]; ele implica o desvio da viso e da obra que se destaca em Athenum
432 (do conhecimento mais intuitivo e da viso do que deve ser produzido,
o salto at aquilo que perfeito e acabado permanecer sempre infinito, DF
p.138s), o desvio infinito que o gnio transpe, mas transpe, se ousamos
dizer, com um salto informe e cego. A produo das obras no ainda, no
nunca o que ela e deve ser essencialmente: a auto-produo igual a si
mesma da Obra-Sujeito, da Obra-Saber-de-si-mesmo. no entanto esta auto-
formao que visada, veremo-lo suficientemente doravante, pelo dispositi-
vo fragmentrio. Mas esta visada implica precisamente, no mnimo, estas
trs exigncias que formam os limites mesmos do fragmento (os limites que
o definem e que resgatam todo fragmento da fragmentao absoluta):
uma poesia capaz de perder-se a si prpria no que ela apresenta (cf.
Athenum116);
a ironia como assuno sublime do Witz, posio da identidade abso-
luta do Eu criador e do nada das obras, a bufonaria transcendental
(Lyceum42. DF. 26s; cf. Lyceum108);
uma arte combinatria absoluta, permitindo filosofia no ter de
esperar por achados geniais (Athenum220. DF p.84s) e, portanto,
escapar a acidentalidade do Witz e do gnio.
Como vemos, estas trs exigncias delimitam exatamente a forma
requerida para o ideal do fragmento-porco-espinho. A Obra no deve ser
outra coisa seno a auto-produo absolutamente necessria onde se nadificam
todas as individualidades e todas as obras. No exatamente na genialidade
artista, mas, mais rigorosamente, no que o Ideal faz dela no sentido ro-
mntico da palavra , na auto-produo necessria e na auto-necessidade da
produo que se instala doravante a estrutura do Sistema-Sujeito, o Bild,
para alm de qualquer Bild, do fragmento, ou seja, do absoluto ab-solutum,
separada de tudo , j que o porco-espinho no figura outra coisa.
PHILIPPE LACOUE-LABARTHE E JEAN-LUC NANCY 89
Na via do absoluto, da absoluta absoluo fragmentria, o romantismo
segue a partir da duas vias distintas e indefinidamente cruzadas. Uma, a de
Novalis, redefine o Witz ao mesmo tempo como combinao e como disso-
luo: Chiste, como princpio das afinidades, ao mesmo tempo menstruum
universale (Plen, loc.cit. p. 67). O dissolvente universal desfaz o sistemti-
co, desfaz a identidade do poeta e o leva rumo a esta dissoluo no canto
evocada em um fragmento pstumo a respeito de Heinrich von Ofterdingen,
e que comporta o sacrifcio em toda a sua ambigidade do poeta (ele
ser sacrificado nos povos selvagens). Mas a ambigidade do sacrifcio (a
sacralizao) responde ambigidade do motivo da dissoluo, que reconduz
a qumica do Witz alquimia do menstruum, e, portanto, Grande Obra, ao
mesmo tempo que reconduz tambm Auflsung(dissoluo) no sentido
que encontramos em particular em Kant, da assimilao orgnica, da
intussuscepo.
39
A outra via schlegeliana poderia ser a do fragmento 375 do Athenum:
a via que tende energia ou ao homem energtico definido pela infinita
plasticidade de uma fora universal, por meio da qual todo homem se
forma e age (DF p.121s). A energia levada ao infinito da obra e do siste-
ma. Mas o que esta plasticidade, seno precisamente a capacidade infinita
da forma, do absoluto da forma e o que a energia, en-ergeia, seno o
prprio obrar [miseen oeuvre], seno o organon acabado do qual todas as
obras (de gnio) so apenas a potncia (o ato aristotlico a energeia, por
oposio dunamis, a potncia)?
A dissoluo e a energia, formas ltimas do fragmento, reconduziriam,
portanto, sem falta obra-sujeito.
Resta, no entanto, ainda que o fragmento sobre a energia nico,
apenas um trecho errante no conjunto dos Fragmentos, e que se Novalis no
comps o texto da dissoluo do poeta, no apenas por ter morrido, mas
porque esta obra, como todos os seus maiores projetos, no pararam de se
perder na multiplicao de suas prpria sementes. O que poderia talvez que-
rer dizer que pelo menos no que toca ao fragmento o gesto mais espec-
fico do romantismo, aquele pelo qual ele se distinguiria de maneira
infinitesimal e todavia mais decisiva do idealismo metafsico, seria aquele
pelo qual, no seio mesmo da busca ou da teoria da Obra, ele abandona ou
suprime discretamente e, no final de contas, sem quer-lo verdadeiramente,
a prpria Obra e modifica-se de maneira apenas perceptvel em obra da
ausncia de obra,
40
como a qualifica Blanchot. a particularidade finssima,
mas cortante, desta mutao que o motivo (e no a forma, nem o gnero,
90 A exi gnci a f ragment ri a
nem a idia) do fragmento nos levou constantemente a perceber, sem no
entanto n-la dar a ver. Trata-se aqui, antes, no de uma mutao, mas de
um deslocamento, ou de uma decalagem nfima que constitui sem dvida o
que h de mais romntico de mais moderno, para alm de toda modernidade
no romantismo, e que so, no entanto, o que o romantismo no pra de
ocultar de si mesmo, por detrs da prpria Idia de romantismo e de
modernidade.
Digamos que o que o fragmento faz pressentir sem parar para falar
romanticamente, no sem ironia... , anulando-o ao mesmo tempo sempre,
para falar desta vez com Blanchot a busca de uma nova forma de
acabamento que mobiliza torna mvel o todo ao interromp-lo e atravs
dos diversos modos de interrupo. A este ttulo, a exigncia fragmentria
no exclui e sim ultrapassa a totalidade. A este ttulo, tambm, a disperso
seminal de Novalis excede ou extenua em si mesma a gerao, e a dissemina.
H de fato, na obra romntica, interrupo e disseminao da obra romntica:
na verdade, elas no so legveis na prpria obra, mesmo e sobretudo no ao
privilegiar nela o fragmento, o Witz e o caos. Antes, segundo uma outra pala-
vra de Blanchot, na inoperncia [dsoeuvrement], nunca nomeada, muito
menos pensada, que se insinua por toda a parte nos interstcios da obra ro-
mntica. A inoperncia no o inacabamento; o inacabamento, como
vimos, se acaba, e o fragmento como tal; a inoperncia no nada seno a
interrupo do fragmento. O fragmento se conclui e se interrompe no mesmo
ponto: no um ponto, uma pontuao, nem um trecho fraturado, apesar de
tudo, da Obra fragmentria. O fragmento 383 do Athenumdiz, que pode-
mos talvez apenas comear a reler apesar do que ele diz: H um gnero de
chiste que, por sua consistncia, preciso e simetria, se poderia chamar de
arquitetnico. Ao se exteriorizar satiricamente, proporciona verdadeiros sar-
casmos. Tem de ser, e todavia tambm no ser, devidamente sistemtico;
apesar de toda a completude, tem de parecer faltar algo, como se tivesse sido
arrancado(...) (DF p.124).
Not as
1
Traduo de Mrcio Suzuki. Schlegel, Friedrich. O dialeto dosfragmentos. So Paulo: Iluminuras,
1997, p. 21. Daqui por diante referida simplesmente por DF, e seguida do nmero de pgina desta
edio. (N. do T.)
2
O texto pode ser visto como uma longa meditao em torno do termo francs oeuvre (obra),
expandindo-se em expresses idiomticas que o incluem, que modulam o timo grego, rgon (traba-
PHILIPPE LACOUE-LABARTHE E JEAN-LUC NANCY 91
lho, ao), organon (instrumento), chegando a organicidade, orgnico e organismo, e o timo
latino, opera, opus, como em operar, operao. At work (em work in progress) ou Werk (no tanto
neste captulo, mas no anterior). O jogo freqentemente intraduzvel em portugus, e os equivalen-
tes encontrados s vezes deixam a desejar. Assim, met l oeuvre (pe em obra); miseen oeuvre (obrar,
operao), oeuvredart (obra de arte), en sous-oeuvre (nas fundaes da obra, sub-obra), en sur-
oeuvre (na cobertura da obra), hors-doeuvre (fora do corpo da obra), exergue (exrdio), en-ergeia
(o ato na traduo de Santo Toms de Aquino, por oposio dunamis, a potncia), chegando at
o termo blanchotiano dsoeuvrement (inoperncia), em que de fato se fecha, abrindo-se, a leitura da
obra fragmentria dos romantismo de Jena. (N. do T.)
3
Sem esquecer a outra diferena j assinalada [no captulo anterior, Abertura] que separa Hlderlin
de toda Jena. Mas veremos adiante que se trata antes, nesta seo, da proximidade inicial entre os
Romnticos e Hlderlin.
4
Pois A. Schlegel est longe de haver dividido como seu irmo o ideal do fragmento, e parece mesmo
de uma certa maneira praticado mais o gnero mais na tradio do sculo XVIII. Houve mesmo no
grupo oposies ao fragmento, por exemplo, da parte de Caroline Schlegel. Se o Athenumfoi
efmero, a prtica do fragmento o foi mais ainda, e figura de certa forma a vanguarda dentro da
prpria vanguarda.
5
Remeteremo-nos a Ayrault, Roger. Gensedu romantismo allemand. Paris: Aubier-Montaigne, 1961-
1976. Volume III, p. 111s, para a histria das relaes entre F. Schlegel e o texto de Chamfort, para a
evoluo de sua concepo da prtica do fragmento, assim como para toda uma anlise do gnero
que no pretendemos substituir aqui.
6
Na medida, pelo menos que no pode ser de forma alguma analisada aqui em que o prprio
Discursoremete tambm, em sua provenincia e em seu gnero mesmo, ao que instaurado pelos
Ensaios. A oposio simplificada de que preciso fazer uso aqui no nos deve fazer esquecer de como
a crise romntica profundamente tributria da operao cartesiana: teremos adiante, sem dvida,
ocasies suficientes de nos apercebermos disso.
7
O exrdio: Amigos, o cho est pobre, precisamos espalhar ricas sementes/Para que nos medrem
colheitas apenas mdicas, em Novalis, Plen. Fragmentos. Dilogos. Monlogo. Traduo de Rubens
Rodrigues Torres Filho, So Paulo: Iluminuras, 1988, p.36. Encontraremos mais adiante a citao do
ltimo fragmento. FeAmor, que evocamos imediatamente aps, publicado em 1798, em uma outra
revista (cf. op.cit., p. 327).
8
Igualmente sobre esta questo, Ayrault, Roger. loc.cit.
9
KritischeFriedrich Schlegel Ausgabe, hrsg. v. Ernst Behler unter Mitwirkung v. Jean-Jacques Anstett
und Hans Eichner, Paderborn-Darmstadt-Zrich, 1958. (N. do T.)
10
Precisemos que os nmeros que acompanham aqui os fragmentos, segundo um hbito cmodo j
tradicional em muitas edies, no aparecem nas publicaes originais. Nelas, ao contrrio, cada
fragmento era separado do seguinte por um trao no meio da pgina.
11
E os casos duvidosos so, sem dvida, a cada vez, precisamente duvidosos, isto , convidam a uma
dupla leitura do texto, como podemos ver com o fragmento citado aqui em epgrafe (L. 4), ou com
Atheneaum24: Muitas obras dos antigos se tornaram fragmentos. Muitas obras dos modernos j o so
ao surgir (DF, p. 51), no qual Ayrault v exclusivamente o valor pejorativo do termo (loc. cit., p.120),
enquanto a ironia pode perfeitamente ser acompanhada aqui da conscincia da necessidade do frag-
mento, e, como veremos adiante, do caos na poesia moderna. Cf. de resto, a interpretao ligada
ao tema do fragmento-projeto dada deste fragmento por Szondi, Posieet Potiquedelidalisme
allemand. Paris: Ed. du Seuil, 1977, p.104.
92 A exi gnci a f ragment ri a
12
Cf. tambm Athenum305 (DF, p.101s).
13
Assim como, para tomar apenas dois exemplos, tanto os FragmentosfisionmicosdeLavater (na
verdade suo e no alemo), quanto os Fragmentosdeumannimo de Lessing.
14
Sobre o motivo do projeto, cf. o fim da Carta sobrea filosofia de Friedrich Schlegel. (Em Labsolu
littraire, Sur la philosophie [ Dorotha], p. 247. N. do T.)
15
Cf. Ayrault, loc.cit., p.119.
16
O termo emprestado de Grard Genette. Devemos referir-nos a Mimologiques(Paris: Seuil, 1976)
a propsito da concepo romntica da lngua.
17
Antes do anonimato coletivo dos Fragmentos, Plen, assinado por Novalis, continha j alguns frag-
mentos de F. Schlegel e de Schleiermacher, acrescentados pelo primeiro. F. Schlegel, igualmente,
quem retirou alguns fragmentos do manuscrito de Novalis, reservando-os para a publicao coletiva.
Tambm convm manipular com circunspeco esta prtica de escrita coletiva: ela representou um
ideal, por um momento, apenas para F. Schlegel, essencialmente, e para Novalis. Ela parece por outro
lado sem que isso impea de analisar-lhe o ideal como tal ter tambmcorrespondido a uma prtica
bastante ditatorial de F. Schlegel...
18
Cf. tambm Athenum37.
19
preciso remetermo-nos aqui a toda a anlise decisiva da visada do sistema e do saber absolutoque se
encontra no Schellingde Heidegger [curso de 1963, publicado na Alemanha em 1971, e traduzido
para o francs por J.-F. Courtine. Paris: Gallimard, 1971], p.91s. Iremos nos basear constamente nela.
20
Benjamin, Walter. O conceito decrtica deartedo Romantismo alemo. (traduo: Marcio Seligmann-
Silva. So Paulo: Iluminuras, 1999), o captulo, Sistema e conceito, p. 48s.
21
O termo de fato grego. Por exemplo no Dicionriode Bailly: sstasis, do tico antigo, ao de
reunir, de organizar, de dispor. Do qual se aparenta o prprio t sstema, 1) conjunto, total, massa;
2) grupo de homens. O trecho a que se referem Lacoue-Labarthe e Nancy do Schellingde Heidegger
o seguinte: O sistema no pode ser rejeitado, pois ele necessariamente posto desde que o fato da
liberdade posto. Como assim?Se a liberdade de um indivduo existe efetivamente, isso significa
tambm que ela coexiste de uma certa maneira com a totalidade do mundo. Ora, precisamente esta
coexistncia, esta con-sistncia [Zusammenbestehen] sstasis que designa o conceito, e mesmo j, o
termo de sistema. Heidegger, Schelling, loc.cit., p. 93. (N. do T.)
22
Benjamin, loc.cit, traduo Seligmann, p. 53. (N. do T.)
23
Relve a traduo proposta por Jacques Derrida para a Aufhebunghegeliana. Os tradutores de
Margensda Filosofia, Joaquim Torres Costa e Antonio M. Magalhes, traduziram o termo por supe-
rar, o que no d conta do sentido equvoco do termo alemo, ao mesmo tempo suprimir e man-
ter. Opto aqui por render, que contm ao mesmo tempo o sentido de substituir, e o paradoxal
(dialtico) de capitular e lucrar. Derrida prope pela primeira vez essa traduo no ensaio O poo
e a pirmide, em Margensda filosofia (So Paulo: Papirus, 1991). (N. do T.)
24
O texto joga com uma srie de expresses francesas que contm a palavra oeuvre, em geral de origem
arquitetural. Assim, a primeira edio do DictionnairedelAcadmiefranaisede 1694, diz o seguinte
sobre a oposio Dansloeuvre, horsdoeuvre: Termos de arquitetura, que significam dentro do
corpo da obra, fora do corpo da obra. Assim, diz-se que uma escada, que um gabinete dentro do
corpo da obra [dansoeuvre], praticado no corpo da obra, para dizer que ele situa-se no corpo da
edificao. E diz-se que ele fora da obra [horsdoeuvre], para dizer que ele situa-se fora do corpo da
edificao, fora do prumo das paredes. A este sentido literal de hors-doeuvrese somam muitos outros
PHILIPPE LACOUE-LABARTHE E JEAN-LUC NANCY 93
metafricos, como fora do assunto tratado, ou o gastronmico, hoje em dia mais corrente, de:
entrada, antipasto. En sous-oeuvre, segundo a edio de 1932-35 do Dicionrio da Academia,
uma: Locuo adverbial. Termo de arquitetura. Consertar as fundaos [de uma edificao] sem o
derrubar, sustentando-o. (N. do T.)
25
A palavra francesa, exergue, apresentao, introduo, epgrafe, que traduzo por exrdio,
retoma diretamente o timo grego ergon (etimologia: exergum, espao fora da obra, do grego ergon,
obra). O sentido primeiro da palavra francesa aparece em portugus nas palavras dicionarizadas (no
Houaiss), mas pouco comuns, exergo ( espao, em medalhas ou moedas, destinado gravao de data
ou de inscrio), e exergsia (acabamento, trabalho do solo, cultura da terra). (N. do T.)
26
Em seu ensaio Poesia ingnua esentimental, surgido em 1795 (Traduo: Mrcio Suzuki. So Paulo:
Iluminuras, 1991), sobre o qual F. Schlegel fala longamente no prefcio de Sobreo estudo da poesia
grega. O ingnuo recobriria mais precisamente o renascimento ou a ressurreio do natural (perdi-
do) pela arte.
27
Trata-se do fragmento 104, na classificao utilizada por Rubens Torres Filho. Poln. loc.cit. p. 93.
(N. do T.)
28
No sentido tomado pela palavra em Derrida (La dissmination [A disseminao]. Paris: Seuil,
1973) de uma disperso estril do smen e do smico em geral, ou seja, do signo e do sentido.
29
Athenum77. DF p. 58. (N. do T.)
30
Em Estudo da poesia grega.
31
Seria preciso, a propsito, referir-se ao motivo do caos em Kant, para quem a necessidade de assegu-
rar um uso regulador das Idias e um uso reflexivo do juzo , sem entretanto poder ultrapassar este
uso, uma proteo contra o caos na qual, sem isso, seria abandonada a razo finita (cf. em particular
a Primeira Introduo da Crtica da Faculdadedejulgar).
32
Kunstchaos, isto , o caos produzido pela arte ou pela tcnica filosfica e, conseqentemente, um
caos est para o caos verdadeiro um pouco como o ingnuo est para o natural.
33
Conforme o que o prprio F. Schlegel escreveu no texto Sobrea incompreensibilidade(i.e. do Athenum)
publicado na ltima edio da revista, quando ele se espanta que no se tenha ainda compreendido, a
partir dos fragmentos sobre a ironia, que dever-se-ia saber decifr-la nos textos da revista. Sobre o
conceito schlegeliano de ironia, que poderemos apenas tocar ligeiramente abaixo, cf. B. Allemann,
Ironieund Dictung, (Pfulling: Neske, 1956), p. 55s. Observaremos, alis, com Allemann (p. 60), que
no prprio F. Schlegel (ao contrrio do que se produzir na sistematizao posterior de Solger) os
conceitos de Witz e de ironia se comunicam freqentemente.
34
Como o sublinha Benjamin (O conceito decrtica dearteno Romantismo alemo. Traduo brasileira,
loc.cit., p. 38), reside precisamente a um dos pontos sobre os quais os Romnticos se separaram de
Fichte: enquanto que este prope contra Descartes a primazia do Eu substancial sobre o pensamento,
aqueles sustentam, apesar de Fichte, a primazia da reflexo, do refletir-se de todas as coisas, sobre o Eu.
Para Fichte escreve Benjamin a conscincia Eu, para os romnticos, ela si-mesmo (Selbst).
35
Sobre o Witz, cf. o estudo de Ayrault (loc.cit., III, p.139s), assim que Ironieund Dichtungde Beda
Allemann (loc.cit). Por outro lado, o tema da mescla qumica, investido completamente pelo Witz,
estudado por Peter Kapitza. DiefrhromantischeTheorieder Mischung[A teoria da mescla no primeiro
romantismo] (Mnich, 1968).
36
Assim, Heidegger, aps haver definido a dialtica como ns o lembramos acima [no captulo ante-
rior, Abertura], pode escrever (Schelling. loc.cit., p.99): Friedrich Schlegel diz em algum lugar
94 A exi gnci a f ragment ri a
(Athenum82. DF p.59): uma definio que no seja chistosa no vale nada. Podemos ver aqui uma
transposio romntica da dialtica idealista. Esta afirmao abre, entretanto, ao mesmo tempo, a
questo, como podemos ver, do que se joga exatamente na transposiocomo tal, ou no jogo que
subsiste entre o idealismo e o romantismo.
37
Deve-se ter chiste, sem o querer ter; seno surge zombaria [Witzelei], estilo alexandrino do chiste
(DF p. 52). (N. do T.)
38
Quanto ao privilgio da escrita em geral, nos remeteremos, no que concerne a F. Schlegel, Carta
sobrea filosofia, e no que concerne a Novalis aos Dilogos(publicados em Plen. loc.cit.). Qualquer que
seja este privilgio, ela no abarca nunca verdadeiramente no romantismo um pensamento da escrita
comparvel ao da nossa nodernidade, e, mais especialmente ao de Blanchot ou de Derrida. Iremos nos
convencer disso, por exemplo, seguindo nos textos o motivo do esprito da letra que funciona sem-
pre no mnimo de maneira ambivalente. Se, contudo, o romantismo deixa na verdade abrir-se alguma
coisa da possibilidade de um pensamento da escrita como o observaremos adiante , ser antes a
partir do motivo da fragmentao do que do da escrita.
39
Termo de biologia. Segundo o Houaiss: Modo de crescimento por transformao e incorporao
dos elementos formadores, caracterstico dos seres vivos, que contrasta com o crescimento por aposio,
observvel nos minerais. Vem do termo francs, intussusception (1650), introduo de um corpo
organizado de matrias nutritivas que ele absorve e assimila. (N. do T.)
40
L Athenaeum em LEntretien Infini, Paris: Gallimard, 1969, p. 517s para as citaes que se seguem.
FRIEDRICH SCHLEGEL E NOVALIS: POESIA E FILOSOFIA
Mrci o Sel i gmann-Si l va*
No existenenhuma poesia ou filosofia totalmentepuras
(SCHLEGEL 1963: XVIII 24 [II 74])
Toda prosa potica (SCHLEGEL 1981: XVI 89 [V 40])
Tudo deveser potico (NOVALIS 1978: I, 737)
SERIA UM ERRO DIZER que a teoria romntica da prosa mais radical e revolu-
cionria do que a sua teoria da poesia. Antes de mais nada porque essa teoria
da poesia j ela mesma uma teoria da prosa, a saber, da impossibilidade de
distino entre esses dois registros de dentro da tentativa de aprofundar a
autonomia do potico. essa estrutura de pensamento aportica, tpica do
romantismo, que marca as suas reflexes sobre o nosso tema. Essa estrutura
do doublebind se encontra tambm, por exemplo, em autores mais prxi-
mos de ns, como nas reflexes de Walter Benjamin e de Derrida sobre a
traduo e sobre a diferena entre o potico e o prosaico.
1
Tratarei aqui da
teoria romntica da poesia/prosa do ponto de vista da concepo romntica
de filosofia (como passagem para o potico). No poderei me deter, no en-
tanto, na teoria romntica da poesia universal, a saber na teoria da prosa
(potica) como superao da diferena entre a prosa e a poesia. Recordo
apenas que foi dessa doutrina do romancecomo forma que dissolve toda a
histria dos gneros que se originou a concepo moderna de Literatura que
no permite mais uma separao estanque entre o potico e o filosfico.
(SELIGMANN-SILVA 1999:68ss.).
*MRCIO SELIGMANN-SILVA, Doutor em Teoria Literria e Literatura Comparada pela Universidade
Livre de Berlim, professor de Teoria Literria e Literatura Comparada na UNICAMP. Publicou Ler
o Livro do mundo. Walter Benjamin: romantismo ecrtica potica (Iluminuras, 1999), Adorno(Publifolha,
2003). Organizou os volumes, LeiturasdeWalter Benjamin (AnnaBlume, 1999) e Histria, Memria,
Literatura. O Testemunho na Era dasCatstrofes(Editora da UNICAMP: 2003). Co-organizou o volu-
me CatstrofeeRepresentao(Escuta, 2000). tradutor de Laocoontede G.E. Lessing, O Conceito de
Crtica deArteno Romantismo Alemo de Walter Benjamin, O Mito Nazista de Philippe Lacoue-
Labarthe e Jean-Luc Nancy e Constelao Ps-nacional de J. Habermas.
95
96 FRIEDRICH SCHLEGEL E NOVALIS: POESIA E FILOSOFIA
Fi l osof i a como poesi a
A poesia, para Novalis e Schlegel, era vista antes de qualquer coisa como
poiesis, como criao e ao. Essa mesma concepo encontra-se na teoria da
prosa desses autores. A filosofia e a prosa encontravam-se intimamente
conectadas na concepo romntica de linguagem. O princpio (positivo)
de contradio, que guia o doublebind, permite aos romnticos ao mesmo
tempo afirmarem a relao da filosofia com a comunicao, Mitteillung(em
oposi o apresentao, Darstellung, produti va da poesi a), com o
desvendamento, Enthllung, com a conceituao, a descrio etc., ecom a
poesia transcendental, ou seja, ela tambm seria meio da (re)poetizao (ou
romantizao) do mundo. Expondo esse fato no vocabulrio da lgica do
suplemento: a prosa seria para esses autores o mal somado ao mal na busca
de superao do mal originrio (o pecado original, a queda). Se essa lgi-
ca do suplemento mantida por eles, isso ocorre apenas dentro de uma crti-
ca dessa lgica pois, como conhecido, a crtica dessa estrutura suplemen-
tar do pensamento no consegue escapar do seu campo de foras.
Se a filosofia confunde-se muitas vezes entre os romnticos com o pen-
samento guiado pelos juzos determinantes da tipologia que Kant fizera na
abertura da sua Terceira Crtica, por outro lado, aqueles autores percebem
que a subsuno do individual ao geral no se pode abstrair da estrutura
abissal do crculo hermenutico. No h geral sem o individual, assim como
no h individual sem o geral: Eu no posso conhecer os indivduos por
meio do gnero, mas o gnero por meio dos indivduos, mas claro que
devemos sempre ter sob os olhos a Idia quando da observao dos indiv-
duos (NOVALIS 1978: II, 182). No h o gnero, Gattung, fora do individu-
al, assim como no h filosofia sem poetar, Dichten. O potico como regis-
tro do individual-universal em oposio ao filosfico, como registro do ge-
ral-abstrato, devem ser aproximados e mesclados. Ou seja, a percepo da
circularidade e da determinao recproca do individual e do geral levou os
romnticos a uma desconstruo desses dois plos a conseqncia oposta a
que a teoria hermenutica tradicional chegou. O ideal de uma cincia se-
gundo o modo de ver potico seria, na formulao de Novalis: Cada objeto
[Gegenstand] (praticamente) deixa-se tomar como o objeto [Object (sic)] de
uma cincia particular (NOVALIS 1978: II, 695). Ele contrape ao procedi-
mento analtico do juzo que separa, das trennende Urteil (sic), que faz
com que se perca o valor de cada apario [...] enquanto membro de um
todo, o poder da poesia: A poesia cura as feridas abertas pelo entendimen-
Mrci o Sel i gmann-Si l va 97
to. Ela consiste justamente em partes em oposio (NOVALIS 1978: II, 814).
Mas essa contraposio entre a poesia e o entendimento, que apenas mo-
mentnea, deve ser compreendida como um estratgia de crtica do modelo
da verdade como produto do pensamento lgico. Para Novalis e Schlegel, o
ideal, como ainda veremos mais de perto, permanece sendo a unificao dos
dois registros.
A filosofia enquanto prosa produtiva no visaria descoberta de uma
verdade dada de antemo,
2
mas sim ao desdobramento de uma ausncia,
de um Problema cuja soluo a prpria atividadefilosfica: Assim como
no comemos para nos apropriarmos de um material totalmente novo, des-
conhecido [Fremde] do mesmo modo no filosofamos para achar verdades
totalmente novas, desconhecidas (NOVALIS 1978: II, 355), escreveu Novalis.
O seu modelo e o de F. Schlegel de filosofia deixa-se aproximar do que Rorty
(1982:92) pretendeu derivar da Phnomenologiede Hegel, ou seja, a concep-
o da filosofia como uma cadeia de textos que se somam constituindo uma
obra infinita. Schlegel afirmou nesse sentido que a filosofia se resumia sua
histria (A filosofia decerto nada seno a Histria da Filosofia, SCHLEGEL
1963: XVIII, 137 [III 187]; Histria no nada seno Filosofia e esses
nomes poderiam ser totalmente trocados, SCHLEGEL 1963: XVIII, 226 [IV
382]). A sua definio irnica do filsofo como aquele que crna possibili-
dade de se conhecer o universo (SCHLEGEL 1963: XVIII, 230 [IV 432]) tam-
bm vai nesse sentido de crtica ao modelo representacionista da filosofia. A
esse modelo ele e Novalis contrapem o da filosofia como prxis, que apro-
ximada da atividade criativa, poietica do Genie
3
: A Filosofia s pode ser
apresentada de modo prtico e, como a atividade do gnio, no se deixa em
geral descrever (NOVALIS 1978: II, 828). O Genie caracterizado como aquele
que constitui um sistema fechado em si mesmo. Se o objetivo do filsofo
tradicionalmente a compreenso do mundo, o filsofo-gnio por sua vez
marcado pela incapacidade de ser compreendido (Faz parte da essncia do
Gnio que ele seja um Sistema por si e que, portanto, ningum mais com-
preenda um Gnio, SCHLEGEL 1963: XVIII, 112 [II 996]). O saber, Wissen,
seria, assim como a arte, coisa de gnio (SCHLEGEL 1963: XVIII, 344 [V
271]), e cada obra do Geniepara Schlegel pode at ser clara aos olhos, mas
eternamente misteriosa para o entendimento (SCHLEGEL 1967: II, 322).
Da por que para ele um filsofo entende to mal ao outro, ou talvez ainda
menos, do que um poeta ao outro (SCHLEGEL 1963: XVIII, 112 [II 997]).
Mas isso no implica uma simples desvalorizao da filosofia. A individuali-
dade da linguagem (assim como a da poesia ou da arte) resgatada pelos
98 FRIEDRICH SCHLEGEL E NOVALIS: POESIA E FILOSOFIA
romnticos contra o acento iluminista (e humanista, retrico) na sua univer-
salidade. A concepo do Genieda lngua aplicada a cada lngua particular;
por assim dizer, cada indivduo falaria apenas um idioleto, pois a lngua a
expresso da sua individualidade, de sua forma de ler o mundo: Cada pes-
soa tem a sua prpria lngua. Lngua expresso do esprito. Lnguas indivi-
duais. Gnio-da-lngua (NOVALIS 1978: II, 349), escreveu Novalis ao seu
modo tipicamente enigmtico indescritvel.
4
A filosofia no para os
romnticos superada devido a essa incompreenso entre as lnguas. Ela
constitui antes uma atividadecentral para eles. Como Fichte, Novalis v na
filosofia o ideal da cincia em geral (NOVALIS 1978:II, 623); ela seria um
esquema desse Ideal, a saber, da inteligncia mesma. O ncleo dessa concepo
de filosofia , portanto, a teoria do funcionamento do pensamento.
Na verdade, j Fichte tinha uma concepo prtica da filosofia: no no
sentido kantiano da filosofia moral, mas na medida em que transformou a
filosofia em ato filosfico, em ao, Tathandlung, do eu que pe a si mesmo e
que existe apenas em funo desse pr (FICHTE 1971: I, 96). Novalis e Schlegel
levam essa concepo mais adiante com a sua entronizao da ao do Eu,
com a sua concepo de poesia (romntica) universal e de poeta transcendental.
Pensar, falar e agir so conectados nessa viso de mundo, e a linguagem oriun-
da dessa constelao mgica, absolutamente criadora como a linguagem
de Deus no incio da Bblia: Pensar falar. Falar e atuar e fazer so uma
operao modificada. Deus falou faa-se luz e fez-se (NOVALIS 1978: II,
531). Para Novalis um pensamento necessariamente lingual [wrtlich]
(NOVALIS 1978:II, 705). Do mesmo modo que para ele a linguagem uma
ao criadora, tambm no h uma realidade fora do universo lingstico.
Tudo deixa-se descrever
5
Verbis. Todas as atividades so ou podem ser
acompanhadas por pal avras assi m como todas as representaes
[Vorstellungen] do Eu (NOVALIS 1978: II, 676). Inspirado por Plotino, Novalis
critica o meio idealismo de Kant e de Fichte em nada potico e prega
um experimentar ativo: O meio livre de gerao da verdade ainda pode ser
muito ampliado e simplificado a saber, aperfeioado. [...] Deve-se poder
em toda parte presentificar a verdade em toda parte representar (no sentido
ativo, produtivo) (NOVALIS 1978:II, 687). Novalis via na crena na repre-
sentao verdadeira, perfeita a fonte da superstio e do erro (NOVALIS
1978: II, 637); a sua viso poitica da linguagem impedia-o de diferenciar
os signos da linguagem [...] dos demais fenmenos (NOVALIS 1978:II, 691).
Nesse ponto tambm Novalis pretendia apenas levar adiante um ideal que
ele j vira em Fichte, a saber a exigncia fichteana do simultneo pensar,
Mrci o Sel i gmann-Si l va 99
atuar e observar (NOVALIS 1978:II, 610). A imaginao, Einbildungskraft,
seria o rgo dessa unidade, assim como ela que une o filosofar e o poetar
(NOVALIS 1978: II, 182). Atravs do magismo ou do sintesismo da Fantasia
(Magismus oder Synthesism der Fantasie) a filosofia torna-se para Novalis
Idealismo mgico (NOVALIS 1978:II, 671). Em vez da descrio analtica
que estaria ainda na esfera da filosofia como representao/imitatio do mun-
do, como busca da conceituao para uma verdade ainda no-nomeada,
Novalis fala da definio geradora, dos nomes geradores como palavra
mgica (NOVALIS 1978:II, 381s). Em vez da representao, da concepo da
filosofia como traduo no sentido platnico deste termo, os romnticos
pregam um modelo (auto)gerativo da mesma. Schlegel tambm via na no-
o de verdadeuma funo relacional: Verdade refere-se a relaes, no a
coisas (SCHLEGEL 1963:XVIII, 410 [V 1076]). Como para ele Ascoisasen-
contram-sena conscincia (SCHLEGEL 1963:XVIII, 449 [VI 197]) e o pensa-
mento produtivo, a verdades pode ser pensada a partir de cada indivduo
produtor: Toda verdaderelativa (SCHLEGEL 1963: XVIII, 417 [V 1149]).
6
Est i l o
O elemento ativo que os romnticos atribuem filosofia expressa-se
tambm no estilo da sua exposio. A conhecida oposio dos romnticos
exposio sistemtica parte dessa concepo poitica da filosofia. Jacobi
fora um dos primeiros a introduzir a noo de certeza imediata, unmittelbar
Gewiheit (denominada por ele tambm sentimento, Gefhl), que no
pode ser fundamentada na definio do saber, Wissen, que, de outro modo
teria a forma de uma regresso infinita. Jacobi denominava sentimento
[Gefhl] (ou crena) o saber que se expressa acerca de uma proposio in-
condicional [un-bedingt, no-coisificada]. Crena quer dizer: ver sem mais
um fato como certeza que justamente parece evidente sem carecer de uma
fundamentao extra (FRANK 1995: 17). O saber era visto por Novalis e
Schlegel como uma complementao recproca entre crena e pensar: A
filosofia no deve simplesmente iniciar com proposies no-fundamenta-
das, mas tambm contraditrias, para tornar visvel o totalmente mstico.
Saber in-condicionado crena (SCHLEGEL 1963: XVIII, 407 [V 1045]). Os
primeiro romnticos foram profundamente marcados por essa idia e a apli-
caram ao seu prpri o esti lo. Em vez da anli se e da argumentao
comprobatria das hipteses, eles pregam um estilo absolutamente ttico, a
saber nas palavras de Schlegel: Construir ao invs de definir (SCHLEGEL
100 FRIEDRICH SCHLEGEL E NOVALIS: POESIA E FILOSOFIA
1963: XVIII, 388 [V 815]). Se toda verdade subjetiva, ento tambm a
sua prova deve o ser. Assim faz-se a magia da Retrica (SCHLEGEL 1963:
XVIII, 75 [II 563]). Novalis tambm tratou do poder retrico do afirmar
(NOVALIS 1978: II, 502). Para ambos h um limitedo compreensvel, a partir
do qual no h mais espao para o estilo demonstrativo da filosofia; apenas o
racional, Vernnftiges, pode ser compreendido, j a Natureza, para Schlegel,
s pode ser vista (SCHLEGEL 1963:XVIII, 316 [IV 1484]). (Quanto mais
clssico, parvo, um filsofo , tanto mais ele se prende a essa epideixis). Ape-
nas a apresentao histrica que constri, que no carece de mais nenhuma
forma demonstrativa, objetiva. A demonstrao pertence, portanto, po-
pularidade [Popularitt]. Nada deve e nada pode ser provado (SCHLEGEL
1963: XVIII, 35 [II 174]), afirmou Schlegel, num tom que para um leitor
moderno remete averso de Wittgenstein ao procedimento argumentativo
na exposio filosfica.
7
A recepo da filosofia de Fichte se daria via senti-
do e formao, Sinn und Bildung, e no via demonstrao. O incom-
preensvel no se torna compreensvel via esclarecimento (SCHLEGEL
1963:XVIII, 35 [II 178]), do mesmo modo que polemicamente Schlegel
nega que haja um saber particular filosfico (SCHLEGEL 1963:XVIII, 344
[V 271]). A concepo de apresentao, Darstellung, era, para os romnti-
cos, inseparvel do seu conceito de poesia. A apresentao para a poesia o
que o provar para a filosofia (SCHLEGEL 1963:XVIII, 385 [V 774]), afir-
mou Schlegel no seu modo peremptrio. Se na definio do potico o im-
portante era a acentuao, a saber a posio do potico como darstellerisch,
o que apresenta, em oposio ao filosfico como comunicativo-discursivo,
na medida em que os romnticos elaboraram um conceito afirmativo da
filosofia, eles buscaram alargar o seu horizonte. A noo de teoria que deve-
ria dominar nessa nova definio da filosofia a que Schlegel exps no seu
Gesprch ber diePoesie(Conversa sobrea Poesia) ao determinar o que seria
uma teoria do romance, que seria uma teoria no sentido originrio da pala-
vra: uma intuio espiritual do objeto com todo o nimo calmo e sereno,
como convm ver o valioso jogo das imagens divinas na alegria festiva. E ele
logo em seguida acrescenta: Uma tal teoria do romance deveria ser ela mes-
ma um romance (SCHLEGEL 1967:II, 337).
No local tradicionalmente ocupado pelo conhecimento de fatos, de
elementos estticos, os romnticos colocaram o prprio processo do conhe-
cimento como construo de um saber; em vz de definirem o que o conhe-
cimento seria, eles repetem o movimento infinito de sua criao (cf. NEUMANN
1976:270). O que eles valorizam na exposio filosfica no a capacidade
Mrci o Sel i gmann-Si l va 101
analtica, mas sim, como, se pode ver, por exemplo, no caso do famoso en-
saio de Schlegel sobre Lessing de 1804, a dramaticidade da exposio.
8
A
exposio filosfica compartilha do registro da Darstellungna medida em
que ela se torna apenas uma indicao para o caminho que o receptor deve
seguir com o seu prprio pensamento. Schlegel mimetiza a teoria do seu
objeto de estudo nesse ensaio (Lessing, e sobretudo as idias do Laokoon), na
medida em que ele acentua a importncia da ordem dos pensamentos (Folge
der Gedanken) na exposio prosaica; o essencial nas obras de Lessing no
seria tanto as suas idias tomadas individualmente, mas sim o seu estilo, a
marcha do seu pensamento, que genial, repleta de viradas surpreen-
dentes (SCHLEGEL 1988a:III, 43). Schlegel descarta o sistema fechado como
o modo de exposio da filosofia: a filosofia no teria nada a expor a no ser
a sua prpria busca. O seu resultado indizvel, Unausprechlich. A filo-
sofia deve tambm compartilhar da autonomia do potico e da sua o-posi-
o a um fim (Absicht) determinado: o seu critrio no nem aplicao,
Anwendbarkeit, nem tampouco comunicabilidade (SCHLEGEL 1963: XVIII,
9 [I 54]; 19 [II 9]).
9
A filosofia definida como um eterno ir e vir entre os
pensamentos, como um oscilar, Schweben, infinito:
O conceito, j o nome mesmo da filosofia e tambm toda a sua histria nos ensinam
que ela um eterno buscar e no poder encontrar; e todos artistas e sbios concordam
quanto ao fato de que o mais elevado indizvel, ou seja, em outras palavras: toda
filosofia necessariamente mstica. Naturalmente; pois ela no possui nenhum outro
objeto e no pode ter outro que no aquele que o mistrio de todos os mistrios; um
mistrio s pode e deve ser comunicado de um modo misterioso. [...] Da, finalmente,
a alegoria na expresso do filsofo perfeito, positivo; a identidade da sua doutrina e
conhecimento com a vida e a religio e a passagem da sua viso para a poesia mais
elevada; da tambm, por fim, aquela forma da filosofia que sob todas as condies e
em todas as situaes a duradoura e a que lhe propriamente essencial, a dialtica.
Ela no se vincula meramente reconstruo de uma conversa, ela encontra-se por
toda parte onde ocorre uma mudana oscilante dos pensamentos em conexo progres-
siva, ou seja, em toda parte onde ocorre filosofia. A sua essncia, portanto, consiste
justamente na mudana oscilante, na eterna busca e nunca poder encontrar [...]
(SCHLEGEL 1988a:III, 78s.)
Nessa descrio da filosofia como passagem para a alegoria e para a
poesia em decorrncia da indizibilidadedo mais elevado somos levados ao
tema do simblico na teoria do conhecimento e na esttica romnticas. Po-
der-se-ia demonstrar em que medida a teoria romntica do arabesco j con-
tinha de modo tenso e aberto, no resolvido a polaridade do simblico
e da crtica da representao.
10
102 FRIEDRICH SCHLEGEL E NOVALIS: POESIA E FILOSOFIA
O trabalho do filsofo d-se, portanto, via terminologia e alegoria, in-
tuio e discursividade, costurando entre mundo fenomnico e o ideal.
Essa mesma dualidade ocorre na linguagem potica que nunca pode se auto-
aniquilar enquanto meio, que sempre expresso (indireta): Toda autnti-
ca comunicao simblica (NOVALIS 1978:II, 354), escreveu Novalis. Essa
dualidade da filosofia no na verdade nada mais do que uma manifestao
da lei da Darstellung. Novalis a resumiu na frmula: A troca de esferas
necessria em uma apresentao perfeita O sensvel deve ser apresentado
espiritualmente, o espiritual sensivelmente (NOVALIS 1978:II, 194). Desse
modo voltamos, portanto, concepo romntica do saber, como construo,
como oscilao, Schweben. diferena da noo tradicional do pantesmo,
nos romnticos o todo no um constructo transcendente, que iria alm do
somatrio das partes, mas resultado do movimento das mesmas. A infinitude
da filosofia uma resposta infinitude do movimento da Setzung, do pr, da
reflexo. A concepo do todo como um sistema constitudo a partir da
interao recproca das suas partes foi exposta de modo exemplar por Novalis
nos seus Fichte-Studien: Apenas o todo real Apenas a coisa seria absolu-
tamente real que no fosse novamente parteconstante. O todo consiste apro-
ximadamente como as pessoas jogando que, sem cadeiras, sentam-se num
crculo uma no joelho da outra (NOVALIS 1978:II, 152). Desse modo Novalis
e Schlegel adiantaram a concepo saussuriana da linguagem segundo a qual
em cada elemento lingstico est contido o sistema inteiro (MENNINGHAUS
1987:58). A parolee a languetm uma relao sobredeterminante, a segunda
(a linguagem como um todo) no podendo existir sem a primeira (a sua
execuo prtica): assim como tambm para Wittgenstein as palavras no
falam para voc a partir de si; uma palavra tem significado apenas em uma
frase (WITTGENSTEIN 1984:87).
A filosofia no se caracteriza por um movimento retilneo de gradual
esclarecimento do mundo mas sim cclico, sendo que as curvas, Winkel,
do pensamento expressam justamente o seu carter arbitrrio (SCHLEGEL 1963:
XVIII, 229 [IV 421]). A filosofia como uma Trieb insacivel, como um ir e
vir entre certezas e ceticismos (um jogo entre luz e sombra), um tema
constante dos fragmentos de Schlegel: Ceticismo o estado da reflexo
oscilante (SCHLEGEL 1963:XVIII, 400 [V 955]). O todo deve iniciar com
uma reflexo sobre a infinitude da pulso de saber. [...] (O itinerrio dessa
metafsica deveria se dar em muitos ciclos, sempre em frente e maior). Quando
atingir o fim, deveria semprereiniciar a partir do incio alternando entre
caos e sistema, o caos preparando para o sistema e ento um novo caos. (Esse
Mrci o Sel i gmann-Si l va 103
itinerrio muito filosfico.) (SCHLEGEL 1963:XVIII, 283 [IV 1048]). A filo-
sofia como um movimento de eterna autogerao e autodestruio (SCHLEGEL
1963: XVIII, 111 [II 987]) um resultado da concepo relativista da verda-
de (SCHLEGEL 1963:XVIII, 131 [III 113]), sendo que assim como a poesia,
para os romnticos, era caracterizada por um centro duplo (harmonia e ale-
goria
11
), do mesmo modo o sistema e o caos constituiriam o centro duplo
da filosofia: A filosofia uma elipse que contm dois centros (SCHLEGEL
1963:XVIII, 340 [V 217]). Esse elemento dinmico, ativo, como parte es-
sencial da filosofia uma conseqncia do postulado romntico da Setzung
(o pr) como princpio da mesma que se diferencia da soluo fichteana:
No meu sistema o ltimo fundamento efetivamente uma prova alternante.
No de Fichte um postulado e uma proposio incondicional (SCHLEGEL
1963:XVIII, 521 [Anexo II 22]), afirmou Schlegel. A conseqncia dessa
concepo, para os romnticos, aquele princpio da infinitude da filosofia
a que j me referi aqui, como alis Benjamin o demonstrou na primeira
parte da sua dissertao sobre o conceito romntico de crtica (BENJAMIN
1993:51), lanando mo, por exemplo, desse importante fragmento:
Na base da filosofia deve repousar no s uma prova alternante [Wechselbeweis], mas
tambm um conceito alternante[Wechselbegriff]. Pode-se a cada conceito e a cada prova
perguntar novamente por um conceito e pela sua prova. Da a filosofia ter de comear,
como a poesia pica, pelo meio, e impossvel recit-la e contar parte por parte de modo
que a primeira parte ficasse completamente fundamentada e clara para si. Ela um todo,
e o caminho para conhec-la no , portanto, uma linha reta, mas sim, um crculo. O
todo da cincia fundamental deve ser derivado de duas idias, proposies, conceitos,
intuies sem recurso a outra matria. (SCHLEGEL 1963:XVIII, 518 [Anexo II 16])
Novalis j lera em Jacobi que, na medida em que conectamos um
predicado a um objeto, ns determinamos o mesmo. O da frmula a
[igual a] a no apenas representa um juzo predicativo, mas tambm estabe-
lece o ser de a. A filosofia como Darstellung, no sentido romntico dessa
palavra, significaria a soluo do insolvel: Se o carter do problema dado
a no-soluo, ento ns o solucionamos se ns apresentarmos a sua
insolubilidade. Ns sabemos o suficiente de a quando ns vemos que o seu
predicado a (NOVALIS 1978:II, 613).
Como Schlegel afirmou num dos fragmentos da Athenum, a filosofia
deveria ser uma unidade como num tirso ou num arabesco entre retas e
curvas. A filosofia moderna teria o problema de justamente ter retas de-
mais e de no ser suficientemente cclica (SCHLEGEL 1967:II, 171). O ele-
mento cclico visto ao mesmo tempo como um plo alternantecom a reta e
104 FRIEDRICH SCHLEGEL E NOVALIS: POESIA E FILOSOFIA
como superao dessa polaridade. A filosofia cclica no nada mais do que o
transcendental realizado (SCHLEGEL 1963:XVIII, 350 [V 359]), ou seja, a
tentativa de ligao do ideal e do real, que para Schlegel e Novalis sempre
paradoxal: A mais elevada apresentao do inconcebvel sntese unifica-
o do que no pode ser unido pr da contradio, como no-contradi-
o (NOVALIS 1978:II, 16)12, afirmou o ltimo. E ainda: Apenas via um
salto [Sprung] vai-se do universal arbitrrio, de n para o singular, individu-
al determinado. O manuseio da efetividade segundo a frmula do necess-
rio fornece o ideal. (Todas as relaes autnticas so simultaneamente mediatas
e imediatas.) (NOVALIS 1978:II, 643). E Schlegel escreveu por sua vez: A
passagem sempre um salto (SCHLEGEL 1963:XVIII, 304 [IV 1325]). Esse
salto, Sprung, que marca cada passagem, cada volta do pensamento, e que
constitui a prpria filosofia, caracteriza-a como um perpetuum mobile, um
eterno saltar que constitui o seu prprio Ur-Sprung(origem) como um es-
quema da proto-posio, Ur-Setzung. Novalis tambm caracterizou a filoso-
fia como uma (paradoxal) resposta atrao pelo desconhecido; para ele
todo pensado prende-se [...] ao impensvel (NOVALIS 1978:II, 423). Ou
ainda: O desconhecido, misterioso, o resultado e o incio de tudo [...] O
conhecimento um meio para se atingir novamente o no-conhecimento
(NOVALIS 1978:II, 536). O problema, a tarefa infinita, em termos fichteanos
(depois retomado no conceito benjaminiano de Aufgabecomo tarefa/aban-
dono do tradutor), tanto o incio como o resultado da filosofia. O motor
que estaria na fonte da filosofia uma casa vazia, que Novalis denomina
Erkenntnivermgen, faculdade de conhecimento.
O desconhecido o atrativoda faculdade de conhecimento. O conhecido no atrai
mais. Absolutamente desconhecido = atrativo absoluto. Eu prtico. A faculdade de
conhecimento a si mesma o maiselevado atrativo o absolutamente desconhecido
(NOVALIS 1978:II, 379).
Ou seja, o conhecimento novamente descrito como um movimento
circular de auto-reflexo13 e auto-poiesis. H uma concepo positiva do
desconhecido e da no-compreenso, Unverstndlichkeit; eles so a fora pro-
dutora do saber, e um lado s existe em funo do outro. Schlegel expressou
essa concepo de modo mais acabado no seu ber dieUnverstndlichkeit
(Sobrea incompreensibilidade). A defesa do lado obscuro do conhecimento
que se l nesse texto no deve ser confundida com uma mera apologia da
impossibilidade de se penetrar nos mistrios do universo e da nossa alma.
Para alm da evidente ironia contra um certo Iluminismo, Schlegel antes
Mrci o Sel i gmann-Si l va 105
constata a total dependncia entre o saber e o no-saber; percebe o conheci-
mento como um jogo, e mesmo, como uma simulao, Verstellung a solu-
o romntica para a questo da Vorstellung, representao e hipocrisia,
Heuchelei. O soleil noir aparece como apenas a outra face inexorvel do sol
luminoso.
Mas ser que a incompreensibilidade algo to completamente ruim e desprezvel?
Parece-me que a salvao das famlias e das naes baseia-se nela; se no sou iludido
por tudo, Estados e Sistemas, as obras mais artificiais das pessoas, [so] freqentemen-
te to artificiais que no podemos parar de admirar a sabedoria do criador que a se
encontra. Uma poro incrivelmente pequena suficiente se ela for conservada de
modo inviolavelmente fiel e puro, e nenhum entendimento pecador deve ousar apro-
ximar-se das fronteiras santas. Sim, o mais precioso que a humanidade possui, o con-
tentamento interno mesmo depende, como qualquer um pode facilmente sab-lo, em
ltima anlise, em algum lugar, de um de tais pontos que devem ser deixados na
escurido para que o todo seja suportado e conservado, e essa fora seria perdida no
mesmo momento em que se quisesse dissolv-lo no entendimento. Na verdade vocs
se assustariam se todo o mundo, como vocs o exigem, uma vez se tornasse seriamente
de todo compreensvel. E esse mundo infinito mesmo no formado via compreenso
a partir da incompreensibilidade ou do caos?(SCHLEGEL 1967: II, 370)
14
Ordo i nversus
A viso do saber como o avesso do no-saber e, portanto, da identidade
como jogo de determinao e diferena fez com que Novalis acentuasse rei-
teradas vezes o fato de que s h definio atravs da sada do objeto a ser
definido, s h a se no-a, ou como ele expressou: A essncia da identidade
s deixa-se expor em uma pseudo-proposio. Ns abandonamos o idntico
para apresent-lo (NOVALIS 1978:II, 8). Toda definio, portanto, tam-
bm um reflexo, uma inverso (NOVALIS 1978:II, 19). O ponto de vista
relativo sempre inverte a coisa (NOVALIS 1978:II, 27); O eu analtico alter-
na novamente com si mesmo como o eu pura e simplesmente na intui-
o Alternam imagem e ser. A imagem sempre o avesso do ser. O que a
direita na pessoa, a esquerda na imagem (NOVALIS 1978:II, 47; cf. FRANK
e KURZ 1977). F. Schlegel tambm expressou essa mesma ordem de idias,
como em seu ber Lessing: De modo total e em sentido rigoroso nin-
gum conhece a si mesmo. [...] no podemos ver o solo sobre o qual estamos
(SCHLEGEL 1967:II, 115). Essa lei da determinao recproca dos opostos ele
elevou lei da Bildung(formao/cultura) mesma, i. e. s a partir da sada de
si que se desdobra e se cria o si mesmo. Bildung sntese antittica e perfei-
106 FRIEDRICH SCHLEGEL E NOVALIS: POESIA E FILOSOFIA
o at a ironia. Em uma pessoa que atingiu uma certa altura e universali-
dade da Bildungo seu interior uma cadeia progressiva das revolues as
mais monstruosas (SCHLEGEL 1963:XVIII, 82s. [II 637]). A auto-negao e
a contradio levam a essas revolues (a essas mudanas de posio) que
resultam na Bildung, a saber, na construo do ser. Essa concepo do ser, da
identidade, aqui totalmente diversa da que se v, por exemplo, em Herder.
No se trata de uma imitao de si mesmo, que estaria no fim da Bildunge
da filosofia, mas sim de uma concepo poitica do eu como (auto)criao a
partir do seu prprio ser, que para os romnticos implica sempre necessa-
riamente uma relao construtora com o no-eu. No seu curso de filosofia
de Colnia, Schlegel determinou como sendo uma das leis principais de
todo tornar-se a que anuncia o saltar no oposto (berspringensin das
Gegenteil, SCHLEGEL 1964:XIII, 25). Para ele e Novalis o Eu existe apenas
no trnsito fora de si, o ek-sistieren apresenta-se como Ek-stasis(FRANK
1995: 26, 31): O eu puro ns vemos, portanto, sempre fora o eu puro o
objeto. Ele est em ns e ns o vemos ao mesmo tempo fora de ns (NOVALIS
1978:II, 40). O Eu puro visto como uma fico necessria ou seja, den-
tro do paradigma do doublebind, como impossibilidade e necessidade: tudo
que puro tambm uma iluso da imaginao uma fico necessria
(NOVALIS 1978:II, 87). O princpio que guia o nosso conhecimento o da
ordo inversus.
15
Em vez do regime monolgico, Schlegel prega um eterno
dualismo: A intuio intelectual no nada seno a conscincia de uma
harmonia preestabelecida, de um dualismo necessrio e eterno (SCHLEGEL
1963: XVIII, 280 [IV 1026]).
Para os romnticos a poesia era ela mesma uma fora auto-poitica e
irredutvel. O espritodo texto constituiria um ser infinito (SCHLEGEL 1963:
XVIII, 115 [II 1044]). O absoluto literrio que os primeiros romnticos
fundaram tambm uma figura da sua filosofia, a saber da filosofia como
auto-poiesis. O discurso filosfico romntico uma constante reflexo sobre
esse absoluto que estaria na origem da filosofia e para o qual haveria apenas
uma expresso sem-nome (NOVALIS 1978:II, 524). A crtica ao sistema ori-
gina-se justamente da impossibilidade de se nomear, conceituar e conhe-
cer o Absoluto (Assim que algo sistema, ento ele no absoluto. A unida-
de absoluta seria algo como um caos de sistemas; SCHLEGEL 1964: XII, 5),
sendo que esse absoluto, como vimos, no seria nada mais do que essa pr-
pria busca. Por outro lado, com relao ao outro plo do sistema, o caos,
Schlegel escreveu: A essncia do caos parece localizar-se na sua absoluta
negatividade (SCHLEGEL 1963:XVIII, 228 [IV 406]). A Poesia ou o poti-
Mrci o Sel i gmann-Si l va 107
co, que pode atuar em qualquer discurso seria a nica forma de conheci-
mento do todoe, portanto, de re-conhecimento do Caos, porque ela seria
a linguagem da Umweg, do desvio, que nos guiaria para o caminho que
permite a viso correta desse todo. Essa concepo topogrfica da verdade
representa mais uma revoluo romntica do que uma repetio e continui-
dade. poesia caberia, portanto, no apenas a possibilidade de salvar o
individual do domnio da abstrao conceitual homogeneizadora, mas tam-
bm a perspectiva que permite a visualizao do todo. O percurso mais indi-
vidual, na verdade o nico possvel e a nica forma de se ver o centro:
Eu pronunciei algumas idias, que indicam para o centro, eu saudei a alvo-
rada a partir da minha viso, do meu ponto de vista. Quem sabe o caminho,
faa o mesmo a partir de sua viso, de seu ponto de vista (SCHLEGEL 1967:II
272), escreveu Schlegel referindo-se s suas prprias Ideen.
A filosofia para Novalis s existe enquanto interao em Wechselwirkung,
ao alternante, vale dizer com a poesia. Se o potico tanto representante
do individual como da visada do todo, o filosfico representa o momento
universal, um no podendo ser sem o outro. Para Novalis, portanto, a poe-
sia o heri da filosofia.
16
A faculdade central da poesia, ou seja a imagina-
o, e a da filosofia, o entendimento, tambm no podem agir isoladamen-
te: sem a imaginao com o seu trabalho de esquematizao transcendental
no h conceitos; do mesmo modo, sem esses ltimos, no h um sentido,
um nexo significante para cada uma das partes. Essa idia tanto Novalis
como Schlegel expressaram de vrias maneiras:
Unidade do entendimentoe da imaginao. Sem filosofia fica-se desunido no que
concerne s foras essenciais So duas pessoas Um com entendimento e um
poeta.
Sem filosofia, poeta incompleto Sem filosofia, pensador incompleto (NOVALIS 1978:
II, 321; Cf. ainda NOVALIS 1978:II, 318; 321 s.)
Toda a histria da poesia moderna um comentrio contnuo ao curto texto da filoso-
fia: toda arte deve tornar-se cincia, e toda cincia, arte; poesia e filosofia devem ser
unificadas. (SCHLEGEL 1967:II, 161)
A passagem da filosofia para a poesia segue a lei do tornar-se que vimos acima.
Novalis v uma passagem, no sentido de uma superao contnua, que leva da cincia,
passa pela filosofia e atinge a poesia (NOVALIS 1978:II, 636). O poeta tomado como
um objetivo que todos devem atingir; da ele poder falar de graus do poeta e negar
que haja uma separao entre o poeta e o pensador (NOVALIS 1978:II, 645).
17
108 FRIEDRICH SCHLEGEL E NOVALIS: POESIA E FILOSOFIA
Resumo: O artigo apresenta a teoria do
conhecimento de Friedrich Schlegel e
Novalis a partir de duas questes princi-
pais: a) a relao entre a poesia e a filo-
sofia, que funciona nestes autores no sen-
tido da desconstruo de uma polarida-
de fixa entre a linguagem potica e a pro-
sa como linguagem de representao
(neste ponto a filosofia definida como
ao infinita, onde a soluo do pro-
blema a prpria atividadefilosfica);
b) a relao estruturante entre a lingua-
gem e o estilo (j que no existe separa-
o possvel entre linguagem e mundo,
e que a filosofia no visa descobrir nada,
o pensamento sai do registro do descri-
ti vo e se torna pr ati vo, onde a
infinitude da filosofia uma resposta
infinitude do movimento da Setzung, do
pr, da reflexo). A filosofia no se ca-
racteriza por um movimento retilneo
de gradual esclarecimento do mundo ,
mas sim por um percurso cclico, sendo
que as curvas, Winkel, do pensamento
expressam justamente o seu carter arbi-
trrio. A filosofia vista como uma Trieb,
pulso, insacivel, como um ir e vir
(Schweben) entre certezas e ceticismos,
autogerao e autodestruio, compre-
enso e incompreenso. O acento na lin-
guagem e na sua capaci dade de
Darstellunge no na de representao
corresponde a uma valorizao do pen-
sador como gnio (assim como o poe-
ta, para Kant) e da imaginao, em de-
trimento do acento iluminista no enten-
dimento. O poeta tomado para Novalis
como um objetivo que todos devem atin-
gir; da ele poder falar de graus do poe-
ta e negar que haja uma separao entre
o poeta e o pensador.
Palavras-chave: Novalis, Friedrich Schlegel,
Poesia e Filosofia.
Abstract: The article presents Friedrich
Schl egel s and Noval i s t heory of
knowl edge parti ng from two mai n
questi ons: a) the rel ati on between
philosophy and poetry in the sense of a
di sconstructi on of the fi x pol ari ty
between poetic language, and prose as
the language of representation (at this
point philosophy is defined as infinite
action, and the solution of the problem
turns out to be the philosophical work as
such), b) the structural relation between
language and style (once there is no
possible separation between language and
the world, and once philosophy has no
intention to discover anything, thought
abandons the register of the descriptive
to become a form of active putting,
where the infinitude of philosophy is a
response to the infinitude of the Setzung
moment, of the putting, of reflection).
Philosophy is not characterized by a
rectilinear movement of gradual clarifying
of the world but by a cyclical one, where
the curves, Winkel, of thought express
preci sel y i t s arbi t rary charact er.
Philosophy is understood as insatiable
Trieb, or pulsi on, as an osci llati on
(Schweben) between certai nti es and
skepticism, self-generation and self-
determi nati on, comprehensi on and
incomprehension. The accent on language
and on its Darstellungcapacity and not
on its capacity to represent corresponds
to a valorization of the thinker as genius
(as the poet for Kant), and of the
i magi nati on, i n detri ment of the
illuminist centrality of understanding.
The poet is seen by Novalis as an aim to
everyone, in this sense he can speak of
poets levels, and deny a separation
between the poet and the thinker.
Keywords: Novalis, Friedrich Schlegel,
Poetry and Philosophy.
Mrci o Sel i gmann-Si l va 109
Not as
1
Com relao a Walter Benjamin e Derrida cf. o meu ensaio SELIGMANN-SILVA 1999a.
2
Cf. Manfred Dick (1967:231) que nota que para Novalis a filosofia no equivaleria a uma busca das
ltimas causas mas sim permite que surja o Absoluto no ato de filosofar.
3
Para Novalis o gnio em geral potico. Onde o gnio atuou ele atuou poeticamente. A pessoa
autenticamente moral poeta (NOVALIS 1978:II, 325).
4
As conseqncias dessa concepo para a teoria romntica da traduo so enormes. Tratei desse
ponto no meu livro: 1999:32-37.
5
Com exceo da filosofia que, segundo o fragmento que citamos acima, s apresentvel via prti-
ca. Na verdade Novalis tenta mostrar que a filosofia no se reduz ao discursivo, mas, por outro lado,
no se pode ir alm da linguagem, pode-se apenas sugerir esse campo, via alegoria.
6
Esse um ponto central nas suas Vorlesungen de filosofia de Colnia. Cf. SCHLEGEL 1964:XII, 92ss. e
316ss.
7
Cf. a famosa passagem da carta de Russel a Ottoline Morell que fala da averso de Wittgenstein aos
argumentos e da sua atrao pelo simples afirmar.
8
A comunicao deve ser amigvel, portanto vivaz, e o estilo enrgico, de um certo modo toda a
preleo deve ser dramtica. No deve ocorrer como se algum ensinasse apenas a si mesmo, mas sim
como em uma conversa; o leitor deve sentir-se a todo o momento solicitado; a marcha dos pensamen-
tos no deve ser furtiva e medrosa, p ante p, mas sim arrebatar tudo em volta com fora veloz.
Friedrich Schlegel, Lessings Gedanken und Meinungen, SCHLEGEL 1988a: III, 42. A crtica da linea-
ridade da exposio filosfica encontrou o seu correlato tanto na crtica da linearidade temporal da
representao histrica, como tambm na recusa de um modelo mimtico do conhecimento: no h
descrio pura, massimconstruo do real. interessante notar que o que vale para a teoria da mmesis
ou traduo da realidade reelaborado e aprofundado quando se trata da teoria romntica da
traduo interlingstica. Isso fica ainda mais patente nas tradues de Hlderlin e nas suas reflexes
sobre a diferena entre a Grcia e a Modernidade. Cf. entre outros comentadores, BERMAN 1984 e
1987 e o livro recentemente publicado de ROSENFIELD 2000.
9
Cf. Quem no filosofa em funo da filosofia, mas antes utiliza a filosofia como meio, um sofista
(SCHLEGEL 1967: II, 179), i.e. visa ao convencimento, um elemento exterior ao poitico.
10
Cf. SELIGMANN-SILVA 2001.
11
Cf. SELIGMANN-SILVA 2001.
12
Cf. tambm o Bltenstaub de nr. 26 de autoria de Schlegel (1967: II, 164).
13
Essa idia uma conseqncia da radicalizao do princpio kantiano segundo o qual o eu penso,
ich denke, acompanha todas as nossas representaes, Vorstellungen. Cf. as prelees de filosofia de
Schlegel (SCHLEGEL 1964:XII, 351). Nessas Vorlesungen Schlegel criticou o conceito de no-eu,
Nicht-Ich, porque ele compactuaria com a idia de que existe algo fora do eu, uma coisa-em-si, e
portanto uma finitude, um limite do eu. Ele props ao invs desse conceito o de contra-eu, Gegen-
Ich (SCHLEGEL 1964: XII, 338).
14
Cf. ainda: Pr-se a esfera da incompreensibilidade e confuso um patamar elevado e talvez o
ltimo da formao do esprito. O compreender do caos consiste em reconhecer (SCHLEGEL 1963:
XVIII, 227 [IV 396]). Com base nessa teoria positiva da Unverstndlichkeit como parte da compreen-
110 FRIEDRICH SCHLEGEL E NOVALIS: POESIA E FILOSOFIA
so, como seu plo alternante, a frase Toda prosa sobre o mais elevado incompreensvel (SCHLEGEL
1963: XVIII, 254 [IV 723]) revela a sua outra face no-metafsica.
15
Cf. os estudos de Fichte de Novalis (NOVALIS 1978: II, 32).
16
A poesia o heri da filosofia. A filosofia eleva a poesia a princpio. Ela nos ensina a conhecer o
valor da poesia. Filosofia a teoria da poesia. Ela mostra-nos o que a poesia , que ela tudo e o todo.
NOVALIS 1978:II, 380.
17
Este texto foi publicado como um captulo na coletnea EstudosAnglo-GermnicosemPerspectiva,
org. por Izabela M. Furtado Kestler, Ruth P. Nogueira e Slvia B. de Melo, Rio de Janeiro: Faculdade
de Letras da UFRJ, 2002.
Bi bl i ograf i a:
Benjamin, Walter. 1974. GesammelteSchriften, org. por R. Tiedemann und
H. Schweppenhuser, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, vol. I: Abhandlungen.
Benjamin, Walter. 1993. O Conceito deCrtica deArteno Romantismo Alemo,
trad. pref. e notas M. Seligmann-Silva, So Paulo: Iluminuras/ Edusp.
Berman, Antoine. 1984. Lpreuvedeltranger. Cultureet traduction dans
lAllemagneRomantique, Paris: Gallimard.
Berman, Antoine. 1987. Hlderlin, ou la traduction comme manifesta-
tion. In: B. Bschernstein/J. Le Rider (orgs.), Hlderlin vu deFrance,
Tbingen.
Dick, Manfred. 1967. DieEntwicklung des Gedankens der Poesiein den
Fragmenten desNovalis, Bonn.
Fichte, Johann Gottlieb. 1971. SmtlicheWerke, hrsg. von I.H.Fichte, Ber-
lin: Walter de Gruyter & Co., vol. 1.
Frank, Manfred. 1995. Friedrich von Hardenbergs philosophischer
Ausgangspunkt. In: Wolfram Hogrebe (org.), FichtesWissenschaftslehre
1794. PhilosophischeResonanzen, Frankfurt a. M., 13-34.
Frank, Manfred e Kurz, Gerhard. 1977. Ordo inversus. Zu Reflexionsfigur
bei Novalis, Hlderlin, Kleist und Kafka. In: Anton, Herbert (org.):
Geist und Zeit. Festschrift fr Arthur Henkel, Heidelberg, pp. 75-97.
Neumann, Gerhard. 1976. Ideenparadies. Untersuchungen zur Aphoristik von
Lichtenberg, Novalis, Friedrich Schlegel und Goethe, Mnchen.
Novalis. 1978. Werke, Tagebcher und Briefe, org. por H.-J. Mhl e R. Samuel,
Mnchen: Hanser, trs vols.
Novalis. 1988. Plen. Fragmentos, dilogos, monlogo, introduo, traduo e
comentrios R.R.Torres Filho, So Paulo: Iluminuras.
Mrci o Sel i gmann-Si l va 111
Rorty, Richard. 1982. Philosophy as a kind of writing. An essay on Derrida.
In: R. Rorty, Consequencesof pragmatism (Essays1972-1980). Minneapo-
lis, pp. 90-109.
Rosenfield, Kathrin. 2000. Antgona deSfoclesa Hlderlin, P. Alegre:
L&PM.
Schlegel, Friedrich. 1958 e seguintes. KritischeFriedrich Schlegel Ausgabe,
org. por Ernst Behler, Muenchen/Paderborn/Wien: Ferdinand Schoningh.
Schlegel, Friedrich. 1988a. KritischeSchriften und Fragmente, Mchen,
Paderborn, Wien u. Zrich.
Seligmann-Silva, Mrcio. 1999. Ler o Livro do Mundo. Walter Benjamin:
romantismo ecrtica potica, S. Paulo: Iluminuras.
Seligmann-Silva, Mrcio. 1999a. Doublebind: Walter Benjamin, a Traduo
como Modelo de Criao absoluta e como Crtica. In: LeiturasdeWalter
Benjamin, org. por M. Seligmann-Silva, So Paulo: Annablume/Fapesp,
pp. 15-46.
Seligmann-Silva, Mrcio. 2001. Alegoria, Hierglifo e Arabesco: Novalis e
a poesia como poiesis. In: Poesia Sempre, Biblioteca Nacional, Rio de
Janeiro, n. 14, agosto/2001. 179-188.
Wittgenstein, Ludwig. 1984. Vorlesungen 1930-1935, trad. Joachim Schulte,
Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
112 NOVALIS, NEGATIVIDADE E UTOPIA
NOVALIS, NEGATIVIDADE E UTOPIA
Vera Li ns*
Poetar gerar.
Novalis
OS FRAGMENTOS DE NOVALIS, reunidos em Plen, podem ser considerados o
manifesto do primeiro romantismo alemo.
1
Publicados pela primeira vez,
em 1798, na revista Athenaeum, neles se condensam as propostas do grupo
de Iena de revoluo pela poesia, i.e, transformao do mundo pela imagi-
nao produtora: Estamos numa misso. Para a formao da Terra fomos
chamados,
2
diz Novalis.
A Revoluo Francesa inflamava esses romnticos, crticos da Aufklrung,
que, no entanto, viviam sob o estado prussiano. Mas sua revoluo se basea-
va numa mudana epistemolgica. Para Schlegel A Revoluo francesa, a
filosofia de Fichte, e o Meister de Goethe so as grandes tendncias da poca
[...].
3
Insatisfeitos com os novos tempos eram crticos do projeto moderno:
Outrora era tudo apario de espritos. Agora no vemos nada, seno morta
repetio, que no entendemos. A significao do hierglifo falta. Vivemos
ainda do fruto de tempos melhores.
4
Convencidos do progresso humano
como seus predecessores iluministas, acreditavam que o modo de pensar
transcendental ou romntico, tornado possvel por Fichte e Kant, era cen-
tral, historicamente, como a revoluo mesma. Novalis diz em Plen:
O mundo precisa ser romantizado. Assim reencontra-se o sentido originrio. Roman-
tizar nada seno uma pontenciao qualitativa. O si mesmo inferior identificado
com um si mesmo melhor nessa operao. Assim como ns mesmos somos uma tal
srie potencial qualitativa. Essa operao ainda totalmente desconhecida, na medida
em que dou ao comum um sentido elevado, ao costumeiro um aspecto misterioso, ao
conhecido a dignidade do desconhecido, ao finito um brilho infinito, eu o romantizo.
5
*VERA LINS, Doutora em Letras pela UFRJ em 1995, Professora de Teoria Literria e Literatura
Comparada do Programa de Ps-Graduao em Cincia da Literatura da Faculdade de Letras da
UFRJ. autora de Gonzaga Duque, a estratgia do franco-atirador (Tempo Brasileiro, 1991) e Novos
Pierrs, velhossaltimbancos(Secretaria de Cultura do Paran, 1998).
112
Vera Li ns 113
Romantizar seria uma outra forma de pensar, com a razo auto-reflexi-
va que inclui a imaginao, e assim se emancipa da argumentao lgica,
prpria da razo instrumental capitalista. Romantizar pensar poeticamen-
te, e os fragmentos so experincias de pensamento.
Os primeiros romnticos viam a subjetividade, condio para uma ra-
zo auto-reflexiva, problemtica, no processo social de modernizao atravs
da dominao da sociedade pelo valor de troca. No consideravam mais
legtima a relao sujeito contraposto ao objeto como no modelo da
epistemologia positivista. Do entendimento do outro faz parte o auto-en-
tendimento. Em Plen: Como pode um ser humano ter sentido para algo,
se no tem o germe dele dentro de si. O que devo entender tem de desenvol-
ver-se em mim organicamente e aquilo que pareo aprender apenas ali-
mento do organismo
6
.
Perguntavam pela liberdade de constituio da subjetividade. A vida
est para ser criada assim como o sujeito, que vai ser para eles pura atividade
da imaginao. O eu tanto atividade como produto dessa atividade: Eu
escolha e realizao da esfera de liberdade individual, ou auto-atividade. Fichte
se ps em obra, como Brown s que ainda mais universal e absolutamen-
te.
7
Mas a auto-representao do eu, embora imperativa, impossvel, o
que leva o eu atividade constante. Novalis nos define como projeto: Para
o mundo procuramos o projeto esse projeto somos ns mesmos. O que
somos?Pontosonipotentespersonificados. A execuo, enquanto imagem do
projeto, tem, porm de lhe ser igual na livre-atividade e auto-referncia e
inversamente.
8
Apenas o eu prtico pode ser apreendido: A compreender-nos total-
mente, ns no chegaremos nunca, mas podemo-nos, e iremos, muito mais
que compreender
9
. Na verdade, o termo imaginao um outro nome para
o eu que pura atividade, produtividade: Tornar-se humano uma arte.
10
E ainda: cada ser humano uma pequena sociedade.
Para Seyhan, Novalis no v a identidade como um princpio primor-
dial que engendra uma diviso sujeito-objeto:
Ela agora a atividade conjunta de companheiros num empreendimento comunicati-
vo. Ainda mais, nos escritos de Novalis o eu fichteano transformado num corpo
social. Os espaos entre o sujeito e o mundo, eu e tu e objetos e representaes passam
do domnio terico ao prtico, informado por uma realidade textual e dialgica. No
h mais como escapar da linguagem; estamos dentro de uma teia de palavras que
definem nosso ser.
11
114 NOVALIS, NEGATIVIDADE E UTOPIA
O objetivo do projeto romntico era destruir o poder de uma razo
petrificadora e petrificada de forma que uma subjetividade livre pudessse se
constituir. Aqui entra a imaginao, para Kant, faculdade produtiva de cognio.
Com ela, libertavam-se da lgica. Para os romnticos, atos desconstru-
tivos e anrquicos da imaginao na relao do poeta com a linguagem eram
a condio bsica para a recuperao da subjetividade, levavam a uma eman-
cipao fundamental da instrumentalidade: O poeta conclui assim que co-
mea o trao. Se o filsofo apenas ordena tudo, coloca tudo, o poeta dissol-
veria todos os elos. Suas palavras no so signos universais so sons pala-
vras mgicas que movem belos grupos em torno de si.
12
A imaginao tem
papel central no pensamento de Novalis, para quem a razo prtica pura
imaginao.
Afirmavam liberdade quanto representao, atravs da conscincia de
que impossvel representar o absoluto. Seu conceito de representao aponta
para a ausncia do que representado, e a palavra Darstellungse distingue
como apresentao. A poesia manifesta no mundo sensvel o que est fora
dele, a flor ausente de todos os buqus de Mallarm. Essa apresentao
uma livre atividade criadora, que no se situa nem no sujeito nem no objeto.
Acontece na linguagem:
Mas, e se eu fosse obrigado a falar?E esse impulso a falar fosse o sinal da instigao da
linguagem, da eficcia da linguagem em mim?E minha vontade s quisesse tambm
tudo a que eu fosse obrigado, ento isto, no fim, sem meu querer e crer, poderia sim
ser poesia e tornar inteligvel um mistrio da linguagem?E ento seria eu um escritor
por vocao, pois um escritor bem, somente, um arrebatado da linguagem?
13
Liberdade e infinito so conceitos necessrios para o jogo livre da apre-
sentao pela imaginao produtora. O fragmento nega o postulado de uma
representao contnua e introduz quebras no fundamento da idia. Na poe-
sia o resultado do livre jogo da imaginao o arabesco, o verso que Hugo
Friedrich
14
encontra em Baudelaire, Rimbaud e Mallarm. A crtica um
dilogo com o original, poesia e crtica tm que partilhar a mesma lingua-
gem. Com isso rompem barreiras entre diferentes formas de conhecimento,
filosofia, crtica, cincia e religio: O melhor nas cincias seu ingrediente
filosfico como a vida no corpo orgnico. Desfilosofem-se as cincias o
que resta terra, ar e gua. Transformam o mundo num livro a ser decifra-
do, lido e escrito.
Novalis tinha o projeto de uma enciclopdia, cujo rascunho foi seu
DasallgemeineBrouillon. Uma enciclopdia um livro infinito. H um livro
Vera Li ns 115
de Werner Vortriede
15
que mostra a relao dos simbolistas franceses com
Novalis e o primeiro romantismo alemo. No Brasil, o crtico simbolista
Nestor Vtor escreve sobre OsdiscpulosdeSase os Fragmentos, em 1889, e
descobre no poeta alemo a genealogia de Mallarm.
16
Mas se o perigo da
estetizao ronda alguns simbolistas, nos primeiros romnticos dominaria a
criticidade de sua produo.
Poesia vai ser para eles reconhecer um objeto como referente no so-
mente a si mesmo, mas ao solo de referncia do eu, reconhecendo-o no
somente como objeto mas como um objeto para a conscincia. A realidade
do mundo como se apresenta a ns assim uma realidade significativa. O
mundo real, mas sua realidade fala a linguagem prescrita pela conscincia.
Por isso falam de uma poetizao da natureza. Tudo est a ser produzido: A
vida no um romance dado a ns, mas um romance feito por ns.
17
Para Novalis, o momento objetivo da conscincia no acontece sem um
momento subjetivo. No fragmento 26 de Plen, afirma:
[...]O primeiro passo vem a ser olhar para dentro contemplao isolante de nosso eu
Quem se detm aqui s logra metade. O segundo passo tem de ser eficaz olhar para
fora observao auto-ativa, contida, do mundo exterior.
18
Para Molnr,
19
cujo livro sobre Novalis ajuda a compreender a singula-
ridade de seu pensamento, essa primazia da autoconscincia no implica que
tudo foi levado para o interior do indivduo e houve uma retirada para o
solipsismo. A filosofia transcendental permite uma perspectiva que d conta
do que conscientemente real e da realidade referida. O eu est continua-
mente afetado pela experincia, assim em constante mudana aquilo a que
a afetao atribuda constitui o mundo em que se vive , o mundo o que
afeta o sujeito, assim conscincia do mundo conscincia do eu, que, por
sua vez, produtividade, um centro produtivo, atividade. Tudo essencial-
mente um produto da atividade do eu.
Apenas o pr-requisito de se dirigir para dentro tem sido geralmente
reconhecido como a direo tpica do idealismo alemo. No entanto o opos-
to o verdadeiro. O indivduo precisa olhar para fora e ter experincias no
mundo para realizar o potencial inato do eu em toda a sua extenso. Esse
processo pode ser visto como uma viagem, de um comeo indefinido a um
objetivo tambm indefinido e esse o desenvolvimento e a formao dos
quais o Wilhelm Meister de Goethe o paradigma. O caminho mstico na
direo de uma reunio com a realidade se transforma num processo de
auto-realizao em que ser humano significa ser um indivduo com a obriga-
116 NOVALIS, NEGATIVIDADE E UTOPIA
o de transformar a existncia casual em uma vida por escolha e desgnio.
Diz o fragmento de Plen:
Todos os acasos de nossa vida so materiais, a partir dos quais podemos fazer o que
quisermos. Quem tem muito esprito faz muito de sua vida todo encontro, toda
ocorrncia seria, para quem inteiramente espiritual primeiro termo de uma srie
infinita comeo de um romance infinito.
Esprito para os primeiros romnticos significa imaginao. E liberdade
significa determinar sua esfera prpria, sair de si. No estado no-livre a esfera
objetiva experimentada como determinando o eu, que funciona apenas
como um ponto de impacto para uma sucesso de eventos incompreens-
veis. Para ser livre o eu precisa ser ativo e quando se age moralmente, se age
livremente. E o caminho moral uma via negativa, como o caminho msti-
co, pois nega tudo o que possa exercer poder sobre o eu. Mas, ao contrrio
do mstico, essa negao no conseguida por meio de uma retirada asctica,
mas atravs de um contnuo engajamento ativo no mundo. No entanto, a
ao moral consiste em um duplo movimento: por um lado um desengaja-
mento do mundo at que o eu esteja sozinho, livre para decidir, e, por outro
lado, um reengajamento, no qual o mundo no pode servir como fim, mas
apenas como meio que leva da pura subjetividade de um agente livre para a
sua validade geral. No modelo de Novalis, a tica complementada por
amor e atividade. Desse movimento fala o fragmento 51 de Plen:
O interessante aquilo que me pe em movimento, no em vista de Mim Mesmo, mas
apenas como meio, como membro. O clssicono me perturba afeta-me apenas indire-
tamente, atravs de mim mesmo No est a para mim como clssico, se eu no o ponho
como um tal, que no me afetaria se eu no me determinasse me tocasse eu mesmo
produo dele para mim, se eu no destacasse um pedao de mim mesmo e deixasse desen-
volver-se esse germe de um modo peculiar perante meus olhos um desenvolvimento que
freqentemente s precisa de um momento e coincide com a percepo sensorial do
objeto de modo que vejo perante a mim um objeto, no qual o objeto comum e o ideal,
mutuamenteinterpenetrados, formam um nico prodigioso indivduo.
20
Molnr v Novalis expandindo a viso de Fichte, avanando alm da
doutrina da cincia, ao armar um esquema bsico em que o eu igual ao
mundo e o mundo, igual ao eu. Esse esquema sustenta seus trabalhos poticos.
Alm da filosofia de Fichte, com que trabalha nos Fichte-Studien, Plato
e Hemsterhuis so suas referncias filosficas. A relao com Sofia, a mulher
amada, enquanto viva e depois de sua perda, um processo formativo que
muda a relao de Novalis com o mundo e permite uma viso potica, uma
Vera Li ns 117
viso em que objetos e acontecimentos atingem um sentido que no pode
ser reduzido a preocupaes pragmticas.
Para Novalis, o poeta tem que passar por um processo formativo, atra-
vs do qual atinge um nvel de humanidade superior, em que encontra a
viso potica uma autoformao do eu. O artista transcendental no sen-
tido do que diz o fragmento:
21
A suprema tarefa da formao apoderar-se de seu si-mesmo transcendental ser ao
mesmo tempo o eu de seu eu. Tanto menos estranhvel a falta de sentido e entendi-
mento completos para outros. Sem auto entendimento perfeito e acabado nunca se
aprender a entender verdadeiramente a outros.
esse processo formativo o que acontece em Heinrich von Ofterdingen,
um romance sobre a poesia, que conta a formao de um poeta. Como diz
Novalis num outro fragmento:
Anos de aprendizado so para o novato potico anos acadmicos para o filosfi-
co.[...] Anos de aprendizado no sentido eminente so os anos de aprendizado de viver.
Atravs de ensaios planejadamente ordenados aprende-se a conhecer os princpios
dessa arte e adquire-se a destreza de proceder segundo esses princpios ao bel-prazer.
22
A poesia tanto uma questo de linguagem quanto de autonomia mo-
ral do poeta. Compreender isso, segundo Molnr, pode impedir que a leitu-
ra contempornea de Novalis caia no que chama de a priso da linguagem.
O trabalho potico o caminho de um desenvolvimento pelo qual o eu
ganha conscincia de uma liberdade inerente. Quando essa conscincia cres-
ce, os antagonismos entre eu e mundo, e entre esprito e natureza, dimi-
nuem, e sua identidade fundamental comea a se tornar aparente, o que
constitui a viso potica. A poesia de Novalis caracterizada por essas vises
de identidade eu/mundo: em OsDiscpulosdeSas, a natureza deixa cair o
vu frente aos que seguem o verdadeiro caminho, nos Hinos noite, o no
do mundo, i.e., a certeza da morte, perde seu poder sobre os que so guiados
pelo amor e em Ofterdingen a progresso ao encontro do mundo tambm
progresso ao encontro de si mesmo.
Molnr vai ver isto se dando no romance inacabado, escrito por Novalis
aos 27 anos, dois anos antes de morrer em 1801, e cujo tema a transforma-
o interna pela qual o indivduo precisa passar para pr o mundo e o eu
numa relao que no congelada num estado de oposio permanente.
Pode-se compar-lo ao Meister de Goethe, o Bildungsroman, que os primeiro
romnticos consideravam fundamental, mas tambm criticado por Novalis.
118 NOVALIS, NEGATIVIDADE E UTOPIA
Novalis trabalha numa via negativa, prxima de uma teologia negativa
vinda dos msticos alemes como Eckart e Behme, que marcaram o idealis-
mo alemo. Negao significa usar o que j se sabe para formular uma questo,
o que equivalente a nos fazer receptivos para uma eventual resposta. Sem essa
atitude questionadora, essa prontido para receber, poderamos ser expostos a
todos os tipos de experincia, mas seramos incapazes de absorv-las.
Como a trama do romance a do desenvolvimento interno, ele no descre-
ve os ambientes com detalhes realistas e seus personagens so descarnados, em-
bora Ofterdingen e Klingsohr tenham existido como trovadores medievais.
Novalis queria expor suas idias, com isso o romance uma interpolao de
narrativa, contos simblicos, dilogos e poemas, atualizando o que Klingsohr
afirma da poesia, em toda poesia preciso que o caos transparea sob o vu
regular da ordem. O romance contm sua prpria teoria.
O percurso de Heinrich vai mostrar uma mudana de perspectiva: um
mundo transformado a partir de uma relao transformada com ele. No
incio, vive com os pais e o mundo pragmtico no lhe suficiente. O pai
diz que sonho mentira e em vez de se tornar um artista como prometia na
juventude (ele tambm sonhara com a flor azul), torna-se um arteso. No
final da narrativa, Heinrich encontra o mdico Silvestre, que tinha apareci-
do como mineiro e este lhe conta sobre seu pai:
Eu discernia nele os signos anunciadores do grande artista plstico. Seu olho estava
todo animado do desejo de se tornar um olho verdadeiro, um instrumento de criao.
Seu rosto exprimia a firmeza interior e a aplicao. Mas o mundo presente tinha j
criado razes profundas demais em sua alma. Ele no queria escutar o chamado de sua
natureza mais ntima [...]. Ele se tornou um arteso hbil e o entusiasmo no era mais
do que loucura a seus olhos.
23
Tudo comea para Heinrich com o sonho em que v a flor azul. A
partir dele e do encontro com comerciantes narradores decide partir de sua
cidade. Assim, com a conscientizao do desejo pela flor, muda sua relao
com o mundo. Quando alcana o mximo de conscincia, apenas vai ser
possvel comunicar sua situao singular tornando-se poeta. E a chegada a
Augsburg vai ser decisiva nessa descoberta da poesia. Encontra Matilde, a
filha do poeta Klingsohr, que vai amar e depois perder. Quando mais tarde,
melanclico, abandonado e infeliz, tem uma viso em que ela lhe fala, ento
toma a lira e compe.
O sonho tem um papel preponderante na histria, no sentido de reve-
lao de uma realidade mais verdadeira. Nele, as imagens, fruto de uma imagi-
Vera Li ns 119
nao livre, podem revelar o eu, sua natureza verdadeira, atualizando a revo-
luo copernicana de Kant. Segundo Molnr:
O sonhador executa de novo a revoluo copernicana de Kant, mostrando que no h
objetos como coisas em si, s quais a realidade experimental se refere. Coisas no so
em si, mas fenmenos, o que significa que a imediaticidade das imagens do sonho se
referem criatividade do eu em form-las e no a uma imagem externa do dado;
expressam a ao livre do eu dando forma ao mundo.
24
No final o sonhador se v como uma fora ativa, construindo o mun-
do, dentro do qual esse eu objetificado toma seu lugar como um objeto
entre outros.
Enquanto o eu procura a realizao da lei moral, o mundo pode mani-
festar a mesma lei, lhe apresentando uma face humana. Quando Heinrich
encontra a flor azul, suas ptalas se mudam numa face que ele mais tarde vai
reconhecer como a de sua amada. Eros forja o lao que une o eu ao mundo e o
mundo ao eu. A lenda que conta o personagem Klingsohr, o mestre, um
comentrio do poder liberador do esprito da poesia. Eros, ajudado por Fbu-
la, o esprito da poesia, tem a tarefa de dispersar o gelo sobre o mundo estra-
nho e revelar a identidade escondida do eu com o mundo. Quando Heinrich
encontra Silvestre, no final, diz algo que lembra a declarao do poeta Paul
Celan, na Carta a HansBender ,
25
de que poesia pode ser um aperto de mo,
ligando assim poesia experincia e ao gesto moralmente livre:
Pois o verdadeiro esprito da fbula um amvel disfarce do esprito da virtude, e o
objeto verdadeiro da poesia que lhe subordinado, a atividade de nosso eu a mais alta
e mais pessoal! H uma espantosa identidade entre um canto sincero e uma nobre ao.
26
Heinrich segue um caminho exterior que tem sua contrapartida inte-
rior e cada avano numa direo registra um progresso na outra. So vrios
encontros: com alguns comerciantes, com um eremita, com um mineiro,
com uma mulher oriental, todos simblicos de atitudes no mundo. E todos
so narradores, contam histrias reveladoras para Heinrich. Assim, uma vez
que o eu se conhece de um modo no baseado na oposio ao mundo, o
mundo cessa de se opor a ele. A dicotomia entre eu e mundo entra em
colapso quando o eu assume a perspectiva da liberdade que ocupa em todos
os processos de conscientizao. O mundo no mais um fator de oposio,
mas o mundo se torna sonho e o sonho se torna mundo.
27
O mundo
sensvel uma iluso, o mundo real, uma feriedo esprito. Nesse sentido
pode-se entender o fragmento de Plen que diz depender de nossos rgos
120 NOVALIS, NEGATIVIDADE E UTOPIA
no vermos o mundo ferico. Em cada ato moralmente livre, o princpio de
oposio eu/mundo suspenso. O poeta d sentido ao mundo, ou descobre
seu sentido. Na lenda que Klingsohr conta, a Atlntida permanece escondi-
da sob a superfcie do mundo, o vu do estranhamento nos impede de
reconhec-la no outro e no texto da natureza. A utopia de uma revoluo
por um novo modo de pensar aparece, sempre em dilogo, tambm nas
palavras do personagem Silvestre:
Quando, diz Heinrich, no haver mais necessidade de terror, de sofrimentos, de
angstia e de mal no universo?
Quando no houver mais que uma s fora, a fora da conscincia; quando a natu-
reza for disciplinada e moralizada. H apenas uma nica causa do mal: a mediocrida-
de universal e esta fraqueza no outra coisa seno uma insuficincia de sensibilidade
moral e a ausncia do poder estimulante da liberdade.
Contra o perigo do esteticismo e de atribuio de valor aos objetos, ao
desejo e ao orgulho, o desapego do eu torna possvel uma relao potica
com o mundo, i.e, uma relao produtora. O poeta fala a linguagem que
ouve, a lngua original da humanidade. O que lembra Vico. Essa conscincia
da lngua original faz o poeta. O poeta no fala o mundo, mas ouve o mundo
falar, fala a linguagem que ouve, essa lngua original, uma dimenso no dita
que est em toda linguagem. Molnr diz que o uso potico da linguagem
para Novalis abre uma nova dimenso que supera a realidade da existncia
humana, mas inclusiva dessa realidade. Aqui est a crtica ao esteticismo.
No romance o personagem de uma das histrias contadas, o rei tende a ver a
dimenso potica como uma dimenso exclusiva. No entanto
A linguagem potica faz o familiar parecer estranho para tornar o estranho familiar,
no para absolutizar o momento esotrico e constituir uma esfera autnoma na qual a
arte substitui o mundo, mas para revelar o fundamento comum de nossa identidade
como seres humanos com referncia ao qual o mundo assume realidade para ns e ns
assumimos realidade nele.
29
Conhecimento, arte e princpio de valor moral se inter-relacionam. O
cientista no um cientista a no ser que tambm aprecie as artes poticas e
o amante da poesia ama apenas a si prprio no objeto de arte se no for capaz
de identificar seu ser com todos os seres humanos. Em um momento
Klingsohr, j na chegada a Augsburg, parte decisiva na descoberta da poesia,
diz, identificando poesia a fico, no sentido que Rancire
30
a v, como pro-
cedimento prprio do esprito humano:
Vera Li ns 121
uma pena que a poesia tenha um nome particular e que ospoetasformem uma corporao
parte. A poesia no coisa parte. Ela o modo de atividade prprio ao esprito humano.
Todo homem no est a cada minuto de sua vida a fabular e a inventar?
31
O personagem do mineiro, trazendo o ouro que est escondido no uso
prosaico da linguagem, d uma demonstrao de como qualquer ofcio deve
ser conduzido. Todo empreendimento pragmtico prosaico, mas tem di-
menses sociais comunitrias, que equivalem liberdade moral e sua mani-
festao comunitria poesia. No s o verdadeiro cientista se torna poeta,
mas o verdadeiro historiador tambm, ao ler e falar a linguagem original. A
histria pressupe um contexto humano de interpretao. O historiador tem
que ter o sentido potico da adivinhao. Diz o eremita:
Quando examino tudo isso atentamente me parece necessrio que um historiador seja
tambm poeta, pois s os poetas se entendem nessa arte de encadear os acontecimen-
tos de modo satisfatrio. Nas suas narrativas e fbulas observei com um prazer secreto
o sentimento delicado que tm do misterioso princpio da vida. H mais verdade nos
seus contos do que nas crnicas eruditas.
32
Na caverna do eremita, Heinrich encontra o livro de sua vida escrito em
provenal, a linguagem dos trovadores. Quando aprender a linguagem dos
poetas, Heinrich vai ser capaz de ler o texto e se descobrir como seu autor.
O movimento que tentamos mostrar em Novalis de uma revoluo no
pensamento, mostrado num ensaio de Karl Heinz Bohrer Metfora e he-
resia, a desfigurao romntica do esprito,
33
que discute o poema de Novalis,
Oshinos noitee a relao entre religio e esttica, mostrando como os pri-
meiros romnticos estranham, desfiguram o mito cristo e o transformam.
O poema enfatiza o no-profano, mas estranhando as categorias teolgicas
centrais. Novalis seria hertico enquanto a heresia irm da imaginao.
Bohrer procura entender o que diz Schlegel quando fala de criar uma nova
mitologia, em Conversa sobrea poesia, como uma desestabilizao hertico-
subversiva da tradio.
Os Hinos noiteso diferentemente dos Night thoughtsde Edward Young (1742/
43)
34
, como um todo, uma homenagem ao lado noturno e inconsciente dos homens e
seus meios: erotismo, sono e morte. Essa homenagem vale como uma noite, que no
modo do sono caracterizada como mensagem silente de segredos infinitos.
35
Bohrer mostra como uma semntica subjetiva da imaginao dissolve
os dados objetivos de um discurso teolgico histrico-filosfico previamen-
te dado na sua temtica: a tentativa de ler os Hinos noitecomo uma mstica
122 NOVALIS, NEGATIVIDADE E UTOPIA
autobiogrfica, inspirada pela morte de Sofia e seguidora da mstica de
Boehme, ou seja, como uma religio privada conduzida de forma pietista,
oculta o que aqui acontece em cadeias de imagens metafricas. Tambm o
texto de Novalis est marcado pela filosofia, especialmente pela discusso
concentrada sobre a doutrina da cincia de Fichte. A proeminncia do ato
transcendental, como o caracterizam os aforismos terico-especulativos de
Novalis, atravessa os Hinos noite: com isso evita-se que surja um mito no
sentido tradicional, o que seria possvel por meio da idia bsica da dicotomia
entre noite e dia, num sentido quase arcaico.
Inclumos aqui o terceiro hino na traduo da poeta portuguesa Fiamma
Hasse de Paes Brando.
Os Hi nos noi t e 3.
Outrora, quando vertia amargas lgrimas, quando, diludo na dor, a minha esperana
se desfez e eu me encontrava sozinho sobre o estril montculo que encerra em negro
e estreito espao a imagem da minha vida s, como jamais algum esteve, impelido
por um medo indizvel inerme, to-somente com um nico pensamento ainda, o da
carncia. Quando olhava em meu redor em busca de auxlio, sem que pudesse avan-
ar nem recuar; preso por uma saudade infinita a essa vida extinta e fugidia: eis que
da distncia azulada dos altos cumes da minha antiga bem-aventurana, veio um
frmito de crepsculo e de sbito romperam-se os vnculos do nascimento a cadeia
da Luz. Para longe de mim se voltou o curso do esplendor terreno e, com ele, o meu
luto tambm a melancolia fluiu para um novo mundo, infudamentado e tu,
exaltao noturna, torpor do Cu, vieste sobre mim todo o lugar se elevou no ar
mansamente; e sobre o lugar pairou o meu esprito, desvinculado, de novo nascituro.
Em nuvem de poeira se converteu o montculo de terra e atravs das nuvens vi a
fisionomia gloriosa da Amada. Nos seus olhos repousava a eternidade prendi-lhe as
mos, e as lgrimas eram um lao cintilante, irrompvel. Milnios perpassaram a ca-
minho dos longes como intempries. Suspenso no seu colo, chorei lgrimas de deleite
pela nova vida. Foi esse o primeiro e nico sonho e somente desde ento tenho
uma f eterna e imutvel, no Cu da Noite, na sua luz, a Amada.
Einst da ich bittreThrnen vergoss, da in Schmerz aufgelst meineHoffnungzerran, und
ich einsamstand amdrren Hgel, der in engen, dunkeln RaumdieGestalt meinesLebens
barg einsam, wienoch kein Einsamer war, von unsglicher Angst getrieben kraftlos,
nur in Gedanken desElendsnoch. Wieich da nach Hlfeumherschaute, vorwrtsnicht
konnteund rckwrtsnicht, und am fliehenden, verlschten Leben mit unendlicher
Sehnsucht hing: da kamausblauen Fernen von den Hhen meiner alten Seligkeit ein
Dmmerungsschauer und mit einemmalerissdasBand der Geburt desLichtesFessel.
Hin floh dieirdischeHerrlichkeit und meineTrauer mit ihr zusammen flossdieWehmuth
in eineneue, unergrndlicheWelt du Nachtbegeisterung, Schlummer desHimmelskamst
ber mich dieGegend schwebtemein entbundner, neugeborner Geist. Zur Staubwolke
wurdeder Hgel durch dieWolkesah ich dieverklrten Zgeder Geliebten. In ihren
Vera Li ns 123
Augen ruhtedieEwigkeit ich fassteihreHnde, und dieThrnen wurden ein funkelndes,
unzerreisslichesBand. Jahrtausendezogen abwrtsin dieFerne, wieUngewitter. An Ihrem
Halseweint ich demneuen Leben entzckendeThrnen. Eswar der erste, einzigeTraum
und erst seitdemfhl ich ewigen, unwandelbaren Glauben an den Himmel der Nacht
und sein Licht, dieGeliebte.
Resumo: O artigo pretende fazer um es-
boo das idias singulares de Novalis
sobre a poesia, o sujeito e o pensamen-
to, a partir dos fragmentos de Plen, do
romance Heinrich von Ofterdingen e dos
Hinos Noitee da sua relao com a fi-
losofia de Fichte e Kant.
Palavras-chave: Novalis, poesia, Kant,
Fichte.
Abstract: The article intends a brief
outline of Novaliss ideas about poetry,
subject and thought, examining the
fragments of Plen, the novel Heinrich
von Ofterdingen and the Hymnsto the
Night and viewing their relation to the
philosophy of Fichte and Kant.
Keywords: Novalis, poetry, Kant, Fichte.
Not as
1
Ver OBrien, Novalis, signsof revolution. Duke University Press, 1995, p. 143.
2
Novalis. Plen . Trad. RubensRodriguesTorresFilho. So Paulo: Iluminuras, 1988, p. 57, fragmento 32.
3
Schlegel, F. O dialeto dosfragmentos. Traduo e notas, Mrcio Suzuki. So Paulo: Iluminuras, p. 83.
4
Novalis. Op. cit. Fragmento 104, p.141.
5
Novalis. Op. cit. Fragmento 105, p. 142.
6
Idem. Fragmento 19, p. 45.
7
Idem. Fragmento 110, p.113
8
Novalis. Op. cit. Fragmento 74, p. 137.
9
Idem. Fragmento 6, p.39.
10
Idem. Fragmento 153, p. 155.
11
Seyhan, Azade. Representation and itsdiscontents. Thecritical legacy of german romanticism. Berkeley:
University of California Press, p. 98.
12
Novalis. Op. cit. Fragmento 32, p.121.
13
Novalis. Op. cit. Monlogo, p.196.
14
Friedrich, Hugo. A estrutura da lrica moderna. So Paulo: Duas Cidades, 1978.
15
Vordtriede, Werner. Novalisund diefranzsischen Symbolisten.
16
Vtor, Nestor. Obra crtica, vol. I pp. 330-333. Rio: Edio Fundao Casa de Rui Barbosa
17
Idem. Fragmento 187, p.159.
18
Idem. Fragmento 26, p.51.
124 NOVALIS, NEGATIVIDADE E UTOPIA
19
Molnr, Geza von. Romantic vision, ethical context. Novalisand artistic autonomy. Minneapolis:
University of Minnesota Press, 1987.
20
Novalis. Op. cit. Fragmento 51, p.65.
21
Idem. Fragmento 28, p. 55.
22
Idem. Fragmento 4, p. 39
23
Novalis. Henri dOfterdingen/Heinrich von Ofterdingen, Paris: Aubier, 1942, edio bilinge, p.371.
24
Molnr, Geza von. Op. cit. p.107.
25
Celan, Paul. Carta a Hans Bender . I n: Cristal. Trad. Cludi a Cavalcanti . So Paulo:
Iluminuras,1999.pp. 165/166. Somente mos verdadeiras escrevem poemas verdadeiros. No vejo
diferena de princpio entre um aperto de mo e um poema.
26
Novalis, Op. cit. p.385.
27
Novalis. Op. cit. p.355.
28
Novalis.Op. cit.p.381.
29
Molnr, G. von . Op. cit. p.137.
30
Rancire, J. Mallarm, la politiquedela sirne. Paris: Hachette, 1996, p.77. Sabemos que a fico
bem mais que o arranjo de fbulas ou a delcia do imaginrio, que ela o mtodo mesmo do esprito
humano pelo qual este se separa do mito para projetar sua luz prpria.
31
Novalis. Op. cit. p. 281.
32
Idem. p.215.
33
DieGrenzen desesthetischen. Munique: Edition Akzente, Hanser Verlag, 1998.
34
Tido como leitura de Novalis, que teria influenciado seu poema.
35
Usamos a traduo dos Hinos noitede Fiamma Hasse Paes Brando, Lisboa: Assrio e Alvim, 1988.
Mari a Lci a Cacci ol a 125
O CONCEITO DE INTERESSE
Mari a Lci a Cacci ol a*
QUASE UM LUGAR-COMUM a afirmao de que Schopenhauer teria deturpa-
do a Esttica kantiana ao dar-lhe um significado tico, marcando o ascetismo
que deve acompanhar a experincia esttica. Ou seja, Schopenhauer teria
interpretado a noo de ausncia de interesse que acompanha o juizo estti-
co em Kant, como uma proposta de afastamento do mundo, uma espcie de
primeira etapa da negao da Vontade. Como exemplos conhecidos entre
ns se pode citar dois intrpretes que, apesar de leituras bem opostas da
Histria da Filosofia, partilham da mesma opinio de que Schopenhauer
um mau leitor da filosofia da arte de Kant: de um lado Heidegger, quando
acusa Nietzsche de no ter compreendido a esttica de Kant, por t-la lido
luz dos comentrios de Schopenhauer e, por outro, Lebrun, quando acusa
Schopenhauer de ter substitudo a apreciao de um prazer puro, caracters-
tica da anlise kantiana do belo, por uma metafsica entusiasta que tem como
centro o prazer desinteressado.
Diante dessas colocaes, pretendo retomar a noo de ausncia de in-
teresse, tanto em Schopenhauer como em Kant, para examinar a interpreta-
o que Schopenhauer faz da Crtica do juzo esttico de Kant.
O juzo esttico, diferena do terico e do prtico, para Kant aquele
que se reporta mera representao de algo, sem interessar-se pela sua exis-
tncia. ele que, segundo Lebrun, exibe a possibilidade de um juzo
reflexionante que no mais determine o objeto e a ao. Atm-se pois ao
plo subjetivo, ao sentimento de prazer e desprazer do sujeito, sem referir-se
a uma finalidade externa, seja a de determinar um objeto para o conheci-
mento terico, seja a de conferir o carter tico ao. Remete-se assim a um
prazer puro que est para aqum dos prazeres suscitados pelas inclinaes.
Assim, o belo no seria uma instncia de desligamento das inclinaes, pro-
piciando um movimento de desinteresse em relao ao mundo, simples-
mente porque o que se d uma indiferena em relao a qualquer contedo
*MARIA LCIA CACCIOLA, Doutora pelo Departamento de Filosofia da USP em 1990, professora de
Histria da Filosofia Moderna no Departamento de Filosofia da USP. Publicou Schopenhauer ea
Questo do Dogmatismo(Edusp, 1994). tradutora das seguintes obras de Schopenhauer: Crtica da
Filosofia Kantiana (Col. Os Pensadores, Abril, 1980), O Fundamento da Moral (Martins Fontes, 1995)
e Fragmentospara a Histria da Filosofia (Iluminuras, 2003).
125
126 O CONCEITO DE INTERESSE
existente. O livre jogo da imaginao e do entendimento, prprio ao juzo
esttico, engendra o belo como uma representao no sujeito, que no tem
como referente algo existente que tenha a qualidade da beleza. Trata-se assim
de mostrar como essa harmonia provm de uma harmonia das prprias fa-
culdades de conhecimento, que representam algo, no como uma meta a ser
atingida. Ao mesmo tempo esse carter de ausncia de interesse que possi-
bilita que esse juzo tenha, apesar de subjetivo, um carter universal.
Em que sentido Schopenhauer teria pois interpretado o desinteresse
kantiano a ponto de deturpar a teoria do belo de Kant?Precisamente ao
tomar o belo desinteressado, como um movimento de afastamento da von-
tade, que neutralizaria o impulso do querer-viver, pelo menos por instantes.
Assim o desinteresse, que acompanha a arte, tendo sido traduzido como
prazer negativo levaria a interromper o ciclo das carncias e satisfaes que
expressam o sofrimento do mundo. Tanto o artista quanto o fruidor seriam
levados a um ascetismo momentneo na sua atitude contemplativa diante
do belo. A metafsica do belo proporcionaria um conhecimento de certo
modo mais direto e verdadeiro do que o conhecimento da cincia e do senso
comum, pois esse conhecimento seria um conhecimento de uma represen-
tao no submetida ao principio de razo, ou seja, nem causalidade que se
refere aos fenmenos, nem s leis da lgica que regem o conhecimento ra-
cional. O conhecimento esttico , para Schopenhauer, mediado apenas pela
Idia, ou seja, apresenta ou expe a Idia, que, segundo ele, a objetivao
mais perfeita da vontade. Schopenhauer explicita que a noo de Idia tal
como a emprega provm de Plato e significa o que h de imutvel, de pere-
ne nas coisas, ou seja, o gnero, a unidade, antes de qualquer multiplicidade.
Assim a idia est fora do tempo e do espao, sendo algo aqum ou alm do
mundo fenomnico, que manifesta o que ele .
Se o fenmeno uma iluso e o mundo fenomnico ilusrio, na arte,
essa iluso desvelada como tal no seu mago. A arte enquanto apresentao
da prpria Idia manifesta uma pura representao, no mais tomada como
relativa a qualquer outra, mas na sua perfeita singularidade. Ser a objetidade
da vontade, quer dizer, ser a visibilidade pura do sujeito em face do objeto.
, pois, na arte que o mundo como representao se apresenta, como um
avesso do mundo como vontade, como sua outra face. Se na representao
submetida ao princpio de razo, o que se conhece so meramente as rela-
es entre objetos, a arte desvela o prprio objeto no mediado, o prottipo
e no o ctipo. Assim, se para Plato a arte cpia da cpia, para Schopenhauer
a arte manifesta a prpria Idia e, se h cpia, esta o prprio mundo
fenomnico na sua multiplicidade.
Mari a Lci a Cacci ol a 127
A vontade um impulso cego e ao mesmo tempo o que constitui o real.
Desde que ela no apresenta nenhum objetivo, nenhum alvo, descarta-se
uma ordenao da realidade fora do sujeito Se h qualquer finalismo na
natureza, ou no mundo, este s pode ser atribudo ao sujeito do conheci-
mento, na medida em que ele precisa orden-lo em vista de seu prprio
querer-viver. A vontade enquanto querer-viver remete-se a si mesma como
seu prprio fim, e para isso desenvolve um aparato de apreenso dos demais
fenmenos, uma capacidade de representao, que tem o crebro como sede.
A auto referncia do real, isto , da Vontade, que visa a si mesma enquanto
querer-viver, produz uma espcie de movimento reflexivo do sujeito que se
torna capaz de conhecer a realidade e descrev-la e operar nela, em funo
do seu prprio querer-viver, ou seja do que mais real nele. Ou seja, a Von-
tade conhece-se a si mesma no indivduo que conhece e que, como tal,
dotado de uma faculdade que representa. Assim o conhecimento do mundo
considerado como representao profundamente interessado, pois obede-
ce ao impulso da autopreservao da Vontade. Neste sentido a Vontade
que tem a primazia sobre a conscincia de si, enquanto corpo e fenmeno.
A representao esttica, ao contrrio, no se refere mais ao corpo, ela
se d para o puro sujeito do conhecimento. Este o que resta quando se
abstrai o indivduo, que constitudo pelo corpo e pelo sujeito do conheci-
mento. Assim a percepo do belo marcada pelo desinteresse e pela
desindividuao, resultando num conhecimento imediato do objeto, que se
isola dos demais e no mais se submete s relaes, quer com o corpo, quer
com os demais objetos. assim que na representao do sujeito puro do
conhecimento se configura o outro lado do mundo como Vontade, aquilo
que perfeitamente ideal. A ausncia de interesse que d a dimenso aca-
bada do mundo enquanto pura representao do sujeito e, pois, da sua per-
feita idealidade, que s se manifesta integralmente no sentimento do belo.
O artista o olho claro do mundo, que o desvela. Este conhecimento, diver-
so do conhecimento do senso comum e da cincia, produz a perfeita coinci-
dncia do sujeito e da representao, precisamente quando se d o afasta-
mento da vontade. assim que em Schopenhauer se configura uma metaf-
sica do belo, pois a arte que torna possvel um conhecimento pleno,
desvinculado dos interesses do querer viver. Segundo Brigitte Scheer, na
esttica de Schopenhauer que se revela a crtica direta ou indireta do conhe-
cimento racional na cincia e a esttica que d a medida para a verdade
objetiva. Marca-se assim a funo corretiva do conhecimento esttico em
relao ao conhecimento cientfico e razo instrumental. Como diz ela:
128 O CONCEITO DE INTERESSE
Os momentos irracionais da dominao cientfica do mundo so expostos, no geral,
pela metafsica da Vontade, mas tambm pela esttica, no particular. A razo cientfica
tem de reconhecer a partir da, seu carter parcial e sua determinabilidade prtica. Exer-
cer domnio sobre as coisas, j que elas so subjugadas pela conceitualizao abstrata,
no pode mais valer como conhecimento genuno. O verdadeiro conhecimento visar
libertar as coisas para si mesmas, descobrindo sua universalidade s atravs da penetra-
o no particular e no pela sua no- determinao. O verdadeiro conhecimento tem
de procurar deixar as coisas serem belas, e acima de tudo deixar que elas sejam.
1
claro no pensamento de Schopenhauer o carter instrumental do
conhecimento do senso comum e da cincia, j que a razo, tendo perdido a
primazia que lhe conferia Kant, torna-se, para seu seguidor, um mero instru-
mento da Vontade. Esse conhecimento esttico, que tambm pode ser cha-
mado de metafsico, ao mesmo tempo em que se vale da representao pura,
a saber, desvinculada das relaes postas pelo princpio de razo, faz com que
desaparea a diferena entre sujeito e objeto. Se atentarmos para o fato de
que representao e objeto querem dizer o mesmo em Schopenhauer, ao
desaparecer o hiato entre sujeito e representao, ao se fundirem os seus
plos, a prpria noo de representao que est sendo posta em causa, na
contemplao do belo. Na arte, no mais se trata de representar o mundo
fenomnico, mas a representao, ao se referir Idia, desloca-se do mlti-
plo apreendido pelo entendimento, por meio do espao, tempo e causalida-
de, para o uno intemporal.
Assim Schopenhauer no deturpa a esttica de Kant por ter lido o de-
sinteresse como negao do corpo e da vontade e afastamento do sensvel. A
sua leitura do desinteresse bem mais radical, na medida em que por meio
do belo desinteressado que se torna possvel um conhecimento verdadeiro,
no de algum referente oculto, de algo real, mas sim daquilo que ideal.
Ora, tal modo de conhecer s possvel pelo vis do mundo visto como
representao e no do mundo como Vontade, j que esta remete a uma
atividade infinita e sem finalidade. Em contrapartida, a finalidade da arte a
de expor o mundo como vontade, pelo seu avesso, isto , enquanto conheci-
mento puro e pura contemplao.
Interpretando uma passagem dos Parerga, onde Schopenhauer se refere
a um uso do intelecto dirigido para o que puramente objetivo, Barbara
Neymeyer
2
nega qualquer carter positivo ao interesse objetivo na esttica de
Schopenhauer, vendo a apenas a negao do interesse subjetivo. Pode-se
objetar a essa leitura que o interesse objetivo tem uma positividade pois se
refere pura contemplao que resulta numa coincidncia com o objeto,
Mari a Lci a Cacci ol a 129
diferenciando-se, portanto, do interesse pessoal ou individual atinente ao
conhecimento submetido s cadeias de causas e razes. Mas nesse conheci-
mento puro o que h de fato para ser conhecido?Ou seja, o que significa
conhecer a Idia como pura representao?A saber, no se trata mais de um
saber relacional, que parte da relao dos objetos ao corpo j que a idia no
participa da multiplicidade fenomnica, caracterizando-se, pelo contrrio,
por sua imutabilidade e perenidade. No conhecimento esttico a Idia que
se expe numa forma singular, num signo sensvel que a obra. A obra no
, portanto, cpia de um dado apreendido no conhecimento comum, mas
manifestao da Idia, a ser atingida pela atividade do gnio.
o gnio que se mostra, em Schopenhauer, como o olho claro do
mundo, capaz de dissipar a obscuridade em que est o indivduo, tanto na
sucesso dos impulsos inconscientes, como nas sries dos fenmenos. A con-
cepo do gnio, pouco afeito ao conhecimento relacional, quer dos eventos
presentes, quer das sries da memria, dotado em contrapartida, dotado de
imensa capacidade intelectual aliada a uma vontade poderosa que lhe per-
mite sobrepor-se viso comum de mundo e aos interesses ligados mera
sobrevivncia. O desinteresse, que se expressa na sua obra, transmuda-se num
interesse objetivo, que deve traduzir a verdade da coisa. na esttica que
Schopenhauer manifesta a contrapartida do pessimismo presente no ponto
de vista do mundo como vontade. Esse conhecimento puro que traduz o
sentimento do belo pode ser visto no s como o prazer puro presente na
Esttica de Kant, mas como o verdadeiro conhecimento.
Ao afastar o corpo e, portanto, a vontade da experincia do belo,
Schopenhauer desloca o prazer esttico do indivduo para a esfera da apreenso
das Idias que desconhecem a mutabilidade e a particularidade, e, por outro
lado, abre espao para o puro sujeito do conhecimento que se desprende das
caractersticas individuais que so prprias corporeidade. Como diz Scheer:
Nesta situao excepcional, o sujeito do conhecimento transforma-se de
indivduo no puro e supra-individual sujeito da intuio, j que ele concen-
tra nela toda sua fora intelectual e se liberta do governo da Vontade.
3
Na arte, no se est mais no mbito do indivduo, mas do universal. Isto
se d graas ausncia do interesse subjetivo prprio ao indivduo e ao seu que-
rer-viver. Neste ponto, fica patente uma concordncia com a esttica kantiana, pois
para Kant o desinteresse que torna possvel a universalidade para o juzo est-
tico, j que o carter privado do interesse a impediria. Citando Kant:
Pois aquilo, de que algum tem conscincia de que a satisfao quanto ao mesmo ,
nele prprio, sem nenhum interesse, isso ele no pode julgar de outro modo, a no ser
130 O CONCEITO DE INTERESSE
que tem de conter um fundamento de satisfao para todos. Pois, como no se funda
sobre alguma inclinao do sujeito (nem sobre algum outro interesse deliberado), e
como aquele que julga se sente plenamente livre quanto satisfao que ele dedica ao
objeto; ento no pode encontrar como fundamento da satisfao, condies priva-
das, s quais, somente se prende seu sujeito, e, tem de consider-la, por isso, como
fundada sobre aquilo que ele tambm pode pressupor em todo outro.
4
o prprio gosto da reflexo que reivindica validade universal de seu
juzo sobre o belo.
Por outro lado, em Kant, essa universalidade, por no estar baseada em
um conceito, j que aqui se trata de um juzo reflexionante e no determi-
nante, diversa da universalidade lgica. Assim o juzo sobre o belo tem,
para Kant, uma pretenso uma universalidade subjetiva, pois ele no reme-
te ao objeto, para determin-lo. A saber, como diz Kant: a universalidade
esttica queconferida a um juzo, tambm tem deser dendolepeculiar, por-
queela no conecta o predicado da beleza ao conceito do objeto, considerado em
toda sua esfera lgica j que isso seria determinar o objeto e portanto estaria
na esfera do conhecimento e, no entanto seestendea toda esfera dosque
julgam.
Schopenhauer louva em Kant o fato deste ter considerado o belo como
atinente ao sujeito e no ao objeto, ou seja, de ter constitudo uma teoria do
belo subjetiva, deixando de lado algo que seria uma cincia sobre a beleza.
Mas, se Kant garante a subjetividade do juzo de gosto, exige por outro lado
a sua universalidade. Cito Shopenhauer:
O mrito foi reservado para Kant de investigar sria e profundamente a prpria emoo
sobre o belo, em conseqncia da qual chamamos belo o objeto que a ocasiona e de
descobrir possivelmente as partes essenciais e condies da mesma em nossa mente.
5
No entanto para Schopenhauer, a Esttica de Kant no atingiu o seu
alvo, porque ela se ressente, como de resto toda sua filosofia, do fato de
partir do conhecimento abstrato para fundamentar o intuitivo. A esttica,
tal como a crtica da Razo Pura, parte das formas do juzo, que constituem
a chave do mundo intuitivo. Ou seja, Kant no parte da intuio do belo,
mas do juzo sobre o belo um bem feiamentechamado juzo degosto.
6
Chama especialmente sua ateno a circunstncia de que tal juzo manifestamente a
enunciao de um processo que se passa no sujeito, mas que ao lado disso tem uma
validade to universal como se se tratasse de uma propriedade no objeto. Isto o que
o impressionou, no o prprio belo. Parte sempre da enunciao dos outros de um
juzo sobre o belo e no do prprio belo.
Mari a Lci a Cacci ol a 131
Quanto a isso poderamos objetar a Schopenhauer o fato de ele no ter
entendido, ou mesmo, de no ter querido entender bem a diferena entre o
juzo determinante e o reflexionante, que, como frisa Kant, no um juzo
de conhecimento que determine o objeto por meio de um conceito. A
indeterminao conceitual que lhe inerente tira-lhe o carter de abstrao
prprio ao juzo lgico universal:
Se se julgam objetos meramente segundo conceitos, toda representao de beleza est
perdida. Assim tambm no pode haver nenhuma regra segundo a qual algum deva
ser obrigado a reconhecer algo com belo. Se um vestido, uma casa, uma flor so belos,
para isso ningum se deixa impingir seu juzo por fundamentos ou princpios. Quer
submeter o objeto aos seus prprios olhos exatamente como se sua satisfao depen-
desse da sensao; e, no entanto, se ento denomina de belo o objeto, acredita ter para
si uma voz universal e tem a pretenso adeso de todos, enquanto toda sensao
privada s decidiria para o observador e sua satisfao.
7
Marca-se, assim, em Kant a diferena entre o sentimento do belo e do
agradvel, restrito esse esfera privada e dirigido s para a satisfao do sujei-
to enquanto sensvel. Na raiz dessa diferena est o carter desinteressado do
belo, como condio necessria de sua universalidade ou, como diz Kant, da
voz universal.
J que apontamos o carter no-individual da apreenso do belo em
Schopenhauer, aproximando-o assim de Kant; a crtica que Schopenhauer
faz do juzo sobre o belo no viria justamente pr a perder tal proximidade?
De fato, por uma outra via que Schopenhauer pretende garantir o carter
universal do belo. atravs da mediao da Idia, que ele define como no
abstrata, que o sentimento do belo passa a ser supra-individual. A soluo
schopenhauriana exige o recurso s idias que, como ele mesmo diz, foram
tomadas de emprstimo a Plato, para garantir a intuitibidade direta do belo,
deixando de lado o carter de juzo, que, segundo ele, denota uma interfe-
rncia do abstrato naquilo que intuitivo. A presena da racionalidade do
belo, que se revela para Kant, na concepo de um juzo sobre o belo enten-
dido como manifestao do jogo livre entre as faculdades da mente, do en-
tendimento e da imaginao descartada por Schopenhauer, que no pode
sequer admitir a permanncia de qualquer elemento racional, ou melhor,
abstrato, no sentimento esttico, embora aqui o juzo reflexionanteexpresse
uma harmonia entre essas faculdades, onde est descartada a primazia do
entendimento, diferena do juzo de conhecimento, onde ele legisla. Quan-
do Schopenhauer fala da Idia como objetivao primeira da Vontade, fica
claro que o que ele pretende excluir a participao do conhecimento racio-
132 O CONCEITO DE INTERESSE
nal abstrato do mbito da arte. Da a crtica ao juzo sobre o belo, que parti-
ria da enunciao dosoutrose no do prprio belo. Se a voz universal que
traduz a comunicabilidade e universalidade do juzo de gosto para Kant, em
Schopenhauer, o conceito de puro sujeito do conhecimento, ou seja, a
anulao do indivduo, enquanto sujeito emprico, que garante a universali-
dade da experincia esttica, que no mais expressa por um juzo, mas por
um sentimento capaz de tocar a todos, desde que a genialidade est presente
em todos, embora, no grau mximo, no artista.
Mais do que uma banal deturpao de leitura, fundada no mau enten-
dimento do conceito de desinteresse kantiano entendido como ascetismo
ou degrau para se atingir a negao da vontade, o que se descobre em
Schopenhauer a radicalizao de uma postura que v na arte no propria-
mente uma depurao de um mundo toldado pelos interesses sensveis, mas
a elaborao de uma obra que, embora inscrita no sensvel, fala uma outra
linguagem que no a do senso comum e da cincia, a saber, a do sentimento.
Embora aproxime tica e esttica, o pensamento de Schopenhauer guarda a
especificidade desta ltima, na sua metafsica do belo, e seria bem difcil
dizer se, nele, a tica que contamina a esttica ou, ao contrrio, se no
justamente a esttica que contagia a tica, j que esta se funda num senti-
mento metafsico, a compaixo, que contraria os interesses egostas.
Na esttica da msica, por ele chamado de metafsica da msica,
Schopenhauer destaca a especificidade dessa forma de arte que no requer a
mediao das Idias, mas expressa diretamente a Vontade, ocupando por
isso o primeiro lugar entre as artes. A msica caracteriza-se assim por no ser
uma arte representativa, enquanto expressa diretamente as emoes, que
surgem da diviso da Vontade consigo mesma. Ora se a msica expressa
diretamente as emoes, como se poderia falar nela de uma ausncia de inte-
resse?Citando o prprio Schopenhauer:
A msica no expressa esta ou aquela alegria particular e determinada, esta ou aquela
aflio, dor, terror, jbilo, contentamento, ou tranqilidade de esprito, mas a alegria,
a aflio, a dor, o terror, o jbilo, o contentamento, a tranqilidade de esprito. Ex-
pressa a essncia delas por assim dizer em abstrato, sem qualquer acessrio e, portanto
sem quaisquer motivos.
8
Portanto mesmo a arte por excelncia, que expressa o real e no o ideal,
sendo a manifestao direta da Vontade, a expressa sem os motivos que ca-
racterizam as aes que ela comanda. A saber, a linguagem da msica filtra as
emoes, proporcionando um conhecimento verdadeiro da essncia delas.
Mari a Lci a Cacci ol a 133
A msica expressa a quintessncia da vida e no a vida mesma. Como diz
Schopenhauer: Pois a msica se distingue das outras artes precisamente
porque ela no cpia do fenmeno, ou mais corretamente, cpia da
objetidade adequada da Vontade, mas cpia imediata da prpria Vontade e,
assim, expe o que h de metafsico para tudo que h de fsico no mundo, e
a coisa-em-si para todo fenmeno. Podemos chamar o mundo tanto uma
encarnao da vontade, como tambm uma encarnao da msica.
9
Apesar das crticas de Schopenhauer ao intelectualismo da teoria da
arte de Kant, ambas concepes estticas se aproximam, se vistas de modo
diverso. Por um lado, numa leitura de Kant, tal como a de Lebrun, que
mostre, em contrapartida de Schopenhauer, a recusa do intelectualismo
na esttica kantiana; de fato, basta notar que o juzo reflexionante refere-se a
um conceito, porm indeterminado, sendo a Idia esttica uma representa-
o da imaginao a que nenhum conceito adequado e que nenhuma
linguagem alcana totalmente e pode tornar inteligvel (Kant, I p. 345).
Por outro, numa leitura que mostre que o desinteresse em Schopenhauer,
no reflete apenas uma atitude niilista em face do mundo, mas tem por
funo principal traduzir a especificidade da arte, enquanto esta constitui
uma instncia paralela ao mundo e suscetvel de um outro tipo de aborda-
gem. Ao encontro dessa proximidade, pode-se evocar o que diz Kant, no 49
da Crtica do Juzo, ao explicitar o papel da faculdade da imaginao na
criao esttica: A imaginao (como faculdade-de-conhecimento produti-
va) , com efeito, muito poderosa na criao como de uma outra natureza,
com a matria que lhe d a natureza efetiva (Kant I, p. 345).
Resumo: O objetivo precisar o conceito
de interesse na esttica de Schopenhauer,
para determinar o papel que ele ali desem-
penha. A negao do interesse tendo sido
vi sta como central na estti ca de
Schopenhauer, leva a uma leitura que a con-
trape esttica de Kant, em que o desin-
teresse estaria relacionado no com a
negatividade do sensvel, mas com uma
mera indiferena em relao existncia
do objeto, para constituir um campo
prprio da arte, onde vige o puro prazer
esttico. Procuramos mostrar aqui que
o desinteresse na filosofia da arte de
Abstract: The objective is to sharpen the
concept of interest in Schopenhauers
aesthetics, in order to determine the role
that it plays within it. The negation of
interest, having been seen as central to
Schopenhauers aesthetics, leads to a
reading that counterpoints it to Kants
aesthetics, in which uninterest would be
related not with the negativity of the
sensible, but with mere indiference in
relation to the existence of the object, to
constitute the appropriate field for art,
where pure aesthetic pleasure reigns. We
sought to demonstrate that Schopenhauers
134 O CONCEITO DE INTERESSE
Schopenhauer muito mais do que uma
postura niilista revela um outro tipo de
conhecimento, diverso do racional,
permitindo, tal como em Kant, definir
a especificidade da arte e do sentimento
esttico.
Palavras-chave: interesse, Esttica, con-
ceito, Idia.
uninterest in the philosophy of art, much
more than a nihilistic stake, reveals
another kind of knowledege, diverse
from the rational, allowing, such as in
Kant, to define the especificity of art and
of aesthetical feeling.
Keywords: interest, Aesthetic, concept,
Idea.
Not as
1
Scheer, Brigitte. sthetik als Rationalittkritik bei Arthur Schopenhauer. In Schopenhauer Jahrbuch
1988, p.225. Frankfurt/M: Kramer Verlag, 1988.
2
Neymeyr, Barbara. Schopenhauers objetives Interesse. In Schopenhauer Jahrbuch 1990, p. Frank-
furt/M: Kramer Verlag, 1990.
3
Scheer, Brigitte. Idem, ibidem, p. 225.
4
Kant. Crtica do Juzo. In: Vol. Kant (col.Pensadores), p.309. So Paulo: Ed. Abril, 1974.
5
Schopenhauer. Crtica da Filosofia Kantiana, In: Coleo Pensadores, p. 178. So Paulo: Ed. Abril,
1980.
6
Schopenhauer. Idem, p. 179.
7
Kant. Crtica do Juzo, p.312. So Paulo: Ed. Abril, 1974.
8
Schopenhauer. Die Welt als.... Werke(Band I), p. 364. Darmstadt: Ed. Wissenschftliche
Buchgesllschaft, 1974.
9
Idemibidem, p. 366.
Pedro Cal das 135
O HOMEM CULTO DO SCULO XIX: QUESTIONAMENTOS
EM TORNO DO CONCEITO DE BILDUNG NA OBRA DE
JOHANN GUSTAV DROYSEN
Pedro Cal das*
EM SEU LONGO ENSAIO Consideraesdeum apoltico, Thomas Mann definiu
os alemes com uma pergunta retrica: No seria da essncia alem ser o
meio, o mediano e o mediador, e o homem alemo o homem mdio em
grande estilo?
1
Por mais que no seja recomendvel verificar historicamente
tal descrio, ela cabe muito bem para entender Johann Gustav Droysen
(1808-86), historiador cuja vida atravessa o sculo XIX e que ainda teve a
impressionante sensibilidade de, como aluno de Hegel, herdar questes da
cultura intelectual do sculo XVIII e incio do XIX, e ainda antecipar outros
problemas que serviro de passaporte para o sculo XX, como a crtica
prpria idia de histria que faria Friedrich Nietzsche e pela fundamentao
slida da hermenutica antes de Dilthey, Heidegger e Gadamer. Atravs de
Droysen, recuamos ao sculo XVIII, mas tambm podemos vislumbrar o
sculo XX. Por isso, no podemos nos deixar seduzir pela refinada ironia de
Thomas Mann: Droysen foi de fato uma figura do meio, e, se quisermos,
um intelectual que jamais teve a dimenso planetria de Kant, Goethe ou
Hegel. Mas, atravs de sua obra, certas questes podem ser colocadas em
debate, e dificilmente poderamos faz-lo atravs de somente um autor.
Droysen era historiador profissional, ou seja, j no vemos nele uma
figura cujo perfil encontramos em, por exemplo, um Johann Gottfried Herder,
telogo polgrafo que contribura para as reas da crtica literria, da pedago-
gia e, sobretudo, para um conceito de histria que enfrentava o kantismo.
Droysen j se formou em um ambiente universitrio razoavelmente estabe-
lecido e viveu em uma Alemanha de mudanas bruscas na rea da poltica e
*PEDRO CALDAS concluiu o Doutorado em Histria Social da Cultura pela PUC/RJ em 2004, com a
tese Quesignifica Pensar Historicamente. Uma Interpretao da Teoria da Histria deJohann Gustav
Droysen. Publicou o ensaio A riqueza do limite: subjetividade e histria em Johann Gottfried Herder
(2001) e a traduo de Sobre a tarefa do historiador de Wilhelm von Humboldt (2002) em Anima:
Histria, Teoria, Cultura. Atualmente traduz a obra de Droysen, Teoria da Histria, para a Editora
Topbooks.
135
136 O HOMEM CULTO DO SCULO XIX: QUESTIONAMENTOS EM TORNO DO CONCEITO DE BILDUNG NA OBRA DE J. G. DROYSEN
da economia sem falar, naturalmente, na filosofia, msica e literatura. O
que afirmamos o seguinte: Droysen era um especialista, e se esforou em
consolidar a autonomia da cincia histrica no somente atravs do seu
embasamento normativo e fundamentao metodolgica, mas sobretudo
atravs de um constante questionamento da prpria essncia da histria e de
sua importncia. Droysen iniciou sua carreira acadmica como helenista, o
que uma pista para indicar sua verdadeira sinceridade terica, ou seja, des-
de o princpio ele demonstra sua capacidade de formular questes. Suas pri-
meiras obras so responsveis pela cunhagem decisiva do conceito de
helenismo, que, para ele, serviria para entender uma poca at ento vista
como mera decadncia do perodo clssico grego, e, antes mesmo de publicar
seu primeiro trabalho historiogrfico de vulto em 1833 (GeschichteAlexanders
desGrossen), j havia feito nome como tradutor da obra integral de squilo. A
sua contribuio para a literatura revela mais do que apetite de um helenista
erudito: na verdade, j traz em si uma preocupao que o marcar decisiva-
mente por ainda vinte anos, a saber, a sua concepo trgica da histria.
Atravs desta concepo trgica e de uma sensibilidade com perodos
tidos como decadentes, torna-se possvel rever o que significa histria no
sculo XIX alemo, ou seja: o que significa pensar a histria depois das pre-
lees de Hegel sobre o tema?No se trata aqui de repetir o velho e gasto
lema historicista de que a histria cientfica, para se libertar, haver de negar
cada linha de Hegel. No to simples. Lembremos que a autonomia da
histria se inscreve em um raio muito mais amplo do que a afirmao de
normas e mtodos. Ela trata, sobretudo, da determinao do carter histri-
co do real, como nos lembra Walter Schulz:
A genialidade de Hegel consiste em algo mais do que simplesmente valorizar a hist-
ria por ela enfatizar a realidade antropolgica, mas sim consiste em conduzir funda-
mentalmente o conceito de realidade ad absurdum, a ponto de a histria aparecer
como carter fundamental do real (). Hegel apresenta que mesmo a reflexo sobre a
coisa mais simples mostra que no h ente fixo, mas sim uma determinao mtua de
sujeito e objeto: l est o objeto e aqui estou eu, o dito ponto de partida sujeito-objeto
precisa ser essencialmente negado em todas as regies do conhecimento.
2
A partir da recolocao do problema, ou melhor, a partir da premissa
de que eram reais, mas no tanto eletivas as afinidades entre Droysen e Hegel,
ou entre aquilo que eles representam, a saber, uma historiografia conceitual
interessada em despertar a sensibilidade para a contingncia e uma filosofia
absoluta do esprito, implica reconsiderar (a) a idia de autonomia da cin-
cia, questo inevitvel em um ambiente de consolidao da nova universida-
Pedro Cal das 137
de alem depois da fundao da Universidade de Berlim em 1810; (b) a
imagem do intelectual burgus do sculo XIX, aqui entendido como o ho-
mem da burguesia culta (Bildungsbrgertum), imagem esta geralmente con-
taminada pelas interpretaes criadas ao longo de todo o sculo XX a partir
do impacto da experincia do Terceiro Reich; (c) o significado complexo da
idia de Bildung, traduzido entre ns como Formao ou Cultura, conceito
que no encontra guarida definitiva em qualquer rea do conhecimento ou
produo cultural. A partir da obra de Droysen, em que esta complexidade
se mostra, no pretendemos afirmar a autonomia do conhecimento histri-
co, mas apenas procurar entender, a partir da discusso do conceito de hist-
ria, de outra maneira o conceito de Bildung, que, esperamos, possa ser discu-
tido para alm dos limites disciplinares previamente estabelecidos. Neste
sentido, as trs etapas acima indicadas descrevem na verdade as dimenses
que a Bildungpode assumir; sendo que a ltima, a nosso ver, capaz de dar
conta da prpria complexidade do conceito, uma vez que indicar um car-
ter trgico, e que, portanto, no ser mera ideologia que encobre contradi-
es ser, antes, o prprio exame destas contradies.
No pretendemos aqui analisar como Droysen de fato antecipa o scu-
lo XX, mas jamais podemos deixar de esquecer qual a nossa situao histri-
ca, quais os pressupostos hermenuticos que condicionam nossas interpreta-
es de um autor do sculo XIX ser neste sentido que aparacero aqui e
acol referncias a autores do sculo XX.
Bi l dung como aut onomi a ci ent f i ca
No ano de 1857, nove alunos da Universidade de Iena se inscreveram
em uma srie de prelees oferecidas pelo historiador Johann Gustav Droysen
que, deixando de lado a histria do helenismo e a histria da Prssia e da
Europa moderna, trataria do que hoje, se chama habitualmente teoria da
histria.
3
O curso denominava-se precisamente Enciclopdia e Metodologia
da Histria, cujas lies depois reunidas em livro por Rudolf Hbner e
Peter Leyh receberiam o nome definitivo de Historik.
A proposta das prelees era clara: saber o que significava pensar histo-
ricamente. Todavia, seu autor no procurava orgulhosamente entronizar o
lugar do historiador. Na verdade, o exerccio terico deveria realizar um exa-
me de pressupostos, quebrando certezas cujo grau de cristalizao obscurecia
o significado de conceitos fundamentais para a escrita da histria e o pensa-
mento histrico em geral.
138 O HOMEM CULTO DO SCULO XIX: QUESTIONAMENTOS EM TORNO DO CONCEITO DE BILDUNG NA OBRA DE J. G. DROYSEN
A acusao freqentemente feita ao insulamento nocivo da teoria da
histria, rea por vezes pouco convidativa aos prprios historiadores, no
atinge um historiador sagaz o suficiente para perceber a relao entre a cau-
dalosa produo historiogrfica da primeira metade do sculo XIX europeu
e a confuso terica, uma estranha frmula em que a misria da teoria con-
vivia com o fato de a Histria ser considerada, pelo menos no seio da bur-
guesia culta alem, um elemento indispensvel na formao individual.
Tanta vagueza justificaria, segundo Droysen, a legitimidade da Historik.
Cada um tem uma idia vaga do que seja histria, escrita da histria ou estudo da
histria. Nossa prpria cincia, porm, no vai alm desta idia vaga (). Quando
perguntada sobre sua legitimidade, sobre seu conhecimento e sobre o fundamento de
seu procedimento e essncia de sua tarefa, a nossa cincia no tem condies de dar
informaes suficientes.
Parece ter chegado a hora em que nossos estudos busquem por si mesmos determinar
sua essncia, sua tarefa e sua competncia.
Eu tentarei lhes apresentar uma disciplina que ainda no existe, que ainda no possui
nome nem lugar no crculo das cincias. Primeiramente precisa ser provado que ela
possvel e que tem legitimidade cientfica.
4
Justamente por viver em um contexto intelectual filosoficamente rico,
Droysen mira alto: no h nele um pedido de ajuda em outras disciplinas
que poderiam dar esta guarida alm de exigir do historiador uma conscin-
cia de seu prprio ofcio, ele procura estabelecer a diferena entre a histria
e os dois grandes modelos de conhecimento em sua poca, que eram forma-
dos pelos mtodos fsico-matemticos das cincias naturais e pelo mtodo
especulativo da filosofia e da teologia. Optar entre um mtodo e outro seria,
para Droysen, obrigar o homem a escolher a partir de uma falsa alternativa,
pois ambos os mtodos cristalizam uma parte da natureza do homem, que,
por ser, segundo ele, simultaneamente espiritual e sensorial, no poderia
fixar-se definitivamente em um dos dois aspectos, sob o risco de se tomar a
parte pelo todo; e, nesta tendncia de se fixar um dos extremos, fica nebulo-
so o significado do pensamento histrico e, mais do que isso, da prpria
essncia do homem.
Para os fenmenos histricos precisamos encontrar neles mesmos sua medida e seu
modo, necessrio haver um mtodo histrico. O sentido desta frase s ser cumprido
quando lembrarmos o quo falsa a alternativa entre as cosmovises (Weltanschauungen)
especulativas e materialistas que domina a oposio entre os mtodos filosficos e
fsico-matemticos, como se o pensamento e conhecimento humanos tivessem que
Pedro Cal das 139
em um timo pender para um lado ou para o outro. Esta alternativa falsa, porque
nele a natureza espiritual e sensorial do homem compreendida a partir de somente
um destes lados.
5
Se h a necessidade de um mtodo histrico, Droysen admite que h
lacunas ainda no preenchidas, ou ao menos questes cujo encaminhamen-
to poderia ser diverso. Sua observao de que no se deve resumir a cincia a
uma coleo de fatos adaptveis a leis, de um lado, ou a uma pura especula-
o, de outro lado, no exatamente indita no contexto alemo: a
bipolaridade das cincias, da qual Droysen parte para tentar justificar a exis-
tncia da Historik, tambm identificada por Hegel cinqenta anos antes,
no prefcio da Fenomenologia do Esprito, e uma das alavancas de seu imen-
so projeto filosfico.
Essa oposio parece ser o n grdio que a cultura cientfica de nosso tempo se esfora
por desatar, sem ter ainda chegado a um consenso nesse ponto. Uma corrente insiste
na riqueza dos materiais e na inteligibilidade; a outra despreza () essa inteligibilidade
e se arroga a racionalidade imediata e a divindade.
6
Realar a importncia das contingncias e despertar a sensibilidade para
o particular exigir, todavia, de Droysen um combate em duas frentes isto
caso seja possvel ver, a partir da fundamentao terica da histria, uma
concepo de cincia que seja mais do que mera derivao da filosofia idea-
lista de Hegel. Fazer o elogio da particularidade perante a lei geral no lhe
custa tanto esforo quanto pensar a diferena entre o pensamento histrico e o
pensamento filosfico a comear pela sua forte inclinao conceitual, que
no resistia a comear suas prelees sem deixar de fazer comentrios e intro-
dues conceituais e tericas, antes mesmo de entrar em seu tema especfico,
seguindo assim uma abordagem hegeliana na problematizao do conheci-
mento e na forma didtica de oferecer prelees, ou seja, estabelecendo a dife-
rena entre as cincias do esprito e as cincias naturais a partir do fato de que
estas j tm previamente dado o seu objeto, cuja definio seria mais do que
ociosa. Quanto s cincias do esprito, estas precisam mostrar a dignidade de
seu objeto e afirmar-lhes a existncia e o mtodo, no sem antes tentar inves-
tigar sua prpria essncia. Um belo exemplo a introduo ao seu curso
sobre histria moderna, no semestre de 1842/43, em que Johann Gustav
Droysen parece mostrar ter aprendido muito bem as lies de Hegel:
necessrio estar claramente consciente como a histria trabalha, e por quais cami-
nhos ela procura atingir tais e tais objetivos. Ela procura no passado dogmas para o
presente?() Ela quer esgotar o infinito material emprico, pesquisar e justificar com
140 O HOMEM CULTO DO SCULO XIX: QUESTIONAMENTOS EM TORNO DO CONCEITO DE BILDUNG NA OBRA DE J. G. DROYSEN
igual agudeza cada particularidade?() Ao contrrio das cincias naturais, a histria
no tem seus objetos previamente dados. Seus primeiros materiais j so abstraes, e
no a prpria realidade, mas uma acepo subjetiva.
7
De acordo com esta passagem, v-se que a tentativa de esgotar o mate-
rial emprico e esquadrinhar cada canto da realidade histrica uma tarefa
essencialmente equivocada, pois, segundo Droysen, o objeto histrico, mes-
mo quando aparentemente uma evidncia emprica e absolutamente parti-
cular, na verdade uma apreenso subjetiva. H mais semelhanas com a
filosofia de Hegel do que o prprio Droysen possivelmente gostaria de ad-
mitir ou ao menos no menciona explicitamente. Para dar um exemplo
desta semelhana de mtodo: logo no incio de seu curso sobre esttica, Hegel
diz que no somente qualquer cincia deve afirmar a existncia de seu objeto
e saber aquilo que ele , bem como h uma grande diferena entre o que ele
chama cincias ordinrias e cincia filosfica do esprito; naquelas, os obje-
tos existem no mundo sensvel, nesta o objeto existe justamente no esprito,
ou seja, sua natureza subjetiva, e, assim, o conhecimento para si, e deve
ao final, como esprito, ser objeto de si mesmo.
8
Todavia, bom lembrar que
tal natureza subjetiva no significa uma existncia anterior e independente
da experincia, ou seja, algo que exista em estado puro antes do conheci-
mento daquilo que se pretende conhecer. Droysen certamente parte da dife-
rena estabelecida por Hegel entre pensar representativo e pensar especulativo
ou conceitual, ou seja: a primeira forma de pensar pressupe um sujeito que
conhece acidentes e se cr inalterado por este conhecimento e, como diz
Hegel, ao fim e ao cabo ou bem se v perdido em uma multido de determi-
naes carentes de pensamento ou bem se cr superior a todo contedo,
achando em cada um apenas o prprio vazio. Na segunda, o que ocorrre a
experincia que a conscincia faz de si mesma.
A conscincia sabe algo: esse objeto a essncia ou o Em-si. Mas tambm o Em-si
para a conscincia; com isso entra em cena a ambigidade desse verdadeiro. Vemos
que a conscincia tem agora dois objetos: um, o primeiro Em-si; o segundo, o ser-
para-ela desse em si. Esse ltimo parece, de incio, apenas a reflexo da conscincia
sobre si mesma: uma representao no de um objeto, mas apenas de seu saber do
primeiro objeto. S que o primeiro objeto se altera ali para a conscincia.
9
A base hegeliana para uma fundamentao do conhecimento histrico
torna-se pois inegvel: na medida que o conhecimento histrico h de de-
monstrar sensibilidade para as contingncias, foroso concluir que tal sen-
sibilidade se revela sobretudo pela importncia da referncia (em um pri-
Pedro Cal das 141
meiro momento) objetiva que o historiador adota. Assim, no pode ser indi-
ferente ao historiador se dedicar ao Egito antigo ou Espanha da Idade de
Ouro, por exemplo. H de se encontrar algo que simplesmente no se v em
outra situao a partir da pergunta realizada pelo historiador. O objeto se
altera para a conscincia todavia, o que importa ressaltar neste primeiro
passo o fato de o prprio estabelecimento das fundaes do conhecimento
histrico, alm da prpria pesquisa emprica, se mostrarem como uma expe-
rincia, um processo em que a conscincia se experimenta a si mesma, e ,
neste sentido, independente de esferas que lhes sejam anteriores, posterio-
res, que lhe prestem o servio de autoridade. Isto j Bildung. Basta ver o
que nos diz Thomas Nipperdey:
A Bildung um processo vitalcio e inconclusivo, e que por isso se torna fim de si
mesma, algo portador de um valor superior. Podemos falar aqui tambm de cultivo de
si mesmo. Esta Bildung paira por cima do mundo da praxis, do trabalho, do ganho de
dinheiro, da economia.
10
O desgaste da imagem do intelectual do sculo XIX, ao menos a ima-
gem representada na Alemanha, deve muito idia de Bildungacima descri-
ta. Desconsiderando o pressuposto da liberdade do pensamento e de sua con-
seqente possibilidade de distanciamento crtico e verdadeira desburocratizao
ou seja, sabendo-se meio e fim de si mesmo, o saber teria condies de
perceber quando alugado para fins que ele mesmo no pode detectar , o
que resta seria mesmo o distanciamento da realidade. E assim, da mesma
maneira que a idia de Bildungseria capaz de se dissolver capilarmente pela
cultura alem desde fins do XVIII e incio do XIX, sua crtica ser igualmen-
te indistinta ou seja, vir de todos os cantos do espectro ideolgico e de
todas as formas de saber. Neste momento, faamos nosso interldio
hermenutico, ou seja: que pressupostos esto presentes sempre quando se
fala de Bildung?
Bri l ho e mi sri a da Bi l dung
Um acesso imediato ao corao do sculo XIX alemo, se invivel,
por outro lado pode se tornar mais produtivo se considerarmos de fato al-
guns dos obstculos e condies que se interpem ou mesmo favorecem,
como desafios, a interpretao da idia de Bildung. Impossvel, por exemplo,
desconsiderar Nietzsche e suas Segundasconsideraesintempestivas. Para o
filsofo, o risco da Bildungestaria em sua ambio de universalidade: esta j
142 O HOMEM CULTO DO SCULO XIX: QUESTIONAMENTOS EM TORNO DO CONCEITO DE BILDUNG NA OBRA DE J. G. DROYSEN
se manifestara na tentativa de fazer do saber algo que se alimente de sua
prpria atmosfera e que seja em si e para si mesmo, e, por isso, o sujeito do
conhecimento poderia se tornar o que Nietzsche denominava eunuco cos-
mopolita, ou seja, como o homem indiferente, que v em todas as mani-
festaes histricas um mesmo valor, todas elas, sem distino, dignas de
estudo. Seria um sujeito passivo, neste sentido, pois impelido, pela sua for-
mao, a tudo aceitar e tudo entender e compreender no seria afinal o
pressuposto bsico da hermenutica do sculo XIX a empatia, revelada na
identidade entre sujeito e objeto do conhecimento?O homem da Bildung,
que deveria ser um homem ativo, dado o distanciamento crtico produzido
pela experincia prpria, e no alheia, do conhecimento, acaba se tornando
um homem passivo. uma interpretao apressada ver na Segunda conside-
rao intempestiva somente um pequeno ensaio contra a historiografia; acre-
ditamos que ali h uma crtica a uma determinada concepo de homem e
de toda uma cultura intelectual. Com Nietzsche, o homem da Bildung, o
homem culto, revela sua contradio essencial em ser pretensamente aut-
nomo, mas, de fato, ser passivo.
Todavia, e a podemos ver como se destaca o pensamento de Droysen,
igualmente apressada fazer tbula rasa da idia de hermenutica do sculo
XIX na Alemanha. Droysen pode ser um timo ponto de entrada para que o
entendimento simples de Compreenso (Verstehen) como empatia e anula-
o de diferenas seja fortemente relativizado.
Dizamos acima, no primeiro movimento deste estudo, que a autono-
mia da histria haveria de ser cumprida atravs de uma conscincia do histo-
riador sobre o prprio procedimento. E este procedimento no poderia sim-
plesmente ser uma transposio do mtodo especulativo do idealismo filo-
sfico, por um lado, nem a aplicao de leis imutveis, tais como fazem ou
faziam as cincias naturais. Por vezes, h a negao de ambos, mas em prol
de um objetivismo que v no conhecimento histrico apenas a constatao
de fenmenos, e que, por isso, no h qualquer atividade subjetiva em sua
realizao. A estratgia de Droysen para comprovar que a objetividade im-
possvel novamente hegeliana. Fundamentalmente, Droysen percebe no
objeto, aparentemente simples em sua univocidade e em sua imediaticidade,
uma estrutura complexa. O que era simples, desdobra-se. Trata-se de um
procedimento essencial em Hegel: neste, o objeto sempre algo percebido
em vrias de suas determinaes, e no somente como representao de si
mesmo ou de algo e neste ponto so exemplares e elucidativos os comen-
trios de Wolfgang Wieland sobre a primeira figura da experincia de si da
Pedro Cal das 143
conscincia (a certeza sensvel) descrita por Hegel na Fenomenologia do Esp-
rito. Para Wieland, mesmo na certeza sensvel, a mais cotidiana e corriqueira
forma de representao (isto uma rvore, agora manh, etc.), h uma
ambio do absoluto. O absoluto j est no homem, donde se conclui que a
absoluto no uma substncia verdadeira e preexistente ao homem, tampouco
algo que somente se mostra no final, como poderia ser em uma tosca
teleologia. Quando Hegel, de acordo com Wieland, mostra que a certeza
sensvel ao indicar um isto indica uma multiplicidade de aquis e agoras
mesmo sem sab-lo, o que se est mostrando o percurso do absoluto e
isto a Bildung. No um cnone a ser seguido, atingido e copiado, no
uma capacidade inata, no a senha de uma sociedade secreta. Est dada
como possibilidade, pois a todo instante, mesmo no mais corriqueiro, h a
presena da vontade de absoluto.
11
Devemos antecipar que, em Droysen, no se almeja chegar ao absoluto,
ao menos no como Hegel entende. O procedimento, em que o conheci-
mento adquire o carter de um processo, o mesmo. No se trata de opr
subjetividade e objetividade, mas simplesmente de demonstrar que a preten-
so de objetividade j sempre uma pretenso, desta vez inconsciente como
pressuposto, de subjetividade. Droysen mostra claramente quando trata do
prprio conceito de Compreenso. Para ele, o primeiro passo da compreen-
so justamente o da interpretao pragmtica, dito de outro maneira: a
pesquisa pretensamente objetiva. Partindo do princpio de que impossvel
ter-se material que responda todas as questes levantadas, necessrio de
alguma maneira, como diz Droysen, lanar mo de dois artifcios: a compa-
rao e a analogia. Da mesma forma que um restaurador procura reconstruir
uma escultura de acordo com esculturas ainda preservadas da mesma poca,
o historiador certamente far o mesmo com as lacunas que ele encontra na
documentao. Mas a operao comparativa no estabelecida pelas fontes,
mas sim pelo prprio historiador, e, assim, naquilo que h de mais objetivo,
ou seja, para a simples descrio de um determinado fenmeno, invariavel-
mente necessria a interveno do historiador que pressupe algo mais
universal do que a particularidade estudada: a fixao de sagas populares,
como a cano dos Nibelungos, teria sido impossvel sem que se recorresse
ao procedimento comparativo e analgico. Como afirma Droysen, legti-
mo superar o carter fragmentado dos vestgios e, a partir de semelhancas
no evidentes na letra do texto, estabelecer uma nova unidade. Logo, a
interpretao pragmtica revela seu limite e precisa se tornar uma interpreta-
o das condies, dos contextos que tornaram tais comparaes e analogias
144 O HOMEM CULTO DO SCULO XIX: QUESTIONAMENTOS EM TORNO DO CONCEITO DE BILDUNG NA OBRA DE J. G. DROYSEN
possveis, ainda que estabelecidas pelo historiador. O processo interpretativo,
que Hayden White classificou com muita propriedade como fenomenologia
da leitura
12
ainda ter outras duas etapas a interpretao psicolgica e a
interpretao das idias e este no o espao para sua devida anlise. O que
importa ressaltar no momento o seguinte: no h uma momento anterior
e puro interpretao, tampouco um momento posterior, como se o objeto
existisse em estado bruto antes da interveno do intrprete. Como vimos
em Hegel, o primeiro objeto se altera para a conscincia justamente quan-
do ela julga ter se libertado dele, quando ela passa a ser um saber do prprio
saber. E este o grande incmodo, e na verdade, grande passo, no dado por
Hegel, para que a historiografia adquira o direito de desenvolver o mtodo
da hermenutica histrica que se destaca da filosofia. Essa alterao do obje-
to a afirmao da contingncia, do momento, ou, preferamos dizer, do
presente. A idia de presente, em Droysen, decisiva. No ser o presente
que simplesmente se projeta no passado (como querem a hermenutica da
empatia e um difuso positivismo objetivista), ou no futuro (como quer o
utopismo teleolgico), mas um presente desconfortvel, consciente de seus
conflitos.
a que finda a fora de nossa induo e de qualquer induo. Afinal, o entendi-
mento do homem capta somente o meio, no o incio, no o fim. O nosso mtodo no
descobrir o ltimo segredo, nem mesmo o seu caminho, nem mesmo a entrada para
o templo. No entendemos a totalidade absoluta, o fim dos fins, mas compreendemos
uma de suas expresses que j est compreendida em ns.
13
O que significa afirmar que o entendimento do homem capta somente
o meio?Como j assinalamos, o meio no nos lembra somente a frase
irnica de Thomas Mann; o meio seria o lugar ocupado pela Historik, que
exerceria, segundo Droysen, o papel de mediador entre a bipolaridade exis-
tente em um mundo cientfico cindido entre cincias da matria e cincias
do esprito, entre natureza e esprito: este meio o lugar do homem. quase
redundante afirmar que o papel da Histria justamente o cumprido pela
tica: o mundo tico, e nada alm dele, que constitui o objeto de nossa
cincia; no o seu ser, e sim o seu devir () Essencial no mundo tico
que ele um constante querer e dever, um constante devir; e somente por
este motivo ele tico, porque a cada momento ele est em movimento.
14
De alguma maneira, o meio, se o lugar do conhecimento, i., como
mtodo que pretende conciliar a especulao e as leis naturais, possui tam-
bm uma marca trgica: afinal, o conhecimento parece ser sempre tardio, ou
Pedro Cal das 145
seja, a conscincia posterior ao neste sentido, no conhece o incio.
E tambm parece ser intil, ineficaz, pois esta mesma conscincia, tardia-
mente revelada, jamais ser um ensinamento aplicvel para um momento
posterior. Mantendo-se fiel ao princpio da Bildungde ser em si e para si, o
conhecimento recai sobre si mesmo, mas, paradoxalmente, esta concentra-
o em si mesmo parece distanciar-se da pretenso de autonomia e controle
de si. Assim, muito mais do que simples mtodo que permite uma reconci-
liao com o passado atravs da empatia,
15
o mtodo compreensivo vige em
uma aporia: como ser o lugar do conhecimento, mediador entre lgica e
fsica, se sobretudo ele se mostra como tardio e ineficaz?Se a pergunta
incomoda, ela tambm pode ser produtiva. Torna-se complicado ver por
detrs de em uma tal concepo intelectual um homem culto passivo, preo-
cupado com detalhes de seu saber escolar, instaurado na clssica torre de
marfim. As contradies de Bildungno precisariam ser encontradas nas
acusaes de Nietzsche, ou muito menos no sculo XX. J em meados do
XIX podemos identificar seus conflitos.
O Homem cul t o do scul o XIX
Compreende-se sem dificuldade porque um autor como Nietzsche, ou
mesmo outros, como Ernst Jnger no sculo XX ou um scholar como Norbert
Elias,
16
veriam no ideal burgus da Bildungsimplesmente um elogio da
introspeco, do alheamento. Quando lemos em Wilhelm von Humboldt
que a religio passara a ser um meio privilegiado de formao do homem,
pois a partir de fins do XVIII ela se separara do Estado ou o Estado se
separara dela e, por isso, a religio no somente deixara de ser uma obriga-
o legal e se tornaria algo que se encontraria somente no interior de cada
homem, ambiente que o Estado no atingiria, mas sobretudo por se separar
das fronteiras nacionais delimitadas pelo Estado, ela poderia alcanar seu
potencial universal e portanto, servir de meio e fim de realizao do
homem. O indivduo, em sua ambio de universalidade e eternidade ex-
pressa na religio, estaria s, sem amparo do Estado: Nossa religio no nos
impe uma divindade nacional, mas sim uma divindade geral. No a reli-
gio do cidado, mas sim a religio do ser humano
17
. J esta pressuposio
de que homem e cidado no se identificam plenamente indica o que se
mostraria posteriormente em Droysen. O homem culto no um indivduo
autnomo; afinal, sua interioridade parece se realizar em outra esfera. Hegel,
de alguma maneira, tambm ir dar motivos para que o homem culto seja
146 O HOMEM CULTO DO SCULO XIX: QUESTIONAMENTOS EM TORNO DO CONCEITO DE BILDUNG NA OBRA DE J. G. DROYSEN
pensado como um homem contido, inativo. Em suas prelees sobre a
filosofia da histria podemos ler que:
O homem culto aquele que sabe imprimir em tudo o selo da universalidade, aquele
que renunciou sua particularidade, e que age de acordo com fundamentos gerais. A
Bildung forma do pensamento; visto com mais proximidade, podemos ver que isto
significa dizer que o homem sabe se conter, e no simplesmente age segundo suas
inclinaes e desejos, mas algum que se concentra. Com isso, ele d aos objetos um
campo livre e est acostumado a se comportar teoricamente.
18
No podemos simplesmente negar o poder terico que de fato encon-
tramos em inmeros pensadores do sculo XIX. Negar uma concepo de
homem culto como um solipsista no passa pela negao do homem teri-
co; e Droysen, neste aspecto, serve de prova para que o problema seja discu-
tido em novas bases. Ser terico e contido significa no se deixar levar pelo
momento imediato mas nem por isso o presente deixa de ser relevante,
como j vimos e poder perceber a complexidade do que se apresenta sim-
ples. Como Hegel mesmo indica, o comportamento terico deixa mesmo
livre o campo dos objetos. O comrcio com o mundo, para o homem culto
do sculo XIX, ou ao menos em Droysen, mais complexo do que podemos
ver em uma idia solipsista deste mesmo homem. A conteno no significa
que este homem englobe em si e em suas representaes todo este mundo. A
conteno o comportamento que no se deixa levar pelo imediato, e perce-
be a complexidade, e, assim, evita que os fenmenos ganhem sentido apres-
sadamente afinal, no vimos que individualidade e autonomia no se con-
fundem?
Aproveitamos para retomar um ponto que apenas indicamos no incio
deste artigo: a relao de Droysen com os gregos. Mais de vinte anos antes de
elaborar sua teoria da histria, Droysen escreveu um pequeno estudo sobre
os trs grandes tragedigrafos gregos. Neste estudo, encontramos em estado
bruto, mas perfeitamente visvel, as formas de comrcio com o mundo que
marcaro o homem culto. um comrcio trgico, digamos assim. Para
Droysen, em squilo o homem se v culpado no exato momento em que
fica consciente da estrutura misteriosa de mundo na qual j est inserido. A
prpria conscincia sinal desta culpa, e tal estrutura misteriosa parece ser
absolutamente opressora.
19
Em Sfocles,
20
esta dualidade muda: o homem
se v como indivduo que enfrenta as leis da plis, e, mesmo ao sucumbir,
reconhece sua identidade. Com Eurpides, o mundo das tragdias gregas
chega, na interpretao de Droysen, ao seu oposto: se em squilo a estrutura
Pedro Cal das 147
misteriosa do mundo oprimia a conscincia culpada, e se em Sfocles a
estrutura inteligvel e legalista do mundo opunha a conscincia com o mun-
do, no terceiro simplesmente o discurso ser integralmente responsvel pela
significao do mundo. Com o autor de Media, a arte deixa de ser uma
configurao necessria e fechada em si mesma; ela uma forma capaz de
assimilar qualquer contedo.
21
O que Droysen sugere interessante: no se
pode pensar qual dos trs seria o o mais trgico. Na verdade, o divrcio entre
homem e mundo se apresenta, de maneira diversa, nos trs dramaturgos.
E qual seria pois a relao entre tal concepo de tragdia e a concepo
de Bildung em Droysen?Antecipemos nosso objetivo: ao demonstrar sua
semelhana, veremos que a Bildungno uma ideologia apazigadora de
conflitos, mas sobretudo uma forma possvel de conscincia dos conflitos do
homem com o mundo.
J dissemos que o projeto da Bildung, seja em Hegel ou em Wilhelm
von Humboldt, passa por uma necessidade de abstrao, por uma ambio
de histria como histria da humanidade e assim ainda permanece um
projeto burgus, sem dvida ao tentar possibilitar justamente o que signi-
fica romper com o sujeito emprico e tornar-se um sujeito que enxerga com
os olhos da humanidade. A seguinte passagem de Droysen ilustrativa
para o problema que se prope resolver.
A natureza do homem se eleva sobre a prpria finitude (). Trata-se de compreender
o poder da fantasia, que ultrapassa o momento, o que ser e o que dever ser ().
Trata-se de entender o poder da inteligncia, que a partir de novos pensamentos re-
constri a partir das coisas dadas, que, por assim, dizer, pensa de maneira nova ().
Deve-se por fim entender tambm o poder da vontade, que realiza o novo que foi
pensado apesar de toda resistncia.
22
Lamentavelmente Droysen no desenvolve teoricamente tais conceitos
em seu Historik em toda sua potencialidade, tampouco os transpe para seus
estudos sobre tragdia feitos ainda na dcada de 30 do sculo XIX. A seme-
lhana se revela, ainda que no se concretize como uma identidade absoluta.
Os trs poderes descritos por Droysen podem ser encontrados em outras
duas situaes por ele exibidas e que j apresentamos: o universo do conhe-
cimento tambm se divide em trs, a saber: a especulao ou o saber-do-
saber e o conhecimento de leis objetivas que emana dos fenmenos mas que
acaba por dissolv-los nas mesmas leis e a teoria da histria, que haveria de
afirmar o movimento constante entre saber e fenmeno. Ao se mostrar como
fantasia, inteligncia e vontade, adquirimos, atravs da teoria da histria,
uma nova possibilidade de pensar o comrcio entre saber e fenmeno, que,
148 O HOMEM CULTO DO SCULO XIX: QUESTIONAMENTOS EM TORNO DO CONCEITO DE BILDUNG NA OBRA DE J. G. DROYSEN
de alguma maneira, no descarta os segundos, porque justamente j esboa-
do na apresentao dos tragedigrafos gregos. A fantasia estaria em Eurpides
ainda que este tambm possa estar na vontade de fazer o novo. Assim,
podemos ver como squilo seria a inteligncia, ou seja, o conhecimento
radical de estruturas e de sua real significao. Mas squilo poderia estar na
fantasia, pois tais estruturas so misteriosas. Por outro lado, Sfocles seria a
vontade, expressa em Antgona, mas ainda tambm poderia ser a intelign-
cia do conhecimento das leis da plis. O fato que tais foras precisam
conviver entre si, no se fecham, e precisam justamente receber tratamento
conceitual, e no emprico (do contrrio Droysen teria se contentado com o
estudo das tragdias gregas), mantendo viva a complexidade exigida da
Bildung. A superao do imediato pode se dar de trs maneiras diferentes, e
somente a considerao das diferentes formas de faz-lo dar conta da di-
menso da questo. Bildungno filosofia, teologia ou fsica. a possibili-
dade de considerar as diferentes formas, conflitantes e nem sempre comple-
mentares, de se lidar com isto. E a histria, como teoria, uma possibilidade
de ser a conscincia deste conflito. E quando dizemos possibilidade, por-
que, como nota o crtico italiano Franco Moretti, os romances-de-formao
j indicavam questo semelhante. Os romances da poca, principalmente os
de Goethe, no procuravam uma reconciliao dos seus heris consigo mes-
mo, mas, como muito bem observa Moretti, antes indicam um estado de
permanente movimento. Na literatura, no seria a Bildungsempre uma marca
da juventude, ou seja, a recusa da maturidade e da cristalizao e a necessidade
de exposio dos conflitos?Citamos Moretti: Para Schiller e Goethe, felici-
dade o oposto de liberdade, o fim do devir. Seu surgimento marca o fim de
toda tenso entre o individual e seu mundo, todo desejo para metamorfoses
futuras se extinge.
23
O que apresentamos no intenciona fechar uma questo. Na verdade,
trata-se de procurar problematizar o ideal de homem culto do sculo XIX,
bem como identificar as fontes que podem conduzir a questo de uma ma-
neira mais complexa (como tentamos fazer atravs do uso de Hegel, Wilhelm
von Humboldt e da recepo das tragdias gregas). Desta maneira, afirma-
mos que possvel tornar mais complexo um conceito que, repetimos, no
se esconde dentro de um disciplina especfica, e, por isso, no se deixa domi-
nar por um mtodo consciente e sistematicamente desenvolvido, e que, jus-
tamente por isso, pode ser um excelente meio hermenutico para a compre-
enso de uma situao histrica to rica quanto decisiva (a cultura alem da
primeira metade do sculo XIX) na qual podemos construir conceitos dos
Pedro Cal das 149
quais no estavam plenamente conscientes os agentes da prpria poca. Mas
o fato de Droysen ter somente indicado um caminho possvel para compre-
enso da Bildungcomo um jogo entre vontade, fantasia e inteligncia que
nos permite perceber sua riqueza. Terminamos lembrando Thomas Mann.
Boa a obra que fica no meio.
Resumo: O objetivo deste artigo ana-
lisar a idia de homem culto a partir de
alguns aspectos da obra do historiador
alemo Johann Gustav Droysen (1808-
1886). Para que tal idia seja reconside-
rada em novas bases, implica reconside-
rar (a) a idia de autonomia da cincia,
questo central desde a fundao da Uni-
versidade de Berlim em 1810; (b) a ima-
gem do intelectual burgus do sculo
XIX, aqui entendido como o homem da
burguesia culta (Bildungsbrgertum),
imagem esta geralmente contaminada
pelas interpretaes criadas ao longo de
todo o sculo XX desde o impacto da
experincia do Terceiro Reich; (c) o sig-
nificado complexo da idia de Bildung,
conceito que no encontra guarida defi-
nitiva em qualquer rea do conhecimen-
to ou produo cultural. A partir da obra
de Droysen esta complexidade indicar
um carter trgico, e que, portanto, no
ser mera ideologia que encobre contra-
dies ser, antes, o prprio exame
destas contradies.
Palavras-chave: homem culto, Bildung,
Droysen.
Abstract: The article presents an analysis
of the concept of gebildeter Mensch, or
cultured man present in some aspects
of the work of German historian Johann
Gustav Droysen (1808-1886).Examining
this concept from a new basis, this work
reconsiders three main points: (a) the idea
of scientific autonomy, a central issue
since the foundation of the University of
Berlin, in 1810; (b) the image of the
nineteenth-century bourgeois intellectual,
here understood as the man of the
cultivated bourgeois (Bildungsbrgertum),
an i mage l argel y contami nated by
interpretations developed throughout the
20
th
century derived from the traumatic
experience of the Third Reich; and (c) the
complex meaning of the idea of Bildung,
a concept which cannot be set in any sin-
gular field of knowledge or area of cultu-
ral production. Through Droysen, this
complexity reveals a tragic face, and, as
such, is not mere ideology used to cover-up
contradictions; but, rather, represents the
very examination of these contradictions.
Keywords: cul tured man, Bildung,
Droysen.
Not as
1
DROYSEN. Johan Gustav. Historik. Stuttgart-Bad-Canstatt: Fromann-Holzboog Verlag, 1977. pp. 4-5.
2
MANN, Thomas. Betrachtungen einesUnpolitischen. Frankfurt am Main: Fischer, 2001, p.129.
3
SCHULZ, Walter. Philosophiein der vernderten Welt. Stuttgart: Klett-Cotta, 2001, 6
a
ed., pp. 498-9.
4
Como nota Peter Leyh na introduo de sua edio do Historik, o curso seria oferecido ainda outras
150 O HOMEM CULTO DO SCULO XIX: QUESTIONAMENTOS EM TORNO DO CONCEITO DE BILDUNG NA OBRA DE J. G. DROYSEN
17 vezes, at o semestre de inverno 1882/83. Felizmente a freqncia aumentaria, ainda que levemen-
te, ao longo dos vinte e cinco anos entre a primeira e a ltima verso do curso.
5
DROYSEN, Johann Gustav. Historik. Stuttgart: Fromann-Holzboog, 1977, Ed. Leyh. pp. 3-4.
6
HEGEL, Gerog Wilhelm Friedrich. Fenomenologia do Esprito, Petrpolis: Vozes, 2000, p. 32.
7
DROYSEN, J.G. Der erste Abschnitt der Einleitung der Vorlesung ber die Neuere Geschichte
1842/43. In: Historik Bd.II, p. 93.
8
HEGEL, G.W.F. Curso de esttica: O Belo na Arte. So Paulo: Martins Fontes, p. 7. O objeto de
uma cincia natural , pois, algo de dado que no necessita definio nem rigor. () as cincias sobre
produtos do esprito solicitam uma introduo, um prefcio. Quer se trate do direito, da vritude, da
moralidade, etc., quer se trate do belo, nunca o objeto possui determinaes to firmemente estabelecidas
e to geralmente aceitas que dispensem que um trabalho prvio lhes seja especialmente dedicado.
9
HEGEL, G.W.F. Fenomenologia do Esprito, p. 80.
10
NIPPERDEY, Thomas. DeutscheGeschichte1800-1866. Mnchen: Beck, 1998, p. 58.
11
Wieland diz em seu texto Hegels Dialektik der sinnlichen Gewissheit: No se pode ver o absolu-
to como um fundamento anterior ativo e simultaneamente como uma ltima instncia. O absoluto
antes, como diz Hegel na introduo da Fenomenologia, em si e para si entre ns. Isto precisa todavia
fazer sentido para o saber imediato e para o senso-comum do homem. O absoluto est entre ns
como ambio de verdade na medida em que est sempre relacionado com todas as formas e configu-
raes de nosso saber, cuja essncia j seria uma ambicionar pela verdade, no importando se ns
queermos tal ambio ou no. In: FULDA, H. & HENRICH, D. Materialen zu HegelsPhnomenologie
desGeistes, pp. 79-80.
12
Cf. WHITE, Hayden. Droysens Historik: Historical Writing as a Bourgeois Science. IN: The
Content of theForm. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1987, p. 88.
13
DROYSEN, J.G. Historik. Ed. Leyh. p. 30.
14
DROYSEN, J.G. Historik. Ed. Leyh. p. 31.
15
Devemos naturalmente afirmar que reconhecemos tambm a importncia histrica do mtodo
compreensivo que se sustenta na empatia; trata-se tambm de uma tentativa de superar a simples
dicotomia sujeito-objeto, sustentada em regras e normas epistemolgicas, atravs da introduo de um
elemento sentimental, irracional, que se d para alm da clareza das regras e dos mtodos. O
objetivo final, conciliador, no se mantm, sobretudo de acordo com o procedimento. Tal mtodo
aparece em seu vigor mximo com Schleiermacher, mas j encontramos traos maduros de seus fun-
damentos em Johann Gottfried Herder.
16
Enquanto Ernst Jnger dir que o burgus o homem que, por desejar apenas se assegurar e se
preservar em seu conforto, procura se alienar das circunstncias atravs de dogmas universais, manten-
do-se distante das emergncias locais e prprias de sua situao histrica e cultural. Elias, por sua vez,
em estudo relativamente recente, dir que o ideal alemo de homem, mesmo no sculo XIX, ser o
grmen do nacional-socialismo ao formar um ideal de conduta puramente especulativo, distante da
realidade; e que, por isso, futuramente, poderia exigir o impossvel, a saber, a pureza.
17
HUMBOLDT, Wilhelm von. WerkeBd.1. Stuttgart: J-Cottasche Buchhandlung, 1980, 3
a
ed., p.5.
18
HEGEL, G.W.F. DieVernunft in der Geschichte. Hamburg: Meiner, 1994, p. 65.
19
Cf. DROYSEN, J.G. KleineSchriften zur Alten Geschichte. Leipzig, 1894, pp. 280-1.
20
Ibid, p.285.
Pedro Cal das 151
21
Ibid, p.287
22
DROYSEN, J.G. Historik. Ed. Leyh. p. 390.
23
MORETTI, Franco. TheWay of theWorld: TheBildungsroman in theEuropean Culture. London:
Verso, 1987, p. 23.
Bi bl i ograf i a
DROYSEN, Johann Gustav. Historik. Editado por Peter Leyh. Stuttgart:
Fromann-Holzboog, 1977.
_________: Der erste Abschnitt der Einleitung der Vorlesung ber die
Neuere Geschichte 1842/43. In: Historik Bd.II. Editado por Peter Leyh.
No prelo.
_________: . KleineSchriften zur Alten Geschichte. Leipzig, 1894.
FULDA, H. & HENRICH, D. Materialen zu HegelsPhnomenologiedes
Geistes. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1976.
HEGEL, Gerog Wilhelm Friedrich. Fenomenologia do Esprito, Petrpolis:
Vozes, 2000.
___: DieVernunft in der Geschichte. Hamburg: Meiner, 1994.
HUMBOLDT, Wilhelm von. WerkeBd.1. Stuttgart: J-Cottasche Buchhandlung,
1980, 3
a
ed.
MORETTI, Franco. TheWay of theWorld: TheBildungsroman in theEuro-
pean Culture. London: Verso, 1987.
NIPPERDEY, Thomas. DeutscheGeschichte1800-1866. Mnchen: Beck,
1998.
WHITE, Hayden. Droysens Historik: Historical Writing as a Bourgeois
Science. In: TheContent of theForm. Baltimore: The Johns Hopkins
University Press, 1987.
152 A PINTURA DE PAISAGEM ENTRE ARTE E CINCIA: GOETHE, HACKERT, HUMBOLDT
A PINTURA DE PAISAGEM ENTRE ARTE E CINCIA:
GOETHE, HACKERT, HUMBOLDT
Cl audi a Val l ado de Mat t os*
EM 1807, O NATURALISTA ALEMO Alexander von Humboldt traria a pblico
um pequeno livro intitulado Ansichten der Natur (Quadrosda Natureza
1
),
resultado de mais de cinco anos de pesquisas realizadas durante sua viagem
pelo continente Americano
2
. diferena dos 30 volumes contendo os deta-
lhados relatos de sua expedio s Amricas, publicados em Paris entre 1805
e 1839, sob o ttulo de VoyagedeHumboldt et Bompland, o pequeno volume de
1807 visava oferecer ao leitor o que Humboldt entendia como a sntese filos-
fica dessa experincia, realizada por meio do que chamou de Naturgemlde, ou
Pinturas da Natureza. Isto , Humboldt apresentava no livro uma viso ao
mesmo tempo total e sinttica (Totaleindruck), resultante da anlise detalha-
da dos mltiplos fenmenos locais que compunham as fisiognomias
(Phisiognomie) de segmentos especficos do grande corpo vivo de nosso pla-
neta, que inclua tambm a dimenso humana.
3
Para os diferentes segmen-
tos climticos que explorara em sua viagem pelo continente americano, por-
tanto, o autor procurava compor no livro uma pintura, um quadro que
colocasse diante dos olhos do leitor a Natureza tal como ela aparecia em
sua totalidade nos stios visitados, com sua organizao especfica e em toda
sua vivacidade. Nesse sentido, Humboldt escreveria no prefcio primeira
edio do livro:
Timidamente entrego ao pblico uma srie de trabalhos, criados diante de grandes
objetos da natureza, no Oceano, nas florestas do Orinoco, nas estepes da Venezuela,
nos desertos das montanhas peruanas e mexicanas. Alguns fragmentos foram escritos
no local e novamente fundidos em uma totalidade. O grande panorama da Natureza,
a prova da ao conjunta das Foras e a renovao do prazer que a viso no mediada
dos trpicos proporciona ao homem de sentimento, so os objetivos que persigo.
4
*CLAUDIA VALLADO DE MATTOS, Doutora em Histria da Arte pela Universidade Livre de Berlim, foi
Associate Fellow junto ao Courtauld Institute of Art de Londres e professora do Departamento de
Artes Plsticas do Instituto de Artes da Unicamp. autora de Expressionismo e/ou Judasmo. O Perodo
Alemo deLasar Segall (1906-1923) (Perspectiva, 2000), EntreQuadroseEsculturas. WesleyeosFundado-
resda Escola Brasil: (Discurso Editorial, 1997), Lasar Segall, (Edusp, 1996), co-autora do volume O
Brado do Ipiranga (Edusp, 1999) e organizadora de GoetheeHackert: Sobrea Pintura dePaisagem.
Quadrosda Natureza na Europa eno Brasil (Ateli Editorial, no prelo).
152
Cl audi a Val l ado de Mat t os 153
O livro fora, portanto, organizado como uma srie de cfrasesda natu-
reza e, assim, conscientemente vinculado a um gnero clssico da retrica de
grandes conseqncias para a construo da tradio artstico-literria.
5
Esse
fato posiciona firmemente a obra de Humboldt no s no mbito do discur-
so cientfico, ao qual ela certamente pertence, mas tambm no mbito de
um discurso esttico, apresentando-se inequivocamente como literatura.
6
Tal
vinculao deliberada de Humboldt tradio da cfrase plenamente afir-
mada na palestra de nmero dezesseis pertencente ao ciclo de conferncias
ministradas pelo autor entre 1827 e 1828 na Singakademie de Berlim, hoje
conhecidas como Kosmos-Vorlesungen (Palestrassobreo Kosmos).
7
Nesse texto,
Humboldt oferece uma pequena histria de descries da natureza na litera-
tura, demostrando que tais descries teriam se desenvolvido plenamente
apenas em seu prprio tempo ainda que cite diversos exemplos da Antigi-
dade ao Renascimento em particular entre autores franceses como Buffon,
Bernardin de St. Pierre e Chateaubriand, onde se tornaram um gnero lite-
rrio especfico: Entre os franceses essas descries da natureza, especial-
mente da natureza extica, compem um subgnero da literatura, a poesie
descriptive. Porm, ainda segundo sua opinio, os franceses tendiam fre-
qentemente a cair em um excesso de subjetivismo, nocivo ao gnero, sendo
Goethe o modelo ideal proposto pelo autor:
Acima de tudo queremos mencionar o grande mestre, em cuja obra prevalece um
profundo sentimento para com a natureza. Tanto no Werther, como na Viagem[
Itlia], na MetamorfosedasPlantas, em toda parte ressoa esse sentimento entusiasma-
do, tocando-nos como um vento suave soprado de um cu azul.
8
Num posfcio a uma recente edio alem do Ansichten der Natur, Adolf
Meyer-Abich reafirma a grande importncia que o encontro com Goethe
teve para a formao intelectual de Humboldt, entendendo as proposies
deste ltimo como a plena realizao do pensamento do poeta sobre cincia:
Humboldt pode ser pensado como o completador das pesquisas de Goethe
sobre a Natureza, comenta o autor.
9
Essa intensa identificao com as vises
holsticas de Goethe fornece tambm uma explicao para o valor artstico
que Humboldt desejava imprimir sua obra, pois, para o grande poeta ale-
mo, o verdadeiro conhecimento dependia de uma ntima colaborao en-
tre arte e cincia. Para encontrar-te no infinito, deves diferenciar e ento
juntar
10
, escreveria Goethe numa passagem de poema dedicado ao pesqui-
sador de nuvens Luke Howard, em 1803. A diferenciao caberia ao cientis-
ta e a sntese ao artista. A cincia, baseada em um mtodo analtico, permi-
tiria o reconhecimento das diferenas, mas somente a arte seria capaz de
154 A PINTURA DE PAISAGEM ENTRE ARTE E CINCIA: GOETHE, HACKERT, HUMBOLDT
efetuar a sntese desses elementos dispersos e apresent-los em um olhar es-
sencial.
11
Como discpulo de Goethe, Humboldt adota conscientemente uma
forma literria para seus Ansichten der Natur busca de uma sntese que
estaria a um passo alm das descries detalhadas contidas no Voyage.
No presente artigo, porm, no desejo discutir o estilo literrio de
Alexander von Humboldt, nem os usos que ele fez da tradio letrada. Meu
intento , antes, desdobrar nossa discusso sobre a importncia que a di-
menso esttica possua para o autor, a fim de tratar de sua relao com
outro gnero artstico, colocado por ele em p de igualdade com a literatura
em sua capacidade de realizar a sntese essencial ao conhecimento: a Pintu-
ra de Paisagem. Entender o conceito que Humboldt fazia do gnero de
grande importncia, pois, como veremos, ele ter conseqncias tambm
para o desenvolvimento da pintura de paisagem em diversas partes da Am-
rica Latina, inclusive no Brasil.
Falando da tarefa do pintor de paisagem num captulo central dos
Ansichten der Natur, intitulado Idias sobre a fisiognomia das Plantas,
Humboldt afirma de forma potica: Sob suas mos (do artista), resolve-se o
grande quadro mgico da natureza, como na obra escrita dos homens, em
poucos e simples traos.
12
Ou seja, para Humboldt assim como tambm
para Goethe a literatura e a pintura eram ambas capazes de auxiliar o cien-
tista em sua tarefa de sntese, porm, nem toda literatura e nem toda pintura
(lembremos a crtica que ele fazia ao excesso de subjetivismo dos franceses,
por exemplo). Em algumas passagens de sua obra, Humboldt deixa claro
que no qualquer forma de pintura de paisagem que serve como parceira
da cincia. Na mesma palestra da Kosmos-Vorlesung, citada acima, aps a
pequena histria das descries da natureza na literatura, Humboldt tece
alguns comentrios sobre os caminhos da pintura de paisagem, condenando
tanto a pintura de paisagem de tipo holandesa, quanto a tradio da pintura
de paisagem italiana:
poca do renascimento da arte italiana encontramos o incio da pintura de paisagem
na escola holandesa e entre os discpulos de Van Eyck. Mais especificamente, Heinrich
von Bloss primeiramente tentou diminuir muito as figuras para assim permitir que a
paisagem ganhasse em importncia. Tambm nas grandes pinturas de paisagem italiana
do perodo tardio: Ticiano, Bassano, Carracci, no se encontra uma imitao precisa,
especialmente da natureza extica e elas tambm utilizam determinados objetos de for-
ma afetada e convencional, por exemplo, do s palmeiras de tmara, que imigraram do
norte da frica para a Siclia e Itlia, uma aparncia escamosa e estranha.
13
Permanece, portanto, a seguinte questo: se para Humboldt nem todas
as maneiras de pintar paisagens podiam ser de utilidade ao cientista, qual
Cl audi a Val l ado de Mat t os 155
seria o modelo de pintura de paisagem adotado pelo autor?Como ocorre
com relao a tantos outros aspectos de sua obra, podemos afirmar que tam-
bm no que concerne a essa questo, Humboldt seguiria os passos de seu
mestre Goethe. Assim, para compreendermos a sua viso sobre o gnero da
paisagem, ser necessrio investigarmos as posies do poeta com respeito
ao tema. Veremos que, por intermdio de Goethe, Humboldt adotou um
modelo de pintura de paisagem de raiz clssica, porm diferente daquela de
procedncia lorrainiana, ou poussiniana. Um modelo que buscava realizar
uma sntese entre as duas grandes tendncias do gnero herdadas do sculo
XVII: a pintura de paisagem ideal e a pintura de vista, originria do norte da
Europa.
14
Goethe interessara-se profundamente por essa nova concepo de
pintura de paisagem depois de t-la exercitado pessoalmente, durante sua
viagem Itlia, sob a orientao do pintor alemo residente em Npoles,
Jakob Philipp Hackert (1737-1807),
15
um dos inventores do novo gnero.
Sabemos que Hackert tambm discutiu em detalhe seus mtodos e concep-
es tericas com Goethe, que os considerou de grande relevncia, publi-
cando-os em 1811 como parte de uma biografia que escreveu sobre o artis-
ta.
16
muito provvel, portanto, que tenha tambm transmitido tais pensa-
mentos a Humboldt, com quem passou a se corresponder, aps um primei-
ro encontro no ano de 1795 em Weimar. O quanto Goethe pensava num
pintor como Hackert para colaborar com seu amigo naturalista fica claro
numa passagem de carta enviada por Goethe a Humboldt em abril de 1807,
ano da morte do pintor: Nosso excelente Hackert sofreu um enfarte em
Florena. Ele espera se recuperar novamente para a arte. Desejaria que al-
gum como ele estivesse ao seu lado nos pases tropicais.
17
A referncia a
nosso excelente Hackert tambm no deixa dvidas de que o artista era
familiar a Humboldt.
Goet he, Hackert e a pi nt ura de pai sagem
Tendo em vista a postura bastante conservadora de Goethe com relao
s artes plsticas, seu apoio a um modelo clssico e acadmico de arte que
privilegiava a pintura de Histria e sua obstinada oposio s novas tendncias
romnticas representadas por pintores como Philipp Otto Runge e Caspar David
Friedrich,
18
s possvel compreender o grande valor que ele atribuiria obra do
pintor de paisagem Jakob Philipp Hackert se levarmos em conta suas idias
sobre as relaes entre arte e cincia. Tais idias so as mesmas que tanto influen-
ciaram Humboldt e que tornou natural a adeso deste s vises de Goethe tam-
bm no que concerne questo da representao pictrica da paisagem.
156 A PINTURA DE PAISAGEM ENTRE ARTE E CINCIA: GOETHE, HACKERT, HUMBOLDT
Desde muito cedo Goethe cultivou, ao lado das atividades de poeta e
terico da arte, uma intensa atividade cientfica. Seu interesse pelas cincias
ganhou grande impulso nos anos de 1770, quando entrou em contato com o
suo Johann Caspar Lavater (1741-1801), passando a colaborar na coleta de
material para o seu livro PhysiognomischeFragmente(FragmentosFisionmicos).
19
Obstinado por demonstrar uma correlao entre a fisionomia externa
do ser humano e seu carter, Lavater colecionava retratos de pessoas famosas
de toda Europa, acrescidos de uma descrio de suas personalidades.
20
Esses
retratos eram preferencialmente traados em silhueta (Schattenrisse) e em
seguida submetidos a um mtodo comparativo para determinar a relao
entre certas formas fsicas e traos de carter. Basicamente, a metodologia de
Lavater previa uma reduo da forma humana a seus aspectos essenciais,
captados na silhueta, e uma comparao dos resultados obtidos.
21
Em seu
livro, Lavater dedicaria um captulo inteiro questo da silhueta, fazendo ali
o seguinte comentrio:
Da simples silhueta juntei mais conhecimento sobre a fisionomia do que de todos os
outros retratos; atravs dela, apurei mais a minha sensibilidade para a fisionomia do que
atravs da observao da natureza que est sempre em transformao; A silhueta resu-
me a ateno dispersa, concentra-a em simples contorno e limites, tornando a observa-
o mais fcil, leve e exata; a observao e, com ela tambm, a comparao.
22
Esse procedimento fascinou o jovem Goethe, que o incorporou ao seu
prprio pensamento cientfico. Ou seja, como bem observou Carl Weizscker,
23
Goethe desenvolveu um mtodo de investigao baseado na morfologia com-
parada, no enraizando a forma em uma lei, tal como comeava a fazer a
cincia j em sua poca, mas deduzindo a lei da prpria forma sensvel. Apli-
cando tal mtodo de descrio morfolgica e comparao das formas, Goethe
esperava ser capaz de vislumbrar os nexos entre as diversas instncias do real,
ou, em outras palavras, a ordem imanente Natureza.
Outra observao sobre o pensamento de Goethe importante para
compreendermos sua posio de cientista, especialmente durante e aps sua
viagem Itlia.
24
Uma vez que, do seu ponto de vista, existia um vnculo
essencial entre homem e mundo a matria nunca existe sem o esprito e o
esprito nunca sem a matria
25
, ordenar o mundo exterior significava or-
denar, ao mesmo tempo, o mundo interior. Conhecer a ordem da natureza
(no sentido goetheano de reconhecer os nexos presentes no mundo sensvel)
seria o equivalente, portanto, a harmonizar o esprito com ela. Mas como se
processaria essa investigao do mundo sensvel?
Cl audi a Val l ado de Mat t os 157
Goethe entende a cincia como conhecimento sobre a forma. A lei, a
ordem especfica que rege um fenmeno na natureza, deveria, portanto, ser
buscada na fisionomia do prprio fenmeno. O olhar aparece como o ins-
trumento essencial do cientista, que trabalha, como dissemos acima, fazen-
do a operao de separar aquilo que lhe parece diferente e juntar o seme-
lhante. Porm, como a essncia do fenmeno encontra-se nele mesmo, a
expresso ltima da ordem, ou lei natural, revelada nesse processo no pode-
ria caber cincia, que procede sempre de forma abstrata, mas s poderia ser
exposta plenamente na arte. Essa imagem da natureza produzida pela arte
teria ainda uma vantagem sobre a prpria natureza: o fato de ser esttica,
expondo uma viso permanente da mesma, despida dos elementos casuais
que a povoam em seu curso incessante de transformao.
26
Eis aqui tambm
a origem da idia de Quadros da Natureza que encontramos em Humboldt.
Segundo Goethe, o mundo moderno, onde prevalece a cincia analti-
ca na qual para compreender os variados objetos no-humanos um esfacela-
mento das foras e capacidades, uma fragmentao da unidade quase ine-
vitvel
27
, no favorecia o movimento de integrao entre arte e cincia que
fora uma das marcas dos pensadores da Antigidade. Do seu ponto de vista,
uma batalha incansvel deveria ser travada para reconquistar essa harmonia
dos antigos, to essencial ao conhecimento, para a contemporaneidade.
Goethe parece ter reconhecido na pintura de paisagem de Hackert um ca-
minho privilegiado para a realizao desse objetivo.
Insistimos que o interesse de Goethe por Hackert s pode ser compre-
endido dentro desta perspectiva. Goethe encontrou em Hackert um artista
que trabalhava segundo seu princpio de anlise e sntese, reconhecendo os
elementos (individuais) caractersticos de uma paisagem e integrando-os,
com arte, num todo significativo numa Naturgemlde para usarmos o
conceito posteriormente cunhado por Humboldt. Procurando compreen-
der o lugar especial que Hackert conquistou no pensamento de Goethe,
Wolfgang Krnig comenta em um catlogo sobre o artista:
O olhar reconhecedor e a reproduo da clareza e da ordem do fenmeno natural obser-
vado essas caractersticas das melhores possibilidades imbudas na obra de Hackert,
devem ter encontrado um eco especial em Goethe (...). Hackert no para ele um artista
que se situa ao lado ou no lugar dos grandes pintores figurativos como aqueles dos italia-
nos, mas antes um artista que fez das relaes entre arte e natureza o tema de sua obra.
28
Ao tornar-se discpulo de Hackert na Itlia, Goethe desejava aprender a
ver a paisagem com seus olhos, ou seja, com olhos de pintor ingnuo
29
capaz de identificar as formas essenciais da natureza e devolv-las em uma
158 A PINTURA DE PAISAGEM ENTRE ARTE E CINCIA: GOETHE, HACKERT, HUMBOLDT
imagem-sntese. Como professor, por sua vez, Hackert garantira a Goethe
que havia um mtodo preciso para aprender seu mtier.
30
O poeta submeteu-
se, portanto, aprendizagem dos princpios do artista com alegria e otimismo
e aparentemente foram essas lies que ele transmitiu mais tarde tambm a
Humboldt. A compreenso especfica do gnero da paisagem que resultou de
todos esses encontros foi, em ltima instncia, o que definiu a posio privile-
giada da pintura de paisagem ao lado das descries literrias da natureza,
como uma fiel parceira do cientista, no contexto da obra de Humboldt.
Os fragment os t ericos de Hackert e os quadros da nat ureza de Humboldt
A primeira meno de Goethe ao pintor Jakob Philipp Hackert aparece
em seu dirio de viagem sob a data de 15 de novembro de 1786, portanto
antes da viagem a Npoles.
31
Porm foi durante esta viagem que Goethe
passou a conviver por mais tempo com o pintor e, maravilhando-se com sua
destreza em captar a paisagem italiana, decidiu tornar-se seu aluno. A 15 de
maro de 1787, em Caserta, ele anotaria:
Tambm a mim ele conquistou por completo, sendo paciente com minhas deficin-
cias [...]. Quando pinta aquarelas, ele tem sempre trs tintas mo e, como trabalha
avanando do plano de fundo para frente, empregando as tintas uma aps a outra,
segue da um quadro que no se sabe ao certo de onde veio.
32
Em sua ltima passagem por Roma, antes de retornar definitivamente a
Weimar, Goethe reencontraria Hackert, voltando s aulas de desenho e rea-
lizando visitas s galerias da cidade em sua companhia, para ouvir seus co-
mentrios sobre as paisagens de Gaspard e Nicolas Poussin, Claude Lorrain
e outros artistas antigos e contemporneos. No h dvida, portanto, que a
viso de Goethe sobre o gnero da pintura de paisagem formou-se sob o
impacto das opinies e dos conselhos de Hackert. O que mais fascinava
Goethe era a maestria com que o pintor captava os detalhes da natureza, os
tipos de rvores, a geografia da paisagem e a atmosfera prpria ao local retra-
tado, porm sem ser subserviente ao real, como no caso da pintura de vista
de origem nrdica, mas extraindo dessa paisagem, o mais caracterstico e
essencial, isto , nos termos de Goethe, dando-lhe uma Forma. Durante sua
segunda estada em Roma, ele escreveria: Estive fora com o Sr. Hackert que
possui uma capacidade inacreditvel para copiar a natureza dando ao mes-
mo tempo uma forma ao desenho.
33
Na compreenso de Goethe, ao fundir o gnero da paisagem ideal de tipo
italiana, com a observao detalhada praticada na pintura de vista, Hackert
Cl audi a Val l ado de Mat t os 159
encontrara uma forma de extrair da paisagem real seu elemento ideal, isto ,
universal. Como comentou Norbert Miller, em um estudo sobre as relaes do
poeta com o pintor: Ele aprendeu com Hackert a ver a paisagem habitual
como ideal e a valorizar a observao dos detalhes caractersticos como pressu-
postos para o reconhecimento do todo.
34
Era essa forma ingnua de olhar o
mundo, equivalente ao olhar dosantigos, que Goethe desejava aprender com Hackert.
Quanto aos preceitos tericos do pintor correspondiam ao que Goethe
via em sua obra, um tema que j abordei em outra parte e que, portanto,
no discutirei aqui.
35
Porm certo que o mtodo de trabalho de Hackert e
seus resultados visveis vinham ao encontro das convices de Goethe, pare-
cendo ser a realizao prtica do seu sonho de integrao entre conhecimen-
to cientfico e esttica. Lembrando a grande dvida terica que o prprio
Humboldt sentia para com Goethe e levando em considerao a ascendn-
cia positiva de Hackert sobre o poeta, no deve surpreender o fato de encon-
trarmos inmeros pontos de tangncia entre a compreenso da tarefa do
pintor de paisagem apresentada nos fragmentos tericos compostos por
Hackert em certas passagens do Ansichten der Natur. Poderamos mesmo
dizer que, atravs de Goethe, Alexander von Humboldt herdou muitos as-
pectos prprios perspectiva original do pintor sobre a questo da paisa-
gem, transformando os procedimentos descritos por ele em verdadeiro ins-
trumento de pesquisa sobre a fisionomia da terra. Nas mos de Humboldt,
as concepes tericas de Hackert tornam-se preceitos fundamentais capa-
zes de garantir uma colaborao perfeita entre cientista e artista.
Spix eMartius: Atlasda Viagempelo Brasil, Plantas da Amrica Tropical,
Litografia a partir de desenho de E. Mayer, 1823.
160 A PINTURA DE PAISAGEM ENTRE ARTE E CINCIA: GOETHE, HACKERT, HUMBOLDT
Um dos pontos fundamentais de convergncia entre as idias propaga-
das por Hackert e as de Humboldt, que comprovam a familiaridade deste
ltimo com as teorias do pintor, diz respeito definio, importantssima
do ponto de vista prtico, dos elementos que determinam a construo da
impresso geral de uma paisagem na fantasia humana e que, em conse-
qncia, deveriam receber uma ateno especial por parte do artista, alm
dos mtodos especficos de representao desses elementos. Em seus frag-
mentos, Hackert insiste que o elemento essencial de uma paisagem sua
vegetao, postulando o estudo das rvores como indispensvel para a for-
mao de um bom pintor da natureza. Constatando, no entanto, o excessivo
tempo necessrio para o artista conhecer e desenhar todos os tipos de rvo-
res, Hackert prope uma diviso das mesmas em trs tipos, seguindo a apa-
rncia de seus ramos e folhagens: Segundo meu princpio, divido de forma
geral todas as rvores em trs classes, de acordo com a forma como pessoal-
mente as gravei e publiquei. O artista e o amador devem treinar suas mos
segundo elas, caso queira aprender a desenhar.
36
No Ansichten der Natur, Humboldt parece adotar a idia de Hackert
sobre a importncia da vegetao para a formao da impresso geral apre-
sentada pela natureza aos sentidos: impossvel negar que o elemento prin-
cipal que determina essa impresso a vegetao (Pflanzendecke), escreveria
ele no livro. Humboldt tambm adota a idia de uma classificao morfolgica
do mundo vegetal, considerando a tendncia espontnea do artista em fazer
tal classificao, como um indcio importante de seu talento: O pintor (e
exatamente o fino sentimento de natureza do artista entra em jogo aqui) dife-
rencia no pano de fundo uma paisagem de pinheiros ou de palmeiras, de uma
com arbustos, porm no esses de outras florestas de folhas.
37
Em seguida
expande a classificao de Hackert, adequando-a s suas prprias pesquisas
cientficas, de trs para dezesseis grupos prottipos. O treino do pintor nos
aspectos individuais dos diferentes grupos o ajudaria a apurar sua sensibilidade
inata de modo a poder colaborar mais eficientemente com a cincia.
Dezesseis formas de plantas determinam principalmente a fisionomia da Natureza.
[...] Que interessante e rico para o pintor de paisagem seria uma obra que apresentasse
aos olhos primeiro individualmente as dezesseis formas principais apontadas e em
seguida em seus contrastes mtuos!
38
Nessa passagem, fica ainda clara uma certa hierarquia no processo de
construo da paisagem. O artista deveria inicialmente captar os elementos
Cl audi a Val l ado de Mat t os 161
individuais da mesma, para num segundo momento compor, a partir de
seus esboos, as massas ou grupos contrastantes, capazes de revelar a im-
presso total ou o carter especfico da regio estudada. Essa mesma con-
cepo do processo de execuo de uma pintura de paisagem reaparece mais
tarde tambm no Kosmos:
Os esboos realizados diante das cenas naturais s podem levar a reproduzir o carter de
regies longnquas do mundo aps o retorno, em paisagens acabadas. Eles o faro de
forma tanto mais perfeita se o artista entusiasmado tiver desenhado ou pintado ao ar livre,
diante da natureza, uma grande quantidade de estudos isolados de copas de rvores, de
galhos frondosos carregados de flores e frutos, de troncos cados, cobertos de parasitas ou
orqudeas, de rochedos, trechos das margens dos rios e partes do solo da floresta.
39
O mtodo paulatino de construo da paisagem a partir do slido co-
nhecimento de seus aspectos parciais central na teoria sobre o gnero da
paisagem de Hackert. Para ele, o estudo demorado dos tipos individuais era
o que garantia a manuteno da riqueza e variedade da vegetao no quadro
final. O artista que no se esforasse para aprender as diferentes formas da
natureza isoladamente, tenderia, numa grande composio, a pintar sempre
o mesmo tipo de rvore. Esta , por exemplo, a crtica que Hackert dirige
aos grandes pintores de paisagem de tradio italiana:
Na composio de uma paisagem o mais importante garantir que tudo seja grandioso,
tal como as que Nicolas e Gaspard Poussin, Carracci e Domenichino fizeram [...]. No
entanto, podemos censurar nesses mestres que suas rvores so sempre iguais e que
uma s raramente se diferencia da outra.
40
No mesmo sentido, Hackert escreve sobre o processo de aprendizagem
do artista:
Quando a mo do artista estiver mais ou menos treinada, de forma a conseguir anotar em
todas as suas mudanas e em todas as formas as folhas e as partes das rvores, ento ele deve
desenhar copiando a natureza, sem se deter muito tempo em cpias de desenhos.
41
162 A PINTURA DE PAISAGEM ENTRE ARTE E CINCIA: GOETHE, HACKERT, HUMBOLDT
Jakob Philipp Hackert: PaisagemItaliana sobreo Etna,
leo sobre tela 65x88,5.
Tambm a integrao entre os elementos fsicos e morais da paisagem,
proposta por Humboldt em seu conceito de quadros da natureza, isto , o
reconhecimento de sua dimenso histrica,
42
aparece j em posio de desta-
que nos fragmentos tericos de Hackert, determinando o resultado visual
final do quadro. A integrao entre Natureza e Histria na pintura de paisa-
gem discutida nos fragmentos, sob o ttulo de Efeito Moral, onde o
autor enfatiza o prazer que retiramos da viso de uma paisagem marcada
pela histria humana: Muitas paisagens nos trazem um prazer extraordin-
rio quando nos apresentam regies onde grandes feitos ocorreram, como
batalhas ou outras grandes ocasies da histria.
Como argumenta Herbert von Einem,
43
Goethe via a histria humana
como parte integrante da natureza e certamente aprovava e valorizava a pre-
sena da dimenso humana nas paisagens realizadas pelo pintor. provvel
que a questo, que o ocupou especialmente durante a estadia na Itlia, tenha
sido tema de discusso com seu amigo Humboldt, que por sua vez, deu um
carter mais antropolgico questo ao abord-la no Ansichten deNatur: O
conhecimento do carter natural das diferentes regies do mundo est inti-
mamente vinculado histria e cultura da raa humana. No mais apenas
os eventos histricos excepcionais, como na perspectiva de Hackert, ade-
rem-se paisagem, mas o seu carter determinado pela simbiose especfica
instaurada entre os seres humanos e seu habitat.
Cl audi a Val l ado de Mat t os 163
evidente que questes como essas tambm faziam parte da ordem do
dia e podiam ser, facilmente, traadas de volta aos escritos tericos de
Winckelmann, por exemplo, de quem Goethe considerava-se discpulo. Po-
rm quero sugerir aqui que em muitos aspectos, os procedimentos propostos
por Hackert em seus fragmentos tericos, acabaram ajudando Humboldt,
atravs da mediao de Goethe, a materializar a idia de uma pintura da
natureza que incorporaria princpios derivados da cfrase.
O fato de a obra de Hackert, e no de artistas romnticos, por exemplo,
ter servido de modelo para a caracterizao da tarefa do pintor, na perspecti-
va de Humboldt, teve sua importncia. Ela significou, entre outras coisas,
como afirma Werner Busch,
44
a adeso do naturalista a uma viso clssica de
pintura de paisagem, que transparece j em seu conceito de impresso to-
tal (Totaleindruck).
45
A preferncia de Humboldt por uma pintura clssica,
do tipo hackertiana, revela-se ainda na escolha dos artistas que colaboraram
na ilustrao de suas obras, como Gottlieb Schick, Bellerman, ou Friedrich
Wilhem Gmelin, todos vinculados, de uma forma ou de outra, ao crculo de
Goethe e Heinrich Meyer em Weimar. Sobre o ltimo artista Meyer e Fernow
escreveriam numa introduo ao texto de Goethe Winckelmann und sein
Jahrhundert (Winckelmann e o seu sculo):
Entre os desenhistas de paisagens monocromticas encontram-se, ao lado de Hackert,
os j mencionados Birmann e Kniep, ao lado destes Gmelin [...]. Como amigo pessoal
de Hackert, ele aprendeu as tcnicas com esse mestre, provando ter bom conhecimen-
to do efeito, postura etc., ao desenhar com fidelidade a natureza.
46
Alexander von Humboldt foi tambm figura de referncia para diver-
sos artistas que viajaram pelo Brasil, como Johann Moritz Rugendas, Thomas
Ender e Carl von Martius, contribuindo para determinar a forma como cap-
tavam a natureza americana. Uma vez que esses artistas estiveram freqente-
mente em contato direto com pintores da Academia local,
47
no seria, a meu
ver, de todo falso pensarmos numa possvel influncia do modelo hackertiano
herdado por Humboldt sobre a pintura de paisagem brasileira.
48
Isso ajuda-
ria a explicar, por exemplo, a importante diferena entre a pintura de paisa-
gem norte-americana do sculo XIX, fortemente marcadas pela esttica do
sublime,
49
e a produzida no Brasil, que mantm um parentesco intrigante
com o tipo de pintura criada por Jakob Philipp Hackert e seus discpulos.
164 A PINTURA DE PAISAGEM ENTRE ARTE E CINCIA: GOETHE, HACKERT, HUMBOLDT
Spix eMartius: Atlasda Viagempelo Brasil, Extrao e preparao dos ovos de tartaruga
junto ao Rio Amazonas, Litografia a partir de desenho de J. Steingraebel, 1823.
Resumo: O presente artigo visa discutir
o modelo de pintura de paisagem adota-
do pel o natural i sta Al exander von
Humboldt em seu livro Ansichten der
Natur (Quadrosda Natureza) e em outros
escritos. Levantamos a hiptese de que tal
modelo tenha derivado de forma mais ou
menos direta dos Fragmentos Tericos
sobre Pintura de Paisagem (Theoretische
Fragmenteber Landschaftsmalerei) do pin-
tor alemo residente em Npoles, Jakob
Philipp Hackert, que havia sido professor
de Goethe durante sua viagem Itlia.
Procuramos ainda mostrar como esse
modelo foi importante para o desenvol-
vimento de uma pintura de paisagem de
tendncia classicizante no Brasil, na
primeira metade do sculo XIX.
Palavras-chave: Pintura de paisagem,
cfrase, Alexander von Humboldt, Jakob
Philipp Hackert, Goethe.
Abtract: This article discusses the model
of l andscape pai nt i ng adopt ed by
naturalist Alexander von Humboldt in
his book Ansichten der Natur, as well as
in other of his writings. We suggest that
this model derived more or less directly
from the Theoretical Fragments on
Landscape Painting (TheoretischeFrag-
menteber Landschaftsmalerei) written by
the German painter resident in Naples,
Jakob Philipp Hackert, who had been
Goethes drawing professor during his
stay in Italy. We also suggest that this
model was crucial for the development
of a more cl assi cal concept i on of
landscape painting in Brazil during the
first part of the 19
th
century.
Keywords: Landscape painting, Alexander
von Humboldt, Jakob Philipp Hackert,
Goethe.
Cl audi a Val l ado de Mat t os 165
Not as
1
A traduo j bem estabelecida para o Portugus do ttulo do livro de Humboldt como Quadrosda
Natureza, no , a meu ver, inteiramente correta, sendo Vistasda Natureza uma traduo mais precisa.
A questo relevante, pois certamente o ttulo de Humboldt, fazia uma aluso ao gnero da pintura
de vista, ou veduta, em italiano, a qual se perde complemente na traduo usual para o portugus e
manter-se-ia intacta na nova traduo proposta.
2
Alexander von Humboldt chegou Venezuela a 16 de julho de 1799, tendo viajado durante cinco
anos pelo continente e visitado Cuba, Colmbia, Equador, Peru, Mxico e Estados Unidos, retornando
Europa no dia 3 de agosto de 1804.
3
A incluso da dimenso humana nas Pinturas da Natureza realizadas por Humboldt fundamen-
tal, pois implica a atribuio de uma dimenso moral paisagem. Na esteira de Winckelmann,
Humboldt acreditava que as formaes naturais especficas de cada regio formavam tambm o car-
ter do homem que as habitava: o conhecimento do carter natural das diferentes partes do mundo
est intimamente relacionado com a histria da humanidade e de sua cultura. Pois ainda que o incio
dessa cultura no seja determinado unicamente por influncias fsicas, a direo da mesma, o carter
melanclico ou alegre dos homens depende em grande parte das condies climticas. Quo podero-
samente atuou o cu grego sobre seus habitantes! Humboldt, Ansichten der Natur, Stuttgart: Reclam,
1992, p.75.
4
Cf Humboldt, op.cit, p.5.
5
Sobre a importncia da cfrase para a construo do discurso humanista, especialmente o discurso
sobre arte, nos sculos XIV e XV, ver: Michael Baxandall, Giotto and theOrators, Oxford: Oxford
University Press, 1971. Sobre a tradio da cfrase desde Homero, ver: Gottfied Boehm e Helmut
Pfotenhauer (org.) Beschreibungskunst Kunstbeschreibung, Munique: Fink, 1995. Cf. ainda Marcio
Seligmann-Silva, Introduo/Intraduo: Mimesis, Traduo, Enrgeia e a tradio da ut pictura
poesis, in: Lessing, Laocoonteou sobreasFronteirasda Pintura eda Poesia, traduo Mrcio Segligmann-
Silva, So Paulo: Iluminuras, 1996.
6
Para uma anlise detalhada do discurso de Humboldt, situado entre cincia e arte, ver: Lcia Ricotta,
Natureza, Cincia eEsttica emAlexander von Humboldt, Rio de Janeiro: Mauad, 2003.
7
Humboldt, Kosmos-Vorlesung, (Vorlesung 16) In: Projekt Gutenberg, wwwgutenberg.net.
8
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht uma citao do poema que abre o terceiro livro do
WilhelmmeistersLehrjahre(OsanosdeaprendizagemdeWilhelmMeister) Goethe, GoetheWerke, op.cit.,
vol.VII, p.145. Humboldt, Kosmos-Vorlesung, op.cit.
9
Adolf Meyer-Abich, Nachwort, in: Humboldt, Ansichten der Natur, op.cit., p.149.
10
Dich im Unedlichen zu finden, / Musst unterscheiden und dann verbinden Cf. Goethe, Goethe
Werke, HA, Mnchen: Beck, 1989, vol.1, p. 349.
11
Sobre as relaes entre arte e cincia em Goethe, ver os artigos de Werner Busch, Die Ordnung im
Flchtigen Wolken studien der Goethezeit e Der Berg als Gegenstand von Naturwissenschaft und
Kunst. Zur Goethes Geologischem Begriff, in: Sabine Schulze (org.) Goetheund dieKunst, Frankfurt
e Weimar, 1994., pp. 485-570.
12
Humboldt, Ansichten der Natur, op.cit., p. 86.
13
Humboldt, Kosmos-Vorlesung, op.cit.
166 A PINTURA DE PAISAGEM ENTRE ARTE E CINCIA: GOETHE, HACKERT, HUMBOLDT
14
A paisagem ideal, uma espcie de equivalente da poesia pastoral em pintura, desejava criar uma
viso idlica do mundo natural, tal como ele supostamente teria sido na Antigidade. J a pintura de
vista (veduta) era concebida como um registro fiel de determinado seguimento de paisagem, sem
idealizao, e era praticado com freqncia entre artistas holandeses do sculo XVII, como Jacob van
Ruisdael, ou Jan van Ostade, por exemplo.
15
Hackert nasceu em Prenslau e aps um perodo de estudos na Frana, mudou-se em 1768 para
Roma e em 1786 para Npoles, onde tornou-se o primeiro pintor da corte de Ferdinando IV, Bourbon,
permanecendo nesta posio at a revoluo de 1799. Seus ltimos anos foram passados na Toscana,
onde morreu em 1807. Cf. Wolfgang Krnig e Reinhard Wegner, Jakob Philipp Hackert. Der
Landschaftsmaler der Goethezeit, Colonia, Weimar e Viena: Bhlau, 1996.
16
Goethe escreveria uma biografia de Hackert em 1811, que incluiria os Fragmentos tericos sobre
pintura de paisagem escritos pelo prprio artista antes de sua morte em 1807. Uma traduo comen-
tada para o Portugus encontra-se em: Claudia Vallado de Mattos (org.) GoetheeHackert: Sobrea
Pintura dePaisagem. Quadrosda Natureza na Europa eno Brasil, So Paulo: Ateli Editorial, no prelo.
17
Correspondncias de Goethe e Alexander von Humboldt, in: www.bibliothek.bbaw.de/Goethe.
18
Sobre a relao de Goethe com os artistas romnticos, ver: Frank Bttner, Abwehr der Romantik,
in: Goetheund dieKunst, op.cit., pp. 456-482.
19
Ao lado de Goethe, muitas outras personalidades da poca colaboraram igualmente no projeto de
Lavater, entre eles, Fssli, Herder, Lenz, Merck, Sulzer e Gessner. Sobre a relao de Goethe com
Lavater, ver: Ilsebill Berta Fliedl, Lavater, Goethe und der Versuch einer Physiognomik als
Wissenschaft, in: Goetheund dieKunst, op.cit., pp.192-203.
20
O primeiro contato de Goethe com Lavater deu-se no mbito desse projeto. Tendo Goethe se
tornado conhecido da noite para o dia com a publicao de seu primeiro romance Gtz von Berlichigen
em 1772, ele despertou o interesse de Lavater, que o enviou uma carta pedindo-lhe um retrato acom-
panhado de uma descrio. Aps uma entusiasmada troca de correspondncia, Lavater presta uma
visita a Goethe em Frankfurt a.M. em 1774, garantindo sua colaborao no projeto do livro
PhysiognomischeFragmente.
21
Vale lembrar que Lavater desenvolveu seu novo mtodo antropolgico a partir das teorias de
Winckelmann, especialmente de suas descries de esttuas antigas, s quais ele faz freqentes refern-
cias no PhysiognomischeFragmente. O livro continha, por exemplo, um captulo inteiro dedicado ao
Apolo Belvedere, onde, aps uma referncia explcita descrio de Winckelmann, Lavater fornecia
uma anlise cientfica da cabea da esttua acompanhada da reproduo de seu contorno e a sua
silhueta. Cf. H. Pfotehauer, M. Bernauer e N. Miller (org.), Frhklassizismus, Frankfurt a.M.: Deutsche
Klassiker, vol2, 1995, pp.409 a 411. Sobre Lavater e Winckelmann ver ainda David Beindman, Ape
to Apollo. Aesteticsand theIdea of Racein the18
th
Century, London: Reaktion Books, 2002, especial-
mente o cap.2: The Climate of the Soul, pp. 79-150.
22
Cf. Lavater, Physiognomischen Fragmenten, apud. Fliedl, op.cit., pp.193-94.
23
Carl Friedrich Weizscker, Einige Begriffe aus Goethes Naturwissenschaft, in: GoetheWerke, op.cit.,
vol. 13, pp. 539-555.
24
A viagem Itlia que Goethe realiza entre 1786-88, considerada como um momento de virada no
pensamento do poeta em direo a um certo classicismo, aps seu perodo Sturmund Drang. Cf.
Herbert von Einem, Nachwort in: GoetheWerke, op.cit.., vol.11.
25
Goethe, Die Natur, in: GoetheWerke, op.cit., vol.13, p. 48.
Cl audi a Val l ado de Mat t os 167
26
Aqui vislumbramos, portanto, a importncia do mtodo de Lavater para Goethe, pois em ltima
anlise, Lavater tambm acreditava poder encontrar o nexo entre carter e fisionomia apenas na mani-
festao sensria do fenmeno e estava convencido, como dissemos, que veria melhor tais nexos nas
silhuetas do que atravs da observao da natureza que est sempre em transformao. Cf.Lavater,
op.cit.
27
Cf. Goethe, Winckelmann und sein Jahrhundert, in: GoetheWerke, op.cit. vol.12, p. 100.
28
Cf. Krnig e Wegner, op.cit., p. 25.
29
Usamos a palavra ingnuo aqui, no sentido schilleriano do termo, em que o eu potico ainda
encontrar-se-ia em contato direto com o cosmos, onde a ruptura entre eu e mundo no estivesse
presente. Na introduo que Goethe escreveria sua biografia de Hackert, podemos ler, nesse sentido:
A descrio de sua vida, de onde retiramos as presentes passagens, est escrita em um estilo muito
simples e sincero, especialmente a parte maior de autoria do prprio Hackert, de forma que ela lembra
a todos rapidamente a ingenuidade [Naivett] de Cellini e Winckelmann. Cf. Goethe, citado em
Krnig e Wegner, op.cit., p. 21.
30
Durante sua segunda permanncia em Roma, Goethe fez a seguinte anotao em seu dirio: O
Senhor Hackert me elogiou e censurou e continuou me ajudando. Ele me fez a proposta, meio brin-
cando, meio srio, de eu ficar dezoito meses na Itlia e treinar a partir de bons princpios; depois desse
perodo ele me garantiu, eu teria prazer em meus trabalhos. Tambm vejo muito bem o qu e como se
deve estudar para superar algumas dificuldades, sob cujo fardo ter-se-, de outra forma, de se arrastar
a vida inteira. Cf. Goethe, Italienische Reise, in: GoetheWerke, op.cit., vol.11, p. 351.
31
Trata-se de referncia a uma reunio de discusso sobre os desenhos realizados pelos membros do
grupo, durante uma estadia em Frascati, onde Hackert aparece como experiente pintor aconselhando
a todos os presentes. Cf. Goethe, Viagem Itlia (1786-1788), traduo Srgio Tellaroli, So Paulo:
Companhia das Letras, 1999, pp. 160-162.
32
Goethe, Viagem Itlia, op.cit., p.246.
33
Cf. Goethe, Italienische Reise, GoetheWerke, vol.11, op.cit., p. 351. Cito as passagens referentes
segunda estada de Goethe em Roma, diretamente do original, pois ela no se encontra na traduo
brasileira de Tellaroli, que est incompleta.
34
Norbert Miller e Claudia Nordhoff (org.), LehrreicheNhe. Goetheund Hackert, Munique e Viena:
Hanser, 1997, p. 43.
35
Cf. Claudia Vallado de Mattos (org.), op.cit.
36
Goethe, Hackert Biographie, in: Johann WolfgangGoetheSmtlicheWerke, vol 13, Mnchner
Ausgabe, Munique e Viena, 1986, p. 614.
37
Humboldt, Ansichten der Natur, op.cit., 77
38
Idem, pp. 77 e 86. Desenhos de espcies individuais seguidos de outros onde tais espcies esto
representadas em grupos, formando grandes massas de vegetao, podem ser encontrados com fre-
qncia na Flora Brasiliensisde Spix e Martius.
39
Alexander von Humboldt, Kosmos, apud. Renate Lchner (org.), ArtistasAlemesna Amrica Latina
(catlogo de exposio), Berlim, 1978, p. 24.
40
Goethe, Hackert Biographie, op.cit., p. 617.
41
Idem, p. 615.
168 A PINTURA DE PAISAGEM ENTRE ARTE E CINCIA: GOETHE, HACKERT, HUMBOLDT
42
Meyer-Abich define da seguinte forma o conceito de Naturgemldeem Humboldt: Ela nada mais
nada menos do que a harmonia da Natureza fsica com a moral, ou, do ponto de vista moderno: a
harmonia entre Natureza e Histria. Humboldt, Ansichten der Natur, op.cit., p.159.
43
Herbert von Einem, Nachwort, in: GoetheWerke, Munique: Beck, 1989, vol.11, p.59.
44
Werner Busch, Der berg als Gegenstand von Naturwissenschaft- und Kunst. Zur Goethes
Geologischem Begriff , in: Sabine Schulze (org.), Goetheund dieKunst, op.cit., pp. 485-518.
45
A idia se ope ao princpio no-clssico da pintura de vista concebida como a reproduo de um
segmento arbitrrio da natureza. O gosto clssico de Humboldt revela-se igualmente na sua escolha de
Franois Gerard, aluno de Jacques Louis-David, como professor de pintura, durante os anos que
passou em Paris, aps seu retorno da Amrica. Cf. Lchner (org.), op.cit., p. 27.
46
Goethe, Meyer e Fernow, Winckelmann und sein Jahrhundert, apud. Sabine Schulze (org.),
op.cit., p. 508.
47
certo, por exemplo, que Nicolau-Antoine Taunay manteve contatos com Spix e von Martius, que
chegaram em 1817 ao Brasil, como membros integrantes de uma expedio cientfica.
48
Em seu texto A paisagem clssica como alegoria do poder do soberano: Hackert na corte de Npo-
les e as origens da pintura de paisagem no Brasil, Luciano Migliaccio levanta ainda a hiptese de uma
segunda via de chegada do modelo de pintura de paisagem hackertiano ao Brasil. Segundo o autor,
possvel que o Brasil de D. Joo VI tenha adotado o modelo de patronato estabelecido em Npoles,
onde Hackert trabalhava como primeiro pintor do Rei Ferdinando IV, Bourbon, atravs do interm-
dio de Carlota Joaquina e em seguida da princesa Leopoldina, ambas de origem Bourbon. Isso ajuda-
ria a explicar no somente a adoo da paisagem clssica como modelo, mas a posio de destaque que
o pintor de paisagem Nicolau-Antoine Taunay e, em seguida, seu filho Felix-mile Taunay conquista-
ram no contexto das artes de nosso pas. Cf. Migliaccio, in: Claudia Vallado de Mattos (org.), op.cit.
49
Cf. Graham Beal, American Beauty. PaintingfromtheDetroit Instituteof Art 1770-1920, Detroit:
Scala Publishers, 2002, em especial o captulo: From Sea to Shining Sea: Landscape as the National
School, pp. 47-66.
Cl audi a Val l ado de Mat t os 169
Bi bl i ograf i a
Baxandall, Michael, Giotto and theOrators, Oxford: Oxford University Press,
1971.
Beal, Graham, American Beauty. Painting from theDetroit Instituteof Art
1770-1920, Detroit: Scala Publishers, 2002.
Beindman, David, Apeto Apollo. Aesteticsand theIdea of Racein the18
th
Century, London: Reaktion Books, 2002.
Boehm, Gottfied e Pfotenhauer, Helmut (org.), Beschreibungskunst
Kunstbeschreibung, Munique: Fink, 1995.
Goethe, Johann Wolfgang von, Hackert Biographie, in : Johann Wolfgang
GoetheSmtlicheWerke, vol. 13, Mnchner Ausgabe, Munique e Viena,
1986.
_____, GoetheWerke, HA, Munique: Beck, 1989.
_____, Korrespondenz, Goethe an Alexander von Humboldt, in: www.
bibliothek.bbaw.de/Goethe.
Humboldt, Alexander von, Ansichten der Natur, Stuttgart: Reclam, 1992.
_____, Kosmos-Vorlesung, in: www.gutenberg.net.
Krni g, Wolfgang e Wegner, Rei nhard, Jakob Philipp Hackert. Der
Landschaftsmaler der Goethezeit, Colonia, Weimar e Viena: Bhlau, 1996.
Lessing, Laocoonteou sobreasFronteirasda Pintura eda Poesia, traduo
Mrcio Segligmann-Silva, So Paulo: Iluminuras, 1996.
Lchner, Renate (org.), Artistas Alemes na Amrica Latina (catlogo de
exposio), Berlim, 1978.
Mattos, Claudia Vallado de (org.) GoetheeHackert: Sobrea Pintura de
Paisagem. Quadrosda Natureza na Europa eno Brasil, So Paulo: Ateli
Editorial, no prelo.
Miller, Norbert e Nordhoff, Claudia (org.), LehrreicheNhe. Goetheund
Hackert, Munique e Viena: Hanser, 1997.
Pfotehauer, Bernauer e Miller (org.), Frhklassizismus, Frankfurt a.M.:
Deutsche Klassiker, vol. 12, 1995.
Ricotta, Lcia, Natureza, Cincia eEsttica em Alexander von Humboldt, Rio
de Janeiro: Mauad, 2003.
Schulze, Sabine (org.) Goetheund dieKunst, Frankfurt e Weimar, 1994.
170 LITERATURA E VIDA: RELEMBRANDO UM GOETHE UM TANTO ESQUECIDO
LITERATURA E VIDA: RELEMBRANDO
UM GOETHE UM TANTO ESQUECIDO
Lui z Barros Mont ez*
MUITO OPORTUNA, sem nenhuma dvida, a temtica proposta nesta edio
da Terceira Margem. O recorte cronolgico que dela deriva remete-nos ime-
diatamente filosofia e literatura alem, pois sabemos que estas assumem,
do ponto de vista da crtica literria do perodo, uma hegemonia incontest-
vel que se espraia por todo panorama intelectual europeu.
A passagem do sculo XVIII para o sculo XIX eleva a intelectualidade
de um estado socialmente atrasado e politicamente retrgrado o Sagrado
Imprio Romano-Germnico condio de vanguarda do pensamento
em escala mundial. O paradoxo que tal circunstncia encerra revela-se
elucidativo dos avanos e limites do pensamento esttico, filosfico e liter-
rio alemo daquele interregno. Para ficarmos apenas em um exemplo, desta-
co por ora uma constatao extraordinariamente relevante: toda a filosofia
de Lessing a Herder, do jovem Goethe ao ltimo Hegel transpassada pela
religio; caracteriza-se, com poucas excees, pela incapacidade de ruptura
com o idealismo metafsico que compromete, em ltima instncia, algumas
de suas conquistas materialistas fundamentais. Basta lembrarmo-nos como a
Fenomenologia do Esprito (1807) de Hegel resolve o problema a que se
prope a descrio dos desdobramentos fenomenolgicos dos estgios his-
tricos da humanidade e da razo humana em termos orgnicos como pro-
dutos de um complexo dilogo da humanidade consigo mesma
1
na epifania
absolutamente religiosa do Saber Absoluto num plano inteiramente metafsico,
o que arruna todo a avanada sociologia desenvolvida ao longo da obra.
Nesta poca, de modo paralelo a Hegel, Goethe representa na segunda parte
do Fausto a redeno do protagonista num cu cristo; no entanto, tal se d
menos por motivaes religiosas e mais por motivos concretamente realistas:
era impossvel ao grande escritor imaginar em 1831 qualquer utopia
*Luiz Barros Montez concluiu o Doutorado em Filosofia pela USP, em 1999, com a tese O Conceito de
Totalidadeeo Lugar deGoetheno Pensamento deGeorgLukcs. professor do Departamento de Letras
Anglo-Germnicas da Faculdade de Letras da UFRJ. Atualmente traduz Grundrisse, de Karl Marx,
para a editora Contraponto.
170
Lui z Barros Mont ez 171
anticapitalista nos moldes em que Marx comea a nos propor a partir de
1843 (com a Crtica filosofia do direito deHegel).
Do ponto de vista da historiografia literria, este perodo e os seus pro-
tagonistas so freqentemente descritos com imprecises aparentemente ino-
fensivas, s quais a nossa poca talvez no d a devida ateno, e este descuido
explica, at certo ponto, a incapacidade de lidarmos com alguns conceitos-
chave prprios a este perodo especfico. Em sua maioria cunhados a posteriori
pela historiografia, estes conceitos no do conta de modo satisfatrio das
identidades e diferenas no seio da chamada Filosofia Clssica Alem.
A ttulo de exemplo, j chamei a ateno, em outro momento,
2
ao sur-
gimento do mito historiogrfico sobre o romantismo de Goethe. Muitos
ainda desconhecem o fato de que Goethe, na crtica alem da atualidade,
filia-se antes ao Classicismo de Weimar, e nela jamais subsumido de
modo completo ao movimento romntico. Um conceito, talvez o conceito-
chave, para que entendamos as convergncias e diferenas entre Goethe e a
gerao romntica o de totalidade. Proponho, desafiando as agruras do
momento em que vivemos, que nos debrucemos um pouco mais atenta-
mente sobre este conceito e suas ilaes crtico-literrias.
Refiro-me s agruras, pois, por um lado, prevalece na arte de hoje
uma crise radical da representao cujas razes fincam-se no romantismo
alemo; prepondera na obra de arte a afirmao quase que exclusiva do sujei-
to, em detrimento de alguns postulados hegelianos bsicos emanados de sua
crtica ao subjetivismo romntico. Segundo esta crtica, nem a criao arts-
tica pode deixar-se subsumir exclusivamente ao sujeito, perdendo-se de vista
o objeto representado em sua materialidade concreta da mesma forma que
a representao historiogrfica do mundo no se deixa esgarar em fragmen-
tos destitudos de mediaes com a totalidade dos grandes processos histri-
cos. Por outro lado, e estreitamente ligado problemtica anterior, o aban-
dono do conceito de totalidade esfera da metafsica relega toda a herana
racionalista do passado qual filiam-se Goethe e Hegel como os seus lti-
mos grandes representantes, respectivamente no mundo da literatura e da
filosofia s filosofias pragmticas da direita hegemnica moderna. A
funcionalizao do conceito de totalidade na prxis artstica e na critica lite-
rria transferiu-se ao longo do sculo XX evidentemente que de forma
regressiva e pr-dialtica aos grandes produtores da cultura de massas e aos
seus tericos ps-modernos, na exata proporo em que boa parte da crtica
esquerda renunciou ao racionalismo no mesmo perodo e refugiou-se na
172 LITERATURA E VIDA: RELEMBRANDO UM GOETHE UM TANTO ESQUECIDO
reificao do fragmento, sucumbindo inteiramente ao caudal anti-iluminista
de longa tradio no passado.
Inicialmente seria interessante rastrear algumas trilhas que o conceito de
totalidade percorre entre o Perodo da Arte
3
e o ltimo perodo crtico-literrio
em que o conceito deixa-se funcionalizar pela crtica de inspirao marxista no
sculo XX, seja positivamente (Lukcs) seja negativamente (Adorno e Bloch).
No incio do sculo XX, a revivescncia da discusso filosfica em torno do
conceito de totalidade deu-se fundamentalmente por ensejo de discusses so-
bre questes sobre a apreenso e a representao historiogrfica da histria.
Podemos estabelecer aqui a importncia de Wilhelm Dilthey como o
grande renovador da obra de Hegel neste perodo, no somente por publicar
a mais importante obra da renascena de Hegel na Alemanha, A histria da
juventudedeHegel (1907) num tempo em que o autor da Fenomenologia
parecia completamente esquecido,
4
mas tambm por ter sido um dos res-
ponsveis diretos pela edio de textos hegelianos inditos correspondentes
ao perodo anterior a Jena (1801). Mas, sem sombra de dvidas, no podemos
deixar de constatar a evidente influncia de Nietzsche sobre a chamada Filoso-
fia da Vida, de Dilthey. O autor de Assim falou Zarathustra representou em
certo momento na Alemanha a retomada de questes filosficas essenciais
abarcadas pela filosofia clssica de Descartes, Kant e Hegel, justamente quando
estas pareciam perder todo o carter humano e concreto, quando as filoso-
fias destes pensadores haviam-se tornado, sob a pena dos professores do s-
culo 19, doutrinas puramente acadmicas (Goldmann, 248). O pensamen-
to de Nietzsche ir fornecer o substrato filosfico para a Filosofia da Vida
que, mais tarde, passando por Dilthey e seu sucessor Georg Simmel infiltrar-
se- na obra do jovem Lukcs (ainda que de modo contraditrio, o que se
evidencia nos choques entre as tendncias sociologizantes e as mstico-
interpretativas coaguladas na Histria do drama e em A alma easformas).
Nietzsche repe com radicalidade o problema fundamental da filosofia
clssica alem, sobre a justa relao entre sujeito e a histria. No cerne da sua
obra filosfica aloja-se a convico do primado do ser, em detrimento do
devir histrico. Nas Consideraesextemporneas(1873-74) Nietzsche ocupa-
se centralmente em tentar recuperar a tese agnstica clssica de Kant, resta-
belecendo o fosso insupervel entre o sujeito e o objeto do conhecimento.
Para ele, a despeito de toda a sua histria, o ser humano no pode dar-se
conta de quo a-historicamente ele age. Na parte das Consideraesencimada
pelo ttulo Da utilidade e desvantagem da histria para a vida (Nietzsche,
209-285), Nietzsche prope-se a resgatar o esquecimento como a nica for-
Lui z Barros Mont ez 173
ma de viabilizar um autntico agir. Pois, reduzido histria, o ser humano
transforma-se num mastodonte inerme, privado de sua base vital de exis-
tncia, o que equivaleria ao fim da vida: do indivduo, do povo e da civiliza-
o. Nietzsche critica a enorme erudio acumulada por enciclopdias ambu-
lantes, destituda de vida ativa, pois profundamente interiorizada. Ainda
neste sentido, tambm investe contra a concepo da histria como cincia,
subordinando-a radicalmente ao que chama de Vida, que se configura numa
potncia estritamente a-histrica. Ainda nas Consideraes, no ensaio sobre
Schopenhauer (op. cit., 287-365), Nietzsche elogia a atitude estritamente anti-
dialtica daquele; pois no haveria a menor possibilidade de que a filosofia
visse qualquer problema solucionado por algum acontecimento poltico.
Neste ponto, e a va sans dire, Nietzsche expe o seu mximo anti-
hegelianismo. Contrape como dois plos opostos vida e histria. Numa
afirmao caracteristicamente nietzscheana, acusa o devir (implicitamente
hegeliano) de se constituir numa falcia prpria de intelectuais eunucos.
Nietzsche diagnostica a cultura de sua poca como produto de um vitorioso
historicismo (mesmo que sem o culto a Hegel, sua btenoir), e por isso pro-
pe-se metodologicamente a extirpar as ervas daninhas que seriam as verda-
des histricas, metforas que se tornaram gastas e sem fora sensvel. Por
outro lado critica, num movimento contrrio ao de Hegel, a tomada do ser
humano como medida para todas as coisas; investe pesadamente contra o culto s
civilizaes clssicas, considerando os gregos como historicamente incultos.
Entretanto, ao contrrio do que este resumo pode sugerir, o conceito de
totalidade (vida) emanado do pensamento de Nietzsche constitui a sua aspi-
rao mxima. O termo vida no se restringe, nas Consideraesextemporneas,
ao sentido biolgico, ou limita-se acepo fsica do termo. Assim confronta
Peter Ptz a noo de totalidade de Nietzsche com a de Hegel:
Esta totalidade [de Nietzsche, L.M.] no deve ser concebida sob o modelo hegeliano,
como uma reconciliao dos contrrios, mas, ao contrrio, como uma aprovao radi-
cal dos antagonismos irreconciliveis, do nada mesmo como dimenso complementar
da totalidade. O niilismo no consiste em conhecer e reconhecer o nada, mas, segun-
do Nietzsche, em deneg-lo ou em ocult-lo atravs de esperanas consoladoras,
maneira do cristianismo (Ptz, 149).
Para o Nietzsche de Sobre a utilidade e o inconveniente da histria
para a vida, ao se criticar o conceito ingnuo de objetividade no se pode
incorrer no erro de abandonar passivamente a realidade emprica, mas sim se
deve elaborar uma viso de totalidade coerente, no qual cada detalhe singu-
174 LITERATURA E VIDA: RELEMBRANDO UM GOETHE UM TANTO ESQUECIDO
lar acharia o seu devido lugar. Tal tarefa filosfica competiria ao artista, pela
sua condio aristocraticamente privilegiada, genial.
Citando Schiller e Grillparzer, Nietzsche relembra que o historiador verdadeiramente
objetivo deve ser tambm um artista. (...) Sua anttese [de Nietzsche, L.M.] histria
arte recorta a oposio singularidade totalidade. Esta ltima prpria da vida e da
arte. Para uma tal historiografia transformada em arte e estmulo vital precisa-se de
um verdadeiro gnio (Ptz, 141).
A inteno de se recriar atravs da arte uma composio a que corresponda
a verdadeira histria, partindo de uma reordenao arbitrria e subjetiva que
no subestime a realidade emprica, mas que reorganize os seus elementos
singulares, aparentemente disparatados e desprovidos de sentido, com o fito de
assim recriar totalidades objetivas, configurando por meio deste gesto uma atitu-
de artstica genial (no sentido excludentemente elitista de Friedrich Schlegel):
tal , em suma, a minuta esttico-filosfica de Nietzsche.
O aprofundamento por Nietzsche da clssica dicotomia sujeito-objeto
e a sua soluo filosfica orientou-se no sentido de permitir o contrabando,
para o plano da realidade objetiva, de elementos estatutariamente subjeti-
vos. J nos seus primrdios, a filosofia clssica alem havia sido marcada por
uma oscilao metodolgica entre o materialismo e o idealismo.
Kant, em sua polmica contra a interpretao religiosa da realidade e
em que pese seu agnosticismo transcendentalista , reafirma basicamente a
existncia de uma realidade material ontologicamente independente do co-
nhecimento. Ao lado de um princpio ontolgico resolutamente materialista,
percebe-se, entretanto, no transcorrer das pginas da Crtica da razo pura e da
Crtica da faculdadedo juzo
5
, respectivamente, a subjetivizao da histria e de
categorias estticas objetivas inteiras, o que significa um grave comprometi-
mento do racionalismo contido em seu ponto de partida materialista.
Neste aspecto, podemos metodologicamente tomar como ponto de
partida a doutrina transcendental de Kant. Na Crtica da razo pura, Kant se
pergunta: o que pode saber o sujeito?Em funo disto, investiga os limites e
as possibilidades de nossa capacidade de conhecimento. Poderia ela transmi-
tir um saber vlido universal e necessrio, portanto objetivo?Num interes-
sante posfcio primeira Crtica de Kant, Helmut Seidel reconhece a juste-
za, neste aspecto, da rplica de Hegel:
Hegel argumentou mais tarde contra este questionamento [acerca da possibilidade de
certeza apodtica gerada pela capacidade de conhecimento, L.M.] que seria inteiramente
impossvel investigar a faculdade de conhecer antes, portanto desligada, do ato de co-
Lui z Barros Mont ez 175
nhecer, haja vista que esta investigao j seria em si um ato de conhecer. Ele diverte-se
com Kant por este ter cado na situao de um scholar que quer aprender a nadar sem
entrar na gua. H, sem dvida, muito de verdadeiro nesta argumentao (Seidel, 1014).
Ao opor faculdadedeconhecer (Erkenntnisvermgen) ao conhecer (Erkennen),
Kant interrompe o processo do conhecimento, encerrando-o no mais puro
subjetivismo. Tal decorre, evidentemente, das teses desenvolvidas j no incio
da exposio de sua esttica transcendental (Kant, 1979: 92 et seq.) como
cincia dos princpios da sensibilidade a priori.
6
Ao conceber a realidade apre-
endida pelo conhecimento como um objeto descolado de toda noo de espa-
cialidade, temporalidade e causalidade, Kant termina tambm por arruinar,
em ltima anlise, o seu prprio pressuposto materialista inicial.
De forma simtrica, na Crtica da faculdadedo juzo o filsofo insistir no
carter subjetivo do agradvel, do beloe do sublime, quando discorre sobre o
prazer esttico. Kant exclui o bomda faculdade de juzo esttica, considerando-
o como um juzo intelectual puro, moral, gerador de uma lei que obriga abso-
lutamente. O agradvel e o bom, condicionados por um Begehrungsvermgen,
ou seja, um certo grau de avidez do sujeito receptor, trazem consigo cada um
respectivamente uma agradabilidade; a do primeiro, condicionada patologica-
mente por estmulos (o agradvel), e a do segundo determinada praticamente
no somente pela representao do objeto, mas pela conexo do sujeito com o
mesmo (o bom). Mas a sua viso do belo em contraposio ao agradvel e ao
bom que nos interessa aqui centralmente:
Contrariamente [a oposio, como observei mais acima, refere-se ao agradvel e ao
bom] o juzo de gosto meramente contemplativo, isto , um juzo que, indiferente
existncia de um objeto, s considera sua natureza em comparao com o sentimento
de prazer e desprazer. Mas esta prpria contemplao tampouco dirigida a conceitos;
pois o juzo de gosto no nenhum juzo de conhecimento (nem terico nem prtico),
e por isso tampouco fundado sobre conceitos e nem os tem por fim (Kant, 1995: 54)
(...) Gosto a faculdade de ajuizamento de um objeto ou de um modo de representa-
o mediante uma complacncia ou descomplacncia independente de todo o interes-
se. O objeto de uma tal complacncia chama-se belo (ibidem, 55).
Partindo, portanto, de uma desistoricizao radical do ajuizamento es-
ttico da obra de arte, Kant nivela igualmente o sujeito receptor, alojando-o
num estado esttico abstratamente genrico:
(...) embora os crticos, como diz Hume, possam raciocinar mais plausivelmente do
que cozinheiros, possuem contudo destino idntico a estes. Eles no podem esperar o
fundamento de determinao de seu juzo da fora de argumentos, mas somente da
176 LITERATURA E VIDA: RELEMBRANDO UM GOETHE UM TANTO ESQUECIDO
reflexo do sujeito sobre seu prprio estado (de prazer ou desprazer) com rejeio de
todos os preceitos e regras (ibidem, 132).
Por outro lado, a noo do sublimena arte liga-se constatao kantiana
da incapacidade objetiva, no meramente subjetiva de se chegar totali-
dade absoluta (Kant concebe-a inseparavelmente da natureza) atravs da
medio das coisas no tempo e no espao. Se uma grandeza atinge o extremo
de nossa faculdade de compreenso, nossa compreenso esttica desafiada,
pois sentimo-nos limitados. A faculdade de imaginao necessariamente
ampliada para que possa adequar-se idia do absoluto, para o qual a facul-
dade da razo (transcendente) ilimitada. Assim, esteticamente, o objeto
somente admitido como sublime com um prazer transmitido por um
desprazer. A produo de uma sensao esttica que desperte no sujeito
receptor a noo de totalidade s pode realizar-se atravs de um abalo que o
faz lembrar-se de sua impotncia diante do inconcebvel, do intransponvel.
Em termos estticos, a totalidade (subsumida pela religio grandeza divi-
na
7
) assume uma funcionalidade religiosa enquanto produto subjetivo que
nos confortaria diante da vastido da natureza em ns e fora de ns. O sublime
adquire uma clara funo moral como suporte idia da existncia de um
Deus Todo-Poderoso, por despertar no sujeito a faculdade de ajuizar sem medo
o poder divino e de pensar em seu destino (humano) alm deste Deus.
Nunca demais lembrar que Kant, perante a constatao da impossibili-
dade da comprovao emprica de Deus (e da imortalidade da alma), j havia-nos
proposto a sua sustentao enquanto instncias morais socialmente necessrias.
8
Na Crtica da faculdadedo juzo, o conceito de totalidade , do ponto de vista da
sua inteleco, operativamente amesquinhado pela sua subalternidade moralista:
Portanto, a sublimidade no est contida em nenhuma coisa da natureza, mas s em
nosso nimo, na medida em que podemos ser conscientes de ser superiores natureza
em ns e atravs disso tambm natureza fora de ns (na medida em que ela influi
sobre ns). Tudo o que suscita este sentimento em ns, a que pertence o poder da
natureza que desafia nossas foras, chama-se ento (conquanto impropriamente) su-
blime; e somente sob a pressuposio desta idia em ns e em referncia a ela somos
capazes de chegar idia da sublimidade daquele ente, que provoca respeito interno
em ns no simplesmente atravs de seu poder, que ele demonstra na natureza, mas
ainda mais atravs da faculdade, que se situa em ns, de ajuizar sem medo esse poder
e pensar nossa destinao como sublime para alm dele (ibidem, 110).
A inteno de retirar o conceito de totalidade desta esfera metafsica,
resgatando-o do mbito da pura moralidade e retraduzindo-o operativamente
Lui z Barros Mont ez 177
no terreno da realidade emprica imediata ainda que concebida como uma
epi fani a absolutamente i deali sta somente surgi r com Hegel e A
fenomenologia do esprito. No por acaso ir Nietzsche recuar filosoficamente
a um tempo anterior a Hegel e devolver o conceito de totalidade esfera do
no-histrico. Explora brilhantemente as conseqncias idealistas da filoso-
fia de Kant e remete, com o autor da Crtica da razo pura, o conceito a uma
transcendncia cujo corolrio mais imediato, do ponto de vista da histria,
o de reneg-la cabalmente como uma massa no-inteligvel. Desta forma,
abre um valioso atalho para o irracionalismo da Filosofia da Vida, que procu-
ra integrar no plano da objetividade uma terceira alternativa entre o sujeito e
o mundo objetivo: os das vivncias(Erlebnisse), com as quais o sujeito
reconstitui (exclusivamente atravs de meios estticos) a totalidade da vida
social, tambm aqui rebatizada de Vida.
No nos referimos aqui Crtica da razo prtica e aos seus pressupos-
tos morais. Contudo, talvez se localize nesta obra a chave para o entendi-
mento dos rumos que a filosofia de Hegel ir tomar. Num importante livro
publicado em 19489, Georg Lukcs debrua-se exatamente sobre as razes e
motivaes do jovem Hegel no sentido de superar o mestre de Knigsberg.
Como as linhas antecedentes provavelmente j deixam supor, o conceito de
totalidade desenvolve-se no pensamento de Hegel de modo a tentar superar
o pressuposto que subjaz ao imperativo categrico kantiano. Hegel vai
buscar no hic et nunc da vida social a sua racionalidade implcita, no seu
entender ao mesmo tempo transcendente e imanente, e dela vai tentar ex-
trair sua moralidade intrnseca.
Segundo a tese original de Lukcs, o grande achado filosfico de Hegel
o conceito de contradio dialtica deriva paradoxalmente de sua obsesso em
superar os imperativos morais kantianos, ou seja, em arrancar o conceito de totali-
dade da transcendncia metafsica em que se encontrava aprisionada pelo
transcendentalismo kantiano, resgatando-o para a esfera da imanncia.
Algumas motivaes lukcsianas so muito claras, quando elege Hegel
e Goethe como os mais avanados protagonistas do pensamento filosfico e
esttico da era burguesa. A esttica do velho Lukcs corresponde precisa-
mente a um dos postulados centrais do projeto esttico hegeliano: conside-
rar criticamente toda e qualquer representao artstica a partir de radical
imanncia dos fenmenos da vida social.
Estes caminhos crtico-filosficos no foram seguidos sua poca ex-
clusivamente por Hegel. De fato, pode-se traar um paralelo entre Fenomenologia
do Esprito a partir do entendimento da totalidade da vida social como
178 LITERATURA E VIDA: RELEMBRANDO UM GOETHE UM TANTO ESQUECIDO
autoproduo humana por meio do trabalho, no bojo do que o filsofo
alemo denomina astcia da razo conquanto irracionalmente concebi-
do, no captulo final da obra, como uma espcie de epifania religiosa, como
o desdobramento mgico do espritopara a matria com o Fausto de Goethe.
As obras goetheanas de maturidade atestam-se como configuraes literrias
do processo social enquanto totalidade vazada nos mesmos princpios de
Hegel. Embora tivesse considerado por diversas vezes Kant o maior filsofo
de sua poca, Goethe alis, a exemplo de Schiller, que jamais segue na
prtica o preceito do belo desinteressado funda suas concepes literrias
e cientficas numa gnose muito mais afeita de Hegel que do filsofo de
Knigsberg.
Os traos totalizantes da obra e do pensamento cientfico e literrio de
Goethe deixam-se reconhecer j desde o perodo do Sturm und Drang. A
preocupao com a representao historiogrfica anuncia-se logo em sua
primeira obra significativa, Gtz von Berlichingen. O drama, inspirado basi-
camente pela filosofia da histria de Herder e pelas influncias de Justus
Moser e sua crtica ao despotismo absolutista dos prncipes, indica com ab-
soluta clareza a adeso idia de histria como encadeamento orgnico das
diversas culturas do passado em um dilogo cultural que antecipa os desdo-
bramentos fenomenolgicos descritos por Hegel mais de trinta anos mais
tarde. A exaltao radical de Goethe aos princpios dramticos shakespearianos
chega a ser vista como excessiva pelo prprio Herder, conquanto este esti-
mule o jovem poeta demolio dos princpios cannicos teatrais poca.
Na verdade, as radicais inovaes estticas de Goethe pem-se a servio
da configurao literria de um passado histrico que pressupe um nexo de
causalidade, que localiza no incio do sculo XV as causas polticas e jurdi-
cas do intenso sentimento de opresso vivido pela gerao do jovem Goethe.
Tal simplesmente no seria possvel por meio das formas cannicas tradicio-
nais, apoiadas na unidade de ao, espao e tempo. A estonteante sucesso
de cenas pe-se a servio de um realismo literrio absolutamente novo, que
reveste a ao de um dinamismo extraordinrio, e que retrata tanto persona-
gens da nobreza quanto das camadas plebias e camponesas. Tal princpio
compositivo ancora-se numa acepo absolutamente indita do conceito de
povo, certamente inspirado no conceito de humanidadede Herder, e tem,
simetricamente, por alvo um novo pblico espectador, do ponto de vista de
sua composio de classes. Mais do que indicar o carter profundamente
realista de Goethe e a sua sintonia com as lutas de seu tempo, o drama esta-
belece o nexo causal entre a opresso e o arbtrio dos prncipes de seu tempo
Lui z Barros Mont ez 179
e a derrota da luta dos cavaleiros feudais, cuja lealdade ao imperador era
simbolizada pelo aperto de mos e pelo juramento oral.
Saltando alguns anos, deparamo-nos com o perodo clssico de Goethe,
j estabelecido na corte de Weimar desde 1775. Particularmente aps seu
retorno da Itlia, ntido o deslocamento de Goethe para as temticas
arquetpicas da humanidade, e o abandono de suas veleidades individualizantes
do perodo anterior. Se o homem goetheano surge em sua lrica e em seus
esboos dramticos como potncia individual, tensionado pela atividade vital
intensa na luta por sua felicidade e integrao social, pouco mais adiante,
com a irrupo da Revoluo Francesa e o seu ingresso na fase de terror
jacobino, todo o iderio social de Goethe, todos os seus esforos tericos e
crtico-literrios convergiro, particularmente atravs da cooperao com
Schiller a partir de 1794, para a instituio de espcie de utopia cultural que
se pretende como uma alternativa s convulses revolucionrias do pas vizi-
nho. No absolutamente nenhuma coincidncia que o perodo hoje co-
nhecido como Classicismo de Weimar surja precisamente em 1794 como
uma alternativa de natureza idealista, calcada na Bildung, na educao cultu-
ral e esttica da humanidade, violncia revolucionria repudiada por Goethe
e por Schiller. (Na verdade, o perodo do terror j vivenciava o seu ocaso, mas
tal no era a percepo dos intelectuais alemes naquele momento).
Nenhuma obra expressa to bem esta inflexo na assimilao do con-
ceito de totalidade aplicada vida social e prxis literria de Goethe do que
o romance Osanosdeaprendizado deWilhelm Meister. Em suas partes iniciais
desenvolvidas a partir de 1777, o ideal do protagonista forjava-se com base
num flagrante escapismo. O refgio na arte, no universo totalizante das for-
mas artsticas infinitas, afigurava-se como a alternativa central de Wilhelm, e
no por outro motivo o rascunho inicial do romance no pde encontrar o
seu desfecho. Goethe sempre foi excessivamente votado empiria da vida
para aceitar tal premissa romntica. Aps mais de sete anos em hibernao, o
manuscrito foi lentamente retomado, e as cinco partes inicialmente escritas
foram aproveitadas com modificaes. Mas o texto ganha um novo rumo.
Wilhelm rompe com a sua trupe teatral original e parte para a vida como um
homem empreendedor, um negociante dinmico afeito vida moderna
emergente. A trama ganha uma nova dimenso, complexifica-se de forma
abrupta, e o reengajamento de Wilhelm ao novo grupo e o desenrolar das
inmeras peripcias individuais denotam um mundo em que a objetividade
da vida social, a atividade intensa de seus participantes resultam numa tota-
lidade de novo tipo. Wilhelm ainda o fio condutor, mas no mais o
180 LITERATURA E VIDA: RELEMBRANDO UM GOETHE UM TANTO ESQUECIDO
centro da vida. um, entre tantos outros agentes, e o produto final no
deriva de sua ao exclusiva, nem indiretamente.
Nas palavras do protagonista de sua pea de estria, Goethe revela um
trao essencial de sua prpria personalidade. Em conversa com sua mulher,
Gtz afirma ser um homem de ao. Exortado por ela a escrever as suas
memrias para que fosse legado s prximas geraes o exemplo de suas
lutas, Gtz replica com m vontade que no lhe apraz a idia de perder
tempo escrevendo. Enquanto escreve deixa de agir, e a ao mais impor-
tante que o seu registro escrito.
Mais tarde, durante sua viagem Itlia, Goethe repensa o seu papel em
meio vida da corte. O motivo real de sua viagem confirma-nos a reflexo
do poeta sobre suas expectativas frustradas como administrador e poltico
naquela pequena corte de Weimar, sem embargo da amizade pessoal a ele
devotada pelo duque Carl August. Seu campo de ao prtica afirma-se-lhe
doravante como o da representao artstica e da pesquisa cientfica. Mas
nele Goethe jamais perder de vista a dimenso da escrita como prxis social,
como mediao entre o sujeito escritor e a totalidade dinmica, bipolar e
demonaca da vida social.
Antes mesmo de seu retorno a Weimar, em 1788, Goethe d os reto-
ques finais em seus manuscritos dramticos Ifignia em Turis, Torquato Tas-
so e Egmont. Nestas obras tematiza em termos estritamente simblicos ques-
tes do grande mundo e pe em relevo personagens que, mais tarde, deno-
minar demonacos. Tal conceito apia-se na profunda constatao filos-
fica de Goethe sobre as potncias do mundo que interagem com o nosso agir
tel eol gi co, e em cuj a i nterao desl ocam a hi stri a com absol uta
imprevisibilidade para saltos ou quedas vertiginosas. O demonaco tenta
dar conta da vida social, que, tal como entendida por Hegel e sua astcia da
razo, resulta da atividade de milhes e milhes de seres humanos, e jamais
corresponde aos projetos previamente traados por reis, rainhas ou indiv-
duos, de um modo geral, por mais importantes que eles sejam.
Em 1805 morre Schiller. Herder j havia falecido em 1803, Wieland
morrer em 1813. Goethe est s, logo sentir-se- um ser histrico, no
esprito do que escreve a Wilhelm von Humboldt em 1831, pouco antes de
sua morte.
10
Em 1806, a paz que havia sido garantida pelo tratado de neutra-
lidade da Saxnia / Weimar cai por terra com a invaso das tropas napolenicas
que impingem em Jena e Auerstedt uma fragorosa derrota s tropas prussianas.
Em 1805, o Kaiser Francisco II j havia abdicado e assim Goethe vive um
Lui z Barros Mont ez 181
profundo corte em sua vida. A sensao de tornar-se um ser histrico deri-
va certamente do desenrolar destes fatos, evidentemente associados s pro-
fundas transformaes econmicas do perodo, carreadas fundamentalmente
pela Revoluo Industrial. A Zelter, numa carta de 6 de junho de 1825, Goethe
escreve de forma lapidar: Ns talvez sejamos, juntos com poucos, os ltimos
de uma poca, que em breve no retornar (Goethe, 1998, vol. 9, 236). Al-
guns aspectos de sua vida familiar entram aqui naturalmente em conta, pois
durante os saques e pilhagens levados a cabo por soldados franceses em 1806 a
vida de Goethe esteve por um fio. As mortes de sua me e de seu filho, alguns
anos depois, tm, igualmente, certamente implicaes psicolgicas, pois re-
presentam um corte em sua prpria biografia familiar, que se esvaa.
Neste ambiente, Goethe esboa a partir de 1809 o seu projeto autobio-
grfico, e mais do que em qualquer outra obra o poeta mobiliza os recursos
poticos em funo da representao de um perodo histrico excepcional-
mente importante. O ttulo Poesia eVerdadeexpressa uma equao em que
um de seus termos jamais pode ser subsumido a outro. Parece-me precria a
viso de certos crticos que tomam os dados biogrficos como verdade,
enquanto entendem a montagem destes elementos no todo como um encar-
go da poesia. Reduzem, assim, o potico forma, seccionando-o da mat-
ria, o que a meu ver contraria frontalmente a concepo de Goethe, vrias
vezes exposta na obra, de que o signo destitudo de sua referncia nada.
Goethe procede a uma espcie de perenizao do passado. Mais do que
isso, prope uma reflexo distanciada de si mesmo, de seus erros e acertos,
para os quais concorrem circunstncias necessrias e contingentes, estabele-
cendo uma dialtica pessoal do sujeito permanentemente confrontado com
a liberdade e a necessidade, que eleva a si prprio com uma espcie de arqu-
tipo humano, uma individualidade supra-individual, genericamente huma-
na. Das peripcias enfrentadas pelo jovem protagonista eternamente bem-
disposto pelo mundo afora, ou mesmo de circunstncias extremamente do-
lorosas, ele extrai sempre um ensinamento para a sua personalidade futura.
H diversas passagens de Goethe em que este expressa verdadeira des-
confiana quanto ao teor de verdade do discurso historiogrfico. Talvez a
mais famosa delas seja a sua conversa com Heinrich Luden e citada por Ernst
Cassirer (1932: 1-26). Mas como em diversos momentos na obra e na
biografia de Goethe a sua prxis literria desmente cabalmente a sua incli-
nao terica.
182 LITERATURA E VIDA: RELEMBRANDO UM GOETHE UM TANTO ESQUECIDO
Neste particular, citemos a sua obra Poesia eVerdade. Como de resto
todos os seus demais relatos autobiogrficos, este livro representa uma ex-
traordinria histria cultural de seu tempo. Neste depoimento so evocadas
circunstncias histricas absolutamente fundamentais relacionadas sua po-
ca: a Guerra dos Sete Anos, a coroao de Jos II, a situao do Poder Judi-
cirio alemo descrito pormenorizadamente (e claramente acoplado pro-
blemtica da poca do cavaleiro Gtz von Berlichingen, decisiva para o des-
tino poltico do Sagrado Imprio Romano-Germnico). Na obra desfilam
personagens histricos no apenas como pano de fundo, mas determinantes
biografia do jovem, como Frederico II, Voltaire, Jos II, Hamann; uma
constelao de astros de primeira grandeza no mundo cultural alemo, com a
qual o autor teve contato direto, e emite no livro opinies as mais objetivas
possveis, freqentemente cedendo a fala a estas pessoas, deixando-as mani-
festarem-se livremente: Gottsched, Gellert, Klopstock, Herder, Lenz, Klinger,
Stolberg, Lavater, Merck, Schlosser e outros. O protagonista passeia por dis-
tintas confisses religiosas, ele prprio v-se ora atrado, ora enjeitado pelo
cristianismo, promove reflexes filosficas permanentes, confrontando-as com
os ditames das religies positivas e com os seus ministros. Por outro lado,
transita por variados cenrios artsticos e cientficos na Alemanha, compon-
do um painel absolutamente representativo da vida alem nestas duas esfe-
ras. O xito e o seu extraordinrio distanciamento de si mesmo em Poesia e
Verdadefazem-nos esquecer completamente de seu ceticismo historiogrfico.
Por fim, neste passeio pela obra goetheana evidentemente lacunar que
propus at este ponto, fao ainda uma breve referncia ao romance Afinida-
desEletivas(1808). Nele, Goethe funcionaliza aquilo que chamou alhures
de mistrio evidente. Revela-nos o recndito que salta vista de todos.
Mas necessria uma chave para que a porta deste sentido se revele, e esta
chave precisamente o seu conceito de a natureza una (dieeineNatur). Em
decorrncia de seu ethoscientificista, Goethe jamais separa, em sua interpre-
tao do conceito de totalidade, natureza e sociedade, e precisamente nisto
est o segredo das Afinidades, de seus excursos e suas alegorias.
Com esta chave desvendamos da mesma forma a estrutura hermtica
de sua ltima narrativa. Nesta, Goethe antecipa tendncias do romance
moderno somente consagradas muitas dcadas depois. Osanosdeperegrina-
o deWilhelm Meister (continuao dos Anosdeaprendizado) representam o
melhor exemplo da narrativa ps-clssica de Goethe, pois explicita clara-
mente os seus eixos compositivos fundamentais: a afirmao do fragmento,
Lui z Barros Mont ez 183
da polifonia da alternao e descentramento dos eixos narrativos, do uso
intensivo de alegorias. Se no primeiro fragmento do Meister ainda explicita-
se uma forte nfase teleolgica do protagonista, de cariz romntico, esta
nfase definitivamente abandonada por Goethe nos Anosdeperegrinao.
Nos Anosdeaprendizado o protagonista ainda representa uma balisa
inelutvel para o narrador, no obstante encontrar-se integrado na vida so-
cial como totalidade. J no ltimo Meister a conduo narrativa partilhada
por vrios sujeitos, entrecortados pela voz de um editor fictcio. Tal atitude
narrativa assimila obra, no fundamental, a nova perspectiva dialgica de
Goethe com base numa interpretao da sociedade moderna bastante dis-
tinta da anterior. A sua nova dico polifnica e a fragmentao do discurso
correspondem a uma poca onde o conceito de Bildung radicalmente re-
visto. A Revoluo Industrial e a complexificao da vida moderna trazem
consigo a fragmentao do saber, a especializao profissional. No mais o
homem isolado o portador individual da Bildung moderna, mas a sociedade
vista como totalidade. Nesta mesma direo anuncia-se logo no subttulo do
romance o conceito de renncia (Entsagung) no como resignao do indiv-
duo, mas como uma forma superior de convvio social, na qual no poderia
caber, por exemplo, o Ofterdingen novalisiano, cujo motor o desejo abso-
luto, irrefreado, onrico. Na contramo do romantismo, Goethe aponta no
ltimo Meister (e, de forma anloga, no Fausto 2) no uma utopia regressiva,
localizada no passado, mas deixa-se embalar pelo progresso, expresso em
novos modelos educacionais, nas rotas das grandes emigraes para a Amri-
ca em construo, nos grandes aterros e empreendimentos, bem como nas
preocupaes ecolgicas deles decorrentes.
Se hoje a interpretao de Goethe do conceito de totalidade encontra-
se esgotada em seus aspectos formais bsicos (cf. Lukcs, 1953), mesmo as-
sim ela fundamentalmente ainda representa uma inspirao esttica que en-
frenta o desafio da configurao artstica e historiogrfica da vida moderna,
fragmentada e fetichizada em sua superfcie visvel, mas universalmente arti-
culada em suas esferas econmicas e polticas mais profundas, cujos horizon-
tes e perverses so habi lmente ocultados pelos seus benefi ci ri os e
multiplicadores na mdia voluntria ou involuntariamente pelo medo
natural de sua necessria superao histrica.
184 LITERATURA E VIDA: RELEMBRANDO UM GOETHE UM TANTO ESQUECIDO
Resumo: Este ensaio prope a retomada
da reflexo de inspirao marxista sobre
Goethe tendo como eixo central o con-
ceito de totalidade. Por meio deste con-
ceito, o ensaio esclarece a posio liter-
ria fundamental de Goethe na represen-
tao da vida moderna, indicando alter-
nativas para a superao artstica das for-
mas fragmentrias reificadas da vida con-
tempornea.
Palavras-chave: Goethe, totalidade.
Abstract: This essay proposes to resu-
me Marxist reflections on Goethe that
takes into consideration the centrality of
the concept of totality. By means of this
concept the essay clarifies Goethes fun-
damental literary position in the modern
l i fe represent at i on, poi nt i ng out
alternatives to artistic overcoming of
contemporary li fe forms marked by
fragmentation and reification
Keywords: Goethe, Totality.
Not as
1
Tal objetivo j se propunha Herder, entre 1784 e 1791, em suas Idiassobrea filosofia da histria da
humanidade. Cf. Wiese, p. 30.
2
Cf. Montez, 2002.
3
A expresso foi utilizada por Heinrich Heine em 1831como referncia ao interregno entre o nasci-
mento e a morte de Goethe, porque seu princpio [do perodo] encontra-se enraizado no extinto
antigo regime, no passado do sagrado imprio romano. A propsito do equvoco desta condenao
sumria de Heine, cf. Borchmeyer, 1999.
4
Em 1907, o pastor Georg Lasson outro importante ressuscitador de Hegel na Alemanha
atestava que pelo menos nos ltimos 40 anos Hegel no teria exercido quase nenhuma influncia
filosfica na Alemanha (1907, 7).
5
Kritik der reinen Vernunft e Kritik der Urteilskraft, publicadas respectivamente em 1781 e 1790.
6
Nesta parte da Crtica da razo pura Kant defende a tese sobre as cores que ir servir futuramente a
Goethe. Ao contrrio do espao a que Kant confere um estatuto de idealidade transcendental (op.
cit., 101) independente de sua realidade emprica , as cores (e o gosto!) no podem ser consideradas
com justia disposies, imanncias das coisas, mas apenas modificaes de nossa subjetividade que
seriam diferentes em diferentes homens. Goethe tambm colidindo com as teses de Newton - ir
subtrair do fenmeno cromtico todo e qualquer carter objetivo.
7
O homem (...) no se encontra absolutamente na postura de nimo para admirar a grandeza divina, para
a qual so requeridosuma disposio calma contemplao e um juzo totalmente livre (ibidem, 110).
8
Cf. o seu prefcio segunda edio da Kritik der reinen Vernunft.
9
O jovemHegel. Sobrea relao entredialtica eeconomia, lamentavelmente ainda no disponvel em
portugus.
10
Admito com prazer que, em minha alta idade, tudo se me torna mais e mais histrico; se algo
acontece no passado, em reinos distantes, ou neste momento bem perto de mim, d no mesmo, eu
pareo a mim mesmo cada vez mais histrico (Goethe, vol. 9, 534).
Lui z Barros Mont ez 185
Bi bl i ograf i a
BORCHMEYER, Dieter. Goethe. Der Zeitbrger. Mnchen: Carl Hanser
Verlag, 1999.
CASSIRER, Ernst. Goetheund dieGeschichtlicheWelt. Leipzig: 1932.
GOETHE, J.W. Werke: Hamburger Ausgabe (HA). Mnchen: Deutscher
Taschenbuch Verlag, 1988, 14 vol.
GOLDMANN, Lucien. Georg Lukcs: lessayiste. In: ______. Recherches
dialectiques. 3
a
. ed. Paris: Gallimard, 1959, pp. 247-259.
KANT, Immanuel. Kritik der reinen Vernunft. Leipzig: Philipp Reclam, 1979
______. Crtica da faculdadedejuzo. Trad. de Valrio Rohden e Antonio
Marques. 2. Ed. Rio de Janeiro: Forense Universitria, 1995.
LUKCS, Georg. Faust-Studien. In: ______. Goetheund seineZeit. Berlin:
Aufbau, 1953, pp. 168-260.
______. Der jungeHegel: ber dieBeziehung von Dialektik und konomie.
Ulm: Suhrkamp, 1973, 2v.
MONTEZ, Luiz. Sobre o mito do Goethe romntico. Forum Deutsch
Revista Brasileira de Estudos Germnicos. Faculdade de Letras da UFRJ,
v.6, p.88102, 2002
NIETZSCHE, Friedrich. UnzeitgemsseBetrachtungen. In: ______. Werke
in drei Bnden. 8
a
. ed. Mnchen: Carl Hanser Verlag, 1977, v.1, p.135-
434
PTZ, P. Introduction aux Considrations Inactuelles. In: Nietzsche, F.
Oeuvre. Paris: Robert Laffont, 1993, v.1, pp.133-150.
SEIDEL, H. Kants Kritik der Vernunft: ihre historische Bedeutung und
Wirkung. In: KANT, I. Kritik der reinen Vernunft. Leipzig: Philipp
Reclam, 1979, pp.1001-1021.
WIESE, Benno von. Von Lessing bisGrabbe. Studien zur deutschen Klassik
und Romantik. Dsseldorf: Augustst Bagel Verlag, 1968.
186 O PENSAMENTO MITOPOICO
O PENSAMENTO MITOPOICO
1
Harol d Bl oom*
Traduo e apresent ao: Suel i Cavendi sh* *
Apresent ao
O pensamento mitopoico o captulo introdutrio ao primeiro li-
vro de Harold Bloom Shelley: Engenho de Mitos (ShelleysMythmaking)
e como tal possui um certo valor histrico. Publicado em 1957, seguido de
O ApocalipsedeBlakee de A Companhia Visionria, este ltimo o mais ambi-
cioso dos trs, incorporando os seis poetas romnticos ingleses mais impor-
tantes, Shelley, Blake, Wordsworth, Byron, Coleridge e Keats. Com esta trilogia
Bloom tenta resgatar os romnticos do esquecimento, imposto primeiro por
T. S. Eliot e depois pela Nova Crtica. evidente para mim agora diz Bloom,
no prefcio edio em brochura da Cornell University que o tema deste
livro a tentativa, internalizada por Shelley, de alcanar os limites do desejo.
Ele tocou esses limites, abandonou a fase prometica da busca romntica e
morreu, mas no pelo fracasso da fase madura dessa busca, de onde havia
comeado. Se fez um Julgamento Final sobre si mesmo em O Triunfo da Vida
e nos poemas lricos a Jane Williams, foi talvez porque tivesse fracassado ante
sua prpria viso, no que esta tenha lhe faltado. Este livro, um estudo expe-
rimental dos limites do desejo, oferecido como um tributo, conquanto
inadequado, ao poeta que considero o menos dispensvel entre os que j li.
*HAROLD BLOOM, Sterling Professor de Cincias Humanas pela Universidade de Yale, autor de
inmeras obras, como: Shakespeare: A inveno do Humano(1999), UmMapa da Desleitura (1975), O
CnoneOcidental (1994) e A Angstia da Influncia (1973), O ApocalipsedeBlake(1963), A Compa-
nhia Visionria (1961) e Shelley: Engenho deMitos(1957), estas trs ltimas sem traduo para o
portugus.
**SUELI CAVENDISH, professora de Literatura de Lngua Inglesa na Universidade de Pernambuco/UPE,
ensasta e tradutora. Entre ensaios publicados se incluem: A Fria Potica em Carcassonne de
William Faulkner (Revista Continente Multicultural, 2002) e Edgar Allan Poe: Entre o Lgico e o
Louco (Revista Continente Multicultural,2002). Entre as tradues se incluem os contos
Carcassonne (Revista Continente Multicultural, 2002) e A Tarde de uma Vaca (no prelo). de W.
Faulkner e o livro Deleuze: UmAprendizado emFilosofia deMichael Hardt (Editora 34 Letras, 1996).
A traduo do poema Noite, de Shelley, de Paulo Henriques Britto, que contribuiu tambm
com sugestes traduo deste artigo.
186
Harol d Bl oom 187
Bloom registra ainda, no mesmo prefcio, comentrios que fazem parte
da primeira recepo ao livro. Um crtico britnico, representativo de mui-
tos outros, condena o seu af de focalizar Blake pela lente de Buber. Outro
deplora a decadncia da academia americana, que concedera o mais alto
mrito a um efebo insuficientemente versado em Plato. O espao conce-
dido por Bloom, em seu prefcio, a esses ataques, testemunha a seriedade
que desde cedo o anima. Em sua prpria defesa argumenta que, se houve ou
no influncia de Plato sobre a poesia de Shelley, esta uma questo a
demandar muito estudo. Um conhecimento, em suma, bem mais profundo
e abrangente sobre o processo de influncia potica do que o que at ento
existia. Desponta, assim, a angstia da influncia, como o tema que perse-
guir obsessivamente a partir desses livros.
MARTIN BUBER, TELOGO JUDEU contemporneo, estabelece uma distino
entre duas palavras primeiras, Eu Tu e Eu Isso.
2
Estas palavras combina-
das implicam relaes em vez de significaes, e, ao serem ditas, trazem
tona a existncia de relaes que no poderiam existir independentemente
da pronunciao das palavras primeiras.
A atitude humana em face do mundo dupla, variando em funo das
palavras primordiais que se diga. Quando o Tu pronunciado, o falante
nada tem por objeto. Pois onde h uma coisa h uma outra coisa. Todo Isso
limitado por outros; Isso existe apenas enquanto limitado por outros.
Mas quando o Tu dito, no h coisa. Tu no tem limites.
H ento dois Eus: o Eu que existe quando o ser inteiro de um homem
se confronta com um Tu, eo Eu da outra palavra primeira Eu-Isso, que
jamais pode ser dita com o ser inteiro. Um Eu existe no mundo da experin-
cia; Eu experimenta Ela, Ele, ou Isso. O outro Eu estabelece o mundo
da relao. Diz Buber:
Considero uma rvore.
Posso v-la como um quadro: coluna rija num choque de luz, ou mancha de verde
chama contra o delicado azul prateado ao fundo.
Posso perceb-la como movimento: garras de veios fluentes, sugar de razes, respirar
de folhas, comrcio incessante com a terra e com o ar e o obscuro crescimento em si.
Posso classific-la numa espcie e estud-la como um tipo em sua estrutura e modo
de vida.
188 O PENSAMENTO MITOPOICO
Posso subjugar sua real presena e forma to rigorosamente que eu nela reconhea
apenas a expresso da lei de leis de acordo com as quais uma constante oposio de
foras continuamente ajustada, ou de outras de acordo com as quais as substncias
componentes se misturam e se separam.
Posso dissip-la e perpetu-la em nmero, em pura relao numrica.
Em tudo isso permanece a rvore como meu objeto, ocupa espao e tempo, e pos-
sui sua natureza e constituio.
possvel, contudo, tambm acontecer, se eu for dotado de graa e vontade na
mesma proporo, que ao considerar a rvore me veja envolvido numa relao. A
rvore j no mais Isso. Fui capturado pelo poder da exclusividade.
Para efetiv-lo no necessrio que eu renuncie a quaisquer das maneiras pelas
quais considero a rvore. Nada h de que necessite desviar o olhar a fim de ver, ne-
nhum conhecimento que tenha de esquecer. Ao contrrio, tudo imagem e movi-
mento, espcie e tipo, lei e nmero, indivisivelmente unificado nesse evento.
Tudo o que pertence rvore est nisso: sua forma e estrutura, suas cores e compo-
sio qumica, seu intercmbio com os elementos e com as estrelas, esto todos presen-
tes num todo nico.
A rvore no uma fantasia, nem um jogo da minha imaginao, nem um valor
dependente do meu humor; mas corporificada em contraposio a mim e tem a ver
comigo, como eu com ela apenas de um modo diferente.
Que nenhuma tentativa se faa para debilitar a fora do significado da relao: a
relao mtua.
A rvore teria uma conscincia, ento, similar nossa?Disso no tenho experin-
cia. Mas voc desejaria, por parecer ser capaz de faz-lo consigo mesmo, uma vez mais
desintegrar o que no pode ser desintegrado?Eu no encontro nem a alma nem a
drade da rvore, mas a rvore mesma.
Cito na ntegra essa bela e longa passagem porque ela afirma melhor que
qualquer outra que j tenha visto a natureza daquilo que trato como percepo
mitopoica. Buber vai ainda mais longe: A relao com o Tu direta. Nenhum
sistema de idias, nenhum conhecimento prvio e nenhuma fantasia intervm
entre Eu e Tu. Temos aqui um modo de imaginao perceptiva que salta
acrobaticamente sobre as costas da Imaginao Primria de Coleridge e cai dire-
tamente sobre a sua Imaginao Secundria; um anlogo da Viso Quadrifoliada
de Blake. No constitui qualquer surpresa que Buber afirme ainda que No
princpio era a relao, e prossiga no sentido de declarar que a palavra primeira
Eu-Tu domina sobre a Eu-Isso na fala dos povos primitivos. O mundo de
nossos ancestrais, ou de primitivos contemporneos, um mundo de relao e
no de experincia. Das intuies de um moderno telogo, eu passo para a uti-
lizao daquelas (aparentemente desconhecidas) de alguns acadmicos eminen-
tes, a respeito de civilizaes antigas.
Henri Frankfort e a sra. H. A. Frankfort do incio sua tentativa de
expor a natureza do mito no Egito e na Mesopotmia da antiguidade fazen-
Harol d Bl oom 189
do justamente a mesma distino que faz Buber entre a relao Eu-Tu, e a
experincia Eu-Isso.
3
Todavia, a distino dos primeiros puramente tcnica
em propsitos, enquanto a de Buber , naturalmente, essencialmente religio-
sa. Para Buber, todo Tu particular um vislumbre do eterno Tu , Deus, pois
Deus pode apenas ser endereado na segunda pessoa, nunca expressado na ter-
ceira, a esfera do Isso. O mundo do homem, enquanto relacionado ao seu Eu
leva inevitavelmente ao eterno Tu, Deus; enquanto o mundo do homem expe-
rimentado pelo seu outro, e bem distinto Eu, pode conduzir apenas, funda-
mentalmente, ao eterno Isso, distante de Deus. Buber ento reconhece que
todo Tu particular, depois que o evento relacional tenha seguido seu curso,
est fadado a tornar-se um Isso, mas a essa idia contrape a de que todo Isso
particular, ao penetrar no evento relacional, podetornar-se um Tu. Como
cabe a um telogo, a concluso de Buber moral: Sem Issoo homem no
pode viver. Mas aquele que vive somente com o Issono um homem.
Depois dessa advertncia, a anlise desapaixonada dos Frankforts me
causa uma certa inquietude: A diferena fundamental entre as atitudes do
homem moderno e do homem da antigidade com respeito ao mundo
circundante essa: para o homem da modernidade e da cincia o mundo
fenomnico principalmente um Isso; para os antigos tambm para os
primitivos um Tu.
4
A excelente empreitada acadmica dos Frankforts demonstrar a
inadequao de interpretaes animsticas ou personalsticas do signifi-
cado do mito antigo ou primitivo. Desde que todo fenmeno se relaciona a
ele como Tu, o homem primitivo simplesmente desconhece um mundo
inanimado, um mundo a ser experimentado. Por essa razo mesma ele no
personifica fenmenos inanimados, nem preenche um mundo vazio com
os fantasmas dos mortos, como o animismo nos faria crer.
O mito verdadeiro, ento, segundo os Frankforts, perpetua a revelao
de um Tu. A imagtica do mito no , assim, alegrica, mas anaggica. A
imagtica mtica representa a forma pela qual a experincia tornou-se cons-
ciente. Por conseguinte, concluem os Frankforts, o mito uma forma de
poesia que transcende a poesia, pois que proclama uma verdade; uma forma
de reflexo que transcende a reflexo, pois que quer revelar a verdade que
proclama; uma forma de ao, de comportamento ritual, que no encontra
seu preenchimento no ato, mas que deve proclamar e elaborar uma forma
potica de verdade.
Isso me parece uma sntese admirvel da natureza do mito e tambm de
uma poesia mitoprodutiva, embora os Frankforts talvez no concordassem
190 O PENSAMENTO MITOPOICO
com essa ltima afirmao. Contudo, estou interessado em saquear as for-
mulaes dos Frankforts em meu proveito prprio, e no concordo que pro-
clamar uma verdade implique transcender a poesia.
Os Frankforts esto interessados na distino entre o pensamento
mitopoico e o pensamento racional, cientfico. Eles observam o paradoxo
do pensamento mitopoico. Embora no conhea a matria morta e no
confronte um mundo animado de ponta a ponta, incapaz de abandonar a
esfera do concreto e transformar suas prprias concepes em realidades exis-
tentes per se. Dito de outra forma, faz exatamente o que um certo tipo de
poesia idealista faz; concebe uma viso em termos das minsculas part-
culas blakeanas.
A noo mitopoica de tempo e espao, observam os Frankforts, qua-
litativa e concreta, ao invs de quantitativa e abstrata.Tanto assim, apres-
so-me em dizer, na obra de certos poetas, quanto na dos antigos ou primiti-
vos. De fato, isso verdadeiro, em certa medida, para todos ns, mesmo
agora, em nossa vida cotidiana.
Ento, conforme assinalam os Frankforts (e muitos outros), tanto os
gregos quanto os judeus da antiguidade romperam com o pensamento
mitopoico. Os gregos progrediram, no dizer de F. M. Cornford, da reli-
gio para a filosofia, enquanto os judeus estabeleceram um pacto com um
Deus que transcendia absolutamente o pensamento mitopoico. Toda rela-
o mitopoica culmina no eterno Tu, e os judeus ultrapassaram em muito
qualquer religio natural em direo revelao do mito (se assim se pode
dizer) de que existia uma Vontade desse eterno Tu. O mito judeu a relao
Eu-Tu na qual o Eu Deus ou um reino de sacerdotes e uma nao santa...
e o Tu, inversamente, ou esse povo escolhido ou Deus. O mito estabe-
lecido segundo a Vontade de Deus, de tal forma que no se pode falar com
preciso nem de uma escolha nem de uma coisa escolhida, mas apenas de
uma relao mtua na qual se adentrou, cujo contrato por sua vez produz
uma lei, moral e espiritual, e uma tradio de f.
O pensamento grego, crtico, cientfico e racional, tornou-se, como
bem sabemos, completamente emancipado do mito e finalmente hostil a
ele. O pensamento Judeu tornou-se hostil a todos os mitos, com exceo de
um, enquanto o pensamento cristo, por seu turno, excluiu todos os mitos
exceto sua prpria transformao e modificao do mito judeu. O Mito,
assim excludo da filosofia e da sua cria, a cincia, e do que viria a se tornar a
religio dominante do Ocidente, entretanto no morreu, nem sobreviveu
apenas entre os primitivos. Com Plato, fez reentrada na filosofia e desde
Harol d Bl oom 191
ento nunca se separou completamente; fez reentrada na religio, nem sem-
pre como heresia, embora usualmente considerado como tal, no incio. Mais
importante, claro, tornou-se um certo tipo, e tradio, de poesia.
Como em geral se reconhece, a distino entre poesia mitolgica,
mitogrfica e mitopoica no fcil de estabelecer, especialmente em poe-
mas localizados no princpio da tradio literria europia. Poesia mitogrfica,
por exemplo, algo muito raro, e embora haja vestgios dela em muitos
poetas clssicos e medievais, no parece de fato existir in extenso at a Renas-
cena. Sua caracterstica essencial a de que no apenas sabe da existncia de
diferentes mitologias, mas tambm do elemento de paralelismo entre mito-
logias. A poesia mitolgica, propriamente dita, apresenta unidade de cultura
e de tradio. Exatamente em que ponto a poesia mitolgica se torna
mitopoica impossvel precisar, mas considero til uma diviso da poesia
mitopoica, ou dos aspectos mitopoicos da poesia, em trs partes, embora
todas elas se interpenetrem. Na primeira o poeta utiliza uma dada mitologia,
mas estende seu escopo de significncia sem viol-la em esprito, ou sequer,
consideravelmente, na letra. Falando francamente, isso no me parece figurar
no escopo da mitopoia de modo algum, mas pode ser considerada, essencial-
mente, como o tipo de poesia mitolgica mais criativo. A poesia inglesa dessa
natureza recebeu tratamento extensivo em dois livros excelentes de Douglas
Bush.
5
Bons exemplos em Shelley so o Hino a Apolo e o Hino de P.
Um segundo tipo de poesia mitopoica pode ser chamado de primiti-
vo, na medida em que corporifica aquela percepo direta de um Tu nos
objetos ou fenmenos naturais, que os Frankforts nos descreveram, uma
confrontao da vida com a vida.
6
Esse gnero de poesia freqentemente nada deve sequer ao exemplo da
mitologia do passado, e Shelley mais virtuoso em sua fatura que qualquer
outro poeta ingls:
Noite
I
Swiftly walk oer thewestern wave,
Spirit of Night!
Out of themisty eastern cave,
Where, all thelongand lonedaylight,
Thou wovest dreamsof joy and fear,
Which maketheeterribleand dear,
Swift bethy flight!
I
Spectro da Noite, clere atravessa
Os mares do Ocidente!
Dasbrumosasgrutasdo Oriente vem depressa,
De onde, enquanto o dia refulgente
Se alonga em solido, tu teces sonhos
Os mais benvolos e os mais medonhos
Vem, Noite envolvente!
192 O PENSAMENTO MITOPOICO
II
Wrap thy formin a mantlegray,
Star-inwrought!Blind with thinehair theeyesof
Day Kissher until shebewearied out,
Then wander oer city, and sea, and land,
Touchingall with thineopiatewand
Come, long-sought !
III
When I aroseand saw thedawn,
I sighed for thee;
When light rodehigh, and thedew wasgone,
And noon lay heavy on flower and tree,
And theweary day turned to hisrest,
Lingeringlikeand unloved guest,
I sighed for thee.
IV
Thy brother Death came, and cried,
Wouldst thou me?
Thy sweet child
Sleep,thefilmy-eyed,
Murmured likea noontidebee,
Shall I nestlenear thy side?
Wouldst thou me?And I replied,
No, not thee!
V
Death will comewhen thou art dead,
Soon, too soon
Sleep will comewhen thou art fled ;
Of neither would I ask theboonI ask
[of thee, beloved
NightSwift bethineapproachingflight,
Comesoon, soon!
O Tu aqui (Noite), como o Tu do homem antigo ou primitivo, ou o
Tu de Buber, de uma relao aberta a ns, mesmo na atualidade, tem o
carter sem precedente, inigualvel e imprevisvel de um indivduo, uma
presena conhecida apenas medida em que se revela.
7
Shelley no est
II
Esconde teu vulto em manto sem cor,
Teus astros benfazejos!Venda os olhos do
[Dia com o negror
De teu cabelo, e exaure-o com teus beijos,
Depois toca a cidade, e a terra, e o mar,
Com teu condo de pio, a apaziguar
Noite de meus desejos!
III
Quando acordei e vi o amanhecer,
Eu suspirei por ti;
E quando vi o orvalho esvanecer,
O sol pesar sobre o mundo, e senti
Que o Dia demorava-se, cansado,
Tal qual um hspede indesejado,
Eu suspirei por ti.
IV
Veio tua irm, a Morte, e perguntou:
Tu me chamaste aqui?
Teu doce filho, o Sono, se achegou,
E entre suaves murmrios ouvi:
Queres que me acomode ao lado teu?
Chamaste-me aqui? Respondi-lhe eu:
No, no chamei a ti!
V
A Morte?S quando houveres morrido,
Em breve, ah, em breve
O Sono?Quando tiveres partido.
Que no me venha o Sono, nem me leve
A Morte, e sim tu, Noite, bem-amada
Vem sbita, vem clere, alada;
Teu vo seja breve!
Harol d Bl oom 193
personificando o fenmeno da noite; quer dizer, ele no anima o que para
ele inanimado. Ele est de fato humanizando a noite, na medida em que
seu Eu no um sujeito experimentando a noite como um objeto. No h
outra coisa aqui exceto o dia; a Noite Tu, e Tu e o poeta se contrapem
em relao. Aquele que se pe numa relao comunga numa realidade, quer
dizer, num ser que nem simplesmente lhe pertence nem lhe estranho. Toda
realidade uma atividade na qual eu partilho sem ser capaz de apropriar-me.
Onde no h partilha no h realidade. Onde h auto-apropriao no h
realidade. Quanto mais direto o contato com o Tu, mais plena a partilha.
8
Novalis, emblematicamente articulado a Shelley no pseudnimo ima-
ginrio de James Thomson, teceu um hino Noite como parte de seu com-
plexo desejo de morte. No hino mais sutil de Shelley Noite, o desejo
paradoxal pela vida, e a orao urgente (o poema principalmente uma
orao) articula a Noite vida imaginativa, a vida do poeta que no pode ser
vivida no dia banal. A Noite, na primeira estrofe, desloca-se para o ocidente,
enquanto o dia morre no ocidente e assim ali se detm em sua posio final.
A figura da sua brumosa caverna oriental no terceiro verso belamente
precisa. Quando o dia progride para o fim, o primeiro corao das trevas
visto no oriente, e em sua relao com todo o firmamento da luz celeste,
visto como a boca escura de uma caverna. A orao da estrofe, e de todo o
poema, para que a noite seja breve em sua vinda. Ento a luz diurna um
Isso, no um Tu. O poeta no pode entrar em relao com ela, mas rejeita-a
como a uma coisa. Ele a experimentou, sob o peso do tempo, como um
objeto (que se alonga no quarto verso) e destacou-a do seu ser (solido
no mesmo verso). Mas mesmo enquanto suporta o dia, sabe que nada seno
a Noite oculta labora nele, tecendo fantasias benvolas e medonhas que
fazem da Noite (quase equivalente aqui, claro, poesia primordial no poeta
o inconsciente talvez) uma divindade a ser cultuada com amor e espanto.
A noite aqui mscula e criativa, o dia feminino e passivo, como na
belssima segunda estrofe.
9
Embora a prpria vida de um poeta exija participa-
o em ambas, se de fato sua vida deve prosseguir (como Buber observa, sem
Issoo homem no pode viver), o poeta alcanou, nesse poema, o limite extre-
mo da existncia. Quando ele acorda e v o alvorecer, nem sequer tentar
endere-lo como Tu, mas volta-se novamente para o Tu da Noite, aceitan-
do o dia como algo a ser vivenciado, a carga da vida cotidiana que deve ser
suportada. O orvalho da linha 18, tratado por ele como a ltima graa da
Noite, e quando se esvaece, e a luz j vai alta, sente apenas a carga, no verso:
194 O PENSAMENTO MITOPOICO
And noon lay heavy on flower and tree.
Na quarta estrofe ele d incio aos esclarecimentos finais, comea a es-
pecificar a sua orao. Sua orao no se dirige Morte ou ao Sono, como a
orao de Novalis quando ele invoca a Noite. Na estrofe final o esclareci-
mento completo, e a Noite da relao, que corporificada na orao que
esse poema, exatamente definida. A Morte-em-Vida do dia comum vir,
demasiado veloz, quando essa Noite estiver morta; o Sono que a conscin-
cia cotidiana vir quando essa Noite se recolher.
Por conseguinte, o poeta nem pede Morte nem ao Sono para virem
mais depressa. Sua orao Noite, sua tentativa de manter-se com ela na
relao Eu-Tu, um pedido pela vinda daquela conscincia completamente
lcida a qual, somente, vida para ele, e que somente aparece na Noite
criativa de seu esprito, nas profundezas do si mesmo que a faculdade po-
tica nele. Ele morre para a nossa vida diurna, para que possa viver a vida mais
fecunda da sua noite.
Ofereci Noite como um exemplo da poesia primitiva mitopoica,
na qual o poeta entra numa relao com um Tu natural, a relao mesma
constituindo um mito. O que considero uma terceira variedade de poesia
mitopoica mais complexa, embora suas razes estejam justamente em tais
relaes. Desde a concreta e primitiva relao Eu-Tu com Deus, os judeus for-
mularam o mito abstrato e complexo da Vontade de Deus. Semelhantemente,
dessas relaes concretas Eu-Tu, o poeta pode ousar construir suas prprias abs-
traes, ao invs de aderir frmula do mito, tradicionalmente desenvolvida
de tais encontros. Esse terceiro tipo de mitopoia, tal como se manifesta nos
principais poemas de Shelley, meu tema nos captulos seguintes.
Uma leitura pormenorizada de um grupo de poemas de Shelley de-
monstrar meu argumento. No afirmo que todosos poemas maduros e mais
importantes de Shelley so mitopoicos, especialmente na acepo precisa e
delimitada de mitopoia sobre a qual aqui insisto. Afirmo, sim, que um
certo grupo de poemas de Shelley manifesta precisamente a mitopoia que
defini acima. Seu mito, muito simplesmente, mito: o processo de sua ela-
borao e a inevitabilidade de sua derrota.
J analisei Noite, um poema escrito em 1821, como um exemplo
da fatura de mitos em Shelley, uma tcnica de escrever poesia que em si
mesma o tema dominante dessa poesia. Com algumas excees, os poemas
lidos nos captulos a seguir seguem a ordem de sua composio.
10
Comeo com os Hinos de 1816, o Hino Beleza Intelectual e Mont
Blanc, pois esses so poemas em que me parece que Shelley encontra o seu
Harol d Bl oom 195
mito, seu grande tema; com efeito, encontra-se a si mesmo. Alastor, com-
posto no outono de 1815, geralmente considerado o primeiro poema ex-
tenso de Shelley com maturidade e valor. Admiro inmeros aspectos em
Alastor, mas o poema confunde e mistura alegoria e construo mtica.
Parte da poesia tardia de Shelley encontra em Alastor o seu prottipo, mas
o aspecto especfico dessa poesia tardia que me interessa a no se encontra.
O mito da relao Eu-Tu no precede os Hinos de 1816; ele toma cor-
po medida que esses poemas se elaboram. Posteriormente o mito desapare-
ce por um tempo da poesia de Shelley. A Revolta do Islam (abril-setembro
1817), uma epopia alegrica abortiva que eu no admiro, no manifesta
muita conscincia do mito. O dualismo da Revolta uma decada espiri-
tual do mito; a alegoria dbia do poema um declnio tcnico com respeito
fatura mitopoica dos Hinos de 1816.
Prometeu Desacorrentado a primeira grande corporificao do mito
de Shelley e no meu terceiro captulo me preparo para uma leitura desse
poema. O quarto captulo, uma leitura da Ode ao Vento Ocidental, se
aparta ligeiramente da ordem cronolgica numa tentativa de completar o
processo de introduo do drama lrico. O captulo quinto, por seu turno,
uma leitura em larga escala de Prometeu.
O mito da relao culmina com Prometeu; o poema fornece uma
declarao completa da viso de Shelley. Outros aspectos do mito so
enfatizados em The Sensitive Plant (Captulo 6) e The Witch of
Atlas(Captulo 7.)
No Captulo 8, que uma releitura do Epipsychidion, comeo a tra-
ar o curso descendente do mito de Shelley, a conscincia de sua prpria
derrota. Adonais(1821) seria o meu tema seguinte, mas relutantemente
exclu uma leitura do poema deste livro. Muito nele francamente nega o
mito ao invs de debruar-se sobre a sua derrota. As ltimas dezessete estro-
fes de Adonais so to excelentes quanto tudo o mais no poeta, mas elas
nem iluminam nem so iluminadas pela dialtica da mitopoia de Shelley.
O nono e ltimo captulo uma releitura do fragmento, postumamen-
te publicado, O Triunfo da Vida. Com o triunfo da vida no mito da rela-
o de Shelley meu argumento se completa.
Poemas longos e valiosos como Julian and Maddalo, The Cenci, e
Hellas foram excludos porque no tem relao com o meu tema, ou o
meu tema com eles. Dois poemas longos que admiro particularmente, os
Versos Escritos entre os Montes Euganeses e a Carta para Maria Gisborne,
foram omitidos pela mesma razo. Muito da lrica de Shelley e dos seus
196 O PENSAMENTO MITOPOICO
poemas curtos teriam servido ao meu propsito, mas foram excludos por
falta de espao. Eu particularmente lamento nada dizer sobre Os Dois Es-
pritos: uma Alegoria, uma pea mitopoica notvel composta em 1820.
No fui capaz de responder, sequer para uma satisfao de foro ntimo,
uma questo crucial. Blake, Shelley e Keats, alm de serem criadores de mi-
tos, so de um modo ou de outro, contrrios ao Cristianismo. Blake se
autodenomina cristo, mas com persuaso redefine o Cristianismo, tratan-
do-o como um humanismo apocalptico de sua prpria extrao. Shelley se
coloca contra o cristianismo histrico e institucional em toda a sua poesia,
desde Queen Mab at o Triunfo da Vida.Keats acredita apenas na santi-
dade dos afetos do corao, mas sempre se satisfaz com no polemizar contra
o cristianismo formal na extenso em que o fazem Blake e Shelley. Qual teria
primazia: o impulso criador de mitos e o compromisso com o modo
mitopoico, ou a postura religiosa contra o cristianismo?
No me cabe decidir, pois cada compromisso induz ao outro. Nos Hi-
nos de 1816, de Shelley, a negao explcita do mito cristo e a formulao,
vivificada pela tentativa, do prprio mito do poeta existem lado e nenhuma
tem precedncia. Embora eu no possa responder questo, reconheo sua
importncia e validade. De minha parte gostaria de acreditar que a primazia
aqui pertence ao prprio impulso mitopoico.
Embora eu me refira a Blake, Wordsworth, Coleridge, Byron e Keats
com freqncia nesses captulos, este um estudo no de mitopoia romn-
tica em geral, mas apenas de Shelley. Mesmo as analogias que trao (especial-
mente no Captulo 3) entre o romantismo e o titanismo falham, se aplicadas
a um nmero excessivo de poetas. Blake, Byron e Shelley so prometicos,
tits; Keats em Hyperion tenta mediar entre Tits e Olmpicos. O Coleridge
maduro e Wordsworth se alinham com os deuses celestes. Nenhuma genera-
lizao fcil resolver o assunto; a preciso exige algo mais.
Mesmo assim, a despeito dessa reserva, Shelley no nico, como cria-
dor de mitos, no romantismo. Coleridge e Wordsworth so influncias po-
derosas, negativas e positivas, sobre o poeta dos Hinos de 1816. O
prometesmo de Byron ativo no drama lrico de Shelley, e Manfred
certamente uma obra mitopoica. Muita coisa em Keats poderia, com bons
resultados, ser estudada como fatura mtica.
Mas Blake se junta a Shelley aqui como sendo primordialmente um
poeta mitopoico. Yeats, o maior criador de mitos da moderna poesia, des-
cende igualmente de Blake e de Shelley, numa proporo que os captulos a
seguir faro evidente. Porque Blake um criador de sistemas, um mitgrafo
Harol d Bl oom 197
que cataloga seus prprios significados, no hesitei em us-lo como contras-
te iconogrfico a Shelley nessas pginas, especialmente em relao ao arqu-
tipo do paraso inferior, a terra de Beulah.
Ao longo desses captulos utilizei a edio das obras completas de Shelley,
de Thomas Hutchinson, TheCompletePoetical Worksof Shelley (London,
Oxford University Press, 1904), para todas as citaes e referncias poesia
de Shelley. Onde me desviei do texto de Hutchinson, principalmente em
O Triunfo da Vida, tentei dar conta das divergncias e indicar a fonte do
meu texto alternativo.
Not as
1
Mythopoeicno original.
2
I-Thou and I-It, no original
3
Henri Frankfort, Mrs. H. A. Frankfort, John A. Wilson, Thorkild Jacobsen, BeforePhilosophy, London,
Penguins, 1949. Chapters I, Myth and Reality, and 8, The Emancipation of Thought from
Myth,ambos escritos pelos Frankforts, so relevantes para o meu tema. Eu-Tu contrastado a Eu-Isso
nas pginas 12-14, em particular.
4
Frankfort et al., p. 12. Seguindo citaes das pp. 14,15,16,22, 32.
5
Mythology and theRenaissanceTradition in English Poetry, Minneapolis, Univ. of Minnesota Press,
1932; e Mythology and theRomantic Tradition in English Poetry, Cambridge, Harvard Univ. Press,
1937, com um captulo sobre Shelley.
6
Frankfort et al., p. 19
7
Ibid., p.13
8
Buber, p. 63.
9
Eu interpreto the weary day turned to hisrest, do verso 19 (estrofe III) como um Dia diferente
do Dia da estrofe II. O Dia da estrofe II um Dia mtico, o contrrio da Noite que o poema
enderea. O Dia do verso 19 o Sol, assim como acostumei-me a ler o poema. Pottle compara essa
exuberncia de inveno, que pode inegavelmente tornar-se confusa, s diversas representaes da
terra em Prometheus Unbound. N da T. Naturalmente, em portugus inevitvel que o dia seja
masculino e a noite feminina.
10
A partir desse pargrafo Bloom antecipa a anlise que desenvolver ao longo do livro, o que
natural, uma vez que o captulo que aqui se publica uma introduo ao Shelley Mythmaking. Entre-
tanto no deixa de ser, esse texto que a se inicia, uma freada brusca, uma pisada no pedal, ao modo
drummondiano, contrastantes com o clima de alta tenso romntica tanto da sua prosa quanto do
poema shelleyano. Os sons que antes se ouviam so abafados e mantidos em suspenso. Creio que este
um modo potico prprio da prosa de Harold Bloom, constatvel em grande parte dos seus textos.
Sem mais notcia resvala ele para o terreno da informao mais concreta, por vezes episdica e banal.
TEMA PARA O PRXIMO NMERO
TERCEIRA MARGEM ANO VIII. NMERO 11. 2004
NMERO TEMTICO: A POESIA BRASILEIRA
E SEUS ENTORNOS INTERVENTIVOS
Edi t or convi dado: Al bert o Pucheu
Est e nmero t em por t ema a poesi a brasi l ei ra e o que, hoj e, se pensa sobre
poesi a no Brasi l . Ist o si gni f i ca que, por um l ado, t em-se a poesi a como mol a propul -
sora do debat e e, por out ro, aqui l o que, em decorrnci a del a, vem sendo gerado.
Essa rel ao ent re a poesi a e seu ent orno no se d de modo pacf i co, nem os supos-
t os deri vados permanecem, necessari ament e, num segundo pl ano, rebocados por
aqui l o que os l i vros de poemas i nst auram. O pensament o sobre poesi a t ambm
produo, di ga-se, t aut ol ogi cament e, pot i ca, que, quando no t em, deveri a possui r
um desej o de ant eci pao, um desej o de que a prpri a poesi a se t ransf ormasse a
part i r de uma ref l exo que se quer i gual ment e i nst auradora, i nt ervent i va. Tal f at o
acena para uma enormi dade de obras que no podem ser caract eri zadas pel a rec-
proca excl uso ent re o pot i co e o t eri co; j ust ament e nessa encruzi l hada resi de um
dos vi gores do cont emporneo e, di ga-se, no s do cont emporneo. Assi m, desej a-
se t razer para o debat e f i guraes de uma mul t i pl i ci dade que at ravesse al gumas das
possi bi l i dades para a const ruo de um pensament o pot i co.
Prazo para envi o dos t rabal hos: 1 de out ubro de 2004
Os t rabal hos t ambm podem ser envi ados para: apucheu@msm.com.br
NORMAS PARA PUBLICAO DE TRABALHOS
1 - Os t rabal hos devero ser i ndi t os e vi r acompanhados de Resumos, em port ugus e i ngl s,
de aproxi madament e sei s l i nhas e de t rs a ci nco pal avras-chave, t ambm em port ugus e
i ngl s.
2 - Em f ol ha part e, os aut ores devero encami nhar os dados de sua i dent i f i cao (nome
compl et o, t i t ul ao, i nst i t ui o de vncul o, cargo, publ i caes mai s i mport ant es).
3 - Da Sel eo:
O Consel ho Edi t ori al envi a cada t rabal ho para doi s consul t ores " ad hoc" , que o exami nam e
l he at ri buem concei t os. Apenas 10 t rabal hos sero i ncl udos em cada nmero, usando-se o
cri t ri o de cl assi f i cao daquel es cuj a mdi a de concei t os f or a mai or.
4 - Do f ormat o dos art i gos:
4.1 - -- -- 10 a 15 l audas em papel A-4, di gi t adas em Word, espao ent re l i nha 1,5; corpo 12. Para
f aci l i t ar a edi t orao, no i nseri r nmeros nas pgi nas.
4.2 - -- -- As Not as e as Ref ernci as Bi bl i ogrf i cas devem ser apresent adas no f i nal do art i go de
acordo com as normas da ABNT.
4.3 - As ci t aes devem ser di f erenci adas por um recuo de 1,0 cm esquerda.
4.4 - A pgi na deve est ar conf i gurada da segui nt e manei ra:
margens superi or e i nf eri or: 3,0 cm; margens esquerda e di rei t a: 2,0 cm;
margem do cabeal ho (cf. o comando " conf i gurar pgi na" do Word): 2,0 cm;
margem do rodap: 1,5 cm.
5 - Do mat eri al ent regue para sel eo:
Ent regar uma cpi a em di squet e e t rs cpi as i mpressas, sendo uma cpi a com t t ul o do
t rabal ho, nome do aut or, i nst i t ui o de ori gem, endereo, t el ef one, e-mai l e duas cpi as sem
qual quer i dent i f i cao do aut or. O mat eri al ent regue no ser devol vi do.
Para o envi o de t rabal hos ou out ras i nf ormaes, ent rar em cont at o com:
Tercei ra Margem
Programa de Ps-Graduao em Ci nci a da Li t erat ura
Facul dade de Let ras - UFRJ
Av. Bri gadei ro Trompovsky, s/n - Ci dade Uni versi t ri a - Il ha do Fundo
CEP: 21.941-590 - Ri o de Janei ro - RJ
e-mai l : ci enci al i t @l et ras.uf rj .br
Homepage do Programa: w w w.ci enci al i t .l et ras.uf rj .br
UNI VERSI DADE FEDERAL DO RI O DE JANEI RO
Rei t or
Al osi o Tei xei r a
Sub- Rei t or de Ensi no par a Gr aduados e Pesqui sa ( SR- 2)
Jos Lui z Font es M ont ei r o
CENTRO DE LETRAS E ARTES
Decano
Car l os Tannus
FACULDADE DE LETRAS
Di r et or a
Edi one Tr i ndade de Azevedo
Di r et or a Adj unt a de Ps- Gr aduao
Hel osa Gonal ves Bar bosa
Coor denador do Pr ogr ama de Ps- Gr aduao em Ci nci a da Li t er at ur a
Joo Cami l l o Penna
Vous aimerez peut-être aussi
- Entrevista Claudia Roquette-PintoDocument14 pagesEntrevista Claudia Roquette-PintoEduardo RosalPas encore d'évaluation
- Antonio Ramos Rosa - A Legitimidade Das PalavrasDocument8 pagesAntonio Ramos Rosa - A Legitimidade Das PalavrasEduardo RosalPas encore d'évaluation
- 2740 9446 1 PBDocument11 pages2740 9446 1 PBgaetanoditriaPas encore d'évaluation
- Conheça A Reforma TrabalhistaDocument16 pagesConheça A Reforma TrabalhistaVander LoubetPas encore d'évaluation
- Tempo e Eternidade - A Poesia Religiosa de Jorge de Lima e de Murilo MendesDocument18 pagesTempo e Eternidade - A Poesia Religiosa de Jorge de Lima e de Murilo MendesEduardo RosalPas encore d'évaluation
- Mística Cristã e Poesia Nas Obras de Murilo MendesDocument122 pagesMística Cristã e Poesia Nas Obras de Murilo MendesEduardo RosalPas encore d'évaluation
- Herberto Helder, Alquimista Das Imagens - Revista CultDocument3 pagesHerberto Helder, Alquimista Das Imagens - Revista CultEduardo RosalPas encore d'évaluation
- Murilo Mendes Nos Jornais - Entre A Política e A ReligiãoDocument17 pagesMurilo Mendes Nos Jornais - Entre A Política e A ReligiãoEduardo RosalPas encore d'évaluation
- Euclides Da Cunha - Uma Poética Do Espaço BrasileiroDocument117 pagesEuclides Da Cunha - Uma Poética Do Espaço BrasileiroEduardo RosalPas encore d'évaluation
- Cenas Da Vida Amazônica, de José Veríssimo (1899)Document4 pagesCenas Da Vida Amazônica, de José Veríssimo (1899)fabiano maiaPas encore d'évaluation
- FLANAGENS - Giorgio MorandiDocument3 pagesFLANAGENS - Giorgio MorandiEduardo RosalPas encore d'évaluation
- Hilda Hilst - Escritora MalditaDocument17 pagesHilda Hilst - Escritora MalditaEduardo RosalPas encore d'évaluation
- 6 - Entrevista Com Judith Butler - Uma Analitica Do Poder (Cristiane Maria Marinho)Document12 pages6 - Entrevista Com Judith Butler - Uma Analitica Do Poder (Cristiane Maria Marinho)Investigação Filosófica100% (1)
- CULLER, Jonathan - Teoria Literária - Uma IntroduçãoDocument70 pagesCULLER, Jonathan - Teoria Literária - Uma IntroduçãoLarissa Goulart100% (10)
- Machado de Assis, Cem Anos de Uma Cartografia InacabadaDocument68 pagesMachado de Assis, Cem Anos de Uma Cartografia InacabadaEduardo RosalPas encore d'évaluation
- Haroldo de Campos e As Galáxias - Um Caso Concreto de BarrocoDocument21 pagesHaroldo de Campos e As Galáxias - Um Caso Concreto de BarrocoEduardo RosalPas encore d'évaluation
- O Tempo Das Catedrais A Arte e A Sociedade - 1Document2 pagesO Tempo Das Catedrais A Arte e A Sociedade - 1Eduardo RosalPas encore d'évaluation
- Eduardo Subirats Por Silvia CárcamoDocument10 pagesEduardo Subirats Por Silvia CárcamoEduardo RosalPas encore d'évaluation
- Euclides Da Cunha - Uma Poética Do Espaço BrasileiroDocument117 pagesEuclides Da Cunha - Uma Poética Do Espaço BrasileiroEduardo RosalPas encore d'évaluation
- BARBOSA, João Alexandre. Borges, Leitor Do Quixote.Document4 pagesBARBOSA, João Alexandre. Borges, Leitor Do Quixote.Eduardo RosalPas encore d'évaluation
- Desenvolvimento Da Fenomenologia Nos Países BaixosDocument10 pagesDesenvolvimento Da Fenomenologia Nos Países BaixosEduardo RosalPas encore d'évaluation
- Entre Abismo e SolDocument4 pagesEntre Abismo e SolEduardo RosalPas encore d'évaluation
- Murilo Mendes Janelas para o Caos Ciencia e PoesiaDocument8 pagesMurilo Mendes Janelas para o Caos Ciencia e PoesiaEduardo RosalPas encore d'évaluation
- Viveiros de Castro - Transformação Na Antropologia Transformação Da AntropologiaDocument21 pagesViveiros de Castro - Transformação Na Antropologia Transformação Da AntropologiaDanilo RodriguesPas encore d'évaluation
- Crítica Da Razão Dialética de Jean Paul SartreDocument13 pagesCrítica Da Razão Dialética de Jean Paul SartreLilianeUFGPas encore d'évaluation
- Planilha Consolidacao Cultura e SociedadeDocument1 pagePlanilha Consolidacao Cultura e SociedadeEduardo RosalPas encore d'évaluation
- Emil Cioran Nos Cumes Do DesesperoDocument53 pagesEmil Cioran Nos Cumes Do DesesperoKauam RusticiPas encore d'évaluation
- SARTRE, Jean-Paul - Crítica Da Razão Dialética (Espanhol)Document535 pagesSARTRE, Jean-Paul - Crítica Da Razão Dialética (Espanhol)Eduardo RosalPas encore d'évaluation
- A Questão Da Liberdade em Nietzsche PDFDocument2 pagesA Questão Da Liberdade em Nietzsche PDFEduardo RosalPas encore d'évaluation
- Entrevistas PreliminaresDocument10 pagesEntrevistas PreliminaresBornay Bornay100% (2)
- Carta Argumentativa Professor.Document4 pagesCarta Argumentativa Professor.correia marxPas encore d'évaluation
- Ap1 SociologiaDocument5 pagesAp1 SociologiaAndreia GarciaPas encore d'évaluation
- HC Salem Jorge CuryDocument40 pagesHC Salem Jorge CuryIuri OliveiraPas encore d'évaluation
- O Pensamento Das Mulheres Negras e A Lesbianidade Negra em Contexto LusófonoDocument9 pagesO Pensamento Das Mulheres Negras e A Lesbianidade Negra em Contexto LusófonoAugusta SilveiraPas encore d'évaluation
- Instrumento Particular de Cessão de Ponto Comercial e EstabelecimentoDocument3 pagesInstrumento Particular de Cessão de Ponto Comercial e EstabelecimentoWelligton EltinPas encore d'évaluation
- CICCO Claudio de Teoria Geral Do Estado e Ciencia Politica 7 Ed 2016 Páginas 53 58Document6 pagesCICCO Claudio de Teoria Geral Do Estado e Ciencia Politica 7 Ed 2016 Páginas 53 58Jeyse RebecaPas encore d'évaluation
- Salmo 45 Igreja Batista em Jardim YedaDocument5 pagesSalmo 45 Igreja Batista em Jardim YedaJoão Rodrigo SeemamPas encore d'évaluation
- Wicca e ProsperidadeDocument11 pagesWicca e ProsperidadeAlvaro CamposPas encore d'évaluation
- Contrato Victor e AmeliaDocument4 pagesContrato Victor e AmeliacrepaldiiPas encore d'évaluation
- Hutcheon - Teoria e Política Da IroniaDocument8 pagesHutcheon - Teoria e Política Da IroniaLuhren100% (1)
- O Perito Judicial No Processo Civil: Uma Evolução HistóricaDocument10 pagesO Perito Judicial No Processo Civil: Uma Evolução HistóricaEdilson AguiaisPas encore d'évaluation
- Wunsch 16Document99 pagesWunsch 16AmandaPas encore d'évaluation
- Aula 06Document19 pagesAula 06EDISONPas encore d'évaluation
- SimplicidadeDocument7 pagesSimplicidadePaulo DiasPas encore d'évaluation
- Histo - Direito.portugues Sebenta 2Document30 pagesHisto - Direito.portugues Sebenta 2xanoca1392% (12)
- Ofício Popular de Nossa Senhora Do CarmoDocument5 pagesOfício Popular de Nossa Senhora Do CarmoBreno Andson100% (2)
- Análise de Estrutura de DRUCKERDocument2 pagesAnálise de Estrutura de DRUCKERRosana Corrêa67% (3)
- Legenda DexterDocument72 pagesLegenda DexterDaniela EstareguePas encore d'évaluation
- Código de Ética Dos Técnicos em Segurança Do TrabalhoDocument9 pagesCódigo de Ética Dos Técnicos em Segurança Do TrabalhoSérgio CardosoPas encore d'évaluation
- Resol 428 CJF Materiais ApreendidosDocument2 pagesResol 428 CJF Materiais ApreendidosgizelePas encore d'évaluation
- O Livro Dos Espíritos para Infância e Juventude Vol II Allan KardecDocument28 pagesO Livro Dos Espíritos para Infância e Juventude Vol II Allan Kardecsimonenambu100% (2)
- Desvendando TeatroDocument29 pagesDesvendando TeatroArtur Ximenes LowPas encore d'évaluation
- Justiça Xangô e o Proposito Da Vida PDFDocument11 pagesJustiça Xangô e o Proposito Da Vida PDFJurandyr Joaquim Dias FilhoPas encore d'évaluation
- Thelema e RosacrucianismoDocument9 pagesThelema e RosacrucianismoRogerioGiusto100% (1)
- Prova Processo Seletivo Conselho Tutelar Fronteira 2020 2024Document6 pagesProva Processo Seletivo Conselho Tutelar Fronteira 2020 2024Francisco MessiasPas encore d'évaluation
- Parto OrgásmicoDocument3 pagesParto OrgásmicoBarbosinha45Pas encore d'évaluation
- Livro Defendei Nos Do InimigoDocument18 pagesLivro Defendei Nos Do InimigoSamuel Oliveiro100% (2)
- Trabalho Jaciany ADocument16 pagesTrabalho Jaciany AThais OliveiraPas encore d'évaluation
- Atividade DIPU 4Document2 pagesAtividade DIPU 4JOSENEIDE PEREIRA FARIAS GUIRRAPas encore d'évaluation