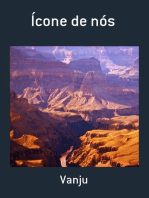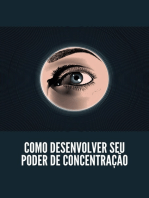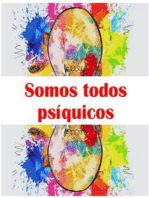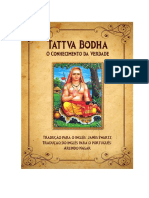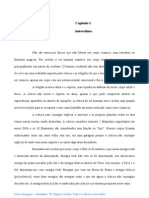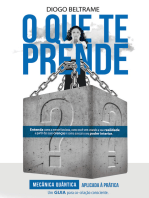Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Lógica Ou Os Primeiros Desenvolvimentos Da Arte de Pensar
Transféré par
lucianodicastro5631Description originale:
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Lógica Ou Os Primeiros Desenvolvimentos Da Arte de Pensar
Transféré par
lucianodicastro5631Droits d'auteur :
Formats disponibles
Lgica ou os primeiros desenvolvimentos da arte de pensar
Condillac
Objeto desta obra
Era natural aos homens suprir a fraqueza de seus braos pelos meios que a natureza
havia colocado a seu alcance; e eles foram mecnicos antes de procurarem s-lo. Da
mesma forma, eles foram lgicos: pensaram antes de investigar como se pensa. Foi at
necessrio que passassem sculos para suspeitarem que o pensamento possa estar
sujeito a leis; e hoje a grande maioria ainda pensa sem suspeitar disso.
No entanto, um instinto feliz, que se denominava talento, isto , uma maneira mais
segura de ver e de sentir, guiava os melhores espritos sem seu conhecimento. Seus
escritos tornavam-se modelos; e procuraram-se nestes escritos quais os artifcios,
ignorados pelos prprios escritores, que produziam o prazer e a luz. Quanto mais
surpreendiam, mais se imaginava que eles possuam meios extraordinrios; e
procuraram-se estes meios extraordinrios quando se deveriam procurar apenas os
simples. Portanto, bem cedo se acreditou que os homens de gnio haviam sido
descobertos. Mas eles no se descobrem facilmente: seu segredo mantinha-se oculto,
pois nem mesmo eles tinham o poder de revel-lo.
Procuraram-se, portanto, as leis da arte de pensar onde elas no estavam; e neste
ponto, aparentemente, que ns comearamos nossa busca. Mas, procurando-as onde
elas no estavam, vimos onde esto; e poderemos nos vangloriar de encontr-las, se
soubermos observar melhor.
Ora, como a arte de mover grandes massas tem suas leis nas faculdades do corpo e nas
alavancas que nossos braos aprenderam a utilizar a arte de pensar tem as suas leis nas
faculdades da alma e nas alavancas que nosso esprito igualmente aprendeu a utilizar.
preciso, ento, observar estas faculdades e estas alavancas.
Certamente um homem no imaginaria estabelecer definies, axiomas, princpios, se
quisesse, pela primeira vez, fazer algum uso das faculdades de seu corpo. No
possvel. obrigado a comear servindo-se de seus braos e lhe natural servir-se
deles. Do mesmo modo que lhe natural auxiliar-se de tudo aquilo que lhe for til para
alcanar este fim e, logo, transforma um basto em uma alavanca. O uso aumenta suas
foras: a experincia, que lhe mostrou o seu mau uso e, consequentemente, a maneira
correta de proceder, desenvolve pouco a pouco todas as faculdades do corpo e ele
aprende.
E assim que a natureza nos obriga a comear, quando, pela primeira vez, fazemos algum
uso das faculdades de nosso esprito. E ela e s ela que as regula, da mesma maneira
que regulou as faculdades do corpo. Se, a seguir, ns somos capazes de conduzi-las,
apenas porque continuamos como a natureza nos obrigou a comear. Devemos nossos
progressos a suas primeiras lies. No comearemos ento esta Lgica por definies,
axiomas, princpios: comearemos por observar as lies que a natureza nos d.
Na primeira parte, veremos que a anlise um mtodo que aprendemos da prpria
natureza; e explicaremos, segundo este mtodo, a origem e a gerao, seja das ideias,
seja das faculdades da alma. Na segunda, consideraremos a anlise em seus meios e em
seus efeitos, e a arte de raciocinar ser reduzida a uma lngua bem feita.
Esta Lgica no se assemelha a nenhuma feita at hoje. Mas a nova maneira pela qual
ela tratada no deve ser sua nica vantagem; alm disso, preciso que seja a mais
simples, a mais fcil e a mais luminosa.
PRIMEIRA PARTE
COMO A PRPRIA NATUREZA NOS ENSINA A ANALISE; E DE QUE
MANEIRA, DE ACORDO COM ESTE MTODO, EXPLICAM-SE A ORIGEM
E A GERAO, SEJA DAS IDEIAS, SEJA DAS FACULDADES DA ALMA.
CAPTULO I
Como a natureza nos d as primeiras lies da arte de pensar
A FACULDADE DE SENTIR A PRIMEIRA DAS FACULDADES DA ALMA.
Nossos sentidos so as primeiras faculdades que notamos. E somente atravs deles que
as impresses dos objetos chegam at a alma. Se fssemos privados da viso, no
conheceramos nem a luz, nem as cores; se fssemos privados da audio, no teramos
conhecimento algum dos sons: numa palavra, se tivssemos sentido algum, no
conheceramos nenhum dos objetos da natureza.
Mas, para conhecer estes objetos, basta possuir os sentidos? No, seguramente: pois os
mesmos sentidos so comuns a todos, e, no entanto, no possumos todos os mesmos
conhecimentos. Esta desigualdade s pode provir das diferentes maneiras pelas quais
utilizamos os sentidos que nos foram dados. Se eu no aprender a regul-las, adquirirei
menos conhecimentos que outro, pelo mesmo motivo que s se dana bem se se aprende
a acertar os passos. Tudo se aprende e existe uma arte para conduzir as faculdades do
esprito, como existe uma para conduzir as faculdades do corpo. Mas s se aprende a
conduzir estas porque as conhecemos: preciso ento conhecer aquelas para aprender a
conduzi-las.
Os sentidos so apenas a causa ocasional das impresses que os objetos exercem sobre
ns. E a alma que sente; somente a ela as sensaes pertencem; e sentir a primeira
faculdade que notamos nela. Esta faculdade se distingue em cinco espcies, porque
temos cinco espcies de sensaes. A alma sente pela viso, pela audio, pelo olfato,
pelo paladar e principalmente pelo tato.
NS SABEREMOS REGUL-LA, QUANDO SOUBERMOS REGULAR
NOSSOS SENTIDOS.
J que a alma sente apenas pelos rgos do corpo, evidente que aprenderemos a
conduzir regradamente a faculdade de sentir de nossa alma, se aprendermos a conduzir
regradamente nossos rgos sobre os objetos que queremos estudar.
SABEREMOS REGULAR NOSSOS RGOS QUANDO TIVERMOS
PERCEBIDO DE QUE MANEIRA ALGUMAS VEZES OS CONDUZIMOS
BEM.
Mas como aprender a conduzir bem nossos sentidos? Procedendo da mesma forma que
procedemos quando os conduzimos bem. No h ningum que, pelo menos algumas
vezes, no tenha conduzido bem seus sentidos. E uma coisa sobre a qual as
necessidades e a experincia nos instruem prontamente: as crianas so a prova disso.
Elas adquirem conhecimentos sem nossa ajuda; e os adquirem apesar dos obstculos
que colocamos ao desenvolvimento de suas faculdades. Elas tm, portanto, uma arte
para adquiri-los. E verdade que seguem as regras sem conhec-las, mas as seguem.
Ento, preciso apenas fazer-lhes notar aquilo que fazem algumas vezes, para ensin-
las a faz-lo sempre; e descobriremos que apenas lhes ensinamos aquilo que j sabiam.
Como comearam sozinhas a desenvolver suas faculdades, sentiro que podem
desenvolv-las, se fizerem, para aperfeioar este desenvolvimento, o que fizeram para
come-lo. Elas sentiro cada vez mais que, tendo comeado, antes de nada haver
aprendido, comearam bem, porque a natureza que comeava por elas.
A NATUREZA, ISTO , SO NOSSAS FACULDADES DETERMINADAS
POR NOSSAS NECESSIDADES QUE COMEAM A NOS INSTRUIR.
As necessidades e as faculdades so especificamente o que denominamos a natureza de
cada animal e, por este meio, no queremos dizer outra coisa seno que um animal
nasceu com tais necessidades e tais faculdades. Porque estas necessidades e estas
faculdades dependem da organizao e variam como ela, uma consequncia que, pela
natureza, compreendemos a conformao dos rgos: e, com efeito, eis o que ela em
seu princpio.
Os animais que voam, os que habitam a terra, os que vivem nas guas so espcies que,
tendo conformaes diferentes, possuem cada um necessidades e faculdades que so
prprias deles, ou, o que o mesmo, cada um possui sua natureza.
E esta natureza que comea. Comea sempre bem, porque comea s. A Inteligncia
que a criou assim quis; forneceu-lhe tudo para comear bem. Se assim no fosse, cada
animal deveria zelar desde o nascimento pela sua sobrevivncia, mas, como as lies da
natureza so to rpidas quanto seguras, ele no tem necessidade deste aprendizado.
COMO UMA CRIANA ADQUIRE CONHECIMENTOS.
Uma criana aprende apenas porque sente a necessidade de se instruir. Ela tem, por
exemplo, interesse em conhecer sua ama de leite, e a conhece desde cedo; diferencia-a
entre vrias pessoas; no a confunde com nenhuma; e conhecer apenas isto. Com
efeito, adquirimos conhecimentos apenas na medida em que diferenciamos uma grande
quantidade de coisas e notamos melhor as qualidades que as distinguem: nossos
conhecimentos comeam pelo primeiro objeto que aprendemos a diferenciar.
Os conhecimentos que uma criana tem de sua ama de leite ou de qualquer outra coisa
so para ela apenas qualidades sensveis. Por tanto, adquiriu-os apenas pelo modo como
conduziu seus sentidos. Uma necessidade premente pode conduzi-la a um juzo falso,
porque a fez julgar precipitadamente, mas o erro somente momentneo. Enganada em
sua expectativa, sente logo a necessidade de julgar uma segunda vez e julga melhor: a
experincia, que zela por ela, corrige seus equvocos. Cr ver sua ama de leite, quando
ela percebe a distncia uma pessoa que se lhe assemelhe? Seu erro no dura muito. Se o
primeiro golpe de vista falhou, o segundo corrige e ela continua procurando com os
olhos.
COMO A NATUREZA A ADVERTE DE SEUS EQUVOCOS.
Assim, os prprios sentidos destroem frequentemente os erros nos quais nos fizeram
cair: porque, se uma primeira observao no corresponde necessidade pela qual a
fizemos, somos advertidos por isso que observamos mal e sentimos a necessidade de
observar novamente. Estas advertncias no falham nunca, quando as coisas sobre as
quais nos enganamos nos so absolutamente necessrias: um juzo falso nos dar prazer
e, em seguida, dor; um juzo verdadeiro sempre nos dar prazer e, em seguida, alegria.
O prazer e a dor, eis ento nossos primeiros mestres: eles nos esclarecem, porque nos
advertem se julgamos bem ou se julgamos mal: e por este motivo que, na infncia,
fazemos sem nenhuma ajuda progressos que nos parecem to rpidos quanto
surpreendentes.
POR QUE A NATUREZA CESSA DE ADVERTIR A CRIANA.
Uma arte de raciocinar nos seria totalmente intil, se nos fosse necessrio sempre julgar
apenas coisas que se relacionam com as necessidades mais prementes. Raciocinaramos
naturalmente bem, porque acertaramos nossos juzos sobre as advertncias da natureza.
Mas basta comearmos a sair da infncia para que produzamos j uma infinidade de
juzos sobre os quais a natureza no nos adverte mais. Pelo contrrio, parece que o
prazer acompanha tanto os juzos falsos como os juzos verdadeiros e enganamo-nos
inadvertidamente: porque, nessas ocasies, a curiosidade nossa nica necessidade; e a
curiosidade ignorante se contenta com tudo. Ela desfruta seus erros com uma espcie de
prazer; agarra-se a eles frequentemente com obstinao, tomando uma palavra que no
significa nada por uma resposta, e no sendo capaz de reconhecer que esta resposta
apenas uma palavra. Ento nossos erros se tornam durveis. Se, como muito comum,
julgamos coisas que no esto ao nosso alcance, a experincia no nos saberia corrigir;
e, se julgamos outras com precipitao, ela no nos corrigiria tambm, porque nossa
preveno no nos deixa consulta-la.
Portanto, os erros comeam quando a natureza cessa de nos advertir de nossos
equvocos; isto , julgando coisas que tm pouca relao com necessidades mais
prementes, no sabemos provar nossos juzos para reconhecer se so falsos ou
verdadeiros.
NICO MEIO DE ADQUIRIR CONHECIMENTOS.
Desde que haja coisas que julgamos bem a partir da infncia, temos que observar como
fomos conduzidos para julgar e saberemos como devemos nos conduzir para julgar
outras. Bastar continuar como a natureza nos obrigou a comear, isto , observando e
colocando nossos juzos ao exame da observao e da experincia.
o que todos fizemos em nossa primeira infncia, e, se pudssemos nos lembrar dessa
idade, nossos primeiros estudos nos colocariam no caminho para fazer outros mais
produtivos. Ento, cada um de ns faria descobertas que deveria apenas s suas
observaes e sua experincia; e as faramos ainda hoje, se soubssemos seguir o
caminho que a natureza nos abriu.
No se trata ento de imaginar para ns um sistema para saber como devemos adquirir
nossos conhecimentos: precavenhamo-nos bem disso. A prpria natureza constituiu esse
sistema. S ela poderia faz-lo e o fez muito bem. Basta observar o que ela nos ensina.
Parece que, para estudar a natureza, seria preciso observar nas crianas os primeiros
desenvolvimentos de nossas faculdades, ou lembrar o que nos aconteceu. Tanto uma
coisa como a outra so difceis. Estaramos frequentemente reduzidos necessidade de
fazer suposies. Mas suposies teriam o inconveniente de parecer algumas vezes
gratuitas, e outras vezes de exigir que nos colocssemos em situaes nas quais nem
todos saberiam se colocar. Basta haver notado que as crianas adquirem verdadeiros
conhecimentos somente porque, observando apenas coisas relativas s necessidades
mais prementes, no se enganam, ou, se se enganam, so logo advertidas de seus
equvocos. Limitemo-nos a investigar como hoje nos conduzimos quando adquirimos
conhecimentos. Se pudermos nos assegurar de alguns e da maneira pela qual os
adquirimos, saberemos como podemos adquirir outros.
CAPTULO II
Como a anlise o nico mtodo para adquirir conhecimento; de que maneira a
aprendemos pela prpria natureza.
UM PRIMEIRO GOLPE DE VISTA NO FORNECE UMA IDEIA DAS
COISAS QUE VEMOS.
Imagino um castelo que domina uma vasta e abundante plancie, na qual a natureza se
deleitou em propagar a variedade e na qual a arte soube aproveitar situaes para
multiplic-las e embelez-las. Atingimos esse castelo durante a noite. No dia seguinte,
as janelas abrem-se no momento em que o sol comea a dourar o horizonte, e se fecham
em seguida.
Apesar de esta plancie ter-nos sido mostrada apenas durante um instante, certo que
vimos tudo o que ela abrange. Num segundo instante, receberamos as mesmas
impresses que os objetos causaram sobre ns. Aconteceria da mesma maneira num
terceiro. Consequentemente, se no tivssemos fechado as janelas, no continuaramos a
ver o que havamos visto antes.
Mas este primeiro instante no basta para conhecermos esta plancie, ou seja,
distinguirmos os objetos que ela abrange: porque, quando as janelas se fecharam,
nenhum de ns pde se dar conta do que viu. Eis como se podem ver muitas coisas e
no aprender nada.
PARA SE FORMAR IDEIA DAS COISAS, PRECISO OBSERVAR UMA
APS A OUTRA.
Afinal, as janelas se reabrem para no mais se fecharem enquanto o sol permanecer
sobre o horizonte e veremos por muito tempo tudo o que havamos visto antes. Mas se,
como homens em xtase, continuarmos, como no primeiro instante, a ver, de uma vez,
esta infinidade de objetos diferentes, saberemos quando a noite chegar apenas o que
sabamos quando as janelas se abriam e se fechavam imediatamente.
Para que se tenha o conhecimento desta plancie, no basta portanto v-la de uma vez;
preciso ver cada parte uma aps a outra; e, ao invs de abranger tudo de um golpe de
vista, preciso deter nossos olhares sucessivamente de um objeto para outro. Eis o que
a natureza nos ensina. Se ela nos deu a faculdade de ver uma infinidade de coisas de
uma s vez, deu-nos tambm a faculdade de olhar apenas uma, isto , de dirigir nossos
olhares sobre uma s; graas a esta faculdade, que uma consequncia de nossa
organizao, devemos todos os conhecimentos que adquirimos pela viso.
Esta faculdade comum a todos. No entanto, se quisermos em seguida falar desta
plancie, observar-se- que no a conhecemos todos da mesma maneira. Alguns faro
quadros mais ou menos verdadeiros, onde se encontraro muitas coisas como elas so
realmente; enquanto que outros, misturando tudo, faro quadros onde no ser possvel
reconhecer nada. Todavia, cada um de ns viu os mesmos objetos; mas os olhares de
uns foram conduzidos ao acaso e os de outros se dirigiam com certa ordem.
E, PARA CONCEBER AS COISAS TAIS COMO SO, PRECISO QUE A
ORDEM SUCESSIVA EM QUE AS OBSERVAMOS RENA-AS NA ORDEM
SIMULTNEA ENTRE ELAS.
Ora, qual esta ordem? A prpria natureza a indica; aquela na qual ela oferece os
objetos. H aqueles que atraem mais particularmente os olhares; so mais
impressionantes, dominam e todos os outros parecem ajustar-se em torno deles e para
eles. Estes so os observados imediatamente, e quando se notou sua situao respectiva,
os outros se colocam nos intervalos, cada um no seu lugar.
Comea-se ento pelos objetos principais: observa-se sucessivamente e compara-se, a
fim de julgar as relaes onde esto. Quando, por este meio, se tem sua situao
respectiva, observam-se sucessivamente todos os que preenchem os intervalos,
compara-se cada um com o objeto principal mais prximo e determina-se sua posio.
Ento, diferenciam-se todos os objetos de que aprendemos a forma e a situao e eles
so abrangidos por um nico olhar. A ordem que existe entre eles em nosso esprito no
mais sucessiva, simultnea. E aquela na qual eles existem e os vemos todos ao
mesmo tempo, de uma maneira distinta.
POR ESTE MEIO, O ESPIRITO PODE ABRANGER UMA GRANDE
QUANTIDADE DE IDEIAS.
Eis os conhecimentos que devemos unicamente arte pela qual dirigimos nossos
olhares. Ns apenas os adquirimos um aps o outro: mas, uma vez adquiridos, esto
todos ao mesmo tempo presentes em nosso esprito, como os objetos que eles nos
descrevem esto sempre presentes ao olho que os v.
D-se, portanto, com o esprito o mesmo que com o olho: ele v ao mesmo tempo uma
infinidade de coisas e no preciso se surpreender, desde que alma que pertencem
todas as sensaes da viso.
Esta viso do esprito se estende como a viso do corpo: se se estiver bem organizado,
preciso tanto a um como a outro apenas o exerccio e no se saberia, de qualquer modo,
circunscrever o espao que eles abrangem. Com efeito, um esprito exercitado v, num
tema no qual medita, uma infinidade de relaes que no percebemos; como os olhos
exercitados de um grande pintor distinguem num instante, numa paisagem, uma
infinidade de coisas que vemos com ele e que todavia nos escapam.
Podemos, transportando-nos de castelo a castelo, estudar novas plancies, e no-las
descrever como a primeira. Ento nos acontecer, ou dar preferncia a uma, ou acreditar
que cada uma tem seu estilo. Mas s julgamos porque comparamos: s as comparamos
porque no-las descrevemos todas ao mesmo tempo. O esprito v, portanto, mais do que
o olho pode ver.
PORQUE, OBSERVANDO DESTA MANEIRA, O ESPIRITO DECOMPE AS
COISAS PARA RECOMP-LAS, FAZ IDEIAS EXATAS E DISTINTAS
DELAS.
Se agora refletirmos sobre a maneira pela qual adquirimos conhecimentos pela viso,
notaremos que um objeto to complexo, como uma vasta plancie, se decompe de
alguma maneira. S conhecemos um objeto quando suas partes vm, uma aps a outra,
se dispor ordenadamente no esprito.
Vemos a ordem pela qual se processa esta decomposio. Os principais objetos vm
imediatamente se colocar no esprito; os outros vm em seguida e se dispem segundo
as relaes com os primeiros. Esta decomposio necessria porque um instante
apenas no basta para estudar todos estes objetos. Mas decompomos apenas para
recompor; e, quando os conhecimentos esto adquiridos, as coisas, ao invs de serem
sucessivas como no aprendizado, tem no esprito a mesma ordem simultnea que
possuem fora dele. nesta ordem simultnea que consiste o conhecimento que
possumos das coisas. Se no pudssemos descrev-las juntas, no poderamos jamais
julgar as relaes que mantm entre si e as conheceramos mal.
ESTA DECOMPOSIO E RECOMPOSIO O QUE SE DENOMINA
ANLISE.
Analisar no portanto outra coisa seno observar numa ordem sucessiva as qualidades
de um objeto, a fim de lhes oferecer, no esprito, a mesma ordem simultnea na qual
elas existem. o que a natureza nos obriga a todos. A anlise, que se acredita ser
conhecida por filsofos, portanto conhecida por todos, e eu no ensinei nada ao leitor;
eu o fiz somente observar o que ele processa continuamente.
A ANLISE DO PENSAMENTO SE FAZ DA MESMA MANEIRA QUE A
ANUSE DOS OBJETOS SENSVEIS.
Ainda que, por um golpe de vista, eu distinga uma infinidade de objetos numa plancie
que pesquisei, a viso s mais distinta quando ela prpria se circunscreve e quando
olhamos apenas um pequeno nmero de objetos ao mesmo tempo: discernimos sempre
menos do que vemos.
O mesmo acontece com a viso do esprito. Eu tenho ao mesmo tempo presente um
grande nmero de conhecimentos que se me tornaram familiares: eu os vejo todos, mas
no os distingo do mesmo modo. Para ver de uma maneira distinta tudo o que se oferece
ao mesmo tempo ao meu esprito, preciso que eu decomponha como decompus o que
se oferecia a meus olhos, preciso que analise meu pensamento.
Esta anlise de meu pensamento no se faz de modo diferente da anlise dos objetos
exteriores. Decompe-se da mesma maneira: descrevem-se as partes de seu pensamento
numa ordem sucessiva, para restabelec-las numa ordem simultnea. Faz-se essa
composio e essa decomposio de acordo com as relaes que existem entre as coisas,
como principais e como subordinadas. No se analisaria o pensamento se o esprito no
o abrangesse da mesma maneira integralmente, Tanto num caso como no outro,
preciso ter uma viso completa; de outra forma, no se poderia assegurar de ter visto
todas as partes uma aps a outra.
CAPTULO III
Como a anlise torna os espritos justos
AS SENSAOES, CONSIDERADAS COMO REPRESENTANTES DOS
OBJETOS SENSIVEIS, SO O QUE SE DENOMINA ESPECIFICAMENTE
IDEIAS.
Cada um de ns pode notar que s conhece os objetos sensveis pelas sensaes que
recebe deles: so as sensaes que no-los representam.
Se estivermos seguros que, na medida em que estiverem presentes, vemos os objetos
apenas atravs das sensaes que eles exercem sobre ns, no estaremos menos seguros
quando estiverem ausentes, vemo-los apenas na lembrana das sensaes que eles
causaram. Todos os conhecimentos que podemos ter dos objetos sensveis no so nem
podem ser, no princpio, seno sensaes.
As sensaes, consideradas como representando objetos sensveis, denominam-se
ideias, expresso figurada que no sentido prprio significa a mesma coisa que imagens.
Distinguimos tanto sensaes diferentes quanto distinguimos espcies de ideias, e estas
ideias ou so sensaes atuais ou so apenas uma lembrana das sensaes que
tivemos.
S A ANALISE FORNECE IDEIAS EXATAS OU CONHECIMENTOS
VERDADEIROS.
Quando adquirimos as sensaes pelo mtodo analtico, descoberto no captulo anterior,
elas se dispem ordenadamente no esprito. Conservam nele a ordem que lhes demos e
podemos facilmente descrev-las com a mesma nitidez atravs da qual as adquirimos.
Se, ao invs de adquiri-las por este mtodo, acumulamo-las ocasionalmente, elas se
apresentaro numa grande confuso e nela permanecero. Essa confuso no permitir
mais ao esprito lembrar-se delas de uma maneira distinta; e se quisermos falar de
conhecimentos que acreditamos ter adquirido, nada se entender em nossos discursos,
porque at ns no entenderemos nada. Para falar de uma maneira compreensvel,
preciso conceber e exprimir ideias numa ordem analtica que decompe e recompe
cada pensamento. Esta ordem a nica que consegue manter toda a clareza e toda a
preciso de que as ideias so suscetveis; e, assim como no temos outro meio de nos
instruir, no temos outro para comunicar nossos conhecimentos. Eu j o provei, mas
enfatizo, e enfatizarei ainda; pois esta verdade no bastante conhecida; ela at
combatida, embora simples, evidente e fundamental.
Com efeito, quando quiser conhecer uma mquina, eu a decomporei para estudar
separadamente cada parte. Quando tiver de cada uma uma ideia exata, e quando puder
recoloc-las na mesma ordem onde estavam, ento conceberei perfeitamente esta
mquina, porque a terei decomposto e recomposto.
O que ento conceber essa mquina? ter um pensamento que seja composto de
tantas ideias quantas partes houver nessa prpria mquina, que as representam cada uma
exatamente e que esto dispostas na mesma ordem.
Quando estudei essa mquina por este mtodo, que o nico, meu pensamento s me
ofereceu ideias distintas e ele se analisou a si prprio, seja porque eu queria justific-lo
para mim, seja porque eu queria justific-lo para os outros.
ESTE MTODO CONHECIDO POR TODOS.
Cada um pode se convencer desta verdade por sua prpria experincia; at as pequenas
costureiras esto convencidas: pois, se lhes dermos um vestido e lhes propusermos fazer
semelhante, elas imaginaro naturalmente desfazer e refazer esse modelo, para aprender
a fazer o vestido que solicitamos. Elas conhecem a anlise to bem quanto os filsofos e
conhecem a utilidade dela melhor do que aqueles que se obstinam em sustentar que
existe outro mtodo para se instruir.
Acreditemos com elas que nenhum outro mtodo pode substituir a anlise. Nenhum
outro pode difundir a mesma luz: teremos a prova todas as vezes que quisermos estudar
um objeto um tanto complexo. No imaginamos este mtodo. Somente o encontramos e
no devemos temer que nos engane. Ns poderamos, como os filsofos, inventar outro
e colocar uma ordem qualquer nas nossas ideias: mas essa ordem, que no teria sido a
da anlise, teria criado em nossos pensamentos a mesma confuso que criou em seus
escritos. Parece que, quanto mais ostentam a ordem, mais se embaraam, menos se
tornam compreensveis. No sabem que s a anlise pode nos instruir, verdade prtica
conhecida pelos artesos mais grosseiros.
PELA ANLISE QUE OS ESPRITOS SBIOS SE FORMARAM.
Existem espritos sbios que parecem nunca ter estudado, porque parecem nunca ter
pensado para instruir. Todavia, fizeram estudos e os fizeram cuidadosamente. Como
estudaram sem inteno premeditada, no pensaram em tomar lies com nenhum
mestre e tiveram o melhor de todos, a natureza. E ela que os fez processar a anlise das
coisas que estudaram, e o pouco que eles sabiam, sabiam-no bem. O instinto, guia to
seguro; o gosto, que julga to bem e que, todavia, julga s no momento em que sente; as
aptides, que so como o gosto, quando este produz aquilo de que o juiz; todas estas
faculdades so obra da natureza, que, fazendo-nos analisar sem saber, parece querer nos
esconder tudo aquilo que lhe devemos. E ela que inspira o homem de gnio, ela a
Musa que ele invoca, quando no sabe de onde provm seus pensamentos.
OS MAUS MTODOS FAZEM ESPRITOS FALSOS.
Existem espritos falsos que fizeram grandes estudos. Eles se vangloriam de possuir
bastante mtodo e s raciocinam mal porque o mtodo no o correto. Quanto mais
insistimos num mtodo falso, mais nos extraviamos. Tomamos por princpios noes
vagas, palavras vazias de sentido; constitumos um jargo cientfico, no qual
acreditamos ter a evidncia; e no entanto no sabemos, na verdade, nem o que vemos,
nem o que pensamos, nem o que dizemos. S seremos capazes de analisar nossos
pensamentos quando eles prprios forem obra de nossa anlise.
Mais uma vez pela anlise e s pela anlise devemo-nos instruir. E o caminho mais
simples, porque o mais natural, e veremos que o mais curto. E ele que fez todas as
descobertas, atravs dele que reencontramos tudo o que foi encontrado. O que se
denomina mtodo de inveno no mais do que a anlise.
CAPTULO IV
Como a natureza nos faz observar os objetos sensveis a fim de nos oferecer idias
de diferentes espcies
S SE PODE INSTRUIR CAMINHANDO DO CONHECIDO AO
DESCONHECIDO.
S podemos nos conduzir do conhecido ao desconhecido, eis um princpio comum da
teoria, quase ignorado na prtica. Parece-nos que ele s conhecido pelos homens qu
nunca estudaram. Quando eles querem nos fazer entender uma coisa que no
conhecemos, comparam com outra que conhecemos, e, se no so sempre felizes na
escolha das comparaes, deixam pelo menos ver que sabem aquilo que preciso fazer
para serem compreendidos.
O mesmo no acontece com os sbios. Ainda que eles queiram instruir, esquecem
facilmente de caminhar do conhecido ao desconhecido. No entanto, se quisermos fazer
algum conceber ideias que no possui, ser preciso nos ater s ideias que este algum
possui. a partir do que sei que comea tudo o que ignoro, tudo o que possvel
aprender, e, se houver um mtodo para me fornecer novos conhecimentos, ele s pode
ser o mtodo que j me outorguei.
Com efeito, todos os nossos conhecimentos provm dos sentidos, tanto aqueles que no
tenho quanto aqueles que j tenho. Aqueles que so mais sbios do que eu foram to
ignorantes quanto o sou hoje. Ora, se eles se instruram caminhando do conhecido ao
desconhecido, por que no me instruiria como eles? E se cada conhecimento que
adquirir me prepara para um conhecimento novo, por que no poderia ir, por uma
sequncia de anlises, de conhecimento em conhecimento? Numa palavra, por que no
encontraria aquilo que ignoro nas sensaes em que eles o encontraram e que nos so
comuns?
Sem dvida, eles me fariam descobrir facilmente tudo o que descobriram, se eles
prprios sempre soubessem como se instruam. Mas eles o ignoram, porque observaram
mal ou nem chegaram a pensar nisso. Certamente s se instruram quando fizeram
anlises. Mas no perceberam: a natureza fazia de alguma maneira por eles, sem eles.
Acreditavam que adquirir conhecimentos um dom, um talento que no se transmite
facilmente. No preciso nos surpreender se tivermos dificuldades em compreend-los:
desde que se promovam talentos privilegiados, negligencia-se coloc-los ao alcance dos
outros.
De qualquer maneira, todos so obrigados a reconhecer que s podemos caminhar do
conhecido ao desconhecido. Vejamos o uso que podemos tirar desta verdade.
QUALQUER PESSOA QUE ADQUIRIU CONHECIMENTOS PODE
CONTINUAR A FAZ-LO.
Ainda crianas, adquirimos conhecimentos por uma sequncia de observaes e
anlises. E, portanto, destes conhecimentos que devemos partir para continuar nossos
estudos. E preciso observ-los, analis-los e descobrir, se possvel, tudo o que eles
encerram.
Estes conhecimentos so uma coleo de ideias e esta coleo um sistema bem
organizado, isto , uma sequncia de ideias exatas, onde a anlise disps a ordem que
existe entre as prprias coisas. Se as ideias fossem pouco exatas e desordenadas, s
teramos conhecimentos imperfeitos que no seriam verdadeiros conhecimentos. Mas
no h ningum que no tenha algum sistema de ideias bem ordenadas; se no tiver
sobre matrias de especulao, ter, ao menos, sobre objetos de primeira necessidade.
Nada mais necessrio. E a estas ideias que preciso prender aqueles que quisermos
instruir e evidente que preciso fazer-lhes notar a origem e a gerao, se destas
quisermos conduzi-los a outras.
AS IDEIAS NASCEM SUCESSIVAMENTE UMAS DAS OUTRAS.
Ora, se observarmos a origem e a gerao das ideias, veremos nascer sucessivamente
uma das outras, e, se esta sucesso estiver de acordo com a maneira pela qual as
adquirimos, ento uma anlise bem feita. A ordem da anlise a prpria ordem da
gerao das ideias.
NOSSAS PRIMEIRAS IDEIAS SO IDEIAS INDIVIDUAIS.
Dizemos que as ideias de objetos sensveis so, em sua origem, apenas sensaes que
representam estes objetos. Mas na natureza existem apenas indivduos: portanto, nossas
primeiras ideias so s ideias individuais, ideias deste ou daquele objeto.
CLASSIFICANDO AS IDEIAS, FORMAM-SE GNEROS E ESPCIES.
No imaginamos nomes para cada indivduo, apenas distribumos os indivduos em
diferentes classes que distinguimos por nomes particulares: estas classes so o que se
denomina gneros e espcies. Colocamos, por exemplo; na classe rvore, as plantas cujo
tronco se eleva at certa altura, para se dividir numa infinidade de ramos e formar com
todos eles uma ramagem maior ou menor. Eis uma classe geral que se denomina gnero.
Quando, em seguida, se observou que as rvores diferem pela grandeza, pela estrutura,
pelos frutos, etc., distinguiram-se outras classes subordinadas primeira que abrange
todas: estas classes subordinadas so o que se denomina espcies.
assim que distribumos em classes diferentes todas as coisas que podem chegar ao
nosso conhecimento. Por este meio demos a cada uma um lugar marcado e sabemos
sempre onde retom-las. Esqueamos estas classes por um momento e imaginemos que,
se houvssemos dado a cada indivduo um nome diferente, sentiramos logo que a
quantidade de nomes teria fatigado nossa memria, criando grande confuso, e nos teria
sido impossvel estudar os objetos que se multiplicam sob nossos olhos e fazer deles
ideias distintas.
Nada mais razovel que esta distribuio. Quando consideramos quanto ela nos til
e necessrio, somos levados a acreditar que a fizemos de propsito. Mas nos
enganamos: este propsito pertence unicamente natureza, foi ela que comeou sem
sabermos.
AS IDEIAS INDIVIDUAIS TORNAM-SE IMEDIATAMENTE GERAIS.
Uma criana chamar rvore a primeira que lhe mostrarmos e este nome ser para ela o
de um indivduo. No entanto, se lhe mostrarmos outra rvore, ela no pensar em
perguntar o nome: ela a denominar rvore e atribuir este nome comum a dois
indivduos. Ela o atribuir da mesma maneira a trs, a quatro e, enfim, a todas as plantas
que lhe parecero ter alguma semelhana com as primeiras rvores que viu. Este nome
se tornar to geral, que ela denominar rvore tudo aquilo que denominamos planta.
Ela naturalmente levada a generalizar, porque lhe mais cmodo se utilizar de um
nome que sabe do que aprender um novo. Ela generaliza sem inteno de generalizar e
sem notar que generaliza. assim que uma ideia individual se torna imediatamente
geral: frequentemente ela se torna demasiado gerar, isto acontece todas as vezes que
confundimos coisas que teria sido til distinguir.
AS IDEIAS GERAIS SE SUBDIVIDEM EM DIFERENTES ESPCIES.
Esta criana sentir isso bem cedo. No dir: Eu generalizei demais, preciso que eu
distinga espcies diferentes de rvores: formar, sem inteno e sem notar, classes
subordinadas, como formou, sem inteno e sem notar uma classe geral. Apenas
obedecer s suas necessidades. Afirmo que ela far estas distribuies naturalmente e
sem saber. Com efeito, se for levada a um jardim e l colher e experimentar diferentes
espcies de frutos veremos que apreender logo os nomes da cerejeira, do pessegueiro,
da pereira, da macieira, e ela distinguir espcies diferentes de rvores.
Assim, nossas ideias comeam sendo individuais, para se tornarem subitamente to
gerais quanto possvel e s as distribuiremos em classes diferentes na medida em que
sentirmos a necessidade de distingui-Ias. Eis a ordem de sua gerao.
NOSSAS IDEIAS FORMAM UM SISTEMA CONFORME O SISTEMA DE
NOSSAS NECESSIDADES.
Desde que nossas necessidades so o motivo desta distribuio, para elas que esta
distribuio feita. As classes que se multiplicam, formam ento um sistema no qual
todas as partes se ligam naturalmente, porque todas as nossas necessidades funcionam
juntas e este sistema, mais ou menos extenso, est de acordo com o uso que queremos
fazer das coisas. A necessidade, que nos esclarece, nos d pouco a pouco o
discernimento que nos mostra num instante diferenas onde pouco antes no
percebamos. Se estendemos e aperfeioamos este sistema, porque continuamos como
a natureza nos obrigou a comear.
Os filsofos no imaginaram este sistema, encontram-no observando a natureza, e, se
tivessem melhor observado, teriam explicado muito melhor do que o fizeram. Mas
acreditaram que o sistema pertencesse a eles e o trataram como se assim fosse.
Acrescentaram o arbitrrio, o absurdo e cometeram um estranho abuso de ideias gerais.
Infelizmente, acreditvamos aprender com eles este sistema, quando j tnhamos
aprendido com um mestre melhor. Mas, porque a natureza no nos fazia notar aquilo
que nos ensinava, atribumos nosso conhecimento aos que se faziam passar por nossos
mestres. Ns confundamos, portanto, as lies dos filsofos com as lies da natureza e
raciocinvamos mal.
COM QUAL ARTIFICIO SE FORMA ESTE SISTEMA.
Depois de tudo o que dissemos, formar uma classe de certos objetos no mais do que
dar um mesmo nome a todos os que julgamos semelhantes, e, quando subdividimos esta
classe em duas ou mais, no fazemos outra coisa que escolher nomes novos, a fim de
distinguir objetos que julgamos diferentes. unicamente por este artifcio que
ordenamos nossas ideias: mas este artifcio no faz mais do que isso, preciso notar
bem que ele no pode ir alm disso. Com efeito, nos enganaramos grosseiramente se
imaginssemos que h na natureza espcies e gneros, s porque existem espcies e
gneros em nossa maneira de conceber. Os nomes gerais no so especificamente
nomes de coisa alguma existente; exprimem apenas as vises do esprito, quando
consideramos as coisas sob as relaes de semelhana ou diferena. No h rvores em
geral, macieira em geral, pereira em geral; h apenas indivduos. Portanto, no h na
natureza nem gneros nem espcies. Isto to simples, que nos parece intil fris-lo,
mas, frequentemente, as coisas mais simples escapam, precisamente porque so
simples: desdenhamos observ-las. Eis uma das principais causas de nossos raciocnios
falsos e de nossos erros.
O SISTEMA NO SE FAZ SEGUNDO A NATUREZA DAS COISAS.
No segundo a natureza das coisas que distinguimos classes, segundo nossa maneira
de conceber. No comeo, ficamos impressionados com as semelhanas e somos como
uma criana que toma todas as plantas por rvores. Em seguida, a necessidade de
observar desenvolve nosso discernimento e, porque ento notamos diferenas, criamos
novas classes.
Quanto mais nosso discernimento se aperfeioa, mais as classes podem se multiplicar, e,
porque no h dois indivduos que no difiram de alguma maneira, evidente que
haveria tantas classes quantos indivduos, se a cada diferena se quisesse criar uma
classe nova. Ento, no haveria mais ordem em nossas ideias, e a confuso sucederia
luz que se difundiu sobre elas quando generalizvamos metodicamente.
ATE QUE PONTO DEVEMOS DIVIDIR E SUBDIVIDIR NOSSAS IDEIAS.
H portanto um limite depois do qual preciso parar: pois, se importante fazer
distines, mais importante no faz-las em demasia. Quando no se pratica
excessivamente, se permanecem coisas que no se distinguem e que se deveriam
distinguir, h, pelo menos, o recurso de faz-lo. Quando se faz demasiado, tudo se
confunde, porque o esprito se extravia num grande nmero de distines de que no
sente necessidade. Perguntar-se-: at que ponto os gneros e as espcies podem se
multiplicar? Respondo, ou antes, a prpria natureza responde: at que tenhamos
bastantes classes para nos regular no uso das coisas relativas a nossas necessidades. A
verdade desta resposta evidente, pois so nossas necessidades que nos determinam a
distinguir classes, pois no imaginamos nomear coisas que no pretendemos utilizar.
Pelo menos, assim que os homens se conduzem naturalmente. verdade que, quando
eles se afastam da natureza para se tornarem maus filsofos, acreditam que custa de
distines, to sutis quanto inteis, explicaro tudo, porm acabam por se confundir.
POR QUE AS ESPCIES DEVEM SE CONFUNDIR.
Tudo diferenciado na natureza, mas nosso esprito demasiado limitado para v-la
detalhadamente. Em vo analisamos, sempre permanecem coisas que no podemos
analisar e que, por esta razo, vemos apenas de uma maneira confusa. A arte de
classificar, to necessria para se constiturem ideias exatas, esclarece apenas os pontos
principais: os intervalos permanecem na obscuridade e nestes intervalos as classes
intermedirias se confundem. Uma rvore, por exemplo, e um arbusto so duas espcies
bem distintas. Mas uma rvore pode ser menor, um absurdo pode ser maior, ou ser ao
mesmo tempo um e outro, isto , no se sabe mais a qual espcie relacion-la.
POR QUE ELAS SE CONFUNDEM SEM INCONVENIENTE.
Isto no inconveniente, pois perguntar se esta planta uma rvore ou um arbusto no
, realmente, perguntar o que ela , somente perguntar se devemos dar-lhe o nome de
rvore ou de arbusto. Ora, pouco importa dar-lhe tanto um quanto outro: se ela for til,
ns a utilizaremos e a chamaremos planta. No se cogitar nunca de semelhantes
questes, se no se supusesse que h, na natureza como em nosso esprito, gneros e
espcies. Eis o abuso que se faz das classes: seria preciso conhec-lo. Falta observar at
onde se estendem nossos conhecimentos, quando classificamos as coisas que
estudamos.
NS IGNORAMOS A ESSNCIA DOS CORPOS.
J que nossas sensaes so as nicas ideias que temos dos objetos sensveis, vemos
neles apenas o que elas representam: alm disso, no percebemos nada e,
consequentemente, no podemos nada conhecer.
No h, portanto, nenhuma resposta a dar queles que perguntam: Qual o sujeito das
qualidades do corpo? Qual a sua natureza? Qual a sua essncia? No vemos estes
sujeitos, estas naturezas, estas essncias: seria intil pretender mostr-las, seria o
mesmo que mostrar cores a cegos. So palavras das quais no temos nenhuma ideia,
significam apenas que h sob as qualidades algo que no conhecemos.
S TEMOS IDEIAS EXATAS NA MEDIDA EM QUE ESTAMOS SEGUROS
DAQUILO QUE OBSERVAMOS
A anlise s nos d ideias exatas na medida em que nos mostra nas coisas apenas o que
vemos. E preciso nos habituar a ver apenas o que vemos. Isto difcil para a maioria
dos homens, at mesmo para a maioria dos filsofos. Quanto mais se ignorante, mais
se impaciente para julgar; acredita-se saber tudo antes de ter observado e dir-se-ia que
o conhecimento da natureza uma espcie de adivinhao que se faz com palavras.
AS IDEIAS, PARA SEREM EXATAS, NO PODEM SER COMPLETAS.
As ideias exatas que se adquirem pela anlise nem sempre so ideias completas: no
podem nunca s-lo, quando tratamos de objetos sensveis.
Descobrimos apenas algumas qualidades e podemos possuir um conhecimento parcial.
TODOS OS NOSSOS ESTUDOS SE FAZEM COM O MESMO MTODO E
ESTE MTODO A ANLISE.
Estudaremos cada objeto da mesma maneira que estudamos aquela plancie que vamos
das janelas do castelo: pois h, em cada objeto, como naquela plancie, coisas principais
s quais todas as outras devem se relacionar. E nesta ordem que preciso apreend-las,
se se quiser ter ideias distintas e bem ordenadas. Por exemplo, todos os fenmenos da
natureza supem a extenso e o movimento. Todas as vezes que quisermos estudar
alguns, consideraremos a extenso e o movimento como as principais qualidades do
corpo.
Vimos como a anlise nos faz conhecer os objetos sensveis e como as ideias que ela
nos d so distintas e conformes ordem das coisas. E preciso se lembrar de que este
mtodo o nico e que ele deve ser o mesmo em todos os nossos estudos; pois estudar
cincias diferentes no mudar de mtodo, apenas aplicar o mesmo mtodo a objetos
diferentes, refazer o que j se fez; o grande problema faz-lo bem uma vez para
saber faz-lo sempre. Eis, realmente, onde estvamos quando comeamos. Desde nossa
infncia, adquirimos conhecimentos: temos seguido sem saber um bom mtodo. S nos
restaria perceber: o que fizemos e podemos doravante aplicar este mtodo a novos
objetos.
CAPTULO V
Sobre ideias que no passam pelos sentidos
COMO OS EFEITOS NAS FAZEM JULGAR A EXISTENCIA DE UMA CAUSA
DA QUAL NO NOS DO IDEIA ALGUMA.
Observando os objetos sensveis, elevamo-nos, naturalmente, a objetos que no passam
pelos sentidos, porque, segundo os efeitos que se veem, julgam-s causas que no se
veem.
O movimento de um corpo um efeito: existe, portanto, uma causa. Est fora de dvida
que esta causa existe, ainda que nenhum de meus sentidos ma faa aparecer. Eu a
denomino fora. Este nome no me faz conhec-la melhor; sei apenas o que sabia antes:
que o movimento tem uma causa que no conheo. Mas posso falar dela: eu a julgo
mais forte ou mais fraca, na medida em que o prprio movimento mais forte ou mais
fraco; e a meo, de alguma maneira, medindo o movimento.
O movimento se faz no espao e no tempo. Percebo o espao vendo os objetos sensveis
que o ocupam, percebo a durao na sucesso de minhas ideias ou de minhas sensaes:
mas no vejo absolutamente nada nem no espao nem no tempo. Os sentidos no
saberiam me desvendar o que as coisas so em si prprias, mostram-me apenas algumas
das relaes que existem entre elas e mim. Se medir o espao, o tempo, o movimento e
a fora que o produz, porque os resultados de minhas medidas so apenas relaes:
pois procurar relaes ou medir a mesma coisa.
Porque nomeamos coisas de que temos ideia, supe-se que temos ideia de todas aquelas
que nomeamos. Eis um erro contra o qual preciso se precaver.
Pode acontecer que um nome seja dado a uma coisa apenas porque estamos seguros de
sua existncia: a palavra fora a prova disso.
O movimento, que eu considerei como um efeito torna-se uma causa para meus olhos,
assim que observo que existe por toda a parte e que produz, ou concorre para produzir,
todos os fenmenos da natureza. Ento eu posso, a partir da observao das leis do
movimento, estudar o universo, como a partir de uma janela estudo a plancie: o mtodo
o mesmo.
Mas, ainda que no universo tudo seja sensvel, no vemos tudo; e, ainda que a arte
venha em socorro dos sentidos, eles continuam demasiado fracos. No entanto, se
observarmos bem, descobriremos fenmenos; vemo-los, como uma sequncia de causas
e de efeitos, constiturem diferentes sistemas e fazemos ideias exatas de algumas partes
do grande todo. desta maneira que os filsofos modernos fizeram descobertas que no
se teria julgado possveis alguns sculos antes, e que fazem presumir que se podem
fazer outras.
COMO OS FENMENOS NOS FAZEM JULGAR A EXISTENCIA DE UMA
CAUSA QUE NO PASSA PELOS SENTIDOS E COMO NOS DO UMA
IDEIA DISSO.
Mas, como julgamos que o movimento tem uma causa, porque ele um efeito,
julgaremos que o universo tem igualmente uma causa, porque ele prprio um efeito:
esta causa denominaremos Deus.
No acontece com esta palavra o mesmo que com fora, de que no temos nenhuma
ideia. Deus, realmente, no passa pelos sentidos, mas imprime seu carter nas coisas
sensveis; vemo-lo a e os sentidos nos elevam at ele.
Com efeito, quando noto que os fenmenos nascem uns dos outros, como uma
sequncia de efeitos e de causas, vejo necessariamente uma causa primeira; e na ideia
de causa primeira que comea a ideia que eu fao de Deus.
J que esta causa primeira, independente, necessria, ela sempre e abrange em sua
imensidade e em sua eternidade tudo o que existe.
Vejo a ordem no universo: observo sobretudo esta ordem nas partes que conheo
melhor. Se eu tenho inteligncia, s a adquiri na medida em que as ideias, em meu
esprito, estavam de acordo com a ordem das coisas fora de mim e minha inteligncia
apenas uma cpia, uma cpia bem fraca da inteligncia com a qual foram ordenadas as
coisas que concebo e as que no concebo. Portanto, a primeira causa inteligente: ela
ordenou tudo, por toda a parte e em todo tempo; e sua inteligncia, como sua
imensidade e sua eternidade, abrange todos os tempos e todos os lugares.
J que a primeira causa independente, ela pode o que quer, e, desde que inteligente,
quer com conhecimento, e consequentemente com escolha: ela livre.
Como inteligente, aprecia tudo; como livre, age consequentemente. Desta maneira,
segundo as ideias que fazemos de sua inteligncia e de sua liberdade, formamos uma
ideia de sua bondade, de sua justia, de sua misericrdia, numa palavra, de sua
providncia. Eis uma ideia imperfeita da Divindade. Ela s vem e s pode vir dos
sentidos: mas se desenvolver cada vez mais na medida em que aprofundarmos melhor
a ordem que Deus colocou em suas obras.
CAPTULO VI
Continuao do mesmo tema
AES E HBITOS.
O movimento, considerado como uma causa de algum efeito se denomina ao. Um
corpo se move, age sobre o ar que divide e sobre os corpos com os quais se choca: mas
isto no mais do que a ao de um corpo inanimado.
A ao de um corpo animado participa do mesmo modo do movimento. Capaz de
movimentos diferentes, segundo a diferena dos rgos de que foi dotado, possui
diferentes maneiras de agir. Cada espcie tem, em sua ao como em sua organizao,
algo que lhe prprio.
Todas estas aes passam pelos sentidos e basta observ-las para se fazer uma ideia
delas. No to difcil de notar como o corpo adquire ou perde hbitos: pois cada qual
sabe, por sua prpria experincia, que o que se repetiu frequentemente se fez sem haver
necessidade de pensar e que, pelo contrrio, no se faz mais com a mesma facilidade o
que se cessou de fazer algo muitas vezes seguidas; e, para perd-lo, basta no mais faz-
lo.
SEGUNDO AS AES DO CORPO, JULGAM-SE AS AES DA ALMA.
So as aes da alma que determinam as do corpo; e, segundo estas, que se veem,
julgam-se aquelas que no se veem. Basta ter notado o que se faz quando se deseja ou
quando se teme, para perceber nos movimentos dos outros seus desejos e seus temores.
E desta maneira que as aes do corpo representam as aes da alma e desvendam
algumas vezes at os pensamentos mais secretos. Esta linguagem a da natureza: a
primeira, a mais expressiva, a mais verdadeira. Veremos que segundo este modelo que
aprendemos a fazer lnguas.
IDEIA DA VIRTUDE E DO VCIO.
As ideias morais parecem escapar aos sentidos: escapam, pelo menos, aos daqueles
filsofos que negam que nossos conhecimentos provm das sensaes. Eles
perguntariam facilmente de que cor a virtude, de que cor o vcio. Eu respondo que a
virtude consiste no hbito de boas aes, como o vcio consiste no hbito das ms. Ora,
estes hbitos e estas aes so visveis.
IDEIA DA MORALIDADE DAS AES.
Mas a moralidade das aes uma coisa que passa pelos sentidos? Por que no
passaria? Esta moralidade consiste unicamente na conformidade de nossas aes com as
leis: ora, estas aes so visveis e as leis o so do mesmo modo, pois so convenes
que os homens fizeram.
Se as leis, dir-se-, so convenes, logo so arbitrrias. Pode haver leis arbitrrias, h
mesmo em demasia: mas as que determinam se nossas aes so boas ou ms no o so
nem podem s-lo. Elas so obra nossa, porque so convenes que fizemos; no entanto,
no as fizemos sozinhos; a natureza as fez conosco, no-las ditava e no estava em nosso
alcance fazer outras. Sendo dadas as necessidades e as faculdades do homem, as
prprias leis so dadas, e ainda que as fizssemos, Deus, que nos criou com tais
necessidades e tais faculdades, , realmente, nosso nico legislador. Seguindo estas leis
de acordo com nossa natureza, a ele que obedecemos. Eis o que aperfeioa a
moralidade das aes.
Se se acredita que nas aes do homem livre existe algumas vezes arbitrariedade, a
consequncia ser justa, mas, se julgarmos que h somente o arbitrrio, enganar-nos-
emos. Como independe de ns no ter as necessidades que so uma consequncia de
nossa conformao, independe de ns no sermos levados a fazer aquilo para que somos
determinados por estas necessidades; se no o fizermos, seremos punidos.
CAPTULO VII
Anlise das faculdades da alma
A ANLISE QUE NOS FAZ CONHECER NOSSO ESPRITO.
Vimos como a natureza nos ensina a fazer a anlise dos objetos sensveis e nos d, por
este caminho, ideias de todas as espcies. No podemos portanto duvidar que todos os
nossos conhecimentos provm dos sentidos.
Mas trata-se de estender a esfera de nossos conhecimentos. Ora, se para ampli-la temos
necessidade de saber conduzir nosso esprito, concebe-se que, para aprender a conduzi-
lo, preciso conhec-lo perfeitamente. Trata-se portanto de distinguir todas as
faculdades que esto envolvidas na faculdade de pensar. Para preencher este objeto e
outros ainda, quaisquer que possam ser, no teremos que procurar, como se fez at
agora, um novo mtodo para cada estudo novo: a anlise deve bastar para todos, se
soubermos empreg-la.
ENCONTRAM-SE NA FACULDADE DE SENTIR TODAS AS FACULDADES
DA ALMA.
S a alma conhece, porque s a alma sente; e prprio dela analisar tudo o que lhe
mostrado pela- sensao. No entanto, como ela aprender a se conduzir, se no conhece
a si prpria, se ignora suas faculdades? preciso, como vimos, que ela se estude
preciso que descubramos todas as faculdades de que capaz. Mas onde as
descobriremos a no ser na faculdade de sentir? Certamente esta faculdade envolve
todas aquelas que podem chegar ao nosso conhecimento. Se conhecemos os objetos que
esto fora da alma somente porque ela sente, como conheceramos o que se passa dentro
dela seno porque ela sente? Tudo nos convida ento a proceder anlise da faculdade
de sentir. Tentemos.
Uma reflexo tornar esta anlise bem simples: para decompor a faculdade de sentir,
basta observar sucessivamente tudo o que acontece quando adquirimos um
conhecimento qualquer. Digo um conhecimento qualquer, porque o que acontece, para
adquirir vrios, no pode ser seno uma repetio do que acontece para adquirir um s.
A ATENO.
Quando uma plancie se oferece minha viso, vejo tudo com um primeiro golpe de
vista e no distingo nada ainda. Para distinguir objetos diferentes e fazer uma ideia
distinta de sua forma e de sua situao, preciso que eu detenha meu olhar sobre cada
um deles: o que j observamos anteriormente. Porm, quando olho para um, os outros,
ainda que os veja, esto todavia em relao a mim como se no os visse mais, e, entre
tantas sensaes que se do ao mesmo tempo, parece que experimento apenas uma, a do
objeto sobre o qual eu fixo meu olhar.
Este olhar uma ao pela qual meu olho tende ao objeto sobre o qual se dirige: por
esta razo, dou-lhe o nome de ateno; e evidente que esta direo do rgo a parte
que o corpo pode ter para a ateno. Qual , ento, a parte da alma? Uma sensao que
experimentamos como se fosse nica, porque todas as outras so como se no as
experimentssemos.
A ateno que damos a um objeto , ento, da parte da alma, apenas a sensao que este
objeto exerce sobre ns - sensao que se torna de alguma maneira exclusiva -, e esta
faculdade a primeira que notamos na faculdade de sentir.
A COMPARAO.
Como damos nossa ateno a um objeto, podemos d-la a dois, ao mesmo tempo.
Ento, ao invs de uma nica sensao exclusiva, experimentamos duas. Dizemos que
as comparamos, porque as experimentamos exclusivamente para observ-las uma ao
lado da outra, sem nos distrairmos com outras sensaes: ora, precisamente o que
significa a palavra comparar.
A comparao , portanto, apenas uma dupla ateno: consiste em duas sensaes que
se experimentam, como se fossem sozinhas, e que excluem todas as outras.
Um objeto est presente ou ausente. Se estiver presente, a ateno a sensao que ele
exerce atualmente sobre ns; se estiver ausente, a ateno a lembrana da sensao
que ele exerceu. E graas a esta lembrana que devemos o poder de exercer a faculdade
de comparar objetos ausentes com objetos presentes. Logo, estudaremos a memria.
O JUZO.
S podemos comparar dois objetos ou experimentar, uma ao lado da outra, as duas
sensaes que eles exercem exclusivamente sobre ns quando tivermos percebido se
eles se assemelham ou se diferem. Ora, perceber semelhanas ou diferenas julgar. O
juzo ento, mais uma vez, apenas sensaes.
A REFLEXO.
Se, por um primeiro juzo, conheo uma relao, para conhecer outra tenho necessidade
de um segundo juzo. Se eu quiser, por exemplo, saber no que duas rvores diferem,
observarei sucessivamente a forma, o tronco, os ramos, as folhas, os frutos, etc.
Compararei sucessivamente todas estas coisas; farei uma sequncia de juzos; e porque,
ento, minha ateno reflete de algum modo um objeto sobre um objeto, direi que
reflito. A reflexo , portanto apenas uma sequncia de juzos que se processam por
uma sequncia de comparaes; e, desde que nas comparaes e nos juzos h apenas
sensaes, ento no h mais do que sensaes na reflexo.
A IMAGINAO.
Quando pela reflexo se notaram as qualidades que tornam os objetos diferentes, pde-
se, pela mesma reflexo, reunir num s objeto as qualidades que estavam separadas em
vrios. Temos assim que um poeta cria, por exemplo, um heri que nunca existiu. Ento
as ideias que se fazem so imagens que s tm realidade no esprito. A reflexo que faz
estas imagens se denomina imaginao.
O RACIOCINIO.
Um juzo que enuncio pode conter implicitamente outro que no enuncio. Se digo que
um corpo pesado, digo implicitamente que, se no for sustentado, ele cair. Ora,
quando um segundo juzo est assim contido num outro, pode-se enunci-lo como
sequncia do primeiro, e, por esta razo, diz-se que ele a consequncia deste. Dir-se-,
por exemplo: Esta abbada bem pesada; se ela no estiver suficientemente segura,
cair. Eis o que se compreende por enunciar um raciocnio no mais do que enunciar
dois juzos desta espcie. H, portanto, apenas sensaes tanto em nossos raciocnios
como em nossos juzos.
O segundo juzo do raciocnio que acabamos de fazer est sensivelmente contido no
primeiro, e uma consequncia que no se tem necessidade de procurar. Seria preciso,
pelo contrrio, procurar, se o segundo juzo no se mostrasse no primeiro de uma
maneira to evidente, isto , se fosse necessrio, indo do conhecido ao desconhecido,
passar por uma sequncia de juzos intermedirios, do primeiro at o ltimo, e v-los
todos sucessivamente contidos uns nos outros. Este juzo, por exemplo: O mercrio se
sustm a certa altura no tubo de um barmetro, est contido neste: O ar pesado. Mas,
porque no o vemos de imediato, preciso, indo do conhecido ao desconhecido,
descobrir, por uma sequncia de juzos intermedirios, que o primeiro consequncia
do segundo. J fizemos semelhantes raciocnios, faremos ainda, e quando tivermos
contrado o hbito de faz-los, no nos ser difcil desenredar todo o artifcio. Explicam-
se sempre as coisas que se sabe fazer: comeamos ento por raciocinar.
O ENTENDIMENTO.
Observemos que todas as faculdades que acabamos de examinar esto contidas na
faculdade de sentir. A alma adquire atravs delas todos os seus conhecimentos: atravs
delas compreende de algum modo as coisas que estuda, assim como pelo ouvido
compreende os sons; por este motivo, a reunio de todas as faculdades se denomina
entendimento. O entendimento comporta, portanto, a ateno, a comparao, o juzo, a
reflexo, a imaginao e o raciocnio. No se poderia fazer dele uma ideia mais exata.
CAPTULO VIII
Continuao do mesmo tema
Considerando nossas sensaes como representativas, vimos delas nascerem todas as
nossas ideias e todas as operaes do entendimento: se as considerarmos como
agradveis ou desagradveis, veremos nascer todas as operaes que se relacionam com
a vontade.
A NECESSIDADE.
Ainda que, por sofrer, entenda-se experimentar uma sensao desagradvel, certo que
a privao de uma sensao agradvel um sofrimento mais ou menos grave. Mas
preciso notar que ser privado e faltar no significam a mesma coisa. Pode-se nunca ter
usufrudo de coisas que esto ausentes, pode-se at no conhec-las. Ocorre o contrrio
com as coisas das quais somos privados: no somente as conhecemos, mas temos o
hbito de desfrut-las, ou, pelo menos, imaginamos o prazer de desfrut-las. Ora,
semelhante privao um sofrimento, que se denomina necessidade. Ter necessidade de
uma coisa sofrer porque se est privado dela.
O MAL-ESTAR.
Este sofrimento, em seu grau mais fraco, menos uma dor do que um estado em que
no nos encontramos bem, em que no estamos vontade. Eu denomino este estado
mal-estar.
A INQUIETUDE.
O mal-estar nos conduz a fazer movimentos para conseguir aquilo de que temos
necessidade. No podemos, ento, permanecer em perfeito repouso e, por esta razo, o
mal-estar toma o nome de inquietude. Quantos obstculos mais encontramos para a
realizao, mais nossa inquietude cresce e este estado pode se tornar um tormento.
O DESEJO.
A necessidade s perturba nosso repouso, s produz inquietude, porque determina as
faculdades do corpo e da alma sobre os objetos dos quais a privao nos faz sofrer.
Lembramos o prazer que nos proporcionam, a reflexo nos mostra o que o prazer pode
ainda nos proporcionar, a imaginao o exagera e, para atingi-la, lutamos de todas as
maneiras. Todas as nossas faculdades se dirigem, ento, sobre os objetos dos quais
sentimos a necessidade e esta direo o que compreendemos por desejo.
AS PAIXES.
Como natural criar o hbito de desfrutar coisas agradveis, tambm natural habituar-
se a desej-las e os desejos convertidos em hbitos denominam-se paixes. Semelhantes
desejos so de certo modo permanentes, ou, pelo menos, se eles se interrompem por
intervalos, se renovam na primeira ocasio. Quanto mais vivos eles forem, mais as
paixes sero violentas.
A ESPERANA.
Se, ao desejar uma coisa, julgamos que a obteremos, ento este juzo, ligado ao desejo,
produz a esperana.
A VONTADE.
Outro juzo produzir a vontade: aquele que formamos quando da experincia criamos
um hbito de julgar que no encontraremos nenhum obstculo aos nossos desejos. Eu
quero significa eu desejo e nada pode se opor a meu desejo, tudo deve concorrer.
OUTRA ACEPO DA PALAVRA VONTADE.
Tal propriamente a acepo da palavra vontade. Mas usual dar-lhe uma significao
mais extensa e se entende por vontade uma faculdade que compreende todos os hbitos
que nasam da necessidade, os desejos, as paixes, a esperana, o desespero, o temor, a
confiana, a presuno e vrios outros, dos quais fcil fazer ideia.
O PENSAMENTO.
Enfim, a palavra pensamento, mais geral ainda, compreende em sua acepo todas as
faculdades do entendimento e todas as da vontade. Pois pensar sentir, prestar ateno,
comparar, julgar, refletir, imaginar, raciocinar, desejar, apaixonar-se, ter esperanas,
temer, etc.
Explicamos como as faculdades da alma nascem sucessivamente da sensao e vemos
que elas so apenas a sensao que se transforma para se tornar cada uma delas.
Na segunda parte desta obra, propomo-nos descobrir todo o artifcio do raciocnio.
Preparemo-nos para esta busca, tentando raciocinar sobre um tema fcil e simples, ainda
que tenhamos sido levados a tratar, erroneamente, do assunto como tem sido feito at
hoje. Este ser o assunto do captulo seguinte.
CAPTULO IX
Sobre as causas da sensibilidade e sobre a memria
No possvel explicar detalhadamente todas as causas fsicas da sensibilidade e da
memria. Mas, ao invs de raciocinar segundo falsas hipteses, poder-se-ia consultar a
experincia e a analogia. Expliquemos o que se pode explicar e no vangloriemos de dar
razo a tudo.
FALSAS HIPTESES.
Uns representam os nervos como cordas tensas, capazes de movimentos e vibraes, e
acreditam ter adivinhado a causa das sensaes e da memria. E evidente que esta
suposio completamente imaginria.
Outros dizem que o crebro uma substncia mole, na qual os espritos animais deixam
vestgios. Estes vestgios se conservam: os espritos animais passam e repassam, o
animal dotado de sentimento e de memria. Estes autores no perceberam que, se a
substncia do crebro demasiado mole para receber vestgios, ela no ter consistncia
para conserv-los, no considerando o quanto impossvel que uma infinidade de
vestgios subsista numa substncia onde haja uma ao, uma circulao contnua.
Foi julgando os nervos como cordas de um instrumento que se imaginou a primeira
hiptese e se imaginou a segunda representando as impresses que se fazem no crebro
por marcas sobre uma superfcie cujas partes estavam em repouso. Certamente isto no
raciocinar segundo a observao, nem segundo a analogia: relacionar coisas que no
tm qualquer relao.
H NO ANIMAL UM MOVIMENTO, QUE O PRINCIPIO DA
VEGETAO.
Ignoro se h espritos animais, ignoro at se os nervos so o rgo do sentimento. No
conheo nem o tecido das fibras, nem a natureza dos slidos, nem a dos fluidos; no
tenho, numa palavra, de todo este mecanismo seno uma ideia muito imperfeita e vaga.
Sei apenas que h um movimento que o princpio da vegetao e da sensibilidade; que
o animal vive tanto quanto este movimento subsistir; que ele morre desde que esse
movimento cesse.
A experincia me ensina que o animal pode ser reduzido a um estado de vegetao: seja
naturalmente por um sono profundo, seja acidentalmente por um ataque de apoplexia.
Portanto, no conjeturo sobre o movimento que se processa nele. Tudo o que sabemos
que o sangue circula, que as vsceras e as glndulas exercem as funes necessrias para
conservar e reparar as foras: mas ignoramos por quais leis o movimento opera todos
estes efeitos. No entanto, estas leis existem e elas fazem supor ao movimento as
determinaes que fazem vegetar o animal.
AS DETERMINAES DE QUE ESTE MOVIMENTO SUSCETVEL SO
AS CAUSAS DE SENSIBILIDADE.
Mas, quando o animal sai do estado de vegetao para se tornar sensvel, o movimento
obedece a outras leis e segue novas determinaes. Se o olho, por exemplo, se abrir
luz, os raios que o impressionam fazem supor ao movimento que o fazia vegetar as
determinaes que o tornam sensvel. Acontece a mesma coisa com os outros sentidos.
Logo, cada espcie de sentimento causado por um tipo particular de determinao no
movimento que o princpio da vida.
Vemos por isso que o movimento, que torna o animal sensvel, s pode ser uma
modificao do movimento que o faz vegetar, modificao ocasionada pela ao dos
objetos sobre os sentidos.
ESTA DETERMINAO PASSA DOS RGOS AO CREBRO.
Mas o movimento que torna sensvel no se faz somente no rgo exposto ao de
objetos exteriores; transmite-se ainda at o crebro, isto , at o rgo que a observao
demonstra ser a primeira e principal mola do sentimento. A sensibilidade tem, portanto,
como causa a comunicao que existe entre os rgos e o crebro.
Com efeito, quando o crebro, comprimido por alguma causa, no pode obedecer s
impresses enviadas pelos rgos, no mesmo instante o animal se toma insensvel.
Deve-se ento a liberdade a este primeiro impulso? Sim, quando os rgos agem sobre o
crebro, este reage sobre eles e o sentimento se produz.
Mesmo livre, poderia acontecer que o crebro tivesse pouca ou at nenhuma
comunicao com outra parte. Uma obstruo, por exemplo, ou uma forte ligadura no
brao, diminuiria ou suspenderia o comrcio do crebro com a mo. O sentimento da
mo, portanto, se enfraqueceria ou cessaria completamente.
Todas estas proposies foram constatadas por observaes, no fiz mais do que
desprend-las de qualquer hiptese arbitrria: era o nico meio de coloc-las com toda a
nitidez.
S SENTIMOS QUANDO NOSSOS RGOS TOCAM OU SO TOCADOS.
Desde que as diferentes determinaes dadas ao movimento que faz vegetar so a nica
causa fsica e ocasional da sensibilidade, segue-se que s sentimos quando nossos
rgos tocam ou so tocados; pelo contato que os objetos, agindo sobre os rgos,
comunicam ao movimento que os faz vegetar as determinaes que o tomam sensvel.
Desta maneira, podemos considerar o odor, a audio, a viso e o gosto como extenses
do tato. O olho no ver, se os corpos de certa forma no vm se chocar contra a retina;
o ouvido no escutar, se outros corpos de uma forma diferente no vm impressionar o
tmpano. Numa palavra, o princpio da variedade das sensaes est nas diferentes
determinaes que os objetos produzem no movimento, segundo a organizao das
partes expostas sua ao.
NO SABEMOS COMO ESTE CONTATO PRODUZ SENSAES.
Mas como o contato de certos corpsculos ocasionar as sensaes de som, de luz, de
cor? Poder-se-ia, talvez, explicar a razo, se conhecssemos a essncia da alma, o
mecanismo do olho, do ouvido, do crebro, a natureza dos raios que se espalham sobre
a retina e do ar que impressiona o tmpano. Porm, o que ignoramos e pode-se
abandonar a explicao destes fenmenos queles que gostam de formular hipteses
ignorando a experincia.
NOVOS RGOS OCASIONARIAM EM NS NOVAS SENSAES.
Se Deus formasse em nosso corpo um novo rgo, com novas determinaes de
movimento, experimentaramos sensaes diferentes das que tivemos at hoje. Este
rgo nos faria descobrir nos objetos propriedades de que hoje no podemos ter ideia
alguma. Seria uma fonte de novos prazeres, novas dores e, consequentemente, novas
necessidades.
Poder-se-ia dizer isto tanto de um stimo sentido, de um oitavo e de todos os que se
poderiam supor, qualquer que seja o nmero. certo que um novo rgo em nosso
corpo tornaria o movimento que o faz vegetar suscetvel de muitas modificaes que
no saberamos imaginar.
Estes sentidos seriam removidos por corpsculos de certa forma: eles se instruiriam,
como os outros, segundo o tato e aprenderiam com ele a relacionar suas sensaes sobre
os objetos.
NOSSOS SENTIDOS SO SUFICIENTES.
Mas os sentidos que temos bastam para nossa conservao: so at um tesouro de
conhecimentos para aqueles que sabem manej-las; e, se os outros no usufruem destas
riquezas, no duvidam de seu infortnio. Como perceberiam que se v nas sensaes,
comuns a todos, aquilo que eles no conseguem ver por si prprios?
COMO O ANIMAL APRENDE A SE MOVER SEGUNDO SUA VONTADE.
A ao dos sentidos sobre o crebro torna, portanto, o animal sensvel. Mas isto no
basta para dar ao corpo todos os movimentos de que capaz; preciso ainda que o
crebro aja sobre todos os msculos e sobre todos os rgos interiores destinados a
mover cada um dos membros. Ora, a observao demonstra esta ao do crebro.
Consequentemente, quando esta fora principal recebe certas determinaes por parte
dos sentidos, comunica outras determinaes a algumas das partes do corpo e o animal
se move.
O animal s teria movimentos incertos se a ao dos sentidos sobre o crebro, e do
crebro sobre os membros, no tivesse sido acompanhada por sentimento algum.
Movido sem' experimentar dor nem prazer, no teria tido nenhum interesse pelos
movimentos de seu corpo: no os teria, portanto, observado, ele prprio no teria
aprendido a regul-las.
Mas desde que ele seja informado, pela dor ou pelo prazer, a evitar ou a fazer certos
movimentos, fez um estudo para evit-las ou execut-los. Compara os sentimentos que
experimenta: observa os movimentos que os precedem, e aqueles que os acompanham:
tateia, numa palavra, e depois dos tateios contrai afinal o hbito de se mover segundo
sua vontade. ento que h movimentos regulados. Este o princpio de todos os
hbitos do corpo.
COMO O CORPO CONTRAI O HBITO DE CERTOS MOVIMENTOS.
Estes hbitos so movimentos regulados que se processam em ns sem que pareamos
dirigi-los, porque, fora de t-los repetido, os executamos sem necessidade de pensar.
So estes hbitos que se denominam movimentos naturais, aes mecnicas, instinto, e
que se supe falsamente terem nascido conosco. Evitaremos este preconceito, se
julgarmos estes hbitos por outros que se nos tornaram completamente naturais, ainda
que nos lembremos de t-los adquirido.
A primeira vez, por exemplo, que toco um cravo, meus dedos tm movimentos incertos:
mas, medida que aprendo a tocar esse instrumento, adquiro imperceptivelmente um
hbito de mover meus dedos sobre o cravo. No primeiro instante, eles obedecem com
dificuldade s determinaes que lhes quero dar: pouco a pouco superam os obstculos;
finalmente, movem-se segundo minha vontade, prevendo-a ao executar um trecho de
msica enquanto minha reflexo se transporta para outra coisa.
Eles contraem, ento, o hbito de se mover segundo certo nmero de determinaes e,
assim como no h tecla por onde uma ria no possa comear, no h determinao
que no possa ser a primeira de certa sequncia. O exerccio combina sempre de modo
diferente estas determinaes, os dedos adquirem cada vez mais facilidade: enfim, eles
obedecem, como por si prprios, a uma sequncia de movimentos determinados, e
obedecem sem esforo, sem que seja necessrio que me concentre. B desta maneira que
os rgos dos sentidos, tendo contrado hbitos diferentes, se movem por si prprios,
sem que a alma tenha mais necessidade de zelar continuamente sobre eles para regular
seus movimentos.
O CREBRO CONTRAI SEMELHANTES HBITOS. ELES SO A CAUSA
FSICA E OCASIONAL DA MEMRIA.
Mas o crebro o rgo principal: um centro comum onde todos se renem, e de onde
todos parecem nascer. Julgando, portanto, o crebro pelos outros sentidos, teremos o
direito de concluir que todos os hbitos do corpo passam por ele, e, que,
consequentemente, as fibras que o compem, cada qual, pela sua flexibilidade, com
movimentos de toda espcie adquirem, como os dedos, o hbito de obedecer a
diferentes sequncias de movimentos determinados. Assim sendo, o poder que tem meu
crebro de me lembrar de um objeto no pode ser seno a facilidade que ele adquiriu de
se mover por si prprio da mesma maneira que ele se havia movido quando este objeto
impressionava meus sentidos.
A causa fsica e ocasional, que conserva e que lembra as ideias, est, ento, nas
determinaes de que o crebro, este rgo principal do sentimento, constituiu um
hbito, e que subsistem ou se reproduzem at quando nossos sentidos cessam de
concorrer para isto. No recordaramos os objetos que tnhamos visto, escutado, tocado,
se o movimento no recebesse as mesmas determinaes no momento em que vemos,
escutamos, tocamos. Numa palavra, a ao mecnica segue as mesmas leis, seja quando
se experimenta uma sensao, seja quando se lembra somente de hav-la
experimentado: a memria apenas uma maneira de sentir.
AS IDEIAS DAS QUAIS NO SE PENSA MAIS NO ESTO EM NENHUMA
PARTE.
Escutei frequentemente perguntar: Em que se transformam as ideias nas quais no se
pensa mais? Onde elas se conservam? De onde elas voltam quando elas se apresentam
novamente? na alma que elas existem durante estes longos intervalos quando no
pensamos nelas? no corpo? Por estas perguntas e pelas respostas que do os
metafsicos, acreditar-se-ia que as ideias so como todas as coisas de que fazemos
provises e que a memria apenas um grande armazm. Seria bastante razovel
atribuir existncia s figuras diferentes que um corpo teve sucessivamente e perguntar:
O que acontece com a qualidade redonda deste corpo quando ele toma outra forma?
Onde ela se conserva? E quando este corpo se torna novamente redondo, de onde lhe
vem esta qualidade?
As ideias so, como as sensaes, maneiras de ser da alma. Elas existem enquanto a
modificam; no deixam de existir desde que cessam de modific-la.
Procurar na alma aquelas que no penso absolutamente procur-las onde no esto
mais: procur-las no corpo procur-las onde elas jamais estiveram. Onde esto elas
ento? Em nenhuma parte.
COMO AS IDEIAS SE REPRODUZEM.
No seria absurdo perguntar onde esto os sons de um cravo, quando este instrumento
cessa de tocar? E no se responderia: Eles no esto em nenhuma parte: mas, se os
dedos tocam o cravo e se movem como eles se moveram, reproduziro os mesmos
sons.
Responderei ento que minhas ideias no esto em nenhuma parte, quando minha alma
cessa de pensar nelas, mas que elas voltaro a mim logo que os movimentos prprios
para reproduzi-Ias se renovem.
Ainda que eu no conhea o mecanismo do crebro, posso julgar que suas diferentes
partes adquiriram a facilidade de se mover por si prprias, da mesma maneira que elas
foram movidas pela ao dos sentidos; que os hbitos deste rgo se conservam; que
todas as vezes que ele obedece, perfaz as mesmas ideias, porque os mesmos
movimentos se renovam nele. Numa palavra, tm-se ideias na memria, como se tm
sob os dedos teclas de cravo: isto , que o crebro tem, como todos os outros sentidos, a
facilidade de se mover segundo determinaes s quais se habituou. Experimentamos
sensaes como um cravo reproduz sons. Os rgos exteriores do corpo humano so
como as teclas, os objetos que os impressionam so como os dedos sobre o cravo, os
rgos internos so como o corpo do cravo, as sensaes ou as ideias so como os sons;
e a memria ocorre quando as ideias que foram produzidas pela ao dos objetos sobre
os sentidos so reproduzidas pelos movimentos aos quais o crebro se habituou.
TODOS OS FENMENOS DA MEMRIA SE EXPLICAM PELOS HBITOS
DO CREBRO.
Se a memria, lenta ou rpida, descreve as coisas, ora ordenadamente, ora
confusamente, porque a multido de ideias cria no crebro movimentos to numerosos
e to variados, que no possvel que se reproduzam sempre com a mesma facilidade e
a mesma exatido.
Todos os fenmenos da memria dependem de hbitos contrados pelas partes mveis e
flexveis do crebro. Todos os movimentos, de que estas partes so suscetveis, esto
ligados uns aos outros, como todas as ideias que eles provocam esto ligadas entre si.
E desta maneira que os movimentos dos dedos sobre o cravo esto ligados entre si,
como os sons do canto que se escuta: o canto lento se os dedos se movem lentamente
e ele confuso se os movimentos dos dedos se confundem. Assim como a quantidade
de peas musicais que se aprende dificulta os dedos de conservar os hbitos prprios
para execut-las com facilidade e nitidez, da mesma maneira a quantidade de coisas que
se quer lembrar dificulta frequentemente o crebro de conservar os hbitos prprios para
projetar as ideias com facilidade e preciso.
Quando um hbil organista pe sem inteno as mos sobre um cravo, os primeiros sons
que ele faz escutar determinam seus dedos a continuar e a obedecer a uma sequncia de
movimentos que produzam uma sequncia de sons cuja melodia e harmonia chegam a
surpreend-la. No entanto, ele conduz seus dedos naturalmente e sem esforo.
E, destarte, que um primeiro movimento, provocado no crebro pela ao de um objeto
sobre nossos sentidos, determina uma sequncia de movimentos que descreve uma
sequncia de ideias. Nossa memria est sempre em ao porque nossos sentidos,
continuamente expostos a impresses de objetos, no cessam de agir sobre nosso
crebro. O crebro, permanentemente excitado pelos rgos, no obedece somente
impresso que recebe imediatamente, obedece ainda a todos os movimentos que esta
primeira impresso deve reproduzir. Ele se conduz, por hbito, de movimento em
movimento, antecipa a ao dos sentidos, descreve longas sequncias de ideias. Faz
mais: reage sobre os sentidos com vivacidade, reenvia-lhes as sensaes que eles lhe
haviam enviado antes e nos persuade que vemos o que no vemos.
Assim como os dedos conservam o hbito de uma sequncia de movimentos e podem, a
qualquer momento, se mover como eles se moveram, o crebro conserva igualmente
seus hbitos e, tendo uma vez sido excitado pela ao dos sentidos, ele prprio passa
pelos movimentos que lhe so familiares e lembra as ideias.
Mas como se executam estes movimentos? Como seguem diferentes determinaes? E
o que impossvel de aprofundar. Se se fizessem estas perguntas sobre os hbitos dos
dedos, tambm eu no poderia responder. No tentarei ento me perder em conjeturas.
Basta-me julgar os hbitos do crebro pelos hbitos de cada sentido: preciso se
contentar em saber que o mesmo mecanismo, qualquer que seja, d, conserva e reproduz
as ideias.
A MEMRIA TEM SUA SEDE NO CREBRO E EM TODOS OS RGOS
QUE TRANSMITEM IDEIAS.
Acabamos de ver que a memria tem a sua sede principalmente no crebro: parece-me
que a tem tambm em todos os rgos de nossas sensaes, pois deve t-la em todas as
partes onde est a causa ocasional das ideias que lembramos. Ora, se para termos pela
primeira vez uma ideia foi necessrio que os sentidos agissem sobre o crebro,
evidente que a lembrana desta ideia se desprender quando, por sua vez, o crebro agir
sobre os sentidos. Este comrcio de ao portanto necessrio para suscitar a ideia de
uma sensao passada, como necessrio para produzir uma sensao atual. Com
efeito, s representamos bem uma figura quando nossas mos retomam a mesma forma
que o tato lhes tinha feito conhecer. Neste caso, a memria nos fala uma linguagem de
ao.
A memria de uma ria que se executa tem sua sede nos dedos, no ouvido e no crebro:
nos dedos, que criaram um hbito de uma sequncia de movimentos; no ouvido, que
no julga os dedos, e que no os dirige necessariamente; a no ser porque ele criou por
seu lado um hbito de outra sequncia de movimentos; e no crebro, que criou um
hbito de se orientar pelas formas que correspondem exatamente aos hbitos dos dedos
e aos do ouvido.
Notam-se facilmente os hbitos que os dedos contraram: no se pode da mesma
maneira observar os do ouvido, menos ainda os do crebro: mas a analogia prova que
eles existem.
Poder-se-ia saber uma lngua, se o crebro no tivesse hbitos correspondentes aos do
ouvido para escut-la, aos da boca para fal-la, aos dos olhos para l-la? A lembrana de
uma lngua, ento, no reside unicamente nos hbitos do crebro, reside tambm nos
hbitos dos rgos da audio, da palavra e da viso.
EXPLICAO DOS SONHOS.
Segundo os princpios que acabo de estabelecer, seria fcil explicar os sonhos: pois as
ideias que temos no sono se assemelham bastante execuo de um organista, que, nos
momentos de distrao, deixa seus dedos se movimentarem ao acaso. Certamente, seus
dedos s fazem o que aprenderam a fazer, mas no o fazem na mesma ordem, emendam
passagens diferentes tiradas de trechos diversos que estudaram.
Julguemos ento por analogia o que se passa no crebro, segundo o que observamos nos
hbitos de uma mo exercitada num instrumento. Concluiremos que os sonhos so o
efeito da ao deste principal rgo sobre os sentidos, que, no meio do repouso de todas
as partes do corpo, conserva a atividade suficiente para obedecer a alguns de seus
hbitos. Ora, desde que o crebro se mova como fora movido quando tnhamos
sensaes, ele age sobre os sentidos, ouvimos e vemos: deste modo que um aleijado
cr sentir a mo que no tem mais. Porm, em semelhante caso, o crebro descreve as
coisas desordenadamente, porque os hbitos, cuja ao est interrompida pelo sono,
interceptam um grande nmero de ideias.
A MEMRIA SE PERDE, PORQUE O CREBRO PERDE SEUS HBITOS.
Agora que explicamos como se contraem os hbitos que produzem a memria, ser fcil
compreender como se perdem.
Primeiramente, se eles no forem continuamente conservados, ou, pelo menos,
renovados frequentemente. E o que acontecer com os hbitos que no forem
requisitados pelos sentidos.
Em segundo lugar, se eles se multiplicam desmesuradamente, haver alguns que
negligenciaremos. Do mesmo modo, perdemos conhecimentos, enquanto adquirimos
novos.
Em terceiro lugar, uma indisposio no crebro enfraqueceria ou perturbaria a memria,
se ela criasse um obstculo a alguns dos movimentos a que o crebro se habituou. Se a
indisposio impedisse todos os hbitos do crebro, no nos lembraramos de nada.
Em quarto lugar, uma paralisia nos rgos produziria o mesmo efeito: os hbitos do
crebro se perderiam pouco a pouco, se isolados da ao dos sentidos.
Enfim, a velhice arruna a memria. Ento as partes do crebro so como dedos que no
so mais flexveis para se moverem segundo todas as determinaes que lhes eram
familiares. Os hbitos se perdem pouco a pouco: s restam sensaes fracas que vo
logo escapar: o movimento que parece entret-las est prestes a se encerrar.
CONCLUSO
O princpio fsico e ocasional da sensibilidade reside unicamente em certas
determinaes, de que suscetvel o movimento que faz vegetar o animal. O princpio
fsico e ocasional da memria est nestas determinaes, quando se tornaram hbitos. E
a analogia que nos autoriza a supor que, nos rgos que no podemos observar, ocorre
algo de semelhante ao que observamos nos outros. Ignoro por qual mecanismo minha
mo tem mais flexibilidade e mobilidade para contrair o hbito de certas determinaes
de movimentos, mas sei que existe nela flexibilidade, mobilidade, exerccio, hbitos, e
suponho que tudo isto se reencontra no crebro e nos rgos que so, com ele, a sede da
memria.
Por isso, s tenho certamente uma ideia bastante imperfeita das causas fsicas e
ocasionais da sensibilidade e da memria; ignoro totalmente os primeiros princpios.
Reconheo que haja em ns um movimento e no posso compreender por qual fora ele
produzido. Reconheo que este movimento seja capaz de diferentes determinaes e
que no possa descobrir o mecanismo que os regula.
Tenho apenas a vantagem de haver livrado de toda hiptese arbitrria este pouco de
conhecimento que temos sobre uma matria das mais obscuras. , acredito, ao que os
fsicos devem se limitar todas as vezes que queiram fazer sistemas sobre coisas de que
no possvel observar as causas primeiras.
SEGUNDA PARTE
A ANLISE CONSIDERADA EM SEUS MEIOS E EM SEUS EFEITOS OU A
ARTE DE RACIOCINAR REDUZIDA A UMA LINGUA BEM FEITA
Conhecemos a origem e a gerao de todas as ideias, conhecemos de igual maneira a
origem e a gerao de todas as faculdades da alma e sabemos que a anlise, que nos
conduziu a estes conhecimentos, o nico mtodo que pode nos conduzir a outros. Ela
, propriamente, a alavanca do esprito. E preciso estud-la e vamos consider-la por
seus meios e seus efeitos.
CAPTULO I
Como os conhecimentos que devemos natureza constituem um sistema onde tudo
est perfeitamente ligado e como nos extraviamos quando esquecemos suas lies.
COMO A NATUREZA NOS ENSINA A RACIOCINAR, ELA PRPRIA
REGULANDO O USO DE NOSSAS FACULDADES.
Vimos que, pela palavra desejo, s podemos entender a direo de nossas faculdades
sobre as coisas de que temos necessidade. Temos, ento, desejos porque temos
necessidades a satisfazer. Desta maneira, necessidades, desejos, eis o motivo de todas as
nossas buscas.
Nossas necessidades e os meios de satisfaz-las tm sua razo na conformao de
nossos rgos e nas relaes das coisas a esta conformao. Por exemplo, a maneira
pela qual sou feito determina as espcies de alimentos de que tenho necessidade, e a
maneira pela qual os produtos do solo esto conformados determina os que podem me
servir de alimentos.
Posso ter de todas estas diferentes conformaes apenas um conhecimento bastante
imperfeito, eu as ignoro a bem dizer: mas a experincia me ensina o uso de coisas que
me so absolutamente necessrias. Sou instrudo pelo prazer ou pela dor e o sou
inteiramente: ser-me-ia intil saber mais e a natureza limita aqui suas lies.
Vemos em suas lies um sistema cujas partes esto perfeitamente ordenadas. Se h em
mim necessidades e desejos, h fora de mim objetos feitos para satisfaz-los e tenho a
faculdade para conhec-los e desfrut-los, Este sistema encerra naturalmente meus
conhecimentos numa esfera de um pequeno nmero de necessidades e de um pequeno
nmero de coisas para meu uso. Mas, se meus conhecimentos no so numerosos, esto
bem ordenados, porque os adquiri na mesma ordem de minhas necessidades e na mesma
ordem das relaes das coisas que esto a meu alcance.
Vejo, ento, na esfera de meus conhecimentos um sistema que corresponde quele que o
autor de minha natureza seguiu quando me constituiu. No surpreendente, se minhas
necessidades e minhas faculdades so dadas, minhas buscas e meus conhecimentos so
ao mesmo tempo dados.
Tudo est igualmente ligado tanto em um sistema quanto no outro. Meus rgos, as
sensaes que experimento, os juzos que trago, a experincia que os confirma, ou que
os corrige, constituem tanto um quanto o outro um sistema para minha conservao e
evidente que aquele que me fez s tenha disposto com tanta ordem apenas para zelar
sobre mim. Eis o sistema que seria preciso estudar para aprender a raciocinar.
No se poderia observar as faculdades que nossa conformao nos d, o uso que ela nos
faz processar, numa palavra, no se poderia unicamente atravs dela observar o que
fazemos. Suas lies, se as soubssemos aproveitar, seriam a melhor de todas as
lgicas.
Com efeito, o que nos ensina nossa conformao? Evitar o que nos pode prejudicar e
procurar o que nos pode ser til. Mas ser necessrio para isso julgarmos a essncia dos
seres? O autor de nossa natureza no o exige. Ele sabe que no colocou estas essncias
ao nosso alcance: quer somente que conheamos as relaes que as coisas tm conosco
e entre si, quando o conhecimento destas ltimas pode nos ser de alguma utilidade.
Temos um meio para julgar estas relaes e nico: observar as sensaes que os
objetos efetuam sobre ns. Nossas sensaes podem se estender, a prpria esfera de
nossos conhecimentos pode se estender: para alm disso, toda descoberta nos
interditada.
A ordem que nossa natureza ou conformao estabelece entre nossas necessidades e as
coisas vai indicar-nos a ordem na qual devemos estudar as relaes essenciais para o
nosso conhecimento. Quanto mais dceis formos s suas lies, mais prementes sero
nossas necessidades, faremos o que ela nos indica e observaremos ordenadamente. Ela
nos obriga a uma anlise desde o princpio.
Nossas buscas se limitam aos meios de satisfazer o pequeno nmero de necessidades
que nossa natureza nos fornece. Se nossas primeiras observaes forem bem feitas, o
uso que fizermos das coisas as confirmar imediatamente: se elas forem mal feitas, este
mesmo uso as destruir rapidamente, e indicando-nos outras observaes para fazer.
Desta maneira, podemos desconfiar, porque elas se encontram em nosso caminho: mas
este caminho o da verdade, e para ela nos conduz.
Observar relaes, confirmar estes juzos por novas observaes ou corrigi-los
observando novamente, eis, ento, o que a natureza nos obriga a fazer e assim faremos
cada vez que adquirirmos um novo conhecimento. Esta a arte de raciocinar: simples
como a natureza no-lo ensina.
COMO, ESQUECENDO AS LICES DA NATUREZA, RACIOCINAMOS
SEGUNDO MAUS HBITOS.
Parece que conhecemos esta arte nos limites em que possvel conhec-la. Isto seria
verdade, se tivssemos sempre sido capazes de notar que a natureza que ensine esta
arte e que s ela pode ensin-la: pois, ento, teramos prosseguido como ela nos obrigou
a comear.
Mas percebemos isto demasiado tarde, ou melhor, pela primeira vez. E pela primeira
vez que vemos nas lies da natureza todo o artifcio desta anlise, que deu aos homens
de gnio o poder de criar as cincias ou de alargar os limites.
Temos esquecido estas lies; e, ao invs de observar as coisas que queramos conhecer,
ns as imaginamos. De suposies falsas em suposies falsas, extraviamo-nos, entre
uma infinidade de erros, estes erros tendo-se tornado preconceitos, tomo-os, por este
motivo, por princpios extraviamo-nos, desta maneira, cada vez mais. Passamos, ento,
a raciocinar somente atravs dos maus hbitos que havamos contrado. A arte de abusar
das palavras foi para ns a arte de raciocinar: arbitrria, frvola, absurda, houve todos os
vcios das imaginaes desregradas.
Para aprender a raciocinar, devemos corrigir todos estes maus hbitos. Eis o que hoje
torna to difcil esta arte, que seria fcil por si prpria. Pois obedecemos a estes hbitos
mais facilmente do que a natureza. Chamamo-los uma segunda natureza, para desculpar
nossa fraqueza ou nossa cegueira; porm, uma natureza alterada e corrompida.
Notamos que, para contrair um hbito, basta faz-lo, e que, para perd-lo, basta cessar
de faz-lo. Parece que uma coisa to fcil quanto a outra e, no entanto, no ocorre
assim. Ocorre que, ao contrair um hbito, pensamos antes de faz-lo; e, quando
queremos perd-lo, o fazemos sem pensar. Alm disso, quando os hbitos se tornaram o
que denominamos uma segunda natureza, -nos quase impossvel perceber que eles so
maus. As descobertas desta espcie so as mais difceis: assim elas escapam em maior
nmero.
Eu s ouo falar em hbitos do esprito: pois, quando se trata dos hbitos do corpo,
todos esto em condies de julgar. A experincia basta para nos ensinar se eles so
teis ou prejudiciais; e, quando no so nem uma coisa nem outra, o uso faz disso o que
quer e julgamos segundo ele.
Infelizmente, os hbitos da alma esto da mesma maneira submetidos aos caprichos do
uso, que parecem no permitir nem dvida nem exame e so muito mais contagiosos,
quando o esprito tiver tanto repugnncia para ver seus defeitos quanto preguia para
refletir sobre si prprio. Alguns se envergonhariam de no pensar como todos: outros se
cansariam de pensar unicamente segundo eles prprios; e, se alguns tm a ambio de
se destacar, frequentemente para pensar pior ainda. Em contradio com eles mesmos,
no pensaro como os outros e, no entanto, s toleram que se pense como eles.
ERROS NOS QUAIS ESTES HBITOS NOS FAZEM CAIR.
Se quisermos conhecer os maus hbitos do esprito humano, observemos as diferentes
opinies dos povos. Vejamos as ideias falsas, contraditrias, absurdas que a superstio
espalhou por todo o lugar e julguemos a fora dos hbitos e como a paixo faz respeitar
mais o erro do que a verdade.
Consideremos as naes desde o seu princpio at a sua decadncia e veremos os
preconceitos se multiplicarem com as desordens: surpreender-nos-emos com a pouca
luz que encontraremos nos prprios sculos que se denominam iluminados. Geralmente,
que legislaes! Que governos! Que jurisprudncia! Poucos povos tiveram boas leis! E
como duraram pouco!
Enfim, se observarmos o esprito filosfico nos gregos, nos romanos e nos povos que os
sucederam, veremos, nas opinies que se transmitem de era para era, o quanto a arte de
regular o pensamento foi pouco conhecida em todos os sculos. A ignorncia em que
permanecemos at hoje nos causar espanto, se considerarmos que descendemos de
homens de gnio que ampliaram nossos conhecimentos. Este o carter geral das seitas:
ansiedade de domnio, eis sua nica verdade. Elas querem, acima de tudo, se destacar.
Polemizam questes frvolas, expressam-se mediante jarges ininteligveis, observam
pouco, tomam seus sonhos como interpretaes da natureza; enfim, ocupadas de se
prejudicarem umas s outras e de fazer novos proslitos, empregam para este efeito
todos os meios e sacrificam tudo pelas opinies que querem difundir.
A verdade , ento, difcil de reconhecer entre tantos sistemas monstruosos, que se
conservaram pelas causas que os produziram, isto , pelas supersties, pelos governos
e pela m filosofia. Os erros, demasiado ligados uns aos outros, se defendem
mutuamente. Em vo combater-se-iam alguns: seria preciso destru-las todos ao mesmo
tempo, isto , seria preciso mudar completamente todos os hbitos do esprito humano.
Mas estes hbitos esto muito arraigados: so conservados pelas paixes que nos
cegam. Se, por acaso, existirem alguns homens capazes de abrir os olhos, so
demasiado fracos para corrigirem: os poderes querem que os abusos e os preconceitos
durem.
NICO MEIO DE COLOCAR ORDEM NA FACULDADE DE PENSAR.
Todos estes erros parecem supor em ns hbitos maus e juzos falsos tomados como
verdadeiros. No entanto, todos tm a mesma origem e provm igualmente do hbito de
nos servirmos de palavras antes de determinar seu significado e ter sentido a
necessidade de determin-lo. No observamos nada: no sabemos o quanto necessrio
observar. Julgamos precipitadamente sem nos darmos conta dos juzos que transmitimos
e acreditamos adquirir conhecimentos aprendendo palavras que so apenas palavras.
Porque, em nossa infncia, pensamos segundo os outros, adotamos todos os
preconceitos. Quando atingimos uma idade onde acreditamos pensar segundo ns
prprios, continuamos a pensar segundo os outros, porque pensamos segundo os
preconceitos que eles nos deram. Ento, quanto mais o esprito parece fazer progressos,
mais se extravia e os erros se acumulam de geraes em geraes. Quando as coisas
atingem este ponto, h apenas um meio de recolocar a ordem na faculdade de pensar:
esquecer tudo o que aprendemos, retomar nossas ideias em sua origem, seguir a gerao
e refazer, como diz Bacon, o entendimento humano.
Quanto mais algum for instrudo, mais dificuldade encontrar em recolocar ordem na
faculdade de pensar. Desta maneira, obras que tratam das cincias com grande nitidez,
preciso e ordem no estariam do mesmo modo ao alcance de todos. Aqueles que nunca
tivessem estudado nada as entenderiam melhor do que aqueles que fizeram grandes
estudos, e, sobretudo, do que aqueles que escreveram muito sobre as cincias. Seria
quase impossvel que estes lessem tais obras como devem ser lidas. Uma boa lgica
faria nos espritos uma revoluo muito lenta e s o tempo poderia demonstrar utilidade
algum dia.
Eis portanto os efeitos de uma m educao e esta educao m apenas porque
contraria a natureza. As crianas so determinadas por suas necessidades a serem
observadoras e analistas; e tm, atravs de suas faculdades originais, condies para
tanto: j o so de algum modo, na medida em que s a natureza as conduziu. Mas
quando ns comeamos a conduzi-las, interditamos-lhes toda observao e toda anlise.
Supomos que elas no raciocinam, porque no sabemos raciocinar com elas, e,
esperando uma idade de razo, que comeara sem ns e que atrasamos com todo o
nosso poder, condenamo-las a julgar apenas segundo nossas opinies, nossos
preconceitos e nossos erros. E preciso, portanto, que elas no tenham esprito, ou que
tenham apenas um esprito falso. Se algumas se destacam, porque tem em sua
conformao bastante energia para vencer cedo ou tarde os obstculos que colocamos
ao desenvolvimento de seus talentos: as outras so plantas que mutilamos at a raiz e
que morrem estreis.
CAPTULO II
Como a linguagem de ao analisa o pensamento
S PODEMOS ANALISAR POR MEIO DE UMA LINGUAGEM.
S podemos raciocinar pelos meios que nos so dados ou indicados pela natureza. E
preciso portanto observar estes meios e tentar descobrir como eles so seguros algumas
vezes e por que ns no o somos sempre.
Acabamos de ver que a causa de nossos erros est no hbito de julgar segundo palavras
de que no determinamos o sentido: vimos, na primeira parte, que as palavras nos so
absolutamente necessrias para formar ideias de todas as espcies. Veremos logo que as
ideias abstratas e gerais so apenas denominaes. Portanto, tudo confirmar que s
pensamos com a ajuda das palavras. E o suficiente para compreender que a arte de
raciocinar comeou com as lnguas, que s pde haver progresso na medida em que elas
se fizeram e que, consequentemente, devem conter todos os meios que podemos ter para
analisar bem ou mal. preciso portanto observar as lnguas: preciso at, se quisermos
conhecer o que foram em seu nascimento, observar a linguagem de ao segundo a qual
foram feitas. E por este caminho que vamos comear.
OS ELEMENTOS DA LINGUAGEM DE AO SO INATOS.
Os elementos da linguagem de ao nasceram com o homem e estes elementos so os
rgos que o autor de nossa natureza nos deu. Desta maneira, h uma linguagem inata,
ainda que no haja ideias que o sejam. Com efeito, seria preciso que os elementos de
uma linguagem qualquer, preparados antecipadamente, precedessem nossas ideias,
porque, sem signos de qualquer espcie, nos seria impossvel analisar nossos
pensamentos, para darmos conta do que pensamos, isto , para v-lo de maneira
distinta.
Assim nossa conformao exterior destinada a representar tudo o que se passa na
alma: a expresso de nossos sentimentos e de nossos juzos e, quando ela fala, nada
pode ficar escondido.
POR QUE, NO PRIMEIRO INSTANTE, TUDO EST CONFUSO NESTA
LINGUAGEM
O carter da ao no analisar. Como ela representa os sentimentos, porque efeito
deles, representa ao mesmo tempo todos aqueles que experimentamos no prprio
instante e as ideias simultneas em nosso pensamento so naturalmente simultneas
nesta linguagem.
Mas uma infinidade de ideias simultneas se distinguiriam apenas na medida em que os
habitussemos a observ-las umas aps as outras, E a este hbito que devemos a
vantagem de diferenci-las imediatamente e com tal facilidade que surpreende os que
no o tm. Por que, por exemplo, um msico distingue na harmonia todas as notas que
ouvimos ao mesmo tempo? que seu ouvido est exercitado a ouvir sons e apreci-los.
Os homens comeam a exprimir a linguagem de ao assim que eles sentem e a
exprimem sem ter o projeto de comunicar seus pensamentos. Eles no formaro o
projeto de exprimi-Ia para se comunicar, a no ser quando perceberem que foram
compreendidos: mas, no princpio, eles no projetam nada, porque no observaram
nada.
Tudo est confuso para eles em sua linguagem, no diferenciaro nada, na medida em
que no tiverem aprendido a fazer a anlise de seus pensamentos.
Mas, embora tudo esteja confuso em sua linguagem, ela contm, no entanto, tudo o que
eles sentem: contm tudo o que diferenciarem quando souberem analisar seus
pensamentos, isto , desejos, temores, juzos, raciocnios, numa palavra, todas as
operaes de que a alma capaz. Enfim, se tudo no estivesse presente, a anlise no
encontraria nada. Vejamos como estes homens aprendero com a natureza a analisar
todas as coisas.
COMO, EM SEGUIDA, A UNGUAGEM SE TORNA UM MTODO
ANALITICO.
Eles tm necessidade de se ajudar mutuamente, portanto cada um deles tem necessidade
de se comunicar e, consequentemente, de compreender a si prprio.
No primeiro instante, eles obedecem natureza e, sem projeto, como acabamos de
notar, exprimem ao mesmo tempo tudo o que eles sentem, porque natural sua ao
exprimir-se desta maneira. No entanto, aquele que escuta com os olhos no conseguir
compreender, se no decompuser esta ao, para nela observar os movimentos um aps
o outro. Mas lhe natural decomp-la e consequentemente a decompe, mesmo sem ter
pensado nisso. Pois, se v na ao ao mesmo tempo todos os movimentos, s v no
primeiro golpe de vista aqueles que o impressionam mais; em segundo, v os outros, em
terceiro, os outros ainda. Portanto, ele os observa sucessivamente e a anlise feita.
Cada um destes homens notar, portanto, cedo ou tarde que s compreende melhor os
outros quando decompe sua ao, e, consequentemente, poder notar que tem
necessidade, para se comunicar, de decompor a sua prpria. Ento, ele se habituar,
pouco a pouco, a repetir os movimentos, um aps o outro, que a natureza o obrigou a
fazer de uma s vez, e a linguagem de ao tornar-se- naturalmente para ele um
mtodo analtico. Chamo um mtodo, porque a sucesso de movimentos no se
processar arbitrariamente e sem regras: pois a ao sendo o efeito das necessidades e
das circunstncias em que nos encontramos, natural que ela se decomponha na ordem
dada pelas necessidades e pelas circunstncias. Embora esta ordem possa variar, e varia,
no pode jamais ser arbitrria. E desta maneira que, num quadro, o lugar de cada
personagem, sua ao e seu carter so determinados, quando o sujeito dado com
todas as suas circunstncias.
Decompondo sua ao, este homem decompe seu pensamento para ele como para os
outros; ele a analisa e se comunica, porque compreende a si prprio.
Como a ao total o quadro de todo o pensamento, as aes parciais tambm so
quadros de ideias que fazem parte dela. Portanto, se ele decompuser ainda suas aes
parciais, decompor igualmente as ideias parciais de que so os signos e formar
continuamente novas ideias distintas.
Este meio, o nico que ele possui para analisar seu pensamento, poder desenvolv-lo
at nos mnimos detalhes: pois, sendo dados os primeiros signos de uma linguagem, s
nos resta consultar a analogia e ela fornecer todos os outros.
No haver, portanto, ideias a que a linguagem de ao no possa se referir e ela se
referir a estas ideias com tanto maior clareza e preciso quanto a analogia se mostrar
mais nitidamente na sequncia de signos que se ter escolhido. Signos absolutamente
arbitrrios no sero entendidos, porque, no havendo anlogos, a acepo de um signo
conhecido no conduzir acepo de um signo desconhecido. Assim, a analogia que
faz todo o artifcio das lnguas: elas so fceis, claras e precisas, proporo que a
analogia se mostrar de uma maneira mais ntida.
Acabo de dizer que h uma lngua inata, ainda que no haja ideias que o sejam. Esta
verdade, que poderia no ter sido aprendida, demonstrada pelas observaes que a
seguem e a explicam.
A linguagem que denomino inata uma linguagem que no aprendemos, porque o
efeito natural e imediato de toda a nossa conformao. Ela exprime ao mesmo tempo o
que sentimos: no um mtodo analtico; no decompe nossas sensaes; evidencia
apenas o que elas contm; no fornece, portanto, ideias.
Quando a linguagem se tornar um mtodo analtico, ento decompor as sensaes e
fornecer ideias: mas, como mtodo, se aprende, e, consequentemente, sob este aspecto,
no inata.
Pelo contrrio, sob qualquer aspecto que se considerar as ideias, nenhuma seria inata. Se
for verdadeiro que elas existem todas em nossas sensaes, no menos verdadeiro que
elas no existem nas ideias, enquanto no soubermos observ-las. Eis o que faz com que
o sbio e o ignorante no se assemelhem nas ideias, ainda que possuindo a mesma
organizao. Assemelham-se na maneira de sentir. Nasceram ambos com as mesmas
sensaes, como com a mesma ignorncia: porm um analisou mais do que o outro.
Ora, se a anlise que fornece as ideias, elas so adquiridas, pois a prpria anlise se
aprende. No h, portanto, ideias inatas.
Raciocina-se mal quando se diz: Esta ideia est em nossas sensaes, portanto temos
esta ideia, mas, no entanto, no se para de insistir neste raciocnio. Porque ningum
havia ainda notado que nossas lnguas so mtodos analticos, apenas no se notava que
s analisamos atravs deles e se ignorava que ns devemos a eles todos os nossos
conhecimentos. Tambm a metafsica de muitos escritores no seno um jargo
ininteligvel para eles como para os outros.
CAPTULO III
Como as lnguas so mtodos analticos. Imperfeio destes mtodos.
AS LINGUAS SO MTODOS ANALITICOS.
Conceber-se- facilmente como as lnguas so mtodos analticos, se tivermos
concebido como a linguagem de ao tambm o e se houvermos compreendido que,
sem esta ltima linguagem, os homens teriam permanecido na impotncia de analisar
seus pensamentos, reconhecer-se-ia que, havendo cessado de exprimi-la, no
analisariam, se no fossem supridos pela linguagem de sons articulados. A anlise no
se faz e no pode se fazer a no ser com signos.
E preciso notar que, se ela no fosse, de imediato, feita com os signos da linguagem de
ao, no seria nunca feita com os sons articulados de nossas lnguas. Com efeito, como
uma palavra teria se tornado o signo de uma ideia, se esta ideia no tivesse podido se
exibir na linguagem de ao? E como esta linguagem a exibiria, se ela no a tivesse
distinguido de todas as outras?
ELAS COMEARAM, COMO TODAS AS INVENES DOS HOMENS,
ANTES QUE SE PROJETASSE FAZ-LAS.
Os homens ignoram tudo o que podem, enquanto que a experincia no lhes fez ver o
que fazem segundo a natureza unicamente. E porque nunca as fizeram intencionalmente
que eles fizeram coisas sem elaborar o projeto de faz-las. Acredito que esta observao
se confirmar sempre e acredito ainda que, se ela no houvesse escapado, raciocinar-se-
ia melhor do que se procede.
Eles s pensaram em fazer anlise depois de haver observado que tinham feito: no
pensaram em falar a linguagem de ao para se comunicar, seno depois de haver
observado que foram compreendidos. Da mesma maneira s pensaram em falar com
sons articulados depois de haver observado que falavam com semelhantes sons e as
lnguas comearam antes que se projetasse faz-las. deste modo que foram poetas,
oradores antes de imaginar s-lo. Numa palavra, tudo o que eles se tornaram, o foram,
no primeiro instante, unicamente pela natureza; e no estudaram para s-lo, a no ser
quando observaram o que a natureza os obrigara a fazer. Ela comeou tudo e sempre
bem; uma verdade que no seria demais repetir.
COMO AS LINGUAS FORAM MTODOS EXATOS.
As lnguas foram mtodos exatos na medida em que se falou de coisas relativas s
primeiras necessidades. Pois, se acontecesse supor numa anlise o que no se devia, a
experincia no poderia deixar de apontar. Corrigir-se-iam, ento, os erros e se falaria
melhor.
Na verdade, as lnguas eram, ento, muito limitadas: mas no se deve acreditar que, por
este motivo, fossem mal feitas; pode acontecer que as nossas sejam piores ainda. Com
efeito, as lnguas no so exatas porque falam de muitas coisas sem muita determinao,
mas porque falam com clareza embora de poucas coisas.
Se, pretendendo aperfeio-las, pudssemos ter continuado como comeamos, no se
teria procurado novas palavras na analogia a no ser quando uma anlise bem feita
tivesse, realmente, trazido novas ideias e as lnguas, sempre exatas, teriam sido mais
ricas.
COMO ELAS SE TORNARAM MTODOS DEFEITUOSOS.
Mal tal no pde acontecer. Como os homens analisam sem saber, s percebem que, se
tivessem ideias exatas, eles as deveriam unicamente anlise. No conheceram,
portanto, toda a importncia deste mtodo, e analisaram menos, medida que a
necessidade de analisar se fazia sentir menos.
Ora, as primeiras necessidades estavam asseguradas, criaram-se outras menos
necessrias: destas se passou s menos necessrias ainda e se chegou gradativamente a
criar necessidades de pura curiosidade, necessidade de opinio, enfim, necessidades
inteis e cada vez mais frvolas.
Ento, sentiu-se cada dia menos a necessidade de analisar: cedo, sentiu-se apenas o
desejo de falar e se falou antes de se possuir ideias do que se queria dizer. Passou o
tempo em que os juzos se colocavam naturalmente prova da experincia. No se tinha
o menor interesse em assegurar se as coisas que se julgavam eram as mesmas que se
supunham. Era comum acreditar sem exames e um juzo, de que se criara um hbito, se
tornava uma opinio de que no se duvidava mais. Estes equvocos deviam ser
frequentes, porque as coisas que se julgavam no haviam sido observadas e,
frequentemente, no podiam s-lo.
Ento um primeiro juzo falso propicia um segundo e, subitamente, surgiu uma
infinidade destes juzos. A analogia conduziu de erro a erro, porque se tornava
consequente.
Eis o que aconteceu aos prprios filsofos. No faz muito tempo que eles aprenderam a
anlise: sabem us-la apenas na matemtica, na fsica e na qumica. Pelo menos, no
conheo quem tenha sabido aplic-la a toda espcie de ideias. Igualmente, nenhum deles
imaginou considerar as lnguas como mtodos analticos.
As lnguas tinham se tornado mtodos bastante defeituosos. No entanto, o comrcio
aproximava os povos, que trocavam, de algum modo, suas opinies e seus preconceitos,
como as produes de seu solo e de sua indstria. As lnguas se confundiam e a
analogia no podia mais guiar o esprito na acepo das palavras. A arte de raciocinar
pareceu ignorada: ter-se-ia afirmado que no era mais possvel aprend-la.
No entanto, se os homens tivessem, no primeiro instante, sido colocados pela natureza
no caminho das descobertas, poderiam, por acaso, reencontr-la ainda alguma vez: mas
eles a reencontravam sem reconhec-la, porque nunca a haviam estudado e se
extraviavam novamente.
SE SE HOUVESSE NOTADO QUE AS LINGUAS SO MTODOS
ANALITICOS, NO TERIA SIDO DIFICIL ENCONTRAR AS REGRAS DA
ARTE DE RACIOCINAR.
Assim se fizeram durante sculos esforos vos para descobrir as regras da arte de
raciocinar. No se sabia onde busc-las e eram procuradas no mecanismo do discurso,
mecanismo que deixava subsistir todos os vcios das lnguas.
Para encontr-las havia apenas um meio: observar nossa maneira de conceber e estud-
las nas faculdades de que nossa natureza nos dotou. Seria preciso notar que as lnguas
no so, na verdade, seno mtodos analticos, mtodos bastante defeituosos hoje, mas
que foram exatos, e que poderiam s-lo ainda. No se viu, porque, no havendo notado
o quanto as palavras nos so necessrias para fazermos ideias de todas as espcies,
acreditou-se que s tinham a vantagem de ser um meio de comunicar nossos
pensamentos. Alm disso, como em muitos nveis, as lnguas pareceram arbitrrias aos
gramticos e aos filsofos, sups-se que elas s tinham regras para o capricho do uso,
isto , que, frequentemente, elas no tm. Ora, todo mtodo sempre possui regras e deve
possu-Ias. No preciso se surpreender se at hoje ningum suspeitou que as lnguas
so mtodos analticos.
CAPTULO IV
Sobre a influncia das lnguas
AS LINGUAS FAZEM NOSSOS CONHECIMENTOS, NOSSAS OPINIES,
NOSSOS PRECONCEITOS.
Desde que as lnguas, formadas medida que as analisamos, se tornaram mtodos
analticos, concebe-se que nos natural pensar segundo os hbitos que provm delas.
Pensamos atravs delas: regras de nossos juzos criam nossos conhecimentos, nossas
opinies, nossos preconceitos. Em suma, criam todo o bem e todo o mal. Sua influncia
tal que no poderia ser de outro modo.
Elas nos desviam porque so mtodos imperfeitos: mas, desde que so mtodos, no so
imperfeitos em todos os nveis e nos conduzem bem algumas vezes. No h ningum
que, com a ajuda nica de hbitos contrados em sua lngua, no seja capaz de fazer
bons raciocnios. desta maneira que todos comeamos e vemos frequentemente
homens sem estudo raciocinar melhor que outros que muito estudaram.
AS LINGUAS DAS CINCIAS NO SO FEITAS DE MODO MELHOR.
Desejaramos que os filsofos tivessem presidido a formao das lnguas e
acreditaramos que elas teriam sido feitas de modo melhor. Para isso, seria preciso que
fossem filsofos diferentes daqueles que conhecemos. E verdade que se fala com
preciso em matemtica, porque a lgebra, obra de gnio, uma lngua que no poderia
fazer-se mal. E verdade ainda que algumas partes da fsica e da qumica foram tratadas
com igual preciso por uma minoria de espritos excelentes feitos para observar bem.
Alm disso, no vejo que as lnguas das cincias tenham alguma vantagem. Elas
possuem os mesmos defeitos que as outras e maiores ainda. Falamo-las muito
frequentemente sem nada dizer: frequentemente ainda as falamos apenas para dizer
absurdos e, em geral, no parece que as falamos com o intuito de comunicar.
AS PRIMEIRAS LINGUAS VULGARES FORAM MAIS PRPRIAS PARA O
RACIOCNIO.
Imagino que as primeiras lnguas vulgares foram mais prprias para o raciocnio: pois a
natureza, que presidia sua formao, comeara bem. A gerao das ideias e das
faculdades da alma devia ser sensvel nestas lnguas, quando a primeira acepo de uma
palavra era conhecida e quando a analogia fornecia todas as outras. Reencontravam-se
nos nomes ideias que escapavam aos sentidos, os prprios nomes das ideias sensveis de
onde provinham, e, ao invs de v-las como nomes prprios destas ideias, as vamos
como expresses figuradas que apontavam sua origem. Ento, por exemplo, no se
perguntava se a palavra substncia significava algo mais do que aquilo que est sob; se
a palavra pensamento significava algo mais do que pesar, ponderar, comparar. Em
suma, no se imaginaria fazer as perguntas que fazem hoje os metafsicos: as lnguas,
que respondiam antecipadamente a todas, no permitiriam faz-las e no existia m
metafsica.
A boa metafsica comeou antes das lnguas e a ela que as lnguas devem o que
melhor possuem. Mas esta metafsica era menos uma cincia do que um instinto. A
natureza conduzia os homens sem que soubessem e a metafsica s se tornou cincia
quando cessou de ser boa.
FORAM SOBRETUDO OS FILSOFOS QUE FIZERAM A DESORDEM NA
LINGUAGEM.
Uma lngua seria superior se o povo que a fizesse cultivasse as artes e as cincias sem
nada pedir a outra lngua: pois a analogia, nesta lngua, acusaria o progresso sensvel
dos conhecimentos e no se teria necessidade de procurar a histria alhures. Esta seria
uma lngua verdadeiramente sbia, s ela o seria. Mas, quando so um conglomerado de
lnguas estrangeiras, confundem tudo: a analogia no pode mais fazer perceber, nas
diferentes acepes das palavras, a origem e a gerao dos conhecimentos, no sabemos
mais colocar a preciso nos discursos, no a imaginamos; fazemos perguntas ao acaso,
respondemo-las da mesma maneira; abusamos continuamente das palavras e at
opinies estranhas encontram partidrios.
So os filsofos que conduziram as coisas a este estado de desordem. Quanto pior
falavam, mais queriam falar: falavam to mal que, quando lhes acontecia de pensar
como todos, cada um queria ostentar uma maneira de pensar que fosse somente sua.
Sutis, singulares, visionrios, ininteligveis, frequentemente pareciam temer de no ser
demasiado obscuros e ocultavam seus conhecimentos verdadeiros ou pretensos. Assim a
linguagem da filosofia foi um jargo durante sculos.
Afinal, este jargo foi banido das cincias. Foi banido, digo, mas ele no se baniu a si
prprio: ele procura sempre um asilo, disfarando-se sob novas formas, e os melhores
espritos tm dificuldade em lhe barrar a entrada. Mas, afinal, as cincias fizeram
progressos, porque os filsofos observaram melhor e colocaram em sua linguagem a
preciso e a exatido que haviam colocado em suas observaes. Corrigiram a lngua
em muitos nveis e raciocinou-se melhor.
E desta maneira que a arte de raciocinar seguiu todas as variaes da linguagem e o
que no podia deixar de acontecer.
CAPTULO V
Consideraes sobre as ideias abstratas e gerais ou como a arte de raciocinar se
reduz a uma lngua bem feita
AS IDEIAS ABSTRATAS E GERAIS SO APENAS DENOMINAES.
As ideias gerais, de que explicamos a formao, participam da ideia total de cada um
dos indivduos aos quais convm e so consideradas, por este motivo, ideias parciais. A
de homem, por exemplo, participa das ideias totais de Pedra e de Paulo, j que a
encontramos tanto em Pedra como em Paulo.
No h homem em geral. Esta ideia parcial no tem realidade fora de ns: mas tem em
nosso esprito, onde ela existe separadamente das ideias totais ou individuais das quais
participa.
Ela tem uma realidade em nosso esprito apenas porque a consideramos como separada
de cada ideia individual e, por esse motivo, a denominamos abstrata: pois abstrato no
significa outra coisa do que separado.
Todas as ideias gerais so, portanto, ideias abstratas e s as formamos tomando de cada
ideia individual o que comum para todos.
Mas o que no fundo a realidade seno uma ideia geral e abstrata que existe em nosso
esprito? E apenas um nome ou, se algo mais, cessa necessariamente de ser abstrata e
geral.
Quando, por exemplo, penso em homem, posso considerar nesta palavra apenas uma
denominao comum: em tal caso, bem evidente que minha ideia est, de alguma
maneira, circunscrita neste nome, que no se estende alm, e que, consequentemente,
apenas este prprio nome.
Se, pelo contrrio, pensando em homem, considera nesta palavra algo mais do que uma
denominao, que, com efeito, me represento um homem; e um homem, em meu
esprito como na natureza, no poderia ser o homem abstrato e geral.
As ideias abstratas so portanto apenas denominaes. Se quisssemos supor outra
coisa, assemelhar-nos-amos a um pintor que se obstinasse em querer pintar o homem
em geral e que, no entanto, no pintaria seno indivduos.
CONSEQUENTEMENTE, A ARTE DE RACIOCINAR SE REDUZ A UMA
LINGUA BEM FEITA.
Esta observao sobre as ideias abstratas e gerais demonstra que sua clareza e sua
preciso dependem unicamente da ordem na qual fizemos as denominaes de classes e
que, consequentemente, para determinar estas espcies de ideias, h apenas um meio:
fazer bem a lngua.
Ela confirma o que j havamos demonstrado, o quanto as palavras nos so necessrias:
pois, se no tivssemos denominaes, no teramos ideias abstratas; se no tivssemos
ideias abstratas, no teramos nem gneros nem espcies; e, se no tivssemos nem
gneros nem espcies, no poderamos raciocinar sobre nada. Ora, se raciocinamos
apenas com a ajuda destas denominaes, uma nova prova de que s raciocinamos
bem ou mal com a ajuda destas denominaes, uma nova prova de que s
raciocinamos bem ou mal porque nossa lngua est bem ou mal feita. A anlise s nos
ensinar, portanto, a raciocinar na medida em que nos ensinar a determinar as ideias
abstratas e gerais; ensinar nos a fazer bem nossa lngua e toda arte de raciocinar se reduz
arte de falar bem.
Falar, raciocinar, fazer-se ideias gerais ou abstratas ento, no fundo, a mesma coisa e
esta verdade, por simples que seja, poderia passar por uma descoberta. Certamente, no
se duvidou disso, manifesta-se na maneira pela qual se fala e se raciocina, manifesta-se
pelo abuso que se faz das ideias gerais, manifesta-se, enfim, pelas dificuldades que
acreditam encontrar para conceber ideias abstratas aqueles que tm to poucas ideias
abstratas para comunicar.
A arte de raciocinar s se reduz a uma lngua bem feita, porque a ordem em nossas
ideias apenas a subordinao dos nomes dados aos gneros e s espcies; e, desde que
s temos novas ideias porque formamos novas classes, evidente que s determinamos
as ideias na medida em que determinamos as prprias classes. Ento raciocinaremos
bem, porque a analogia nos conduzir em nossos juzos como na inteligncia das
palavras.
ESTA VERDADE BEM CONHECIDA NOS PRECAVER DE MUITOS
ERROS.
Convencido de que as classes so apenas denominaes, s imaginaremos que existem
na natureza gneros e espcies e s veremos nestas palavras gneros e espcies, uma
maneira de classificar as coisas segundo suas relaes conosco e entre si.
Reconheceremos que s podemos descobrir estas relaes e no pretenderemos dizer o
que so. Evitaremos, consequentemente, muitos erros. Se notarmos que todas estas
classes s nos so necessrias porque temos necessidade, ao fazer ideias distintas, ao
decompor os objetos que queremos estudar, reconheceremos no somente a limitao de
nosso esprito, veremos onde esto os limites e no pensaremos em ultrapass-los. No
nos perderemos em indagaes vs: ao invs de procurar o que no podemos encontrar,
encontraremos o que estar a nosso alcance. Ser preciso para isso apenas formar ideias
exatas: o que saberemos sempre fazer, quando soubermos nos servir das palavras.
Ora, saberemos nos servir das palavras quando, ao invs de procurar essncias que no
podemos nelas colocar, apenas procuraremos o que ns nelas colocamos, as relaes das
coisas conosco e entre si.
Saberemos servir-nos delas quando, considerando-as em relao limitao de nosso
esprito, as olharmos como um meio de que temos necessidade para pensar. Ento
sentiremos que a maior analogia deve determinar a escolha, que deve determinar todas
as acepes, e nos limitaremos ao nmero de palavras de que temos necessidade. No
nos perderemos entre distines frvolas, divises, subdivises sem fim e palavras
estrangeiras que se tornam brbaras em nossa lngua.
Enfim, saberemos servir-nos das palavras, quando a anlise nos tiver feito contrair o
hbito de procurar a primeira acepo em seu primeiro emprego e todas as outras na
analogia.
A ANLISE QUE FAZ AS LINGUAS E QUE CRIA AS ARTES E AS
CINCIAS.
E apenas anlise que devemos o poder de abstrair e de generalizar. Ela faz as lnguas,
d-nos, portanto, ideias exatas de todas as espcies. Em suma, por ela que nos
tornamos capazes de criar as artes e as cincias, Ou melhor, ela que as criou. Fez todas
as descobertas e tivemos apenas que segui-la. A imaginao, pela qual atribumos todos
os talentos, no seria nada sem a anlise.
Ela no seria nada! Engano-me: seria uma fonte de opinies, de preconceitos, de erros e
s construiramos sonhos extravagantes, se a anlise no a regulasse algumas vezes.
Com efeito, os escritores que tm apenas a imaginao fazem outra coisa?
O caminho que a anlise desenha marcado por uma sequncia de observaes bem
feitas e caminhamos por ele com um passo seguro, porque sabemos sempre onde
estamos e porque vemos sempre aonde vamos. Alm disso, a anlise nos ajuda com
tudo o que nos pode ser de alguma valia.
Nosso esprito to fraco em si prprio encontra nela alavancas de toda espcie e observa
os fenmenos da natureza, de alguma maneira, como se os regulasse.
SEGUNDO A ANLISE QUE PRECISO PROCURAR A VERDADE E NO
SEGUNDO A IMAGINAO.
Mas, para julgar bem o que lhe devemos, preciso conhec-la bem, de outra maneira
sua obra nos parecer com a da imaginao. Porque as ideias que denominamos
abstratas cessam de passar pelos sentidos acreditaramos que elas no provenham deles,
e porque no veremos o que elas podem ter de comum com nossas sensaes
imaginaremos que so outra coisa. Preocupados com este erro no veramos sua origem
e sua gerao: ser-nos-ia impossvel ver o que elas so e no entanto acreditaramos v-
lo, teramos apenas vises. Algumas vezes as ideias seriam seres que possuem por si
prprios uma existncia na alma, seres inatos, ou seres acrescentados sucessivamente ao
seu ser; outras vezes, sero seres que existem apenas em Deus e que s vemos nele.
Semelhantes sonhos nos desviariam necessariamente do caminho das descobertas, s
nos conduziriam de erro em erro. Eis, no entanto, os sistemas que a imaginao faz:
quando os adotamos uma vez, no nos mais possvel possuir uma lngua bem feita e
estamos condenados a raciocinar quase sempre mal, porque raciocinamos mal sobre as
faculdades de nosso esprito.
No assim que os homens, como j notamos, se conduziam ao sair das mos do autor
da natureza. Ainda que procurassem sem saber o que procuravam, procuravam bem e
encontravam frequentemente sem se aperceber que haviam encontrado. E que as
necessidades que o autor da natureza lhes havia dado e as circunstncias onde os havia
colocado os obrigavam a observar e os advertiam frequentemente de no imaginar. A
anlise, que fazia a lngua, a fazia bem, porque determinava sempre o sentido das
palavras e a lngua, que no era rica, mas que era bem feita, conduzia s descobertas
mais necessrias. Infelizmente os homens no souberam observar como se instruram.
Dir-se-ia que no foram capazes de fazer bem o que faziam sem saber e os filsofos,
que deveriam procurar com mais clareza, procuravam frequentemente para nada
encontrar ou para se extraviar.
CAPTULO VI
Quanto se enganam aqueles que olham as definies como o nico meio para
remediar os abusos de linguagem
AS DEFINIES SE LIMITAM A MOSTRAR AS COISAS: E NO SE SABE O
QUE SE QUER DIZER, QUANDO SO TOMADAS POR PRINCIPIOS.
Os vcios das lnguas so sensveis, sobretudo nas palavras onde a acepo no est
determinada ou que no tm sentido. Como soluo, porque existem palavras que
podem ser definidas, pretendeu-se definir todas. Consequentemente, as definies foram
consideradas como a base da arte de raciocinar.
UM TRINGULO UMA SUPERFICIE DETERMINADA POR TRES
LINHAS.
Eis uma definio. Se ela d ao tringulo uma ideia sem a qual seria impossvel
determinar suas propriedades, segue-se que, para descobrir as propriedades de uma
coisa, preciso analis-la, e, para analis-la, preciso v-la. Semelhantes definies
mostram as coisas que se quer analisar e tudo o que elas fazem. Nossos sentidos nos
mostram da mesma maneira os objetos sensveis e os analisamos, apesar de no
podermos defini-los. Portanto, a necessidade de definir apenas a necessidade de ver as
coisas sobre as quais se quer raciocinar e, se fosse possvel ver sem definir, as
definies se tornariam inteis. Seria o mais comum.
Sem dvida, para estudar uma coisa, preciso que eu a veja: mas, quando a vejo, s
tenho que analis-la. Logo que eu descubra as propriedades de uma superfcie
determinada por trs linhas, s a anlise vai ser o princpio de minhas descobertas, se
quisermos princpios. Esta definio s me mostra que o tringulo o objeto de minhas
buscas, assim como meus sentidos me mostram os objetos sensveis. Que significa esta
linguagem: As definies so princpios? Significa que preciso comear por ver as
coisas para estud-las e que preciso v-las tais como so. Significa apenas isto e, no
entanto, se acredita dizer algo mais.
Princpio sinnimo de comeo e com este sentido que foi empregado desde o
primeiro instante: mas, em seguida, pela fora do hbito, se serviu dele maquinalmente,
sem ligar ideias, e se tiveram princpios que no so o comeo de nada.
Direi que nossos sentidos so o princpio de nossos conhecimentos, porque nos
sentidos que eles comeam, e terei dito algo compreensvel. No acontecer a mesma
coisa se disser que uma superfcie determinada por trs linhas o princpio de todas as
propriedades do tringulo, porque todas as propriedades do tringulo comeam por uma
superfcie determinada por trs linhas. Pois gostaria igualmente de dizer que todas as
propriedades de uma superfcie determinada por trs linhas comeam por uma
superfcie determinada por trs linhas. Em suma, esta definio no me ensina nada:
apenas mostra uma coisa que conheo e de que s a anlise pode me desvendar as
propriedades.
As definies se limitam, portanto, a mostrar as coisas: mas no as ilustram sempre com
a mesma clareza. A alma uma substncia que sente uma definio que mostra a alma
de modo imperfeito a todos aqueles a quem a anlise ensinou que todas as faculdades
so, no princpio ou no comeo, apenas a faculdade de sentir. No por semelhante
definio que seria preciso comear a tratar da alma: pois, ainda que todas as suas
faculdades sejam no princpio apenas sentir, esta verdade no um princpio ou um
comeo para ns, se, ao invs de ser um primeiro conhecimento, fosse o derradeiro.
Ora, ela o derradeiro, desde que um resultado dado pela anlise.
RARO QUE SE POSSAM FAZER DEFINIES.
Prevenidos de que preciso definir tudo, os gemetras frequentemente fazem esforos
vos e procuram definies que eles no encontram. Tal , por exemplo, a definio da
linha reta: pois dizer com eles que ela a linha mais curta de um ponto a outro no
conhec-la, supor que j seja conhecida. Ora, na sua linguagem, uma definio, sendo
um princpio, no deve supor que a coisa seja conhecida. Eis um obstculo onde
fracassam todos os construtores de elementos, para grande escndalo de alguns
gemetras, que se lamentam no ter dado ainda uma boa definio da linha reta e que
parecem ignorar que no se deve definir o que indefinvel. Mas, se as definies se
limitam a nos mostrar as coisas, que importa que seja antes ou depois que as
conheamos? Parece-me que o ponto essencial conhec-las.
Ora, estaramos convencidos de que o nico meio de conhec-las analis-las, se
tivssemos percebido que as melhores definies so anlises. A do tringulo, por
exemplo, uma: pois, certamente, para dizer que ele uma superfcie determinada por
trs linhas, foi preciso observar, um aps o outro, os lados desta figura e cont-los. E
verdade que esta anlise se faz de alguma maneira primeira vista, porque contamos
rapidamente at trs. Mas uma criana no contaria assim to depressa, e, no entanto,
analisaria o tringulo to bem quanto ns. Ela o analisaria lentamente, assim como
definiramos ou analisaramos uma figura com um grande nmero de lados a serem
contados.
No dizemos que preciso, em nossas buscas, ter como princpios definies: dizemos
simplesmente que preciso comear bem, isto , ver as coisas tais como so, e
acrescentamos que, para v-las desta maneira, preciso sempre comear por anlises.
Exprimindo-nos desta maneira, falaremos com mais preciso e no teremos dificuldade
em procurar definies que no se encontram. Saberemos, por exemplo, que, para
conhecer uma linha reta, no absolutamente necessrio defini-Ia da maneira dos
gemetras e que basta observar como adquirimos a ideia dela.
ESFOROS VOS DAQUELES QUE TM A MANIA DE DEFINIR TUDO.
Porque a geometria uma cincia que se denomina exata, acreditou-se que, para tratar
bem todas as outras cincias, havia apenas que imitar os gemetras, e a mania de definir
sua maneira se tornou a mania de todos os filsofos, ou daqueles que se tomam como
tais. Abramos um dicionrio da lngua, veremos que em cada artigo se quer fazer
definies e se malogra.
Os melhores supem, como na da linha reta, que a significao conhecida, ou, se no
supem nada, no so compreensveis.
AS DEFINIES SO INOTEIS PORQUE A ANLISE QUE DETERMINA
NOSSAS IDEIAS.
Ou nossas ideias so simples, ou so compostas. Se forem simples, no sero definveis:
um gemetra o tentaria inutilmente, fracassaria como no caso da linha reta. Mas, ainda
que elas no possam ser definidas, a anlise nos mostrar sempre como as adquirimos,
porque mostrar de onde provm e como chegam a ns.
Se uma ideia composta, s a anlise pode desvend-la, s ela pode, decompondo-a,
mostrar-nos todas as ideias parciais. Assim, quaisquer que sejam nossas ideias, s a
anlise pode determin-las de uma maneira clara e precisa.
No entanto, permanecero sempre ideias indeterminveis, ou que, pelo menos, no ser
fcil determinar segundo a vontade de todos. Isto se d porque os homens, no
concordando em comp-las da mesma maneira, fizeram com que as ideias se tornassem
necessariamente indeterminadas. Tal , por exemplo, a ideia que designamos pela
palavra esprito. Porm, ainda que a anlise no possa determinar o que compreendemos
por uma palavra que no compreendemos todos da mesma maneira, ela determinar
tudo o que possvel compreender por esta palavra, sem impedir todavia que cada um
compreenda o que quiser, como acontece. Isto , ser-lhe- mais fcil corrigir a lngua do
que a ns prprios.
Mas, afinal, somente ela que corrigir tudo o que pode ser corrigido, porque somente
ela que pode nos fazer conhecer a gerao de todas as nossas ideias. Tambm os
filsofos se extraviaram prodigiosamente quando abandonaram a anlise e quando
acreditaram substitu-la por definies. Extraviaram-se cada vez mais, porque no
souberam dar ainda uma boa definio da prpria anlise. Pelos esforos que fizeram
para explicar este mtodo, dir-se-ia que h bastante mistrio para decompor um todo em
suas partes e recomp-lo: no entanto, basta observar sucessivamente e com ordem.
Vejam, na Enciclopdia, a palavra Anlise.
A SINTESE, MTODO TENEBROSO.
a sntese que conduziu mania das definies. Este mtodo tenebroso comea sempre
por onde preciso acabar e, no entanto, se chama mtodo de doutrina.
No darei uma noo mais precisa, seja porque no o compreendo, seja porque no
possvel compreend-lo. Ele escapa cada vez mais quando toma todos os caracteres dos
espritos que queiram empreg-lo e sobretudo dos espritos falsos. Eis como um escritor
clebre explica este tema. Afinal, diz ele, estes dois mtodos (a anlise e a sntese)
diferem como o caminho que se faz subindo de um vale para uma montanha e aquele
que se faz descendo da montanha para o vale. Por esta linguagem, vejo apenas que l
esto dois mtodos contrrios e que, se um bom, o outro mau. Com efeito, s se
pode caminhar do conhecido ao desconhecido. Ora, se o desconhecido est sobre a
montanha, no ser descendo que se atingir; se estiver no vale, no ser subindo. No
pode, ento, haver dois caminhos contrrios para nele chegar. Semelhantes opinies no
merecem uma crtica mais sria.
Supomos que prprio da sntese compor nossas ideias e que prprio da anlise
decomp-las. Eis por que o autor da Lgica acredita demonstr-los, quando diz que um
conduz do vale montanha e o outro da montanha ao vale. Mas, ainda que se raciocine
bem ou mal, preciso necessariamente que o esprito suba e desa alternadamente, ou,
mais simplesmente, lhe to essencial compor quanto decompor, porque uma sequncia
de raciocnios e s pode ser uma sequncia de composies e decomposies.
prprio, portanto, da sntese decompor e compor, prprio da anlise compor e
decompor. Seria absurdo imaginar que estas duas coisas se excluem e que se poderia
raciocinar proibindo tanto toda composio quanto toda decomposio. No que, ento,
diferem estes dois mtodos? Em que a anlise comea sempre bem e que a sntese
comea sempre mal. Aquela, sem afetar a ordem, a possui naturalmente, porque o
mtodo da natureza: esta, que no conhece a ordem natural, porque o mtodo dos
filsofos, a afeta bastante fatigando o esprito sem esclarec-lo. Em suma, a verdadeira
anlise, a anlise que deve ser preferida, a que, comeando pelo comeo, mostra na
analogia a formao da lngua e na formao da lngua os progressos das cincias.
CAPTULO VII
O quanto o raciocnio simples quando a prpria lngua simples
ERROS DAQUELES QUE PREFEREM A SINTESE ANLISE.
Ainda que a anlise seja o nico mtodo, os prprios matemticos, sempre prestes a
abandon-lo, parecem s utiliz-lo quando se veem obrigados. Preferem a sntese,
porque a consideram mais simples e mais curta, porm seus escritos so mais confusos e
maiores.
Acabamos de ver que esta sntese precisamente o contrrio da anlise. Ela nos coloca
fora do caminho das descobertas e, no entanto, o maior nmero de matemticos imagina
que este mtodo o mais prprio para a instruo. Eles acreditam tanto neste mtodo,
que no querem que se sigam outros em seus livros elementares.
Clairaut pensou de modo diferente. No sei se MM. Euler e La Grange disseram o que
eles pensaram a este respeito: mas procederam como se o houvessem feito, pois, em
seus elementos de lgebra, s seguiram o mtodo analtico.
A adeso destes matemticos importante. preciso, ento, que os outros estejam
profundamente comprometidos com a sntese, para se persuadir que a anlise, mtodo
de inveno, no ainda o mtodo de doutrina, e que h, para apreender as descobertas
de outros, um meio prefervel quele que nos levaria a faz-las.
Se a anlise , em geral, banida das matemticas todas as vezes que se pode utilizar a
sntese, evidente que seu acesso foi interditado em todas as outras cincias e que, se
ela se introduz, somente o faz sub-repticiamente, Eis por que, entre tantas obras de
filsofos antigos ou modernos, existem to poucas que sejam feitas para instrurem. A
verdade raramente reconhecvel quando a anlise no a mostra, e quando, pelo
contrrio, a sntese a envolve num conglomerado de noes vagas, opinies, erros, cria-
se um jargo que se toma como a lngua das artes e das cincias.
TODAS AS CINCIAS SERIAM EXATAS SE FALASSEM UMA LINGUA
SIMPLES.
Por pouco que se reflita sobre a anlise, saberemos que ela deve difundir mais clareza
proporo que for mais simples e mais precisa, e, se lembrarmos que a arte de raciocinar
se reduz a uma lngua bem feita, julgaremos que a maior simplicidade e a maior
preciso da anlise s so efeito da maior simplicidade e da maior preciso da
linguagem. f preciso, ento, fazermos uma ideia desta simplicidade e desta preciso, a
fim de nos aproximarmos dela em todos os nossos estudos o quanto for possvel.
Denominam-se cincias exatas as que se demonstram rigorosamente. Por que, ento,
todas as cincias no so exatas? E se o forem, as que no se demonstram
rigorosamente, como se demonstram? Sabe-se, ento, o que se quer dizer, quando se
supem demonstraes que, rigorosamente, no so demonstraes?
Uma demonstrao no uma demonstrao, ou o rigorosamente. Mas preciso
convir que, se ela no fala a lngua que deve falar, ela no parecer o que . Desta
maneira, no defeito das cincias se no demonstram rigorosamente: defeito dos
sbios que falam mal.
A lngua das matemticas, a lgebra, a mais simples de todas as lnguas. Haver,
ento, demonstraes apenas nas matemticas? E porque as outras cincias no podem
almejar a mesma simplicidade, estaro elas condenadas a no poderem ser
suficientemente simples para convencer que demonstram o que demonstram?
E a anlise que demonstra em todas as cincias e demonstra todas as vezes que fala a
lngua que deve falar. Sei que se distinguem espcies diferentes da anlise - anlise
lgica, anlise metafsica, anlise matemtica -, mas h apenas uma e a mesma em
todas as cincias, porque, em todas, conduz do conhecido ao desconhecido pelo
raciocnio, isto , por uma sequncia de juzos que esto contidos uns nos outros.
Construiremos uma ideia da linguagem que ela deve ter se tentarmos resolver um dos
problemas que se resolvem comumente apenas com a ajuda da lgebra. Escolheremos
um dos mais fceis, porque estar mais ao nosso alcance: alm disso, ele bastar para
desenvolver todo o artifcio do raciocnio.
PROBLEMA PROBANTE.
Tendo fichas em minhas duas mos, se passar uma da minha mo direita para a
esquerda terei tanto em uma quanto na outra, e se passo uma da esquerda para a direita
terei o dobro nesta. Pergunto qual o nmero de fichas que tenho em cada uma.
No se trata de adivinhar este nmero fazendo suposies: preciso encontr-lo
raciocinando, indo do conhecido ao desconhecido por uma sequncia de juzos.
H aqui duas condies dadas ou, para falar como os matemticos, existem dois dados:
um, que, se eu passar uma ficha da mo direita para a esquerda, terei o mesmo nmero
em cada uma; o outro, que, se eu passar uma ficha da esquerda para a direita, terei o
dobro nesta. Ora, veremos que, se possvel encontrar o nmero que dou para procurar,
s pode ser observando as relaes em que estes dois dados esto um para o outro e
conceberemos que estas relaes sero mais ou menos sensveis, na medida em que os
dados forem expressos de uma maneira mais ou menos simples.
Se dissermos: O nmero que temos na mo direita, quando se suprime uma ficha,
igual quele que temos na mo esquerda, quando a esta se acrescenta uma,
exprimiremos o primeiro dado com muitas palavras. Dizemos, ento, mais
economicamente: O nmero de nossa mo direita, diminudo de uma unidade, igual
quela de nossa esquerda, aumentado de uma unidade, ou, o nmero de nossa direita,
menos uma unidade, igual ao de nossa esquerda, mais uma unidade, ou, afinal, mais
economicamente ainda, a direita, menos um, igual esquerda, mais um.
E desta maneira que, de traduo em traduo, chegamos expresso mais simples do
primeiro dado. Ora, quanto mais nosso discurso se abreviar, mais nossas ideias se
aproximaro, e quanto mais elas se tiverem aproximado, mais fcil ser apreend-las
sob todas as suas relaes. Resta-nos ento tratar o segundo dado como o primeiro,
preciso traduzi-lo na expresso mais simples.
Pela segunda condio do problema, se eu passar uma ficha da esquerda para a direita,
terei o dobro nesta. Portanto, o nmero de minha mo esquerda diminudo de uma
unidade a metade do de minha mo direita, aumentado de uma unidade, e,
consequentemente, exprimiremos o segundo dado dizendo: O nmero de nossa mo
direita, aumentado de uma unidade, igual a duas vezes o de nossa esquerda, diminudo
de uma unidade.
Traduziremos esta expresso numa outra mais simples, se dissermos: direita,
aumentada de uma unidade, igual a duas esquerdas, diminudas cada uma de uma
unidade, e chegaremos a esta expresso, a mais simples de todas, direita, mais uma,
igual a duas esquerdas, menos dois. Eis, ento, as expresses nas quais traduzimos os
dados:
direita, menos um, igual esquerda, mais um.
direita, menos um, igual a duas esquerdas, menos dois.
Estas expresses se denominam em matemtica equaes. Elas so compostas de dois
membros iguais: direita, menos um o primeiro membro da primeira equao;
esquerda, mais um o segundo.
As quantidades desconhecidas esto misturadas, em cada um destes membros, com as
quantidades conhecidas. As conhecidas so menos um, mais um, menos dois: as
desconhecidas so a direita e a esquerda, por onde exprimimos os dois nmeros que
procuramos.
Enquanto os conhecidos e os desconhecidos estiverem desta maneira misturados em
cada membro das equaes, no ser possvel resolver o problema. Mas no preciso
um grande esforo de reflexo para notar que, se h um meio de transportar as
quantidades de um membro no outro sem alterar a igualdade que existe entre eles,
podemos, deixando num membro apenas uma das duas desconhecidas, desprend-la das
conhecidas com as quais ela est misturada.
Este meio se oferece por si prprio: pois, se a direita menos um igual esquerda mais
um, a direita inteira ser igual esquerda mais dois, e se a direita mais um igual a duas
esquerdas menos dois, s a direita ser igual a duas esquerdas menos trs.
Substituiremos as duas primeiras equaes com as duas seguintes:
A direita igual esquerda mais dois.
A direita igual a duas esquerdas menos trs.
O primeiro membro destas duas equaes a mesma quantidade, a direita, e vejam que
conheceremos esta quantidade quando conhecermos o valor do segundo membro de
uma ou de outra equao. Mas o segundo membro da primeira igual ao segundo
membro da segunda, pois so iguais um e outro mesma quantidade expressa pela
direita. Podemos, consequentemente, fazer esta terceira equao:
esquerda, mais dois, igual a duas esquerdas menos trs.
Ento, resta-nos apenas uma desconhecida, esquerda, e conheceremos seu valor
quando a tivermos desprendido, isto , quando tivermos passado todas as conhecidas
para o mesmo lado. Diremos, ento:
Dois mais trs igual a duas esquerdas menos uma esquerda.
Dois mais trs igual a uma esquerda.
Cinco igual a uma esquerda.
O problema est resolvido. Descobrimos que o nmero de fichas que tenho na minha
mo esquerda cinco. Nas equaes, a direita igual esquerda mais dois, a direita igual
a duas esquerdas menos trs, descobriremos que sete o nmero que possuo na minha
mo direita. Ora, estes dois nmeros, cinco e sete, satisfazem as condies do
problema.
SOLUO DESTE PROBLEMA COM SIGNOS ALGBRICOS.
Vemos nitidamente neste exemplo como a simplicidade das expresses facilita o
raciocnio e compreendemos que se a anlise tem necessidade de uma linguagem
similar, quando um problema to fcil quanto aquele que acabamos de resolver, ela
tem mais necessidade ainda quando os problemas se complicam. Assim, a vantagem da
anlise em matemtica provm de que ela fala a lngua mais simples. Uma ligeira ideia
da lgebra bastar para faz-lo compreender.
Nesta lngua, no se tem necessidade de palavras. Exprime-se mais por +, menos por -,
igual por = e se designam as quantidades por letras e por cifras. x, por exemplo, ser o
nmero de fichas que tenho em minha mo direita, e y o que tenho em minha mo
esquerda. Assim x - J = y + J significa que o nmero de fichas que tenho em minha mo
direita, diminudo de uma unidade, igual quele que tenho em minha mo esquerda,
aumentado de uma unidade, e x + 1 = 2y - 2 significa que o nmero de minha mo
direita, aumentado de uma unidade, igual a duas vezes o de minha mo esquerda,
diminudo de uma unidade. Os dois dados de nosso problema esto portanto encerrados
nestas duas equaes: x-1 = y + 1 e x + J = 2y - 2, que se tornam, desprendendo o
desconhecido do primeiro membro, x = y + 2 e x = 2y - 3.
Dos dois ltimos membros destas duas equaes faremos y + 2 = 2y - 3, que se tornam
sucessivamente 2 = 2y - y - 3 .'. 2 + 3 = 2y y .'. 2 + 3 = y .'. 5 = y.
Enfim, de x = y + 2 tiramos x = 5 + 2 = 7, e de x = 2y - 3 tiramos igualmente x = 10 - 3
= 7.
A EVIDNCIA DE UM RACIOCINIO CONSISTE UNICAMENTE NA
IDENTIDADE QUE SE MOSTRA DE UM JUIZO PARA O OUTRO.
Esta linguagem algbrica faz perceber de uma maneira ntida como os juzos esto
ligados uns aos outros num raciocnio. Vemos que o ltimo est encerrado no
penltimo, o penltimo no que o precede e assim por diante, elevando-se, porque o
ltimo idntico com o penltimo, o penltimo com o que o precede, etc., e se
reconhece que esta identidade faz toda a evidncia do raciocnio.
Quando um raciocnio se desenvolve com palavras, a evidncia consiste igualmente na
identidade que ntida de um juzo para o outro. Com efeito, a sequncia de juzos a
mesma e apenas a expresso que muda. preciso somente notar que a identidade se
percebe mais facilmente e quando enunciada com signos algbricos.
Mas, para que a identidade se perceba mais ou menos facilmente, basta que ela se
mostre, para ficar assegurado que um raciocnio uma demonstrao rigorosa. No
preciso imaginar que as cincias no o sejam exatas e que no se demonstre
rigorosamente a no ser quando se fala com x, a e b. Se algumas vezes no parecem
suscetveis de demonstrao, porque se acostumou a fal-las antes de haver feito a
lngua e sem mesmo duvidar que seja necessrio faz-la: pois todas teriam a mesma
exatido, se as falssemos mediante lnguas bem feitas. E desta maneira que tratamos a
metafsica na primeira parte desta obra. Explicamos, por exemplo, a gerao das
faculdades da alma somente porque vimos que so inteiramente idnticas faculdade de
sentir e nossos raciocnios feitos com palavras so to rigorosamente demonstrados
quanto os feitos com letras.
AS CINCIAS POUCO EXATAS SO AQUELAS CUJAS LINGUAS SO MAL
FEITAS.
Se h cincias pouco exatas, no porque no existe lgebra nelas, porque as lnguas a
utilizam mal. No percebemos este fato e quando duvidamos dele refazemos as lnguas
pior ainda. Devemo-nos surpreender que no se saiba raciocinar, quando a lngua das
cincias somente um jargo composto de muitas palavras, onde umas so palavras
vulgares que no tm sentido determinado e outras so palavras estrangeiras ou brbaras
que se compreendem mal? Todas as cincias seriam exatas, se soubssemos falar a
lngua de cada uma.
Tudo confirma o que j provamos, que as lnguas so mtodos analticos, que o
raciocnio s se aperfeioa se elas se aperfeioarem e que a arte de raciocinar, reduzida
sua maior simplicidade, s pode ser uma lngua bem feita.
A ALGEBRA APENAS UMA LINGUA.
Como os matemticos, direi que a lgebra uma espcie de lngua: digo que uma
lngua e que no pode ser outra coisa. Vimos, no problema que acabamos de resolver,
que uma lngua na qual traduzimos o raciocnio que havamos feito por palavras. Ora,
se as letras e as palavras exprimem o mesmo raciocnio, evidente que, se com palavras
no fazemos mais do que falar uma lngua, fazemos o mesmo com letras.
Faramos a mesma observao sobre problemas mais complicados: pois todas as
solues algbricas oferecem a mesma linguagem, isto , raciocnios ou juzos
sucessivamente idnticos expressos com letras. Mas, porque a lgebra a mais metdica
das lnguas e desenvolve raciocnios que no se poderia traduzir em nenhuma outra,
imaginou-se que ela no uma lngua propriamente dita, que o apenas em alguns
nveis e que deve ser algo mais.
A lgebra , com efeito, um mtodo analtico, mas no deixa de ser uma lngua, pois
todas as lnguas so mtodos analticos. Ora, o que elas so efetivamente. Mas a
lgebra uma prova decisiva de que os progressos das cincias dependem unicamente
dos progressos das lnguas e que somente lnguas bem feitas poderiam dar anlise o
grau de simplicidade e de preciso do qual suscetvel, seguindo o gnero de nossos
estudos.
Isto seria possvel, pois, na arte de raciocinar, como na arte de calcular, tudo se reduz a
composies e a decomposies e no se deve acreditar que sejam duas artes diversas.
CAPTULO VIII
No que consiste todo o artifcio do raciocnio
H DUAS COISAS NUMA QUESTO A RESOLVER: O ENUNCIADO DOS
DADOS OU O ESTADO DA QUESTO E O DESPRENDIMENTO DOS
DESCONHECIDOS OU O RACIOCNIO.
O mtodo que seguimos no captulo precedente tem por regra que no podemos
descobrir uma verdade que no conhecemos, a no ser na medida em que ela se
encontre nas verdades que so conhecidas e que, consequentemente, toda a questo a
resolver supe dados onde as conhecidas e as desconhecidas esto misturadas, como o
esto efetivamente nos dados do problema que resolvemos.
Se os dados no encerram todas as conhecidas necessrias para descobrir a verdade, o
problema insolvel. Esta considerao a primeira que seria preciso fazer e que nunca
fizemos. Raciocinamos mal, porque ignoramos que no temos bastantes conhecidas
para raciocinar bem.
No entanto, se notssemos que, ao ter todas as conhecidas, somos conduzidos, atravs
de uma linguagem clara e precisa, soluo que procuramos, duvidaramos que no
temos todas, ao manter uma linguagem obscura e confusa que no conduz a nada.
Procuraramos melhor falar a fim de melhor raciocinar e aprenderamos o quanto estas
duas coisas dependem uma da outra.
Nada mais simples que o raciocnio quando os dados encerram todas as conhecidas
necessrias descoberta da verdade: acabamos de v-lo. No seria necessrio dizer que
a questo que propomos era fcil de resolver, pois a maneira de raciocinar uma, ela
no muda, nem pode mudar, e s o objeto do raciocnio muda a cada nova questo que
nos colocamos. Nas mais difceis, preciso, como nas mais fceis, ir do conhecido ao
desconhecido. preciso que os dados encerrem todas as conhecidas necessrias
soluo e, quando eles as encerram, s resta enunciar estes dados de uma maneira mais
simples para desprender as desconhecidas com a maior facilidade.
H, portanto, duas coisas numa questo: o enunciado dos dados e o desprendimento das
desconhecidas.
O enunciado dos dados particularmente o que se compreende como o estado da
questo e o desprendimento das desconhecidas o raciocnio que o resolve.
O QUE SE DEVE COMPREEDER POR ESTADO DA QUESTO.
Quando propusemos descobrir o nmero de fichas que possuamos em cada mo,
enunciei todos os dados de que tnhamos necessidade c evidente que estabeleci o
estado da questo. Mas minha linguagem no preparava a soluo do problema. b
porque, ao invs de repetirmos meu enunciado palavra por palavra, o traduzimos de
modos diferentes, at chegarmos expresso mais simples. Ento, o raciocnio se fez,
de algum modo, sozinho, porque as desconhecidas se desprenderam como por si
prprias. Estabelecer o estado de uma questo , portanto, traduzir os dados na
expresso mais simples, porque a expresso mais simples que facilita o raciocnio,
facilitando o desprendimento das desconhecidas.
Ms, diremos, assim que se raciocina nas matemticas, onde o raciocnio se faz com
equaes. Ser do mesmo modo com as outras cincias, onde o raciocnio se faz com
proposies? Respondo que equaes, proposies, juzos so, no fundo, a mesma coisa
e que, por consequncia, raciocina-se da mesma maneira em todas as cincias.
O ARTIFICIO DO RACIOCINIO O MESMO EM TODAS AS CIENCIAS:
EXEMPLO PROBANTE.
Nas matemticas, aquele que prope uma questo a prope comumente com todos os
seus dados e, para resolv-la, basta traduzi-Ia em lgebra. Nas outras cincias, ao
contrrio, parece que uma questo no se prope jamais com todos os dados.
Perguntaremos, por exemplo, qual a origem e a gerao das faculdades do
entendimento humano e deixaremos os dados a procurar, porque aquele que faz a
questo no os conhece.
Mas, ainda que tenhamos que procurar os dados, no seria preciso concluir que esto
contidos menos implicitamente na questo que propusemos. Se no estivessem l, no
os acharamos e, no entanto, devem se encontrar em toda questo que podemos resolver.
preciso somente notar que eles no so sempre fceis de ser reconhecidos.
Consequentemente, encontr-los diferenci-los numa expresso onde se encontram
apenas implicitamente e, para resolver a questo, preciso traduzir esta expresso numa
outra onde todos os dados se mostram de uma maneira explcita e distinta.
Ora, perguntar qual a origem e a gerao das faculdades do entendimento humano
perguntar qual a origem e a gerao das faculdades pelas quais o homem, capaz de
sensaes, concebe as coisas formando ideias, e vemos logo que a ateno, a reflexo, a
imaginao e o raciocnio so, com as sensaes, as conhecidas do problema a resolver
e a origem e a gerao so as desconhecidas. Eis os dados nos quais as conhecidas se
misturam com as desconhecidas.
Mas como desprender a origem e a gerao, que so neste problema as desconhecidas?
Nada mais simples. Pela origem, compreendemos a conhecida que o princpio ou o
comeo de todas as outras, e, pela gerao, compreendemos a maneira pela qual todas
as conhecidas provm de uma primeira. Esta primeira, que conheo como faculdade,
no conheo ainda como primeira. Ela exatamente a desconhecida que se mistura com
todas as conhecidas e que preciso desprender. Ora, a mais simples observao me faz
notar que a faculdade de sentir est misturada com todas as outras. A sensao , ento,
a desconhecida que temos que desprender, para descobrir como se torna sucessivamente
ateno, comparao, juzo, etc. o que fizemos e vimos que, com as equaes x-1 = y
+ 1 e x + 1 = 2y - 2 passam por diferentes transformaes para se tornar em y= 5 e x =
7, a sensao passa da mesma maneira por diferentes transformaes para, se tornar
entendimento.
O artifcio do raciocnio o mesmo em todas as cincias. Como, nas matemticas,
estabelece-se a questo traduzindo-a em lgebra, nas outras cincias estabelece-se
traduzindo-a na expresso mais simples e, quando a questo estiver estabelecida, o
raciocnio que a resolve ainda ele prprio apenas uma sequncia de tradues, onde
uma proposio que traduz a que a precede traduzida por aquela que a segue. desta
maneira que a evidncia passa com a identidade desde o enunciado da questo at a
concluso do raciocnio.
CAPTULO IX
Diferentes graus de certeza ou da evidncia, das conjeturas e da analogia.
Apenas indicarei os graus diferentes de certeza e volto arte de raciocinar, que
precisamente o desenvolvimento de todo este captulo.
NA FALTA DA EVIDNCIA DE RAZO, TEMOS A EVIDNCIA DE FATO E
A EVIDNCIA DE SENTIMENTO.
A evidncia de que acabamos de falar e que eu denomino evidncia de razo consiste
unicamente na identidade: o que demonstramos. Foi necessrio que esta verdade fosse
bem simples para escapar a todos os filsofos, ainda que tivessem todo o interesse em
se assegurar da evidncia, sempre prestes a saltar-lhes da boca.
Sei que um tringulo evidentemente uma superfcie determinada por trs linhas,
porque, para qualquer pessoa que compreenda o valor dos termos superfcie
determinada por trs linhas a mesma coisa que tringulo. Ora, j que sei
evidentemente o que um tringulo, conheo sua essncia e posso nesta essncia
descobrir todas as propriedades desta figura.
Veria igualmente todas as propriedades do ouro em sua essncia se a conhecesse. Seu
peso, sua ductilidade, sua maleabilidade, etc., seriam apenas sua prpria essncia se
transformando e que, em suas transformaes, me ofereceria fenmenos diferentes e
poderia descobrir todas as suas propriedades por raciocnio que seria apenas uma
sequncia de proposies idnticas. Mas no desta maneira que o conheo. Na
verdade, cada proposio que fao sobre este metal, se for verdadeira, idntica.
Como esta: O ouro malevel, pois ela significa um corpo, que observei ser malevel e
que denomino ouro, malevel, proposio onde a mesma idia est afirmada em si
prpria.
Quando fao sobre um corpo vrias proposies igualmente verdadeiras, afirmo, ento,
em cada uma o mesmo do mesmo, mas no percebo identidade de uma proposio a
outra. Ainda que o peso, a ductilidade, a maleabilidade sejam verdadeiramente apenas
uma mesma coisa que se transforma diferentemente, eu no a vejo. No saberia,
portanto, atingir o conhecimento destes fenmenos pela evidncia de razo: s os
conheo aps t-los observado e chamo evidncia de fato a certeza que tenho.
Poderia igualmente chamar evidncia de fato o conhecimento certo de fenmenos que
observo em mim, mas eu o denomino evidncia de sentimento, porque pelo
sentimento que conheo estas espcies de fatos.
A EVIDENCIA DE RAZO DEMONSTRA A EXISTENCIA DE CORPOS.
Desde que as qualidades absolutas dos corpos esto fora do alcance de nossos sentidos e
que s podemos conhecer qualidades relativas, segue-se que todo fato que descobrimos
no seno uma relao conhecida. No entanto, dizer que os corpos tm qualidades
relativas dizer que so alguma coisa uns em relao aos outros e dizer que so alguma
coisa uns em relao aos outros dizer que so cada um alguma coisa,
independentemente de qualquer relao, algo de absoluto. A evidncia de razo nos
ensina, ento, que existem qualidades absolutas, e, consequentemente, corpos, mas s
nos ensina sua existncia.
O QUE SE COMPREENDE POR FENMENOS, OBSERVAES,
EXPERINCIAS.
Por fenmenos, compreende-se precisamente os fatos que so uma sequncia de leis de
natureza e estas leis so elas prprias outros fatos. O objeto da fsica o de conhecer
estes fenmenos, estas leis, e apreender, se for possvel, o sistema.
Com efeito, damos uma ateno particular aos fenmenos, consideramo-los em todas as
suas relaes, no deixamos escapar nenhuma circunstncia e, quando estivermos
assegurado por observaes bem feitas, damos-lhes ainda o nome de observaes.
Mas, para descobri-los, no basta sempre observar, preciso ainda, por meios
diferentes, desprend-los de tudo o que os oculta, reaproxim-los de ns e coloc-los ao
alcance de nossa viso: o que se denomina experincias. Tal a diferena que
preciso colocar entre fenmenos, observaes, experincias.
USO DE CONJETURAS.
E difcil chegar instantaneamente evidncia: em todas as cincias e em todas as artes
comeou-se por uma espcie de tateamento.
Segundo verdades conhecidas, suspeitamos de que no estamos seguros ainda. Estas
suspeitas esto fundadas sobre circunstncias que indicam menos o verdadeiro que o
verossmil, mas nos colocam frequentemente no caminho das descobertas, porque_ nos
ensinam o que temos para observar. Eis o que se compreende por conjeturar.
As conjeturas esto no grau inferior, quando nos asseguramos de uma coisa somente
porque no vemos como ela no seria. S nos permitimos agir desta maneira quando
formulamos suposies que devem ser confirmadas. Resta, ento, fazer observaes ou
experincias.
Parecemos levados a acreditar que a natureza age pelos caminhos mais simples. Em
consequncia, os filsofos so levados a julgar que, de todos os meios pelos quais uma
coisa pode ser produzida, a natureza deve ter escolhido aqueles que imagina ser os mais
simples. evidente que semelhante conjetura s ter fora na medida em que formos
capazes de conhecer todos os meios e julgar sua simplicidade, o que s acontece
raramente.
A ANALOGIA TEM GRAUS DIFERENTES DE CERTEZA.
As conjeturas esto entre a evidncia e a analogia, que frequentemente uma simples
conjetura. preciso distinguir na analogia graus diversos, j que ela est fundada sobre
relaes de semelhana, sobre relaes com o fim ou sobre relaes de causas com
efeitos e de efeitos com causas.
A terra habitada: portanto, os planetas o so. Eis a mais fraca das analogias, porque s
est fundada numa relao de semelhana.
Mas se notarmos que os planetas possuem revolues diurnas e anuais e que, por
consequncia, suas partes so sucessivamente iluminadas e aquecidas, estas precaues
no parecem ter sido tomadas para a conservao de alguns habitantes? Esta analogia,
que est fundada sobre a relao dos meios com o fim, tem, portanto, mais fora que a
primeira. No entanto, se ela prova que a terra no o nico habitado, no prova que os
outros planetas o sejam, pois aquilo que o autor da natureza repete em vrias partes do
universo para um mesmo fim pode ser que no o mantenha como regra para o sistema
geral: possvel ainda que uma revoluo faa um deserto de um planeta habitado.
A analogia que est fundada sobre a relao dos efeitos com a causa ou da causa com os
efeitos a que possui mais fora: torna-se at uma demonstrao quando confirmada
pelo concurso de todas as circunstncias.
uma evidncia de fato que haja sobre a terra revolues diurnas e anuais e uma
evidncia de razo que estas revolues podem ser produzidas pelo movimento da terra,
por aquele do sol, ou por ambos.
Mas observamos que os planetas descrevem rbitas em torno do sol e asseguramo-nos
da mesma forma pela evidncia de fato que alguns tm um movimento de rotao sobre
seu eixo mais ou menos inclinado. Ora, uma evidncia de razo que esta dupla
revoluo deve necessariamente produzir dias, estaes e anos: ento, a terra tem uma
dupla revoluo, desde que ela possui dias, estaes, anos.
Esta analogia supe que os mesmos efeitos tm as mesmas causas, suposio que, sendo
confirmada por novas analogias e novas observaes, no poder mais ser colocada em
dvida. E desta maneira que os bons filsofos se conduziram. Se quisermos aprender a
raciocinar como eles, o melhor estudar as descobertas que foram feitas desde Galileu
at Newton.
assim que tentamos raciocinar nesta obra. Observamos a natureza e aprendemos,
atravs dela, a anlise. Com este mtodo, estudando-nos e havendo descoberto, por uma
sequncia de proposies idnticas, que nossas ideias e nossas faculdades so apenas a
sensao que toma formas diferentes, asseguramo-nos da origem e da gerao de umas e
outras.
Notamos que o desenvolvimento de nossas ideias e de nossas faculdades s se faz
mediante signos e no se faria absolutamente sem eles, que, consequentemente, nossa
maneira de raciocinar s pode se corrigir corrigindo a linguagem e que toda, a arte se
reduz a fazer bem a lngua de cada cincia.
Enfim, provamos que as primeiras lnguas, em sua origem, foram bem feitas, porque a
metafsica, que presidia sua formao, no era uma cincia como hoje, mas um instinto
dado pela natureza.
E, ento, da natureza que preciso apreender a verdadeira lgica. Eis qual foi meu
objetivo e esta obra se tornou a mais nova, a mais simples e a mais curta sobre isso. A
natureza no deixar nunca de instruir qualquer pessoa que souber estud-la, ela instrui
melhor, quando falamos sempre a linguagem mais precisa. Seramos hbeis se
soubssemos falar com a mesma preciso, mas somos demasiado prolixos para
raciocinar sempre bem.
CONSELHO AOS JOVENS QUE QUEIRAM ESTUDAR ESTA LGICA.
Creio dever acrescentar aqui alguns conselhos aos Jovens que queiram estudar esta
Lgica.
Desde que toda a arte de raciocinar se reduz a fazer bem a lngua de cada cincia,
evidente que o estudo de uma cincia bem realizada se reduz ao estudo de uma lngua
bem feita.
Mas aprender uma lngua familiarizar-se com ela, o que s pode ocorrer pelo efeito de
um longo uso. preciso, ento, ler com reflexo, vrias vezes, falar sobre o que se leu e
reler ainda para se assegurar de haver falado bem.
Compreender-se-o facilmente os primeiros captulos desta Lgica: mas se, porque os
compreendemos, cremos poder ir imediatamente aos outros, conduzir-nos-emos muito
precipitadamente. No se deve passar a um novo captulo a no ser depois de ter
apreendido bem as ideias e a linguagem daqueles que o precederam. Se se mantiver
outra conduta, no se compreender com a mesma facilidade e, algumas vezes, no se
compreender absolutamente nada.
Um inconveniente maior que se compreender mal, se fizermos da linguagem da
pessoa que estuda, que sempre conservar algo, e da minha, que se acreditar haver
captado, um jargo ininteligvel. Eis o que acontecer aos que se creem instrudos, ou
porque fizeram um estudo do que se denomina, frequentem ente e de maneira
inadequada, filosofia, ou porque o ensinaram. De qualquer modo que eles me leiam, ser-
lhes- bem difcil esquecer o que aprenderam para aprender apenas o que ensino; eles
desdenharo recomear comigo: faro pouco caso de minha obra, se se aperceberem que
no a compreendem, e, se imaginam compreend-la, ainda faro pouco caso, porque
eles a compreendero sua maneira e acreditaro no haver aprendido nada. bem
comum, entre os que se julgam sbios, no ver nos melhores livros seno o que eles
sabem e, consequentemente, l-los sem nada aprender: no veem nada de novo numa
obra onde tudo novo para eles.
Desta maneira, escrevo apenas para os ignorantes. Como no falam as lnguas de
nenhuma cincia, lhes ser mais fcil apreender a minha: ela est mais a seu alcance que
qualquer outra, porque eu a apreendi da natureza que lhes falar como fala a mim.
Mas, se eles encontrarem trechos que os detenham, que se protejam de interrogar sbios
tais como os que acabo de descrever: agiro melhor interrogando outros ignorantes que
me tero lido com inteligncia.
Que digam: Nesta obra, s se vai do conhecido ao desconhecido: portanto, a dificuldade
de compreender um capitulo provm unicamente de que os capitulas precedentes no
me so demasiado familiares. Ento julgaro que devem voltar para trs e, se tiverem a
pacincia de faz-lo, compreender-me-o sem necessidade de consultar ningum. S se
compreende melhor quando se compreende sem ajuda de terceiros.
Esta Lgica breve e, consequentemente, no atemorizada. Para l-la com a reflexo
que ela exige, ser preciso dispor apenas do tempo que se perderia para ler outra lgica.
Quando se souber esta Lgica - e por saber entendo que se esteja em situao de falar
facilmente e de poder faz-la se necessrio -, quando se souber, digo, se poder ler com
menos lentido os livros onde as cincias esto bem realizadas e, algumas vezes,
instruir-se- com leituras bem rpidas. Pois, para ir rapidamente de conhecimento em
conhecimento, basta haver apreendido o mtodo que o nico bom e,
consequentemente, o mesmo para todas as cincias.
A facilidade, que fornecer esta Lgica, adquirir-se- igualmente estudando as lies
preliminares de meu Curso de Estudos, se se acrescentar a ele a primeira parte da
Gramtica. Tendo sido bem feitos estes estudos, compreender-se-o facilmente todas as
minhas outras obras.
Mas quero ainda prevenir os jovens contra um preconceito que deve ser natural queles
que comeam. Para que um mtodo para raciocinar nos ensine a raciocinar, somos
levados a acreditar que em cada raciocnio a primeira coisa deveria ser pensar nas regras
segundo as quais ele deve se fazer, e assim nos enganamos. No pertence a ns pensar
nas regras, pertence a elas conduzir-nos sem que nelas pensemos. No se falaria se,
antes de comear cada frase, fosse necessrio se ocupar da gramtica. Ora, a arte de
raciocinar, como em todas as lnguas, s se fala bem na medida em que se fala
naturalmente. Meditem o mtodo e meditem bastante, porm no pensem mais nele
quando quiserem pensar em outra coisa. Algum dia, ele se tornar familiar: ento,
sempre com os senhores, ele observar seus pensamentos que se conduziro sozinhos e
zelar sobre eles para lhes impedir todo desvio. tudo o que os senhores devem esperar
do mtodo. As balaustradas no se colocam ao longo dos precipcios para fazer o
viajante ir em frente, mas para impedir que ele se precipite.
Se, no incio, os senhores possuem alguma dificuldade em se familiarizar com o mtodo
que ensino, no porque seja difcil: no saberia s-lo desde que natural. Mas ele se
tornou difcil para os senhores, pois os hbitos maus j corromperam a natureza.
Desfaam-se, ento, destes hbitos e raciocinaro naturalmente bem.
Parece evidente que deveria dar estes conselhos antes do comeo desta Lgica: mas os
senhores no haveriam compreendido. Alm disso, eles ficaro bem at o fim, e ficaro
bem tambm para os outros, que sentiro melhor a necessidade que tm deles.
Esclarecimentos que me solicitou sobre a doutrina M. Pot, professor em Prigueux
Deus pode agir apenas onde estiver e Deus simples: como conciliar estas duas
asseres?
Estabeleamos desde o primeiro instante que nossos conhecimentos provm dos
sentidos, eles se estendem tanto quanto nossas sensaes e, alm disso, no podemos
descobrir nada. Somos, em relao s verdades as quais nossos sentidos no nos
conduzem, como os cegos em relao s cores.
Creio haver demonstrado que todo ser que compara duas ideias necessariamente
simples. Com maior razo, Deus simples, desde que apreende todas as relaes e todas
as verdades possveis.
Por outro lado, evidente que s pode agir onde estiver: portanto, ele est em toda a sua
obra, ou antes, toda a sua obra est nele.
NELE NOS MOVEMOS E SOMOS
Eis duas verdades. Se no posso concili-las, porque neste nvel sou um cego a quem
impossvel julgar as cores.
Os corpos so realmente extensos? Ou parecem extensos sem s-lo realmente? Por mais
que interrogue meus sentidos, no podem me responder. que eles no me foram dados
para julgar o que as coisas so em si, mas somente relaes verdadeiras ou aparentes
que tm comigo e entre si, quando me til conhec-las.
Se os corpos so realmente extensos, haver extenso em Deus, extenso num ser
inextenso. Se no o forem, ser prprio da extenso como das cores, isto , ser apenas
um fenmeno, uma aparncia. Leibniz o disse. Mas, qualquer partido que se tome,
resultam disso dificuldades que minha ignorncia no me permite resolver e, I or esta
razo, me impeo de decidir.
Serei mais ousado em julgar a durao e a eternidade. Dizem que um instante a
permanncia que uma ideia faz em nossa alma. Eu no empregaria a palavra
permanncia, que supe o que est em questo, isto , que um instante composto de
vrios outros. Pois permanncia traz uma ideia de sucesso.
Ora, se um instante composto de vrios outros, igualmente de vrios outros ainda, e
assim sem fim, ser necessrio dizer que h num instante uma sucesso infinita. Mas
consideremos a ideia que ns formamos da durao e vejamos o que podemos concluir.
A durao me conhecida apenas pela sucesso de minhas ideias. Se existe outra
durao que no a desta sucesso, no a conhecerei portanto: no posso conhec-la, no
posso julg-la.
Desde que a durao me conhecida apenas pela sucesso de minhas ideias, um
instante para mim apenas a presena, sem sucesso, de uma ideia em minha alma.
Presena, digo, e no permanncia.
Ora, um instante para mim ou a presena de uma ideia em minha alma pode coexistir
com vrias ideias que se sucedem em sua alma e que so outros instantes para os
senhores. Eis por que digo que um instante da durao de um ser pode coexistir em
vrios instantes da durao de outro.
Julgo minha durao sem poder julgar a sua, porque no tenho meio para perceber a
sucesso de suas ideias, percebo apenas a sucesso das minhas.
Da mesma maneira julgamos cada um nossa durao sem poder, nem um nem outro,
julgar a durao de alguma outra coisa, porque no nelas prprias que percebemos as
sucesses que experimentam os objetos que nos rodeiam, unicamente atravs da
sucesso que se passa em ns.
A sucesso que produz a durao em um objeto exterior uma sequncia de mudanas
que o modificam de alguma maneira: a sucesso que a produz em ns uma sequncia
de sensaes ou de ideias. Estas duas sequncias corresponderiam uma outra, instante
por instante, se cada mudana fizesse experimentar uma sensao: o que no
acontece.
Por que, por exemplo, o sol parece imvel ao olho? que a cada mudana sucessiva
que ele parece descrever em sua rbita no exerce sobre o olho uma sensao nova.
Mas a durao algo mais que as mudanas sucessivas que se fazem em cada ser
criado? H uma durao absoluta qual coexista, instante por instante, a durao de
cada criatura? Locke o afirma e cr demonstr-lo.
Penso que, se houvesse semelhante durao, no poderamos julgar, pois s se julga na
medida em que se v e, no entanto, esta durao seria para ns o que as cores so para
os cegos.
No temo dizer que semelhante durao s possui realidade em nossa imaginao, que
muito propensa a realizar quimeras. Com efeito, se esta durao tivesse lugar, seria
atributo de algum ser. Ora, de qual ser? De Deus, sem dvida, desde que ele foi sempre
e ser sempre. Mas, se Deus dura, h ento uma sucesso nele e ele adquire
consequentemente, perde, muda e no imutvel.
S pode haver sucesso no que muda, h mudana apenas nas coisas em que h
progresso e decadncia e as coisas em que h progresso e decadncia so
necessariamente imperfeitas: tais so as criaturas.
Deus, criando-as, criou coisas onde h necessariamente progresso, decadncia,
mudana, sucesso e, consequentemente, durao. Criando-as, ele criou portanto a
durao. A durao no ento um atributo de si prpria, um atributo das criaturas:
sua maneira de existir.
Ora, como a durao a maneira de existir das criaturas, a eternidade a maneira de
existir de Deus e esta eternidade um instante que coexiste em todas as mudanas
sucessivas de coisas criadas; mudanas sucessivas que no se correspondem instante por
instante, como a sucesso de minhas ideias no corresponde instante por instante
sucesso das suas.
A cada mudana h em cada criatura um instante e, como uma mudana em uma
coexiste com vrias mudanas em outra, uma consequncia que um instante coexista a
vrios instantes: em cada criatura cada mudana ou cada instante indivisvel, porque
em cada uma cada mudana ou cada instante est sem sucesso.
Consequentemente, se formos levados a Supor que haja uma durao comum, instante
por instante, para cada ser, no que haja, com efeito, semelhante durao, que nossa
imaginao generaliza a ideia de nossa prpria durao e atribui a tudo o que existe esta
durao, que a nica que percebemos.
Vous aimerez peut-être aussi
- O Estádio Do Espelho (Lacan)Document4 pagesO Estádio Do Espelho (Lacan)AleXandre B. R. SilvaPas encore d'évaluation
- 6 A Mente PT BRDocument28 pages6 A Mente PT BRSr GreedPas encore d'évaluation
- Personalidade, Essência e Ego PDFDocument5 pagesPersonalidade, Essência e Ego PDFPaulo VianaPas encore d'évaluation
- Apostila Aula 03 - Curso de YogaDocument38 pagesApostila Aula 03 - Curso de YogaLoreley ChavesPas encore d'évaluation
- Apostila 01 - A Importância de Conhecer-SeDocument6 pagesApostila 01 - A Importância de Conhecer-SeMauricio FontanaPas encore d'évaluation
- Aldomon Ferreira Sutilizacao Corporal Aula 1 de 4 Purificacao FisicaDocument14 pagesAldomon Ferreira Sutilizacao Corporal Aula 1 de 4 Purificacao FisicaRosemara CristinaPas encore d'évaluation
- O Despertar Do Eu Superior: Professor Docente: Edgar MartinsDocument13 pagesO Despertar Do Eu Superior: Professor Docente: Edgar Martinspaulo ssPas encore d'évaluation
- Leadbeater . As Ultimas Trinta Vidas de ALCIONEDocument124 pagesLeadbeater . As Ultimas Trinta Vidas de ALCIONEgmotta4100% (1)
- Condillac - Tratado Das Sensações Este AquiDocument11 pagesCondillac - Tratado Das Sensações Este AquiRonaldo Rodrigues MoisesPas encore d'évaluation
- Manual Astrologia Cármica Prática - 2019 - 05 - 30Document25 pagesManual Astrologia Cármica Prática - 2019 - 05 - 30Hamilton NovaisPas encore d'évaluation
- O Ser Humano e Os Seus CorposDocument66 pagesO Ser Humano e Os Seus CorposJonathas AmadorPas encore d'évaluation
- Mente Positiva Infinitas Possibilidades PDFDocument35 pagesMente Positiva Infinitas Possibilidades PDFCarolina Fontoura100% (2)
- Annie Besant - O Homem e Seus CorposDocument67 pagesAnnie Besant - O Homem e Seus CorposMariaCristinaMattTanaka100% (2)
- 14 Lições de Filosofia Yoga e Ocultismo OrientalD'Everand14 Lições de Filosofia Yoga e Ocultismo OrientalÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- A MENTE - Kalu RinpocheDocument8 pagesA MENTE - Kalu RinpocheGleyton LimaPas encore d'évaluation
- Instituto BorboremaDocument12 pagesInstituto BorboremaMilla KarlaPas encore d'évaluation
- Transcrição - Aula 03 - Cosmologia e Astrologia MedievalDocument13 pagesTranscrição - Aula 03 - Cosmologia e Astrologia MedievalSérgio HNIPas encore d'évaluation
- MANUAL DE INSTRUÇÃO PARA ESTA VIDA. Os 7 Princípios Da FelicidadeDocument160 pagesMANUAL DE INSTRUÇÃO PARA ESTA VIDA. Os 7 Princípios Da FelicidadeZsuzsanna HollósyPas encore d'évaluation
- Vedanta - A Essencia Da IluminacaoDocument26 pagesVedanta - A Essencia Da IluminacaoValeriaPas encore d'évaluation
- O Emílio - Jean-Jacques RousseauDocument5 pagesO Emílio - Jean-Jacques RousseauKalil AlencarPas encore d'évaluation
- O Poder Da Criatividade para Manifestar Intenções - Amit GoswamiDocument23 pagesO Poder Da Criatividade para Manifestar Intenções - Amit GoswamiKelen Fatima De SouzaPas encore d'évaluation
- Somos todos psíquicos - Exercícios para desenvolver a intuiçãoD'EverandSomos todos psíquicos - Exercícios para desenvolver a intuiçãoPas encore d'évaluation
- O Que É Cocriação, Psiquísmo e EgrégoraDocument15 pagesO Que É Cocriação, Psiquísmo e EgrégoraOcimar MoraesPas encore d'évaluation
- Tattva Bodha - Conhecimento Da Verdade ( (Ilustrado)Document24 pagesTattva Bodha - Conhecimento Da Verdade ( (Ilustrado)Carlos Eduardo Gonçalves100% (1)
- Experiências Fora Do Corpo, de Forma Rápida e NaturalDocument170 pagesExperiências Fora Do Corpo, de Forma Rápida e NaturalYuri Martins100% (1)
- O Poder Do Pensamento - Annie BesantDocument113 pagesO Poder Do Pensamento - Annie BesantWako FernandoPas encore d'évaluation
- O Problema Da Consciência - OkDocument52 pagesO Problema Da Consciência - OkFilho adulto pais alcolatrasPas encore d'évaluation
- Quebre o Hábito de Ser Você Mesmo e Crie SuaDocument3 pagesQuebre o Hábito de Ser Você Mesmo e Crie Sualotus8317178% (9)
- Tattva Bodha - Conhecimento Da Verdade (Ilustrado) PDFDocument25 pagesTattva Bodha - Conhecimento Da Verdade (Ilustrado) PDFJoãoMarceloMazziniPas encore d'évaluation
- Apostila Mediunidade IDocument15 pagesApostila Mediunidade IClaudia Meirelles ReisPas encore d'évaluation
- Autoestima, Kundalini PDFDocument34 pagesAutoestima, Kundalini PDFSantos Alves0% (1)
- Viver o Universo, Investigar A Mente, Criar Mundos - M2Document12 pagesViver o Universo, Investigar A Mente, Criar Mundos - M2MIGAJOHNSONPas encore d'évaluation
- Despert An DoDocument25 pagesDespert An DoJuliana RennerPas encore d'évaluation
- E-Book Cocriação Com Perguntas GrandiosasDocument53 pagesE-Book Cocriação Com Perguntas Grandiosasana cassimiro100% (2)
- 03 - Curso de Magia Dourada - Tomo IIIDocument8 pages03 - Curso de Magia Dourada - Tomo IIIJoaoCRLMPas encore d'évaluation
- COCRIADOR CONSCIENTE - Mabel C.Document3 pagesCOCRIADOR CONSCIENTE - Mabel C.Anderson SilvaPas encore d'évaluation
- O Segredo Como Fazer o Seu Futuro Celso Batista InacioDocument227 pagesO Segredo Como Fazer o Seu Futuro Celso Batista InacioInsignis IurisPas encore d'évaluation
- A EssenciaDocument5 pagesA EssenciaSusana MariaPas encore d'évaluation
- Atenção Plena Nas Sensações e Emoções - Introdução e Meditação GuiadaDocument8 pagesAtenção Plena Nas Sensações e Emoções - Introdução e Meditação GuiadaCynthia RodriguezPas encore d'évaluation
- Manual Astrologia Cármica Prática - Dia 11Document63 pagesManual Astrologia Cármica Prática - Dia 11Hamilton Novais100% (4)
- Chaves de SanandaDocument74 pagesChaves de SanandaAlisson PiskePas encore d'évaluation
- Arte e A Prática Da Visualização Criativa, A-OphielDocument72 pagesArte e A Prática Da Visualização Criativa, A-OphielHeverton PeresPas encore d'évaluation
- MDI Vol 3 Maria PeredaDocument50 pagesMDI Vol 3 Maria PeredaB0Pas encore d'évaluation
- Anjo Metatron - Livro de MetatronDocument63 pagesAnjo Metatron - Livro de Metatronpaulo ssPas encore d'évaluation
- Teu outro Corpo: evolucao da alma carma reencarnacao espirtual alma gemeaD'EverandTeu outro Corpo: evolucao da alma carma reencarnacao espirtual alma gemeaPas encore d'évaluation
- Elsa M. Glover Fundamentos Basicos Do Cristianismo RosacruzDocument20 pagesElsa M. Glover Fundamentos Basicos Do Cristianismo RosacruzMonique FreitasPas encore d'évaluation
- Eae 84 A 89Document33 pagesEae 84 A 89Web ValePas encore d'évaluation
- As Leis Do Universo 2 CompletoDocument173 pagesAs Leis Do Universo 2 CompletoHenriqueRobertoPas encore d'évaluation
- Conteúdo As Faculdades Da AlmaDocument37 pagesConteúdo As Faculdades Da AlmaFerkeliana Dias100% (1)
- Conteúdo As Faculdades Da AlmaDocument48 pagesConteúdo As Faculdades Da AlmaFerkeliana DiasPas encore d'évaluation
- AlmaDocument11 pagesAlmaGabriel GomesPas encore d'évaluation
- O que te prende?: Mecânica quântica aplicada à prática. Um guia para co-criação conscienteD'EverandO que te prende?: Mecânica quântica aplicada à prática. Um guia para co-criação conscienteÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (9)
- Aula Cof 193Document10 pagesAula Cof 193Diego VillelaPas encore d'évaluation
- BG 3Document8 pagesBG 3Ana RodriguesPas encore d'évaluation
- As Origens Da Estratégias - Henderson (1989)Document7 pagesAs Origens Da Estratégias - Henderson (1989)Claudio MirandaPas encore d'évaluation
- Psicologia 12 U 1Document247 pagesPsicologia 12 U 1Lurdes SousaPas encore d'évaluation
- 10.diversidade Linguistica e Origem CulturalDocument7 pages10.diversidade Linguistica e Origem CulturalsamuquinhalvPas encore d'évaluation
- Exercicios 2Document4 pagesExercicios 2Mariana Veloso OliveiraPas encore d'évaluation
- Biologia - 3 S SériesDocument2 pagesBiologia - 3 S SériesBárbara SantosPas encore d'évaluation
- Direito ComercialDocument9 pagesDireito Comercialthelso waldirPas encore d'évaluation
- Aula 11 - Harmonia e Beleza Nos JardinsDocument23 pagesAula 11 - Harmonia e Beleza Nos JardinsMoaPas encore d'évaluation
- 4 Pe. Leonel Franca, S.J. - O DivórcioDocument329 pages4 Pe. Leonel Franca, S.J. - O DivórcioLuiz CarlosPas encore d'évaluation
- 01 - Texto 30 - Os Três Estados Da CriaçãoDocument7 pages01 - Texto 30 - Os Três Estados Da CriaçãoKatiuce DiasPas encore d'évaluation
- CAMARA14 ContBasico CLegislativoDocument12 pagesCAMARA14 ContBasico CLegislativosaltolivrePas encore d'évaluation
- Floresta de BolsoDocument4 pagesFloresta de BolsoGabryel SantanaPas encore d'évaluation
- MyotisDocument11 pagesMyotisAlbérico QueirozPas encore d'évaluation
- Biodiversidade Da Fazenda São NicolauDocument154 pagesBiodiversidade Da Fazenda São NicolauannesmartinsPas encore d'évaluation
- 17 - Vantagens e Desvantagens Da Reprodução SexuadaDocument14 pages17 - Vantagens e Desvantagens Da Reprodução SexuadaIrene SemanasPas encore d'évaluation
- Relações Harmônicas e DesarmônicasDocument26 pagesRelações Harmônicas e DesarmônicasGustavo DanielPas encore d'évaluation
- Teste Bio Sistematica 11 AnoDocument11 pagesTeste Bio Sistematica 11 AnoFrancisca MouraoPas encore d'évaluation
- Autoavaliacao Tema 1Document7 pagesAutoavaliacao Tema 1tirateimasPas encore d'évaluation
- MD Magno - Neuronio EspelhoDocument13 pagesMD Magno - Neuronio Espelhopnac20Pas encore d'évaluation
- Especies Arboreas Brasileiras Vol 4redDocument649 pagesEspecies Arboreas Brasileiras Vol 4redPaulo JeronimoPas encore d'évaluation
- Biologia e Geologia 11º Ano Janeiro de 2022 Ficha de Trabalho Grupo IDocument11 pagesBiologia e Geologia 11º Ano Janeiro de 2022 Ficha de Trabalho Grupo IMarta SantosPas encore d'évaluation
- Darwin Vai As ComprasDocument305 pagesDarwin Vai As ComprasLilianPas encore d'évaluation
- Quantificando BiodiversidadeDocument15 pagesQuantificando BiodiversidadeEvandro Do Nascimento SilvaPas encore d'évaluation
- Conceito de EspeciesDocument11 pagesConceito de EspeciesIvan AnibalPas encore d'évaluation
- Constituição Da Ciência Psicológica (Uma Perspectiva Histórica) e o Campo Epistemológico Do Surgimento Do ComportamentalismoDocument26 pagesConstituição Da Ciência Psicológica (Uma Perspectiva Histórica) e o Campo Epistemológico Do Surgimento Do Comportamentalismoamanda_mongePas encore d'évaluation
- Avaliação Dos Riscos Ambientais de Plantas Transgênicas PDFDocument36 pagesAvaliação Dos Riscos Ambientais de Plantas Transgênicas PDFWinicius MarquesPas encore d'évaluation
- Parlêtre, Um Dispositivo Do Discurso Da Psicanálise - Haydée MontesanoDocument11 pagesParlêtre, Um Dispositivo Do Discurso Da Psicanálise - Haydée MontesanoViviane TorquatoPas encore d'évaluation
- Guia - Pratico Observação de Aves PDFDocument22 pagesGuia - Pratico Observação de Aves PDFMeioAmbiente EmFoco100% (2)