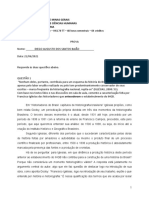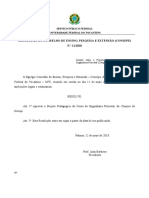Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
AVELINO, N. Anarquismos e Governamentalidade (Doutorado)
Transféré par
gatjTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
AVELINO, N. Anarquismos e Governamentalidade (Doutorado)
Transféré par
gatjDroits d'auteur :
Formats disponibles
PONTIFCIA UNIVERSIDADE CATLICA DE SO PAULO
PUC-SP
Gilvanildo Oliveira Avelino
Anarquismos e governamentalidade
DOUTORADO EM CINCIAS SOCIAIS
SO PAULO
2008
PONTIFCIA UNIVERSIDADE CATLICA DE SO PAULO
PUC-SP
Gilvanildo Oliveira Avelino
Anarquismos e governamentalidade
DOUTORADO EM CINCIAS SOCIAIS
Tese apresentada Banca Examinadora
como exigncia parcial para obteno do
ttulo de Doutor em Cincias Sociais
(rea de concentrao: Cincia Poltica),
pela Pontifcia Universidade Catlica de
So Paulo, sob orientao do Prof.
Doutor Edson Passetti.
SO PAULO
2008
ii
TERMO DE APROVAO
GILVANILDO OLIVEIRA AVELINO
ANARQUISMOS E GOVERNAMENTALIDADE
Tese aprovada como requisito parcial para obteno do grau de Doutor no
Programa de Estudos Ps-Graduados em Cincias Sociais, rea de Cincia
Poltica, da Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo.
Banca Examinadora:
Orientador: Prof. Dr. Edson Passetti.
Dep. de Poltica, PUC-SP. ________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
iii
agradecimentos
a edson passetti, pela generosidade, pela cumplicidade e por fazer da poltica uma
experimentao de liberdade entre amigos.
a natalia montebello pela leitura carinhosa, cuidadosa e pontual, feita com alegria e
desprendimento.
a edson lopes, pelas leituras e pelo apoio.
ao ncleo de sociabilidade libertria, que mantm a liberdade sempre mais intransitiva.
a salete oliveira, pela potncia dissonante.
a christina lopreato, pelo apoio afetuoso na qualificao.
a margareth rago, amiga de muitos encontros anarquistas e parceira de inquietaes comuns.
aos amigos do centro de cultura social de so paulo.
aos amigos inesquecveis, sandra profili e marc levecque (paris), cujo carinho e apoio
tornaram possvel, sob muitos aspectos, a realizao desse trabalho.
ao amigo daniel colson, pela acolhida calorosa e pelo apoio confiante e generoso.
a marisa ammendolia (bensanon), pelo apoio fundamental.
aos amigos paula albouze e carlos carignani (paris), pelos belos momentos.
aos amigos da librairie publico, especialmente a max e a loren.
aos queridos amigos da federao anarquista italiana, responsveis por momentos de intensa
alegria: salvo vaccaro, francesco fricche, alberto, gigi di lembo, massimo varengo, maria
matteo, alfonso (in memoriam), raffaele spagna, e tantos outros...
ao prof. giampietro berti pelo apoio inicial.
a franco schirone, pelo material precioso.
aos amigos da biblioteca franco serantini (pisa), especialmente franco bertolucci e furio lippi.
aos amigos do centro di studi libertari (milo), especialmente rossella di leo e paolo finzi.
ao prof. maurizio antonioli (milo), pela amigvel receptividade.
ao centre international de recherches sur l'anarchisme, cira, especialmente a marianne
enckell, fred deshusses e aos calorosos amigos da ocupao la laiterie.
a capes e ao cnpq agradeo pelo financiamento concedido para realizao desse trabalho.
ao meu companheiro francisco rip, pelos carinhos e cuidados imprescindveis, por ter
compartilhado alegrias e tristezas de uma vida estrangeira e por sua presena cheia de
alegrias.
iv
SUMRIO
introduo ..........................................................................................................................01
1 parte: proudhon, anarquia e governamentalidade
captulo 1: poltica e guerra..............................................................................................12
1. anarquismos.............................................................................................................12
2. poder e governamentalidade....................................................................................23
3. poltica como guerrasociale.....................................................................................58
4. guerra e justia.........................................................................................................78
captulo 2: governo da poltica .........................................................................................92
1. o mtodo serial ........................................................................................................96
2. governo, justia, verdade.........................................................................................104
3. o crculo governamental ..........................................................................................118
4. obedincia e soberania.............................................................................................127
2 parte: malatesta, poltica e anarquia
captulo 1: poder, dominao e organizao...................................................................140
1. anarquia e organizao ............................................................................................149
2. questo social...........................................................................................................156
3. solidarismo e direito social ......................................................................................161
4. contra-organizao anarquista................................................................................166
captulo 2: revoluo e gradualismo revolucionrio ......................................................180
1. das sedies para a revoluo..................................................................................182
2. insurreio e evoluo .............................................................................................192
v
captulo 3: agonismo como ethos......................................................................................206
1. governo e estratgia.................................................................................................207
2. anarquia e o agonismo da poltica ...........................................................................224
captulo 4: ilegalismo, terrorismo e violncia..................................................................241
1. ravacholizar .............................................................................................................255
2. aes internacionais anti-anarquistas.......................................................................264
captulo 5: movimento operrio e sindicalismo ..............................................................272
1. pauperismo e subverso...........................................................................................274
2. movimento operrio.................................................................................................282
3. anarco-sindicalismo.................................................................................................289
captulo 6: fascismo ...........................................................................................................301
1. o fenmeno nacionalista ..........................................................................................302
2. o fenmeno fascista .................................................................................................319
concluso ........................................................................................................................351
bibliografia ........................................................................................................................357
vi
LISTA DE ABREVIAES
ACS/CPC Archivio Centrale dello Stado/Caselario Poltico
Centrale
b. busta
BFS Biblioteca Franco Serantini
f. fita
fasc. fascculo
fl. folha
QS La Questione Sociale
RA Rivista Anarchica
RSA Rivista Storica dellAnarchismo
SP - Schedario Politico
UN Umanit Nova
vii
LISTA DAS FONTES DE PESQUISA
Archivio Centrale dello Stato Roma
Archivio Giuseppe Pinelli Milo
Biblioetca Nazionale Centrale - Florena
Bibliorhque Nationale de France Paris
Biblioteca Comunale dellArchiginnasio Bolonha
Biblioteca Franco Serantini Pisa
Biblioteca Nadir Gouva Kfouri, PUC So Paulo
Bibliothque de Sciences Politiques Paris
Bibliothque des tudes italiennes et roumaines, Universit de la Sorbonne
nouvelle Paris
Bibliothque Gnrale du Collge de France Paris
Bibliothque Sainte-Genevive Paris
Centre International de Recherches sur l'Anarchisme Lausanne
Centro de Cultura Social So Paulo
viii
RESUMO
Estudo das reflexes do anarquista francs Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) e do
anarquista italiano Errico Malatesta (1853-1932) sobre o exerccio do governo utilizando uma
abordagem dos estudos em governamentalidade que procura demonstrar a existncia de uma
problemtica anarquia e governamentalidade descrita como um posicionamento crtico
frente ao poder no qual a anlise do governo tomada a partir das prticas de governo e no
qual a inteligibilidade do poltico analisada em termos de relaes de fora e o governo em
termos de tecnologia. Busca no somente aproximar a concepo anrquica dos estudos em
governamentalidade, mas apontar a possibilidade de uma relao de procedncia entre os
estudos em governamentalidade e a anarquia esboada por Proudhon no sculo XIX.
Demonstra como a noo de fora teve para a anarquia um efeito de rompimento com as
interpretaes clssicas da teoria do direito de soberania e com o seu funcionamento na
racionalidade poltica do sculo XVII e nos socialismos dos sculos XIX e XX. Retoma a
configurao inaugural dada por Proudhon em que analisa o governo a partir do exerccio do
poder governamental, mostrando como sua reflexo tomou como problema maior, na segunda
metade do sculo XIX, o de tornar evidente a racionalidade do poder e as prticas do
princpio de autoridade cristalizados em domnios de objetos da economia poltica. Retoma a
reflexo de Malatesta e o problema da dominao, da organizao e do governo e afirma a
necessidade de afastar sua concepo sobre a dominao das concepes liberal e marxista,
percebendo como, para Malatesta, o problema colocado no final do sculo XIX e comeo do
sculo XX foi o do princpio da organizao e de suas conexes com a dominao. Prope
uma outra fisionomia revoluo no anarquismo fora do modelo da Revoluo Francesa.
Aborda uma dimenso agnica no anarquismo, que faz do governo uma atividade sempre
perigosa por meio da qual re-valoriza alguns temas do debate. Estuda a propaganda pelo fato,
sua evoluo para o anarco-terrorismo e a elaborao de Malatesta sobre os usos da violncia
e sua oposio ao terror como princpio. Trata do movimento operrio e do sindicalismo,
propondo o pauperismo como realidade sobre a qual repousa a subverso poltica e a anarquia
como elemento de tenso que impulsiona o movimento operrio para a revoluo. Retoma o
problema do fascismo como indissocivel ao problema da Primeira Guerra, abordando a
polmica que colocou em campos opostos Kropotkin e Malatesta. Estuda o fenmeno do
fascismo atravs da crtica indistinta, do ponto de vista analtico, que Malatesta realizou da
democracia e da ditadura, com a qual rejeitou a estratgia liberal de conferir positividade ao
Estado de direito, denunciou na ditadura a eficcia em despertar desejos de democracia, e viu
na democracia o elemento que a tornava mais perigosa e mais liberticida que a ditadura: a
contnua capacidade de renovao estratgica do princpio de autoridade.
Palavras-chave: Anarquismos; Governamentalidade; Poder; Poltica.
ix
RSUM
tude des rflexions de l'anarchiste franais Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) et de
lanarchiste italien Errico Malatesta (1853-1932) sur l'exercice du gouvernement en utilisant
une approche des tudes dans governamentalit qui essaie de dmontrer l'existence d'un
problmatique "anarchie et governamentalidade" dcrit comme un positionnement critique
devant le pouvoir, dans lequel l'analyse du gouvernement est amene partir des pratiques du
gouvernement et dans lequel l'intelligibilit du politique est analyse en termes des rapports
de force et le gouvernement en termes de technologie. On ne cherche pas seulement de
rapprocher la conception anarchiste des tudes dans governamentalit, mais de pointer la
possibilit d'un rapport de provenance entre les tudes en governamentalit et l'anarchie trac
par Proudhon dans le XIX sicle. On cherche de dmontrer comme la notion de force a eu
pour l'anarchie un effet de brisement avec les interprtations classiques de la thorie du droit
de la souverainet et son utilisation dans la rationalit politique du XVII sicle, et dans les
socialismes des sicles XIX et XX. On reprend la configuration inaugurale donne par
Proudhon dans lequel il analyse le gouvernement en montrant comme sa rflexion a pris
comme le plus grand problme, dans la seconde moiti du sicle XIX, cela de faire vidente la
rationalit du pouvoir et les entranements de l'autorit quont t cristalliss dans domaines
d'objets de l'conomie politique. On reprend la rflexion de Malatesta et le problme de la
dominance, de l'organisation et du gouvernement en affirmant le besoin d'loigner sa
conception ces sujet l de la conception libral et marxiste, en remarquant comme, pour
Malatesta, le problme la fin du XIX sicle et dbut du XX sicle tait le principe de
l'organisation et ses rapports avec la dominance. On propose une autre physionomie la
rvolution dans l'anarchisme hors du modle de la Rvolution franaise. On approche une
dimension agonique de l'anarchisme qui a toujours fait du gouvernement une activit
dangereuse. On tudie la propagande pour le fait, son volution vers l'anarco-terrorisme et
l'laboration de Malatesta au sujet des usages de la violence et son opposition la terreur
comme principe. On approche le mouvement ouvrier et le syndicalisme en proposant le
pauprisme comme ralit sur lequel pose la subversion politique et l'anarchie comme
llment de tension qui force le mouvement ouvrier vers la rvolution. On reprend le
problme du fascisme comme indissociable du problme de la premire Guerre, en
approchant la controverse qui a mis dans des champs opposs Kropotkin et Malatesta. On
tudie le phnomne du fascisme travers la critique indistincte, du point de vue analytique,
que Malatesta a accomplie de la dmocratie et de la dictature, dans lequel a repouss la
stratgie librale de donner des positivits au tat de droit, et dans lequel il a dnonc dans la
dictature l'efficacit de rveiller des dsirs de dmocraties, o il a vu dans la dmocratie
l'lment le plus dangereux et le plus liberticida: la capacit stratgique de renouvellement du
principe d'autorit.
Paroles-cls: Anarchismes; Governamentalit; Pouvoir; Politique.
x
ABSTRACT
This is an study of the French anarchist's Pierre-Joseph Proudhon reflections (1809 -1865)
and of the Italian anarchist Errico Malatesta (1853 -1932) on the government's exercise using
an approach of the governmentality studies that tries to demonstrate the existence of a
problem "anarchy and governmentality" described as a positioning critical front to the power
in which the government's analysis is taken starting from government's practices and in
which the politician's intelligibility is analyzed in terms of relationships of force and the
government in technology terms. Looks for not only to approximate the anarchical
conception of the governmentality studies, but to point the possibility of an origin
relationship among the governmentality studies and the anarchy sketched by Proudhon in the
century XIX. Demonstrates as the notion of force had for the anarchy a breaking effect with
the classic interpretations of the theory of the sovereignty right and with his operation in the
political rationality of the century XVII and in the socialisms of the centuries XIX and XX.
Retakes the inaugural configuration given by Proudhon in that it analyzes the government
starting from the exercise of the government power, showing as his reflection took as larger
problem, in the second half of the century XIX, the one of turning evident the rationality of
the power and the practices of the authority beginning crystallized in domains of objects of
the political economy. Retakes the reflection of Malatesta and the problem of the dominance,
of the organization and of the government and affirms the need to move away his conception
about the conceptions liberal's dominance and Marxist, noticing as, for Malatesta, the
problem put in the end of the century XIX and beginning of the century XX was it of the
beginning of the organization and of their connections with the dominance. It proposes
another physiognomy to the revolution in the anarchism out of the model of the French
Revolution. It approaches a dimension agonic in the anarchism that always does an activity
of the government dangerous through which reverse-values some themes of the debate. It
studies the propaganda by the deed, they evolution for the anarco-terrorism and the
elaboration of Malatesta about the uses of the violence and his opposition to the terror as
principle. It treats of the labor movement and of the syndicalism proposing the pauperism as
reality on which rests the political subversion and the anarchy as tension element that impels
the labor movement for the revolution. It retakes the problem of the fascism as inseparable to
the problem of the First War, approaching the controversy that put in opposed fields
Kropotkin and Malatesta. Studies the phenomenon of the fascism through the
indistinguishable critic, of the analytical point of view, that Malatesta accomplished of the
democracy and of the dictatorship, with which rejected the liberal strategy of checking
assertiveness to the right State, it denounced in the dictatorship the effectiveness in waking
up democracy desires, and he saw in the democracy the element that turned it more
dangerous and more liberticidal than the dictatorship: it continues it capacity of strategic
renewal of the authority beginning.
Key-words: Anarchisms; Governmentality; Power; Politic.
introduo
Este trabalho investiga as reflexes do anarquista francs Pierre-Joseph
Proudhon (1809-1865) e do anarquista italiano Errico Malatesta (1853-1932) sobre o
exerccio do governo, utilizando uma abordagem dos estudos em governamentalidade.
Governamentalidade uma noo retomada de Michel Foucault, e designa
um campo estratgico de relaes de poder no que ele tem de mvel, de transformvel
e de reversvel. As anlises em governamentalidade buscam desinstitucionalizar as
relaes de poder para apreend-lo na sua formao, nas suas conexes, nos seus
desenvolvimentos e nos modos como ele se multiplica e se transforma mediante a ao
de inmeros fatores.
Desse modo, analisar Proudhon e Malatesta a partir dos estudos em
governamentalidade implica compreender os anarquismos imersos no interior de um
conjunto constitudo por instituies, dispositivos, mecanismos, saberes, estratgias,
anlises e clculos, articulados em relaes de poder. Implica compreend-los atuando,
sob a forma da recusa e da dissidncia, no interior de conflitos mais amplos e globais;
compreend-los funcionando no de maneira autnoma, mas como prticas de
resistncia, que portam a dimenso e o componente contra, e que possuem uma
positividade, ou melhor, uma produtividade de formas de existncias individuais e de
organizao coletiva.
2
Os anarquismos do sculo XIX e XX no somente estiveram inseridos nos
jogos de poder, como tambm desempenharam neles um papel fundamental. A partir
das inmeras estratgias de governo colocadas em funcionamento e das diversas
tticas empregadas nas suas resistncias, uma certa constituio poltica emergiu. Em
que medida a especificidade histrica do capitalismo, numa determinada poca, no
respondeu singularidade da recusa e da resistncia anarquista? Seria possvel falar de
uma correlao imediata e fundadora entre uma certa forma histrica do capitalismo e
a recusa anrquica? Os anarquismos no existiriam a no ser por esse jogo perptuo de
adaptaes e converses relativas e operadas entre fluxos de poder e linhas de fuga?
Ento, qual foi a forma que essa recusa tomou: ela foi uma recusa econmica, ou teria
tomado uma forma mais ampla, digamos, de uma recusa tica?
As respostas a essas questes tero um valor apenas aproximativo e
hipottico. Arriscando uma formulao, retomei as concepes de Michel Foucault
acerca do poder compreendido como multiplicidade de correlaes de foras, que so
imanentes ao domnio em que so exercidas, exercendo-se sob a forma de relaes de
jogos estratgicos que procuram, atravs de lutas e afrontamentos incessantes,
transformar, reforar e inverter essas correlaes de fora. Foucault concebeu a
poltica como uma possibilidade de codificao dessas correlaes de foras que
procura integrar e condicionar os mltiplos focos locais de poder. Os anarquismos
sero tomados agora integrando uma certa contingncia histrica do exerccio do
poder, como o que escapa e resiste, e constitui a fragilidade necessria e intrnseca de
sua formao e de suas configuraes estratgicas.
colocada em jogo, nas estratgias de poder, sua prpria contingncia
histrica: o momento em que um poder, procurando sua configurao naquilo que lhe
resiste, deixa escapar a fragilidade de sua formao. Isso coloca um dos problemas
fundamentais da poltica, precisamente a impotncia do poder. Impotncia nem sempre
necessria e real, mas, em todo caso, sempre suposta. De que outro modo compreender
o desenvolvimento, no Ocidente, de tantas relaes de poder, de tantas formas de
3
vigilncia e de tantos sistemas de controle, seno a partir de uma impotncia mais ou
menos consciente, mais ou menos sabida, do lado do poder? Se na balana do seu
exerccio, pendeu a perseguio meticulosa, a desmedida das punies, a
grandiloqncia judiciria, a magnificncia dos rituais, porque no fundo desse
excesso e dessa desmedida reside qualquer coisa como um perigo no exerccio do
poder. Assim, ao invs de definir o poder por seu exerccio absoluto em um campo
determinado, talvez fosse preciso levar em considerao essa correlao perptua entre
molar e molecular e notar de que maneira os centros de poder chegam a se definir por
aquilo que lhes escapa e pela sua impotncia, muito mais do que por sua potncia.
Agora, impotncia do poder possui sua espessura e sua realidade concreta,
constituda pelo fenmeno das resistncias como fato inevitvel decorrente do seu
exerccio. No existem relaes de poder que no suscitem resistncias, pois elas so o
reverso das relaes de poder e constituem seu interlocutor irredutvel. Tudo ocorre
como se as relaes de poder fossem de tal maneira constitudas e sua realidade
assumisse formas tais que seu exerccio fizesse resultar esses fenmenos de
dissidncia. Existe no poder e no princpio mesmo de sua mecnica qualquer coisa que
contm, que engendra e que implica comportamentos de resistncias e de dissidncias.
Para apreender essa impotncia do poder preciso ater-se a sua
materialidade efetiva, livrando-se das teorias da soberania e das concepes jurdicas
que tomam o poder em termos de direitos, de contrato, de legitimidade, de
representao etc. O campo concreto sobre o qual o poder exercido no constitudo
pela abstrao da vontade geral, ou por outra qualquer. Ao contrrio, a superfcie que o
poder atinge no seu exerccio constituda pelos corpos. Dessa materialidade de
corpos, e da realidade macia do poder exercendo-se sobre eles, resultam na sociedade
as instituies, as relaes, uma certa disposio e distribuio das coisas e das
pessoas etc. Porm, o fato da superfcie do poder ser constituda pela materialidade
dos corpos dos indivduos que faz do seu exerccio um expediente perigoso. O corpo
no jamais somente suporte de obedincia e de sujeio, mas tambm traz consigo
4
manifestaes de desobedincia e de indisciplina, tambm suporte de resistncias. O
corpo tambm vive contra o poder. Seja qual for o grau de terror que o poder possa
empregar, seja qual for a violncia que possa recobrir, a resistncia sempre possvel:
da lama do campo de concentrao irrompe ainda um gesto, talvez ltimo, de recusa.
O corpo tambm morre contra o poder. Na presena da mais atroz violncia, da mais
inaudita coero, h sempre a possibilidade desse momento, clamoroso ou calado, em
que na vida nada mais se permuta. A morte o limite e o momento que escapa ao
poder e faz aparecer, nos interstcios do poder que se exerce sobre a vida, a mais
estranha forma de liberdade. Na obstinao do suicdio, no qual a morte mais abjeta
prefervel mais branda das obedincias, reconhece-se uma certa potncia do riso:
essa capacidade de rir do prprio sofrimento. Quando pela vida se paga um alto preo,
ao invs do consolo de uma triste priso e da aceitao de uma dominao de algozes,
resta ainda a morte como estrada para a liberdade. Capacidade de apressar, em
determinadas circunstncias, o que cedo ou tarde se realizar. Esse tipo de resistncia
selvagem e pronta ao sacrifcio funcionou, de modo particularmente intenso, no
terrorismo anarquista dos anos 1890-1900 sob a forma do tiranicdio, cuja violncia
solitria e inopinada fez surgir, no discurso da criminologia lombrosiana, a teoria do
suicdio indireto.
A morte preferida a uma existncia derrisria: isso que faz com que uma
resistncia, por mais fraca que seja, custe qualquer coisa ao poder. Como na guerra,
por mais fraca que seja a defesa do guerreiro, sua morte ter sempre algum custo para
o inimigo. Momento fulgurante, que faz da morte o ponto mais vvido de uma
existncia: nada nasce to fraco como para morrer sem colocar em perigo, de uma
forma ou de outra, o poder que mata. Trata-se da existncia paradoxal, nesses embates
vitais e jogos mortais que vo da lucidez perante a existncia evaso da sociedade, de
um tipo de personalizao extrema da vida, de uma forma de experincia do
pensamento em que os prazeres da verdade no esto separados das provas do risco,
ou de qualquer coisa como um momento em que se coloca em jogo a prpria vida e se
5
risca uma morte sem herosmos. H tambm um domnio de si mesmo: quando tudo
parece estar perdido sob o peso de uma sujeio absoluta, a morte o limite do poder,
o ponto inatingvel da vida que resiste. o outro termo nas relaes de poder, que no
constitui seu reverso passivo, mas cumpre simultaneamente papel de adversrio, de
alvo, de apoio, para a emergncia de foras nas quais a subjetividade pode ser
entendida como dobra no interior da linha do poder, como uma zona de constituio na
qual possvel viver e pensar, na qual possvel resistir, escapar, e na qual possvel
reverter a vida ou fazer funcionar a prpria morte contra o poder. Subjetividade como
processo de resistncia s objetivaes, como inveno de uma vida possvel ou de
uma morte provvel, como caracterizao de um si no interior de um acontecimento.
Na existncia dessa possibilidade sempre aberta de resistncia preciso
buscar a inteligibilidade desse incitamento incessante do poder no reforo de sua
manuteno e no aperfeioamento de suas estratgias. E tanto mais ser o reforo
quanto maior forem as resistncias. Do mesmo modo que para compreender uma
resistncia preciso ter em conta o poder que a investe, que a provoca, que a produz.
Resistncia e poder sempre em perigo, resistncia e poder continuamente ameaado.
Esse perigo foi cantado nas tragdias da soberania de Shakespeare, quando Macbeth,
do alto do seu trono e premido pelo medo, finalmente confessa:
Ser rei assim, nada; necessrio s-lo com segurana.
Para os mortais a segurana o inimigo-mor, que jamais cansa.
Na primeira parte deste trabalho, no captulo um, procurou-se traar o
percurso do termo governamentalidade, seus usos e aproximaes com os diversos
anarquismos. Foi situada a genealogia desse termo no pensamento de Foucault e a
necessidade de pensar a governamentalidade no como o abandono das anlises do
poder em termos de guerra e dominao, mas como seu aprimoramento. A
governamentalidade indica o lugar instvel e mvel que a guerra ocupou na poltica,
6
fazendo do poltico um palco de agonismos incessantes no qual a atividade do governo
tomou um lugar fundamental.
O segundo captulo, dividido em dois momentos, dedicado s reflexes de
Proudhon. Inicialmente, apontando a existncia de uma problemtica chamada
anarquia e governamentalidade, retomou-se a dimenso da anarquia na qual a
concepo proudhoniana do poltico aparece descrita em termos de guerra, e encontra
no antagonismo das foras o princpio de inteligibilidade das relaes polticas. A
hiptese que atravs dessa problemtica possvel no somente aproximar a
concepo anrquica dos estudos em governamentalidade, como tambm apontar a
possibilidade de uma relao de procedncia entre os estudos em governamentalidade
e a anarquia esboada por Proudhon no sculo XIX.
A noo de fora teve para a anarquia um duplo efeito: no apenas rompeu
com as interpretaes clssicas da teoria do direito de soberania e com o discurso
histrico-poltico que lhe era oposto, mas tambm o funcionamento dessa noo no
anarquismo foi completamente distinto daquele praticado pela racionalidade poltica
do sculo XVII e pelos socialismos nos sculos XIX e XX. Assim, no segundo
momento da anlise, foi retomada a configurao inaugural que Proudhon deu
reflexo anarquista na qual analisa o governo no atravs das formas e da origem do
poder, mas a partir das prticas de governo e do exerccio do poder. A reflexo de
Proudhon tomou como um dos problemas maiores, na segunda metade do sculo XIX,
o de fazer re-aparecer a racionalidade do poder e as prticas do princpio de autoridade
cristalizados em domnios de objetos prprios aos da economia poltica. As estratgias
contra as quais se ops foram as teorias do contrato com suas categorias de vontade
geral, sufrgio universal, igualdade jurdica etc.
A segunda parte dedicada reflexo de Malatesta. O problema da
dominao, da organizao e do governo praticamente ocupam os trs primeiros
captulos. Inicialmente, afirmou-se a necessidade de afastar a concepo sobre a
dominao de Malatesta das concepes liberal e marxista, para em seguida perceber
7
como, para Malatesta, o problema que se colocou, no final do sculo XIX e comeo do
sculo XX, foi o do princpio da organizao e de suas conexes com a dominao. A
crise da governamentalidade nesse perodo provoca o deslocamento que levou de sua
articulao em torno da noo de igualdade poltica, que era implcita no contrato
social, para tentativas de despolitizao da questo social a partir das prticas de
organizao popular. A reflexo que Malatesta apresenta desse processo demonstra
muita clareza poltica, pensando a organizao anarquista como contra-organizao.
No captulo dois ainda essa reflexo que utilizada para propor uma outra
fisionomia da revoluo no anarquismo, freqentemente pensada atravs do modelo da
Revoluo Francesa; procurou-se mostrar que nem a revoluo, nem a reflexo de
Malatesta acerca da revoluo so redutveis a esse modelo.
O captulo trs aborda a dimenso que , talvez, a mais importante da
reflexo de Malatesta, na medida em que serve de princpio de inteligibilidade para
compreender outras problemticas, tais como o anarco-terrorismo, o sindicalismo e o
fascismo: trata-se de uma dimenso agnica no anarquismo, que faz do governo uma
atividade que se executa sempre perigosamente. Com essa dimenso, alguns dos temas
que povoaram o debate anrquico e as preocupaes que atravessaram sua histria
organizao, revoluo, anarco-terrorismo, movimento operrio, sindicalismo etc. ,
ganham outra dimenso por um efeito de renovao de sua inteligibilidade.
O captulo quatro dedicado propaganda pelo fato e sua evoluo para o
acontecimento do anarco-terrorismo. Foi a partir dessa problemtica que Malatesta
esboou sua reflexo sobre os usos da violncia e se contraps ao terror como
princpio.
O captulo cinco trata do movimento operrio e do sindicalismo. Nele foi
proposto o pauperismo como realidade sobre a qual repousa a subverso poltica.
Dessa forma, o movimento operrio, aparecendo como seu suporte ocasional, tornou-
se o alvo preferencial de uma multiplicidade de polticas sociais. A ao anarquista
atua como elemento de tenso que recusa essas polticas e impulsiona o movimento
8
operrio para a revoluo. Nesse processo, a reflexo de Malatesta sobre o
sindicalismo foi singular, na medida em que apontou os perigos de transform-lo em
programa.
Finalmente, o captulo seis dedicado ao fascismo. O problema do fascismo
indissocivel do problema da Primeira Guerra. Inicialmente, foi abordada a clebre
polmica em torno da guerra, que colocou em campos opostos Kropotkin e Malatesta.
Em seguida estudou-se o fenmeno do fascismo e a percepo singular que Malatesta
teve do problema. Foi em torno da guerra e do fascismo que Malatesta elaborou sua
crtica indistinta, do ponto de vista analtico, da democracia e da ditadura, e atravs da
qual ele rejeitou a estratgia liberal que consistia em conferir positividade ao Estado de
direito, denunciando na ditadura tambm sua eficcia em despertar desejos de
democracia. Ao mesmo tempo em que via na democracia o elemento que a tornava
mais perigosa e mais liberticida que a pior das ditaduras: a contnua capacidade de
renovao estratgica do princpio de autoridade.
Esta tese contou com bolsa sandwich concedida pela CAPES, o que
viabilizou o levantamento bibliogrfico realizado na Itlia durante o perodo de
outubro de 2004 a novembro de 2005. Em razo da escassez bibliogrfica sobre a
reflexo de Malatesta e da difcil sistematizao de sua obra, espalhada pelo mundo
sob a forma de centenas de artigos publicados em peridicos e pequenos ensaios, a
bibliografia utilizada neste trabalho pode ser considerada incluindo grande parte do
que existe disponvel sobre o tema. A ausncia quase completa de publicaes em
lngua portuguesa dos escritos de Malatesta e a ausncia de fato de estudos
sistemticos acerca do seu pensamento, torna difcil, e at mesmo impossvel,
prosseguir um estudo restrito s publicaes em lngua portuguesa. Da a necessidade
de recorrer massivamente literatura em lngua italiana. A sistematizao mais
importante de seus escritos , sem dvida, constituda pelos trs volumes dos Scritti
9
que condensam a maior parte de seus escritos de 1919 at sua morte, em 1932. Na
bibliografia, eles foram apresentamos de maneira que tornasse possvel localizar o
contexto de sua publicao original (ano, local, peridico). No entanto, preciso dizer
que, mesmo assim, trata-se de uma fonte insuficiente. Foi preciso complement-la por
diversos artigos publicados anteriormente a esse perodo, sobretudo nos jornais
dirigidos por Malatesta: La Questione Sociale, LAssociazione e Volont. As obras de
alguns estudiosos de Malatesta, tais como Giampietro Berti, Maurizio Antonioli e Carl
Levy, tambm tiveram de muita importncia.
O desenvolvimento desta tese pde ainda contar com estgio de pesquisa e
de cooperao internacional no perodo de dezembro de 2006 a novembro de 2007,
realizado na Frana no mbito do programa CDFB, Colgio Doutoral Franco-
Brasileiro, com financiamento da CAPES. Esse estgio possibilitou traar a
procedncia da noo de governamentalidade estabelecendo o percurso poltico-
filosfico realizado por Michel Foucault e procurando situar os desdobramentos que a
governamentalidade efetuou no arco mais amplo de suas pesquisas sobre a analtica do
poder. A realizao do estgio, alm de ter permitido o levantamento bibliogrfico
fundamental para o estudo da governamentalidade, permitiu acesso aos cursos ainda
inditos de Foucault depositados na Biblioteca Geral do Collge de France. A audio
dos cursos de 1979-1980, Du gouvernement des vivants, e de 1980-1981, Subjectivit
et Vrit, foram importantes para uma melhor compreeno dos desdobramentos que
tomou a problemtica da governamentalidade na trajetria intelectual de Foucault.
Uma decorrncia do estgio foi a traduo da primeira aula e excerto da segunda, do
curso de 1980-1981, publicada na revista Verve (FOUCAULT, M. Do governo dos
vivos. Verve, So Paulo, n 12, outubro/2007, p. 270-298). Valiosos para o
desenvolvimento do estgio foram o apoio e as estimulantes pesquisas do professor
Daniel Colson, indicadas na bibliografia geral.
10
Durante toda a trajetria desta pesquisa, fundamental e imprescindvel foi
poder compartilhar amizade, inspirao e problematizaes com o professor Edson
Passetti. Suas pesquisas e experincia intelectual, em especial as indicadas na
bibliografia geral, constituem referncias imperdveis para o estudo do anarquismo a
partir das contribuies de Michel Foucault.
Finalmente, fundamental foram as experimentaes propiciadas pela
coexistncia com os amigos do Ncleo de Sociabilidade Libertria do Programa de
Estudos Ps-Graduados em Cincias Sociais da PUC/SP.
11
1 parte:
proudhon,
anarquia e governamentalidade
12
captulo 1: poltica e guerra
1. anarquismos
O neologismo governamentalidade foi, talvez, o que conheceu a mais
surpreendente trajetria e posteridade. Sylvain MEYET (2005) fez um interessante
apanhado desse trajeto. A governamentalidade, tendo sido inicialmente apresentada
por Michel Foucault como a quarta aula do seu curso de 1978 no Collge de France,
teve sua primeira apario em suporte de texto, ainda no mesmo ano, na revista da
extrema esquerda italiana Aut-Aut, com transcrio e traduo de Pasquale Pasquino.
No ano seguinte, R. Braidotti e C. Gordon traduzem a verso italiana para a revista
inglesa Ideology & Consciousness e, ainda em 1979, Roberto Machado e ngela
Loureiro de Souza so os tradutores da verso portuguesa, publicada no ltimo
captulo do livro Microfsica do Poder, sem precisar, no entanto, a origem (nas
referncias bibliogrficas pode-se ler: A governamentalidade, curso no Collge de
France, 1
o
de fevereiro de 1978). S em 1986, dois anos aps a morte de Foucault,
que aparece uma verso francesa de A governamentalidade, publicada pela revista
Actes, trazendo a seguinte advertncia: O texto publicado [no ] uma transcrio
direta da fita original. [Este texto foi traduzido do italiano e], malgrado o esforo
dispensado ao trabalho, tantas idas e vindas probem consider-lo como sendo um
13
texto de M. Foucault (apud MEYET, 2005, p. 15). Outras verses foram publicadas
a partir da verso italiana, mas somente em 2004 editado na Frana o curso
completo, sob os cuidados de Michel Senellart, dando a A governamentalidade uma
transcrio feita a partir dos manuscritos de aula utilizados por Michel Foucault. O
curioso que muito antes da apario da verso francesa considerada autntica, um
grupo de pesquisadores anglfonos fundou em torno da revista inglesa Economy and
Society um projeto intelectual e um programa de pesquisas conhecido como
governmentality school. O manifesto inaugural desse grupo pode ser considerado o
nmero especial da revista, publicado em agosto de 1993, organizado por Nikolas
Rose, Thomas Osborne e Andrew Barry. Eles escrevem na introduo: os artigos
neste nmero especial de Economy and Society compartilham um interesse no
diagnstico das formas de racionalidade poltica que governam nosso presente. Desse
modo, possvel afirmar que os artigos compartilham de uma motivao comum
relativa a uma reinterpretao que exige novos modos de pensar acerca dos laos entre
o domnio da poltica, o exerccio da autoridade e as normas de conduta em nossa
sociedade (ROSE; OSBORNE; BARRY, 1993, p. 265). Segundo os organizadores,
governmentality school marca menos uma relao doutrinal ou dogmtica com os
trabalhos de Foucault do que a partilha de um certo ethos de anlise marcado pelo
desejo comum em analisar as racionalidades polticas contemporneas como tcnicas
concretas para o governo das condutas. (...) Liberalismo e neoliberalismo so
analisados aqui no simplesmente como tradio poltico-filosfica. So analisados
sobretudo como uma srie de prticas refletidas relativas a, e intervindo no, campo do
governo (Id.).
Foi a partir desse grupo de pesquisas organizado na Inglaterra, depois
incluindo pesquisadores australianos e americanos, em torno da noo de
governamentalidade que desde os anos 1990 uma srie de publicaes tomou a forma
de uma extensa literatura anglfona em estudos de governamentalidade, produzindo,
como notou DEAN (1999, p. 2), um novo ramo de saber no interior das cincias
14
sociais e humanas relativo s maneiras pelas quais se governa, o como do governo:
como ns governamos, como ns somos governados e a relao entre o governo de
ns mesmos, o governo dos outros e o governo do Estado. Mas apesar de toda essa
produo intelectual, isso que se chamou governmentality school no constituiu nem
um mtodo, nem uma teoria comum de estudos. DEAN (1999, p. 1) afirmou ser a
inspirao de seu livro reter alguma clareza nesses estudos em governamentalidade e
prover um instrumento e uma perspectiva para seu uso. Do mesmo modo, ROSE
(1999, p. 4-5 ) no toma a governamentalidade como teoria geral ou histria do
governo, da poltica ou do poder, como aplicvel a tudo. Existem aqueles que se
empenham em ser estudiosos de Foucault [There are those who seek to be Foucault
scholars]. (...) Eu reclamo uma relao livre com seu trabalho, muito mais inventiva e
emprica. Menos implicada com uma fonte de autoridade intelectual do que com um
trabalho com um certo ethos de anlise. Portanto, o que caracteriza os estudos em
governamentalidade no a busca de uma homogeneidade coerente com os trabalhos
de Foucault, no o interesse motivado por uma vontade de conhecimento exegtico,
mas uma vontade de tirar dele uma inspirao utilizvel para trabalhar sobre sua
prpria atualidade. E isso de tal modo que para a maioria dos utilizadores do termo o
conhecimento na ntegra do curso no foi indispensvel, como parece ter sido para os
franceses, j que suas aquisies derivaram de textos publicados e de resumos
propostos (MEYET, 2005, p. 30).
O que busco fazer neste trabalho , igualmente, um uso especfico dos
estudos em governamentalidade. A procedncia desse uso pode ser encontrada no
incio dos anos 1990, quando surgem alguns estudos que colocam em evidncia um
certo nmero de analogias entre o pensamento anarquista dos sculos XIX e XX e o
que se convencionou chamar de pensamento ps-estruturalista, categoria que contm o
prejuzo da sntese, como observou VACCARO (1998, p. 7), principalmente temporal,
mas que foi utilizada para se fazer referncia s reflexes de Michel Foucault, Gilles
Deleuze, Jacques Derrida e Franois Lyotard. Em relao a Foucault, a aproximao
15
com o pensamento anarquista foi possvel, sobretudo, no retournement efetuado por
ele a partir do segundo volume da sua Histria da Sexualidade, no qual se ocupar do
sujeito tico.
No Brasil, os efeitos iniciais dessas experimentaes podem ser vistos pelo
dossi organizado por Edson Passetti, publicado na revista Margem, da Faculdade de
Cincias Sociais da PUC-SP, em 1996, trazendo alguns estudos ento recentemente
publicados sob essa perspectiva no cenrio internacional, notadamente com os artigos
de Todd May e Salvo Vaccaro. Esse dossi foi responsvel pela introduo, no Brasil,
da problemtica anarquismo e ps-estruturalismo. Uma literatura disponvel sobre essa
problemtica pode ser citada como sendo composta das seguintes obras: de Todd May,
The Political Philosophy of Poststructuralist Anarchism, de 1994 [A Filosofia Poltica
do Anarquismo Ps-estruturalista]; de Saul Newman, em 2001, From Bakunin to
Lacan. Anti-Authoritarianism and the Dislocation of Power [De Bakunin a Lacan.
Anti-autoritarismo e Deslocamento do Poder] e, em 2005, Power and Politics in
Poststructuralist Thought. New theories of the political [Poder e Poltica no
Pensamento Ps-estruturalista. Novas teorias do poltico]; de Lewis Call, em 2003,
Postmodern Anarchism [Anarquismo Ps-moderno]; do pesquisador italiano Salvo
Vaccaro, alm do mencionado artigo na revista Margem, em 2004, Anarchismo e
modernit [Anarquismo e modernidade]; e do pesquisador francs Daniel Colson, de
2001, seu Petit lexique philosophique de lanarchisme. De Proudhon Deleuze
[Pequeno lxico filosfico do anarquismo. De Proudhon a Deleuze] e, de 2004, Trois
Essais de Philosophie Anarchiste. Islam Histoire Monadologie [Trs ensaios de
Filosofia Anarquista. Isl Histria Monadologia]. No Brasil, Edson Passetti
publica, em 2003, ticas dos Amigos invenes libertrias da vida e, no mesmo ano,
Anarquismos e sociedade de controle; e Margareth Rago publica em 2001 Entre a
histria e a liberdade: Luce Fabbri e o anarquismo contemporneo e, no ano de 2004,
Foucault, Histria e Anarquismo. Trata-se, aqui tambm, de uma extensa literatura
16
que, de algum modo, procura lidar com o anarquismo e o ps-estruturalismo; mas
nessa literatura existem diferenas que so fundamentais.
Quero sugerir que possvel extrair dessa literatura, grosso modo, dois
procedimentos analticos: um procedimento prprio ao ps-anarquismo anglfono e
um outro procedimento que chamaria anarquista tout court. So movimentos distintos
que levam a concluses completamente diferentes: enquanto nas anlises anarquistas a
inquietao repousa sobre o anarquismo ele mesmo, ou seja, o objeto da inquietao
a prpria realidade histrica do anarquismo; no ps-anarquismo o objeto da
inquietao constitudo pelo que Viven GARCA (2007, p. 30) chamou de French
Theory e a recorrncia ao anarquismo histrico no se d a no ser de maneira
negativa. Da duas questes distintas. Na perspectiva anarquista: estando dada essa
realidade histrica do anarquismo, qual pertinncia ela poderia ter no presente, a partir
do momento em que se d anlise instrumentos tais como aqueles encontrados no
pensamento ps-estruturalista? J na perspectiva ps-anarquista a questo : estando
dada essa analogia ambgua e problemtica, mas em todo caso efetiva, entre
anarquismo e ps-estruturalismo, quais diferenas estabelecer, quais rupturas, quais
rejeies ou quais similitudes se desenham? Em outras palavras, o ps-anarquismo
no se posiciona em uma continuidade histrica com o anarquismo. (...) O prefixo
ps atribudo ao termo anarquismo sugere, de qualquer modo, que esse ltimo, tal
como foi pensado at ento, est de alguma maneira obsoleto (Ibid., p. 44). Assim,
para os ps-anarquistas se existe qualquer possibilidade de sentido crtico que o
anarquismo possa ter hoje, ela deve ser buscada entre os instrumentos legados pela
French Theory. Est claro quando Todd MAY (1998, p. 84) afirma que
o poder constitui para os anarquistas uma fora repressiva. A imagem com a qual opera
aquela de uma fora que comprime e s vezes destri aes, eventos e desejos com os
quais mantm contato. Essa imagem comum no apenas a Proudhon, Bakunin, Kropotkin
e em geral aos anarquistas do sculo XIX, mas tambm queles contemporneos. uma
tese sobre o poder que o anarquismo compartilha com a teoria liberal da sociedade, que
considera o poder como uma srie de vnculos ao, principalmente prescritos pelo
Estado, cuja justia depende do estatuto democrtico desse Estado.
17
J Saul NEWMAN
1
(2001, p. 37), no captulo dedicado ao anarquismo, em
From Bakunin to Lacan, afirma, a partir de uma citao de Kropotkin, que a histria,
para os anarquistas, a luta entre humanidade e poder, e seria essa dimenso que faz
com que o anarquismo esteja baseado sobre uma noo especfica de essncia
humana. Para os anarquistas, nessa noo existe uma natureza humana com
caractersticas essenciais, como por exemplo a idia bakuninista de justia e de bem:
Bakunin define essa essncia, essa moralidade natural humana como respeito
humano, e a partir dessa definio ele levado a admitir direitos humanos e
dignidade humana em todos os homens. Essa noo de direitos humanos parte do
vocabulrio humanista do anarquismo e fornece o ponto de partida em torno do qual a
crtica do poder est baseada (Ibid., p. 38). Enfim, ao supor a existncia de uma
natureza humana boa, Newman afirma que o anarquismo estaria baseado, de maneira
clara, na diviso maniquesta entre autoridade artificial e autoridade natural, entre
poder e subjetividade, entre Estado e sociedade. Alm disso, a autoridade poltica
fundamentalmente opressiva e destrutiva do potencial humano (Ibid., p. 39).
Retomando essa discusso em seu livro posterior, NEWMAN (2005, p. 31) afirma sua
inteno de querer tomar com seriedade o ataque dirigido por Nietzsche contra o
anarquismo, no qual foi lanado o epteto de manada de animais moralistas [herd-
animal morality]. Newman pretende explorar a lgica do ressentimento nas polticas
radicais e, particularmente, no anarquismo, procurando
desmascarar os traos de ressentimento ocultos no pensamento poltico maniquesta de
anarquistas clssicos tais como Bakunin e Kropotkin. Mas no com a inteno de diminuir
o anarquismo como teoria poltica. Ao contrrio, vejo o anarquismo como um importante
precursor terico da poltica ps-estruturalista em razo da sua desconstruo da autoridade
poltica e da sua crtica ao determinismo econmico marxista.
1
Para uma aproximao com o pensamento de Newman em portugus, veja-se: Guerra ao Estado: o
anarquismo de Stirner e Deleuze. Verve, So Paulo, n 8, outubro/2005, p. 13-41; As polticas do ps-
anarquismo. Verve, So Paulo, n 9, maio/2006, p. 30-50.
18
Para o ps-anarquismo, o anarquismo no pode assumir outro valor, em
relao poltica ps-estruturalista, que o da crtica ao determinismo econmico e da
desconstruo da autoridade. Desse modo, a oposio entre anarquismo e ps-
anarquismo no , portanto, um debate histrico entre o anarquismo clssico
(entendido como anarquismo do sculo XIX) e o anarquismo de hoje (o ps-
anarquismo). Mas marca uma verdadeira ruptura epistemolgica (GARCA, 2007, p.
80).
Est fora dos propsitos deste trabalho investigar a validade das crticas do
ps-anarquismo. Para tanto, basta remeter-se ao trabalho de Garca, que constitui um
excelente ensaio sobre o assunto. Introduziu-se essa discusso para, de um lado, tornar
clara a distncia que separa o empreendimento procurado aqui das anlises polticas do
ps-anarquismo, e, de outro, para evidenciar a necessidade de se definir um
vocabulrio especfico que ser adotado na anlise do pensamento de Errico
Malatesta.
Agora a partir da perspectiva anarquista tourt court, e com relao questo
sobre qual pertinncia para o presente pode ser extrada da realidade histrica do
anarquismo atravs de uma anlise realizada com os instrumentos fornecidos pelas
reflexes de Foucault e Deleuze, a resposta assume um valor heurstico completamente
diferente.
Para VACCARO (2004, p. 8), por exemplo, o pensamento anarquista, ao
buscar a abolio do poder, afirma uma procura interminvel, e sempre em sentido
mvel, de vida que retraa livremente ligaes sociais expressas experimentalmente,
renovveis e revogveis vontade, constitutivamente fludas, no cristalizadas em
corpos institucionais e que, em ltima anlise, caracteriza a relao
singularidade/comunidade (Ibid., p.8). desse modo que a distncia que separa a
concepo anrquica do poder, decisivamente negativa porque afirmativa da liberdade
como prtica prioritria, daquela de Foucault menor do que se apresenta primeira
vista. Para Vaccaro, algumas liaisons dangereuses [ligaes perigosas] servem para
19
precisar as confluncias entre anarquismo e ps-estruturalismo, como por exemplo a
crtica dialtica, contra a qual ambos opuseram o arbitrrio e o excedente,
sublinhando a margem de manobra possibilitada pela vontade ao apostar no ato
subversivo de liberao.
Assim, Margareth RAGO (2004, p. 9) narra a fora de atrao existente entre
os operadores foucaultianos, com seus ataques aos micropoderes, ao biopoder, ao
dispositivo da sexualidade, ao controle social e individual, invisvel e sofisticado, que
passava despercebido pelo olhar orientado pelas teorias marxistas e liberais ento
hegemnicas, e a crtica radical anarquista do poder nas relaes cotidianas,
exercido nas instituies disciplinarizantes; o questionamento dos cdigos morais
rgidos e autoritrios, introduzidos na modernidade; a defesa do amor livre, da
maternidade voluntria, do prazer sexual das mulheres, tal como desfilavam nas folhas
amareladas e envelhecidas dos jornais libertrios A Plebe, [A] Lanterna, Terra Livre,
A Voz do Trabalhador. Ento, para Rago no foi difcil perceber o quanto essas duas
vertentes Foucault, de um lado e; o Anarquismo, de outro se aproximavam, a
despeito da distncia cronolgica e da prpria independncia de um em relao ao
outro (Ibid., p. 10). A partir dessa inquietao, Rago procurou mostrar os vnculos
existentes entre Foucault e o anarquismo, apontando a forte presena anarquista em
sua forma de pensamento, ampliando as possibilidades de leitura da sua obra e
criando outras condies para se revisitar a histria do Anarquismo (Ibid., p. 16).
possvel dizer que foram essas ligaes perigosas que permitiram a Edson
PASSETTI (2003a, p. 37) encontrar, de um modo particular, no pensamento de Max
Stirner uma referncia que instiga o estudo, no interior do anarquismo, da amizade da
associao dos nicos como atualidade libertria, da mesma maneira que, hoje em dia,
Nietzsche e Foucault so procedncias imperdveis no s para a amizade como tema
menor, a amizade entre amigos, mas para o prprio anarquismo. Para Passetti, ao
contrrio dos ps-anarquistas, essa nova faceta resultante da aproximao do
anarquismo com vertentes ps-modernas,
20
no exclui as anteriores e com elas convive, dialoga e debate. Apresenta-se como parte
constitutiva que investe, preferencialmente, no campo das interdies polticas, culturais e
sexuais. Ampliam-se os laos de amizade no interior do anarquismo com base na diferena
na igualdade, considerando que, sempre liberto da soberania da teoria, o anarquismo um
saber que se faz pela anlise da sociedade e que supe a coexistncia. (PASSETTI, 2003b,
p. 69)
Mas o que importa para Passetti no vincular diretamente Foucault ao
anarquismo, o que para ele seria se propor a andar em crculos tentando apanhar o
prprio rabo (PASSETTI, 2007, p. 61). O que aproxima Foucault dos anarquistas a
concepo do poder apresentada em ambos como relao de fora, concepo que
desloca e desassossega a herana liberal e socialista que entende o poder como
decorrncia dos efeitos de soberania e de seus desdobramentos jurdico-polticos.
Daniel COLSON (2001, p. 9) afirma uma nova legibilidade do anarquismo,
evidente a partir da segunda metade do sculo XX, e que ele atribui a um pensamento
contemporneo, aparentemente sem relao com o anarquismo histrico, referindo-se
frequentemente mais a Nietzsche do que a Proudhon, mais a Espinosa do que a
Bakunin ou a Stirner, que contribuiu, ainda que sorrateiramente mas com a fora da
evidncia, para dar sentido a um projeto poltico e filosfico esquecido mesmo antes
de poder expressar aquilo que portava. Assim, segundo Colson, seria preciso ver
como o nietzschianismo de Foucault ou de Deleuze, a releitura de Espinosa ou de Leibniz
que ele autoriza, mas tambm a redescoberta atual de Gabriel Tarde, de Gilbert Simondon
ou ainda de Alfred North Whitehead, no somente do sentido ao pensamento libertrio
propriamente dito, aos textos de Proudhon e de Bakunin por exemplo, mas tambm
ganham eles mesmos sentido no interior desse pensamento que elucidam e renovam,
contribuindo, talvez, com esse feliz encontro, em tornar possvel o anarquismo do sculo
XXI. (Ibid., p. 10)
Segundo COLSON (2004, p. 28), para melhor compreender a fora irruptiva
do que ele chamou de terceiro perodo do anarquismo, preciso enfatizar o
ressurgimento surpreendente de um pensamento esquecido durante longo tempo nos
arquivos e nas bibliotecas e em meio a um contexto que tinha o marxismo como fora
hegemnica, fosse sob a forma da ditadura do Estado socialista, fosse sob a forma do
patrulhamento terico exercido pelo marxismo estruturalista das elites eruditas da rue
21
dUlm. Foi nesse contexto, e em meio a uma enorme exploso de vida e de revoltas,
que emergiu, de maneira diversa e fragmentria, um grande nmero de filsofos e
pensadores, dentre os quais foi sobretudo com Deleuze e Foucault, que apareceu na
situao emancipadora dos anos 1960 e 1970, uma concepo filosfica que no era
nova, mas que, esquecida, revestia-se ento com todos os traos de uma ruidosa
novidade. Foi um pensamento que, dando a si mesmo como referncia Nietzsche,
rompeu com as representaes filosfico-polticas de Hegel, Marx e do marxismo. Foi
essa inveno de um Nietzsche emancipador e de esquerda, malgrado seu anti-
socialismo e seu anti-anarquismo declarados, que conferiu a esse encontro improvvel
a possibilidade de tornar explcita a fora de suas razes, dar sentido a uma histria
operria reduzida por muito tempo a peripcias enigmticas, insignificantes e
derrisrias, tornar perceptvel a radicalidade, a amplitude e a novidade passadas de
suas prticas e de seus projetos (Ibid., p. 29-30).
Alm disso, essa renovao do pensamento libertrio no final do sculo XX
tambm estabeleceu a possibilidade de reler o pensamento de autores como Proudhon,
Bakunin, Kropotkin e Malatesta, autores que uma prefixao utpica e as aspas da
irriso tinham excludo da montona confraria do saber erudito. Com Foucault e
Deleuze foi finalmente possvel assimilar, em toda sua conseqncia, a idia
subjacente histria do movimento operrio na Europa e na Amrica.
Para alm de uma ideologia anarquista fechada durante muito tempo em sua inspirao,
reduzida a uma bricolage de substituio, no bom sentido utilitria de Jules Ferry, a um
humanismo, um individualismo e um racionalismo estreito e cientfico, tornou-se enfim
possvel no apenas apreender a natureza das afinidades entre Nietzsche e os movimentos
libertrios, mas tambm retomar a analogia entre esses movimentos e um pensamento
filosfico e poltico anterior e largamente esquecido (...). A Idia anarquista, pela
descoberta de seu duplo e sucessivo desdobramento terico e prtico podia, por sua
vez, intensificar a expresso filosfica que a tornava visvel, uma expresso filosfica
nascida de outro modo e mais tarde, em outras circunstncias, a partir de outros
movimentos e de outras condies (Ibid., p. 30).
O que significativo que Colson procura explicitar que, para alm do
estabelecimento de um mero lao de filiao e vnculo, empreendimento de outro
22
modo inadequado, como sugeriu PASSETTI (2007), seria preciso perceber o
movimento pelo qual a Idia anarquista foi capaz de conferir sentido a uma afirmao
comum da vida, a uma crtica radical da cincia e da modernidade, a uma mesma
percepo da transformao incessante e da subjetividade irredutvel das foras e dos
seres, a uma concepo do mundo, da opresso e da emancipao que arrunam
radicalmente as velhas distines entre indivduo e sociedade, subjetividade e
objetividade, unidade e multiplicidade, eternidade e devir, real e simblico
(COLSON, 2004, p. 30). Em outras palavras, seria preciso perceber antes, depois, ao
lado ou implicitamente ao anarquismo, a existncia da anarquia. Evitar a todo custo
dar anarquia uma realidade programtica, uma forma doutrinal, uma rigidez terica.
Perceber a anarquia como viso de mundo cuja histria rompe certamente com os
quadros da modernidade e do Iluminismo. Como fez, por exemplo DELEPLACE
(2000, p. 13), que, ao procurar traar a histria da palavra anarquia e de seus usos
desde o sculo XVIII, mostrou a existncia visvel da elaborao de um conceito,
ainda que negativo, (...) mas segundo um processo que possvel elevar importncia
da conceitualizao positiva da anarquia empreendida posteriormente com Proudhon.
De tal maneira que, ao longo da histria, a noo de anarquia foi sempre o objeto de
uma elaborao realizada, e preciso apreender na riqueza desse discurso no
somente uma designao socio-poltica, mas tambm uma noo-conceito ou uma
noo-prtica a partir da qual a anarquia se mostra apta para cobrir todo o campo das
categorias descritivas do discurso revolucionrio (Ibid., p. 14).
Dar ao anarquismo a funo de categoria meramente classificatria , como
afirmou COLSON (2001, p. 28), arriscar a negao da prpria anarquia da qual ele
pretende ser a expresso terica e prtica; seria igual-lo a uma instituio fechada
sobre sua prpria identidade, dispondo de um interior e de um exterior, com seus
rituais de entrada, seus dogmas, sua polcia e seus padres, suas excluses, suas
dissidncias, seus antemas e suas excomunhes. Seria preciso, ao contrrio, declarar
a disposio do anarquismo pertencente a todos, e extrair disso uma possibilidade
23
preciosa de fazer dele um projeto comum a uma multiplicidade de situaes, a uma
infinidade de funes de sentir, de perceber e de agir. o melhor meio de perceber no
anarquismo essa estranha unidade, da qual fala Deleuze, que se diz to s do
mltiplo.
Aquilo que procuro mostrar neste trabalho uma re-leitura do pensamento
de Errico Malatesta a partir das implicaes tericas disso que descrevemos como
problemtica da governamentalidade. Retomo a reflexo poltica de Michel Foucault,
portanto, com o propsito de restituir a fora crtica do anarquismo, particularmente de
Errico Malatesta, cujo pensamento ser apresentado a partir de uma perspectiva de
estudos em governamentalidade, quer dizer, a partir de uma analtica das relaes de
poder fora das concepes jurdico-liberal e marxista. Talvez retomar no seja a
palavra certa para designar a inteno que busco efetuar, talvez fosse melhor falar em
vontade de apropriao, no sentido nietzschiano ou foucaultiano do termo, j que se
trata menos de efeitos de harmonia e de filiao do que de uso.
2. poder e governamentalidade
A anlise em termos de relaes de foras no domnio poltico um dos
aspectos fundamentais nos estudos em governamentalidade. Como sugeriu ROSE
(1999, p. 5), nesses estudos as investigaes sobre governo consideram as foras que
atravessam os mltiplos conflitos atravs dos quais a conduta dos indivduos est
sujeita ao governo: prises, clnicas, salas de aula e abrigos, empresas e escritrios,
aeroportos e organizaes militares, mercados e shopping centers, relaes sexuais etc.
O objetivo da anlise
24
localizar as relaes de fora a um nvel molecular, a maneira como circulam atravs de
mltiplas tecnologias humanas, em todas as prticas, arenas e espaos nos quais programas
para a administrao dos outros imbricam-se com tcnicas para a administrao de si
mesmo. Ela focaliza sobre as vrias manifestaes disso que se poderia chamar a vontade
de governar representada em uma multido de programas, estratgias, tticas,
dispositivos, clculos, negociaes, intrigas, persuases e sedues objetivando conduzir a
conduta dos indivduos, grupos, populaes e at de si mesmo.
Em uma perspectiva da governamentalidade questes de Estado e soberania,
tradicionalmente centrais para as investigaes do poder poltico, so deslocadas. O
Estado aparece agora como simples elemento cuja funcionalidade historicamente
especfica e contextualmente varivel em meio a muitos circuitos de poder,
conectando uma diversidade de autoridades e foras, no interior de uma totalidade
variada de conjuntos complexos (Id.).
O termo governamentalidade foi forjado no curso Segurana, Territrio,
Populao [Scurit, Territoire, Population]; malgrado o ttulo, o curso vai lidar com
outra problemtica a partir da aula de primeiro de fevereiro de 1978: se as aulas
anteriores, como explica FOUCAULT (2004b, p. 91) tinham sido dedicadas srie
segurana-populao-governo, agora tratar-se- de estudar o problema do governo. O
deslocamento de tal modo visvel que, aps ter introduzido a problemtica da
governamentalidade, Foucault dir no fim dessa aula que no fundo, se eu quisesse ter
dado ao curso que realizo este ano um ttulo mais exato, no seria certamente
segurana, territrio, populao que eu teria escolhido. O que gostaria de fazer agora
(...) seria qualquer coisa que eu chamaria de uma histria da governamentalidade
(Ibid., p. 111). Como ressalta da sua prpria afirmao, essa noo se tornou
fundamental para o conjunto da obra de Foucault. Seria preciso seguir alguns de seus
desenvolvimentos para melhor compreender essa importncia.
Logo aps a apario do primeiro volume de Histria da Sexualidade,
Michel FOUCAULT (2001c, p. 231) dizia, em entrevista de janeiro de 1977, que o
essencial de seu trabalho foi uma re-elaborao da teoria do poder. Nessa re-
elaborao afirma ter abandonado uma concepo tradicional do poder como
25
mecanismo essencialmente jurdico que dita a lei, poder como interdio com seus
efeitos negativos de excluso, rejeio etc. A Ordem do Discurso, de 1970, aparece
como um momento de transio, no qual articulao do discurso com os mecanismos
de poder, Foucault afirma ter proposto uma resposta inadequada ao retomar a
concepo de poder que tinha utilizado em Histria da Loucura e que, no contexto
desse projeto, lhe pareceu suficiente, j que durante o perodo clssico, o poder se
exerceu sobre a loucura sem dvida nenhuma, pelo menos sob a forma maior da
excluso; assiste-se, ento, a uma grande reao de rejeio na qual a loucura
encontrou-se implicada. De modo que, analisando esse fato, pude utilizar sem muito
problema uma concepo puramente negativa do poder (Ibid., p. 229). Segundo
Foucault, foi sua experincia concreta a propsito das prises, em 1971-1972, que o
convenceu de que no era em termos de direito, mas em termos de tecnologia, em
termos de ttica e estratgia (Id.) que era preciso analisar o poder. Essa substituio
ele operou primeiramente em Vigiar e Punir, publicado em 1975.
Foi no interior dessa re-elaborao da teoria do poder que Foucault forjou os
neologismos biopoltica e governamentalidade, ambos destinados a analisar relaes
de poder sob diferentes aspectos: o primeiro ao nvel dos processos ligados
populao, o segundo ao nvel das tecnologias de governo. Essas duas noes
constituem a contribuio mais importante de Foucault para o debate no interior da
cincia poltica: sua fora de inovao inaugurou um novo ramo de saber no domnio
da poltica, sobretudo com a escola anglfona governmentality studies, que rompeu
com as tradies liberal e marxista de anlise do poder.
Com as contestaes de 1968, o colapso do comunismo na Europa oriental e
na ex-URSS, assistiu-se tambm crise dos modelos hegemnicos no pensamento
poltico, representados pelo liberalismo e pelo marxismo, e um novo horizonte foi
aberto, permitindo uma insurreio de saberes sujeitados que provou a eficcia de
crticas descontnuas, locais e particulares, crticas que, segundo Foucault (1999a, p.
10), tinham sido at ento suspensas pelos efeitos de teorias envolventes e globais. A
26
irrupo de uma imensa criticabilidade das coisas levantava problemas relacionados ao
poder e ao seu funcionamento nos diversos campos do saber, desde a medicina at a
pedagogia, passando pela psiquiatria, pela criminologia, pela psicanlise etc. A
contestao, portanto, atingiu o poder no lugar mesmo onde se exercia, na imediatice
de seu exerccio e atravs dos prprios corpos que ele investia. Lutas locais e
particulares contra a autoridade de um poder que atuava a nvel microfsico: poder do
macho, do pai, do homem, do branco, do mdico, do psicanalista etc., questionados
por homossexuais, por filhos, por mulheres, por negros, por doentes, por loucos etc. A
partir das contestaes de 1968 o desejo comeou a ser levado em conta, fazendo
emergir um certo sujeito revolucionrio plural. Sujeito que no era somente proletrio,
mas proletrio e homossexual, louco, drogado, feminista, estudante. O final dos anos
1960 foi um perodo caracterizado pela eficcia das ofensivas dispersas e descontnuas
contra as redes de poder. O tipo de saber que essas ofensivas fez circular foi o saber
das pessoas, um saber que era particular, local, diferencial e imanente luta; incapaz,
portanto, de se tornar unnime e de exigir consenso, e que retira sua fora unicamente
da resistncia que oferece a tudo que buscava aprision-lo. Foram saberes que se
manifestaram l onde materialmente e progressivamente o sujeito era construdo pelo
poder a partir da multiplicidade dos corpos, das foras, das energias, dos desejos e dos
pensamentos.
De um lado, desbloqueio de uma crtica no hierarquizada do poder e, de
outro, lutas locais e horizontais contra o poder: trata-se de um cenrio que tornou atual
e urgente uma tradio anrquica do pensamento poltico ocidental que tinha sido,
desde a derrota da Revoluo Espanhola e a ascenso totalitria na Europa e na
Amrica, se no desqualificada, ao menos desacreditada na sua fora crtica. Foi a
partir desse cenrio, como dir COLSON (2004, p. 31), que a idia anarquista podia
reafirmar uma concepo do mundo na qual todas as coisas esto reportadas a uma
pluralidade infinita de foras e de pontos de vista em luta por sua afirmao, uma
concepo na qual, como tinha afirmado Proudhon, todo grupo um indivduo, dotado
27
de subjetividade, porque todo indivduo ele mesmo um grupo, uma resultante
(portanto, um fluxo subjetivo), um composto de potncias e de vontades.
A partir da sua militncia no GIP (Grupo de Informao sobre as Prises),
Foucault (2001b, p. 1174) constatou a insuficincia das anlises do poder de que se
dispunha. Dizia que, no obstante o interesse de um grande nmero de jovens pelo
engajamento na luta contra a priso, faltavam-lhes os instrumentos analticos porque
o PC, ou a tradio marxista francesa em geral, pouco ajudam naquilo que concerne
aos marginais, naquilo que compreende seus problemas e o que apresenta suas
reivindicaes. A esquerda ela mesma tem a maior repugnncia de fazer esse trabalho.
Ns temos necessidade de anlises a fim de poder dar um sentido a essa luta poltica
que comea.
Alm disso, vivia-se o tempo de uma urgncia poltica que se apresentou,
segundo Foucault, desde o fim do nazismo e do stalinismo, como problema do
funcionamento do poder no interior das sociedades capitalistas e socialistas. No o
funcionamento global do poder, tal como poderia aparecer em termos de Estado, classe
ou castas hegemnicas, mas toda essa srie de poderes sempre mais tnues,
microscpicos, que so exercidos sobre os indivduos no seu comportamento cotidiano
e at em seus corpos. Vivemos imersos no fio poltico do poder, e esse poder que
est em questo. Penso que desde o fim do nazismo e do stalinismo todo mundo se
coloca esse problema. o grande problema contemporneo (2001b, p. 1639). Mas
diante dessa urgncia colocava-se a incapacidade analtica da poca: segundo
Foucault, enquanto a direita questionava o poder em termos de Constituio, de
soberania, enfim, em termos jurdicos, o marxismo questionava-o em termos de
aparelhos de Estado. Parecia suficiente denunciar o poder de uma maneira polmica e
global:
28
o poder no socialismo sovitico era chamado pelos seus adversrios de totalitarismo; e, no
capitalismo ocidental, era denunciado pelos marxistas como dominao de classe, mas a
mecnica do poder no era jamais analisada. Pde-se comear a fazer esse trabalho apenas
depois de 1968, quer dizer, a partir das lutas cotidianas e conduzidas na base, com aqueles
que se debatiam nas malhas mais finas das redes do poder. l onde o concreto do poder
apareceu e ao mesmo tempo a fecundidade visvel dessas anlises do poder para se dar
conta dessas coisas que tinham ficado at l fora do campo da anlise poltica. Para dizer as
coisas mais simplesmente, o internamento psiquitrico, a normalizao mental dos
indivduos, as instituies penais tm certamente uma importncia muito limitada quando
busca-se somente a significao econmica. Ao contrrio, no funcionamento geral das
engrenagens do poder, elas so sem dvida essenciais. (FOUCAULT, 2001c, p. 146)
Era uma dificuldade que provinha, segundo FOUCAULT (2001b, p. 1180),
do desconhecimento quase completo acerca do poder e desse fato de que nem Marx
nem Freud eram suficientes para fazer conhecer essa coisa enigmtica, ao mesmo
tempo visvel e invisvel, presente e oculta, investida por toda parte, que se chama o
poder. Nem a teoria do Estado, nem a tradicional anlise dos aparelhos do Estado,
davam conta do campo de exerccio do poder.
o grande desconhecido: quem exerce o poder? Onde ele exerce? Atualmente, sabe-se
suficientemente quem explora, para onde vai o lucro, nas mos de quem ele passa e onde
ele ser reinvestido, mas o poder... Sabe-se bem que no so os governos que detm o
poder. Mas a noo de classe dirigente no nem muito clara, nem muito elaborada.
Dominar, dirigir, governar, grupo no poder, aparelho de Estado etc., existe aqui
todo um jogo de noes que exigem anlises. Assim como seria preciso saber at onde se
exerce o poder, por quais rels e at quais instncias frequentemente nfimas, de hierarquia,
de controle, de vigilncia, de interdies, de obrigaes. Por toda parte, onde existe poder,
o poder se exerce. Ningum, propriamente falando, seu titular; e, no entanto, ele se
exerce sempre numa certa direo, com uns de um lado e os outros do outro; no se sabe
precisamente quem o tem; mas sabe-se quem no o tem (Ibid., p. 1180-1181).
Portanto, o problema dessa insuficincia aparece ligado, desde o comeo dos
anos 1970, aos impasses das teorias liberal e marxista do poder. Segundo Daniel
DEFERT (2001, p. 55), quando da publicao de o Anti-dipo Foucault diz a Deleuze
que preciso se desembaraar do freud-marxismo. Deleuze responde: Eu me
encarrego de Freud, voc se ocupa de Marx?. No resumo do curso Teorias e
instituies penais no Collge de France, nos anos 1971-1972, Foucault (2001b, p.
1257) afirmava sua hiptese de trabalho segundo a qual poder e saber no estavam
ligados um ao outro somente pelo jogo dos interesses e das ideologias e o problema
29
no era o de saber como o poder imprime ao saber contedos e limitaes ideolgicas,
mas de colocar no incio de toda anlise a implicao necessria entre saber-poder. A
partir de 1972, portanto, Foucault desloca o nvel da sua anlise, que passa da
arqueologia do saber dinstica do saber: aps ter analisado as formaes
discursivas e os tipos de discurso em Arqueologia do Saber e As palavras e as coisas,
seu projeto agora estudar como esses discursos puderam formar-se historicamente e
sobre quais realidades histricas eles se articularam, ou seja, em quais condies,
histricas, econmicas e polticas, eles emergiram. A questo do poder ganha cada vez
mais relevo. Parece-me que fazer a histria de certos discursos, portadores de saberes,
no possvel sem ter em conta as relaes de poder que existem na sociedade onde
esse discurso funciona. (...) As palavras e as coisas, situa-se no nvel puramente
descritivo que deixa inteiramente de lado toda anlise das relaes de poder que
sustentam e tornam possvel a apario de um tipo de discurso (FOUCAULT, 2001b,
p. 1277). Trata-se de uma anlise inversa da tradio marxista, que consiste em
explicar as coisas em termos de superestruturas, quando, ao contrrio, o sistema penal
ao qual se dedicou FOUCAULT (2001b, p. 1298) um sistema de poder que penetra
profundamente na vida dos indivduos, relacionando-os ao aparelho de produo. Na
mesma poca, segundo Daniel DEFERT (2001, p. 57), Foucault empreende a anlise
das relaes de poder a partir da mais indigna das guerras: nem Hobbes, nem
Clausewitz, nem luta de classes, mas a guerra civil.
O curso de 1972-1973 no Collge de France intitulado A sociedade
punitiva, que deveria chamar-se inicialmente A sociedade disciplinar (Ibid., p. 58),
talvez a primeira elaborao sistemtica da concepo do poder de Michel Foucault.
Foi aps esse curso, em abril de 1973, que Foucault terminou a primeira redao do
livro sobre as prises (Vigiar e punir) (Id.). Nele, Foucault mencionou o hbito que se
tinha, no sculo XIX, de classificar as sociedades conforme a maneira pela qual elas
tratavam seus mortos. Existiam, ento, dois tipos de sociedade: as incineradoras e as
inumatrias. Em analogia a esse tipo de classificao, Foucault pergunta se no seria
30
possvel classificar as sociedades segundo a sorte que elas reservam, no aos mortos,
mas a aqueles dos que entre os vivos ela pretende se desvencilhar, segundo a maneira
pela qual as sociedades dominam esses que procuram escapar ao poder, o modo como
as sociedades reagem a esses que transpem, rompem ou contornam, de uma maneira
ou de outra, as leis (FOUCAULT, 1973, fl. 1). Assim, existiram sociedades, como as
gregas, que privilegiaram o exlio, o banimento para fora das fronteiras, a interdio a
certos lugares; outras sociedades, como as germnicas, organizaram compensaes,
impuseram reembolsos, converteram o dano em dvida, o delito em obrigao
financeira; existiram ainda sociedades como as ocidentais que, at o fim da Idade
Mdia, praticaram a exposio dos corpos e os marcaram por meio da ferida, de
cicatrizes e amputaes, impuseram suplcios, em suma, apropriaram-se dos corpos e
neles inscreveram as marcas do poder (FOUCAULT, 2001b, p. 1325). Finalmente,
chegaria o tempo das sociedades que, como a nossa, aprisionam. Trata-se de um tipo
de sociedade que em todas as justificativas que elaborou define como seu inimigo os
criminosos ou aqueles que escapam ao poder. Em suma, os reformadores, na sua
grande maioria, buscaram, a partir de Beccaria, definir a noo de crime, o papel da
parte pblica e a necessidade de uma punio, a partir unicamente do interesse da
sociedade ou da pura necessidade de proteg-la. O criminoso lesa antes de tudo a
sociedade; rompendo o pacto social, ele se constitui nela como um inimigo interior
(Ibid., p. 1329). Foucault definir essa prtica de aprisionamento como uma tcnica, e
a priso como uma tecnologia de poder prpria a nossa sociedade e cujo
funcionamento possui trs caracteres fundamentais: 1) um tipo de poder que
intervm na distribuio espacial dos indivduos, promovendo vigilncias,
deslocamentos, separaes, fixaes e circulaes com fins especficos esse aspecto
Foucault o retomar mais detalhadamente no curso O poder psiquitrico (cf.
FOUCAULT, 2003b, p. 42 et seq.); 2) um poder que atua no atravs de uma grade
jurdica que teria por finalidade o estabelecimento do interdito e do proibido, que no
atua unicamente atravs de efeitos negativos, que, ao contrrio, intervm menos em
31
nome da lei e mais em nome da norma, da regularidade e da ordem Foucault
dedicar o curso Os anormais aos processos de normalizao das condutas (cf.
FOUCAULT, 2002c, p. 52 et seq.); finalmente, 3) um poder sem origem ou de difcil
determinao daquilo que seria um ponto de partida ou de chegada, em virtude de seu
funcionamento em rede; em outras palavras, trata-se de um poder que menos o
instrumento de uma soberania ou de um absolutismo: seu exerccio capilar, local,
microfsico. Aqui, talvez, o estudo que procura demonstrar de maneira detalhada esse
carter microfsico do poder seja o livro Vigiar e Punir (cf. FOUCAULT, 2000a, p.
117 et seq.) e, sobretudo, as investigaes realizadas acerca das lettres de cachet
publicadas inicialmente no artigo La vie des hommes infmes, de 1977 e depois
reunidas no livro Le Dsordre des familles, publicado somente em 1982, mas iniciado
no mesmo perodo, juntamente com Arlette Farge. Com esse trabalho, Foucault
procurou mostrar como o poder seria leve, fcil, sem dvida, de desmantelar, se ele
no fizesse seno vigiar, espreitar, surpreender, interditar e punir; mas ele incita,
suscita, produz; ele no simplesmente orelha e olho; ele faz agir e falar
(FOUCAULT, 2003e, p. 219-220). A lettre de cachet, em uma definio muito geral,
era uma carta escrita por ordem do Rei, assinada por um secretrio de Estado e selada
[cachete] com o selo [cachet] do Rei (FOUCAULT & FARGE, 1982, p. 364).
Tratava-se de cartas rgias que continham uma ordem real de priso ou de
internamento, organizadas sob a forma de servio pblico para suprimir uma espcie
de vazio judicirio. Essas ordens eram habitualmente solicitadas contra algum por
seus prprios familiares, pai ou me, filho ou filha, vizinhos, algumas vezes pelo
proco da cidade ou algum outro personagem influente. De modo que preciso tomar
essas ordens no como bel prazer real servindo para aprisionar nobres infiis ou
grandes vassalos desobedientes (...), como ato pblico buscando eliminar, sem outra
forma de processo, o inimigo do poder (Ibid., p. 10), mas sobretudo como o hbito
pelo qual as famlias para resolver certas tenses, l onde a autoridade, devido a sua
hierarquia, era impotente e quando o recurso justia no era nem possvel (porque o
32
problema era demasiado insignificante) nem desejvel (porque teria sido demasiado
lento, demasiado custoso, infame, incerto) (Ibid., p. 346). Graas a esse mecanismo
particular, a prtica das lettres de cachet pde tomar tanta amplitude e seu arbtrio
pde ser considerado perfeitamente aceitvel.
Charles Bonnin, coveiro do cemitrio dos Santos Inocentes, dirige-se muito humildemente
a V.A. para lamentar que sua mulher afundou-se desde muito tempo num distrbio to
terrvel que se tornou o escndalo pblico de todos seus vizinhos, causando diariamente a
runa total do suplicante, tendo vendido tudo o que existia no quarto, at mesmo minhas
roupas, das crianas pequenas e as dela, para satisfazer seu alcoolismo, que atingiu de tal
modo o suplicante que atualmente convalesce no leito, doente sob os cuidados de sua pobre
me, que muito pena para subsistir, para onde foi em retiro forado, pois sua dita mulher
recusou-se abrir a porta onde se trancou j faz trs dias para se embebedar, pelo que espera
o suplicante que Meu Senhor queira ordenar que ela seja aprisionada no hospital pelo resto
de seus dias, e ele ser obrigado a pregar a Deus pela sade e prosperidade de V.A. ([1728]
apud FOUCAULT & FARGE, 1982, p. 49)
Jeanne Catry apresenta muito humildemente a V.A. que tendo esposado dito Antoine
Chevalier, pedreiro, h 46 anos, ele tem dado sempre algum sinal de loucura que aumenta
de ano em ano e que se atribua somente a sua conduta m e devassa, porque ele no se
comportou jamais como homem de nvel, tendo sempre consumido no cabar tudo o que
ganhava sem ter nenhum cuidado com sua famlia, e tendo sempre vendido at mesmo os
farrapos de sua esposa e os seus prprios para beber no cabar; porm, Meu Senhor, assim
como desde alguns anos esta loucura, acompanhada dessa m conduta, aumentou a tal
ponto que dito Antoine Chevalier retorna frequentemente para casa a qualquer hora da
noite, inteiramente nu, sem chapu, sem vestimentas, e mesmo sem sapatos, que ele deixa
no cabar para pagar as despesas que fez com o primeiro que v, sem mesmo o conhecer, a
suplicante, que uma pobre mulher reduzida mendicncia pela conduta de seu marido,
suplica muito respeitosamente a V.A. de querer bem a caridade de aprisionar dito Antonio
Chevalier, seu marido. a graa que ela ousa esperar de Vossa Bondade, Meu Senhor, e
ela se obrigar de pedir a Deus por sua sade e prosperidade. (Ibid., p. 95).
Suplicando muito humildemente Jean Jacques Cailly e Marie Madeleine du Poys, sua
esposa, afirmam que Marc Ren Cailly, seu filho de 21 anos, esquecendo toda boa
educao que lhe foi dada, freqenta to s mulheres prostitudas e pessoas de m vida,
com os quais ele se entregou a uma devassido ultrajante (...). Isso considerado, Meu
Senhor, vos pedimos ordenar Marc Ren Cailly, filho dos suplicantes, a ser conduzido
casa R. Pres de Saint-Lazare para ali ser recluso para correo at que tenha dado sinais
de arrependimento; oferecendo os suplicantes de pagar sua penso, a graa que eles
esperam da Justia de V.A. (Ibid., p. 222).
33
Meu Senhor, Jean Rebours apresenta muito humildemente V. Majestade que tem por
filha Marie Rebours, de 18 anos, que h quatro a cinco anos est entregue libertinagem,
no freqenta a Igreja, est atualmente com um soldado da guarda francesa, malgrado a
boa educao, perdeu todo respeito pelo pai, o suplicante recorre a V.A. para que conceda
uma ordem do Rei para aprision-la na casa do hospital. a graa que espera de Vossa
Equidade e o suplicante continuar suas rezas para a conservao da sade de V.A. ([1758]
Ibid., p. 241).
Em todos esses minsculos dramas familiares e infames o poder soberano foi
chamado a intervir em nome da causa de um marido ou de uma esposa, de um pai ou
me etc., e nessa interveno no somente a autoridade soberana perfeitamente
aceita, mas fortemente desejada. Com isso, foi estabelecida uma superfcie de contato
(...) entre a conduta dos indivduos e as instncias de controle, ou de castigo, do
Estado. E, consequentemente, postula-se uma moral comum sobre a qual as duas
partes esses que a solicitam e a administrao que deve responder so estimados
estar de acordo (FOUCAULT & FARGE, 1982, p. 346). E nesse momento, atravs
dessa tcnica um tanto rudimentar e arcaica, foi possvel ao poder soberano do rei
inscrever-se no nvel mais elementar das relaes sociais; de sujeito a sujeito, entre os
membros de uma mesma famlia, nas relaes de vizinhana, de interesse, de
profisso, nas relaes de raiva, de amor ou de rivalidade (Ibid., p. 347).
Com isso, nessas prticas de lettre de cachet Foucault viu claramente e de
maneira muito concreta o funcionamento de um poder
no seguramente como a manifestao de um Poder annimo, opressivo e misterioso;
mas como um tecido complexo de relaes entre parceiros mltiplos: uma instituio de
controle e de sano, que tem seus instrumentos, suas regras e sua tecnologia prpria,
investida por tticas diversas segundo os objetivos desses que se servem delas ou que as
sofrem, e seus efeitos se transformam, os protagonistas se deslocam; ajustamentos se
estabelecem; oposies se reforam; certas posies so afirmadas, assim como outras so
minadas (Ibid., p. 347-348).
As lettres de cachet possibilitavam ver em que medida as relaes de poder
no so a projeo pura e simples do grande poder soberano sobre os indivduos, mas
como essas relaes so muito mais o solo mvel e concreto sobre o qual o poder vai
se ancorar, as condies de possibilidade para que ele possa funcionar. Da a
insuficincia das afirmaes frequentemente repetidas de que o pai, o marido, o
34
patro, o adulto, o professor representam um poder de Estado que, ele mesmo,
representa os interesses de uma classe. Esse modo de anlise no d conta nem da
complexidade dos mecanismos, nem da sua especificidade, nem dos apoios,
complementaridades e, s vezes, bloqueios, que essa diversidade explica. As lettres
de cachet explicitam o fato de que o poder no se constri a partir das vontades
(individuais ou coletivas), e que nem mesmo deriva dos interesses. O poder se constri
e funciona a partir de poderes, de multiplicidades de questes e de efeito de poder
(FOUCAULT, 2001c, p. 232). Foi para analisar essa mecnica disciplinar microfsica,
que um mecanismo tal como as lettres de cachet fazia funcionar, que Foucault
esboou, no comeo dos anos 1970, sua analtica do poder. Segundo ele, seria
necessrio escrever uma fsica do poder e mostrar o quanto ela foi modificada em
relao a suas formas anteriores, no incio do sculo XIX, quando do desenvolvimento
das estruturas do Estado (FOUCAULT, 2001b, p. 1337).
O funcionamento desse poder descrito por Foucault era contrrio s anlises
polticas muito em voga em termos de ideologia e de represso empreendidas pela
psicanlise, pelo marxismo e pelo chamado freud-marxismo, sobretudo a partir de
Reich e de Marcuse. Para Foucault, o uso que Marcuse deu noo de represso era
exagerado porque se o poder tivesse por funo to s reprimir, se ele operasse to s
sobre o modo da censura, da excluso, do bloqueio, do recalque, como um grande
super-ego, se ele se exercesse to s de uma maneira negativa, ele seria
demasiadamente frgil. Se o poder forte porque ele produz efeitos positivos no
plano do desejo o que se comeou a perceber e no plano do saber (Ibid., p. 1625).
Chamar o poder de repressivo significava, portanto, privar a anlise de uma
compreenso possvel dos efeitos positivos do poder pelos quais ele investe o desejo e
o saber. Por isso Foucault insistia que a anlise no deveria cessar nessa noo de
represso, mas deveria continuar adiante e
35
mostrar que o poder ainda mais prfido que isso. Que ele no consiste apenas em reprimir
a impedir, a opor obstculos, a punir , mas que ele penetra ainda mais profundamente
que isso, criando desejo, provocando prazer, produzindo saber. De modo que bem difcil
se livrar do poder, porque se o poder no tivesse por funo que excluir, impedir ou punir,
como um super-ego freudiano, uma tomada de conscincia seria suficiente para suprimir
seus efeitos, ou ainda para o subverter. Penso que o poder no se contenta em funcionar
como um super-ego freudiano. No se limita a reprimir, a limitar o acesso a realidade, a
impedir a formulao de um discurso: o poder trabalha o corpo, penetra o comportamento,
permeia-se entre desejo e prazer, nessa operao que preciso surpreend-lo, essa
anlise difcil preciso faz-la. (Ibid., p. 1640)
J a noo de ideologia, sugerindo que o exerccio do poder responderia s
exigncias de reconduo para uma ideologia dominante, era incapaz de explicar todos
os seus mecanismos reais e materiais pelos quais o poder efetivamente funciona, j que
o poder antes mesmo de agir sobre a ideologia, sobre a conscincia das pessoas,
exerce-se de um modo muito mais fsico sobre seus corpos (Ibid., p. 1391). A noo
de represso e ideologia, segundo Foucault, provocou uma lacuna nas anlises
histricas dos mecanismos de poder. J se fez uma anlise dos processos econmicos,
uma histria das instituies, das legislaes e dos regimes polticos, mas a histria do
conjunto dos pequenos poderes que se impem a ns, que domesticam nosso corpo,
nossa linguagem e nossos hbitos, de todos os mecanismos de controle que se exercem
sobre os indivduos, essa histria resta fazer (FOUCAULT, 2001b, p. 1530).
Desse modo, e como notou DEAN (1994, p. 141), a elaborao dos trabalhos
de Foucault sobre as formas histricas do poder e do governo podem ser
compreendidas tambm como respostas aos esquemas trans-histricos e teleolgicos
das anlises da poca, procurando operacionalizar, modificar, criticar e rejeitar essas
formas tericas globais. Os anos 1970 conheceram uma renovao da chamada teoria
do Estado, que at certo ponto foi tambm a retomada do marxismo. Na medida em
que se procurou reinterpretar a ausncia de uma teoria do Estado em Marx, procurou-
se tambm acoplar essa teoria com base nos princpios e anlises marxistas. Com isso,
o foco das anlises voltou-se para o problema da definio do Estado, da natureza do
poder estatal, das formas de relaes entre o Estado e as classes sociais, para as
questes de hegemonia e, principalmente, para a funcionalidade do Estado em relao
36
aos modos de produo. O objetivo era, portanto, estabelecer condies tericas para
compreender e estudar o Estado. Foi uma teoria sociolgica do Estado que retomou as
formas de anlise marxistas juntamente com a tipologia weberiana do Estado como
monoplio da violncia fsica e fonte de dominao, e que, grosso modo, tomava as
seguintes caractersticas:
Primeiro, os mtodos eram vagamente comparativos, o objetivo essencial era utilizar
diferentes casos e isolar suas causas histricas. Segundo, uma referncia macro-sociolgica
para estabelecer e verificar regularidades na formao e desenvolvimento dos Estados e
oferecer uma investigao geral dos traos evidentes do Estado. Assim, a anlise situava-
se, ao supor a existncia de regularidades, dentro de grandes teorias investigativas, seja
marxista ou estrutural-funcionalista. Como resultado, no realizava quase nenhum esforo
para indicar referncias micro-sociolgicas nos indivduos e eventos, assumindo uma
perspectiva geral [top-down perspective] do prprio Estado. Terceiro, seguindo o
esforo de Weber para fornecer uma sofisticada definio formal do Estado em termos de
territorialidade, afirmao do monoplio do uso da violncia, instituies e sua extenso e
funes etc. Foi a partir disso, principalmente, que essa literatura sociolgica tomou o
Estado como um fato social, como um dado que, adequadamente definido, pode ser
investigado em termos de relaes extrnsecas para outras foras sociais. Finalmente, a
investigao que emerge nessa literatura no faz referncia ao Estado ou natureza do
poder do Estado, mas ao desenvolvimento do Estado relacionado com a formao do
capitalismo, os processos de burocratizao e racionalizao ou com o desenvolvimento
das formas institucionais do constitucionalismo liberal-democrtico (DEAN, 1994, p. 143).
Essas teorias construam o Estado como um tipo de ator social
estruturalmente localizado e dotado de intencionalidade especfica atribuvel a uma
conjuntura das foras sociais e s formas do seu aparato administrativo. Esse contexto
foi tambm assinalado por DEFERT (2001, p. 62) ao descrever a reao da esquerda
francesa publicao de Vigiar e Punir. A esquerda, agarrada ao lugar central dado
ao Estado pela anlise marxista, recebeu com reservas a noo de micropoderes;
reprovou-lhe uma viso niilista na qual no existia lugar nem para a resistncia nem
para a liberdade. No seria nem mesmo exagerado supor um certo clima de tenso,
por exemplo, quando durante uma manifestao em frente da embaixada da Espanha
em Paris, um jovem estudante espanhol pede a Foucault uma conferncia sobre Marx,
ao que Foucault responde: Que no me falem mais de Marx! Eu no quero jamais
ouvir falar desse senhor. Pea aos que tm isso por profisso. Que so pagos para isso.
37
Que so seus funcionrios. Quanto a mim, eu terminei completamente com Marx
(Ibid., p. 64-65). No mesmo ano, por ocasio de conferncias sobre psiquiatrizao e
anti-psiquiatria na Universidade de So Paulo, Foucault, indicando o clima intelectual,
escrevia: Freud e Marx ao infinito (Ibid., p. 65).
Para Foucault, portanto, tratava-se de partir no do Estado, mas do campo de
relaes micro-sociais e das intervenes reguladoras das prticas cotidianas, que no
fundo constituam o campo por excelncia no qual o poder moderno era exercido
(DOXIADIS, 1997). Alm disso, a suposio de que o poder opera exclusivamente
atravs de represso introduzia um a priori na anlise, fazendo supor a existncia de
uma subjetividade essencial, de uma natureza humana que, uma vez cessada a
represso, faria emergir o sujeito autenticamente livre. Quando da crise do petrleo de
1973, as anlises marxistas descreviam o cenrio mundial em termos de crise
estrutural do capitalismo e as anlises liberais, sobretudo com Huntington, como
crise da democracia, Foucault ver no fundo dessa palavra crise a incapacidade
dos intelectuais em compreender seu presente. Ento, para alm da efetiva
transformao nas relaes de fora que se assistia, a noo de crise na anlise
supunha
um ponto de intensidade na histria, o corte entre dois perodos radicalmente diferentes
nessa histria, o fracasso de um longo processo que acabou de irromper. A partir do
momento em que se emprega a palavra crise, fala-se evidentemente de ruptura. Ocorre
tambm a conscincia de que tudo comea. Mas existe qualquer coisa de muito enraizado
no velho milenarismo ocidental, a segunda manh. Existiu uma primeira manh da
religio, do pensamento; mas essa manh no era a boa, a aurora era cinza, o dia era
penoso e a noite era fria. Mas eis a segunda aurora, a manh recomea. (2001b, p. 1571)
Nessa mesma entrevista de janeiro de 1975, Foucault afirma que a noo de
crise relanava o velho debate em torno da contradio como imagem de um processo
que, tendo completado seu ciclo num certo ponto, recomea. Contra essa imagem ele
dir que, quando se tem no esprito que no a guerra que a continuao da
poltica, mas a poltica que a continuao da guerra por outros meios, preciso
abandonar essa idia de contradio (Ibid., p. 1572). Abandonar a contradio
38
significa abandonar o hegelianismo em todas as suas verses, porque no fundo no
atravs de Hegel que a burguesia fala de maneira direta, mas atravs de uma
estratgia absolutamente consciente, organizada, refletida; perfeitamente
visualizvel numa massa de documentos desconhecidos que constituem o discurso
efetivo da ao poltica (Ibid., p. 1587-1588). E propunha substituir a lgica do
inconsciente por uma lgica da estratgia, substituir os privilgios do significante com
suas funes ideolgicas pelas tticas e seus dispositivos, para perceber como se
encontram nas relaes de poder fenmenos complexos que escapam lgica
hegeliana. Mas o que so esses fenmenos? A resposta est na afirmao de Foucault:
preciso aceitar o indefinido da luta (Ibid., p. 1623).
O indefinido da luta quer dizer que a luta contra o poder no tem uma forma
privilegiada, ela no se encerra nas relaes de produo, e isso de tal modo que,
segundo Foucault (Ibid., p. 1624), era preciso ver 1968 como um evento
profundamente anti-marxista, que procurou livrar-se de um efeito Marx. A luta
tambm no passa pelos aparelhos do Estado, ou pelo prprio Estado, como fonte ou
lugar onde o poder localizado e exercido, livrando-se, consequentemente, do modelo
do partido e das estratgias que procuram tomar o Estado. O indefinido da luta localiza
a luta contra o poder no plano de seus prprios mecanismos, funcionando de modo
microfsico, fora do aparelho do Estado e para alm das relaes de produo.
Mas o indefinido da luta indica tambm outra coisa importante: uma
compreenso do poltico a partir de uma realidade de foras em luta e seu conseqente
e necessrio aperfeioamento estratgico. Estudando o exerccio do poder a partir de
seu funcionamento real em Vigiar e Punir, Foucault percebeu a ocorrncia de um
aperfeioamento que levou do poder soberano s democracias modernas, um
aperfeioamento que representou a democratizao da soberania.
39
A partir do momento em que se teve necessidade de um poder infinitamente menos brutal e
menos dispendioso, menos visvel e menos pesado que o da grande administrao
monrquica, (...) colocou-se em funcionamento todo um sistema de adestramento (...). Para
que um certo liberalismo burgus fosse possvel no plano das instituies, foi preciso, ao
nvel disso que chamo os micropoderes, um investimento muito mais circunscrito aos
indivduos, foi preciso organizar o quadriltero dos corpos e dos comportamentos. A
disciplina o reverso da democracia. (2001b, p. 1589-1590)
Num primeiro momento, foi preciso liberar-se de Marx e Freud, o que
exigiu, segundo Foucault (Ibid., p. 1648), um trabalho que durou cerca de quinze anos:
rejeitar o modelo do super-ego na anlise poltica, seja na verso para-marxista de
Marcuse e Reich, seja naquela marxista de Althusser. Para isso, ele demonstrou como
as noes de represso e ideologia eram inadequadas para a compreenso e crtica de
um poder que se exerce a nvel material, microfsico, e que porta efeitos positivos no
plano do saber e do desejo. Focault, ento, descreveu minuciosamente esse poder, que
opera menos por meio da lei do que por tcnicas de normalizao entendidas como
instrumentos que podem ser encontrados disseminados tanto na priso como na escola,
no exrcito, na fbrica, nas vilas operrias, hospitais, asilos etc. Na prtica, portanto, o
poder disciplinar que substituiu o antigo poder soberano, marcado pelo terror e pela
descontinuidade, um poder mais brando apenas na medida em que ningum dele
escapa e na medida em que um poder muito mais eficiente e contnuo. A esse ponto,
fica evidente que o poder de soberania, com todos seus rituais de suplcio e
espetculos de terror, no desaparece. O suplcio no cessa, mas deslocado,
juntamente com o terror, para o interior de certas instituies como a famlia, a polcia
etc.
Ento a ordem foi: no mais quaisquer grandes suplcios surpreendentes, deixando escapar
os outros criminosos, mas que todo mundo deve ser punido de maneira sistemtica, que
cada crime seja punido. A partir desse momento, foi preciso um duplo da justia, uma
instituio nova que foi a polcia. Agora, a polcia para saber a verdade, sabe-se
perfeitamente, utiliza, cada vez mais, meios violentos. A polcia suplicia. (FOUCAULT,
2001b, p. 1663)
Logo, nenhuma desapario do suplcio, mas deslocamento funcional. O que
resultou das instituies do Estado liberal foi, como notou DEAN (1999, p. 19), a
40
completa democratizao do poder soberano que tinha emergido como teoria e
prtica dos regimes monrquicos. Democratizao quer dizer conservao, utilizao,
re-inscrio e re-codificao das tcnicas, racionalidades e instituies caractersticas
do poder monrquico. E porque se trata de um poder que estabelecia com seus sditos
uma relao de guerra, era ainda em termos de luta e de batalha que seria preciso
analis-lo nas democracias. Assim, aps ter analisado como, no incio das sociedades
industriais, entrou em funcionamento um aparelho punitivo, um dispositivo de
classificao entre os normais e os anormais, era agora necessrio fazer a histria do
que se passou no sculo XIX e mostrar como, atravs de uma srie de ofensivas e de
contra-ofensivas, de efeitos e de contra-efeitos, chegou-se ao estado atual e complexo
das foras (FOUCAULT, 2001b, p. 1627). O tema do qual Foucault se ocupar at o
primeiro volume de Histria da Sexualidade, ser menos o de um sistema formal de
regras do que o de um instrumento real e cotidiano de coero. a constrio que me
interessa: como ela pesa sobre as conscincias e se inscreve nos corpos; como ela
revolta as pessoas e como ela as desencoraja. precisamente nesse ponto de contato,
de frico, eventualmente de conflito, entre o sistema de regras e o jogo das
irregularidades que coloco sempre meu questionamento (Ibid., p. 1591). Segundo
Foucault, era preciso fazer um levantamento topogrfico e geolgico da batalha
(Ibid., p. 1627).
Se verdade que nesse deslocamento que levou das prticas do suplcio para
as prticas de internamento foram conservadas as relaes de fora, de maneira que o
poder continuou sendo essencialmente uma relao de fora e portanto, at certo
ponto, uma relao de guerra, ento, e por conseqncia, os esquemas que se deve
utilizar no devem ser emprestados da psicologia ou da sociologia, mas da estratgia.
E da arte da guerra (FOUCAULT, 2001c, p. 87). Assim, Foucault, ao deslocar os
acentos e fazer aparecer mecanismos positivos l onde, ordinariamente, acentua-se
muito mais mecanismos negativos (Ibid., p. 230), tais como a noo de ideologia e
represso, insistiu que no era somente em termos de direito mas em termos de
41
tecnologia, em termos de ttica e de estratgia que era preciso conduzir a anlise, e
foi essa substituio de uma grade tcnica e estratgica para uma grade jurdica e
negativa que procurei colocar em funcionamento em Vigiar e Punir e depois utilizar
na Historia da Sexualidade (Ibid., p. 229). Foucault descartou tanto a concepo
jurdica ou liberal, na qual o poder aparece na forma de um direito ou de um bem que,
pelo fato de todos possurem, seria preciso ced-lo, transferi-lo no todo ou em parte na
forma da troca contratual para a constituio da soberania poltica, como tambm a
concepo marxista, na qual o poder obedece a uma funcionalidade econmica que
tem por funo essencial reproduzir relaes de produo e reconduzir dominao de
classe. Em linhas gerais, se preferirem, num caso, tem-se um poder poltico que
encontraria, no procedimento da troca, na economia da circulao dos bens, seu
modelo formal; e, no outro caso, o poder poltico teria na economia sua razo de ser
histrica, e o princpio de sua forma concreta e de seu funcionamento atual
(FOUCAULT, 1999a, p. 20). Ao contrrio, props uma anlise no econmica, em
que o poder no mais aparece como qualquer coisa que se troca (teoria do contrato) ou
que se retoma (teoria do partido), mas que se exerce: o poder um exerccio de
relaes de fora que tem como finalidade reinserir nas instituies o desequilbrio que
foi manifestado na batalha, nas desigualdades econmicas e nos corpos dos indivduos;
a poltica sano e a reconduo desse desequilbrio, uma forma silenciosa de
continuao da guerra.
Foucault introduziu na sua analtica do poder o que ele chamou de hiptese
Nietzsche, que consiste em ver ao mesmo tempo o princpio e o motor do poder
poltico em nossas sociedades na guerra, na luta e no enfrentamento. O poder, pura e
simplesmente, uma guerra continuada por meios que no as armas ou as batalhas?
(...) Deve-se ou no entender que a sociedade em sua estrutura poltica organizada de
maneira que alguns possam se defender contra os outros, ou defender sua dominao
contra a revolta dos outros, ou simplesmente ainda, defender sua vitria e pereniz-la
na sujeio? (Ibid., p. 26) Ele parece hesitar uma resposta afirmativa, prope antes
42
um certo nmero de precaues de mtodo. Uma delas de no tomar essa dominao
que o poder pretende perenizar como o fato macio de uma dominao global de
uns sobre os outros, ou de um grupo sobre o outro, mas as mltiplas formas de
dominao que podem se exercer no interior da sociedade: no, portanto, o rei em sua
posio central, mas os sditos em suas relaes recprocas; no a soberania em seu
edifcio nico, mas as mltiplas sujeies que ocorreram e funcionam no interior do
corpo social (Ibid., p. 31-32). No tomar o poder como fenmeno de dominao
macio, mas como exerccio, implica tambm perceber que os indivduos
esto sempre em posio de ser submetidos a esse poder e tambm de exerc-lo. Jamais
eles so o alvo inerte ou consentidor do poder, so sempre seus intermedirios. Em outras
palavras, o poder transita pelos indivduos, no se aplica a eles. No se deve, acho eu,
conceber o indivduo como uma espcie de ncleo elementar, tomo primitivo, matria
mltipla e muda na qual viria aplicar-se, contra a qual viria bater o poder, que submeteria
os indivduos ou os quebrantaria. (...) o indivduo no o vis--vis do poder; , acho eu, um
de seus efeitos primeiros. (...) o poder transita pelo indivduo que ele constituiu (Ibid., p.
35).
Foucault prope uma anlise ascendente do poder que, ao invs de tomar o
poder como uma espcie de dominao global que se pluraliza e repercute at em
baixo, examina o modo como, nos nveis mais baixos, os fenmenos, as tcnicas, os
procedimentos de poder atuam (Ibid., p. 36). Portanto, ao responder questo quem
so os sujeitos que se opem?, Foucault afirmou: todo mundo a todo mundo. No
h, imediatamente dados, sujeitos dos quais um seria o proletariado e o outro a
burguesia. Quem luta contra quem? Ns lutamos todos contra todos. E existe sempre
qualquer coisa em ns que luta contra outra coisa em ns (FOUCAULT, 2001c, p.
311).
Significa que as relaes de fora podem se resumir em uma relao de
guerra e dominao? Foucault responde positivamente, mas com a condio de tomar
a guerra e a dominao como um caso extremo nas relaes de fora, ou tom-las por
ponto e tenso mxima, pela nudez mesma das relaes de fora (FOUCAULT,
1999a, p. 53). E com isso indica uma importante distino entre guerra e poder.
43
Inicialmente, ao definir o exerccio do poder Foucault afirmou o domnio da
poltica como sendo constitudo por uma multiplicidade de relaes de fora que
atravessam a sociedade. Uma poltica propriamente dita seria definida como uma
estratgia mais ou menos global que procura estabelecer uma certa coordenao e uma
finalizao para essas relaes de fora. Nesse sentido, toda relao de fora implica
a cada momento uma relao de poder (que lhe de qualquer modo o corte
instantneo), e cada relao de poder reenvia relao de fora, como seu efeito mas
tambm como sua condio de possibilidade, a um campo poltico do qual ele faz
parte. Dizer tudo poltico afirmar essa onipresena das relaes de fora e sua
imanncia a um campo poltico (Ibid., p. 233). Uma estratgia seria, portanto, uma
manipulao das relaes de fora procurando desenvolv-las em uma dada direo
para bloque-las, estabiliz-las ou simplesmente utiliz-las. Assim, o que se investiga
em uma anlise em termos de relaes de fora no o poder entendido como
conjunto de instituies e aparelhos garantidores da sujeio dos cidados em um
Estado, no o poder como modo de sujeio que, por oposio violncia, tenha a
forma da regra, enfim, no tampouco o poder como um sistema geral de
dominao exercida por um elemento ou grupo sobre outro e cujos efeitos, por
derivaes sucessivas, atravessam o corpo social inteiro. A anlise em termos de poder
no deve postular, como dados iniciais, a soberania do Estado, a forma da lei ou a
unidade global de uma dominao; estas so apenas e, antes de mais nada, suas formas
terminais (FOUCAULT, 1993, p. 88). Segundo Foucault, no so os efeitos
perifricos do poder que permitem tornar seu exerccio inteligvel. Sua
inteligibilidade no se encontra em seu ponto central, na fonte da sua soberania ou no
lugar de onde se supe que partam suas formas derivadas e descendentes. muito
mais seu suporte mvel, suas mltiplas formas ascendentes de correlaes de foras
que, devido a sua desigualdade, induzem continuamente estados de poder, mas sempre
localizados e instveis (Ibid., p. 89). E, afinal, aquilo que seria o poder no passaria
44
de um efeito de conjunto, esboado a partir de todas essas mobilidades,
encadeamento que se apia em cada uma delas e, em troca, procura fix-las (Id.).
porque as relaes de poder supem uma relao de foras desigual e
relativamente estabilizada que o poder poltico implicaria numa maior presso de cima
para baixo ou, como diz Foucault, uma diferena potencial. Porm, para que exista
movimento de cima para baixo, preciso que exista ao mesmo tempo uma
capilaridade de baixo para cima (FOUCAULT, 2001c, p. 304). Em suma, seria
preciso ser nominalista e dizer que o poder seria o nome dado a uma situao
estratgica complexa numa sociedade determinada (FOUCAULT, 1993, p. 89). E
nesse momento, Foucault introduz um desnvel entre poder e dominao, ou guerra, e
questiona: seria preciso inverter a frmula e dizer que a poltica a guerra prolongada
por outro meios? Segundo Foucault, necessrio distinguir guerra e poltica, na
medida em que esses dois termos constituem efetivamente dois tipos de estratgias,
diferentes uma da outra, para a codificao das relaes de fora. Portanto, assimilar
guerra e poltica, traz o risco de tomar como simples os mecanismos complexos das
relaes de poder. Em todo caso, guerra e poltica, duas estratgias distintas uma da
outra que atuam para integrar essas correlaes de fora desequilibradas,
heterogneas, instveis, tensas, esto tambm sempre prontas a se transformarem
uma na outra. (Id.)
Assimilar guerra e poltica podia constituir, aos olhos de Foucault, um
princpio de simplificao que era preciso evitar, e que consistia em reduzir todas essas
correlaes de fora s peripcias de uma guerra.
Parece-me simplesmente que a pura afirmao de uma luta no pode servir de explicao
primeira e ltima para a anlise das relaes de poder. Esse tema da luta no se torna
operatrio a no ser que se estabelea concretamente, e a propsito de cada caso, quem est
em luta, a propsito do que, como se desenrola a luta, em qual lugar, com quais
instrumentos e segundo qual racionalidade. Em outros termos, caso se queria tomar
seriamente a afirmao de que a luta est no corao das relaes de poder, necessrio
dar-se conta de que a boa e velha lgica da contradio no suficiente, longe disso,
para perceber os processos reais. (FOUCAULT, 2001c, p. 206)
45
Era ainda a lgica da contradio que Foucault pretendia evitar, o que fica
bem evidente na descrio feita por um de seus colaboradores no Collge de France,
quando afirma que
tornou-se claro durante nossas discusses na segunda metade dos anos 1970 que o discurso
sobre as disciplinas chegou a um impasse que no poderia continuar no futuro. Sobretudo,
conduzia a uma crtica extremista do poder visto segundo um modelo repressivo pela
esquerda, e nos deixava insatisfeitos com aquele ponto de vista terico. Uma anlise
fechada das disciplinas oposta s teses marxistas da explorao econmica como princpio
para compreender os mecanismos do poder no era suficiente, e reclamou a investigao
de problemas globais de regulao e ordem da sociedade, bem como as modalidades para a
conceitualizao desse problema. Da a questo do governo um termo que Foucault
substituiu gradualmente ao que ele considerou como uma palavra muito ambgua, poder.
(PASQUINO, 1993, p. 79)
A narrativa de Pasquale Pasquino, porm, causou a impresso em alguns
estudiosos de que Foucault teria abandonado sua anlise do poder em termos de
guerra. HINDESS (1996, p. 98), por exemplo, dir que um dos problemas em discutir
o tratamento que Foucault deu ao poder que parece ter havido uma mudana
substancial no uso do termo no perodo imediatamente posterior ao seu exame das
disciplinas em Vigiar e Punir, retomando em seguida a citao de Pasquino. De
maneira ainda mais explcita, Dean reafirma essa impresso em seu livro
Governmentality, dizendo que a analtica do governo em Foucault, visando se desfazer
das teorias sociolgicas que davam ao Estado a imagem de uma realidade unificada,
suplantou os problemas do fundamento da soberania e de sua obedincia por uma
anlise das mltiplas operaes dos mecanismos do poder e da dominao. Foucault
teria se voltado primeiramente, ento, para uma linguagem de guerra e dominao
como maneira de re-conceitualizao das relaes de poder. Nessa operao, o
inconveniente resultou do estabelecimento de uma aparente dicotomia entre
soberania, como a forma jurdica de um poder pr-moderno prprio das
monarquias absolutistas, e um poder moderno de tipo disciplinar e normalizador. A
introduo dessa aparente dicotomia pela linguagem da guerra teria induzido s formas
de denncias extremistas do poder como repressivo, mencionadas por Pasquino.
46
Ocorre, segundo DEAN (1999, p. 25), uma segunda substituio [second shift] que
levou a anlise a um novo contexto, aquele do governo a partir dos cursos de 1978,
atravs do qual se procurou rediscutir os problemas do poder fora dos discursos da
soberania e da guerra. A partir da tornou-se necessrio deixar de pensar a lei em
termos de uma sobrevivncia arcaica da soberania e suas instituies jurdico-polticas
atravessadas pelo modelo da guerra, nem tampouco pensar a disciplina como um tipo
de longnqua proeminncia da soberania na modernidade. O problema, bem mais
complexo, era a necessidade de repensar o lugar da lei e da dominao disciplinar no
interior das formas governamentais contemporneas.
Na realidade, tendo rejeitado a oposio entre soberania e poder disciplinar, Foucault
empenhou-se em considerar a maneira pela qual a arte de governar transformou e
reconstituiu os aparatos estatais jurdicos e administrativos do sculo XX. (...) Nem a
imagem da soberania, nem a linguagem da dominao e da represso, podem dar conta da
emergncia da autoridade governamental e do lugar da lei e das instituies legais no seu
interior. Tais concepes aparecem presas numa espcie de a priori poltico: o da
separao entre subjugao e liberao num caso, e do soberano e dos sujeitos, no outro.
Ambos esto presos identificao de quem detm e exerce o poder. As questes do como
ns governamos e como somos governados so reduzidas ao problema de como o grupo
dominante ou o Estado soberano asseguram sua posio atravs de meios legtimos ou
ilegtimos. (DEAN, 1999, p. 26)
Tambm Michel SENELLART (2004, p. 382), escrevendo a Situation dos
cursos de 1977-1979 confirma essa substituio e o abandono do discurso da guerra
como operador analtico do poder, e diz que, rompendo com o discurso da batalha
utilizado desde o comeo dos anos 1970, o conceito de governo marcaria a primeira
evoluo [glissement], acentuado desde 1980, da analtica do poder tica do sujeito.
Para Senellart, o curso Em defesa da sociedade de 1976, teve por objetivo se no o
de dispensar [donner cong] a concepo do poder em termos de guerra, ao menos o
de interrogar os pressupostos e as conseqncias histricas do recurso ao modelo da
guerra como analisador das relaes de poder (Id.).
Desse modo, viu-se o abandono, a substituio ou a ruptura com o discurso
da guerra em proveito da arte de governar, quando Foucault apontou apenas uma
distino. E, mesmo sabendo que se trata de uma distino importante, quero propor
47
uma outra leitura em termos, talvez, menos descontnuos. Porque parece-me que o que
est em jogo nesse deslocamento operado por Foucault, que leva da linguagem da
dominao para as artes de governar, precisamente a operacionalizao de sua
anlise em termos de governamentalidade.
Governamentalidade a descrio de um processo histrico pelo qual foram
constitudas as trs grandes economias de poder conhecidas no Ocidente: Estado
soberano, Estado administrativo, e Estado de governo ou governamentalizado. O que
distingue essas trs formaes a relao especfica que cada uma delas estabelece
com o objeto de seu poder e os instrumentos da advindos.
O Estado soberano representado pelo Prncipe de Maquiavel. Postula uma
relao de exterioridade e de transcendncia em relao ao seu principado. Tendo
recebido seu reino por herana, aquisio ou conquista, o prncipe mantm com ele
uma relao de exterioridade, e o lao plausvel que se estabelece ora de violncia,
ora de tradio, ora de comrcio, mas , em todo caso, segundo FOUCAULT (2004b,
p. 95), um lao puramente sinttico: no existe pertencimento fundamental, essencial,
natural e jurdico entre o prncipe e seu principado. Um tipo de relao frgil e
constantemente ameaada pelos inimigos exteriores do prncipe, mas tambm pelos
inimigos sujeitados no interior do territrio, na medida em que no existia razo em
si, razo a priori, razo imediata para que os sujeitos aceitassem o principado do
prncipe (Id.). O que fazia da manuteno e proteo do principado o objetivo
principal do poder. Proteger e manter o principado eram as finalidades do governo,
justificadas pelas teorias da soberania, nas quais a autoridade soberana era concebida
para o bem comum e com finalidades de utilidade pblica. Mas o bem e a utilidade
comum eram tidos como possveis apenas mediante a obedincia de todos os sditos
s leis do soberano e ao exerccio dos ofcios concedidos, o que significava que o
exerccio da soberania como autoridade absoluta se dava pela submisso absoluta.
Foucault mostrou como simultaneamente ao modelo do Prncipe
desenvolveu-se uma literatura sobre a arte de governar. Para os tericos do Estado
48
administrativo a funo de manter e proteger um principado implicou uma arte de
governo. Contra a negatividade do poder do prncipe, pensadores como Richelieu
agregaro uma nova formulao ao problema do governo. Ao contrrio do poder
soberano, as prticas do governo so mltiplas e exercidas por diferentes pessoas: o
pai de famlia, o professor etc. O prncipe uma dentre as muitas modalidades
possveis, certamente a mais importante, porm no independente, uma vez que os
fundamentos de sua arte j se encontram, ou devem encontrar-se, disseminados nessas
formas menores de governar. Pluralidade de formas de governo, portanto, mas uma
pluralidade essencial.
Nessa topologia das artes de governo, que vo do governo de si mesmo,
relativo moral, da arte de governar uma famlia, relativa economia, para chegar,
enfim, cincia de governar o Estado, relativa poltica, o fundamental que existe
uma continuidade ascendente e descendente, essencial ao governo do prncipe. Na sua
ascendncia, a arte de governar um Estado deve ter como parmetro a famlia, um
governo de tipo nuclear, cujo objetivo a boa gesto das coisas visando o bem-estar e
a prosperidade dos indivduos. Estabelecer um controle meticuloso e uma vigilncia
atenta, tal como o pai de famlia exerce sobre os seus, eis o desafio do prncipe, que
doravante passar a exercer, de maneira descendente, seu poder sobre os homens nas
suas relaes, seus laos, seus costumes e hbitos, suas maneiras de fazer e pensar,
seus acidentes e desgraas, sua natalidade e epidemias. Foi nessa continuidade
descendente da arte de governar um Estado que a polcia teve um papel central,
cabendo a ela a tarefa de fazer repercutir na conduta dos indivduos o bom governo do
Estado e os interesses do prncipe.
O governo no mais um instrumento de direito para manter e proteger o
principado, mas uma maneira de dispor das coisas e de conduzi-las a um fim
conveniente. O objeto do poder soberano, que era constitudo pelo territrio e, por
incluso, seus habitantes, deslocado para as relaes que os diversos indivduos
estabelecem entre si. H finalidades convenientes a serem dadas a essas relaes que
49
implicam a produo de um saber e de um conhecimento que o governante dever
ter das coisas, dos objetivos possveis, desejveis e no desejveis.
Foucault percebeu como esse primeiro esboo das artes de governar
encontrou na razo de Estado sua primeira forma de cristalizao. No a razo de
Estado entendida no sentido pejorativo e negativo: como destruio dos princpios do
direito, da equidade ou da humanidade pelos interesses do Estado, mas em um sentido
positivo e pleno. Sentido positivo, por exemplo, encontrado entre os contratualistas e
no seu contrato fundador da sociedade que postula um tipo de engajamento recproco
entre os soberanos e seus sditos. Agora, seu sentido pleno vir com a problemtica da
populao, quando o modelo da famlia convenientemente governada substitudo
pelos problemas decorrentes do crescimento populacional e sua complexidade em
relao ao governo. O aumento da populao fez aumentar igualmente a preocupao
com os problemas de comportamento sexual, de demografia, de natalidade e consumo.
Em termos polticos, isso significou um desenvolvimento das tcnicas de governo que
fez o ncleo familiar passar de modelo da poltica de Estado para instrumento dessa
poltica. No mais a famlia, mas a populao que se tornar o objetivo ltimo do
governo: governar ser, doravante, zelar pelo destino de uma populao, sua sade e
sua durao de vida. A populao foi, portanto, o meio de generalizao das artes de
governar, o desbloqueador da governamentalizao do Estado:
A populao aparece, portanto, menos como potncia do soberano do que como fim e
instrumento do governo: sujeito de necessidades, de aspiraes, mas tambm objeto
entre as mos do governo. [Ela aparece] como consciente, frente ao governo, disso que
ela quer e inconsciente disso que o governo a faz fazer. O interesse como conscincia
de cada um dos indivduos constituindo a populao e o interesse como interesse de
populao, qualquer que sejam os interesses e as aspiraes individuais daqueles que a
compem, l que reside, nesse equvoco, a fonte e o instrumento fundamental do
governo das populaes. (Ibid., p. 109)
Assim, houve um momento em que na histria do Ocidente o saber do
governo passou a afirmar que a lei era insuficiente para alcanar as finalidades do
governo, sendo preciso lhe dar um contedo positivo que minimizasse as funes do
50
poder de morte, substituindo o custoso direito soberano de matar como fundamento de
fazer valer sua fora. Mas preciso evitar ver esse processo como o da passagem da
sociedade soberana para uma sociedade de disciplina, no isso. Ao contrrio, houve
de fato uma maior valorizao da disciplina a partir do momento em que a populao
se coloca como campo de interveno do governo: jamais a disciplina foi mais
importante e mais valorizada que a partir do momento em que se procura gerir uma
populao. Nem significa que a soberania tenha sido eliminada pela emergncia
dessas artes de governar. Ao contrrio, a idia de um governo como governo da
populao torna mais agudo ainda o problema da fundao da soberania e se tem
Rousseau e mais agudo ainda a necessidade de desenvolver as disciplinas e se tem
toda essa histria das disciplinas que fiz em outro lugar (Ibid., p. 111).
desse modo que, para melhor compreender esse processo, no conviria
falar em substituio ou abandono de uma sociedade de soberania por uma sociedade
disciplinar, mas de um tringulo: soberania, disciplina e gesto governamental (Id.).
Ao invs de ver na governamentalidade a eliminao da violncia, o fim da guerra ou
das relaes de dominao, seria preciso ver sua aplicao com meticulosidade e
fineza de detalhes at ento inditos. Ao invs de substituio, continuidade. A
governamentalidade uma tendncia que, no Ocidente, no cessou de conduzir a uma
direo que colocou em proeminncia a arte de governo e uma governamentalizao
do Estado. Tendncia que constitui efetivamente um dos traos fundamentais das
nossas sociedades e que pode ser descrita como o fato das correlaes de fora que,
por muito tempo tinham encontrado sua principal forma de expresso na guerra, em
todas as formas de guerra, terem-se investido, pouco a pouco, na ordem do poder
poltico (FOUCAULT, 1993, p. 97).
Os estudos em governamentalidade indicam a emergncia de uma nova
forma de conceber o exerccio do poder no Ocidente, distinta das concepes em
termos de soberania. Nessa emergncia, a soberania foi, terica e praticamente,
democratizada no interior do Estado liberal e de suas instituies. Segundo DEAN
51
(1999, p. 46), essa anlise da governamentalidade foi o resultado de um impasse
terico provocado pela anlise genealgica do poder que, ao afirmar como necessria a
rejeio de uma linguagem em termos de lei e soberania, prpria ao discurso
filosfico-jurdico, na investigao das relaes de poder, adotou como mtodo a
linguagem da guerra e da dominao. Todavia, utilizando a linguagem da guerra,
batalha e luta, a genealogia ficou em uma posio fechada, desconfortvel, que tendia
a identificar todas as formas de poder como dominao, muito semelhante a Adorno e
Horkeimer. A governamentalidade vem precisamente para evitar esse tipo de anlise
simplificadora, ingnua e insatisfatria do exerccio do poder. Portanto, a elaborao
da noo de governo marca a rejeio definitiva de um certo tipo de declarao
retrica do poder e dos projetos que pensam os problemas de regulao fora de
qualquer modelo de poder (Ibid., p. 47). Portanto, a governamentalidade deve ser
entendida como descrio de uma linha de modificao do Estado que no implica, a
priori, a eliminao da guerra e da violncia. Ao contrrio, de que maneira os estudos
em governamentalidade poderiam ser teis para a compreenso dos regimes no-
liberais e autoritrios? Ou melhor, como seria possvel considerar nos estudos de
governamentalidade prticas de governo no-liberais conduzidas no interior de e por
meio de governos liberais, tais como as polticas coloniais do sculo XIX? E quais
ferramentas esses estudos forneceriam para a anlise de prticas de governo em si
autoritrias tais, como o nazi-fascismo e os totalitarismos socialistas? Uma resposta
em termos de governamentalidade, segundo DEAN (Ibid., p. 132), seria que tanto as
governamentalidades de tipo autoritrio quanto as governamentalidades de tipo
liberal so produzidas sobre os mesmos elementos retirados da biopoltica e da
soberania. Em outras palavras, os elementos que constituem ambas
governamentalidades so os elementos encontrados na populao e na dominao.
bastante bvio como as racionalidades governamentais do liberalismo e do neo-
liberalismo dividem e classificam as populaes no seu interior, procurando excluir
certas categorias do estatuto de pessoa autnoma e racional. Tambm bastante
52
evidente como no projeto poltico de Stuart Mill aquilo que ele chamou de
improvement [desenvolvimento] contm a justificao de regimes autoritrios para
as populaes consideradas unimproved [sub-desenvolvidas], tais como as da frica,
onde o liberalismo ingls inaugurou, no fim sculo XVIII, o que foi uma das primeiras
experincias concentracionrias da histria, aprisionando uma imensa populao de
mulheres e crianas em campos feitos de tendas e barracas (cf. KAMINSKI, 1998, p.
38-39).
A soberania foi democratizada e, no entanto, as guerras jamais foram to
sangrentas e os regimes de governo jamais haviam praticado tamanhos holocaustos.
Mas esse formidvel poder de morte e talvez seja o que lhe empresta uma parte da fora
e do cinismo com que levou to longe seus prprios limites apresenta-se agora como o
complemento de um poder que se exerce, positivamente, sobre a vida, que empreende sua
gesto, sua majorao, sua multiplicao, o exerccio, sobre ela, de controles precisos e
regulaes de conjunto. (FOUCAULT, 1993, p. 129)
As guerras no desapareceram, elas apenas cessaram de ser travadas em
nome do soberano, travam-se em nome da existncia de todos; populaes inteiras
so levadas destruio mtua em nome da necessidade de viver (Id.). Segundo
Foucault, foi no momento em que o poder poltico atribuiu a si mesmo a gesto da
vida dos indivduos que a morte exigiu cada vez mais homens e os massacres se
tornaram cada vez mais vitais. O princpio: poder matar para poder viver, que
sustentava a ttica dos combates, tornou-se princpio de estratgia entre Estados; mas a
existncia em questo j no aquela jurdica da soberania, outra biolgica
de uma populao (Id.). O genocdio como poltica de Estado j no o velho direito
de matar das antigas soberanias, mas simplesmente o efeito de um poder que se situa
e se exerce no plano da vida, da espcie, da raa e dos fenmenos macios de
populao (Id.).
Porm, essa guerra travada tambm num outro nvel, que , digamos,
descendente. Essa guerra no somente o fato global do enfrentamento entre dois
Estados, duas naes etc. preciso v-la tambm atuando a um nvel micro e
53
elementar. Seria preciso mesmo perguntar se, como ocorre com o governo, as grandes
batalhas, as lutas globais, os enfrentamentos macios no seriam eles tambm apenas
os efeitos terminais e os resultados descendentes de uma multiplicidade de pequenas
guerras conduzidas a um nvel elementar das relaes de fora. Com efeito, preciso
considerar isso nos estudos em governamentalidade.
Foucault, falando sobre a genealogia em Nietzsche, afirmou o erro de se
tomar a noo de emergncia, utilizada para designar o termo Entstehung, por aquilo
que aparecesse como seu termo final: a emergncia no redutvel a uma finalizao,
tal como o olho no o resultado da contemplao. Os fins so ltimos apenas na
aparncia, j que no passam do episdio atual de uma srie de assujeitamentos. O
presente, portanto, no deve ser compreendido como uma origem que asseguraria uma
destinao, mas como um imprevisvel jogo de dominaes. Por isso, uma emergncia
se produz sempre a partir de um certo estado de foras, responde a maneiras
especficas pelas quais a luta conduzida, nas quais o combate das foras travado em
circunstncias as mais adversas, dentro de inmeras tentativas empreendidas para
escapar ao enfraquecimento e retomar o vigor. Pode mesmo ocorrer, na falta do
inimigo, que uma fora lute contra si mesma, e no apenas na embriaguez de um
excesso que lhe permite se dividir, mas no momento em que ela se enfraquece. Contra
sua lassido, ela reage, retirando sua fora dessa prpria lassitude que no cessa de
crescer e, voltando-se contra, procurando abat-la, lhe impe limites, suplcios e
maceraes, recobre-a de alto valor moral e, consequentemente, retoma vigor
(FOUCAULT, 2001b, p. 1012). , portanto, numa espcie de teatro de foras que a
emergncia entra em cena e irrompe com todo seu vigor. Nesse cenrio, ela distribui as
foras, coloca uma abaixo das outras, outras ao lado, faz sua repartio, seu
cruzamento. Numa palavra, ela designa um lugar de afrontamento que,
fundamentalmente, preciso evitar imaginar como um campo cercado [champ clos]
onde se desenrolaria uma luta, um plano onde adversrios estariam em p de
igualdade; muito mais (...) um no-lugar, uma pura distncia, o fato que os
54
adversrios no pertenam ao mesmo espao. Ningum , portanto, responsvel de
uma emergncia, ningum lhe pode cantar glria; ela se produz sempre no interstcio
(Id.). A batalha que indefinidamente representada nesse teatro sem lugar aquela
entre dominadores e dominados.
Que homens dominem outros, assim que nasce a diferenciao dos valores; que classes
dominem outras classes, assim que nasce a idia de liberdade; que homens se apropriem
das coisas das quais tm necessidade para viver, que eles lhe imponham uma durao que
elas no tm, ou que eles a assimilem pela fora, o nascimento da lgica. A relao de
dominao s uma relao na medida em que o lugar onde ela se exerce no um
lugar [grifos meus]. E precisamente por isso que em cada momento da histria ela se fixa
em um ritual; ela impe obrigaes e direitos; ela constitui procedimentos cuidadosos.
Estabelece marcas, grava memria nas coisas e nos corpos; gera dvidas. Universo de
regras que no precisamente destinado ao abrandamento, mas, ao contrrio, a satisfazer
sua violncia. um erro acreditar, segundo o esquema tradicional, que a guerra geral,
exaurindo-se nas suas prprias contradies, acaba por renunciar violncia e aceita
suprimir a si mesma nas leis da paz civil. A regra o prazer calculado da hostilidade, o
sangue prometido. (Ibid., p. 1013)
essa elaborao sofisticada da batalha, no somente como afrontamento
material, mas sobretudo como emergncia de foras, que se arrisca perder quando se
utilizam termos como abandono, substituio e ruptura. Ao contrrio, em uma
direo proudhoniana e nietzschiana que preciso compreender a realidade da luta,
batalha, enfrentamento e da guerra em Foucault. Alm disso, seria preciso ver que, ao
invs de contradizer ou de se opor, essa elaborao constitui uma pea chave para
entender a noo de governo em Michel Foucault.
Pensar as relaes de poder em termos de afrontamento e de batalha, mesmo
admitindo que o duelo, em alguns casos, leva at a morte de uma das partes e foi
certamente isso que fez com que Hobbes, aps reconhecer a imanncia da guerra, a
encerrasse em um estado natural, em uma espcie de bestirio, pretendendo na
instituio do Estado a garantia contra toda suspeita de regresso animalesco. Todavia,
uma anlise em termos de batalha que capaz de romper o ciclo do sujeito, e fazer
perceber como o direito
55
permite relanar incessantemente o jogo da dominao; ela coloca em cena uma violncia
meticulosamente repetida. O desejo de paz, a brandura do compromisso, a aceitao tcita
da lei, longe de ser a grande converso moral ou o clculo til que deram nascimento
regra, no mais do que o resultado, e a dizer a verdade, a perverso. (...) A humanidade
no progride lentamente de combate em combate at uma reciprocidade universal na qual
fosse substituda, e para sempre, a guerra; ela instala cada uma dessas violncias em um
sistema de regras, e segue de dominao em dominao. (FOUCAULT, 2001b, p. 1013).
A maneira pela qual a violncia reinvestida em um sistema de regras, os
instrumentos e as tcnicas utilizadas nesse processo, aqui que se inserem os estudos
em governamentalidade. Falando das relaes de poder, Foucault insistiu em que
preciso distingui-las entre dois nveis. Um nvel, que ele chamou de jogos estratgicos
entre as liberdades, jogos estratgicos que fazem que uns procurem determinar a
conduta dos outros, ao que os outros respondem procurando no deixar que se
determine sua conduta ou procurando determinar, em resposta, a conduta dos outros.
O outro nvel seria o dos estados de dominao, que so isso que se chama
ordinariamente de poder (FOUCAULT, 2001c, p. 1547). Mas, entre esses dois nveis
nas relaes de poder, Foucault colocou o governo ou as tecnologias governamentais.
Na minha anlise do poder existem trs nveis: as relaes estratgicas, as
tecnologias governamentais e os estados de dominao (Id.) Assim, nas relaes de
poder o problema seria o de saber como evitar os efeitos de dominao. Da a
importncia de estudar as tecnologias de governo, ou dos estudos em
governamentalidade.
Os estudos em governamentalidade colocaram em evidncia no o
funcionamento interior do Estado, sua funcionalidade institucional, mas a
racionalidade pela qual opera, percebendo qual economia geral de poder lhe
corresponde. Analisar o Estado de direito de nossos dias nos termos de
governamentalidade seria, portanto, recusar o ponto de vista funcional, romper com os
balanos funcionais que, de tempos em tempos, pretendem determinar fracassos e
sucessos. Seria, ao contrrio, re-inserir esse Estado num projeto mais global, que
recobre a sociedade e as relaes sociais, e que funciona a partir de uma tecnologia de
56
poder. Seria inscrever os supostos fracassos e sucessos funcionais do Estado de direito
em estratgias e tticas que lhe so exteriores e que funcionam como pontos de apoio
para esses mesmos fracassos e sucessos. A anlise da governamentalidade, segundo
Foucault, promove a des-institucionalizao e des-funcionalizao das relaes de
poder, possibilitando apreender sua genealogia, ou a maneira pela qual se formam,
conectam-se, desenvolvem-se, multiplicam-se, transformam-se a partir de algo muito
diverso a essas relaes de poder: a partir de processos que vo muito alm das
relaes de poder (FOUCAULT, 2004b, p. 123). Com isso, coloca-se em evidncia o
aspecto mvel e flexvel do poder. As tecnologias de poder no cessam de se
modificar sob a ao de numerosos fatores. E quando uma instituio desmorona, isso
no ocorre necessariamente pelo fato de que o poder que a sustentava foi colocado fora
de circuito. Pode ser porque ela tenha se tornado incompatvel com algumas mutaes
fundamentais das tecnologias (Ibid., p. 123-124). Assim, a governamentalidade, em
uma primeira ocorrncia, para o Estado aquilo que as tcnicas de segregao foram
para a psiquiatria, aquilo que as tcnicas de disciplina foram para o sistema penal e
aquilo que a biopoltica foi para as instituies mdicas, ou seja, ela designou os
caracteres especficos da tecnologia geral do poder que assegurou ao Estado suas
mutaes, seu desenvolvimento e seu funcionamento, com um nvel de eficcia que a
velha teoria da soberania era incapaz de oferecer. A governamentalizao do Estado
reinseriu o barulho e os gemidos da guerra em um teatro de relaes de fora muito
mais sutil e insidioso.
Foucault afirmou que o exerccio do poder consiste menos no enfrentamento
entre dois adversrios do que em uma ordem de governo. E o disse para afirmar que
ao invs de falar de um antagonismo essencial, seria melhor falar de um agonismo
de uma relao que ao mesmo tempo de incitao recproca e de luta; menos uma
oposio termo a termo que os bloqueia um frente ao outro do que uma provocao
permanente (FOUCAULT, 2001c, p. 1057). Esse aspecto fica mais evidente quando
Senellart cita uma passagem em que Foucault rejeita a perspectiva segundo a qual
57
tudo poltico, em um duplo sentido: 1) seja definindo como poltico toda esfera de
interveno do Estado, e aqui dizer que tudo poltico significa dizer que o Estado
est por toda parte; ou 2) seja definindo o poltico pela onipresena de uma luta entre
dois adversrios, na clssica definio de Karl Schmitt. Tudo poltico pela natureza
das coisas; tudo poltico pela existncia de adversrios. Seria melhor dizer: nada
poltico, tudo politizvel, tudo pode se tornar poltico. A poltica no nem mais
nem menos isso que nasce com a resistncia governamentalidade, a primeira
sublevao, o primeiro enfrentamento (apud SENELLART, 2004, p. 409).
Poltica como relao agnica. DEAN (2007, p. 11) percebeu claramente
que se as relaes de poder consistem em um agonismo. Ento a poltica emerge
quando esse agonismo ganha um certo nvel de intensidade em seus propsitos,
seja para assegurar a vitria, seja para vencer o oponente, para assegurar que ele ou ela no
sigam representando uma ameaa, ou para usar quaisquer meios a disposio para
sobrepujar algum. Uma das procedncias dessa intensidade ocorre quando os recursos do
governo esto colocados em jogo. (...) As razes dessa luta intensa no esto no fato de que
as pessoas tm sede de poder e fariam qualquer coisa para usurpar ou tomar o poder
mas no fato de que aqueles que esto em condies de se apropriarem e utilizarem os
organizados recursos de poder esto quase sempre em melhores posies para estabilizar as
relaes de poder a seu favor. (...) Relaes de poder, no sentido foucaultiano, tornam-se
polticas quando ultrapassam um limiar de intensidade, e quando a luta no est apenas no
corte e na perfurao da palavra, mas sobre os meios pelos quais a deciso para lutar pode
ser forosamente imposta e quando os riscos recaem sobre matrias de vida e de morte.
Governo como atividade que intensifica as relaes agnicas de poder a um
ponto em que a luta torna-se uma necessidade imposta e recai sobre matrias de vida e
de morte. A poltica, seja qual for a forma que revista, no jamais a eliminao da
guerra; e isso ocorre, simplesmente, como afirmou Proudhon, porque a guerra
tende a se esquivar do liberalismo que a persegue, refugiando-se no governamentalismo,
em outras palavras, sistema de explorao, de administrao, de comrcio, de fabricao,
de ensino etc., pelo Estado. Portanto, no mais se pilhar, ignbil; no mais se exigir
contribuies de guerra, no mais se confiscar as propriedades, se renunciar disputa, se
deixar a cada cidade seus monumentos e suas obras primas, se distribuir at mesmo
socorros, se fornecer capitais, se acordar subvenes s provncias anexadas. Mas, se
governar, se explorar, se administrar etc., militarmente. Todo o segredo est aqui
(PROUDHON, 1998b, p. 111).
58
Poltica e guerra, duas expresses, dizia Proudhon, que significam a mesma
coisa (Ibid, p. 164). Quando a observao a priori dos governos deslocada para a
observao dos governos de fato, nesse momento eles aparecem como obras de
usurpao, de violncia, de reao, de transio, de empirismo, onde todos os
princpios so simultaneamente adotados, depois igualmente violados, mal conhecidos
e confundidos. Cedo ou tarde, diz Proudhon, no ser mais possvel para a poltica
racional distinguir-se da poltica prtica, e, quando isso ocorrer, ficar evidente que o
arbtrio no um fato da natureza nem do esprito, no nem a necessidade das
coisas nem a dialtica infalvel das noes que o engendra: o arbtrio filho da
liberdade. Coisa admirvel! O nico inimigo contra o qual a liberdade deve-se manter
em guarda, no fundo, no a autoridade (...); a prpria liberdade, liberdade do
prncipe, liberdade dos grandes, liberdade das multides, disfarada sob a mscara da
autoridade (PROUDHON, 1996b, p. 46).
3. poltica como guerra
Quero sugerir a existncia de uma problemtica anarquia e
governamentalidade. Nessa problemtica a anarquia descrita como um
posicionamento crtico frente ao poder, cuja anlise do governo tomada no atravs
das formas e da origem do poder, mas a partir das prticas de governo, ou seja, a partir
do exerccio do poder governamental. Enfim, trata-se de um posicionamento no qual a
inteligibilidade do poltico analisada em termos de relaes de fora e o governo em
termos de tecnologia. Quero sugerir que atravs dessa problemtica seria possvel no
somente aproximar a atitude anrquica dos estudos em governamentalidade, como
tambm apontar, a partir de uma configurao dada anarquia por Proudhon, a
possibilidade de uma relao de procedncia: de que maneira e em que medida seria
possvel falar de uma procedncia dos estudos em governamentalidade na anarquia
59
esboada por Proudhon no sculo XIX? Inicialmente, retomo uma dimenso da
anarquia na qual a concepo proudhoniana do poltico aparece descrita em termos de
guerra, encontrando no antagonismo das foras o princpio de inteligibilidade das
relaes polticas.
A noo de fora ocupa um lugar fundamental no pensamento de Proudhon,
o que constitui a cl de vote em suas anlises. Se existe no pensamento, como
Proudhon mostrou, algo como um devir do governo (no um devir governo!), mas se o
governo, o Estado, j estavam dados como devir nas relaes entre as categorias e no
nvel mesmo do pensamento, no seria porque houve no pensamento uma disposio
de subordinao, no seria porque h no pensamento uma relao de foras em
conflito, a partir de cujo enfrentamento certas categorias submeteriam outras ao seu
domnio? DELEUZE & GUATTARI (2002, p. 43) afirmaram a existncia de um
modelo de pensamento emprestado do Estado que fixaria objetivos e caminhos; seria
uma espcie de imagem que recobriria todo o pensamento e que seria como a forma-
Estado desenvolvida no pensamento. Essa forma d ao pensamento uma gravidade
que ele jamais teria, e ao Estado a extenso consensual que lhe permite existir, sua
universalidade. O Estado proporciona ao pensamento uma forma de interioridade,
mas o pensamento proporciona a essa interioridade uma forma de universalidade
(Ibid., p. 44). nessa troca entre Estado e razo que se produz, igualmente, uma
proposio analtica visto que a razo realizada se confunde com o Estado de direito,
assim como o Estado de fato o devir da razo (Ibid., p. 45). o que explicaria o fato
de que, na filosofia moderna, tudo gira em torno do governo e dos sujeitos, em torno
da soberania.
preciso que o Estado realize a distino entre o legislador e o sujeito em condies
formais tais que o pensamento, de seu lado, possa pensar sua identidade. Obedece sempre,
pois quanto mais obedeceres, mais sers senhor, visto que s obedecers razo pura, isto
, a ti mesmo... Desde que a filosofia se atribuiu o papel de fundamento, no parou de
bendizer os poderes estabelecidos, e decalcar sua doutrina das faculdades dos rgos de
poder do Estado (Id.).
60
Existe, portanto, uma forma-Estado que inspira uma imagem do pensamento
e vice-versa, e que teria sido consagrada pelo cogito cartesiano e pela crtica kantiana,
e depois retomada e desenvolvida pelo hegelianismo. Proudhon chamou de absoluto
aquilo que cumpre o papel de soberano nessa repblica das letras. esse absoluto que,
constituindo um centro no pensamento, fixa a imobilidade e estabiliza o movimento da
srie. O uno foi confundido como simples, quando o uno uma unidade sinttica, quer
dizer, composta, atuando como combinaes de movimentos variados e infinitamente
complexos. J o simples, longe de indicar a mais alta potncia do ser, indica, ao
contrrio, o grau mais baixo na escala dos seres (PROUDHON, 1869, p. 54). Mas foi
do simples que os filsofos ergueram a ontologia, quer dizer, tomaram todas as
realidades compostas, dotadas de movimento e unidade sinttica, como simples
especulativos, como conceito: a causa simples, observou Leibniz, o produto dessa
causa no menos simples, da a noo de mnada. O sujeito simples, simples deve
ser tambm o objeto que ele cria opondo-se a si mesmo, e a matria , portanto,
igualmente simples, da a idia de tomo (Ibid., p. 44). LEIBNIZ (1974, p. 63) tinha
definido a mnada como sendo os verdadeiros tomos da Natureza, e, em uma
palavra, os Elementos das coisas, e a considerou como substncia simples que entra
nos compostos, e o composto como reunio ou aggregatum dos simples. Proudhon
nega com veemncia essa dimenso, porque ela que permite a afirmao segundo a
qual nas substncias simples, meramente ideal a influncia de uma mnada sobre a
outra, influncia que s pode exercer-se com a interveno de Deus, que aparece
como regulador das mnadas, como funo reguladora do todo (Ibid., p. 68-69).
Segundo PROUDHON (1869, p. 46), preciso passar do simples para o sinttico e
afirmar o ser como grupo, afirmar que quanto mais numerosos e variados so os
elementos e as relaes que concorrem para a formao do grupo, tanto mais real o
ser. Dessa maneira, o eu, esse uno que chamo alma no o considero como uma
mnada que governa do alto de sua sublime natureza, indevidamente chamada
61
espiritual, outras mnadas, injuriosamente chamadas materiais: essas distines de
escola para mim carecem de sentido (Id.).
Assim, como notou COLSON (2003, p. 101; 2006, p. 27), Proudhon prope
uma monadologia sem Deus: eliminar o absoluto para fazer aparecer a relao entre as
coisas. De que maneira? Pela oposio do absoluto ao absoluto. O homem o absoluto
livre, aquele que diz eu, e nessa qualidade ele tende a subordinar tudo a seu redor,
coisas e pessoas, os seres, as leis, as verdades tericas e prticas etc. Proudhon chama
essa tendncia de razo individual ou particular, e a tendncia ao absolutismo. Mas
alm dessa razo individual, absolutista, existe uma outra razo que coletiva ou
pblica, e que, segundo Proudhon, nasce das contradies da primeira. Porm, visto
que a natureza incapaz de conter a tendncia absolutista da razo individual, no h
outra maneira que opor indivduo a indivduo.
Frente ao homem seu semelhante, absoluto como ele, o absolutismo do homem se
interrompe; melhor dizendo, ambos absolutismos se entre-destroem, no deixando subsistir
de suas razes respectivas mais do que a relao das coisas a propsito das quais lutam. Da
mesma maneira que somente o diamante pode entalhar o diamante, o absoluto livre nico
capaz de equilibrar o absoluto livre, de neutraliz-lo, de elimin-lo, de modo que, pelo fato
de sua anulao recproca, resta do debate apenas a realidade objetiva que cada um tendia a
desnaturar em seu proveito, ou de fazer desaparecer. do choque das idias que irrompe a
luz, diz o provrbio (PROUDHON, 1990, p. 1258).
Porm, aquilo que se passa nas sociedades colocadas sob o imprio da razo
absolutista, mesmo admitindo a existncia nelas de uma luta entre os interesses e a
controvrsia das opinies, no o que Proudhon chama a relao entre as coisas ou
a razo coletiva, mas um estado de subordinao.
Tome-se por lei dominante da repblica a propriedade, como fizeram os romanos; ou o
comunismo, como fez Licurgo; ou a centralizao, como em Richelieu; ou o sufrgio
universal, como Rousseau. No momento em que o princpio escolhido, qualquer que seja,
ele se antepe no pensamento a todos os demais, e o sistema no poder deixar de ser
errneo. Existir uma tendncia fatal absoro, eliminao, excluso, imobilidade e,
portanto, runa. (PROUDHON, 1869, p. 27)
Ocorreria ento que a razo coletiva, que deveria ser a resultante das razes
particulares, e razo individual no difeririam em nada, e a sociedade no seria mais
62
do que uma deduo do eu individual, uma propriedade do absolutismo. Em outras
palavras, tudo o que se chamaria tradio, instituio, costume seria sempre uma
traduo do arbtrio da razo particular transformada em regra geral, em leis deduzidas
do absoluto: homologia de opinio, consentimento tcito recobrindo um antagonismo
completo de interesses. Proudhon enumera alguns termos centrais desse fenmeno:
teoria do capital, deduo do absoluto que leva usura geral; teoria da caridade,
deduo do absoluto que leva s prticas de workhouses (casas de trabalho forado);
teoria do valor, deduo do absoluto que leva prtica da agiotagem; teoria do Estado
ou do governo, deduo do absoluto que levou ao imprio pretoriano, s monarquias
universais e razo de Estado, trs coisas que teriam matado a humanidade caso
tivessem se estabelecido definitivamente (Ibid., p. 1260). Enfim, teoria dos conceitos,
da linguagem, da justia. para sair desse crculo do absoluto que necessrio colocar
em oposio absolutos, buscando anular esses termos e considerar a relao resultante
do seu antagonismo. Disso resultariam idias sintticas, muito diferentes das
concluses das razes particulares. Mas, diz Proudhon, preciso ter em conta que
essa converso no implica, notem bem, a condenao da individualidade; ela a supe.
Homens, cidados, trabalhadores, nos diz essa razo coletiva verdadeiramente prtica e
jurdica, permaneam aquilo que so; conservem, desenvolvam sua personalidade;
defendam seu interesse; produzam seu pensamento; cultivem essa razo particular cuja
exorbitncia tirnica os faz hoje tanto mal; discutam uns com os outros (...); corrijam-se,
reprovem-se (Ibid., p. 1262).
Segundo Proudhon, o que faz todo paradoxo da verdade precisamente essa
tendncia ao absolutismo da razo individual. Contra esse paradoxo, a tradio
ocidental utilizou uma razo superior para corrigir e modelar. Entretanto, o que se
passa na prpria alma, a oposio das faculdades e sua reao mtua, , na realidade, o
princpio de seu equilbrio. Ou seja, a vida mental, assim como a vida sensvel, so
compostas de uma seqncia de movimentos oscilatrios na qual o eu percebido
como um jogo incessante de potncias que o constituem. Agora, suponha-se
63
que uma faculdade tente usurpar o poder; a alma se turva e a agitao continua at que o
movimento regular seja restabelecido. da dignidade da alma no experimentar que uma
de suas potncias subalternize as outras, mas querer que todas estejam ao servio do
conjunto; l est sua moral, l est sua virtude. O mesmo para a sociedade: a oposio das
potncias pelas quais composto o grupo social, cidades, corporaes, companhias,
famlias, individualidades, a primeira condio da sua estabilidade. Quem diz harmonia
ou acordo, com efeito, supe necessariamente termos em oposio. Dem-se uma
hierarquia, uma prepotncia: supe-se fazer ordem, no se faz mais que absolutismo. A
alma social, com efeito, no menos que a alma do homem oh espiritualidade obstinada!
no um prncipe suserano governando faculdades assujeitadas; uma potncia de
coletividade, resultando da ao e da reao das faculdades opostas; e do bem-estar dessa
potncia, sua glria, sua justia que nenhuma de suas faculdades tenha primazia sobre
as outras, mas que todas atuem ao servio do todo, em perfeito equilbrio (Ibid., p. 1266).
Por isso preciso supor sempre no o domnio, mas a luta: a guerra civil
das idias e o antagonismo dos julgamentos. Porque dessa luta e desse confronto
que resulta uma potncia coletiva diferente em qualidade, mas tambm superior em
potncia.
No momento em que dois ou mais homens so chamados a se pronunciar
contraditoriamente sobre uma questo, seja de ordem natural, seja, e com mais forte razo,
de ordem humana, resulta da eliminao que eles so levados a realizar reciprocamente e
respectivamente de suas subjetividades, quer dizer, do absoluto que o eu afirma e
representa, uma maneira de ver comum e que no se assemelha em nada, nem pelo fundo
nem pela forma, a isso que teria sido, sem esse debate, sua maneira individual de pensar
(Ibid., p. 1272).
Realidade e potncia, razo e fora so os atributos constitutivos da
subjetividade e das suas associaes. A partir disso, a precauo fundamental que se
deve tomar em relao a elas a de assegurar que a coletividade [tambm a
subjetividade, entendida como agregado de potncias] interrogue e no vote como um
homem, em virtude de um sentimento particular tornado comum (...). Combater contra
um s homem, a lei da batalha; votar como um s homem, a runa da razo (Ibid.,
p. 1284). a pacificao dessa luta incessante que preciso a todo custo evitar;
pacificao que o reino do absoluto tende a fundar no cu das inteligncias.
Onde o absoluto reina, onde a autoridade pesa sobre a opinio, onde a idia de uma
essncia sobrenatural serve de base para a moral, onde a razo de Estado prima sobre todas
as relaes sociais, inevitvel que a devoo a essa essncia, autoridade que representa,
s excees que cria no direito e no dever, aos interesses que faz nascer, so conduzidos
aos coraes sob o respeito da f pblica (Ibid., p. 1288).
64
Sabe-se tambm o quanto essa problemtica foi cara a NIETZSCHE (2001,
p. 137) ao escrever, aproximadamente vinte anos depois de Proudhon, o quanto a fora
do conhecimento no se encontrava no seu grau de verdade, mas na sua antiguidade,
no seu grau de incorporao e no seu carter de condio para a vida. Por isso que a
paz s pode reinar nos domnios em que viver e conhecer aparecem contraditrios e
independentes, nos domnios em que a razo aparece como atividade inteiramente livre
e originada de si mesma. Mas quando afloraram-se os impulsos do conhecimento,
quando duas proposies opostas pareceram aplicveis vida e quando novas
proposies pareceram no somente teis, mas prejudiciais vida, ento
gradualmente o crebro humano foi preenchido por tais juzos e convices, e nesse novelo
produziu-se fermentao, luta e nsia de poder. No somente utilidade e prazer, mas todo
gnero de impulsos tomou partido na luta pelas verdades; a luta intelectual tornou-se
ocupao, atrativo, dever, profisso, dignidade : o conhecimento e a busca do verdadeiro
finalmente se incluram, como necessidade entre as necessidades. A partir da, no apenas
a f e a convico, mas tambm o escrutnio, a negao, a desconfiana, a contradio
tornaram-se um poder, todos os instintos maus foram subordinados ao conhecimento e
postos aos seu servio e ganharam o brilho do que permitido, til, honrado e, enfim, o
olhar e a inocncia do que bom. O conhecimento se tornou ento parte da vida mesma e,
enquanto vida, um poder em contnuo crescimento (Ibid., p. 138).
Os primeiros brilhos do conhecimento que projetaram na terra as sombras
dos homens vieram com os clares das batalhas. Paradoxo! Como uma atividade
humana reputada desde sempre to nobre pde ter nascido de instintos to baixos e de
lutas to encarniadas que serviriam apenas para manch-la com o sangue dos
homens? Mas o paradoxo existe porque consolidou-se o hbito de ver na luta e nas
batalhas apenas a representao das piores baixezas e do sangue derramado, da mesma
maneira como a paz foi elevada a um cu de contemplaes. Mas, e se fosse o
contrrio? E se tivesse sido a guerra o parto gerador de todas as coisas: quem ousaria
lanar injrias contra o sangue, as dores e as lgrimas resultantes de um acontecimento
pleno de vida? Essa positividade, Proudhon a buscar na guerra tomada como
realidade que atravessa todas as relaes e domnios, desde o pensamento at a
sexualidade. Para isso, Proudhon retoma a relao antagnica no prprio plano da
65
srie, entendida como movimento traduzido em lgica. Se a srie est reduzida a dois
termos que se acham em oposio essencial, em contradio necessria e recproca,
como ocorre, por exemplo, na formao dos conceitos, indica uma anlise que toma o
nome de antinomia. Por sua vez, o dualismo antinmico, reduzido pela locuo ou
fuso dos termos unidade, produz a idia sinttica e verdadeira, a sntese
(PROUDHON, 1869, p. 65).
Como mostrou Lubac, no obstante ter retomado de Kant o termo antinomia,
Proudhon lhe confere um uso completamente singular. Ao contrrio de Kant, o
processo fundamental de seu pensamento era concreto e indutivo. Era uma reflexo
sobre dados da experincia comum e da vida quotidiana, alimentada sem cessar pela
realidade social (LUBAC, 1985, p. 161). Proudhon, citado por Lubac, escrevia em
1860 a Huet, dizendo que, entre tantos outros autores, Kant tambm ia da filosofia
especulativa filosofia prtica e passava atravs da metafsica para chegar moral, em
um movimento seguido desde o Cristianismo. Eu, arruinando-o, compreendo antes de
tudo a idia moral, a justia, o fato da conscincia (no tomo esse termo aqui em
sentido puramente psicolgico) e uma vez de posse do direito, da idia moral, sirvo-
me deles como um critrio para a prpria metafsica. A minha filosofia prtica precede
a minha filosofia especulativa, ou pelo menos lhe serve de base e de garantia (Ibid., p.
162). Assim, se Proudhon fundamenta as bases da sua dialtica serial sobre um termo
kantiano, preciso ter claro que o compreendia e o interpretava livremente. Kant fez a
antinomia da razo, Proudhon pretendeu fazer o sistema das antinomias sociais. De
acordo com Lubac, so duas as diferenas essenciais entre as antinomias de Kant e as
de Proudhon: as primeiras no esto no ser, mas na razo; as de Proudhon esto no
ser e na razo ao mesmo tempo. As antinomias kantianas aparecem no final de um
processo elaborado do pensamento, assinalam um resultado negativo (...); para
Proudhon as antinomias so as leis do pensamento em movimento; elas o
acompanham durante todo seu percurso, modelam-no, fornecem-lhe um mtodo
(Ibid., p. 164). Desse modo, Proudhon v as antinomias em toda parte, seja no ser ou
66
na natureza, seja no mundo fsico ou social; Kant concebeu as antinomias como uma
parte de sua teoria do conhecimento, Proudhon as retoma como viso de mundo em
uma concepo do universo que mais prxima de uma viso heracltica.
Nada permanente, diziam os antigos sbios, tudo muda, tudo flui, tudo passa a ser;
consequentemente, tudo est relacionado e encadeado; consequentemente, tudo oposio,
balano, equilbrio no universo. No existe nada nem dentro nem fora dessa eterna dana; e
o ritmo que a dirige, forma pura das existncias, idia suprema qual no poder
corresponder realidade alguma, a concepo mais elevada qual pode chegar a razo. O
nico objeto da cincia , portanto, saber como [grifo meu] esto as coisas relacionadas e
como se engendram; como se produzem e se desvanecem os seres; como se transformam
as sociedades e a natureza (PROUDHON, 1869, p. 17).
Para Proudhon, a oposio, o antagonismo, a antinomia explodem em toda
parte: a antinomia no somente inerente aos elementos e s foras que constituem a
sociedade e os indivduos, tambm ela que mobiliza as foras para o combate.
nesse sentido que a guerra, entendida como relao antinmica das foras, deve ser
vista operando tanto no plano da linguagem, quanto pelo plano da economia, da
poltica, da moral e do pensamento. Proudhon desenvolver essa concepo agonstica
do universo, da sociedade e do indivduo em La Guerre et la Paix, de 1861. Sua obra
mais polmica depois de O que a Propriedade?, escrita em 1840, na qual ele no
somente sustentou a realidade da fora, como tambm um direito da fora.
Todavia, o que vale para a antinomia kantiana vale igualmente para a sntese
hegeliana. Proudhon utiliza a noo de sntese de uma maneira se no contrria, pelo
menos completamente diferente de Hegel. De outro modo, como seria compatvel com
a noo de antinomia? Como possvel que da antinomia resulte sntese? A resposta
est no que Proudhon chamou de equilbrio. Vimos como da oposio entre as razes
individuais resulta o que Proudhon chamou razo coletiva e que, significativamente,
no implica a condenao da individualidade, ao contrrio, a supe. Isso ocorre porque
na dialtica de Proudhon, o equilbrio que deve resultar do combate no supe a
pacificao ou a destruio das foras em luta, mas supe um jogo perptuo de tenso.
Por essa razo, a dialtica serial necessariamente dualista: so dois termos que
67
permanecem contrapostos do comeo ao final, e no sucede, como na dialtica
hegeliana, que um terceiro termo, a sntese que supera a dualidade, viria finalmente
introduzir um armistcio temporrio que durar at a prxima batalha. Em Proudhon, o
antagonismo insolvel e insupervel.
Analisando e definindo a filosofia, Proudhon conclua que a idia nos vm
originariamente, concorrentemente e ex quo, de duas fontes: uma subjetiva, que o
eu, sujeito ou esprito, outra objetiva, que designa os objetos, o no-eu ou as coisas;
como conseqncia dessa dupla provenincia da idia, a filosofia refere-se sempre s
relaes entre as coisas, e no s coisas em si. Finalmente, conclui Proudhon, toda
relao, analisada em seus elementos, , assim como a observao que a fornece,
essencialmente dualista, como indica tambm a etimologia da palavra relao
[rapport] ou ligao [relation]
2
, retorno de um ponto a um outro, de um fato, de uma
idia, de um grupo etc., a um outro (PROUDHON, 1988a, p. 35). Nesse momento,
Proudhon introduz a distino fundamental com Hegel: a frmula hegeliana uma
trade apenas pelo bel prazer ou pelo erro do mestre, que conta trs termos l onde no
existem verdadeiramente dois, e que no viu que a antinomia precisamente no se
resolve, mas que indica uma oscilao ou antagonismo suscetvel somente de
equilbrio. Sob esse ponto de vista, o sistema de Hegel deveria ser inteiramente
refeito (Id.).
Portanto, o equilbrio de que fala Proudhon, como notou Lubac, o
espetculo de uma luta fecunda, de um estmulo recproco, de uma subida em espiral.
Graas a um fluxo e refluxo incessantes, tudo avana, ou melhor, tudo sobe. Nenhum
valor perdido; nenhuma fora eliminada no combate; cada uma permanece si
mesma e recebe, esperando sua vez de revidar; cada qual se fortalece, mesmo
transformando-se, pela luta com sua fora contrria. Uma e outra, ao invs de se
2
Em francs se diz par rapport quando se quer designar em relao a alguma coisa, indicando referncia. J a
palavra relation usada, por exemplo, para designar relation sexuelle, da a conotao possvel de ligao ou
vinculao.
68
cancelarem ou de se dissolverem, exaltam-se mutuamente (LUBAC, 1985, p. 174).
Assim, no se trata de uma ordem morta, mas do equilbrio na diversidade
continuamente instvel e, por isso, constitutivamente precrio: equilbrio ativo,
dinmico, no qual a contradio se torna tenso (Ibid., p. 178). A imagem fornecida
por Proudhon a de um dinamismo incessante das foras.
Nada se destri no mundo, nada se perde; tudo se desenvolve e se transforma sem cessar.
Tal a lei dos seres, a lei das instituies sociais. O prprio cristianismo, expresso a mais
elevada e a mais completa at o presente do sentimento religioso; o governo, imagem
visvel de unidade poltica; a propriedade, forma concreta da liberdade individual, no
podem ser aniquilados completamente. Qualquer que seja a transformao que sofram,
esses elementos subsistiro sempre, pelo menos na suas virtualidades, a fim de imprimirem
sem cessar ao mundo, devido a suas contradies essenciais, o movimento (PROUDHON,
1947, p. 291).
Proudhon exaltar essa guerra inscrita nos seres e nas coisas, na sociedade e
na natureza, opondo-se s teorias de Kant, Hegel, Hobbes, Wolf, Vattel e Grotius, a
chamada escola jurdica, contra a qual sustentou a existncia de um direito da fora
que, segundo ele e a despeito das teorias jurdicas, constitui um fato sancionado na
experincia dos povos: direito resultante da superioridade da fora, direito que a
vitria declara e sanciona, e que, por essa sano e declarao, torna-se tambm
legtimo em seu exerccio, respeitvel em seus resultados, e que pode ser todo um
outro direito, como a liberdade, por exemplo, e a propriedade (PROUDHON, 1998a,
p. 86). A experincia histrica sustenta, portanto, aquilo que precisamente todo
pensamento jurdico nega: a legitimidade da conquista. Esse desacordo entre a
experincia histrica e a razo filosfica dos juristas, essa oposio flagrante e
estranha, a isso que Proudhon vai dedicar quase todo o primeiro volume de sua obra
La Guerre et la Paix.
Proudhon inicia esse volume com uma citao da parbola de Hrcules. Diz
o mito que Hrcules (ou Hracles) recebeu quando criana uma educao igual a das
outras crianas gregas da poca clssica, semelhante, por exemplo, a que Aquiles
recebera do Centauro. Mas, apesar disso, Hrcules era um pssimo estudante e muito
69
indisciplinado, ao contrrio de seu irmo ficles, que era um aluno comportado e
aplicado. Um dia seu mestre Lino, a quem tinha sido confiada a educao de Hrcules
em letras e msica, chamou sua ateno e tentou mesmo castig-lo, mas Hrcules, num
assalto de raiva e de indisciplina, teria matado seu mestre, atirando-lhe um banco
(GRIMAL, 1997, p. 206). Coisa diferente se passava quando Hrcules encontrava-se
diante do inimigo: um tipo de inspirao tomava-o e, diferente do que acontecia na
escola, no campo de batalha ele sabia exatamente o que tinha que fazer e o fazia.
Nesses momentos, sua inteligncia ultrapassava a dos mais hbeis.
Assim, o homem de combate no qual esto reunidos a coragem, a destreza e a fora, sabe
em todas as circunstncias, atravs de uma cincia certa e imediata, qual ttica lhe convm
empregar. A reflexo serve to s para explicar aos outros suas intenes; mas o gnio da
guerra, aquilo que os militares nomeiam simplesmente tino [coup doeil], precisamente no
ensinado aos colegiais (cf. PROUDHON, 1998a, p. 27).
Apesar de todos os seus clebres doze trabalhos prestados para muitas
cidades gregas, Hrcules jamais teve poder algum: tendo vivido como aventureiro,
jamais soube conquistar um trono. Chega o fim do ano escolar e o mestre-escola
anuncia a seus alunos a distribuio de prmios: aps um sacrifcio aos deuses, os
alunos cantariam, danariam e recitariam uma tragdia composta pelo professor. Em
seguida, cada formando recebe solenemente seu diploma. Era uma grande ocasio:
toda a cidade tinha se preparado, as ruas e as casas foram enfeitadas, uma orquestra foi
organizada e foi erguido um Arco do Triunfo, queimavam-se perfumes, pais e
professores estavam orgulhosos e felizes. Apenas Hrcules no tinha prmio nem lugar
nessa festa, apesar de todos os servios prestados gratuitamente, nenhuma meno
honrosa lhe foi oferecida. Da sua grandeza herica, Hrcules pergunta ao mestre-
escola a razo pela qual no tinha sido lhe reservado um diploma. O pedagogo
responde: porque tu te recusas instruir-te, porque tu no sabes nem mesmo as classes,
porque, enfim, a mais jovem dessas crianas aprenderia em trs dias aquilo que voc
levaria uma vida para aprender. Seguiram-se risos. Hrcules, furioso, tudo destroa: os
bancos, o Arco do Triunfo, a orquestra etc., e em seguida agarra o professor e o prende
70
suspenso ao palco onde se distribuiriam os diplomas. As mulheres fogem apavoradas,
os colegiais desaparecem, a populao toda corre em desespero: ningum ousa
enfrentar a clera de Hrcules. A confuso chega at ao palcio onde estava sua me,
Alcmena. Chegando rapidamente ao local, pergunta ao mestre-escola, quase
inconsciente e quase morto, o que tinha ocorrido, e ele, solicitando todas as desculpas
e prestando seu melhor respeito, responde que no podia dissimular que seu filho,
esse potente, esse soberbo, esse magnnimo Hrcules, no passa de um fruto seco.
Alcmena segurou o riso e lhe responde: que tipo de ignorante s tu que no
estabeleceu tambm na tua escola um prmio de ginstica? Acreditas que a cidade s
tem necessidade de msicos e de advogados? (Ibid., p. 29)
Assim, conclui Proudhon, a aventura de Hrcules institui os jogos olmpicos,
nos quais historiadores e poetas vinham dar provas de seu talento tanto quanto os
atletas do seu vigor: nesses jogos Herdoto leu suas histrias e por meio delas Pndaro
tornou famosas suas odes.
Segundo Junito BRANDO (2000, p. 131-132), o que fica patente no mito
de Hrcules a ambivalncia da fora fsica: porque ela se apia apenas na hybris, no
excesso, na desmedida, Hrcules oscila entre o nthropos e o anr, ou seja, entre o
homem e o heri ou super-homem,
sacudido constantemente, de um lado para outro, por uma fora que o ultrapassa, sem
jamais conhecer o mtron, a medida humana de um Ulisses, que sabe escapar a todas as
emboscadas do excesso. Talvez se pudesse ver nesses dois comportamentos antagnicos a
polaridade Ares-Aten, em que a fora bruta do primeiro ultrapassada ou compensada
pela inteligncia astuta da segunda.
Hrcules tornou-se para o pensamento mtico-filosfico o melhor dos
heris (ristos andrn) expresso que adquiriu, no decorrer dos sculos, a conotao
de o melhor dos homens. Do mesmo modo como aret, que da mesma famlia
etimolgica que ristos, e que designava originalmente o valor guerreiro, se
enriqueceu paulatinamente com uma carga de interioridade, at tornar-se algo
semelhante a que se poderia chamar virtude (Ibid., p. 135). Compreende-se porque
71
PROUDHON (1998a, p. 30) atribuiu a criao do ideal grego a dois homens: Hrcules
e Homero. O primeiro, desprezado na sua fora, prova que a fora pode, quando
necessrio, ter mais esprito que o prprio esprito e que, se ela tem sua razo, ela tem
tambm, consequentemente, seu direito. O outro consagra seu gnio a celebrar os
heris, os homens fortes e desde vinte e cinco sculos a posteridade aplaude seus
cantos.
A guerra, a fora, ao contrrio do que se pensa, um fenmeno interno
pertencente muito mais vida moral do que vida fsica e passional. Porm, ela foi at
ento julgada como paixo e materialidade, da sua incompreenso. Com efeito, sabe-
se da guerra muito pouco, conhece-se dela quase que exclusivamente seus gestos os
mais exteriores: sua teatralidade, o barulho de suas batalhas, a devastao das vtimas.
De modo que a guerra foi reduzida apenas a demonstraes materiais. Entretanto,
ocorre com a guerra o mesmo que com a religio: seria possvel compreend-la
observando somente seus cultos, o batismo, a comunho, a missa, as procisses etc.?
No, responde PROUDHON (1998a, p. 35), j que a religio tambm da ordem da
interioridade, alguns de seus atos so imateriais e visveis somente ao esprito, de
maneira que a gua, o po, o vinho so certamente signos religiosos que, entretanto,
no constituem sua fenomenologia. Seja dito o mesmo da justia: quem observa
somente seu aparelho exterior, as audincias, a toga, sua polcia, sua priso, sua forca
etc., conhece a justia? No, pois os atos da justia se passam tambm nas
conscincias, o que apenas uma observao interna poderia explicar. Pois bem, a
guerra jamais ser completamente compreendida se a explicao alcanar somente o
materialismo de suas batalhas e de seus tribunais. No ser possvel v-la quando se
acompanham seus deslocamentos no mapa da batalha, quando se estabelecem as
estatsticas dos mortos e feridos, quando se mesura sua artilharia etc. A estratgia e a
ttica, a diplomacia e os artifcios, tm seu lugar na guerra como a gua, o po, o
vinho, o leo, no culto. (...) Mas tudo isso no revela sequer uma idia (Ibid., p. 36).
Todo esse materialismo diz muito pouco acerca da realidade da guerra. Vendo duas
72
armadas que se degolam mutuamente, pode-se perguntar, mesmo aps lido seus
manifestos, isso que fazem e isso que querem essas bravas gentes; se o que consideram
batalha uma disputa, um exerccio, um sacrifcio aos deuses, uma execuo
judiciria, uma experincia de fsica, um ato de sonambulismo ou de demncia feito
sob a influncia do pio ou do lcool (Id.).
Os atos materiais da luta nada exprimem por eles mesmos, menos ainda o
que dizem os legisladores, historiadores, poetas e homens de Estado, que limitaram-se
a explicar esse fenmeno como desacordo de interesses. Ora, uma explicao que
afirma, simplesmente, que os homens, assim como os ces, impelidos pelo cime e
pelo apetite, querelam entre si, e das injrias vm os golpes; que eles se matam por
uma fmea, por um osso; em uma palavra, que a guerra um fato de pura bestialidade
(Ibid., p. 37). Assim, a violncia no o segredo da guerra, somente uma de suas
formas mais primitivas. Nem tampouco seu mistrio pode ser decifrado no conflito
entre a fora das paixes, dos interesses etc. Se fosse assim, ela no se distinguiria
dos combates que travam as bestas; ela entraria na categoria das manifestaes
animais: ela seria, como a clera, a raiva, a luxria, um efeito do orgasmo vital, e tudo
estaria dito (Ibid., p. 39). Porm, se a guerra tornou-se ao mesmo tempo a
manifestao mais esplndida e mais terrvel do mundo humano, porque ela contm
algo alm de violncia, e que a impede de ser assimilvel unicamente aos atos de
banditismo e de constrio.
Sendo impossvel assimilar a guerra tanto aos fatos de brutalidade como
ordem das paixes, no resta outro modo de compreend-la e de consider-la a no ser
como um ato interior da vida. A guerra, como o tempo e o espao, como o belo, o
justo e o til, uma forma de nossa razo, uma lei de nossa alma, uma condio da
nossa existncia. esse carter universal, especulativo, esttico e prtico da guerra que
preciso trazer luz (Id.). Existe na guerra outra coisa alm de violncia, existe nela
um elemento moral que a torna a manifestao mais esplndida e tambm mais terrvel
de nossa espcie. Qual esse elemento? A jurisprudncia dos trs ltimos sculos,
73
longe de o descobrir, tomou partido de neg-lo (Ibid., p. 39). Mas qual elemento
moral, qual princpio seria capaz de fazer do assassinato um ato de virtude?
precisamente esse paradoxo que constitui todo o mistrio da guerra. O que foi feito
(...) para que a humanidade tenha despertado para a razo, para a sociedade, para
civilizao, precisamente pela guerra? Como o sangue humano tornou-se a primeira
funo da realeza? Como o Estado, organizado para a paz, foi fundado sobre a
carnificina? (Ibid., p. 41).
Proudhon vai tomar a guerra a partir de um estado de perptuo combate de
foras atuando desde o indivduo at a poltica e a economia. Por meio dessa
elaborao ele quer evitar o ciclo vicioso em que caram pensadores como Hegel,
Ancillon ou Portalis, ao reconhecerem a fora da guerra apenas a partir de sua
fraqueza, suas qualidades a partir de seus defeitos, fazendo dela um mal necessrio,
assim como o governo. Proudhon afirma a existncia de uma virtualidade prpria da
guerra que pode ser encontrada na ao, entendida como condio por excelncia da
vida, sade e fora nos seres organizados. pela ao que esses seres desenvolvem
suas faculdades, aumentam suas energias e alcanam a plenitude de sua vocao.
Porm, o que agir? Para que exista ao, exerccio fsico, intelectual ou moral,
preciso um meio em relao com o sujeito agente, um no-eu que se coloca diante de
seu eu como lugar e matria de ao, que lhe resista e o contradiga. A ao ser,
portanto, uma luta: agir combater (Ibid., p. 63).
E o primeiro combate do homem, diz Proudhon, ele o trava com a natureza.
com ela que ele deve exercitar seus primeiros combates, num jogo de aes e
reaes, porque inicialmente a natureza que fornece ao homem muitas ocasies para
testar sua coragem, sua pacincia, o desprezo que tem pela morte, sua virtude. Foi
tambm nesses termos que Nietzsche descreveu o nascimento e o desenvolvimento de
uma espcie: num primeiro momento, uma espcie nasce e se torna forte pela luta
contra as condies desfavorveis, mas em seguida, favorecida com alimentao e
proteo, a espcie propende para variao do tipo, para as variaes individuais:
74
a luta permanente com condies desaforveis e sempre iguais , como disse, a causa para
que um tipo se torne duro e firme. Mas enfim sobrevm uma situao feliz, diminui a
enorme tenso; talvez j no existam inimigos entre os vizinhos, e os meios para viver, e
at mesmo gozar a vida, so encontrados em abundncia. De um golpe se rompem o lao e
a coao da antiga disciplina: ela no mais se sente como indispensvel, como
determinante da existncia (...). A variao, seja como desvio (rumo ao mais sutil, mais
raro e elevado), seja como degenerao e monstruosidade, aparece no palco de maneira
sbita e magnfica, o indivduo se atreve a ser indivduo e se coloca em evidncia.
(NIETZSCHE, 2002, p. 177-178)
Esse momento de incremento e de extenso da espcie tambm um estado
de perecimento e de runa mediante egosmos que se opem selvagemente e como
que explodem, que disputam entre si por sol e luz (Ibid., p. 178). E nesse momento,
observa PROUDHON (1998a, p. 64), o homem no acerta suas contas apenas com a
natureza, ele tambm encontra um outro homem no seu caminho, seu igual, que lhe
disputa a posse do mundo e o concurso dos outros homens, que lhe faz concorrncia,
lhe ope seu veto. inevitvel e bom. inevitvel, continua Proudhon, porque
impossvel que duas criaturas em quem a cincia e a conscincia so progressivas e,
portanto, descompassadas, e porque tendo pontos de vista diferentes sobre todas as
coisas, interesses opostos e, sobretudo, procurando se expandir ao infinito,
impossvel, diz, que estejam inteiramente de acordo. A divergncia das idias, a
contradio dos princpios, a polmica, o choque das opinies, so os efeitos
inevitveis da sua aproximao. E bom porque pela diversidade das opinies e
dos sentimentos, e pelo antagonismo que ela engendra, que se criou, acima do mundo
orgnico, especulativo e afetivo, um mundo novo, o mundo das transaes sociais,
mundo do direito e da liberdade, mundo poltico, mundo moral. Mas, antes da
transao, existe necessariamente a luta; antes do tratado de paz, o duelo, a guerra, e
isso sempre, a cada instante da existncia (Id.).
Num escrito vinte anos anterior ao seu livro sobre a guerra, PROUDHON
(2000b, p. 141) j tinha afirmado com insistncia que nessa vasta cena do
desenvolvimento histrico nenhuma fase se produz sem luta, nenhum progresso se
efetua sem violncia, e que a fora , em ltima anlise, o nico meio de manifestao
75
da idia. Poderia se definir o movimento como uma resistncia vencida, do mesmo
modo como Bichat definiu a vida como o conjunto dos fenmenos que triunfam sobre
a morte. Mas preciso que fique claro que o aspecto fundamental dessa batalha, ou
da virtude, no puramente negativo. A virtude no consiste em se abster das coisas
reprovadas pela concorrncia dos outros, mas ao contrrio, consiste sobretudo
em fazer ato de energia, de talento, de vontade, de carter, contra o transbordamento de
todas essas personalidades que, s pelo fato de suas vidas, tendem a nos extinguir. Sustine
et abstine, diz o estico: sustentar quer dizer combater, resistir, fazer fora, vencer, eis o
primeiro ponto e o mais essencial da vida, hoc est primum et maximum mandatum: abster-
se, eis o segundo. At onde vai esse duelo? Em alguns casos, at a morte de uma das
partes: tal a resposta das naes (PROUDHON, 1998a, p. 64).
Hobbes no notou nenhum desses caracteres virtuosos da guerra; ao
contrrio, ele a declarou imanente humanidade apenas para declar-la infame e
bestial, j que pertenceria infncia do homem e ao primitivismo conhecido como
estado de natureza. E foi precisamente o pensamento de Hobbes que se tornou tambm
o de todos os publicistas. Todavia, como os homens no fariam a guerra quando dela
seu pensamento est pleno? Quando seu entendimento, sua imaginao, sua dialtica,
sua indstria, sua religio, suas artes a ela se reportam; quando tudo neles e em torno
deles oposio, contradio, antagonismo? (Ibid., p. 73). A guerra nossa histria e
nossa vida, ela fez no somente a legislao, a poltica, o Estado, a hierarquia social, o
direito, como tambm a poesia, a teologia, a filosofia, de modo que seria preciso
perguntar a todos esses pacificadores ingnuos: abolida a guerra, como conceber a
sociedade? Sobre o que se fundamentar o Estado? De onde sair o direito? O que
garantir a propriedade? E o mesmo deve ser questionado sobre os domnios da
literatura, das artes, da cincia, da moral etc. Mas, para isso, eles criaram uma imensa
fico legal como instrumento de pacificao, e passaram a pregar que a revoluo
moderna, ao contrrio do antigo barbarismo revolucionrio, convida os gentis, como
os judeus, a dividir a luz e fraternidade, e que seus apstolos proclamam a paz entre
os povos: Mirabeau, Lafayette, at Robespierre, eliminaram a guerra do smbolo que
eles apresentavam nao. Foram os facciosos e os ambiciosos que mais tarde a
76
reclamaram; no foram os grandes revolucionrios. Quando a guerra explode, a
revoluo degenera (Ibid., p. 83).
Tanto a opinio dos juristas quanto a razo dos filsofos negam, com
unanimidade, a realidade da guerra, e declaram a fora como sendo incapaz de fundar
o direito. Hobbes (1974, p. 81) afirmou que na guerra nada pode haver de justo ou
injusto, e que as noes de bem e de mal no podem ter lugar. Onde no h poder
comum no h lei, e onde no h lei no h injustia. Na guerra, a fora e a fraude so
as duas virtudes cardeais. ROUSSEAU (1973, p. 31), por sua vez, sustentou que a
fora um poder fsico do qual no possvel resultar moralidade. Ceder fora
constitui um ato de necessidade, no de vontade; quando muito, ato de prudncia. Em
que sentido poder representar um dever? E acrescentava que se a fora no produz
qualquer direito, s restam as convenes como base de toda a autoridade legtima
existente entre os homens (Ibid., p. 32). Contra essa opinio que constitui, com
poucas variaes, a opinio do pensamento jurdico-filosfico do sculo XVIII e XIX,
Proudhon vai opor, em um primeiro momento, aquilo que chamou a afirmao dos
povos, para demonstrar a existncia de um direito da fora.
Inicialmente, uma simples constatao: para todos os povos a guerra , na
sua origem, um fato divino. Seja a Bblia, seja a Ilada, no h heri, poeta ou apstolo
que no tenha cantado suas faanhas: Thor, Apolo, Hrcules, Marte, Palas Atena,
Diana, Jeov, Osris, Al etc. As escrituras esto cheias de deuses armados, cuja glria
inunda o cu e a terra e alimenta a epopia dos povos: Ulisses, Carlos Magno,
Calgula, Stimo Severo, os Csares, Alexandre o Grande, Gngis Khan, todos os
vikings e brbaros, a pirataria, as Cruzadas, o Pontificado Romano, Napoleo etc. E a
partir deles resultaram todas as invases, conquistas, descobertas, anexaes,
concesses, transmisses etc. Se o direito da guerra uma quimera, como explicar
todos esses fatos to espontneos, to persistentes, to universais e to perseverantes?
A guerra to antiga quanto o homem e foi por ela que a humanidade inaugurou sua
justia. Por que esse comeo sangrento? Pouco importa. um fato (Ibid., p. 103).
77
Assim como tambm constitui um fato que todas essas batalhas humanas contenham
qualquer coisa a mais que simplesmente paixo, e precisamente esse plus que
Hobbes e toda escola jurdica ignoraram, e que diz respeito a essa
pretenso singular, que pertence unicamente a nossa espcie, a saber, que a fora no
somente para ns fora, mas que ela contm igualmente o direito, que ela em certos casos
produz direito. No momento em que observamos os animais que combatem, eles no fazem
a guerra; no lhes chegar jamais ao esprito de querer regulamentar seus combates. (...) O
homem, ao contrrio, melhor ou pior que o leo (a crtica decidir), o homem aspira, com
toda a energia do seu senso moral, fazer de sua superioridade fsica um tipo de obrigao
para os outros; ele quer que sua vitria se imponha a eles como uma religio, como uma
razo, em uma palavra, como um dever, correspondendo a isso o que ele nomeia direito.
Eis no que consiste a idia de guerra e o que a distingue eminentemente dos combates das
bestas ferozes (Id.).
Os efeitos dessa reflexo ganham uma amplitude enorme, porque se o direito
resulta da vitria, ento toda legislao , na sua origem e na sua essncia, um
empreendimento guerreiro. Seria preciso, portanto, remontar a essa relao de fora,
a criao de todas as relaes jurdicas reconhecidas entre os homens: de incio, os
primeiros esboos de um direito de guerra e um direito das gentes; depois, a
constituio das soberanias coletivas, a formao dos Estados, seus desenvolvimentos
pela conquista, o estabelecimento das magistraturas etc. (Ibid., p. 104). Conforme
Proudhon, no h nada, seja no direito pblico ou civil, seja nas instituies ou na
moral, seja ainda na religio ou na economia, que no repouse nessa origem guerreira.
A guerra fez tudo isso que ns somos (Ibid., p. 106), e justamente essa analogia
fundamental entre guerra, trabalho, Estado, economia, governo, religio etc., que o
pensamento filosfico-jurdico no somente ignora, mas pretende negar com
insistncia.
Agora, se a realidade do homem est imersa sob um antagonismo
fundamental de origem guerreira, ento, a qual necessidade teria respondido essa
teoria jurdica de algum modo arbitrria, fictcia ou, em todo caso, contrria
experincia dos povos e realidade do direito?
78
4. guerra e justia
FOUCAULT (1999a, p. 111) mostrou como o objetivo de Hobbes foi o de
desvincular a guerra do estabelecimento das soberanias. No fundo, o Leviat no
constitudo sob o pano de fundo de uma guerra real, no nasce do sangue das batalhas
e dos gemidos dos vencidos. No fundo, o Leviat constitudo, no em razo de uma
guerra efetiva, mas de sua possibilidade sempre aberta, ou de uma guerra virtual
sempre presente quando a relao entre os homens no equilibrada por uma potncia
acima deles. E nem mesmo nos casos de conquista poltica de um Estado por outro
seria possvel afirmar que o soberano fundado sobre um estado de guerra, j que um
povo conquistado sempre prefere viver e obedecer do que morrer, e ser essa escolha
que estar na base da soberania, e no um estado de violncia. Foi de terem preferido
viver e obedecer, dessa escolha dos vencidos, que o soberano retira sua legitimidade.
Portanto, no fundo da soberania no jamais a guerra que aparece, ao contrrio, tudo
se passa como se Hobbes, longe de ser o terico das relaes entre a guerra e o poder
poltico, tivesse desejado eliminar a guerra como realidade histrica, como se ele
tivesse desejado eliminar a gnese da soberania. Hobbes tornou a guerra e a relao
de foras uma coisa completamente indiferente constituio das soberanias. Essa
constituio aparece independente e sem nenhuma relao de causalidade: haja guerra
ou no, a soberania ser constituda. No fundo, o discurso de Hobbes um certo no
guerra: no ela realmente que engendra os Estados, no ela que se v transcrita
nas relaes de soberania, ou que reconduz ao poder civil e s suas desigualdades
dessimetrias anteriores de uma relao de fora que teriam sido manifestadas no
prprio fato da batalha (Ibid., p. 112). sabido que o alvo de Hobbes era a guerra
civil inglesa, era o discurso dos Levers, que reclamavam a destituio de um poder
fundado na conquista, era o discurso de Oliver Cromwell e de seus aliados contra o
reinado de Carlos I da Inglaterra, a quem acusavam de conquistador. Da a insistncia
de Hobbes em repetir que o fundamento da soberania no jamais a conquista, mas o
79
contrato fundado pelo interesse dos indivduos de seguirem vivendo em paz e na
obedincia.
Um desdobramento tardio dessa trama pode ser visto na controvrsia que
dividiu os juristas alemes no comeo do sculo XIX, ocasio em que se criou a
chamada Escola Histrica de Direito. Como mostrou Chambost, essa controvrsia tem
incio quando Savigny, seu principal terico, ao realizar uma anlise das fontes do
direito sustenta ao mesmo tempo uma forte crtica da codificao, colocando em causa
o legicentrismo sado da Revoluo Francesa.
vontade do legislador (arbitrria), ele opunha a idia de um direito sado diretamente do
povo, na durao de sua histria. Essa vontade de ancorar o direito na histria dos povos
era tambm uma maneira de denunciar as ambies universalistas que Napoleo tinha
colocado em seus cdigos. Apresentados como a obra-prima da razo, os cdigos
napolenicos deviam poder reger no importa qual sociedade, justificando que fosse
imposto seu uso aos pases conquistados. Contra essa ambio poltica, a teoria de Savigny
marcava o retorno dos costumes como primeiro plano das fontes do direito (CHAMBOST,
p. 159-160).
A escola histrica de Savigny encontrou um eco bastante favorvel na
Frana, sobretudo porque fazia frente aos mtodos da ento influente Escola Exegtica
[cole de lExgse], que defendia como dogma a observao estrita das leis pelo
estudo dos cdigos, em detrimento de outras fontes possveis do direito, como os
costumes etc. O divulgador na Frana da escola histrica do direito foi douard
Laboulaye, fundador, em 1855, da revista Revue historique de droit franais et
tranger, e Eugne Lerminier, seu sucessor no Collge de France para a cadeira de
Histria das Legislaes, nos anos de 1831 a 1849. Foi por intermdio desses dois
professores, principalmente de Lerminier, de quem assistir os cursos durante seu
perodo de bolsista em Paris, que Proudhon descobrir as idias alems da escola
histrica de direito.
A problemtica da escola histrica consistia na determinao da influncia
do passado sobre o presente. Qual a relao disso que , a isso que ser? (...)
colocando em questo a doutrina legislativa e estatal dos fundamentos do direito
80
desenvolvida pela Revoluo Francesa, fundada sobre as capacidades da razo (Ibid.,
p. 163). O pano de fundo dessa problemtica certamente o conhecido debate entre
Edmund Burke e Thomas Paine acerca da Revoluo Francesa. De modo breve pode-
se dizer que BURKE (1997) combateu ardorosamente a pretenso revolucionria de
fazer da eleio o nico ttulo legitimo de ascenso ao trono, e que, ao contrrio,
defendia uma regra fixa para a sucesso dos soberanos. Portanto, era preciso respeitar
a hereditariedade da sucesso, porque afinal de contas essa sucesso tinha sido dada
aos ingleses pela prpria Revoluo Gloriosa de 1688, ou seja, ela estava fundada em
um acontecimento histrico. Assim, no s lhe parecia injustificvel reconhecer como
legtimo apenas os tronos eletivos, como tambm via no fundo dessa afirmao o firme
propsito dos revolucionrios de invalidar todos os atos praticados pelos reis que eram
anteriores aos procedimentos da eleio. A verdadeira inteno dos revolucionrios,
dizia Burke, era a de atingir e depor retrospectivamente todos os reis que reinaram
antes da revoluo, para com isso sujar o trono da Inglaterra com a injria de uma
usurpao ininterrupta. Alm do que, esses revolucionrios franceses, ao mesmo
tempo em que negavam a legitimidade dos governos no eleitos, afirmavam tambm
um novo direito: os direitos do Homem. Um direito que , para Burke, desprovido de
fundamento histrico e contra o qual nenhum governo pode invocar a durao do seu
imprio ou a justia do seu reino. Um direito que no leva em conta a justia ou a
injustia de um governo, porque se funda em uma mera questo de ttulo, ou, como
afirmou, de metafsica poltica.
Burke notou que tinha sido atravs dessas falsas pretenses ao direito que os
franceses destruram os direitos que eram verdadeiros. Destruram as verdadeiras
instituies, aquelas que s podiam ser legitimadas pelo tempo; contra elas, os
revolucionrios opuseram um povo ideal dos filsofos. Assim, por terem assentado a
revoluo sobre indivduos abstratos, sobre uma construo filosfica, eles a privaram
de toda representao poltica razovel, configurando-a numa ditadura de princpios
abstratos.
81
PAINE (1989) respondeu a Burke escrevendo Os Direitos do Homem, livro
no qual distingue os governos que surgem da sociedade, do pacto social, daqueles que
surgem do poder e da superstio. Esses ltimos, ele diz, foram fundados ou pela
astcia eclesistica ou pela conquista militar. J o governo civil nasce do pacto feito
entre os prprios indivduos, nico modo pelo qual um governo tem o direito de surgir,
e o nico princpio que lhe confere o direito de existir. E por qu? Porque o que funda
a soberania desse governo o interesse comum da sociedade e os direitos comuns do
homem (PAINE, 1989, p. 58). Ora, diz Paine, todos os governos monrquicos so
militares, a guerra seu comrcio, saque e receita o seu objetivo, seu sistema
hereditrio absurdo porque herdar um governo herdar o povo, como se os povos
fossem rebanhos ou manadas. Ao contrrio, um governo fundamentado sobre uma
teoria moral, sobre um sistema de paz universal, sobre direitos humanos hereditrios
indestrutveis (Ibid., p. 137), traduz simplesmente uma aptido natural no homem, e
no momento em que o governo formal abolido, a sociedade comea a agir: comea
uma associao geral e o interesse comum produz segurana comum (Ibid., p. 140).
Ou seja, sendo o homem naturalmente uma criao da sociedade, tanto a segurana
quanto a prosperidade dos indivduos dependem de um dos seus princpios
fundamentais: o interesse. Da promover a circulao incessante de interesse que,
passando por seus milhes de canais, fortalece a totalidade do homem civilizado
(Ibid., p. 141). Portanto, as verdadeiras leis no so as do governo, seja ele qual for:
so leis de interesses mtuos e recprocos. Elas so seguidas e obedecidas porque
do interesse das partes agir assim e no devido a qualquer lei formal que seu governo
possa impor ou interpor. O verdadeiro governo aquele que governa conforme os
interesses.
O debate entre Burke e Paine bastante ilustrativo daquilo que estava em
jogo no que se chamou de legicentrismo da Revoluo Francesa ou, o que d no
mesmo, o seu rousseauneismo. Estava em jogo a questo da legitimidade do poder
soberano: a soberania do governo legtima ou, ao contrrio, est fundada na
82
conquista? E a conquista, como ttulo que sustenta a soberania dos governos,
legtima? Qual seria o legtimo fundamento do governo? A resposta para essas
questes foi: no, os governos no so legtimos porque a conquista, sobre a qual esto
fundados, no produz direito e a nica legitimidade possvel ser dada ao governo que
estiver fundado no interesse dos prprios governados. Como notou LAVAL (2007, p.
27), a noo de interesse foi, ao lado da noo de utilidade, um dos conceitos
estratgicos atravs do quais foi operada uma grande mutao mental e intelectual no
Ocidente, cujos efeitos foram de classificar, ordenar e regrar as prticas humanas
como se elas estivessem todas conduzidas por uma economia do sujeito ao mesmo
tempo especial e homognea. O interesse torna-se um instrumento de anlise e de
clculo poltico. O interesse est em toda parte: na sociedade, no governo, no sujeito.
o objeto, o meio e o fim da ao humana.
Esse homem natural, inventado pelo liberalismo, movido somente pelo
interesse foi, ao mesmo tempo, a pacificao do antigo guerreiro movido pelo poder e
pelo desejo de riquezas. Pacificao do brbaro e das hordas de aventureiros de
estrada, e uma estratgia de construir uma poltica sobre a natureza humana, e no
mais dobr-la a uma lei transcendente e suas conseqncias normativas (Ibid., p. 59).
O homem natural, portador de interesses mtuos, dever assumir agora uma conduta
menos predatria e mais industriosa: sero os futuros operrios que povoaro os
grandes centros industriais da Europa. Por isso, tanto Kant quanto Hobbes substituram
a realidade da fora pela fico do interesse. o interesse que torna, se no possvel,
pelo menos indefinidamente aproximativo o projeto de paz perptua kantiano. o
interesse que constitui o ndice capaz de solucionar o spero problema do
estabelecimento de um Estado, mesmo que ele seja formado, dir Kant, por um povo
de demnios (KANT, 1984, p. 44-45).
Quanto a Hobbes, de quem a opinio geral fez o apologista do direito do
mais forte, ele no fundo um pacifista. Hobbes no em nada um partidrio da
guerra e da violncia; muito ao contrrio, ele quer a paz e procura o direito
83
(PROUDHON, 1998a, p. 128). Hobbes tambm construiu seu edifcio terico sobre
essa fico do interesse e da utilidade: pelo interesse de conservao que finalmente
um armistcio fez destituir as armas na guerra de todos contra todos, fazendo inaugurar
o direito. Assim, seja em Kant, seja em Hobbes, a fora incapaz de direito, ao
contrrio, ela o estado de no-direito por excelncia. Mas, se a fora no produz
direito, preciso que o direito seja encontrado em outro lugar, no Estado. Em outras
palavras, ao negar o direito da fora, todo o papel da filosofia jurdica o de defender
a fora do direito como sano necessria e base nica da autoridade governamental.
Proudhon, ao contrrio, reivindica o direito da fora e defende a guerra como
julgamento, e nesse momento Proudhon formula uma das mais importantes dimenses
da anarquia: um tipo de empirismo agnico
3
do poltico, que ele chamou Teoria do
direito da fora. Se existe um direito da fora, ou melhor, se a fora, ou a guerra, a
realidade primeira da qual surgiram todas as nossas relaes jurdicas, ento trata-se de
encontrar o equilbrio das foras para que o direito encontre sua justia. preciso
reconhecer a positividade da fora para em seguida encontrar sua delimitao.
Positividade que os juristas negam de sada, em nome do absolutismo governamental.
Em Proudhon, o problema no , portanto, o do sangue derramado, mas o do
equilbrio. E sua teoria do direito da fora vai nessa direo. Para ele, o homem um
composto de potncias, cada uma delas possuindo um direito que lhe especfico. A
alma se decompondo, pela anlise psicolgica, em suas potncias, o direito se divide
em tantas quantas categorias, cada uma das quais pode-se dizer que tem sua sede na
potncia que a engendra, como a justia, considerada no seu conjunto, tem sua sede na
conscincia (Ibid., p. 137). Composto de potncias, cujo conjunto engendra a
justia. Existe uma potncia do trabalho para a qual corresponde um direto do trabalho
que dispe que todo produto da indstria pertence ao seu produtor; existe um direito
3
Foi GURVITCH (1980, p. 136) quem sugeriu que o mtodo de Proudhon, ao recorrer experincia para captar
a diversidade em todos seus pormenores, constitui um empirismo.
84
inerente potncia da inteligncia que dispe que todo homem pode pensar e cultivar-
se, acreditar no que lhe parece verdadeiro e rejeitar o falso; um direito da potncia do
amor que dispe sobre tudo o que ele implica entre amantes; um direito da velhice que
quer que o mais longo servio tenha sua superioridade; por fim, existe um direito da
fora em virtude do qual o mais forte tem direito, em certas circunstncias, a ser
preferido ao mais fraco, remunerado a mais alto preo, porque esse direito que o faz
mais industrioso, mais inteligente, mais amante, mais ancio (Ibid., p. 138).
Certamente, nenhum desses direitos procede da concesso do prncipe ou da fico dos
legisladores. Eles emanam do que Proudhon chamou dignidade do homem. Esses
direitos pertencem a um tipo de economia das potncias no homem que forma a
justia. A justia, segundo Proudhon, uma potncia imanente to fcil de reconhecer
como o amor, a simpatia e todas as afeces do esprito, mas para a qual o clculo dos
interesses e das necessidades cego. Foi essa potncia compsita, mais potente que o
interesse e a necessidade, que impulsionou o homem a se associar. Decorre dela a
disposio segundo a qual a realidade da justia repousa no respeito de si mesmo, da
prpria dignidade, respeito que no apenas coloca a si mesmo em alerta contra tudo
isso que insulta e ofende, mas tambm contra tudo isso que insulta e ofende os outros.
A justia acontece quando cada membro da famlia, da cidade, da espcie, ao mesmo
tempo que afirma sua liberdade e sua dignidade, as reconhece tambm nos outros e
lhes rende honra, considerao, poder e alegria, do mesmo modo que pretende obt-las
deles. Esse respeito de humanidade em nossa pessoa e na de nossos semelhantes a
mais fundamental e a mais constante de nossas afeces (Ibid., p. 136).
Direito e fora no so idnticos: o primeiro resultante de uma faculdade, o
segundo parte do homem. Por isso a fora tem seu direito, no todo o direito, mas ao
se negar o direito da fora (...) seria preciso afirmar, com os materialistas utilitaristas,
que a justia uma fico do Estado. Todavia, a fora como todas as demais
potncias, sujeito e objeto, princpio e matria de direito, parte constituinte do homem,
uma das mil faces da justia (Ibid., p. 139). Mas a fora tambm polimorfa, no
85
unitria, mltipla. A matria uma fora, tanto quanto o esprito, o gnio, a virtude, as
paixes, do mesmo modo que o poder a fora poltica de uma coletividade; o povo
, a bem da verdade, reconhecido apenas pela forma, e isso porque no existe outra
coisa nele mais do que fora. De tal modo que o direito da fora no somente o
mais antigo, como tambm ele serve de fundamento a toda espcie de direito. Os
outros direitos so to s ramificaes ou transformaes dele (Ibid., p. 141).
A introduo dessa noo de fora como princpio de inteligibilidade das
relaes muito importante por algumas razes. Foi por meio dessa noo que
Proudhon rompeu efetivamente com a tradio das teorias jurdicas do poder, com a
concepo liberal que, ao negar o direito da fora, rendeu culto fora do direito, e fez
do contrato social uma operao jurdica razovel e, portanto, necessria. Atravs
dessa operao jurdica, a filosofia encerrou a liberdade naquilo que FOUCAULT
(1999a, p. 49) chamou de ciclo do sujeito ao sujeito, e que teve por funo mostrar
como um sujeito entendido como indivduo dotado, naturalmente (ou por natureza),
de direitos, de capacidades etc. pode e deve se tornar sujeito, mas entendido, desta
vez, como elemento sujeitado numa relao de poder. A soberania a teoria que vai do
sujeito para o sujeito, que estabelece a relao poltica do sujeito com o sujeito.
Essas teorias acerca dos direitos naturais, acerca do contrato, acerca dos
interesses e necessidades, tudo isso aparecia para Proudhon como uma espcie de
metafsica do poder (ele chamou de fico jurdica do poder), que fazia perder o real
do poder, sua mecnica, sua fsica, sua materialidade, e que encobria seu exerccio
como princpio de autoridade. Proudhon no somente rompeu efetivamente com essa
teoria jurdica, mas tambm conferiu anarquia uma particularidade que a distinguiu
do conjunto dos socialismos dos sculos XIX e XX: um princpio de inteligibilidade
do poltico em termos de relaes de foras.
Mas dir-se-ia que essa reflexo em termos de relaes de foras no de
nenhum modo original, e que, ao contrrio, como mostrou FOUCAULT (2004b: 304),
estava presente em Leibniz, por um lado, e, por outro, a noo de fora penetrou a
86
racionalidade poltica do sculo XVII, como prisma reflexivo fundamental que
permitiu a majorao, a conservao e o crescimento da potncia de um Estado, dando
origem razo de Estado pela conjugao do dispositivo interno da polcia com o
dispositivo externo diplomtico-militar. Porm, a diferena fundamental que em
Proudhon o problema no o clculo das foras, mas precisamente sua delimitao.
Se cada faculdade, potncia, fora, porta seu direito com ela mesma, as foras, no homem e
na sociedade, devem se balancear, no se destruir. O direito de um no pode prejudicar o
direito da outra, porque eles no so da mesma natureza e porque eles no saberiam
encontrar-se na mesma ao. Ao contrrio, eles apenas podem se desenvolver pelo apoio
que se prestam reciprocamente. O que ocasiona as rivalidades e os conflitos o fato de
tantas foras heterogneas estarem reunidas e ligadas de uma maneira indissolvel numa
nica pessoa, tal como se v no homem, pela reunio das paixes e faculdades, no governo,
pela reunio dos diferentes poderes, na sociedade, pela aglomerao das classes. O
contrrio ocorre quando uma potncia similar encontra-se repartida entre pessoas
diferentes, como se v no comrcio, na indstria, na propriedade, onde uma multido de
indivduos ocupam exatamente as mesmas funes, aspiram as mesmas vantagens,
exercem os mesmos direitos e privilgios. Ento, pode ocorrer que as foras agrupadas, ao
invs de conservarem seu justo equilbrio, se combatam, e que uma s subordine as outras;
ou que as foras divididas se neutralizem pela concorrncia e pela anarquia
(PROUDHON, 1998: 142).
De outro lado, dir-se-ia que tambm em Marx, tambm no marxismo, a
noo de fora, de luta e de guerra teve um papel decisivo, conhecido pela formulao
crtica da luta de classes. De fato, mas ainda aqui preciso marcar algumas diferenas
que so fundamentais. Parece-me que FOUCAULT (1999a) mostra de maneira
bastante satisfatria de que maneira o empreendimento do Conde de Boulainvilliers
constituiu para a oposio nobiliria francesa do sculo XVIII aquilo que a noo de
luta de classes constitui para o marxismo no sculo XIX. Porm, o mesmo no poderia
ser dito de Proudhon.
Boulainvilliers tinha sido encarregado de explicar, interpretar e recodificar
um enorme relatrio, encomendado pelo rei Lus XIV, formado por um conjunto de
conhecimentos acerca do Estado, do governo e do pas necessrios para o ocupante do
trono. Foucault descreveu a estratgia fixada por Boulainvilliers nesse
empreendimento: a de constituir um contra-saber oposto aos saberes eruditos da
87
burguesia em ascenso. Tratava-se de um momento em que o grande inimigo da
nobreza era o saber jurdico do tribunal, do procurador, do jurisconsulto e do escrivo
(...) saber de certo modo circular, que remete do saber ao saber, saber destitudo de
fundamento histrico (Ibid., p. 156). J o saber da nobreza se constitui como um
contra-saber exterior ao direito, e que vai se deter nos interstcios do direito com o
objetivo de retomar sua origem e recolocar suas instituies num contexto mais antigo,
que tinha sido eliminado cuidadosamente dos textos jurdicos. Esse contra-saber da
nobreza procurou mostrar que o prprio edifcio jurdico estava construdo sobre uma
srie de injustias, de abusos, de espoliaes, de traies e de infidelidades. Assim,
para Boulainvilliers, do mesmo modo que para Proudhon, a guerra no constitui um
episdio de ruptura que suspende o direito: o que a guerra efetivamente fez no foi
interromper o direito, mas rend-lo fictcio pela pena dos juristas. Aproximao
aparente, portanto, entre Proudhon e esse tipo de contra-saber da nobreza. No entanto,
aproximao que no sustentvel.
Como mostrou CHAMBOST (2004, p. 162), se verdade que Proudhon
acompanhou com interesse os ecos na Frana da escola histrica alem de direito,
igualmente verdade que ele rapidamente se afasta dela. A autora extrai a evidncia
dessa atitude de Proudhon dos seus manuscritos intitulados Cours dconomie
politique e Cahiers de Lectures, ambos inditos depositados na biblioteca municipal
de Besanon, sua cidade natal, e na Biblioteca Nacional de Paris, respectivamente.
Nesses manuscritos, Proudhon reconhece como justa a denncia da escola histrica
contra a pretenso de reduzir as fontes do direito unicamente como expresso da
vontade. Mas Proudhon afasta-se da crtica quando a escola histrica, denunciando a
iluso metafsica do direito, afirmava o direito social. Nas suas notas de leitura,
Proudhon escreve que o direito para a Escola uma criao da sociedade. (...) Contra
a vontade arbitrria dos homens, a Escola invoca, portanto, a estabilidade da histria.
E contra a referncia metafsica do direito natural, ela considera unicamente o direito
que resultou historicamente de cada povo (Ibid., p. 165). Proudhon nega a idia de
88
uma produo unicamente espontnea do direito fora da interveno dos indivduos, e
devido a esse carter unilateral que ele se afasta da escola histrica, na medida em
que elimina o indivduo em proveito da sociedade. Fundando-se sobre o postulado do
direito social, ele acusa a Escola de se jogar nas armadilhas da fatalidade, ligada
segundo ele eliminao da vontade. Fatalidade! Oh! Com efeito, quando se nega o
absoluto, resta ainda a fatalidade, a fortuna. (...) o direito [ele diz] a aplicao
razovel, refletida, do princpio de sociabilidade; aplicao que se diversificou, como
as religies e as lnguas, segundo os erros da reflexo e conforme as circunstncias
exteriores (Id.).
Todavia, Foucault mostrou que o contra-saber histrico de Boulainvilliers
estava investido de pretenses hegemnicas, e que seu objetivo era a recuperao de
um antigo estatuto que foi espoliado. Por isso, esse contra-saber ganha um valor de
verdadeira batalha, cuja realidade s pode ser acessada a partir de uma verdade que
lhe exterior e que esse contra-saber tem precisamente por funo comunicar.
Houve um esquecimento perptuo de si mesmo, que parece provir da imbecilidade ou do
feitio. Retomar a conscincia de si, descobrir as fontes do saber e da memria significa
denunciar todas as mistificaes da histria. E ser retomando conscincia de si, inserindo-
se de novo na trama do saber, que a nobreza poder voltar a ser uma fora, colocar-se
como sujeito da histria. Colocar-se como uma fora na histria implica, pois, como
primeira fase, retomar conscincia de si e reinserir-se na ordem do saber (FOUCAULT,
1999a, p. 185).
No contra-saber de Boulanvilliers o que est em jogo a histria como arma
de uma nobreza trada e que faz funcionar a rememorao daquilo que o saber dos
juristas ocultou sob a fico da vontade geral e do contrato. O que est em jogo a re-
ocupao do saber do reino pela nobreza, que tinha sido excluda pelos juristas. E,
nesse jogo, Boulainvilliers fez emergir um novo sujeito da histria, um sujeito que fala
na primeira pessoa ao narrar sua histria. Um sujeito que ao relatar sua prpria histria
no apenas reorienta o passado, os acontecimentos, os direitos, as injustias, todas as
derrotas e vitrias sofridas, mas tambm articula todos os temas de sua narrativa em
torno de um destino, de um futuro. E nesse ponto ocorre um deslocamento importante:
89
o sujeito que narra sua prpria histria provoca ao mesmo tempo uma espcie de
modificao radical quando introduz essa espcie de elemento primeiro, anterior e
profundo, que constitudo pelo prprio sujeito. Em outras palavras, por meio e em
nome desse novo sujeito que possvel realizar uma srie de comparaes entre ele,
sua histria, sua origem, seu passado de sofrimentos etc., de um lado, e os direitos, as
instituies, a monarquia, o presente e o futuro, de outro.
Com esse novo sujeito da histria sujeito que fala na histria e sujeito falado na histria
aparece tambm, claro, toda uma nova morfologia do saber histrico, que da em diante
vai ter um novo domnio de objetos, um referencial novo, todo um campo de processos at
ento no somente obscuros, mas tambm totalmente menosprezados. Remontam
superfcie, como temtica capital da histria, todos esses processos sombrios que se
passam no nvel dos grupos que se enfrentam sob o Estado e atravs das leis. a histria
sombria das alianas, das rivalidades dos grupos, dos interesses disfarados ou trados; a
histria das reverses dos direitos, das transferncias das fortunas; a histria das
fidelidades e das traies; a histria das despesas, das extorses, das dvidas, das
velhacarias, dos esquecimentos, das inconscincias etc. (Ibid., p. 161)
Emerge com esse novo sujeito um novo referencial, um novo pathos que
marcar o pensamento ocidental, e que Foucault definiu como, primeiro, a paixo
quase ertica pelo saber histrico; segundo, a perverso sistemtica de uma
inteligncia interpretativa; terceiro, a obstinao da denncia; quarto, um conluio, um
ataque contra o Estado, um golpe de Estado ou um golpe no Estado ou contra o
Estado (Ibid., p. 162). Esse pathos que marcou todo o revolucionarismo dos sculos
XIX e XX, tambm no cessou de transitar da direita para a esquerda, indo da reao
nobiliria para os discursos revolucionrios no sculo XVIII, dos movimentos
nacionalistas e racistas para o marxismo e socialismos no sculo XIX e XX, da luta de
raas para a luta de classes.
Percebe-se como tudo isso estranho ao pensamento de Proudhon. No
existe em seu pensamento nada que se possa chamar de sujeito da histria, mas uma
srie relacional de foras em luta. Nem tampouco a histria, ns o vimos, tem para ele
outro valor que o de exemplo. Proudhon no faz a histria da opresso do proletariado,
bem como sua narrativa desprovida de origem (arch): ele considera simplesmente
90
um fato o comeo guerreiro da humanidade. Nada absoluto, dizemos, nada to
impiedoso como um fato (PROUDHON, 1998a, p. 103). Enfim, ele no faz jogar
dois sujeitos, de maneira que um deles, no fim das contas, adquira valor de referncia:
entre o discurso universal dos povos (seus mitos, lendas, ditados, religies etc.) e a
teoria jurdica existe uma flagrante oposio no que concerne ao direito da fora, e que
preciso compreender. E admitindo, junto com a experincia dos povos, a realidade
do direito da fora contra a fico jurdica dos filsofos, ele imediatamente introduz
este outro deslocamento: aps ter descoberto os princpios sublimes da guerra, nos
resta descobrir as razes de seus horrores. (...) Sublime e santa em sua idia, a guerra
horrvel nas suas execues: na medida que sua teoria eleva o homem, sua prtica o
desonra (Ibid., p. 201-202). A mesma oposio que separava a experincia dos povos
e a opinio do juristas, Proudhon a re-introduz entre a prtica da guerra e sua teoria do
direito da fora: ele no nutre nenhuma paixo ertica pela histria.
Alm disso, em linhas gerais, o pathos desse discurso histrico-poltico
estabelece a instituio e a organizao militares como elemento determinante na
relao de fora. Para Proudhon, a superioridade das armas no prova nada, da o fato
freqente de Estados bruscamente formados desaparecerem com igual rapidez. Para o
discurso histrico-poltico, a guerra considerada aqum e alm da batalha, uma
instituio interna que serve de analisador da sociedade. J Proudhon distingue entre
direito da fora e direito da guerra, dando guerra a concepo dos antigos: ela um
litgio entre soberanias que se decide exclusivamente no campo de batalha e, portanto,
ela exterior sociedade e termina quando uma das partes reconhece sua impotncia.
Para Proudhon no a guerra o analisador da sociedade, mas a fora. O problema do
discurso de Boulainvilliers narrar a histria como clculo das foras: quem venceu?
quem foi vencido? quem se tornou forte? quem se tornou fraco? Da o funcionamento
da histria como luta poltica e a organizao desse campo que Foucault chamou
histrico-poltico. Diferena fundamental: em Proudhon o problema no o clculo
das foras, mas precisamente sua delimitao: a guerra terminar, a justia e a
91
liberdade se estabelecero entre os homens to s pelo reconhecimento e a delimitao
do direito da fora (Ibid., p. 168).
O que distingue esse discurso histrico-poltico de uma histria serial da
fora , como diria FOUCAULT (1999a, p. 213), que o primeiro situa-se no eixo
conhecimento/verdade, eixo que vai da estrutura do conhecimento exigncia da
verdade, estabelecendo, a um dado momento, uma zona de pacificao em que as
relaes de fora se encontrariam desequilibradas, precisamente em razo da presena
de um poder superior. J a histria serial situa-se no eixo discurso/poder, ou prtica
discursiva/enfrentamento de poder, e busca no um ponto de pacificao, mas o
equilbrio pelo antagonismo incessante das foras. No primeiro caso, tem-se o
hegelianismo como saber operador de uma racionalidade histrica prpria ao
marxismo, enquanto que no segundo caso tem-se uma analtica serial e o impulsionar
constante para um estado permanente de tenso das foras, prprio ao anarquismo de
Proudhon.
92
captulo 2: governo da poltica
Como explicar que o governo instituio que desempenha simultaneamente
a funo de escudo que protege, espada que vinga, balana que determina o direito e
olho que vela tenha sido sempre para os povos o objeto de uma perptua
desconfiana e de uma hostilidade surda? Essa questo foi formulada por Proudhon em
1860. Segundo ele, malgrado a funo que o governo desempenha na sociedade, e que
deveria torn-lo objeto de venerao, ele est exposto a uma perptua instabilidade e a
catstrofes sem fim: quanto mais o governo se pretende necessrio, mais ainda se
mostra cheio de boa vontade. Ao que se deve todas essas precaues oratrias se ele
verdadeiramente a fora que defende e a justia que distribuiu? (PROUDHON,
1988b, p. 571-572). Fora das abstraes do direito e da filosofia, a experincia mostra
que no governo se acredita mais do que se ama; que ele mais suportado do que
objeto de adeso. O sbio dele se afasta, e no existe nimo to vulgar que no sinta
honra de passar sem ele. O filsofo diz: Mal necessrio! E o campons conclui: Que o
rei se ocupe de seus negcios, que dos meus me ocupo eu! (Ibid., p. 572). essa
disposio pouco amigvel em relao ao governo que faz com que, segundo
Proudhon, ele aparea por toda parte num estado de agitao, de demolio e de
reconstruo interminveis.
93
Seria uma lei da sociedade, que precisamente aquilo que deve assegurar nela a estabilidade
e a paz, seja justamente desprovido de paz e de estabilidade? O casamento, a famlia, a
propriedade, instituies de segunda ordem, vivendo sombra do poder, seguem seu
progresso atravs dos tempos, sem comoes, circundados do respeito universal: o que
impede o governo de gozar de um semelhante destino? (Id.).
O que , portanto, esse vcio interno aos governos que, reunindo as
condies necessrias, torna impossvel ao poder qualquer estabilidade? Que elemento
faz com que as naes, a despeito de todo desejo de assegurar seus governos, tendam
incessantemente a alterar suas formas polticas at as reverter quase completamente?
Como explicar o declnio peremptrio de um poder na manh seguinte ao dia em que
foram subtrados os entraves e vencidos os inimigos? Para Proudhon, intil e vo
acusar o enfraquecimento das religies, a crtica dos juristas, o progresso da filosofia,
o relaxamento dos costumes, a imbecilidade dos prncipes, ou a efervescncia popular.
E nem mesmo a filosofia desvendou esse enigma.
Isso resulta, diz Maquiavel seguindo Aristteles, da natureza das coisas. Sem dvida:
mas o que essa natureza? Como, uma vez que a autoridade paterna, o casamento, a
famlia, no recebem do povo nenhuma oposio, uma vez que as melhorias operam ali
sem resistncia, como, dizia, um rgo to importante como o Estado, cuja conservao
todos consentem, est sujeito a uma existncia to atormentada, to precria? (Ibid., p.
577).
O que torna, em suma, a autoridade governamental insuportvel? A
experincia confirmou a observao de MAQUIAVEL (1994, p. 25) segundo a qual os
Estados esto condenados a percorrer por muito tempo o crculo das mesmas
revolues. Proudhon se props investigar essa lei geral da evoluo poltica e a
razo dessa aventura: Qual causa secreta ope incessantemente o interesse do
prncipe ao interesse, inicialmente de uma minoria, em seguida da maioria, e precipita
desse modo os Estados na sua runa? [...] O que faz com que, desde a alta antiguidade
at nossos dias, a constituio dos Estados seja to frgil que todos os publicistas, sem
exceo, o declaram essencialmente instvel? (PROUDHON, 1988b, p. 581) sobre
esse tema ainda inexplorado, ou de alguma maneira silenciado pelo pensamento
poltico e filosfico, que Proudhon se debrua, empregando um mtodo
94
particularmente original, distinto, em todo caso, daquele utilizado pela tradio liberal
e pela concepo jurdica do poder.
Na sua anlise do governo, Proudhon dir que aquilo que preciso
considerar no a origem do seu poder: se o governo de direito divino, popular ou se
foi o resultado de uma conquista. Nem tampouco a forma do poder que preciso
considerar: se o governo democrtico, aristocrtico, monrquico ou simplesmente
misto. Nem muito menos preciso considerar a organizao do seu poder: se o
governo est baseado na diviso dos poderes, no sistema representativo, na
centralizao, ou mesmo no federalismo. Nem a origem do poder, nem a forma do
regime de poder, nem a organizao do poder podem servir para uma anlise do
governo: todas essas coisas so o material do governo. Porm, aquilo que preciso
considerar o esprito que o anima, seu pensamento, sua alma, sua IDIA (Ibid.,
582). Portanto, no so os materiais do governo, a origem, a forma e a organizao de
seu poder que permitiriam uma anlise do governo. Em outras palavras, no so as
fontes do poder e a base de sua legitimidade que so questionveis, mas a prpria idia
de governo.
Questionar a idia de governo. preciso ter em conta a chamada concepo
ideo-realista de Proudhon, que postula em toda ao uma idia e em toda idia uma
prtica, que postula na ao uma idia e na palavra uma ao, de modo que a
experincia social seria o resultado da totalidade dessas prticas (ANSART, 1972, p.
261). Ento, para Proudhon, as idias puras, conceitos, universais e categorias,
destitudas da fecundao do trabalho manual e da experincia, no fazem mais do que
manter o esprito em um delrio estril que o exaure e o mata (PROUDHON, 1990, p.
1142). Por isso a necessidade de considerar as razes no como palavras, mas como
fatos e gestos, de considerar que a demonstrao experincia e que o nmeno
[kantiano] fenmeno (PROUDHON, 1947, p. 63). E tambm, inversamente,
considerar que a prtica, bem mais do que a palavra, a expresso da idia
(PROUDHON, 1988b, p. 620) Ou seja, para Proudhon tomar na investigao a idia
95
do governo conduzir uma anlise terico-prtica, enfim, analisar o governo a partir
do seu exerccio efetivo, a partir de como o poder governamental exercido.
As prticas do governo, a maneira pela qual o governo exercido, segundo
Proudhon, esto fundamentados sobre os seguintes princpios: na perversidade original
da natureza humana, na desigualdade essencial das condies, na perpetuao do
antagonismo e da guerra, na fatalidade da misria. Desses princpios decorrem,
respectivamente, a necessidade do governo, da obedincia, da resignao e da f.
So esses princpios, funcionando como racionalidades governamentais, que fazem
com que as formas da autoridade governamental se definam por si mesmas. Esses
princpios fornecem um tipo de arquitetura ao poder que independente das
modificaes que cada uma de suas partes suscetvel de receber; assim, por exemplo,
o poder central pode ser tour tour monrquico, aristocrtico ou democrtico
(PROUDHON, 1979, p. 203). Logo, estando dada essa arquitetura do poder por
essas racionalidades de governo, no fundo, essas diferenciaes de regimes no seriam
mais que os caracteres superficiais que permitiram aos publicistas uma
classificao cmoda dos Estados (Id.). No indicam nenhuma modificao
qualitativa e, malgrado as relaes do governo tenderem ao aperfeioamento,
sobretudo graas transao entre os dois elementos antagonistas, a iniciativa real e o
consentimento popular, para Proudhon a finalidade do governo permanece sempre a
de manter a ordem na sociedade, consagrando e santificando a obedincia do cidado
ao Estado, a subordinao do pobre ao rico, do campons ao nobre, do trabalhador ao
parasita, do laico ao padre, do burgus ao soldado. sobre essa multiplicidade de
sujeies que est constituda a ordem poltica, de modo que todos os esforos
tentados para conferir ao poder um verniz mais liberal, mais tolerante, mais social,
constantemente fracassaram [...]. [O governo esse] sistema inexorvel cujo primeiro
termo o Desespero e o ltimo a Morte (Id.).
Colocando-a nesses termos, Proudhon toma a distino de governo a
governo, suas diferenas e variaes de origem, de regime e de organizao, como
96
mera ttica da liberdade que, em nada alterando o princpio, tem por funo
conferir efeitos de realidade a nuances que por si mesmas se evaporam de tempos em
tempos. Porm, a fora do princpio do governo tanta que, a despeito de toda
evidncia, diz Proudhon, os publicistas no se convenceram do seu perigo e nele se
agarram como nico meio de assegurar a ordem, fora do qual no vislumbram mais do
que vazio e desolao. Perguntam-se o que seria da sociedade sem governo, para em
seguida fazer o governo republicano, liberal e igualitrio quanto possvel. E para isso,
tomaro contra ele todas as garantias; o humilharo diante da majestade dos cidados at a
ofensa. Nos diro: vs sereis o governo! Vos governareis a vs mesmos, sem presidentes,
sem representantes, sem delegao. Do que, ento, podereis vos queixar? Porm, viver sem
governo; abolir sem reserva, de uma maneira absoluta, toda autoridade; realizar a anarquia
pura: isso parece inconcebvel, ridculo; um compl contra a repblica e a nacionalidade
(Ibid., p. 205-206).
Como se v, a crtica de Proudhon no se dirige s formas possveis que
pode assumir um governo, mas ao princpio de autoridade que qualquer governo
implica. Segundo ele, igualmente esse princpio, e as causas dele decorrentes, que
que conduz a sociedade a negar o poder e motiva sua condenao (Ibid., p. 104).
Com isso, Proudhon afirma a idia anrquica, idia anti-governamental, e concluiu
que a frmula revolucionria no pode mais ser nem legislao direta, nem governo
direto, nem governo simplificado: ela nenhum governo. Nem monarquia, nem
aristocracia, nem mesmo democracia (...). Nenhuma autoridade, nenhum governo, nem
mesmo popular: a Revoluo est aqui (Ibid., p. 103).
1. o mtodo serial
Para um procedimento analtico, a origem do poder, suas formas ou sua
organizao, dizem pouco ou nada da realidade do poder. Assim, pouco importa se o
poder se diz de origem popular, se toma a forma democrtica ou se est organizado de
maneira contratual: como veremos de maneira mais detalhada, uma analtica das
97
prticas de governo, ou estudos em governamentalidade, possui precisamente a
particularidade de deslocar a anlise dos problemas relacionados legitimidade do
poder, noo de ideologia e com as questes das fontes do poder e sua deteno,
termos tpicos das teorias da soberania forjadas nos sculos XVIII e XIX, poca em
que, segundo ROSE (1999, p. 1), o modelo de poder poltico foi formado por um
discurso constitucional e filosfico que projetou um corpo centralizado no interior de
qualquer nao, um ator coletivo com o monoplio legtimo do uso da fora em um
territrio demarcado. Foi tambm uma concepo de poder que implicou algumas
idias particulares acerca da natureza humana dos sujeitos do poder, concebidos como
indivduos autnomos e sujeitos de direito. Implicou igualmente concepes polticas
de agrupamentos sociais dos quais emanam a identidade que fornece as bases para
suas aes e interesses polticos: por exemplo, a noo de classe, de raa etc.
Finalmente, esse modelo de poder poltico implicou tambm uma definio da
liberdade em termos essencialmente negativos.
A liberdade foi imaginada como ausncia de coero ou dominao; era uma condio na
qual a vontade subjetiva essencial de um indivduo, um grupo ou um povo pde ser
expressada e no foi silenciada, subordinada ou dominada por um poder estranho. Os
problemas centrais dessas anlises foram: Quem detm o poder? Para quais interesses ele
utilizado? Como legitimado? Quem o representa? Como pode ser assegurado ou
contestado ou derrubado? Estado/sociedade civil; pblico/privado; legal/ilegal;
mercado/famlia; dominao/emancipao; coero/liberdade: os horizontes do
pensamento poltico foram estabelecidos por meio dessa linguagem filosfico-sociolgica.
(Id.).
Para demonstrar a tese de que sob as diversas formas de governo o que
subsiste invariavelmente o princpio de autoridade, Proudhon adota na sua anlise o
mtodo serial, que pode ser descrito como um tipo de conhecimento que no
exterior, no transcendente prtica social. (...) a teoria da lei serial um mtodo de
conhecimento assentado no terreno movedio da realidade plural, incapaz de
proporcionar repouso razo. No representao esttica da realidade: estabelece-se
na relao de revezamento com a prtica. um processo bem-determinado de
conhecimento, que acompanha o movimento da prtica. E quem diz movimento diz
98
srie, unidade diversificada (PASSETTI & RESENDE, 1986, p. 15). Nesse sentido, a
anlise serial no toma como objeto primeiro as noes de Estado, lei, democracia,
sufrgio, povo, monarquia, repblica etc., mas, ao contrrio, procura fazer a anlise a
partir das prticas de governo, para perceber como essas mesmas noes de Estado,
lei, democracia etc., foram constitudas e emergiram num determinado contexto. Em
outras palavras, sobre o prprio estatuto dessas noes que a anlise serial procura
interrogar. Assim, no admitir de sada a legitimidade dessas noes que a anlise
sociolgica, poltica e filosfica adota a priori para explicar a prtica governamental,
mas, ao contrrio, partir da prtica governamental para, precisamente, afirmar a
insuficincia analtica dessas noes universais como princpio de inteligibilidade do
governo. o que faz do conhecimento serial um tipo de conhecimento que se
processa em decorrncia de uma relao prtica dos homens com o mundo e suas
criaes, ensejando o desenvolvimento integrado de teoria e prtica (Ibid., p. 16).
Como notou Gurvitch, a dialtica serial prope procurar a diversidade em todos os
seus pormenores, o que implica a captao incessante da experincia. Por etapas e
com uma clareza crescente, Proudhon faz notar que o movimento dialtico comea por
ser o movimento da prpria realidade social e s depois um mtodo para seguir as
sinuosidades desse movimento (GURVITCH, 1980, p. 136).
Ao tomar o governo na sua concretude, ou melhor, ao tomar o governo como
srie composta de um certo nmero de termos historicamente dados, tais como
absolutismo, monarquia constitucional, repblica, democracia, governo direto,
anarquia, Proudhon percebe cada um desses termos pertencendo srie governo e
constituindo um momento particular na linha de evoluo do princpio de
autoridade. Por exemplo, diz que
99
o absolutismo, na sua expresso ingnua, odioso razo e liberdade; sempre a
conscincia dos povos se sublevou contra ele atravs dos tempos; em seguida, a revolta fez
presente seu protesto. O prncipe foi, portanto, forado a recuar: ele recuou passo a passo,
por uma seqncia de concesses, cada uma mais insuficiente do que as outras, e cuja
ltima, a democracia pura ou governo direto, toca o impossvel e o absurdo. O primeiro
termo da srie sendo, portanto, o absolutismo, o termo final, fatdico, a anarquia,
entendida em todos os sentidos (Ibid., p. 104-105).
Os termos da srie governo aparecem como variao do princpio de
autoridade, como respostas s tticas da liberdade, como estratgias de poder: em
termos de ttica que devem ser percebidas, em uma anlise serial, todas as leis e todas
as garantias concedidas pelo governo. A lei no possui nenhuma realidade ontolgica
na srie governo, nem tomada como substncia que confere estatuto legal a um
Estado democrtico em oposio ao absolutismo. O domnio do direito, na anlise
serial, no possui outro valor que no seja o da ordem da relao, tomado como
realidade seriada com dimenso, movimento e ao recprocos com outras sries. Uma
vez que a srie nada tem de substancial nem de causativo (PROUDHON, 2000a, p.
142), mas ela indica uma relao de igualdade, de progresso ou similitude (Ibid., p.
243), seria preciso, portanto, colocar ao lado da lei a impacincia dos povos e a
iminncia da revolta. Assim, a anlise serial demonstraria que foi sempre a partir dessa
impacincia e revolta que
o governo teve que ceder; prometeu instituies e leis; declarou como seu mais fervoroso
desejo que cada um possa gozar do fruto de seu trabalho sob a sombra de sua vinha ou
figueira. Foi uma necessidade de sua posio. Com efeito, a partir do momento em que ele
se apresentou como juiz de direito, rbitro soberano do destino, no poderia conduzir os
homens seguindo seu bel prazer. Rei, presidente, diretrio, comit, assemblia popular, no
importa, foi preciso ao poder regras de conduta: sem elas, como seria possvel estabelecer
entre seus sujeitos uma disciplina? (PROUDHON, 1979, p. 107-108).
Em uma anlise serial o governo aparece sancionando leis no para a
liberdade de seus sujeitos, mas sobretudo para impor a si mesmo limites: porque tudo
o que regra para o cidado, torna-se limite para o prncipe (Ibid., p. 108). Isso pelo
fato da lei no ser o atributo do Estado democrtico, mas uma necessidade decorrente
de uma posio na srie. nesse sentido que a anlise serial proposta por Proudhon
pode ser descrita como uma analtica das prticas de governo que procura investigar o
100
exerccio do poder. Por analtica das prticas preciso entender um tipo de estudo
relativo a uma anlise das condies especficas sob as quais uma organizao
particular emerge, existe e se transforma (DEAN, 1999, p. 20). Assim, empreender
uma analtica das prticas de governo seria examinar as condies sob as quais
regimes de prticas surgem, existem, so mantidos e transformados. Em um sentido
elementar, regimes de prticas so simples cenrios regulares e coerentes de modos de
fazer e pensar. Regimes de prticas so prticas institucionais, se esse termo servir
para designar uma maneira de roteirizar e ritualizar nossos modos de fazer em certos
lugares e tempos (Ibid., p. 21). Uma analtica das prticas de governo procura
investigar o poder a partir de sua dimenso tcnica ou tecnolgica, ou seja, tomando
como apoio da anlise os instrumentos e mecanismos atravs dos quais o poder opera,
realiza seus objetivos, produz seus efeitos e ganha extenso. Em suma, um tipo de
serializao do governo para tornar inteligvel o exerccio do poder.
O mtodo serial de Proudhon tem o mrito de analisar o poder fora dessas
imagens do Estado e dessas oposies convencionais da filosofia poltica. Proudhon
definiu o problema do poder em termos de prticas de governo, ou seja, em termos de
srie na qual o governo compreendido como o exerccio da autoridade poltica. Ao
invs de analisar o poder em termos de origem e legitimidade, como fazem as teorias
da soberania, Proudhon toma como objeto de anlise os projetos, as estratgias e as
diversas tecnologias de governo por meio dos quais o princpio da autoridade poltica
no somente conservado, mas tambm reinvestido e exercido em sua plenitude. Faz
isso, por exemplo, quando demonstra toda a quimera do projeto poltico de Rousseau,
que pretende estabelecer oposio e descontinuidade entre o tipo de poder inaugurado
pelo contrato e o antigo poder das monarquias.
O governo vinha de cima, [Rousseau] o fez vir de baixo pela mecnica do sufrgio mais ou
menos universal. Ele no teve o cuidado de compreender que, se o governo tinha se
tornado, no seu tempo, corrupto e frgil, era justamente porque o princpio de autoridade,
aplicado a uma nao, falso e abusivo; consequentemente, no era a forma do poder ou
sua origem que era preciso alterar, mas sua prpria aplicao que era preciso negar.
(PROUDHON, 1979, p. 111)
101
Rousseau no introduziu nenhuma descontinuidade com a mecnica do
sufrgio, apenas deu outra direo ao exerccio do poder soberano. Segundo Proudhon,
aquilo que Rousseau faz ao pretender uma identidade entre governo e governados e ao
pleitear extrair a legitimidade do governo da universalidade da lei, no outra coisa
mais do que uma perptua escamoteao (Ibid., p. 124) dos fatos da dominao
poltica, porque reduz os jogos de dessimetrias existentes entre a soberania fictcia do
povo e o exerccio real do poder governamental.
A lei, dizia-se, a expresso da vontade do soberano: portanto, sob uma monarquia, a lei
a expresso da vontade do rei; numa repblica a lei a expresso da vontade do povo. A
parte a diferena do nmero de vontades, os dois sistemas so perfeitamente idnticos:
num e no outro o erro igual: fazer da lei a expresso de uma vontade enquanto deve ser a
expresso de um fato. Contudo, seguiam-se bons guias: tomara-se por profeta o cidado de
Genebra e o Contrato Social por Alcoro. (PROUDHON, 1997, p. 28)
Em oposio ao reducionismo de Rousseau, Proudhon empenhou-se em dar
visibilidade s prticas de governo a partir de uma linha de transformao, de variao
e, sobretudo, de aperfeioamento do exerccio da soberania. O objetivo era afirmar que
esses regimes de prticas no so redutveis nem s formas nem origem do poder,
mas que, ao contrrio, estendiam-se e conectavam-se a um grande nmero de
instituies, sistemas polticos e concepes jurdico-filosficas. O que as prticas de
governo deveriam mostrar que a instituio soberana, ao contrrio de ter sido
eliminada pela instituio democrtica, tinha sido reinvestida em um outro domnio de
objetos, o da economia. Proudhon tinha clareza que a economia poltica no era um
simples ramo do saber relativo produo da riqueza e organizao do trabalho, mas
que tambm abrangia a esfera governamental, tanto quanto o comrcio e a indstria.
Do governo aos administrados, dos administrados ao governo, tudo servio recproco,
troca, salrio e reembolso; no governo, tudo direo, repartio, circulao, organizao:
em que, portanto, a economia poltica excluiria de seu domnio o governo? Seria pela
diversidade dos fins? Mas o governo a direo das foras sociais em direo ao bem-estar
ou utilidade geral: ora, o fim da economia poltica no tambm o bem-estar de todos, a
utilidade, a justia! No est entre suas atribuies essenciais distinguir o que til do que
improdutivo? Os economistas no se denominaram utilitrios? (PROUDHON, 2000b, p.
13)
102
Afirma Proudhon que essas leis de organizao do trabalho das quais a
economia poltica se ocupa so igualmente comuns s funes legislativas,
administrativas e judicirias (Id.). Ocorre que, de um lado, a economia poltica
estabeleceu como o princpio que rege a sociedade o privilgio resultante do acaso e
da sorte do comrcio, e, de outro, o governo se d por funo proteger e defender cada
um na sua pessoa, sua indstria e propriedade. Assim, se pelo acaso das coisas a
propriedade, a riqueza, o bem-estar esto de um lado, a misria de outro, claro que o
governo encontra-se constitudo de fato para a defesa da classe rica contra a classe
pobre. preciso, para a perfeio desse regime, que isso que existe de fato, seja
definido e consagrado em direito: precisamente o que quer o poder (PROUDHON,
1979, p. 47). Por isso, no fundo, a Revoluo Francesa, no atacou a soberania na sua
materialidade, mas atingiu apenas sua metafsica governamental. Das palavras
liberdade e igualdade fixadas na constituio e na forma da lei, no existia algum
vestgio nas instituies.
Os abusos abandonaram a fisionomia que tinham antes de 1789 para retomar uma outra
organizao; eles no diminuram nem em nmero, nem em gravidade. A fora de
preocupaes polticas, perdemos de vista a economia social. Foi assim que o partido
democrtico em pessoa, o herdeiro primeiro da revoluo, quis reformar a sociedade pelo
Estado, criar instituies pela virtude prolfica do poder, corrigir o abuso com o abuso.
(Ibid., p. 57)
Para Proudhon, Rousseau reinscreveu o velho problema da soberania em
termos de contrato, natureza, vontade geral etc., suprimindo a trama de relaes,
j que o pacto social deveria ser chamado para produzir seus efeitos, e se ocupando
apenas das relaes polticas mais superficiais (Ibid., p. 93). Segundo Proudhon (Ibid.,
p. 93-94), Rousseau no considerou o contrato social nem como um ato comutativo,
nem como um ato de sociedade, mas como um ato constitutivo de arbtrio, exterior a
toda prvia conveno, para todos os casos de contestao, querela, fraude ou
violncia possveis de se apresentarem nas relaes e, sobretudo, revestidos de fora
suficiente para dar execuo a seus julgamentos e pagar seus tribunais.
103
Rousseau define assim o contrato social: Encontrar uma forma de associao que defenda
e proteja, de toda fora comum, a pessoa e os bens de cada associado, e pela qual cada um
se unindo a todos, no obedea mais do que a si mesmo e permanea to livre quanto
antes. Sim, essas so bem as condies do pacto social quanto proteo e defesa dos
bens e das pessoas. Mas, quanto ao modo de aquisio e transmisso dos bens, quanto ao
trabalho, troca, ao valor e preo dos produtos, educao, essa multido de relaes
que, bem ou mal, constituem o homem em sociedade perptua com seus semelhantes,
Rousseau no diz uma palavra, sua teoria da mais perfeita insignificncia (Ibid., p. 94-
95).
O contrato social no seria outra coisa que um seguro mtuo para a proteo
das pessoas e das propriedades, quer dizer, a aliana ofensiva e defensiva dos
possuidores contra desapossados, e a parte que nele toma cada cidado a polcia da
qual est interessado em pagar, ao pro rata de sua fortuna, e segundo a importncia
dos riscos que o pauperismo o faz correr (Ibid., p. 95). Portanto, tudo o mais, a
saber, a coisa econmica, a mais essencial, abandonada ao acaso do nascimento e da
especulao (Ibid., p. 95). pelo fato, segundo Proudhon (Ibid., p. 98), de Rousseau
no ter nada sabido de economia, porque seu programa fala apenas e exclusivamente
de direitos polticos e por ter ignorado a realidade dos direitos econmicos, que, aps
ter feito, sob o ttulo mentiroso de contrato social, o cdigo da tirania capitalista e
mercantil, o charlato genovs concluiu pela necessidade do proletrio, pela
subalternizao do trabalhador, pela ditadura e inquisio. Sua filosofia s frases e
recobre apenas vazio; sua poltica plena de dominao.
Assim, o chamado governo direto, defendido pelos democratas
rousseaunianos jamais foi outra coisa na histria, segundo PROUDHON (Ibid., p. 89),
que a poca palingensica das aristocracias destrudas e dos tronos destroados. O
governo direto, caro aos democratas, a frmula atravs da qual e na ausncia
mesmo de toda realeza, aristocracia e sacerdcio, possvel sempre colocar a
coletividade abstrata do povo disposio do parasitismo da minoria e opresso da
maioria (Ibid., p. 96). Pacto de raiva, monumento de misantropia, coalizo dos bares
da propriedade, do comrcio e da indstria contra o proletariado, sermo de guerra
social: eis o que o contrato social aos olhos de Proudhon. Ali onde frequentemente
104
foi vista uma grande novidade e o nascimento da igualdade e da liberdade entre os
homens, Proudhon viu a repetio montona do velho princpio de autoridade em seu
exerccio e percebeu como sob esses discursos democrticos e eloqentes do sculo
XVIII funcionava essa mesma teoria da soberania, reativada do direito romano, que
[se encontrava] em Rousseau e em seus contemporneos, com um outro papel (...):
construir, contra as monarquias administrativas, autoritrias ou absolutas, um modelo
alternativo, o das democracias parlamentares (FOUCAULT, 1999a, p. 42).
2. governo, justia, verdade
Quais so as prticas desse governo que foi chamado para substituir a
soberania e que retira seus instrumentos das formas racionais da economia poltica?
O governo tem nas mos tudo o que vai e vem, o que se produz e se consome, todos os
negcios dos particulares, das comunas e dos departamentos; ele mantm a tendncia da
sociedade em direo ao pauperismo das massas, subalternizao dos trabalhadores e
preponderncia sempre maior das funes parasitrias. Pela polcia, ele vigia os
adversrios do sistema; pelo exrcito ele os destroa; pela instruo pblica ele distribui,
na proporo que lhe convm, o saber e a ignorncia; pelos cultos ele adormece o protesto
no fundo dos coraes; pelas finanas ele paga, em prejuzo dos trabalhadores, os custos
dessa vasta conjurao. (PROUDHON, 1979, p. 54)
Est em jogo nas prticas de governo a prpria racionalidade do poder, o que
Proudhon chamou de princpio de autoridade ou preconceito de soberania, que,
inscrevendo-se nas prticas, desempenha nelas um papel crucial, porm ignorado e
silenciado pelas tradies poltico-jurdicas. Como observou FOUCAULT (2001c, p.
845-846), no existe prtica que no seja acompanhada de um certo regime de
racionalidade, entendido como jogo entre um cdigo que regula maneiras de fazer
(que prescreve como selecionar as pessoas, como examin-las, como classificar as
coisas e os signos, como dispor os indivduos etc.) e uma produo de discursos
verdadeiros que servem de fundamento, de justificao, de razes de ser e de
princpios de transformao para essas maneiras de fazer. As racionalidades so
105
conjuntos de prescries calculadas e razoveis que pretendem organizar instituies,
distribuir espaos e regulamentar comportamentos. Mas sobretudo induzem uma srie
de efeitos sobre o real: ao se cristalizarem nas instituies, informam o comportamento
dos indivduos e servem de grade para a percepo e apreciao das coisas. Essas
programaes de conduta, esses regimes de jurisdio/veridio no so projetos de
realidade que fracassam. So fragmentos de realidade que induzem esses efeitos de
real to especficos que so aqueles da separao do verdadeiro e do falso na maneira
pela qual os homens se dirigem, se governam, se conduzem a si mesmos e aos
outros (Ibid., 848). Portanto, a racionalidade do poder, que os vrios regimes de
prticas de governo tendem a generalizar e a perpetuar, possui uma existncia
transversal na medida em que atravessa formas institucionais de governo muito
variveis entre si e at mesmo, muitas vezes, aparentemente opostas. Por exemplo, um
regime de prticas de tipo punitivo pode encontrar sua forma maior de racionalidade
na organizao institucional da priso, porm, a racionalidade punitiva faz jogar os
mesmos efeitos de realidade no interior de muitas outras instituies, tais como a
famlia, a escola, o exrcito etc. O regime de prticas punitivas , portanto, transversal
a um conjunto de instituies, algumas delas chegando a se colocar em extremos
opostos, como famlia e priso. A concluso dessa abordagem seria que a abolio da
priso no faria cessar os efeitos do poder punitivo, j que racionalidades desse poder
encontram-se cristalizadas em diferentes outros regimes de prticas, tais como o
familiar, escolar, militar etc.
Em relao aos regimes de prticas de governo e s racionalidades
governamentais, o que se passa? A analtica proudhoniana nesse domnio consiste em
demonstrar que a antiga forma da soberania, com o princpio de autoridade
governamental tpico do absolutismo monrquico, no teria sido abolida mais do que
na sua forma, deslocada e reinvestida para o domnio da economia pelos partidrios do
contrato social, na medida em que o princpio de soberania do absolutismo e as
racionalidades prprias ao seu poder teriam sido cristalizados em outros regimes de
106
prticas ligadas ao trabalho, ao ensino, ao regime de impostos, famlia etc. Em outras
palavras, foi na medida em que o poder soberano tinha se propagado extensivamente
numa trama cerrada de pequenas coeres que recobriram os mais diferentes domnios
da sociedade, desde as relaes de trabalho s prticas pedaggicas, familiares etc.,
ento, foi nesse dia em que os contratualistas cortaram a cabea do rei, mas
conservaram e reinscreveram a realidade do princpio da autoridade soberana com toda
sua plenitude.
Nas instituies ditas novas [de 1789], a repblica serviu-se dos mesmos princpios contra
os quais combatera, e sofreu a influncia de todos os preconceitos que tivera inteno de
banir. (...) O povo, tanto tempo vtima do egosmo monrquico, julgou liberar-se
definitivamente ao declarar que s ele era soberano. Mas o que era a monarquia? A
soberania de um homem. O que a democracia? A soberania do povo ou, melhor dizendo,
da maioria nacional. Mas sempre a soberania (PROUDHON, 1997, p. 27).
Mas esse povo-rei no pode exercer sua soberania por si prprio, sendo
obrigado a deleg-la, e foi com essa frmula simples que, se a tirania, reclamando-se
de direito divino, era odiosa; [Rousseau] reorganizou-a e a tornou respeitvel fazendo-
a derivar do povo (PROUDHON, 1979, p. 96).
A autoridade poltica o princpio que tem sido restaurado, de revoluo em
revoluo, atravs dos sculos e por meio das prticas de governo, sendo o governo
sua realizao no nvel da ao e seu exerccio concreto. Foi a aplicao arbitrria
desse princpio, diz PROUDHON (1979, p. 201), que se fez um sistema artificial,
varivel segundo os sculos e os climas, e que foi reputado ordem natural,
necessria, da humanidade. Esse sistema o sistema da ordem pela autoridade. Mas
o que a autoridade em poltica? somente a forma da lei. Mas a lei, por sua vez,
apenas a declarao e a aplicao da justia, ou melhor, da idia daquilo que os
homens, em determinadas circunstncias, determinaram como sendo o justo. Resulta
que preciso considerar,
107
que nada pareceu mais justo aos povos orientais que o despotismo dos seus soberanos; que
os antigos e os prprios filsofos achavam bem a escravatura; que na Idade Mdia os
nobres, abades e bispos achavam justo terem servos; que Lus XIV pensava dizer a verdade
quando afirmou: o Estado sou eu; que Napoleo considerava crime de Estado a
desobedincia a sua vontade. A idia de justo, aplicada ao soberano e ao governo, no foi,
portanto, sempre igual a hoje. (PROUDHON, 1997, p. 31)
Foi sobre esse fundo de erros que o governo foi fundado. Basta que os
homens determinem mal a idia do justo e do direito para que todas suas aplicaes
legislativas sejam falsas ou incompletas e sua poltica injusta. Segundo Proudhon,
existe um fato psicolgico que os filsofos tm negligenciado, e que o poder do
hbito de imprimir novas formas categoriais no entendimento, tomadas nas aparncias
que nos impressionam e desprovidas, na maior parte das vezes, de realidade objetiva, e
cuja influncia no nosso julgamento no menos predeterminante que as das primeiras
categorias (Ibid., p. 15-16), de Aristteles a Kant. Para Proudhon, a preocupao que
resulta desses princpios to forte que, mesmo combatendo-os, raciocina-se segundo
eles: obedecemo-lhes atacando-os. em uma espcie de crculo fechado do
entendimento que a inteligncia gira. Por exemplo, ainda que a fsica tenha corrigido
pela experincia as idias gerais de espao e movimento, persistem os preconceitos de
Santo Agostinho. No entanto, esses preconceitos no so perigosos porque so
retificados pela prtica. Mas as coisas so muito diferentes quando se passa da
natureza fsica para o mundo moral. Seja qual for o sistema que adotemos sobre a
causa do peso e a forma da Terra, no se afeta a fsica do globo. (...) Mas em ns e
por ns que se cumprem as leis da nossa natureza moral: ora, essas leis no podem ser
executadas sem a nossa participao pensante, se no as conhecermos. Portando, se a
nossa cincia das leis morais falsa, evidente que, desejando o bem, provocaremos o
mal (Ibid., p. 18).
O homem fez da realidade exterior o produto do pensamento puro e o mundo
como uma expresso do esprito, de tal maneira que seria suficiente tomar posse
plena da Idia, inata em nossa alma, porm mais ou menos obscurecida, para ter, sem
outra advertncia, razo e apreender at mesmo a natureza do universo!
108
(PROUDHON, 1988b, p. 18). Mas preciso perceber que tambm no fundo desse
mundo de idias subsiste um pensamento diablico de dominao: porque, no
preciso se enganar, o privilgio de saber e o orgulho do gnio so os mais implacveis
inimigos da igualdade (Ibid., p. 19-20). O conhecimento, aps um comeo
materialista com os antigos, mais tarde foi invocado, tour a tour, como princpio das
coisas, o amor, os nmeros, a idia; e a filosofia, de abstrao em abstrao, terminou
por queimar a matria que tinha inicialmente adorado, adorar o esprito que tinha
apenas entrevisto, e cair em uma superstio desesperada (Ibid., p. 32). Comeou
ento
uma luta assanhada entre o velhos preconceitos e as idias novas. Dias de conflagrao e
angustia! (...) como acusar essas crenas, como banir essas instituies? (...) Em vez de
procurar a causa do mal na sua razo e no seu corao, o homem acusa os mestres, os
rivais, os vizinhos, ele prprio; as naes armam-se, atacam-se, exterminam-se, at que o
equilbrio se restabelea e a paz renasa das cinzas dos combatentes. De tal maneira
repugna humanidade tocar nos costumes dos antepassados, modificar as leis dadas pelos
fundadores das cidades e confirmadas pela fidelidade dos sculos. (PROUDHON, 1997, p.
18-19)
Ocorreu o mesmo idia de governo. Desde a origem das sociedades, o
homem foi abraado por um sistema teolgico-poltico, recluso nessa caixa,
hermeticamente fechada, da qual a religio a tampa e o governo o fundo, tomou os
limites desse estreito horizonte pelos limites da razo e da sociedade (PROUDHON,
1979, p. 245). Desde ento, Deus e prncipe, Igreja e Estado, percorreram o circulo
infinito dos governos, provocando, de tempos em tempos, algumas agitaes que
apenas serviram para outra vez restaur-los. Segundo Proudhon, as religies, as
legislaes, os imprios, os governos, toda cincia dos Estados, so tambm um tipo
de crculo infinito de hipteses na evoluo do princpio de autoridade, e seu momento
mais solene foi a promulgao do Declogo, por Moiss, diante do povo prosternado
no Monte Sinai: Porque Deus ordena e Deus que te fez isso que tu s. (...) Deus
pune e recompensa, Deus te faz feliz ou infeliz (Ibid., p. 247). Em seguida, a tribuna
do governo, adotando o mesmo estilo e a mesma frmula soberana, dir: o governo
109
sabe melhor do que tu isso que tu s, isso que tu vales, isso que te convm, e tem o
poder de castigar aqueles que desobedecem seus mandamentos, ou recompensar at a
quarta gerao daqueles que lhe agradam (Ibid., 248).
A idia de governo, aps ter penetrado nas conscincias e imprimido nela a
razo de sua forma, fez com que o princpio de autoridade tornasse, durante longo
tempo, qualquer outra concepo impossvel. De tal maneira que os mais audaciosos
pensadores vieram afirmar que o governo era sem dvida um flagelo, que era um
castigo para a humanidade, mas que era um mal necessrio! E foi, sobretudo, essa
predisposio mental que fez com que at nossos dias, as revolues mais
emancipadoras, e todas as efervescncias da liberdade, terminassem constantemente
com um ato de f e de submisso ao poder (Ibid., p. 87). Mas o que promoveu essa
predisposio mental e a tornou fascinante durante tanto tempo? Segundo Proudhon,
foi o fato do governo ter sempre se apresentado como o rgo natural da justia, como
o protetor do fraco e o guardio da paz. Foi atravs dessa atribuio de providncia e
de alta garantia que o governo se enraizou no corao tanto quanto nas inteligncias!
(Id.).
Mas em que medida possvel dizer que um princpio teria a fora, se no de
determinar, pelo menos de conferir sentido de realidade, engendrando, dessa forma, as
formaes polticas do Ocidente? Talvez Proudhon confira uma fora excessiva
noo de princpio de autoridade e ao preconceito de soberania, atribuindo-lhes uma
realidade exagerada. Tomando, por exemplo, a Revoluo Francesa, diz que, em 1789,
a Frana, empobrecida e oprimida, debatia-se sob o peso do absolutismo real e a
tirania dos senhores e da casta sacerdotal, e fazia muito tempo que esse estado de
coisas perdurava: dir-se-ia que o hbito de servir tinha roubado a coragem s velhas
comunas, to orgulhosas na Idade Mdia. At que apareceu um livro intitulado O que
o Terceiro Estado?
110
Foi como uma revelao sbita: rasgou-se um vu imenso, de todos os olhos caiu uma
venda espessa. O povo ps-se a raciocinar: se o rei nosso mandatrio, deve prestar
contas; se deve prestar contas, est sujeito a ser fiscalizado; se pode ser fiscalizado,
responsvel; se responsvel, punvel; se punvel, o segundo seus mritos; se deve
ser punido segundo seus mritos, pode ser punido com a morte. Cinco anos depois da
publicao da brochura de Sieys, o Terceiro Estado era tudo (Ibid., p. 26)
preciso rejeitar a dicotomia simplista e autoritria proposta por Marx e
pelo marxismo: o erro de Bakunin, e de muitos anarquistas, foi o de ter aceito na
entrada do jogo a validade de uma anlise em termos binrios do tipo realidade/iluso,
cincia/ideologia, verdadeiro/falso. Pelo contrrio, preciso considerar a anlise que
foi efetivamente proposta por Proudhon, e que foi formulada no em termos de
verdadeiro ou falso, mas em termos de verdade e poder a partir de uma anlise serial:
foi claramente em termos de verdade e poder que Proudhon colocou o problema do
governo.
Proudhon recusa o mtodo de investigao que consiste em colocar o
questionamento nos termos seguintes: o que o governo? Qual seu princpio, seu
objeto, seu direito? Essa modalidade de colocar a questo acerca do governo ,
segundo ele, a primeira interrogao que se faz ao poltico, e tambm a mais comum
e a que vem de maneira mais espontnea, e quase automaticamente, ao esprito. Pois
bem, dir Proudhon, a essa questo primeira, espontnea, automtica, somente a f
pode responder: a filosofia to incapaz de demonstrar o governo como de provar
Deus. A autoridade, como a divindade, no matria de saber; , repito, matria de f
(PROUDHON, 1947, p. 11). Esse modo de questionamento tem tambm outra
conseqncia. Quando empregada, por exemplo, no em matria de poltica, mas em
matria de religio, essa questo quase irresistvel: o que deus?, uma outra a
seguiria imediatamente como seu corolrio: qual a melhor religio? Isso ocorre,
segundo Proudhon, pelo fato de que o problema da essncia e dos atributos de Deus e
de seu culto correspondente tenderem a uma ignorncia sem soluo que atormenta a
humanidade h sculos. Foi o que fez com que os povos, desde suas origens, se
degolassem mutuamente por seus dolos, conduzindo a sociedade a se esgotar na
111
elaborao de suas crenas, sem que, no entanto, se desse qualquer avano
considervel. De tal modo os destas, os pantestas, os cristos e todos os idlatras, a
despeito de postularem cada um a verdade de sua religio, permanecem todos
reduzidos f pura, como se repugnasse razo conhecer e saber de deus: no nos
dado mais do que crer neles (Ibid., p. 12).
desse tipo de questionamento, encerrado ao mesmo tempo entre uma
questo insolvel e uma negao impossvel, que seria preciso se desvencilhar. Isso foi
possvel, diz Proudhon, somente no dia em que Kant, ao invs de perguntar, como
todo mundo o que deus? e qual a verdadeira religio?, introduziu uma maneira
nova de questionamento, perguntando: Do que procede que eu creia em deus? Como,
em virtude do que procede em meu esprito essa idia? Qual o ponto de partida e seu
desenvolvimento? Quais so suas transformaes e, nos casos de necessidade, seus
recuos? (Ibid., p. 13). A mudana entre uma e outra forma de questionamento
significativa, como nota Proudhon. No primeiro caso, trata-se de compreender o
presente a partir de uma totalidade, de um contedo ou de uma realidade que o Ser
de deus; no segundo caso, renunciando a perseguir o contedo ou a realidade da idia
de deus, [Kant] dedica-se a fazer, se me atrevo a me expressar assim, a biografia dessa
idia. Ao invs de tomar por objeto de reflexo, como um anacoreta, o ser de deus,
analisar a f em deus (...). Em outras palavras, considerar na religio no a revelao
externa e sobrenatural do Ser infinito, mas o fenmeno de nosso entendimento (Id.).
Colocar em questo no a realidade (ou a iluso) da idia, mas sua biografia. Analisar
no deus, mas o ato da f. Considerar no o Ser infinito, mas o prprio fenmeno de
nosso entendimento. Em um caso, o questionamento incide sobre o objeto do
conhecimento; no outro, a questo colocada incide no mais sobre o objeto, deus, mas
sobre o prprio sujeito do conhecimento, o que provoca uma transformao importante
na relao sujeito/verdade. Para o primeiro caso, qual o tipo de experincia possvel
para o sujeito? Proudhon j o disse: reduzidos f pura, no fazem mais do que
degolar-se mutuamente e se esgotarem na elaborao infinita de suas crenas; em
112
outras palavras, relao de obedincia e submisso. J no segundo caso, ao contrrio,
um outro tipo de experincia completamente diferente que est em jogo, porque, ao
colocar o sujeito, e no o objeto, em questo em ns e por ns que se cumprem as
leis da nossa natureza moral , aquilo que questionado so os prprios fundamentos
do sujeito: sua prtica e a maneira como praticada.
Outro exemplo: quando Proudhon retoma a noo de Destino para afirmar
que atravs dela, em matria de religio e de filosofia, os homens explicaram no
somente o que se passava no universo, mas tambm as causas de sua prpria posio
no mundo. O diz em forma de dilogo:
Por que sou pobre, oprimido, sendo que um outro, talvez valendo menos que eu, comanda
e goza? Foi o Destino que assim o estabeleceu, ele que indica a cada um de ns a parte
que nos cabe. Quem ousaria reclamar contra seus decretos? E por que eu no reclamaria?
O que existe de comum entre mim [grifos meus], ser livre, que a justia reclama, e o
Destino? Impiedade! Os prprios deuses esto submetidos ao Destino; e tu, vaso de
barro, protestas contra ele! Feliz sejas se somente, com a ajuda desses Imortais que do a ti
exemplo de submisso, consigas ler algumas linhas do livro eterno! Conhecendo [grifo
meu] teus erros antecipadamente, tu os cumprirs com maior certeza [grifos meus], tu
evitars aquilo que poder te desviar: o nico meio que te foi deixado para aumentar tua
fortuna, se ela te for favorvel, ou para suaviz-la, se te for contrria (PROUDHON,
1988b, p. 586).
Entre o eu e o destino existe o conhecimento do livro eterno. A partir
dessa relao de conhecimento o sujeito pode cumprir com maior certeza seus
erros. Lanando mo dessa maneira de proceder do gnio humano, dessa relao com
o saber, tpica do pensamento mtico-religioso, a filosofia no far mais do que repetir,
em frases pedantes, os ensinamentos da superstio. Riamos, se quisermos, da
teologia fatalista do poder que Maom resumiu em uma palavra, Isl, resignao: mas,
os doutores em cincias polticas nos deram outra coisa alm de uma deduo
materialista do mito oriental? (Id.). Assim, o eclipse de um pensamento mtico-
religioso no foi o cintilar da filosofia poltica, nem suas quimeras eram desprovidas
de vivacidade que no deixasse trao algum no pensamento. E nisso reside o risco do
riso, de que o pensamento no seja levado a srio, pois nessa risibilidade ele pode
melhor pensar por ns, e continuar engendrando novos funcionrios; e quanto menos
113
as pessoas levarem a srio o pensamento, tanto mais pensaro conforme o que quer um
Estado (DELEUZE; GUATTARI, 2002, p. 46).
A crtica de Proudhon encontra-se com aquilo que FOUCAULT (2001c, p.
1395) chamou de as formas de racionalidade que organizam as maneiras de fazer e
sobre a liberdade ou a possibilidade que o sujeito tem de agir em relao verdade,
reagir em relao aos outros, modificando e sempre podendo modificar as regras
desses jogos de verdade. Em outras palavras, relao estratgica. Esse procedimento
que Marx e Bakunin chamaram metafsico
4
, FOUCAULT (Ibid., p. 1393) chamou de
mtodo arqueolgico e genealgico, que consiste em investigar no as estruturas
formais dotadas de valor universalizante, mas investigar quais experincias histricas
conduzem os homens a se constiturem eles mesmos como sujeitos disso que fazem,
pensam, dizem. Em suma, uma anlise arqueolgica e no transcendental , no
sentido que procura (...) tratar os discursos que articulam isso que ns pensamos,
dizemos e fazemos com a mesma realidade dos eventos histricos. Proudhon props
empreender esse mtodo no domnio do governo. Ento, ao invs de perguntar o que
o poder e qual a melhor forma de governo?, ao invs, portanto, de marchar de
revoluo em revoluo e de se degolar na procura do melhor governo, colocar a
questo no sobre a realidade da idia de governo, mas sobre sua validade. Porque,
assim como em religio, se fosse possvel saber a essncia e os atributos do poder,
saber-se-ia imediatamente, automaticamente, qual a forma mais apropriada, qual a
melhor e a mais perfeita constituio lhe corresponderia. Porque acreditamos no
4
Marx imputou a Proudhon, aps a publicao, em 1846, de Filosofia da Misria, o epteto de idealista,
acusando-o de tomar idias e noes como se fossem realidades, quando na verdade eram somente seus efeitos
(cf. MARX, 2004, p. 121 et seq. Ver mais detalhes sobre a polmica Proudhon/Marx em MOREL, 2003).
Bakunin concordou com a crtica de Marx, escrevendo, em 1873, que Proudhon, apesar de todos os seus
esforos para se colocar no terreno prtico, permaneceu, no entanto, um idealista e metafsico (BAKUNIN,
1986, p. 218). Para Bakunin, o pensador Marx estava na boa via e dizia que bem possvel que Marx se possa
elevar teoricamente a um sistema ainda mais racional da liberdade do que Proudhon mas falta-lhe o instinto de
Proudhon (BAKUNIN, 1975, p. 103). Esse efeito Marx sobre Proudhon parece ter tido uma longa durao,
alcanando os anos 1980, quando Victor Garca aceita a classificao que confere para Godwin, Proudhon e
Bakunin, a posio historiogrfica nas fases de pr-anarquismo, proto-anarquismo e anarquismo,
respectivamente (GARCA, 1980, p. 9).
114
governo? Do que procede, na sociedade humana, essa idia de autoridade, de poder;
essa fico de uma pessoa superior, chamada Estado? Como se produz essa fico?
Como se desenvolve? Qual sua evoluo, sua economia? (PROUDHON, 1947, p.
15) Portanto, aplicar em poltica o questionamento de Kant sobre a religio seria cessar
de
ver no governo, como fazem os absolutistas, o rgo e a expresso da sociedade; como
fazem os doutrinrios, um instrumento de ordem, ou melhor, de polcia; como fazem os
radicais, um meio de revoluo: tratemos de ver nele simplesmente um fenmeno da vida
coletiva, a representao externa de nosso direito, a educao de algumas de nossas
faculdades. Quem sabe no descobriramos, ento, que todas essas frmulas
governamentais pelas quais os povos e os cidados se degolam faz sessenta sculos, no
so mais do que uma fantasmagoria de nosso esprito, que o primeiro dever de uma razo
livre de relegar aos museus e s bibliotecas? (Ibid., p. 16)
O questionamento de Proudhon incide sobre o sujeito: o que o cidado
busca no governo e chama rei, imperador ou presidente a si mesmo, a liberdade.
Com isso, escapa das alternativas binrias, simplistas e autoritrias e assume a crtica
como uma atitude limite: fora da liberdade no existe governo; o conceito poltico
privado de valor. A melhor forma de governo, como a mais perfeita das religies,
tomada em sentido literal, uma idia contraditria. O problema no est em saber
como seremos melhor governados, mas como seremos mais livres (Ibid., p. 17).
Assim, em tudo o que suposto como universal, necessrio, obrigatrio, investigar
que parte nisso seria necessariamente particular, contingente e histrica. Nas palavras
de PROUDHON (1990, p. 1164), uma vez forados a admitir a hiptese do absoluto,
como nos livrar da sua fascinao?
As questes levantadas por Proudhon dizem respeito s relaes entre
governo e saber, quer dizer, as idias fixadas nos programas de governo pela economia
poltica que determinam as formas de fazer. Mas importante notar que quando
Proudhon diz relao ele declara a impossibilidade da ontologia, das causas e
substncias. No podemos penetrar as substncias nem tomar as causas; isso que ns
percebemos da natureza sempre, no fundo, lei ou relao [rapport], nada mais
115
(PROUDHON, 2000a, p. 29). Decorre da a necessidade de compreender os seres a
partir de suas formas, de suas combinaes, de suas propriedades seriadas: que
buscamos ns em uma dialtica serial? A arte de compor e de decompor as idias
(Ibid., p. 189). DEAN (1999, p. 23) notou que um regime de prticas comporta pelo
menos quatro dimenses: 1) as formas de visibilidade ou os modos de viso e
percepo; 2) as maneiras distintas de pensamento e questionamento ligados a um
vocabulrio e a procedimentos prprios para a produo da verdade (derivados das
cincias sociais, humanas etc.); 3) os modos especficos de ao, interveno e
direo, produzidos sobre tipos particulares de racionalidades e ligados a mecanismos,
tcnicas e tecnologias determinadas; e 4) os modos caractersticos de formao de
sujeitos, do eu, das subjetividades. Portanto, analisar uma prtica implica tambm
procurar descobrir sua lgica e, na medida em que os regimes de prticas so sempre
atravessados por formas de saber e de verdade que definem seu campo de operao, na
medida em que as prticas so penetradas por uma multiplicidade de programas de
racionalidades, , sobretudo, sobre o pensamento que a anlise se dirige. As prticas
so tambm interesses que existem no interior do pensamento, por isso preciso tomar
o pensamento como domnio.
Marx achou que a srie fosse um movimento no ter puro da razo,
quando, ao contrrio, a srie o agrupamento de unidades reunidas por um lao
comum, que ns chamamos razo ou relao (Ibid., p. 198). Por no ter
compreendido o movimento serial, Marx tomou as idias como meras expresses
tericas, como abstraes das relaes sociais da produo, quando elas so os termos
concretos e materiais de uma srie que se demonstra por sua relao serial,
visivelmente expressa na independncia das diversas ordens das sries e na
impossibilidade de uma cincia universal (Ibid., p. 220). Marx questiona atravs de
um realismo sociolgico que se limita simplesmente a descrever ou a analisar o que
existe. Assim, separou, para subordinar, histria real/histria ideal, cincia/ideologia,
realidade/iluso, verdadeiro/falso. Proudhon serializou, para liberar a independncia
116
das categorias e exprimir suas composies. A srie sempre ao mesmo tempo
unidade e multiplicidade, particular e geral; verdadeiros plos de toda percepo, e que
no podem existir um sem o outro (Ibid., p. 277). No considerar o pensamento na
sua expresso primordial, mas nas suas tendncias constitutivas, considerar o
movimento da idia que nos fala do ponto de partida dessa idia, da tese! (1988b, p.
608) O mesmo raciocnio aplicar ao problema do matrimnio, dizendo: no me
pergunto qual tenha sido o estado da mulher nos sculos passados, nem mesmo na
maior parte das naes presentes, para deduzir dali, por analogia, seja l o que a ns
convenha; busco, ao contrrio, o que est em vias de chegar a ser, a tendncia a que
obedece. Existe tendncia para a dissoluo ou para a indissolubilidade do
matrimnio? Est , para mim, a questo (PROUDHON, 1869, p. 28).
Trata-se de um mtodo, diz, que no pode ser mais do que uma espcie de
evoluo, uma histria ou, como chamei em outro lugar, uma srie (Ibid., p. 39).
Uma histria que s toma em considerao um elemento quando definida a srie de
que faz parte, sem a inteno, porm, de determinar as condies das quais ele
dependeria. Se a srie, como observou FOUCAULT (1999c, p. 56), compreende os
acontecimentos fora dos jogos de causa e efeito, no para reencontrar neles estruturas
anteriores. para estabelecer as sries diversas, entrecruzadas, divergentes muitas
vezes, mas no autnomas, que permitem circunscrever o lugar do acontecimento, as
margens de sua contingncia, as condies de sua apario. Involuo no
regresso! , teriam dito DELEUZE e GUATTARI (2005, p. 19), j que uma srie no
somente comporta o duplo aspecto progresso-regresso, e nem se trata somente de
gradaes, mas o que est em jogo so dinamismos irredutveis. Quer dizer, no so
apenas os termos da srie que so reais, a prpria srie e os diversos ramos de sries (a
lei serial) so igualmente reais por si mesmos.
117
A lei serial, como a prpria srie, essencialmente emprica. (...) Ora, se uma idia de srie
uma idia toda de experincia, preciso admitir que as idias dos elementos e das leis da
srie so igualmente experincias, pela razo decisiva de que aquilo que verdadeiro [real]
no todo verdadeiro [real] em cada uma das partes, aquilo que verdadeiro [real] no
sistema verdadeiro [real], com mais forte razo, no seu princpio. (PROUDHON, 2000a,
p. 282)
Portanto, no movimento da srie, no so reais apenas os termos pelos quais
passaria aquilo que nela se torna: o prprio devir real. a prpria realidade do devir
que impede que o movimento da srie seja uma evoluo. Ao contrrio, esse
movimento da ordem da aliana e da simbiose. No o movimento do menos
diferenciado para o mais diferenciado, mas comunicaes transversais entre elementos
heterogneos. O grande problema que o vulgo, mas tambm a filosofia, conservaram
da palavra progresso seu sentido puramente material e utilitrio. Assim, progresso o
acmulo de descobertas, a multiplicao das mquinas, o aumento do bem-estar etc.
Mas tudo isso d apenas uma idia extremamente reduzida de progresso. Para
Proudhon, o progresso a afirmao do movimento e a negao das formas e das
frmulas imutveis, eternas, imveis etc., aplicadas a um ser qualquer. A negao de
toda ordem permanente e de todo objeto, emprico ou transcendental, no suscetvel de
mudana. O contrrio do progresso o absoluto, que afirma tudo que o progresso nega
e que nega tudo que o progresso afirma. O absoluto a investigao em tudo, na
natureza, na sociedade, na religio, na poltica, na moral etc., do eterno, do imutvel,
do perfeito, do definitivo, do no suscetvel de converso, do indiviso. , para me
servir de uma palavra tornada clebre nas discusses parlamentares, o statu quo em
tudo e por tudo (PROUDHON, 1869, p. 24). E no verdade que o absoluto o statu
quo quando esse apenas designa o governo desptico, do mesmo modo que um
governo desptico no chamado absolutista apenas porque o dspota sobrepe sua
vontade da nao: o absolutismo do governo no est na arbitrariedade do poder,
nem na personalidade do dspota, eles no so mais do que uma conseqncia do
absolutismo. O absolutismo do governo est na sua disposio de concentrar, nas
mos de um homem, de uma junta ou de uma assemblia, uma multido de
118
atribuies que, por deduo lgica, devem estar separadas e formando srie. E,
tambm, feita essa concentrao, impossvel para o Estado, consequentemente para
a sociedade, todo movimento, todo progresso (Ibid., p. 165). Da mesma maneira,
Descartes parece no ter percebido esse erro da antiga metafsica quando procurou dar
uma base fixa filosofia, acreditando t-la encontrado no eu. No percebeu que a
filosofia to s podia ter como base fixa o prprio movimento. No deveria ter dito
cogito, ergo sum, mas mover, ergo fio: movo-me, logo fao-me, torno-me (Ibid., p.
25).
3. o crculo governamental
Acontece com a poltica o que ocorre em filosofia e teologia: desprovida de
devir, de movimento, de progresso, ela tambm se debate numa espcie de crculo do
absoluto, neste caso governamental. O que faz a vida de um Estado, dir PROUDHON
(1988b, p. 687-688), e aquilo que tambm determina sua estabilidade ou sua
caducidade, sua idia. De modo que, sendo dada a idia do governo, sua forma a
acompanha: so dois termos ligados um ao outro (...), qual foi at o presente a forma
dos Estados a partir da idia da explorao do homem pelo homem: centralizao
desptica, hierarquia feudal, patriciado com clientela, democracia militar, oligarquia
mercantil, enfim, monarquia constitucional. Essa potncia admirvel dos princpios
faz com que, frente razo, os governos e os partidos no sejam mais do que
encenaes dos conceitos fundamentais da sociedade, uma realizao de abstraes,
uma pantomima metafsica cujo sentido a liberdade (PROUDHON, 1947, p. 41).
Intil condenar os homens ou julgar as formas. Ao contrrio, preciso questionar o
prprio princpio do governo e criticar o fanatismo governamental, na medida em que
o princpio produz sua lgica, segundo Proudhon (Ibid., p. 47), uma lgica inflexvel,
que no cede s esperanas da opinio, que no se deixa desviar jamais do princpio e
119
no admite arranjos com as circunstncias. a lgica da bala que fere a me, o filho, o
velho sem desviar uma linha; a lgica do tigre que se farta de sangue porque seu
apetite pede sangue; a lgica do rato que escava sua toca; a lgica da fatalidade.
No mtodo de Proudhon no cabe perguntar, como fez Marx, quais so as
relaes de produo das quais as categorias e os princpios informadores do governo
so as meras expresses tericas, desprovidas de qualquer independncia, pois no
fazem outra coisa que reproduzir as relaes de produo. A conseqncia desse
raciocnio, como mostrou Proudhon, que bastaria encontrar relaes de produo
justas das quais deduzir categorias e princpios de governo igualmente mais justos.
Proudhon, ao contrrio, questiona qual foi esse saber que, cristalizando na realidade a
autoridade poltica e as verdades que lhe justificam, fez do governo uma espcie de
invariante no domnio do poltico? Que papel desempenha efetivamente o saber, a
verdade, o conhecimento de modo geral, na atividade do governo e no exerccio do
poder? Quais formas de saber, de pensamento, de racionalidade, so empregados nas
prticas de governo? Como esses pensamentos procuram transformar essas prticas?
Como o pensamento torna um certo domnio de problemas governveis? Trata-se,
como notou DEAN (1999, p. 31), da episteme do governo, ou essa conexo entre
governo e pensamento que enfatizado no termo hibrido governamentalidade. A
srie no se esgota nas relaes de explorao, nas relaes de produo: depois da
explorao do homem pelo homem, depois da adorao do homem pelo homem, tem-
se ainda: o juzo do homem pelo homem; a condenao do homem pelo homem; e,
para terminar a srie!, o castigo do homem pelo homem (PROUDHON, 1947, p. 40).
Da o despropsito em perguntar acerca da realidade que sustentaria o discurso,
quando preciso, considerando a realidade do discurso, questionar a maneira pela qual
o discurso produz, refora e transforma o real no qual est inserido e articulado.
Foucault, ao colocar problemas de mtodo para uma histria poltica da
verdade no Ocidente, afirma que no uma determinada realidade histrica, ao que se
refere o discurso, que constitui a razo de ser do discurso ele mesmo. Seja qual for o
120
discurso, sua existncia no pode ser explicada a partir do real em que est referido.
A existncia de um discurso de verdade, de um discurso verdico, de um discurso que
tem a funo de veridio [vridiction], no est jamais implicado pela realidade das
coisas da qual ele fala. No existe pertencimento ontolgico fundamental entre a
realidade de um discurso, ou a existncia mesma do discurso que pretende dizer a
verdade, e o real do qual ele fala. Portanto, os jogos de verdade so sempre, em
relao aos domnios em que se exercem, um evento histrico e singular. E como
eventos singulares e portadores de realidade prpria que preciso restitu-los. Segundo
Foucault, uma histria dos jogos de verdade ou uma histria das prticas, das
economias e das polticas de veridio, no consiste em dizer: se tal verdade foi dita
porque essa verdade era real; ao contrrio, preciso dizer: sendo o real isso que :
quais foram as condies improvveis, as condies singulares que fizeram, em
relao a esse real, com que um jogo de verdade aparecesse com suas razes e
necessidades? (Id.) O ato de dizer a verdade sobre qualquer coisa no pode ser
explicado unicamente porque essa coisa era real. Jamais o real dar conta desse real
particular, singular e improvvel que o jogo de verdade no real. o entrelaamento
desse jogo de verdade no real que preciso retomar (Id.).
Como estudar os efeitos de verdade do governo, ou do princpio de
autoridade de que fala Proudhon, percebendo qual relao eles estabelecem entre
poder-governo-sujeitos?
Inicialmente, o saber que forneceu as verdades para a justificao do governo
foi a concepo jurdica do poder ou teoria da soberania. Foi o direito, o pensamento
jurdico que, desde a Idade Mdia, serviu como instrumento de justificao do poder
rgio. Foi ainda o direito que, mais tarde, continuou produzindo seus efeitos contra o
rei, mas a favor da soberania do povo. Por isso Foucault afirmou que o discurso e a
tcnica do direito tiveram essencialmente como funo dissolver, no interior do poder,
o fato da dominao, para fazer que aparecessem no lugar dessa dominao, que se
queria mascarar, duas coisas: de um lado, os direitos legtimos da soberania, do outro,
121
a obrigao legal da obedincia (FOUCAULT, 1999a, p. 31). Dissipao dos fatos
brutos da dominao poltica e, portanto, veiculao no de relaes de soberania, mas
de relaes de dominao: esse foi, essencialmente, o papel desempenhado pela
concepo jurdica do poder. Foi atravs do pensamento jurdico que, sobretudo, o
poder produziu seus efeitos de verdade. Efeitos de verdade, por sua vez, que tm por
funo reproduzir o poder. Mas isso no exclusivo ao domnio do direito, preciso
considerar, como sugeriu Foucault (Ibid., p. 28), que numa sociedade como a nossa
no possvel existir relaes de poder que estejam dissociadas, estabelecidas ou que
no funcionem sem produzir, acumular, sem fazer circular e funcionar um discurso
verdadeiro. No h exerccio do poder sem uma certa economia dos discursos de
verdade que funcionam nesse poder, a partir e atravs dele. Somos submetidos pelo
poder produo da verdade e s podemos exercer o poder mediante a produo da
verdade. O poder obriga produo de verdades de que ele necessita e sem as quais
ele no pode se exercer. O poder no pra de questionar, de nos questionar; no pra
de inquirir, de registrar; ele institucionaliza a busca da verdade, ele a profissionaliza,
ele a recompensa. Temos de produzir a verdade como, afinal de contas, temos de
produzir riquezas, e temos de produzir a verdade para poder produzir riquezas (Ibid.,
p. 29).
No existe governo sem relaes com a verdade. A verdade do governo
tpico nossa sociedade uma verdade que obriga em um alto grau de intensidade e de
constncia, uma verdade que submete de uma maneira constante e intensa: a verdade
desse poder a norma, quer dizer, um tipo de verdade normativa, e nessa condio
que ela pode veicular e propulsar efeitos de dominao. Afinal de contas, somos
julgados, condenados, classificados, obrigados a tarefas, destinados a uma certa
maneira de viver ou a uma certa maneira de morrer, em funo de discursos
verdadeiros, que trazem consigo efeitos especficos de poder (Id.). Assim, os
discursos de verdade, longe de constiturem os elementos neutros destinados
pacificao da poltica, so um dos lugares onde a poltica exerce alguns dos seus mais
122
surpreendentes poderes (FOUCAULT, 1999c, p. 10). Esses discursos apiam-se sobre
suportes institucionais, tais como a pedagogia, a produo de livros, as bibliotecas, os
laboratrios etc., mas tambm so beneficiados pelo modo como o saber aplicado
em uma sociedade, como valorizado, distribudo, repartido e de certo modo
atribudo (Ibid., p. 17). So esses suportes e distribuio institucionais as principais
caractersticas que possibilitam a esses discursos de exercerem seu poder de coero.
Dito isso, seria preciso pensar como as diversas prticas de governo ao longo
da histria puderam ser codificadas em preceitos e receitas, como a moral, e
procuraram, h muito tempo, fundamentar, racionalizar e justificar a partir de teorias
da soberania, da tcnica do direito etc., o exerccio do poder. Pensar como essas
prticas de governo procuraram seus suportes e suas justificaes na teoria do direito,
no pensamento constitucional e numa certa filosofia poltica a partir do sculo XVIII e
na teoria sociolgica do sculo XIX. E isso de tal modo como se a prpria palavra da
lei no pudesse mais ser autorizada, em nossa sociedade, seno por um discurso de
verdade (Ibid., p. 19). Proudhon tem razo, portanto, em insistir sobre a prioridade
das concepes filosficas tanto quanto nas prioridades da indstria, pois elas so um
objeto de emulao para espritos de elite que, reconhecendo seu valor, procuram nelas
sua glria. L tambm, no domnio do pensamento puro como naquele da mecnica
aplicada s artes, existem rivalidades, imitaes, quase diria falsificaes
(PROUDHON, 1979, p. 83).
A persistncia da idia de governo toma essa realidade. Segundo Proudhon, a
negao do governo tinha aumentado desde a revoluo de fevereiro de 1848 com uma
nova insistncia e sucesso, porm alguns homens notveis do partido democrtico e
socialista, inquietos com a idia anrquica, acreditaram poder apossar-se das crticas
governamentais e suas consideraes, mas restaurando sobre um novo ttulo e com
alguma modificao, precisamente o princpio que se trata hoje de abolir. (...) Foram
essas restauraes da autoridade, empreendidas em concorrncia com a anarquia, que
recentemente ocuparam o pblico sob o nome de legislao direta, governo direto
123
(Ibid., p. 83-84). O princpio de autoridade implicou e informou a atividade do
governo. Para PROUDHON (1869, p. 23), a verdade ou a realidade essencialmente
histrica e est sujeita a gradaes, a converses, a evolues e a metamorfoses.
Logo, considerando verdade como realidade, ou considerando a realidade da verdade,
seria preciso, segundo Proudhon, reparar, nas prticas de governo, como, atravs dos
diversos discursos de verdade, foram produzidos os efeitos de realidade necessrios ao
poder.
Os discursos de verdade so tambm princpios de coero que definem os
tipos de enunciados, os gestos, os comportamentos e as circunstncias que devem
acompanhar os discursos polticos, e que no esto dissociados dessa prtica de um
ritual que determina para os sujeitos que falam, ao mesmo tempo, propriedades
singulares e papis preestabelecidos (FOUCAULT, 1999c, p. 39). Desse modo, uma
vez que, segundo PROUDHON (1869, p. 16), toda poca est regida [grifo meu] por
uma idia que encontra sua forma de expresso na literatura, desenvolve-se em uma
filosofia, encarna-se, caso necessrio, em um governo, foi a idia de contrato que,
saindo da pena dos reformadores em oposio ao governo, regeu e atravessou
desapercebida os sculos XVII e XVIII. Mas o contrato, como episteme da poca
revolucionria, foi uma mera transferncia de soberania entre prncipe e povo, e o
princpio de autoridade permaneceu intacto. Qual virtude secreta o sustentou? Quais
foras fazem-no viver? Quais princpios, quais idias renovaram-lhe o sangue sob o
punhal da autoridade eclesistica e secular? (PROUDHON, 1979, p. 204)
A descrio feita por Foucault da maneira pela qual a verdade produzida pelo
poder obriga, d relevo crtica proudhoniana ao princpio de autoridade como
princpio delimitador de formaes governamentais. Foucault introduz a noo de
regime de verdade para compreender a maneira pela qual a verdade est ligada
circularmente a sistemas de poder que a produzem e a sustentam, e a efeitos de poder
que ela induz e que a reconduzem (FOUCAULT, 2001c, p. 114). Trata-se de um
regime que no nem simplesmente ideolgico nem superestrutural, mas que foi uma
124
das condies de formao do capitalismo tal como se conhece hoje. Por regime de
verdade FOUCAULT (2001c, p. 945) entende aquilo que constringe os indivduos a
um certo nmero de atos de verdade. Os atos de verdade so tomados a partir da
anlise do conceito de exomologese do cristianismo primitivo, que designa
um ato destinado a manifestar ao mesmo tempo uma verdade e a adeso do sujeito a essa
verdade; fazer a exomologese de sua crena no simplesmente afirmar o que se cr, mas
afirmar o fato dessa crena; fazer do ato de afirmao um objeto de afirmao e,
portanto, autentic-lo seja em si mesmo, seja diante dos outros. A exomologese uma
afirmao enftica cuja nfase se aplica antes de tudo sobre o fato de que o prprio sujeito
liga-se a essa afirmao, aceitando suas conseqncias.
A exomologese indispensvel ao cristianismo, porque atravs dela que o
cristo aceita as verdades que lhe so reveladas e ensinadas, e estabelece com elas uma
relao de obrigao e de engajamento: obrigao de manter suas crenas, de aceitar
a autoridade que as autentica, de fazer eventualmente profisso pblica, de viver em
conformidade com elas etc. (Id.). Relao de obrigao e de engajamento entre
sujeito e verdade. Um regime de verdade a juno entre a obrigao e o engajamento
dos indivduos com os procedimentos de manifestao do verdadeiro. Juno entre
obrigao e manifestao da verdade. Segundo Foucault, perfeitamente plausvel,
portanto, falar em regime de verdade, tanto quanto falar em regime poltico ou regime
penal etc. Fala-se em regime poltico
para designar, em suma, o conjunto dos procedimentos e das instituies pelos quais os
indivduos encontram-se engajados de uma maneira mais ou menos forada, encontram-se
constrangidos a obedecer decises que emanam de uma autoridade coletiva, em todo caso,
de uma unidade territorial onde essa autoridade exerce um direito de soberania. Pode-se
falar tambm de regime penal, por exemplo, designando por ele um conjunto de
procedimentos e instituies pelos quais os indivduos esto engajados, determinados,
constrangidos a se submeterem a leis de validade geral. Ento, nessas condies, por que
efetivamente no se poderia falar de regimes de verdade para designar o conjunto de
procedimentos e instituies pelos quais os indivduos so engajados e constrangidos a
manifestar, em certas condies e com certos efeitos, atos bem definidos de verdade? Por
que, depois de tudo, no se poderia falar de obrigaes de verdade do mesmo modo que
existem constrangimentos polticos ou obrigaes jurdicas? (Id.)
Foucault transfere essa noo de regime poltico e regime jurdico para o
problema da verdade para afirmar a existncia de obrigaes de verdade destinadas a
125
impor atos de crena, de profisso de f, de confisses, de convices, de
convencimentos, de persuases e de engajamentos. Como a fora de uma verdade no
est no seu grau de racionalidade, seja em relao aos atos de f ou exomologese
crist, seja em relao certeza do cogito cartesiano, uma analtica dos regimes de
saberes ou, como chamou FOUCAULT (2007, p. 295), uma anarqueologia dos
saberes e dos conhecimentos cientficos e no cientficos, consiste no em estudar de
modo global as relaes do poder poltico e dos saberes e dos conhecimentos
cientficos , mas estudar os regimes de verdade, quer dizer, o tipo de relao que
vincula entre si as manifestaes de verdade e seus procedimentos, e os sujeitos que
so nelas os operadores, as testemunhas e, eventualmente, os objetos (FOUCAULT,
1980).
O neologismo anarqueologia
5
foi utilizado por Foucault para ensaiar em que
medida a anarquia e o anarquismo podem sustentar e fazerem funcionar um discurso
crtico contra o poder. A perspectiva anarqueolgica integra um conjunto mais amplo
de pesquisas sobre a noo de governo dos homens pela verdade, introduzida por
Foucault no curso Do governo dos vivos, de 1980. Com a anarquelogia ele procurou
tornar mais operatrio o tema saber-poder, introduzido para se opor noo de
ideologia e para pr fim oposio do cientfico ao no cientfico, questo da iluso
e da realidade, do verdadeiro e do falso (FOUCAULT, 2007, p. 282), levando em
considerao, ao contrrio, a multiplicidade dos regimes de verdade, cientficos e no
cientficos, religiosos e no religiosos, msticos e racionais, para afirmar que todos
esses regimes comportam modos especficos de vincular de maneira constringente a
manifestao do verdadeiro e os sujeitos que nela operam. Desse modo, no se trata da
histria do verdadeiro, mas de uma histria da fora do verdadeiro, uma histria do
poder da verdade, uma histria da vontade de saber no Ocidente.
5
LANDRY (2007), que escreveu seu artigo apoiando-se na transcrio integral do curso de Foucault, no faz
meno nenhuma ao termo. SZAKOLCZAI (1998, p. 247), no entanto, cita-o como anarcheology of power.
126
Como os homens, no Ocidente, foram ligados ou conduzidos a se ligarem a manifestaes
bem particulares de verdade, precisamente nas quais so eles mesmos que devem ser
manifestados em verdade? Como o homem ocidental foi ligado obrigao de manifestar
em verdade isso que ele ? Como foi ligado, de qualquer modo, a dois nveis e de dois
modos: de um lado obrigao de verdade, e de outro, ao estatuto de objeto no interior
dessa manifestao de verdade? Como foram eles ligados obrigao de se ligarem eles
mesmos como objetos de saber? (Id.).
essa espcie de double bind, de duplo constrangimento, que o mtodo
anarqueolgico procura analisar tornando explcita a maneira pela qual os regimes de
verdade esto, por sua vez, sempre ligados a outros regimes: regimes polticos,
regimes jurdicos, regimes penais etc. Explicitar a no separao, mas, ao contrrio, as
conexes sempre existentes entre poltico e epistemolgico. Essa articulao entre
poltico e epistemolgico possibilita perceber como um regime penal tambm um
regime de verdades sobre o criminoso, como um regime da loucura implica um regime
de verdades sobre o louco, e finalmente, como um regime de governo implica ao
mesmo tempo e necessariamente um regime de verdades sobre os sditos, sobre os
cidados, sobre os sujeitos do governo, seus direitos e obrigaes. Em suma, perceber
como o sujeito no se encontra apenas preso nas relaes de produo, mas tambm
nos procedimentos de manifestao do verdadeiro, articulados numa relao de poder,
ou seja, articulados em regimes de saber que, por sua vez, articulam-se com vrios
outros regimes penais, jurdicos, governamentais etc. A partir da, o governo dos vivos
exigiu do lado desses que so dirigidos, alm de atos de obedincia e de submisso,
atos de verdade (Ibid., p. 944): atos de subjetivao da verdade manifestada nos
procedimentos de veridio atravs dos quais subjetividade e verdade foram
indexados. Assim, durante milnios na nossa sociedade, os indivduos foram
constrangidos, em seus discursos e em suas prticas, a declarar para o poder, pelo
poder e com o poder, no somente sim, eu obedeo!, mas tambm a acrescentar
nesse ato de consentimento frgil e potencialmente perigoso para o poder, um
poderoso ato de convico que o refora: eu que obedeo: eis aquilo que sou!, eis
aquilo que quero!, eis aquilo que fao!, eis aquilo que penso! (FOUCAULT, 1980). E
127
nesse momento, se certo admitir com Hobbes que a obedincia constitui o imperativo
da poltica sobre o qual se apia o poder soberano (SENELLART, 2006, p. 39), a
subjetividade o lugar precrio, instvel, movedio em que foram assentadas as bases
da obedincia. Esse dinamismo faz da poltica o domnio de um permanente
enfrentamento entre estratgias e tticas diversas em luta.
4. obedincia e soberania
Retomando a singularidade do questionamento proudhoniano quando se
pergunta no sobre a realidade da idia do governo, mas acerca de sua validade, de sua
procedncia, de seu desenvolvimento, de sua economia, enfim, acerca de todo um jogo
no qual no esto implicadas apenas as formas do conhecimento, mas o sujeito do
saber, quais so os efeitos que sobre a subjetividade pode ter a existncia de discursos
verdadeiros acerca do governo? Como, a propsito do governo, foram formadas certas
prticas jurdico-polticas que implicaram a existncia e o desenvolvimento de
discursos verdadeiros sobre os sujeitos do poder: seus direitos, o exerccio de sua
soberania, sua identidade enquanto governado? Mencionamos como Proudhon, no
volume dedicado ao Estado, de sua extensa obra De la justice..., precisou a posio do
problema poltico a partir da considerao no da origem do governo, no de sua
forma e nem tampouco de sua organizao, coisas que ele considerou o material do
governo, mas sim a partir do pensamento que o anima, sua idia. Como a idia do
governo foi sempre, explcita ou silenciosamente, um prejuzo radicalmente oposto
justia, engendrando uma falsa hiptese para a poltica? Foi a (an)arqueologia dessa
idia de governo que Proudhon props estudar?
As racionalidades de governo, funcionam como instrumentos lgicos atravs
dos quais os povos se tm servido, ou melhor, tm sido arrastados por eles, para
escrever a histria da perenidade dos governos. Essas racionalidades no so
128
arcasmos que sobreviveram prova dos tempos. As idias no morrem, como
afirmaram DELEUZE & GUATTARI (2005, p. 14), elas podem ento mudar de
aplicao, mas guardam algo de essencial, no encaminhamento, no deslocamento, na
repartio de um novo domnio. As idias sempre voltam a servir, porque sempre
serviram, mas de modos atuais os mais diferentes. As racionalidades atuam
programando e orientando o conjunto das condutas humanas, constituem a lgica
existente tanto nas instituies, na conduta dos indivduos, quanto nas relaes
polticas; as racionalidades atuam inclusive nas formaes mais violentas
(FOUCAULT, 2001c, p. 803), de maneira que o maior perigo no reside na prpria
violncia, mas na sua racionalidade, na medida em que nas formas da racionalidade
que a violncia encontra sua ancoragem mais profunda e tira sua permanncia. A
racionalidade governamental o que arrasta insensivelmente os homens da
monarquia absoluta monarquia constitucional, dessa a uma repblica oligrquica ou
censitria, da oligarquia democracia, da democracia anarquia e da anarquia
ditadura, para logo recomear pela monarquia absoluta e percorrer de novo e
perpetuamente a mesma escala (PROUDHON, 1869, p. 51).
bastante significativo que Proudhon no tenha visto na economia poltica
apenas um discurso servindo de justificao das relaes de produo, como o fez
Marx, e que tampouco tenha aceitado restringi-la, como pretenderam alguns
economistas, no estreito e neutro crculo da produo, da circulao, dos valores, do
crdito etc. Proudhon afirmou que a economia poltica tambm se estendia ao domnio
do governo: legislao, instruo pblica, constituio da famlia, s relaes de
autoridade e hierarquia etc. (PROUDHON, 2000b, p. 149). Assim, a economia poltica
no se limita apenas a coletar observaes dos fenmenos da produo e da
distribuio das riquezas, mas tambm organiza uma jurisprudncia atravs da qual
ela supe a legitimidade dos fatos descritos e classificados (PROUDHON, 2003, p.
90). A partir disso, Proudhon percebeu que o velho princpio da soberania poltica das
monarquias tinha se reinvestido nesse novo campo de objetos prprios economia
129
poltica. Em outras palavras, as racionalidades do governo, que retiravam suas
verdades da imagem do rei soberano, encontraram na economia poltica a justificao
para seu exerccio. FOUCAULT (2004c, p. 35) observou como a irrupo de um
modelo de mercado na histria da governamentalidade constitui um fenmeno
absolutamente fundamental, na medida em que ser a economia quem fornecer o
domnio das prticas atravs das quais o poder governamental ser exercido. Ou seja, a
economia forneceu ao governo seus instrumentos estratgicos.
Proudhon faz a crtica da economia poltica considerando-a no, como se
costuma fazer, como a fisiologia da riqueza, mas como a prtica organizada do
roubo e da misria; assim como a jurisprudncia (...) no passa da compilao da
rubricas do banditismo legal e oficial (PROUDHON, 2003, p. 90). Dizia que o direito
que emana da economia faz da concorrncia uma guerra civil, da mquina um
instrumento de morte, da diviso do trabalho um sistema de embrutecimento do
trabalhador, da taxao um meio de extenuao do povo e da posse da terra um
domnio feroz e insocivel. Em suma, no h nessa jurisprudncia outra coisa que o
direito da fora, direito que procede do Rei ou de Deus (PROUDHON, 1869, p. 60-
61). Tudo ocorre como se a economia poltica estivesse estruturada de uma maneira
tal, como se feita para uma sociedade na qual todos os sentimentos esto voltados
para a guerra e para a desconfiana, como se tivesse tomado um estado de
espoliao recproca enquanto o tipo indestrutvel das leis econmicas
(PROUDHON, 2000b, p. 29).
Essas racionalidades do campo econmico penetraram e orientaram as
prticas de governo ditas democrticas. A partir disso, na srie governo encontraram-
se dois termos. O primeiro: uma concepo de sociedade de indivduos similares e
justapostos, sendo que cada um dos quais sacrifica uma parte de sua liberdade para
que todos possam permanecer justapostos sem lesar uns aos outros e viver juntos em
paz. Essa a verdadeira teoria de Rousseau, diz PROUDHON (1869, p. 47), e no
mais do que o sistema da arbitrariedade governativa. O segundo termo da srie
130
emergiu aps ter-se esgotado o governo de direito divino, o governo da insurreio, o
governo da moderao, o governo da fora, o governo da legitimidade: esse foi o
governo dos interesses (PROUDHON, 1947, p. 51), que concebeu a sociedade como
uma fico, resultando do desenvolvimento espontneo de uma massa de fenmenos e
necessidades previamente presentes nos indivduos: o laissez-faire, laissez-passer tudo
e todos! Esse governo fez da oferta e da procura duas divindades caprichosas e
ingovernveis, empenhadas em semear o distrbio nas relaes comerciais e o
engodo nos pobres humanos (PROUDHON, 2000b, p. 28).
A partir disso, quando os homens questionaram: por que pretendeis reinar
sobre mim e me governar? A resposta foi: porque as faculdades individuais sendo
desiguais, os interesses opostos, as paixes antagnicas, o bem particular de cada um
oposto ao bem de todos, preciso uma autoridade que sinalize os limites dos direitos e
deveres, um rbitro que impea os conflitos, uma fora pblica que faa executar os
julgamentos do soberano (PROUDHON, 1979, p. 105). O poder foi definido,
portanto, precisamente como essa fora arbitrria que rende a cada um o que lhe
pertence, fora que assegura e faz respeitar a paz. uma tal exposio que se repete
desde a origem das sociedades, igual em todas as pocas e na boca de todos os
poderes: encontrreis idntica, invarivel, nos livros dos economistas malthusianos,
nos jornais da reao e na profisso de f dos republicanos. No existe diferena, entre
todos eles, a no ser nas medidas de concesso que pretendem fazer liberdade:
concesses ilusrias, que acrescentam s formas de governo ditas temperadas,
constitucionais, democrticas etc., um tempero de hipocrisia cujo sabor as tornam
ainda mais suspeitas (Id.).
Assim, o governo, na simplicidade de sua natureza, apresentado como
condio absoluta e necessria de ordem: por ela que ele aspira sempre, e sob todas
suas mscaras, ao absolutismo: com efeito, a partir desse princpio, quanto mais o
governo forte, mais a ordem se aproxima da perfeio (Id.). Governo e ordem
apareceriam, portanto, numa relao lgica de causa e efeito. Mas, diz Proudhon, a
131
relao concreta e efetiva que o governo mantm com a ordem no a de causa e
efeito, mas, ao contrrio, a relao do particular ao geral. E porque existem vrias
maneiras de conceber a ordem, quem nos prova que a ordem na sociedade seja aquela
que apraz a seus mestres de indic-la? (Ibid., p. 106) E todos aqueles antagonismos
de interesses e de fortuna, as oposies dos bens e as desigualdades das faculdades,
por que tudo isso deveria servir de pretexto tirania? (Id.). No seriam esses
antagonismos justamente que comportariam a questo social? Essa questo o governo
no soube resolver seno com o cassetete e a baioneta: Saint-Simon tinha razo de
tornar sinnimas essas duas palavras, governamental e militar (Id.). Desde o
momento em que o governo se deu como princpio as verdades da economia poltica,
no h possibilidade de manter a ordem fora da consagrao da obedincia. No h
sada: antagonismo inevitvel, fatal, dos interesses, eis o motivo; centralizao
ordenadora e hierrquica, eis a concluso (Ibid., p. 222).
O que era a soberania do prncipe? O direito de fazer morrer. O que a
soberania da economia poltica? O direito de deixar morrer. a frmula e o princpio
de Malthus, que recomenda, sob as ameaas as mais terrveis, a todo homem que no
tem para viver nem trabalho nem sustento, que se v, sobretudo de no fazer filhos. A
famlia, quer dizer, o amor e o po so, da parte de Malthus, proibidos a esse homem
(PROUDHON, 1996a, p. 118). Esse princpio econmico de Malthus, que os
economistas tornaram dogma, a teoria do assassinato poltico, a organizao do
homicdio como equilbrio entre populao e meios de subsistncia.
Eis, portanto, qual a concluso necessria, fatal, da economia poltica (...): morte a quem
nada possui. Para melhor captar o pensamento de Malthus, traduzamo-lo em proposies
filosficas, despojando-o de seu verniz oratrio: a liberdade individual, e a propriedade
que sua expresso, so dadas na economia poltica; a igualdade e a solidariedade no o
so. Sob esse regime, cada um por si: o trabalho, como toda a mercadoria, est sujeito
alta e baixa, e da decorrem os riscos do proletariado. Todo aquele que no tiver renda
nem salrio, no tem o direito de exigir coisa alguma dos outros: sua infelicidade recai
apenas sobre ele; no jogo da fortuna a sorte apostou contra ele. Do ponto de vista da
economia poltica essas proposies so irrefutveis, e Malthus, que as formulou com to
alarmante preciso, est ao abrigo de qualquer crtica. (PROUDHON, 2003, p. 108)
132
A esse estado de coisas, os economistas tomam partido ao concluir que tudo
isso concorre para o bem, e consideram qualquer proposta de mudana como hostil
economia poltica (Ibid., p. 111), fazendo da revoluo ou das instabilidades do poder
a maior das necessidades diante, diz Proudhon, de todas essas fantasias de comdia
que so as constituies e o sufrgio universal.
Ao conservar o princpio da soberania, a economia poltica procurou, no
fundo, pacificar esses fenmenos particularmente constantes e numerosos na histria
das nossas sociedades, que so as instabilidades polticas que tm caracterizado toda
conscincia histrica do Ocidente: Que h na histria que no seja o apelo
revoluo ou o medo dela? (FOUCAULT, 1999a, p. 98) A economia poltica
confirmou uma vez mais essa particularidade, que nas sociedades humanas no existe
poder poltico sem dominao (Ibid., 2001c, p. 804), e fez com que um dos maiores
paradoxos da poltica seja esse fato de que, no momento mesmo em que o Estado
comea a praticar seus maiores massacres, tambm o momento em que ele passa a se
preocupar com a sade fsica e mental de seus indivduos (Ibid., p. 802).
A economia eternizou na poltica o pauperismo, o crime, a guerra, as
convulses, e o despotismo quando pretendeu eternizar o proletariado. Depois de
tudo, o ato de ser governado pode ser designado por meio dessa, talvez, a mais clebre
descrio de PROUDHON (1979, p. 248).
133
Ser governado ser averiguado, inspecionado, espionado, dirigido, legiferado,
regulamentado, confinado, catequizado, exortado, controlado, estimado, apreciado,
censurado, comandado por seres que no tm nem o ttulo, nem a cincia, nem a virtude...
Ser governado ser, a cada operao, a cada transao, a cada movimento, anotado,
registrado, recenseado, tarifado, timbrado, medido, cotado, cotizado, patenteado,
licenciado, autorizado, apostilado, admoestado, impedido, reformado, endireitado,
corrigido. ser, sob pretexto de utilidade pblica e em nome do interesse geral, taxado,
exercido, racionado, explorado, monopolizado, chantageado, pressionado, mistificado,
roubado; em seguida, menor resistncia, primeira palavra de queixa, reprimido,
multado, vilipendiado, vexado, caado, brutalizado, abatido, desarmado, garroteado,
aprisionado, fuzilado, metralhado, julgado, condenado, deportado, sacrificado, vendido,
trado e, como se no bastasse, satirizado, ridicularizado, ultrajado, desonrado. Eis o
governo, eis sua justia, eis sua moral! E dizer que existe entre ns democratas que
pretendem que o governo contenha o bem; socialistas que desejam, em nome da liberdade,
da igualdade e da fraternidade, essa ignomnia; proletrios que colocam sua candidatura
presidncia da repblica! Hipocrisia!...
Atravs dessa anlise no domnio do poltico proposta por Proudhon,
possvel demonstrar a existncia de uma problemtica que chamo anarquia e
governamentalidade, e que coloca a especificidade da anarquia e do anarquismo
como sendo constituda por um posicionamento crtico frente ao exerccio do poder e
uma atitude contrria ao governo, entendido como princpio de autoridade:
posicionamento e atitude em que o governo analisado no atravs das formas e das
origens do poder, mas a partir das prticas e do exerccio do poder. Quero sugerir que
a configurao inaugural que Proudhon deu anarquia permite no somente aproxim-
la disso que conhecido atualmente como estudos em governamentalidade, mas que
tambm permite apontar, a partir dessa configurao, a possibilidade de uma relao
de procedncia: de que maneira e em que medida seria possvel falar de uma
procedncia desses estudos em governamentalidade na anarquia esboada por
Proudhon no sculo XIX? Talvez seja isso o que poderamos chamar de tese neste
trabalho. Em todo caso, a problemtica anarquia e governamentalidade o que
certamente possibilita colocar a pertinncia da crtica anarquista para um estudo das
relaes de poder realizado fora dos reducionismos e determinismos provocados pelas
anlises centradas no Estado.
134
Como mencionado por Dean, os Estados nacionais foram constitudos a
partir de um longo e complexo processo de pacificao interna de territrios, de
monoplio do uso legtimo da violncia, de taxaes. Processos que impuseram
crenas comuns, um cenrio comum de leis e de autoridade legal, um certo ndice de
literatura e de linguagem e at mesmo um sistema estvel e contnuo de tempo e
espao. Mas, apesar da complexidade desse processo de constituio dos Estados, a
imagem comumente encontrada na literatura especializada da cincia poltica, a de
um Estado
tomado como um ator relativamente unificado, composto de diplomacia e de exrcito
perseguindo interesses geopolticos e de um sistema interno de autoridade. Na realidade, as
teorias do Estado nas cincias sociais assumem essa unidade quando se empenham em
descobrir as fontes do poder do Estado e a base de sua legitimidade. Teorias democrticas,
liberais, pluralistas, elitistas, marxistas e feministas do Estado colocam essas mesmas
questes de maneiras diferentes. Portanto, a fonte do poder pode ser variavelmente
identificada no povo, nos indivduos, nas elites, nas relaes de produo, no patriarcado.
Aqueles que detm o poder sero o povo, as elites, a classe dominante, o homem etc., e a
legitimidade de sua ordem estar assentada sobre a lei, a classe hegemnica, a ideologia
dominante, o consenso dos governados, a cultura patriarcal etc. (DEAN, 1999, p. 24).
So anlises cujo foco recai sobre o problema da soberania, o problema da
relao entre o soberano e os sujeitos. Essas anlises se propem examinar a
legitimidade do soberano, as bases da autoridade e do direito e, a partir disso,
estabelecer os fundamentos da soberania, que sero encontrados no direito divino, ou
na ordem da lei, ou na ordem do povo. E as bases da autoridade soberana sero
estabelecidas na f, ou no contrato, ou na ideologia. Portanto, o problema que elas
colocam o de saber: quem detm o poder? legtimo seu exerccio? Qual a base da
autoridade do soberano e da relao entre soberano e sujeitos? A personagem central
desses edifcios tericos o poder soberano. invariavelmente da personagem do rei
que, como observou FOUCAULT (1999a, p. 30), eles fundamentalmente tratam, seja
como servidores, seja como adversrios.
Tambm o marxismo retomou a anlise do poder em termos de soberania.
Assim como a teoria liberal ou jurdica do poder, o marxismo sofre do que Foucault
135
chamou de economismo na teoria do poder. Enquanto na teoria liberal o poder aparece
como um direito que o indivduo cede para constituir a soberania poltica, atravs de
uma operao jurdica que estabelece analogia entre poder e riqueza, a anlise
marxista estabelece uma funcionalidade econmica do poder, em que o poder teria
como funo essencial garantir e perpetuar determinadas relaes de produo e,
consequentemente, dominaes de classe. Em linhas gerais, se preferirem, num caso,
tem-se um poder poltico que encontraria, no procedimento da troca, na economia da
circulao dos bens, seu modelo formal; e, no outro caso, o poder poltico teria na
economia sua razo de ser histrica, e o princpio de sua forma concreta e de seu
funcionamento atual (Ibid., p. 20). Ao contrrio, para Proudhon e para o anarquismo,
o que est em questo menos o nome, a forma ou a origem do governo, do que o
prprio princpio de autoridade. No , portanto, a delimitao formal ou jurdica do
poder sob a forma de governo, seja ele qual for, mas o princpio de autoridade, como
dimenso factual e constituinte do exerccio do governo, que deve servir de grade para
a inteligibilidade das relaes de poder.
A autoridade para o governo isso que o pensamento para a palavra, a idia para o fato, a
alma para o corpo. A autoridade o governo em seu princpio, como a autoridade o
governo em seu exerccio. Abolir um ou outro, se a abolio real, destru-los ao mesmo
tempo; pela mesma razo, conservar um ou outro, se a conservao efetiva, manter
ambos (PROUDHON, 1979, p. 85).
Foi nesses termos que Proudhon se posicionou diante do rousseaunismo de
sua poca, no vendo nele mais do que a autoridade reinvestida. Em seu curso de
1976, FOUCAULT (1999a, p. 40), falando da teoria da soberania, evocou a alegoria
do Leviat: homem artificial, a um s tempo autmato, fabricado e unitrio
igualmente, que envolveria todos os indivduos reais, e cujo corpo seriam os cidados,
mas cuja alma seria a soberania. Segundo Foucault, essa teoria, que data da Idade
Mdia, foi reativada do direito romano para constituir-se em torno do problema da
monarquia e do monarca, e desempenhou quatro papis. O primeiro deles foi a
justificao do poder das monarquias de tipo feudal; depois, ela serviu de instrumento
136
e justificao para a constituio das grandes monarquias administrativas; em seguida,
o terceiro papel, a partir do sculo XVI e XVII, circulou indiscriminadamente nas
mos das foras opostas pelas guerras de religio, tanto para a limitao quanto para o
fortalecimento do poder rgio: catlicos monarquistas ou protestantes anti-
monarquistas, protestantes mais ou menos liberais ou catlicos regicidas etc.;
finalmente, diz Foucault,
no sculo XVIII, sempre essa mesma teoria da soberania, reativada do direito romano,
que vocs vo encontrar em Rousseau e em seus contemporneos, com um outro papel, um
quarto papel: trata-se naquele momento de construir, contra as monarquias administrativas,
autoritrias e absolutas, um modelo alternativo, o das democracias parlamentares. E este
papel que ela ainda representa no momento da Revoluo. (Ibid., p. 41-42)
Retomando o fio desse raciocnio, seria preciso dar teoria da soberania um
quinto papel, atribudo pelo marxismo e pela social-democracia no sculo XIX, e que
fez funcionar no interior do socialismo os mesmos mecanismos de poder que a
burguesia tinha instaurado com o sistema representativo. Como sugeriu HINDESS
(1993, p. 301), liberalismo, socialismo e democracia, se considerados a partir de suas
reflexes sobre o poder, podem ser compreendidos como simples variaes sobre um
mesmo tema governamental. A presena de figuras vistas como realidades
naturalmente ou historicamente dadas, ou como artefatos que ainda no esto
completamente realizados, um aspecto onipresente da vida poltica: veja-se o estatuto
da nao ou do povo no discurso nacionalista, ou da classe trabalhadora no
marxismo e em muitos outros socialismos. a partir desse estatuto, que Hindess
chamou ontolgico, que so fixados o carter e os limites da legitimidade
governamental, e definidos os objetivos para uma variedade de projetos
governamentais. Portanto, o que permeia figuras como nao, povo, classe etc., o
mesmo tipo de estatuto ontolgico da comunidade de indivduos livres, erroneamente
atribudo apenas ao liberalismo. Segundo HINDESS (Ibid., p. 308) essa figura jogou
um papel importante tanto na democracia, na social-democracia, quanto nos
socialismos. Na realidade, os projetos polticos mais influentes da modernidade foram
137
articulados em torno de coletividades que so tratadas em certos contextos como sendo
realidades natural ou historicamente dadas, e em outros como artefatos presentes e
incompletos a serem realizados nao, povo, classe trabalhadora e mulher so
os exemplos mais familiares. A figura liberal da comunidade de indivduos livres,
compreendida como um dado potencialmente presente e no realizado, foi assimilada
por essas representaes de comunidade poltica mencionadas. Em todas elas, o
governo compreendido como capaz de operar legitimamente com o consenso desses
indivduos livres que formam os sujeitos do poder: a teoria da soberania procurando
reconciliar o governo dos outros com a idia do indivduo como sendo naturalmente
livre (Ibid., p. 304).
Tomar liberalismo, socialismo e democracia como variaes do tema
governamental pode ajudar a compreender a adeso explcita do socialismo, a partir do
ps Segunda Guerra, aos jogos da governamentalidade liberal. Como mostrou
FOUCAULT (2004c, p. 92), essa adeso, de certo modo, j estava dada
historicamente, na medida em que aquilo que provocou o estrangulamento ttico do
marxismo nos anos posteriores Segunda Guerra tinha seu indcio, em grande medida,
em uma espcie de ausncia constitutiva do marxismo. Para Foucault, melhor que
perceber no marxismo a ausncia de uma anlise do poder e uma insuficincia na sua
teoria do Estado, o que seria preciso dizer que aquilo que falta ao socialismo no
tanto uma teoria do Estado, mas uma razo governamental, uma definio disso que
seria no socialismo uma racionalidade governamental, quer dizer, uma medida
razovel e calculvel da extenso das modalidades e dos objetos da ao
governamental (Ibid., p. 93). O que o socialismo possui uma racionalidade
histrica, uma racionalidade administrativa, talvez uma racionalidade econmica, mas
no existe no socialismo uma governamentalidade autnoma, no h nele
racionalidades governamentais. Logo, para uma concepo poltica tal como
encontrada no socialismo, quer dizer, para um projeto poltico que tem por ttica
alcanar um regime econmico completamente diferente, aceitando mais ou menos os
138
jogos polticos presentes, era inevitvel, no momento em que esse projeto foi chamado
para ser estabelecido, no lanar mo do tipo de governamentalidade que se lhe
apresentasse melhor.
O socialismo, com efeito, e a histria o mostrou, no pode ser colocado em funcionamento
a no ser conectado sobre tipos de governamentalidades diversas. Governamentalidade
liberal e, nesse momento, o socialismo e suas formas de racionalidade jogam o papel de
contrapeso, de corretivo, de paliativo a seus perigos interiores. (...) Ele foi visto, pode-se
v-lo ainda, funcionando em governamentalidades sadas, sem dvida, disso que
chamamos no ltimo ano, vocs lembram, Estado de polcia (...); nesse momento, nessa
governamentalidade do Estado de polcia, o socialismo funciona como a lgica interna de
um aparelho administrativo. Talvez existam ainda outras governamentalidades sobre as
quais o socialismo foi conectado. Pode ser. Mas, em todo caso, no creio que exista at o
momento uma governamentalidade autnoma do socialismo (Ibid., p. 93-94).
por essa ausncia constitutiva de uma governamentalidade, por ter sempre
funcionado a partir de uma governamentalidade exterior, estranha, que preciso,
segundo Foucault, cessar de acusar o socialismo de ter trado seus princpios ou de ter
falseado sua realidade. No em termos de verdadeiro ou falso que preciso abordar o
socialismo, mas necessrio lhe perguntar: qual , portanto, essa governamentalidade
necessariamente extrnseca que faz funcionar, e no interior da qual somente podes
funcionar? (Ibid., p. 95).
O anarquismo, por sua vez, no se configurou como variao do tema
governamental, precisamente porque no cessou de funcionar como discurso crtico
contra o governo.
139
2 parte:
errico malatesta, poltica e anarquia
140
captulo 1: poder, dominao e organizao
Na primeira parte deste trabalho vimos que para Proudhon um dos problemas
maiores, na segunda metade do sculo XIX, foi o de fazer reaparecer a racionalidade
do poder e as prticas do princpio de autoridade, cristalizados em domnios de objetos
prprios aos da economia poltica. As estratgias contra as quais Proudhon se ops
foram as teorias do contrato e suas categorias de vontade geral, sufrgio universal,
igualdade jurdica etc. Na segunda parte deste trabalho veremos como, no final do
sculo XIX e comeo do sculo XX, o grande problema que se colocou para Malatesta
foi o do princpio da organizao e suas conexes com a dominao. Nessa poca
ocorre um deslocamento provocado pela crise da governamentalidade, articulada em
torno da noo de igualdade poltica que era implcita no contrato social. Essa
articulao fazia aparecer o registro poltico e o registro econmico em uma flagrante
oposio, na medida em que tornava evidente a anulao mtua que os termos
soberano e assalariado provocam um no outro. As crticas contra as teorias do contrato
social, feitas na segunda metade do sculo XIX, so assimiladas pelas escolas do
direito social a partir do final desse sculo. Ocorre, pela primeira vez na histria, uma
tentativa de neutralizao poltica da questo social, a partir das prticas de
organizao popular. Em outras palavras, a organizao torna-se um princpio de
racionalidade governamental que deveria ser aplicado para reduzir os antagonismos
141
sociais, suscitados pelas reivindicaes populares, que colocavam Estado e indivduo
face a face. Essa problemtica da organizao como estratgia de dominao
atravessou todo o sculo XX, passando do socialismo ao fascismo, e constituiu uma
das maiores inquietaes de Malatesta.
Mas ao retomar essa discusso preciso adotar algumas precaues de
mtodo, para compreender poder e dominao no interior do anarquismo de Malatesta.
Em 1994, Todd May afirmou que a imagem feita pelos anarquistas do poder a de
uma fora repressiva que opera sufocando e eliminando aes, eventos e desejos com
os quais entra em contato. Essa imagem do poder seria no somente comum ao
anarquismo do sculo XIX, de Proudhon, Bakunin, Kropotkin e Malatesta, mas
tambm ao anarquismo contemporneo. uma tese sobre o poder que o anarquismo
partilha com a teoria liberal da sociedade, que considera o poder como uma srie de
vnculos ao, sobretudo prescritos pelo Estado, cuja justia depende de um estatuto
democrtico. Mas tambm o marxismo orienta-se na direo dessa tese do elemento
repressivo do poder (MAY, 1998, p. 84). Agora, se o poder realmente repressivo, a
questo que se coloca : quando seu exerccio seria legtimo e quando no o seria?
Dessa forma, diferentemente de liberais e marxistas, para os anarquistas o exerccio do
poder no jamais legtimo, na medida em que a natureza humana sempre boa. Para
May, trata-se do ncleo duro do projeto anarquista: supor uma natureza ou essncia
humana e consider-la boa e dotada dos caracteres necessrios para a convivncia
conforme a anarquia. Em todo caso, May sugere que se fosse suposto que os
anarquistas tivessem uma idia diferente de poder, que o visse no somente repressivo,
mas tambm produtivo: o poder no somente reprime aes, eventos e indivduos, mas
ao mesmo tempo os produz (Ibid., p. 86), nesse caso, a crtica anarquista, tendo por
caracterstica principal a negao do poder em seu complexo, no teria sido possvel.
Consequentemente, no teria sido possvel ao anarquismo justificar sua resistncia
radical ao poder. Em outras palavras, aquilo que separa a crtica do poder anarquista
daquela liberal e marxista, precisamente o elemento que a torna condenvel.
142
Essa indiferenciao das relaes de poder mencionada por May, que induz
uma rejeio global do seu exerccio e que implica a suposio de uma natureza
humana, no procede do anarquismo, ou pelo menos no do anarquismo de Malatesta.
Ao contrrio, encontra uma procedncia nas anlises que Max Weber realizou da
dominao. Parece ter sido essa anlise que imputou-se ao anarquismo sem maiores
consideraes, fazendo-o definir o poder como uma realidade simplesmente negativa
que opera por meio da violncia.
No debate sobre dominao, as interpretaes de Weber ganharam grande
importncia e forneceram muitas das referncias atravs das quais convencionou-se
refletir acerca desse tema. Weber, ao estabelecer a distino entre poder e dominao,
definiu o poder como a probabilidade de uma pessoa ou vrias impor, numa ao
social, a vontade prpria, mesmo contra a oposio de outros participantes desta
(WEBER, 1999, p. 175). A partir dessa definio de poder, Weber distinguiu a
dominao como sendo um caso especial do poder e um dos elementos mais
importantes da ao social (Ibid., p. 187). Ainda que nem toda ao social implique
dominao, Weber afirma que na maioria de suas formas, a dominao desempenha
um papel fundamental, at mesmo naquelas formas de ao social em que se supe a
ausncia de quaisquer relaes de dominao, como, por exemplo, em uma
comunidade lingstica. Assim, na Alemanha, a promoo de um dialeto a idioma
oficial contribuiu decisivamente para desenvolver grandes comunidades lingstico-
literrias homogneas. Esse processo de homogeneizao lingstica ocorre
freqentemente como contrapartida a uma separao poltica, como foi o caso da
Holanda e da Alemanha. E mais evidente ainda a dominao exercida na escola, que
busca fixar, de maneira profunda e definitiva, as formas e a preponderncia de um
determinado idioma oficial.
143
Todas as reas da ao social, sem exceo, mostram-se profundamente influenciadas por
complexos de dominao. Num nmero extraordinariamente grande de casos, a dominao
e a forma como ela exercida so o que faz nascer, de uma ao social amorfa, uma
relao associativa racional, e noutros casos, em que no ocorre isto, so, no obstante, a
estrutura da dominao e seu desenvolvimento que moldam a ao social e, sobretudo,
constituem o primeiro impulso, a determinar, inequivocamente, sua orientao para um
objetivo (Id.).
Tambm o poder de dispor dos bens econmicos, segundo Weber, no
somente uma conseqncia freqente, muitas vezes deliberada e planejada, da
dominao, como tambm constitui um de seus meios mais importantes. Por isso,
no somente o modo como os meios econmicos so empregados para conservar a
dominao influencia, decisivamente, o carter da estrutura de dominao, como
tambm, inversamente, a maioria das comunidades econmicas modernas apresentam
uma estrutura que implica dominao (Ibid., p. 188). A dominao, portanto, pode
assumir mltiplas formas. Ela se instala na lei que garante os direitos individuais,
fazendo do direito um instrumento de descentralizao da dominao nas mos dos
autorizados pela lei. Para Weber, o trabalhador, de posse de um poder de mando
legal frente ao empresrio, exerce dominao na sua pretenso salarial, igualmente
como fazia o antigo funcionrio diante do rei. Weber deu dominao uma ampla
extenso. A dominao tanto pode se desenvolver nas relaes sociais de salo, como
nas relaes sociais de mercado, de uma ctedra universitria, de um regimento
militar, de uma relao ertica ou caritativa. As relaes de dominao so
onipresentes e generalizadas. Apesar disso, Weber reconheceu dois tipos de
dominao, e os considerou radicalmente opostos: a dominao em virtude de uma
constelao de interesses e a dominao em virtude de uma autoridade. Mas so dois
tipos de dominao que, ao longo da histria, no cessaram de estabelecer entre si
transies graduais, das quais resultaram, por exemplo, os desenvolvimentos que
levaram da efetiva dependncia por dvidas escravido formal durante a Antiguidade
e a Idade Mdia, ou da dependncia do arteso dependncia da indstria caseira etc.,
na modernidade.
144
E, a partir da, outras transies graduais conduzem at a situao de um empregado de
escritrio, tcnico ou trabalhador, recrutado no mercado de trabalho com base em um
contrato de troca, com igualdade de direitos formal, na qual este aceita, do ponto de vista
formal, voluntariamente, as condies oferecidas e passa a trabalhar numa oficina cuja
disciplina no se distingue, em sua essncia, daquela de um escritrio estatal e, no caso
extremo, de uma instituio militar (Ibid., p. 190).
Foi nesse sentido que Weber justificou a dominao como funcionando a
partir de um fluxo ininterrupto dos fenmenos reais. A oposio que adotou entre
dominao por compromissos de interesses e dominao como dever puro e
simples de obedincia teve por finalidade apenas operar distines teis na anlise,
ou seja, foi somente no plano de sua conceituao sociolgica que a dominao foi
considerada em oposio direta s situaes dos interesses de mercado. A dominao
que resulta do prprio interesse dos indivduos oposta dominao de um poder de
mando autoritrio unicamente no plano da teoria e somente para operar distines teis
conceituao sociolgica de Weber. Fora disso, as relaes de dominao so sempre
idnticas entre si.
Por dominao compreenderemos, ento, aqui, uma situao de fato, em que uma
vontade manifesta (mandato) do dominador ou dos dominadores quer influenciar as
aes de outras pessoas (do dominado ou dos dominados), e de fato as influencia de tal
modo que estas aes, num grau socialmente relevante, se realizam como se os dominados
tivessem feito do prprio contedo do mandato a mxima de suas aes (obedincia)
(Ibid., p. 191).
Trata-se de uma generalizao das relaes de dominao. Weber sustentou
a existncia de numerosas formas de transio entre o sentido amplo de dominao (de
salo, do mercado, ertica etc.) com esse conceito mais estreito de dominao
relacionada a um poder de mando autoritrio. Assim, as relaes de domnio
estendem-se at mesmo uma transao entre um sapateiro e seu cliente, na medida em
que, num setor parcial, um dos dois ter influenciado a vontade do outro e a ter
dominado, mesmo contra sua resistncia. Nessa generalizao, o nico cuidado a ser
tomado o de que esse exemplo dificilmente serviria para a construo de um conceito
preciso da dominao. Malgrado isso, diz Weber,
145
por nossa parte, atribuiremos dominao ao prefeito de aldeia, juiz, banqueiro e arteso,
sem diferena, e somente quando estes exigem e (num grau socialmente relevante) tambm
encontram obedincia para seus mandatos, puramente como tais. Temos que aceitar que
obtemos um conceito razoavelmente til, quanto extenso, somente mediante a referncia
ao poder de mando, por mais que caiba admitir que tambm neste caso, na realidade da
vida, tudo transio (Ibid., p. 192).
Na anlise de Weber, a instituio cuja exigncia de obedincia a seus
mandados ocorre sempre em um grau socialmente relevante o Estado, entendido
como comunidade humana que, dentro de determinado territrio este, o territrio,
faz parte da qualidade caracterstica , reclama para si (com xito) o monoplio da
coao fsica legtima (Ibid., p. 525).
preciso notar, segundo HINDESS (1996), como em Weber o poder
tomado como um fenmeno quantitativo, em analogia com um tipo de poder eltrico
ou poder de um motor, ou seja, como uma capacidade quantitativa que pode ser
colocada para operar em uma variedade de objetivos (Ibid., p. 2). Assim, os
indivduos empregariam poder sobre coisas e pessoas, mas nesse ltimo caso, essa
concepo de poder como capacidade implica que a vontade dos que tm mais poder
naturalmente prevalea sobre a vontade dos que tm menos poder. Por essa razo,
segundo Hindess, Weber definiu o poder como probabilidade de impor a vontade
prpria. Agora, nessa concepo do poder como capacidade, ao sugerir a existncia de
relaes desiguais entre esses que empregam poder para alcanar seus objetivos e
aqueles que sofrem seus efeitos, o poder aparece, com muito mais razo, como
instrumento de dominao que perpassa globalmente as relaes sociais. Outro aspecto
da anlise weberiana , talvez, a conseqncia mais direta dessa concepo do poder
como capacidade quantitativa: porque se o poder efetivamente um fenmeno
quantitativo, consequentemente seu alto grau de eficcia estaria naquelas formaes
nas quais o poder encontra-se de forma sempre mais concentrada. Disso deriva que, na
anlise de Weber, o Estado aparece como a forma mais racional de dominao, em
detrimento de outras formas menores e, sobretudo, provocando a eliminao dos
elementos de dominao que poderiam conter as relaes de poder derivadas dos
146
compromissos e dos interesses, e consideradas radicalmente opostas dominao do
tipo de poder de mando autoritrio.
Como sugeriu Foucault (1981), a anlise weberiana em termos de
racionalizao toma a realidade da dominao, com suas pequenas racionalidades
dispersas e descontnuas, para constitu-la como regra universal de conduta: a
dominao aparece como uma espcie de unidade lgica ligando elementos antes
disparatados ou que, pelo menos, no estavam forosamente implicados,
transformado-os em uma unidade indefectvel e indissocivel. Assim, a dominao do
Estado aparece como uma figura coerente e dotada de uma lgica interna que
radicaliza fenmenos locais, sistematiza comportamentos dispersos e intensifica
movimentos tendenciais, para constitu-los sob a forma de uma racionalizao ideal,
que o Estado.
Essa anlise weberiana, como notou Hindess, aparece incorporada ao
conceito de hegemonia em Gramsci, no qual o poder da burguesia nas sociedades de
capitalismo avanado descrito a partir de uma combinao de coero e consenso.
O consenso das classes populares para a ordem burguesa possvel, na viso de
Gramsci, simplesmente porque elas no perceberam seu interesse na eliminao da
dominao capitalista. Em outras palavras, as classes populares consentem com uma
ordem que no compreendem corretamente (HINDESS, 1996, p. 6). Para Foucault,
esse tipo de anlise aparece insuficiente porque, entre outras coisas, provoca um
impasse em relao a todos os mecanismos reais de assujeitamento (FOUCAULT,
2007, p. 282). Isso aparece de modo claro no que LEVY (1999) chamou ideologia
produtivista no pensamento de Gramsci, que consiste em aceitar o taylorismo como
um mtodo de incrementao da produo, passvel de ser descontextualizado do
capitalismo e, conseqentemente, aplicvel em outras direes, entre elas socialista ou
comunista. Gramsci, portanto, defendeu a aplicao do taylorismo na Rssia leninista.
Dizia que o ps-guerra, em virtude do elevado desaparecimento de homens, colocou a
necessidade de novos mtodos de racionalizao do trabalho, que por sua vez exigiam
147
uma rgida disciplina dos instintos sexuais (do sistema nervoso), isto , um reforo da
famlia em sentido amplo (...) da regulamentao e estabilidade das relaes sexuais
(GRAMSCI, 1974, p. 163-164). Gramsci reprovava em Trotsky a sua vontade
demasiadamente resoluta de dar supremacia indstria e aos mtodos industriais
unicamente atravs de meios coercitivos e exteriores. As suas preocupaes eram
justas, mas as solues prticas estavam profundamente erradas (Ibid., p. 165). Para
Gramsci, o princpio da coero no ordenamento da produo e do trabalho justo,
porm no deve assumir o modelo militar. Por essa razo, valorizava o puritanismo
americano como alternativa.
Na Amrica a racionalizao do trabalho e o proibicionismo esto sem dvida ligados: os
inquritos dos industriais sobre a vida ntima dos operrios, os servios de inspeo criados
por algumas empresas para controlar a moralidade dos operrios, so necessidades do
novo mtodo de trabalho. Rir-se destas iniciativas (se bem que tenham falido), e ver nelas
apenas uma manifestao de puritanismo, negar qualquer possibilidade de
compreender a importncia, o significado e o alcance objetivo do fenmeno americano,
que tambm o maior esforo coletivo at hoje verificado para criar, com inaudita rapidez,
e com uma conscincia do fim nunca vista na histria, um novo tipo de trabalhador e de
homem (Ibid., p. 166).
Mas a anlise weberiana em termos de generalizao das relaes de
dominao foi sobretudo incorporada pela chamada teoria crtica. Como notou
Hindess, tanto Weber quanto a teoria crtica apresentam
a imagem de uma racionalidade instrumental como uma viso de mundo que tem se
espalhado como praga por toda parte, principalmente nas reas institucionais das
sociedades ocidentais. Sucede nos vrios discursos de seus representantes que o mundo
tomado como um campo de ao instrumental, amplamente como sintoma de uma infeco
provocada por uma viso de mundo ou por uma orientao da racionalidade instrumental
em geral (HINDESS, 1996, p. 147).
No mesmo sentido, Miller tambm afirmou que um dos traos elementares
da teoria crtica a combinao de uma radicalizao da anlise weberiana, e sua
crtica da dominao racional, com uma modernizao do materialismo histrico, ao
substituir a ateno dada economia para a esfera cultural (MILLER, 1987, p. 9). Foi
essa interseco de preocupaes weberianas e marxistas que produziu uma extensa
148
literatura portadora de forte vitalidade que perdura. Porm, diz Miller, como anlise
do poder, resultou em um projeto operando sobre uma profunda restrio, implicada
no esforo de elaborar uma noo de subjetividade essencial. Desse modo, a
radicalizao das anlises de Weber consistiu na manuteno da crtica persistente em
que descreve a dominao racional e define o capitalismo como efetuando
essencialmente a racionalizao de todas as esferas da vida social (Id.), e na
pressuposio de uma subjetividade essencial como medida para a extenso dos
padres de dominao.
Porm, dificilmente seria possvel atribuir ao anarquismo de Errico Malatesta
essa noo da dominao. Malatesta emprega a palavra governo para designar o que
seria, propriamente falando, o governo poltico. Nesse sentido, governo utilizado
como sinnimo de autoridade, de poder e de Estado. Conseqentemente, o termo
poltica ou poltico deve ser compreendido tambm nessa direo: a poltica e o
poltico designam um domnio de objetos relacionados ao exerccio do poder
governamental. Percebe-se, portanto, o uso fundamentalmente estreito que
Malatesta, e talvez o anarquismo, deu palavra governo: no o governo no sentido
amplo como governo da famlia, governo das crianas, governo das conscincias,
governo da casa, de uma comunidade etc., mas governo entendido em sentido estrito
como o exerccio da soberania poltica ou do poder soberano. Foi dessa forma que
Malatesta definiu a anarquia como sociedade organizada sem autoridade,
entendendo-se por autoridade o poder de impor a prpria vontade, e no o fato
inevitvel e benfico de quem conhece e sabe fazer uma coisa, consegue mais
facilmente ter aceita sua opinio e serve de guia, nessa determinada coisa, para os
menos capazes que ele (MALATESTA, 1982[7], p. 87). O poder de impor a prpria
vontade o governo. Outra coisa seria essa capacidade, fato inevitvel e benfico,
advinda de um saber-fazer. Governar significa, portanto, exercer autoridade ou ato de
impor a vontade a outrem ou de suportar uma vontade alheia.
149
Assim, parece existir uma provvel semelhana com Weber quando
Malatesta define o governo como dominao (ainda que Weber fale de Estado) e a
dominao como o ato de impor a prpria vontade a um outro. Mas h uma clara
diferena com ele quando Malatesta distinguiu dominao de outras formas de
determinao do comportamento atravs de um saber-fazer, que seria da ordem da
aptido. A esse propsito, ele dizia que fala-se freqentemente de autoridade e de
autoritarismo. Mas seria preciso entender-se. Contra a autoridade encarnada do Estado,
na qual o nico objetivo o de manter a escravido econmica no seio da sociedade,
ns protestamos de todo corao e no deixaremos jamais de nos rebelar. Mas existe
tambm uma autoridade simplesmente moral que deriva da experincia, da inteligncia
e do talento e, por mais anarquistas que sejamos, no existe ningum entre ns que no
a respeite (cf. ANTONIOLI, 1978, p. 104).
Portanto, para analisar a reflexo poltica de Malatesta preciso ter em conta
algumas distines que so fundamentais entre a concepo anarquista do poder
poltico ou do governo como dominao, em Malatesta, e essa concepo liberal da
dominao como fluxo ininterrupto, em Weber.
1. anarquia e organizao
Procurando estabelecer alguns pontos em comum entre a reflexo de
Malatesta e a de Gramsci, Levy apresentou ambos autores compartilhando da
ideologia produtivista. Para corroborar sua suposio, cita uma passagem na qual
Malatesta afirma que,
ao invs de pensar em destruir as coisas, os trabalhadores devem estar atentos para que os
patres no os extorquem; devem impedir que patres e governo faam apodrecer os
produtos para a especulao ou por descuido, que deixem a terra inculta e os operrios sem
trabalho, que faam produzir coisas inteis ou danosas. Os trabalhadores devem, desde j,
considerar-se como patres e comear a agir como patres. Destruir as coisas ato de
escravo: escravo rebelde, mas sempre escravo (MALATESTA, 1975[29], p. 86).
150
A partir disso, Levy acrescenta que tanto quanto Lnin e Gramsci, Malatesta
enfatizava a importncia de adquirir o controle das funes sociais dadas previamente
pelo Estado. Acrescentou tambm que, ainda semelhante a Gramsci, Malatesta viu a
necessidade no precisamente de substituir o Estado atual com novos arranjos, mas de
abolir os obstculos existentes nas instituies para a transformao revolucionria
(LEVY, 1996, p. 181). preciso dizer que isso simplificar enormemente as coisas.
Sabe-se que Gramsci se queixava da propaganda anarquista contra a disciplina de
partido. Dizia que essa propaganda era ineficaz entre os trabalhadores de Turim,
justamente porque ali tratava-se de uma disciplina que tinha sua base histrica nas
condies econmicas e polticas em que se desenvolveu a luta de classes
(GRAMSCI, 1974, p. 27). J Malatesta escrevia, em abril de 1920: Disciplina: eis a
grande palavra com a qual se paralisa a vontade dos trabalhadores conscientes
(MALATESTA, 1975[12], p. 49). O que est em jogo so duas concepes opostas de
organizao.
Malatesta no se limitou a criticar fortemente o otimismo de Kropotkin
formulado na sua concepo do comunismo anrquico, concepo que pessoalmente
considero demasiado otimista, demasiado ingnua, demasiadamente confiante nas
harmonias naturais (Ibid., 1975[334], p. 234). Segundo Malatesta, Kropotkin tinha
aceito a idia, comum ento entre os anarquistas, de que os produtos acumulados da
terra e da indstria eram de tal forma abundantes que por muito tempo no seria
necessrio preocupar-se com a produo. Com isso, Kropotkin colocou o consumo
como problema imediato e afirmou, que para fazer triunfar a revoluo era necessrio
satisfazer de modo rpido e amplo as necessidades de todos, e que a produo seguiria
o ritmo do consumo. Daqui surgiu a expresso fortemente difundida de tomar na
abundncia, expresso, segundo Malatesta, colocada em moda por Kropotkin, e que se
tornou a maneira mais simples de conceber o comunismo, porque precisamente a
mais apta aos prazeres da multido e, por isso, a mais primitiva e a mais realmente
utpica (Ibid., 1975[372], p. 376-377).
151
Era absurdo, mas era atraente e por isso foi rapidamente acreditada e aceita. Era muito
cmodo para a propaganda poder dizer: Vocs sofrem a fome, tm penria de tudo,
enquanto os armazns e os mercados esto cheios de coisas que no servem a ningum;
apenas precisam estender a mo e tom-las. O sucesso desses opsculos entre os
anarquistas foi enorme. (...) Procuramos nos opor corrente, mas com pouco sucesso. O
talento literrio e o alto prestigio da personalidade de Kropotkin fizeram aceitar pela
maioria a infeliz frmula do tomar na abundncia [presa nel mucchio] (la prise au tas) e
a maioria, certamente interpretando de modo grosseiro o pensamento de Kropotkin, no
duvidou que a abundncia existisse e que fosse praticamente inexaurvel (Ibid., 1975[340],
p. 264).
Malatesta notou que o otimismo de Kropotkin colocava em jogo a prpria
realizao da anarquia, pois supunha o ato revolucionrio de eliminao das foras
materiais defensoras do privilgio, como suficiente para sustentar prticas sociais
anrquicas. Assim, muitos deram importncia exclusiva ao fato insurrecional sem
pensar naquilo que preciso fazer para que uma insurreio no permanea um ato de
violncia reacionria, e viram nas questes prticas, nas questes de organizao, no
modo de prover o po cotidiano (...) questes ociosas: so coisas, eles dizem, que se
resolvero por si, ou as resolvero a posteridade (Ibid., 1975[336], p. 241). Mas, ao
contrrio dessa corrente, Malatesta afirmou que a positividade revolucionria residia
na organizao anarquista, e disse que o nosso modo de construir o que constitui
propriamente o anarquismo e que nos distingue dos socialistas. A insurreio, os
meios para destruir so coisas contingentes, e a rigor se poderia ser anarquista sendo
igualmente pacifista, como possvel ser socialista sendo insurrecionalista (Ibid.,
1975[20], p. 64).
A abolio dos obstculos mencionada por Levy coisa meramente
contingente. O que deve distinguir efetivamente os anarquistas so seus mtodos de
organizao. Aqui est a razo pela qual Malatesta deu organizao um grande
destaque na sua reflexo, e pela qual se colocou, desde muito cedo, ao lado dos
chamados anarquistas organizadores, em oposio aos anarquistas anti-
organizadores. Como observou Adriana Dad, a dcada que se seguiu entre os anos
de 1880 a 1890 foi marcada pelo desenvolvimento de uma tendncia anti-organizadora
e individualista no anarquismo, provocada em certa medida, de um lado, pela
152
represso indiscriminada de qualquer atividade subversiva e, de outro, pela esperana
de uma revoluo iminente, para a qual bastava uma ao violenta e exemplar. A
prtica insurrecionalista tinha, com efeito, ativado o mecanismo
insurreio/represso/novas insurreies, jogos de foras menores, e provocou,
portanto, atos de revolta totalmente indiferentes a todo vnculo com aes enquadradas
em uma perspectiva estratgica, transformada pouco a pouco na indiferena por toda
forma de discusso e organizao que ligasse e coordenasse a atividade insurrecional e
revolucionria em geral (DAD, 1984, p. 46). preciso igualmente considerar, como
apontou Maurizio Antonioli, a resposta formulada pelos anarquistas, por exemplo,
durante o congresso de Londres de 1881, contra as formas de organizao do
socialismo legalitrio. Nesse congresso, Carlo Cafiero teria insistido sobre a
necessidade de dar vida a crculos independentes uns dos outros, coligados pelos fins
comuns da ao, e insistia na necessidade de dispersar sobre o territrio os ncleos
vitais do anarquismo para os subtrair da represso do Estado (ANTONIOLI, 1999a,
p. 56). Tudo indica que foi a partir dessa conjugao que se deu a passagem que levou
o anarquismo da recusa contingente de organizao para a negao como princpio de
qualquer forma de organizao, quando o individualismo se torna uma prtica vlida
da luta no presente e ao mesmo tempo caracterstica essencial da sociedade ps-
revolucionria (DAD, 1984, p. 46).
Precisamente nesse contexto Malatesta traa sua definio de anarquia como
organizao sem autoridade, formulada em La Questione Sociale, de Florena, em
1884, primeiro peridico dirigido por ele. Malatesta afirma que em uma organizao
sem autoridade o governo se torna um non sense, mas para que essa organizao se
realize e exista, preciso um mtodo que funcione como timo necessrio para dirigir
a navegao anrquica.
153
Anarquistas nas finalidades, porque acreditamos que apenas com a anarquia a humanidade
poder alcanar o bem-estar e a paz (...), ns somos igualmente anarquistas no mtodo,
porque acreditamos que uma autoridade constituda, um governo qualquer ser sempre e
fatalmente um obstculo para o triunfo do princpio de solidariedade, uma razo para o
eterno retorno [corsi e ricorsi, concepo da histria cclica de Vico] na civilizao, de
alternncias de revolues e reaes (Ibid., 1884c).
Malatesta atribuiu a recusa do princpio de organizao a um erro provocado
pelo exagero da crtica anarquista organizao, identificando-a com a autoridade.
Segundo ele, muitos anarquistas, por dio autoridade, rejeitaram qualquer
organizao, sabendo que os autoritrios designam com esse nome o sistema de
opresso que desejam constituir (Ibid., 1889b). Porm, para Malatesta, aquilo que os
autoritrios chamam organizao simplesmente uma hierarquia completa,
legiferante, que age em nome e no lugar de todos, ao contrrio, o que os anarquistas
entendem por organizao o acordo que se faz, em virtude dos interesses entre os
indivduos agrupados para uma obra qualquer; so as relaes recprocas que derivam
das relaes cotidianas que os membros de uma sociedade estabelecem uns com os
outros. Mas sobretudo, a organizao anarquista, segundo Malatesta, no tem lei,
nem estatutos, nem regulamentos que cada indivduo obrigado a subscrever, sob
pena de um castigo qualquer; essa organizao no possui nenhum comit que a
represente, os indivduos no so ligados a ela pela fora, mas permanecem livres e
autnomos para abandonar a organizao quando ela quiser substituir sua iniciativa
(Id.). Mas Malatesta reconheceu que a Primeira Internacional, malgrado toda a
terminologia anti-autoritria, malgrado as lutas combatidas e vencidas em nome da
autonomia e da liberdade, permaneceu sempre uma organizao autoritria at a
morte, provocada por seu prprio autoritarismo. A Internacional em seu nascimento
imitou a organizao do Estado: Conselho Geral (governo central) com os secretrios
gerais para cada pas (ministros); conselhos regionais, provinciais etc. (governos
cantonais etc.); congressos gerais, regionais etc., com direito de fazer leis, aceitar ou
rejeitar programas e idias, admitir ou expulsar indivduos ou grupos (parlamentos)
(Ibid., 1889g). Foi, segundo ele, levando em considerao exemplos como o da AIT
154
que os anarquistas no souberam distinguir a organizao em si do fundo autoritrio
que a deturpava, e comearam a predicar e a experimentar a desorganizao, querendo
eleger como princpio o isolamento, o desprezo dos compromissos assumidos e a no
solidariedade, quase como se fossem uma conseqncia do programa anarquista,
quando na verdade so sua negao (Id.). Para Malatesta, os anarquistas, pensando
combater a autoridade, no perceberam que estavam atacando o prprio princpio de
organizao. E assim faziam como se para combater a autoridade do Estado
pretendessem o retorno a um modo de vida selvagem. Querendo deixar livre campo
para a iniciativa individual, produziram isolamento e impotncia. Era preciso,
portanto, no negar a organizao, mas organizar-se em modo perfeitamente
anrquico, quer dizer, sem nenhuma autoridade nem evidente nem mascarada (Id.).
Todavia, parece que essa noo de organizao que Malatesta esforou-se
em distinguir e preservar no deixou, porm, de causar efeitos bastante ambguos.
Como observou Maurizio Antonioli, o anarquismo organizado, o assim chamado
partido
6
nas suas diversas articulaes autnomas, modificava gradualmente a
prpria fisionomia, nem tanto porque menos subversivo e mais educativo, mas
porque se apresentava (...) combatendo com as armas civis da organizao, da
propaganda e da ao popular coletiva (ANTONIOLI, 1999b, p. 130). Nesse final do
sculo XIX e comeo do XX, o reconhecimento formal da liberdade de associao por
alguns governos liberais abriu a possibilidade de uma existncia legal ao movimento
anarquista. Como mencionou Pier Carlo Masini, o Ministro do Interior italiano
Giuseppe Zanardelli tinha desenvolvido o princpio da mais ampla liberdade de
6
A noo de partido tinha para os anarquistas uma conotao completamente diferente da que se conhece hoje
e uma problemtica poltica oposta dos partidos convencionais. Malatesta dava palavra partido dois
dignificados: um, de grupo organizado de pessoas vinculadas por um pacto social, outro, de todo um conjunto
de pessoas que aderem a uma dada ordem de idias e tm um objetivo comum (1975[114], p. 284). Adriana
Dad notou como desde muito cedo, j nas lutas que envolveram a ala anti-autoritria da Primeira
Internacional, encontramos o elemento caracterstico da histria dos anarquistas na Itlia: o alternar-se de aes
de massa e de aes de vanguarda, a oscilao entre movimento mais ou menos espontneo dos
revolucionrios e a afirmao de seus militantes como portadores de uma presena organizada, de partido
(DAD, 1984, p. 7).
155
associao, fazendo-se defensor da frmula reprimir no, prevenir, pronunciada pelo
Presidente do Conselho Cairoli (MASINI, 1974, p. 153). Ainda que na prtica o
discurso de Zanardelli no contemplava os anarquistas internacionalistas, condenando
e perseguindo a AIT como associazione di malfattori, permanecia esse fato, como
notou Antonioli, de que a questo da organizao inseria-se no quadro de um discurso
mais amplo, como aquele relativo s modalidades de uma presena anrquica no
tecido poltico geral (ANTONIOLI, 1999a, p. 72). Assim, parece que a organizao
anarquista, ao reclamar o direito a uma existncia pblica e civil, tendeu a rejeitar
como prejuzos aquelas formas de recusas e contraposies diretas contra a sociedade.
Foi essa atitude que suscitou uma oposio resoluta por parte dos anti-organizadores,
temendo que a constituio do partido determinasse uma institucionalizao do
movimento e, consequentemente, a pacificao da tenso revolucionria (Id.).
Tais fatos parecem confirmar a opinio de Daniel Colson a respeito da noo
de organizao, descrita por ele como um termo infeliz, emprestado da biologia para
designar os agrupamentos militantes (...) e o lao que os une. Rudimentar, essa noo
tende a isolar os elementos, a hierarquiz-los (as mos, a cabea, o baixo, o alto etc.) e
a submete-los a um todo que lhes assinalaria sua funo e seu valor
7
(COLSON,
2001, p. 217).
7
A idia que conhecemos de organismo data do sculo V a.C. Anteriormente, o pensamento pr-socrtico
exprimia as coisas na sua dimenso de multiplicidade. Mais tarde, com o socratismo, a multiplicidade das coisas
foi considerada por uma tica de unidade conceitual (cf. REALE, 2002, p. 21 et seq.). Em seguida, a idia de
organismo e de organizao marca, com Cuvier, a passagem da histria natural para a biologia, representando
um conjunto de rgos que esto ligados a funes que mantm com eles uma relao de subordinao
funcional. A noo de organismo, com a biologia, fez extravasar e largamente a funo em relao ao rgo
e submeteu a disposio do rgo soberania da funo. Dissolve-se, seno a individualidade, pelo menos a
independncia do rgo: erro crer que tudo importante num rgo importante; preciso dirigir a ateno
mais para s prprias funes do que aos rgos (FOUCAULT, 2000b, p. 363).
156
2. questo social
A partir da segunda metade do sculo XIX, comeou a se desenhar uma nova
estratgia poltica que encontrou no princpio da organizao o campo do qual retirou
os instrumentos de anlise. Essa estratgia atravessou a reflexo de dois autores que
tinham em comum o fato de terem vivenciado a revoluo de 1848, porm em campos
opostos: Tocqueville e Proudhon. O primeiro, que tinha insistido, na sua Memria
sobre o pauperismo, de 1837, sobre a eficcia da organizao popular contra as
agitaes operrias, viu na revoluo de 1848, e na violncia de seus atos, a
confirmao de suas inquietaes. O segundo, que tinha queimado, no plano das
idias, o princpio de propriedade em seu libelo O que a Propriedade?, de 1840, viu
os operrios de 1848 o queimarem de fato, e atacou o princpio da organizao,
dizendo ocultar um pensamento dissimulado de explorao e de despotismo
(PROUDHON, 1979, p. 62). A revoluo de 1848 foi o retorno ao debate poltico da
questo social.
De acordo com Procacci, questo social foi um sentido importante e novo
emprestado pobreza durante as agitaes revolucionrias do final do sculo XVIII,
um sentido que colocava frequentemente um desafio e uma questo a ser resolvida.
Um sentido emprestado pobreza que se tornou uma das grandes questes de
interesse pblico e ocupou nos espritos um lugar real e simblico no qual estavam em
jogo as chances da nova ordem social e a obsesso de seu fracasso. Assim nasce a
questo social, espao discursivo e prtico ao mesmo tempo, designando os problemas
que a misria finalmente coloca sociedade (PROCACCI, 1993, p. 13). Essa questo,
que inquietou os revolucionrios de 1789, emergiu no cenrio poltico, violenta e
ameaadora, sob os efeitos da revoluo de 1848. A partir de 1848 entra em cena uma
forma suprema de violncia operria, ao menos para a sociedade liberal. Tocqueville
impressionara-se pelo carter popular da revoluo que acabava de ser realizada, um
carter que eu no diria principal, mas nico e exclusivo; a onipotncia que havia
dado ao povo propriamente dito, ou seja, s classes que trabalham com as mos, sobre
157
todas as outras. A Revoluo de Fevereiro lhe parecia, finalmente, feita inteiramente
margem da burguesia, e contra ela (TOCQUEVILLE, 1991, p. 91-92).
Correlativamente, Foucault mostrou como na passagem do sculo XVIII para o XIX
surgiu um ilegalismo popular novo, de outro tipo. Foi nessa poca que as ilegalidades
conheceram um desenvolvimento a partir de novas dimenses, que portavam consigo
os efeitos da revoluo de 1848, incorporando movimentos que entrecruzaram os
conflitos sociais, as lutas contra os regimes polticos, a resistncia ao movimento de
industrializao, os efeitos das crises econmicas (FOUCAULT, 2000a, p. 227).
Assim, tendo sido uma prtica limitada a ela mesma, as ilegalidades populares durante
a revoluo ganharam uma dimenso de lutas diretamente polticas, que tinham por
finalidade, no simplesmente fazer ceder o poder ou transferir uma medida intolervel,
mas mudar o governo e a prpria estrutura do poder (Id.). Outro aspecto fundamental
da revoluo de 1848 foi, diz Proudhon, que a revoluo no buscou o triunfo de um
partido, mas aspirava fundar uma experincia e uma filosofia social novas.
Antes da batalha de junho, a Revoluo tinha apenas conscincia dela mesma: era uma
aspirao vaga das classes operrias em direo a uma condio menos infeliz. (...) Graas
perseguio que ela sofreu, a Revoluo hoje conhece-se a si mesma. Ela expressa sua
razo de ser; ela conhece seu princpio, seus meios, seu fim; ela possui seu mtodo e seu
critrio. Ela somente tem necessidade, para se compreender, de seguir a filiao das idias
dos seus diferentes adversrios. Nesse momento, ela se liberta das falsas doutrinas que a
obscurecem, dos partidos e das tradies que a encobrem: livre e brilhante, vocs a vero
apoderar-se das massas e as precipitar em direo ao futuro com um impulso irresistvel
(PROUDHON, 1979, p. 25).
A Revoluo conhece-se a si mesma. Em 1848 foi extraordinrio e terrvel
ver exclusivamente nas mos dos que nada possuam toda uma imensa cidade cheia de
tanta riqueza, ou melhor, toda essa grande nao, pois, graas centralizao, quem
reina em Paris comanda a Frana (TOCQUEVILLE, 1991, p. 92). A filosofia da
Revoluo de Fevereiro foi o socialismo que, aps ter suscitado a guerra entre as
classes, segundo Tocqueville, continuou sendo seu carter mais essencial e a
lembrana mais temvel de 1848 (Ibid., p. 95). E ele tinha razo. Em um primeiro
momento, foi essa temvel lembrana do radicalismo de 1848 que esteve presente na
158
fundao da Associao Internacional dos Trabalhadores, atuando sobretudo pela
figura de Mazzini, cujo republicanismo democrtico, to temido pela monarquia
italiana, foi gestado nos antecedentes parisienses a 1848 e continha uma profunda
averso pela monarquia liberal de Lus Felipe. Para Mazzini, a monarquia liberal era
particularmente insidiosa porque dava ao povo a esperana de uma mudana
significativa realizada atravs de reformas moderadas e constitucionais. O
liberalismo, seja alla Lus Felipe, seja nas formas nas quais seria praticado
sucessivamente pela monarquia piemontesa, era particularmente perigoso porque seus
tons moderados dissipavam a diversidade de princpios e atenuavam a sensibilidade
nos confrontos dos problemas morais. Foi essa disposio que fez Mazzini afastar-se
dos carbonrios, que preferiam a cooperao com os monarquistas moderados, para
fundar La Giovine Italia em 1831 (SARTI, 2000, p. 64). Esse radicalismo far
aproximar Mazzini a Bakunin em 1861, quando os dois revolucionrios se encontram
em Genova para discutir o apoio comum que dariam insurreio polonesa, assim
como foi esse radicalismo que, em 1864, o lanar nas filas da AIT. Mas a AIT
tambm herdou o radicalismo de 1848 com os franceses refugiados em Londres, que
no eram partidrios de Blanqui nem de Proudhon, e com os delegados
internacionalistas da Sua francesa.
Seja como for, parece que a revoluo de 1848 fez seu o eco lanado pelo
libelo de Proudhon sobre a propriedade, na medida em que foi a oposio entre
proprietrios e no-proprietrios que atravessou todo o corpo social durante as
agitaes de 1848. Tocqueville lembra como o povo, aps descobrir que sua posio
de inferioridade no era devida constituio do governo, voltou-se contra a
propriedade, olhando-a como principal obstculo para a igualdade entre os homens,
at o ponto de parecer o nico signo de desigualdade (TOCQUEVILLE, 1991, p. 92).
Em 1840, Proudhon tinha correlacionado o poltico com o problema econmico nos
duplos escravido/propriedade e assassinato/roubo. Para Tocqueville foram essas
falsas teorias que haviam assegurado s pessoas pobres que o bem dos ricos era de
159
alguma maneira o produto de um roubo cujas vtimas eram elas, fazendo da revoluo
um esforo brutal e cego, mas poderoso, dos operrios para escapar s necessidades
de sua condio (que lhes havia sido descrita como uma opresso ilegtima) e para
abrir a frceps um caminho em direo quele bem-estar imaginrio (que se lhes havia
mostrado de longe como um direito) (TOCQUEVILLE, 1991, p. 150).
Opresso ilegtima e direito ao bem-estar. A revoluo de 1848 foi um
momento de crise em que a governamentalidade teve sua racionalidade poltica
reformulada. Foi um acontecimento que colocou a noo de soberania num impasse: a
insurreio de 1848 projetou a sombra perigosa da revoluo de 1793 como obra
incompleta, na medida em que era evidente o no cumprimento da promessa
rousseuaniana da transferncia da soberania do prncipe para o povo. Os
acontecimentos de 1848 fizeram reacender na sociedade o fogo de mltiplas batalhas.
Estava em jogo a legitimidade do poder central, a manifesta fragilidade do novo
fundamento do poder sado da Revoluo Francesa. E isso fez com que a questo
social fosse definida nos seguintes termos: como reduzir a distncia entre o novo
fundamento da ordem poltica e a realidade da ordem social, com a finalidade de
assegurar a credibilidade da primeira e a estabilidade da segunda, caso no se queira
que o poder republicano seja novamente investido de desesperanas desmedidas e
vtima do desencantamento destruidor desses mesmos que deveriam defend-lo?
(DONZELOT, 1994, p. 33). A resposta para essa questo foi encontrada no
preenchimento de um estranho vazio existente entre indivduo e Estado e que, liberais
e conservadores concordavam, provocava um excesso de Estado. Tanto liberais quanto
conservadores admitiam que houve um deslocamento ou um desaparecimento dos
corpos e das associaes que agregavam localmente os indivduos e, desse modo,
intercalavam-se entre eles o Estado. A rpida reduo da existncia desses corpos, ou
pelo menos da sua capacidade de controlar os indivduos, colocou-os numa relao de
face a face direta com o Estado (Ibid., p. 57). Foi, portanto, um vazio formado pela
perda de uma certa organizao da sociedade com seus laos, suas hierarquias, suas
160
influncias tradicionais, suas relaes de subalternao, de paternidade etc., vazio que
deixava unicamente ao Estado a tarefa de se ocupar dos indivduos. Excesso de Estado
como fonte inevitvel de conflitos que sempre riscavam a legitimidade da soberania da
repblica e reascendiam o fogo revolucionrio de 1793. Procacci mostrou como
funcionou, depois da revoluo, uma estratgia de neutralizao da revolta popular que
tomou como encargo o fator organizacional. Pela primeira vez, com efeito, uma
tentativa de neutralizao poltica consistia em tentar organizar o povo: e isso
certamente porque as reivindicaes populares s quais o governo devia fazer frente
comportavam uma demanda de organizao. Mas, tambm, porque uma nova
racionalidade poltica via, finalmente, na organizao uma maneira de governar
(PROCACCI, 1993, p. 288). As associaes e os clubes operrios apresentavam a
vantagem de fazer da organizao um hbito e de reduzir o antagonismo social. O
Estado previdencirio nasce em 1848. As organizaes criadas nessa poca pelo
Estado para canalizar o movimento popular visavam a sindicalizao dos operrios
como uma maneira de neutralizar a reivindicao de um direito individual ao
trabalho (Ibid., p. 289). Foi a partir dessa noo de organizao que se procurou
desarmar politicamente os antagonismos entre proprietrios e no-proprietrios. O
potencial de ruptura da misria foi amortecido com a idia de dever social, tornado
moral ativa do cidado, novo sujeito da sociedade civil, que serviu de registro para
reinscrever as relaes polticas no interior do corpo social, despolitizando-as e
despotencializando-as, sendo que, de outro modo, reforariam um face a face entre
Estado e indivduo. A associao tornava-se assim ao mesmo tempo um modo de
resistncia contra as tendncias despticas do poder numa sociedade democrtica, e
uma prtica socializada do poder, um tipo de via direta da educao dos cidados ao
self-government (Ibid., p. 311).
161
3. solidarismo e direito social
Segundo Donzelot, nesse momento, para conferir ao Estado um fundamento
para sua interveno, emerge a noo de solidariedade com Durkheim, que procurou
articular a tcnica do direito social, entendido como a modalidade dessa ao, com a
frmula da negociao como modo capaz de resolver na sociedade os conflitos. a
partir dessa articulao entre a noo de solidariedade, a tcnica do direito social e o
procedimento da negociao que, segundo Donzelot, se constitui um modo especifico
de organizao da sociedade, o social, na interseco do civil e do poltico (Ibid.,
1994, p. 72). Assim, o social foi uma inveno estratgica de pacificao das relaes
na sociedade, que implicou um sistema de direitos e de prticas, e que ganhou um
plano de consistncia com o nascimento da sociologia como disciplina cientfica,
sobretudo com o aparecimento da obra Da diviso do trabalho social, em 1893, de
Durkheim, e sua noo de solidariedade orgnica. Seu problema foi o de perceber
como nessa liberdade de associao, concedida pelo governo aos sindicatos operrios
para reforar seus laos sociais corporativos, ou na interveno que o Estado exercia
nas famlias operrias para a proteo da infncia, atravs do dispositivo escolar,
enfim, perceber como essas aes (ou interaes) levavam em conta tambm um
interesse social do indivduo. Possuiria essa poltica, portanto, uma coerncia de
conjunto, um fundamento durvel, um horizonte? (Ibid., p. 79) O que seria a
sociedade se no um vasto organismo dotado e funcionando atravs de uma
solidariedade orgnica de suas partes? Assim, todos esses fenmenos de ruptura, tais
como o suicdio e a intensificao dos conflitos entre patres e operrios, aconteciam
menos em razo de uma estrutura da sociedade do que de um estado de imperfeio de
suas representaes e laos sociais. Durkheim forneceu, portanto, um fundamento
cientfico para a interveno do Estado na sociedade a partir de sua teoria da
solidariedade. Teoria acompanhada, no final do sculo XIX, do funcionamento de um
formidvel equipamento coletivo em matria de ensino, de sade, de energia, de
162
comunicaes, aumentando consideravelmente o papel da administrao e seu peso
sobre a sociedade (Ibid., p. 87).
A partir dessa inveno estratgica da solidariedade com Durkheim,
Donzelot sugere que a principal problemtica poltica esboada no final do sculo XIX
foi a exigncia de encontrar, frente a essa crescente expanso das atividades do Estado,
uma ttica capaz de atuar de tal modo que sua autoridade no seja reduzida e que ela
no se choque contra uma crtica cada vez mais virulenta de seu arbtrio. Questo tanto
mais aguda na medida em que a chama anarquista no final do sculo alcanava ento
seu apogeu (Ibid., p. 88). Como validar a interveno do Estado e toda a extenso de
seu poder, ao mesmo tempo fazendo com que esse poder seja aceito por aqueles sobre
os quais ele exercido? Como conservar o princpio da autoridade na sociedade de
maneira que seu monoplio, a fonte da qual ele emana, sua origem, aparea como
vindo de toda parte e de parte alguma? Percebe-se o quanto essa problemtica da
positividade do poder est distante do problema weberiano do Estado como monoplio
da violncia legtima.
Nascem nessa poca duas noes que desempenharam papis importantes no
debate: a noo de servio pblico, com Lon Duguit, e a noo de instituio, com
Maurice Hauriou, ambos tericos do direito social. Segundo Duguit, a filosofia
subjetiva do direito, herdeira dos cdigos napolenicos, conferia ao indivduo o
verdadeiro fundamento do direito, e via no Estado, tal como Rousseau, uma espcie de
eu comum dotado de uma subjetividade coletiva. A conseqncia disso era o
inevitvel conflito do primeiro contra o segundo. Esse germe de contradio e de luta
foi o que os homens da revoluo introduziram involuntariamente no sufrgio
universal. Eles criaram a igualdade poltica, mas no a igualdade econmica,
suprimiram os privilgios polticos mas no os econmicos. Da um conflito fatal, uma
antinomia profunda (Ibid., p. 91). Para Duguit, todo poder, qualquer que seja seu
modo de legitimao, implica sempre uma relao de dominao. Nesse sentido,
afirmava que a antiga soberania poltica tinha sido simplesmente transferida da
163
monarquia para a repblica, conservando, em beneficio dessa ltima, um poder
poltico ilimitado. Porque o Estado a soberania concentrada de todos, nada e
ningum poder lhe resistir. E isso mostra bem o quanto o princpio da soberania
pouco jurdico (Ibid., p. 92). O Estado, portanto, considerando-o objetivamente,
dizem os tericos do direito social, no jamais outra coisa mais do que o fato de um
certo nmero de pessoas disporem livremente de maior fora de constrio. O Estado
no outra coisa mais do que poder (Ibid., p. 93). preciso, por isso, faz-lo
reconhecer obrigaes positivas por meio da colocao em funcionamento de
equipamentos coletivos, e produzir solidariedade social, enfim, fazer o Estado operar
no como um eu comum ou sujeito soberano, mas condicionar seu exerccio s
modalidades de servios pblicos, nos quais os indivduos no estariam mais do que
integrados em uma funo.
J a noo de instituio, de Hauriou, constituiu um aperfeioamento da
noo de servio pblico de Duguit, que procurou estabelecer o fundamento da
autoridade do Estado sobre cada um de seus membros e os limites dessa autoridade.
Hauriou, pensando a sociedade a partir de seu movimento, procurou articular os
direitos e os deveres dos indivduos, das coletividades e da potncia pblica de um tal
modo que eles respeitassem o princpio necessrio para a ordem que quer que uma
fora domine as outras, e o princpio necessrio ao equilbrio que quer que uma
fora dominante possa ser moderada por foras menores, mas capazes de fazer jogar
relativamente sua presena (Ibid., p. 97). A instituio seria a realidade desse
conjunto regulador de ordem e equilbrio.
Esses dois tericos do direito social perceberam o perigo quase inevitvel
que resultava do exerccio do poder do Estado apoiado sobre essa noo de soberania.
Concluram que se o procedimento do sufrgio pode e deve ser realizado sobre essa
noo democrtica de soberania individual, o exerccio do poder deve se desembaraar
dela o quanto possvel. Curiosamente, esses tericos tinham muita clareza de que,
dissipadas as iluses que faziam com que o exerccio do poder emanasse da vontade de
164
todos, imediatamente o Estado aparecia na sua realidade de potncia bruta, arbitrria,
opressiva: fora pura que to s pode se justificar por sua submisso a uma regra de
direito, uma regra que deve procurar dissolv-lo de maneira eficaz na realizao da
solidariedade da sociedade. Assim, propunham uma descentralizao capaz de
transformar o exerccio arbitrrio do poder sob a forma de servios pblicos
disseminados pela sociedade com o objetivo de organizar sua coeso. O Estado
perderia sua arbitrariedade se dissolvendo progressivamente no processo de construo
de uma sociedade solidria (Ibid., p. 101). Mas era preciso ter a prudncia de no
eliminar a potncia especifica do Estado, sua potncia pblica, e para isso articulou-se
pblico e privado em uma teoria da autoridade fundada sobre a perenidade das
instituies como fonte do seu poder de constrio, reduzindo a possibilidade de seu
questionamento (Ibid., p. 103). Em outras palavras, os tericos do direito social
encontraram um princpio de limitao positiva do poder do Estado.
Foucault mostrou a importncia que teve essa nova tcnica do direito para a
governamentalidade dos indivduos. Ela permitiu indexar a governamentalidade no
mais simplesmente ao mercado, como queria Quesnay e seu Quadro Econmico dos
fisiocratas, nem index-la noo jurdica do contrato social, como queria Rousseau e
a soberania como vontade geral. A governabilidade ou a governamentabilidade
desses indivduos que, na qualidade de sujeitos de direito, povoam o espao da
soberania, mas que so ao mesmo tempo nesse espao de soberania homens
econmicos, sua governamentabilidade no pode ser assegurada, e no pode ser
assegurada efetivamente, mais do que pela emergncia de um novo objeto
(FOUCAULT, 2004c, p. 298). Esse novo objeto foi a sociedade civil, que funcionou
como campo de referncia para governar, segundo certas regras de direito, um espao
de soberania que tem a infelicidade ou a vantagem, como vocs quiserem, de ser
povoado de sujeitos econmicos (Ibid., p. 299). A sociedade civil foi ao mesmo
tempo o princpio terico e prtico que permitiu ao governo exercer sua autoridade
fora do quadro jurdico da teoria da soberania e fora do registro da dominao. De que
165
modo? Foucault mostrou como uma das caractersticas da sociedade civil que ela foi
pensada como matriz permanente de poder poltico, na medida em que estabelece um
lao entre indivduos que so concretamente diferentes entre si. So essas diferenas
que vo induzir e determinar espontaneamente, na sociedade, divises de trabalho que
no so somente produtivas, mas divises de trabalho que so polticas, quer dizer,
divises no plano dos processos decisrios.
Uns daro sua opinio, outros daro ordens. Uns refletiro, outros obedecero.
Anteriormente a toda instituio poltica, diz Fergunson, os homens so dotados de uma
variedade infinita de talentos. Se vocs os colocarem juntos, cada um encontrar seu lugar.
Eles, portanto, aprovaro ou reprovaro ou decidiro todos juntos, mas examinam,
consultam e deliberam em parcelas mais seletas; na qualidade de indivduos, eles tomam
ou se deixam tomar ascendncia (Ibid., p. 307).
Ocorre na sociedade civil que o fato do poder precede o direito que pretende
instaur-lo ou limit-lo, ou modific-lo, ou intensific-lo. O poder pr-existe a toda
regra de direito. Sua estrutura jurdica lhe sempre posterior. Com efeito, a sociedade
civil expele permanentemente, e desde a origem, um poder que no nem a condio
nem o suplemento. Um sistema de subordinao, diz Fergusom, tambm essencial
aos homens e prpria sociedade (Ibid., p. 308). A sociedade civil aparece como
uma espcie de sntese espontnea de uma subordinao espontnea.
Na prtica, todas essas teorias que tiveram como fio condutor a noo de
solidariedade consolidaram-se, no final do sculo XIX, em um corpus jurdico que
ficou conhecido como direito social, e que engendrou inmeras prticas relativas s
condies de trabalho, proteo do trabalhador e da infncia, aos acidentes e doenas
do trabalho, s vrias medidas destinadas a fiscalizar as condies de salubridade,
educao e moralidade dos operrios e de suas famlias. E foi atravs de uma tcnica
securitria, como mostrou Donzelot, que essa linguagem do direito operou, procurando
cessar a violncia dos conflitos entre patres e operrios. O sistema de seguros que foi
colocado em funcionamento fazia aparecer a exigncia por direitos como dependente
no mais de uma reorganizao da sociedade, mas de uma reparao de sofrimentos
ocasionais.
166
O operrio acidentado, doente ou desempregado no exigia mais justia diante dos
tribunais ou em praa pblica. Far valer seus direitos perante instncias administrativas
que, aps examinarem o fundamento da sua demanda, lhe paga indenizaes
predeterminadas. No proclamando a injustia da sua condio que o operrio poder
beneficiar-se do direito social, mas na qualidade de membro da sociedade, na medida em
que ela garante a solidariedade de todos (DONZELOT, 1994, p. 138).
O direito social foi uma contrapartida necessria a toda inconvenincia do
sistemtico processo de disciplinarizao descrito por Michel Foucault. Foi para
compensar, ou equilibrar, o poder soberano que o patro exercia efetivamente no
interior da fbrica, e que chegava mesmo a atingir toda a vida familiar, afetiva e sexual
dos operrios, em uma rede fechada de constries disciplinares, que riscava a
instabilidade do poder pela ameaa constante de conflitos que provocava. Com o
direito social, essa malha do poder disciplinar no aparecia mais emanando do Estado,
delegado e defendido por ele. Pelo contrrio, esse poder aparecia como contestado,
limitado e recusado pelo Estado. A dominao que Weber viu o trabalhador exercer
sobre o patro por meio da legislao trabalhista, era no fundo o resultado terminal de
uma complexa estratgia de normalizao do poder que procurou eliminar o perigo
inerente ao exerccio do governo.
4. contra-organizao anarquista
preciso entender a reflexo de Malatesta acerca da organizao como uma
postura contra-organizativa, na medida em que, sem negar a organizao, procura
contrapor estratgia da organizao burguesa prticas de organizao anarquista.
Como dissemos, ao contrrio dos anarquistas anti-organizadores
8
, Malatesta rejeitou
como sendo completamente insuficiente e inadequada a resposta sob a forma da recusa
8
ANTONIOLI (1999a) cita, entre outros, Paolo Schicchi, os stirnerianos Attilio e Ludovico Corbella e Oberdan
Gigli. Outros anti-organizadores menos intransigentes foram Ettore Molinari, Nella Giacomelli e Luigi
Galleani.
167
do princpio de organizao. Uma tal resposta trazia o inconveniente do extremismo, e
continha um duplo prejuzo: no apenas colocava o anarquismo no impasse de uma
posio meramente negativa, como tambm era uma posio que impedia perceber o
funcionamento do mecanismo estratgico colocado em jogo. notvel como
Malatesta insistia no fato de que todas as instituies que oprimem e exploram o
homem tiveram sua origem em uma necessidade real da sociedade humana e se
sustentam precisamente sobre o prejuzo de que essa determinada necessidade no
possa ser satisfeita sem aquelas instituies determinadas, fazendo suportarem todo o
mal que produzem pela fora dessa pretensa necessidade (MALATESTA, 1889g).
o que o ocorre, por exemplo, com a propriedade que, mesmo reduzindo a massa dos
trabalhadores misria e transformando a sociedade em uma matilha de lobos se
devorando mutuamente, encontra sua justificativa tambm na necessidade dos
indivduos se garantirem contra a tirania do Estado. o que ocorre com a lei que,
mesmo tendo sido feita para defender os privilegiados e constranger o povo a suportar
sua posio, ela tambm responde a necessidade da incolumidade pessoal dos
indivduos. At mesmo o autoritarismo, seja nas suas manifestaes secundrias seja
na sua manifestao mxima da forma Estado, na medida em que obscurece com sua
sombra fatal grande parte da vida social, reponde igualmente a uma necessidade de
cooperao. Portanto, preciso perceber esse fundo de positividades que no somente
atuam, mas que sustentam essas redes de instituies negativas, nas quais os
indivduos so ao mesmo tempo vtimas e beneficirios.
Ora, se algum, para destruir a propriedade quisesse proclamar a sujeio do indivduo ao
Estado, ou se para abolir a lei quisesse proclamar a liberdade de se degolar mutuamente, ou
se para combater a autoridade e o Estado quisesse predicar a vida do homem selvagem ou
da tribo isolada, no se faria mais do que reafirmar a necessidade da propriedade, da lei e
da autoridade e se alcanaria portanto um objetivo diametralmente oposto ao almejado
(Id.).
Dessa forma, mesmo admitindo que a organizao autoritria uma coisa
completamente diversa daquela que os anarquistas organizadores defendem e, quando
podem, praticam (Ibid., 1975[334], p. 234), Malatesta tinha clareza de que as
168
pessoas agem sempre em funo de qualquer coisa de imediatamente realizvel, e no
fundo tm razo, porque no se vive apenas de negao, e quando no se tem nada de
novo para estabelecer retorna-se fatalmente ao antigo (Ibid., 1975[261], p. 72). Da a
necessidade de combater a idia muito difundida segundo a qual a tarefa dos
anarquistas seria simplesmente aquela de demolir, deixando para a posteridade a obra
de reconstruo. Segundo Malatesta, no se tratava de prescrever para a posteridade
um futuro, mas do fato grave e urgente de que devemos e deveremos fazer por ns, se
no quisermos deixar o monoplio da ao prtica a outros que enderearam o
movimento em direo a horizontes opostos aos nossos (Ibid., 1975[334], p. 235-
236).
A questo da organizao continha, para Malatesta, a perenidade do
exerccio governamental.
Eu digo que seria muito difcil encontrar uma instituio atual qualquer, mesmo entre as
piores, tambm as prises, os lupanares, a polcia, os privilgios, os monoplios, que no
responda direta ou indiretamente a uma necessidade social, e que s ser possvel destru-
las realmente e permanentemente quando se as substitua com qualquer coisa que satisfaa
melhor as necessidades que as produziram. No me perguntem, dizia um companheiro, que
coisa substituiremos ao clera: ele um mal e o mal preciso destru-lo e no substitu-lo.
verdade, mas a desgraa que o clera perdura e retorna se no se substituem por
condies higinicas melhores aquelas que permitiram o surgimento e a propagao da
infeco (Ibid., 1975[336], p. 238).
Para Malatesta a polcia no era uma atividade meramente repressiva, mas
um vetor de fora governativa. Nesse deslocamento, que leva de um acento
ordinariamente negativo sobre a polcia para v-la atuando sob um fundo de
positividade, significativo que ele fez aparecer os mecanismos positivos da polcia
como tecnologia de governo. Subtraindo da reflexo o juzo moral, Malatesta apontou
a positividade que algumas instituies, mesmo entre as piores, como a polcia,
produzem na sociedade. Se tais instituies produzissem apenas efeitos negativos, sua
eliminao seria fcil. Mas porque elas respondem tambm a uma necessidade
social, s ser possvel de fato substitu-las encontrando uma maneira de satisfazer
mais efetivamente as necessidades que as provocaram. Por isso, conferir ao
169
anarquismo, no ato insurrecional, uma finalidade meramente destrutiva equivale a dar
s instituies que se pretende abolir o tempo de se refazerem dos golpes recebidos,
impondo-se novamente, talvez com outros nomes, mas certamente com a mesma
substncia (Ibid., 1975[340], p. 248-249). Ento, dizia,
preciso abolir as prises, esses lugares ttricos de pena e de corrupo, onde, enquanto
gemem os prisioneiros, os carcereiros endurecem o corao e tornam-se piores do que os
detidos: de acordo. Mas quando se descobre um lascivo que estupra e mutila corpos de
crianas, necessrio coloc-lo em um estado de no poder mais prejudicar se no se quer
que ele faa outras vtimas e termine linchado pela multido. (...) Destruir os lupanares,
essa torpe vergonha humana (...). Mas o lupanar se reformar logo, pblico ou clandestino,
sempre que houverem mulheres que no encontrem trabalho apto e vida conveniente. (...)
Abolir a polcia, esse homem que protege com a fora todos os privilgios e o smbolo
vivo do Estado: certssimo. Mas para poder aboli-lo permanentemente e no v-lo
reaparecer sob outro nome e com um outro uniforme, preciso saber viver sem ele (Ibid.,
1975[336], p. 239-240).
bvio que Malatesta no pretende que se conserve qualquer coisa como
uma espcie de resduo dessas instituies, no se trata disso. Trata-se do perigo
iminente de sua permanncia, resultante do fato de que a mera negao das formas
institucionais que assumem determinadas instituies no basta para aboli-las. Por
exemplo, Malatesta diz que infelizmente verdadeiro que se dem cotidianamente
ocasies nas quais a polcia aparece como instrumento til (Ibid., 1975[78], p. 198).
Por exemplo, um agredido, encontrando-se em perigo de vida e sem possibilidade de
defesa, ficar naturalmente contente pela apario dos faris da polcia (Ibid.,
1975[137], p. 326). Desse modo, por dio e medo do delito, a massa da populao
aceita e suporta qualquer governo (Ibid., 1975[275], p. 102). Mais do que um ato de
negao, preciso um saber viver sem polcia, ou seja, rejeitar no somente suas
formas institucionais, mas tambm o regime de prticas que lhe so correspondentes.
preciso propor no um outro regime, mas um saber-fazer que prescinda dessas
instituies. preciso, por exemplo, evitar sempre que a defesa contra o delinqente
torne-se uma profisso e sirva de pretexto para a constituio de tribunais permanentes
e de corpos armados, que logo se tornaro instrumentos de tirania (Ibid., 1975[340],
170
p. 249-250). nesse momento que a questo da organizao em Malatesta ganha uma
dimenso fundamental para o anarquismo; e ele a formula nos seguintes termos:
Ou da organizao social preocupam-se todos, preocupam-se os trabalhadores por eles
mesmos e se preocupam imediatamente, na medida em que destroem o velho, e ter-se-
uma sociedade mais humana, mais justa, mais aberta aos progressos futuros; ou da
organizao preocupam-se os dirigentes, e teremos um novo governo que far aquilo que
fizeram sempre os governos, ou seja, far pagar a massa pelos escassos e malficos
servios que rende, eliminando-lhe a liberdade e permitindo que seja explorada por
parasitas e privilegiados de todas as espcies (Ibid., 1975[336], p. 242).
Mencionei que a valorizao da organizao em Malatesta inseparvel da
desconfiana sistemtica nutrida por ele em relao a esse processo de liberao
chamado simplesmente insurreio ou revoluo. Para Malatesta a revoluo e a
insurreio, apesar de necessrias, tm um valor meramente negativo. So necessrias
porque a histria demonstra que todas as reformas, que deixam subsistir a diviso dos
homens entre proprietrios e proletrios e, portanto, o direito de alguns de viver sobre
o trabalho dos outros, no fariam, quando obtidas e aceitadas como benficas
concesses do Estado e dos patres, mais do que atenuar a rebelio dos oprimidos
contra os opressores, e por isso no resta outra soluo mais do que a revoluo:
uma revoluo radical que abata todo o organismo estatal, que exproprie os detentores
da riqueza social e coloque todos homens sobre o mesmo nvel de igualdade
econmica e poltica (Ibid., 1975[45], p. 117). Todavia, preciso sempre admitir que
a revoluo dar imediatamente aquilo que poder dar, ou seja, aquilo que as massas
(e nas massas esto includos os homens de idias, os propagandistas, os intelectuais,
os tcnicos etc.) sero capazes de fazer (1975[49], p. 130). E essa capacidade relativa
das massas em tal medida importante que Malatesta admite que, para fazer a
revoluo, e sobretudo para fazer com que a revoluo no se reduza a uma exploso
de violncia sem futuro, so necessrios os revolucionrios (1975[54], p. 149).
A revoluo, portanto, sofre de uma insuficincia que lhe endmica, e que
pode ser descrita da seguinte forma: a revoluo no deve ser pensada como um
processo que liberaria nos homens uma essncia anarquista em estado embrionrio ou
171
adormecido; no o desbloqueio de uma natureza humana anarquista ou de um fundo
subjetivo libertrio das amarras opressivas do governo. A revoluo, enquanto
processo necessariamente negativo, no jamais capaz de inaugurar a anarquia,
simplesmente porque a anarquia no hiberna no interior dos indivduos, esperando que
o longo inverno governamental seja finalmente dissipado pelo sol revolucionrio. A
revoluo incapaz de liberar ou de produzir uma substncia anrquica nos
indivduos. Ela apenas um momento em que as massas se elevam moralmente
acima de seu nvel ordinrio e esto prontas a todos os herosmos (Ibid., 1975[70], p.
179).
Isso aparece claramente no debate entre educaionistas
9
e revolucionrios.
Recusando o educacionismo, entendido como sistema que espera a transformao
social unicamente, ou principalmente, da generalizao da educao, e que acredita
que tal transformao poder realizar-se apenas quando todos, ou quase todos, forem
educados, Malatesta escrevia, no final de 1913, que nas condies da poca era
impossvel estender a educao alm de um limite restritssimo. Desse modo, se
para fazer a revoluo, quer dizer, se para arruinar as instituies atuais e assegurar o
po e a liberdade, devssemos esperar que as massas se tornassem conscientemente e
inteligentemente revolucionrias a sociedade ou permaneceria como est ou se
modificaria sob a influncia de foras independentes de ns e em sentido contrrio aos
nossos objetivos. Alm disso, dizia que a propaganda feita para todos, mas que
semente que germina somente onde encontra terreno frtil (MALATESTA, 1913i).
Para Malatesta, sendo dados um certo ambiente e certas condies econmicas e
polticas, os indivduos no so capazes de se elevarem acima de um certo nvel moral.
So capazes apenas uma pequena minoria que, frequentemente, encontra-se em
condies de ambiente mais favorveis, mas a maioria no capaz. De outro lado,
9
Segundo BERTI (2003, p. 426), um dos maiores expoentes do educacionaismo anarquista no incio do sculo
XX foi Luigi Molinari, fundador da revista quinzenal LUniversit Popolare, em 1901, que tinha como epgrafe
a verdade nos far livres.
172
igualmente certo que todas as grandes mudanas feitas na civilizao foram devidas s
revolues, mas que no constituram necessariamente rpidas mudanas polticas e
econmicas. Ao contrrio, foram provocadas pelo descobrimento de novas terras pelas
correntes migratrias, pela inveno de novas mquinas ou de novos mtodos de
produo etc., e nesse processo certamente foi fundamental a educao, que buscou
desenvolver nos indivduos uma capacidade de utilizao de todas essas novas
possibilidades do ambiente. Pode-se at mesmo admitir que a educao necessria
para produzir revolucionrios, uma certa categoria de homens dedicados mudana
do ambiente de modo rpido e violento.
Mas esperar que apenas com a propaganda seja transformado o nimo das massas, uma
iluso e uma impossibilidade que nos condenaria a ser sonhadores. Existe uma experincia
feita por todos os propagandistas, e que j foi contada cem vezes. V a uma regio nova,
virgem de toda propaganda anarquista ou socialista, dedique-se a dialogar no caf, faa
uma conferncia ou convoque um comcio e, imediatamente, encontrar um certo nmero
de aderentes, suponhamos dez; e partir muito contente esperando que, se sozinho e num
nico dia, foi possvel converter para suas idias dez pessoas, esses dez que l ficaram,
entusiastas e voluntariosos, em breve tero convertido toda a regio. Retorne depois de um
ano e encontrar os mesmos dez... se no oito; retorne ainda depois de cinco anos e
sempre a mesma coisa. O fato que voc converteu tudo o que existia de conversvel. Mas
eis que de repente os dez tornam-se cem, e uma larga simpatia, se no uma adeso
completa, se manifesta para com nossas idias. O que aconteceu? Qualquer coisa que
transformou o ambiente: foi introduzida uma fbrica ou muitos foram para Amrica e
depois voltaram, ou explodiu, em um momento de exasperao, uma greve violenta que
colocou em luta aberta os trabalhadores agrcolas contra os proprietrios de terra (Ibid.,
1975[70], p. 177-179).
porque a educao incapaz de converter para a anarquia, ou melhor,
porque na anarquia o procedimento da converso apenas pode ter um valor relativo e
uma existncia sempre precria e insuficiente em relao educao, por isso que,
ao contrrio de um certo nmero de educacionistas, que crem na possibilidade de
elevar as massas aos ideais anarquistas antes de que sejam mudadas as condies
materiais e morais em que vivem, e com isso remetem a revoluo para quando todos
sero capazes de viver anarquicamente, os anarquistas esto todos de acordo com o
desejo de arruinar o mais cedo possvel os regimes vigentes (Ibid., 1975[209], p.
172). Mas, do mesmo modo que a anarquia no pode ser objeto de converso em um
173
procedimento educacional, com mais razo ainda a revoluo no pode ser feita para
que atue diretamente e imediatamente a anarquia, mas somente para criar as condies
que tornem possvel uma rpida evoluo em direo anarquia (Ibid., 1975[211], p.
182-183). A revoluo um ato dramtico, necessrio para abater a violncia dos
governos e dos privilegiados (Ibid., 1975[211], p. 184-185), e para poder abater a
fora material do inimigo comum (Ibid., 1975[218], p. 201), mas, por ser um
fenmeno de ruptura sbita, no serve como operador de converso dos indivduos
para a anarquia.
Foucault mostrou como o tema da salvao crist, com a noo de
metania, que o equivalente latino da noo grego-romana de converso, foi
inscrito em um sistema binrio. Situa-se entre a vida e a morte, a mortalidade e a
imortalidade ou este mundo e o outro. A salvao nos conduz: da morte para a vida, da
mortalidade para a imortalidade, deste mundo para um outro. Nos conduz inclusive do
mal para o bem, de um mundo de impurezas para um mundo de purezas etc.
Consequentemente, est sempre no limite e um operador de passagem
(FOUCAULT, 2002b, p. 180). Foi graas a essa conotao crist que a noo de
converso foi introduzida na prtica e na experincia poltica atravs da emergncia da
subjetividade revolucionria no sculo XIX. Parece-me que, ao longo do sculo
XIX, no possvel compreender o que foi a prtica revolucionria, no possvel
compreender o que foi o indivduo revolucionrio e o que foi para ele a experincia da
revoluo se no se tiver em conta a noo, o esquema fundamental da converso
revoluo (Ibid., p. 206).
a rejeio desse esquema binrio e maniquesta que est em jogo nessa
declarao de insuficincia da revoluo. Assim, para Malatesta, tanto a educao
quanto a revoluo so insuficientes de converter para a anarquia. Com efeito, ele se
pergunta se seria possvel
174
supor que, feita a revoluo no sentido destrutivo da palavra, cada um respeitar os direitos
dos outros e aprenderia logo a considerar a violncia, causada ou suportada, como coisa
imoral e vergonhosa? No seria muito mais temerrio que to logo os mais fortes, os mais
espertos, os mais afortunados, que podem ser tambm os mais cruis, os mais afetados por
tendncias anti-sociais, tentem impor sua prpria vontade por meio da fora, fazendo
renascer a polcia sob uma ou outra forma? No supomos e no esperamos que pelo nico
fato da revoluo ter abatido a autoridade presente baste para transformar os homens, todos
os homens, em seres verdadeiramente sociais e destruir todo germe de autoritarismo (Ibid.,
1975[43], p. 113).
Uma vez que a insurreio no pode durar mais que um breve tempo
(Ibid., 1975[218], p. 202), aps o gesto negativo e destrutivo de eliminao da fora
bruta que oprime, s se destri aquilo que se substitui com qualquer coisa de melhor.
(...) No existem geraes que destroem e geraes que edificam. A vida um todo
indivisvel, e a destruio e a criao so gestos contemporneos. Existem somente
perodos nos quais se cria e se destri rapidamente, e outros nos quais se cria e se
destri lentamente (Ibid., p. 202-203). Pensar a revoluo a partir do esquema binrio
da salvao supor uma subjetividade positiva reprimida e bloqueada por processos
negativos histricos, econmicos ou sociais que, uma vez rompidos, liberariam por si
mesmos efeitos liberadores. Para Malatesta, no h binarismo nenhum, mas jogo
permanente e recproco.
Entre o homem e o ambiente social existe uma ao recproca. Os homens fazem a
sociedade como ela , a sociedade faz os homens como eles so, e disso resulta uma
espcie de crculo vicioso. Para transformar a sociedade necessrio transformar os
homens, mas para transformar os homens necessrio transformar a sociedade. A misria
embrutece o homem, e para destruir a misria necessrio que os homens tenham
conscincia e vontade. A escravido educa os homens a serem escravos, e para liberar-se
da escravido necessrio homens que aspirem liberdade. A ignorncia faz com que os
homens no conheam as causas dos seus males e no saibam remedi-los, e para destruir a
ignorncia necessrio que os homens tenham o tempo e o modo de se instrurem. O
governo habitua as pessoas a suportarem a lei e a crer que a lei seja necessria sociedade,
e para abolir o governo preciso que os homens estejam persuadidos de sua inutilidade e
dano. Como sair desse crculo vicioso? (Ibid., 1975[223], p. 227).
Entretanto, pelo fato mesmo da existncia desse jogo perptuo, ocorre que a
sociedade atual o resultado de mil lutas intestinas, de mil fatores naturais e humanos
agindo casualmente sem critrios diretivos, residindo aqui a possibilidade sempre
175
presente de causar, de quando em quando, sua prpria dissoluo e transformao.
Todavia, desse ocaso da luta existe sempre a possibilidade de progresso; mas no a
possibilidade de anarquia. Para que a anarquia seja possvel, o progresso deve
caminhar ao mesmo tempo e paralelamente, nos indivduos e no ambiente, e o papel
decisivo dos anarquistas mais positivo do que destrutivo: eles devem se aproveitar
de todos os meios, de todas as possibilidades, de todas as ocasies que permite o
ambiente atual, para agir sobre os homens e desenvolver a sua conscincia e os seus
desejos; devemos utilizar todos os progressos efetuados na conscincia dos homens
para induzi-los a reclamar e impor maiores transformaes sociais, que so possveis e
que servem melhor para abrir a via a progressos ulteriores (Ibid., 1975[223], p. 228).
Aps uma insurreio, ou seja, a rpida efetuao das foras acumuladas durante a
evoluo precedente. Tudo depender daquilo que o povo capaz de querer (Ibid.,
1975[223], p. 236).
Segundo Malatesta, os anarquistas anti-organizadores no compreenderam a
sinonmia entre organizao e sociedade (Ibid., 1982[7], p. 85), e ignoraram um
dilema inevitvel da vida coletiva, no qual a organizao aparece como realizada
voluntariamente para vantagem de todos ou realizada pela fora por um governo
para a vantagem de uma classe dominante (Ibid., 1975[363], p. 342). Isso porque
aquilo que no conseguirmos fazer ns com nossos mtodos, ser feito
necessariamente pelos outros com mtodos autoritrios (Ibid., 1975[340], p. 250).
Sendo a organizao simplesmente uma prtica de cooperao e de solidariedade, ela
tambm uma condio natural e necessria da vida social, um fato inelutvel que se d
entre os indivduos. Assim, acontece fatalmente que aqueles que no tm os meios
ou a conscincia suficientemente desenvolvida para se organizar livremente com quem
possuem interesses e sentimentos comuns, suportam a organizao feita por outros
indivduos, geralmente constitudos em classe ou grupo dirigente, com o objetivo de
explorar, em proveito prprio, o trabalho alheio (Ibid., 1975[357], p. 299-300).
176
Ou os indivduos se organizam livremente, e se tem a anarquia; ou so
organizados contra sua vontade e suportam a organizao, e se tem o exerccio do
poder governamental. Governo e organizao aparecem, em Malatesta, como termos
correlativos, ou melhor, a organizao constitui para o governo um plano de referencia
atravs do qual o exerccio do poder ganha realidade e extenso. dessa forma que
essa problemtica da organizao aparece de qualquer modo como o diferencial entre
as concepes de Malatesta e Weber acerca do poder como imposio da vontade a
outrem. Weber tinha visto na dominao uma espcie de fluxo ininterrupto, Malatesta
percebeu como a dominao foi estrategicamente re-configurada pelo governo, que
articulou as necessidades reais dos indivduos de uma coletividade, justificando e
apoiando seu poder sobre elas.
Quando uma coletividade tem necessidades e seus membros no sabem se organizar
espontaneamente por si mesmos para prov-las, surge algum, uma autoridade que prover
essas necessidades, servindo-se da fora de todos e dirigindo suas vontades. Se as ruas
esto inseguras e o povo no sabe prover a segurana, surge uma polcia que, para qualquer
servio que rende, se faz suportar e pagar, impe-se e oprime (1982[8], p. 89-90-91).
Por essa razo, preciso que os anarquistas parem de tomar a revoluo
apenas como episdio destrutivo, foi por isso que Malatesta distinguiu insurreio de
revoluo, afirmando a necessidade de pensar essa ltima tambm como prticas de
liberdade, pens-la como um procedimento inventivo de
de novos institutos, de novos agrupamentos, de novas relaes sociais; a revoluo a
destruio dos privilgios e dos monoplios; um novo esprito de justia, de fraternidade,
de liberdade que deve renovar toda a vida social, elevar o nvel moral e as condies
materiais das massas, chamando-as a proverem pela sua prpria obra direta e consciente
para a determinao do prprio destino. (...) revoluo a destruio de todos os vnculos
coativos, a autonomia dos grupos, dos municpios, das regies; (...) revoluo a
constituio de mirades de livres agrupamentos correspondentes s idias, aos desejos, s
necessidades, aos gostos de toda espcie existentes na populao (...). A revoluo a
liberdade experimentada no ambiente e incorporada nos fatos e dura at quando durar a
liberdade (1975[262], p. 79).
Foucault notou como as prticas de liberao so insuficientes para definir
prticas de liberdade que sero em seguida necessrias para que um povo, uma
177
sociedade e seus indivduos possam dar-se formas plausveis e aceitveis de sua
existncia ou da sociedade poltica. Da a necessidade de insistir muito mais sobre as
prticas de liberdade do que sobre os processos de liberao (FOUCAULT, 2001c, p.
1529). Processos de liberao so por si mesmos insuficientes para definir prticas de
liberdade. Foucault toma o exemplo da sexualidade. Antes do que dizer liberemos
nossa sexualidade, o problema mais urgente procurar definir as prticas de
liberdade atravs das quais seria possvel fazer jogar o prazer sexual, ertico e
amoroso. Esse problema tico da definio das prticas de liberdade , parece-me,
muito mais importante do que a afirmao, um pouco repetitiva, de que preciso
liberar a sexualidade ou o desejo (Id.). Certamente, no possvel a existncia de
prticas de liberdade, ou s possvel que elas existam de modo bastante limitado,
sem processos de liberao. Aqui, processos de liberao desempenham precisamente
o papel de desfazerem estados de dominao nos quais as relaes de poder, ao invs
de serem mveis e de permitir aos diferentes parceiros uma estratgia que as
modifique, encontram-se bloqueadas e cristalizadas (Ibid., p. 1529-1530). Dessa
forma, o processo de liberao funciona como condio histrico-poltica para as
prticas de liberdade. Sem dvida foram necessrios processos de liberao no campo
da sexualidade para que o poder opressivo do macho, do heterossexual etc., fossem
contestados, mas, essa liberao no faz aparecer o ser feliz e pleno de uma
sexualidade em que o sujeito alcanaria uma relao completa e satisfatria. A
liberao abre um campo para novas relaes de poder, as quais se torna necessrio
controlar por prticas de liberdade (Ibid., p. 1530).
a partir dessa noo de prticas de liberdade que preciso entender a
problemtica da organizao anarquista em Malatesta, na medida em que ela aparece
indissocivel de uma problematizao da idia de revoluo. Para Malatesta, a frase
frequentemente pronunciada que afirma a revoluo ser anrquica ou no ser, no
passa de uma frase de efeito, que, se examinada a fundo, no diz nada ou diz um
despropsito. Estou inclinado a crer que o triunfo completo da anarquia, muito mais
178
que por uma revoluo violenta, vir pela evoluo, gradualmente, quando uma
precedente ou precedentes revolues tero destrudo os maiores obstculos militares e
econmicos que se opem ao desenvolvimento moral das populaes, ao aumento da
produo at o nvel das necessidades e dos desejos e harmonizao constante dos
interesses (Ibid., 1975[367], p. 353). Os anarquistas acreditaram durante muito tempo
que uma insurreio bastava por si mesma, e que aps terem sidos vencidos o exrcito
e a polcia o resto, que era o essencial, viria por si. Foi um tempo em que persistiu a
idia segundo a qual a tarefa dos anarquistas a de demolir, e que a reconstruo
seria obra de nossos filhos e netos. Nessa poca pensava-se que a anarquia e o
comunismo poderiam surgir como conseqncias diretas e imediatas de uma
insurreio vitoriosa. No se trata, dizamos, de alcanar um dia a anarquia e o
comunismo, mas de comear a revoluo social com a anarquia e com o comunismo.
necessrio, repetamos nos nossos manifestos, que na noite do prprio dia em que
forem vencidas as foras governamentais, cada um possa satisfazer plenamente suas
necessidades essenciais, provar, sem atraso, os benefcios da revoluo (Ibid.,
1975[377], p. 393-394). Hoje, diz Malatesta, preciso pensar que alm do problema
de assegurar a vitria contra as foras materiais do adversrio, existe tambm o
problema de fazer viver a revoluo aps a vitria. (...) [Porque] uma revoluo que
produzisse o caos no seria vital (Ibid., 1975[367], p. 350-351). Por essa razo
Malatesta atribuiu, digamos, a positividade plena da anarquia nas inmeras prticas de
liberdade que se deram antes, que se do durante e, sobretudo, que se daro depois da
revoluo. aps a revoluo, depois da queda das antigas relaes de poder e do
triunfo das foras insurgentes, que a positividade da anarquia pode jogar plenamente,
porque nesse momento
179
entra verdadeiramente em campo o gradualismo. (...) Intransigentes contra toda imposio
e toda explorao capitalista, ns deveremos ser tolerantes com todas as concepes sociais
que prevaleam nos vrios agrupamentos humanos, desde que no lesem a igual liberdade
e direito dos outros; e deveremos nos contentar de progredir gradualmente, na medida em
que se eleve o nvel moral dos homens e cresam os meios materiais e intelectuais dos
quais dispe a humanidade fazendo isso, claro, quanto mais possamos, com o estudo, o
trabalho, a propaganda, para acelerar a evoluo em direo a ideais sempre mais elevados
(Ibid., 1975[317], p. 197-198).
180
captulo 2:
revoluo e gradualismo revolucionrio
A problemtica da organizao anarquista provoca tambm um
deslocamento importante na percepo do funcionamento da revoluo no anarquismo
de Malatesta. Berti percebeu como Malatesta dividiu os processos de liberao em
dois momentos: o momento insurrecional, de ruptura com a ordem vigente e de
destruio das relaes de poder (polcia, exrcito, prises etc.), e o momento
revolucionrio organizativo, momento pleno de prticas de liberdade. Nessa distino,
ao primeiro momento Berti atribui o ethos do revolucionarismo, agregado militncia
de Malatesta na sua juventude de internacionalista, contido no Programa da
Fraternidade, escrito por Bakunin e aprovado em Saint-Imier em 1872, que colocava
as bases de uma nova Aliana Socialista Revolucionria, sociedade secreta que dava
prosseguimento Aliana da Democracia Socialista, de 1868. Segundo Berti,
Malatesta portar consigo esse ethos do revolucionarismo bakuninista durante os
levantes de 1874 e 1877, que sacudiram a Itlia, nos quais desempenhou papel
protagonista. Ser igualmente reafirmado durante o congresso de Londres, em 1881,
que reconheceu necessrio unir propaganda verbal e escrita a propaganda dos fatos,
considerando que a poca de uma revoluo geral no est distante (BERTI, 2003, p.
95). Revolucionarismo que, em seguida, transformou-se em insurrecionalismo, que
181
desembocar na onda de atentados que se deram durante toda a dcada de 1890 at o
final do sculo. Segundo Berti, o revolucionarismo bakuninista apresentava a
revoluo com tons apocalpticos e messinicos, retirados do catastrofismo de tipo
marxista. J o segundo momento, Berti o interpretou em termos de passividade
poltica. Se verdade que a revoluo sempre incapaz de inaugurar a anarquia, resta
aos anarquistas o papel de favorecer o quanto mais, a causa anrquica atravs da sua
atuao, o que torna evidente, para Berti, o destino da estrutural subalternidade
poltica do anarquismo. De um lado, os anarquistas no podem renunciar ao concurso
de outras foras de inspirao subversiva mas autoritrias, de outro no so capazes de
prosseguir sobre uma estrada de protagonista autnomo (Ibid., p. 762). A revoluo,
com efeito, no supera a pura negatividade da insurreio, e disso resulta que em
Malatesta existe a clara conscincia da natureza negativa do anarquismo (por isso ele
no supera Bakunin), cuja tarefa primeira a de abrir a estrada a uma livre evoluo
da sociedade (Ibid., p. 766).
Parece-me que uma das dificuldades de discutir a revoluo no interior do
anarquismo que o prprio termo revoluo aciona, de maneira quase automtica, o
modelo terico inaugurado pela Revoluo Francesa. Isso tem provocado um certo
nmero de simplificaes, ou de rejeies, do tema da revoluo no anarquismo. Berti,
por exemplo, em sua anlise da revoluo escrita no comeo dos anos 1980, afirmava
o fim do tempo da revoluo a partir da revoluo espanhola, acontecimento que
inaugurou um novo ciclo histrico no qual a revoluo no tem mais lugar, e sustenta
que tal fato obriga a uma reviso dos prprios fundamentos do anarquismo. Para Berti,
a revoluo, a prtica revolucionria, pertence a determinadas formas histricas
especificas, que foram exauridas com o desenvolvimento da histria. Porm, o
problema que a ideologia revolucionria se fixou no tempo, tendo perdido as
formas histricas que a tinham determinado. Resultado: a revoluo foi secularizada
na cabea dos revolucionrios. Em outros termos, a teoria da revoluo se deteve no
sculo XVIII e comeo do sculo XIX. Um atraso enorme, portanto, foi acumulado
182
nos ltimos decnios. Um atraso que hoje pesa e impede seguir adiante (BERTI,
1983, p. 31). A revoluo, segundo Berti, sofre de carncia histrica porque foi
privada de suas formas sociais originrias, a um tal ponto que o fim do socialismo
revolucionrio, nos anos 1980, assinalou, obviamente, tambm o fim (no a crise) de
um certo anarquismo: aquele, precisamente, nascido sob a mesma bandeira (Ibid.,
1986, p. 65).
1. das sedies para a Revoluo
Quero sugerir outra leitura, procurando mostrar que nem a revoluo e nem a
reflexo de Malatesta acerca da revoluo so redutveis ao modelo da Revoluo
Francesa. Para isso, preciso perguntar: qual foi a imagem da revoluo antes da
Revoluo Francesa? Segundo Mona Ozouf, num primeiro momento, no sculo XVIII,
a revoluo comportava pelo menos duas dimenses.
A primeira dizia respeito a um movimento astronmico, e nesse sentido ela
era o retorno de formas que j haviam surgido. A revoluo era sinnimo de perodo,
um movimento que traz as coisas de volta a seu ponto de partida. Na realidade
humana, isso representa o eterno retorno de certas formas polticas j conhecidas. O
modelo astronmico da revoluo solar aplicado s sociedades humanas implicava,
portanto, o retorno a uma condio anterior, implicava um movimento de
irresistibilidade, de ordem e de regularidade, implicava tambm a passividade dos
homens diante de um acontecimento quase natural, no qual eles desempenhavam um
papel unicamente de espectadores e no de atores, e implicava, finalmente, uma
ausncia de novidade, um eterno retorno, uma histria cclica. Por exemplo,
Boulainvilliers, aristocrata francs e defensor da nobreza e do sistema feudal contra a
burguesia, dizia, em 1720, que os imprios crescem e caem em decadncia de modo
to natural quanto a luz do sol ilumina o territrio, e que esse o destino comum de
183
todos os Estados de longa durao, de modo que o mundo no passa de um joguete de
ascenso e queda (cf. FOUCAULT, 1999a, p. 231). A revoluo aparece como um
processo praticamente inevitvel, quase natural e sempre ameaador, que risca fazer
com que os Imprios, Reinados e Estados, aps terem alcanado o znite da histria,
desapaream: o reino babilnico, o Imprio Romano, o Imprio de Carlos Magno,
todos os mais poderosos e gloriosos Estados da histria entraram, um aps o outro,
nessa espiral de decadncia, nessa espcie de ciclo de nascimento, crescimento,
perfeio e, finalmente, declnio e morte. Foi esse ciclo que se chamou revoluo, um
fenmeno natural da vida dos Estados que conduz, aps alcanar o esplendor de sua
existncia, a um processo de decadncia e de morte.
Processo natural e ciclo inevitvel na vida dos Estados. Mas a revoluo,
para alm dessa dimenso um pouco fantstica e milenarista, possuiu tambm outra
dimenso, que funcionou de contrapartida, fazendo a sorte da revoluo depender da
histria dos homens. Contrapartida, portanto, material e imanente ao exerccio do
poder. Essa outra dimenso da revoluo rivalizou com o sentido astronmico: a
revoluo como vicissitudes da existncia humana, como mudanas extraordinrias
sobrevindas nos negcios pblicos, como reveses de sorte na vida das naes. O que
est em jogo no o eterno retorno da revoluo astronmica, mas o aparecimento
brusco e violento da novidade, do imprevisvel e da desordem. Aqui existe um
elemento que joga um papel fundamental. Um elemento que, poderamos dizer,
constituiu a materialidade da revoluo e sua dimenso emprica. Esse elemento que
forma a matria da revoluo a guerra. Mas, no a guerra no seu sentido clssico,
entendida como conflito entre naes beligerantes. No se trata disso. a guerra no
seu sentido vulgar, a pior das guerras, a guerra generalizada, a guerra sem quartel e
sem campanha, a guerra civil. Essa guerra civil, uma guerra que coloca os diversos
elementos de uma sociedade uns contra os outros, uma guerra que no termina com a
vitria, mas que se pereniza nas instituies que ela mesma produziu. essa guerra
que decifra na revoluo o jogo dos desequilbrios, das dessimetrias, das injustias e
184
de todas as violncias que funcionam apesar da ordem das leis, que funcionam sob a
ordem das leis, que funcionam atravs da ordem das leis e graas mesmo a essa ordem
das leis (Ibid., p. 92). Portanto, a revoluo ativa e intensifica essa guerra que no
cessou, e que foi mascarada pelo poder. Porm, a revoluo no apenas ativa, mas
sobretudo busca explicitamente a inverso final e definitiva das relaes de fora que
atuam nela. nessa direo que preciso entender a revoluo como processo de
decadncia e morte dos imprios e dos Estados: porque ela implica, ela ativa e ela
intensifica, at um ponto mximo, essa relao belicosa, e a converte em elemento
determinante, evidente, imanente e normal da vida dos Estados e, ao mesmo tempo,
constituinte da revoluo.
Na sua dimenso como vicissitudes dos negcios humanos, a revoluo no
seria nada mais do que a outra face de uma guerra que teria sua face permanente na lei,
no poder e no governo. A lei, o poder e o governo so a guerra, uma guerra de uns
contra os outros. Da a revoluo aparecer necessariamente como o reverso de uma
guerra que o governo no parou de travar. Se o governo a guerra de uns contra os
outros; a [revoluo] vai significar a guerra dos outros contra uns (Ibid., p. 129).
Como notou Foucault, essa espessura guerreira das revolues figura de
maneira evidente nos Ensaios de Francis Bacon, escritos em 1625, e serve para marcar
bem a distino que separa a revoluo como era entendida antes da Revoluo
Francesa, no sculo XVII, da revoluo como ser vista a partir do sculo XVIII. Entre
os seus 59 pequenos ensaios, Foucault (2004b, p. 273) chamou ateno para aquele
intitulado Das Sedies, ao que acrescento, aqui, outro, intitulado Do Imprio. No
primeiro, Bacon define as sedies como sendo fenmenos normais, naturais e
imanentes vida dos Estados. Utilizando uma definio interessante, chama as
sedies de tempestades de Estados, e diz que s possvel aos governos prever a
poca de suas tempestades prestando ateno aos seus primeiros sinais de desordens,
tais como os discursos licenciosos contra o Estado, os libelos contra a ordem pblica
etc. Bacon insiste que essas tempestades de Estado, assim como as tempestades de
185
equincio, so ainda mais violentas quando se preparam nos perodos de calma e de
paz: as sedies preparadas sob o silncio da paz civil so as que causam maiores
danos para o Estado.
Tal como as tempestades, as sedies possuem tambm sua materialidade.
As matrias das sedies constituem o que Bacon chamou de elemento inflamvel, seu
material combustvel, e so dois: primeiramente, a indigncia, um estado de
indigncia excessiva, um nvel de pobreza que deixa de ser suportvel: as rebelies de
barriga so as piores (BACON, 2007, p. 52). Em seguida, existem os fenmenos de
descontentamento que so independentes do estmago, porque so da ordem da
opinio, e representam para o corpo poltico o que os humores so para o corpo
natural, do origem febre e inflamao (Id.). Bacon insiste em que nenhum Estado
est ao abrigo dos descontentamentos, visto que eles freqentemente permanecem por
muito tempo destitudos de perigo, acumulando-se silenciosamente.
Assim, fome e opinio so os materiais combustveis das sedies. Mas so
materiais combustveis que necessitam ser ascendidos pelo que Bacon chamou de
casualidade das sedies. So as casualidades que constituem os materiais flamejantes,
espcies de labaredas atiradas sobre a indigncia e o descontentamento, os materiais
combustveis. Porm, essas casualidades, as labaredas que fazem arder as sedies, so
inmeras, mltiplas e principalmente so imprevisveis. Tanto que Bacon insiste que
os remdios contra as sedies sejam empregados contra seus materiais combustveis,
a fome e a opinio, e no contra suas casualidades. Porque as causas ocasionais podem
ser to numerosas e to ocasionais que quando uma remediada, rapidamente outra
toma seu lugar. Por exemplo, Bacon dir que as sedies podem ser provocadas
simplesmente por uma inovao no campo religioso, ou por um aumento nos
impostos, ou por uma alterao nas leis e nos costumes, ou por opresses, ou pela
quebra de privilgios, enfim, por tudo aquilo que ofendendo as pessoas, une e tece-as
numa causa comum (Ibid., p. 53). Da que o modo mais seguro de prevenir as
sedies seja o de priv-las de sua substncia inflamvel, visto que difcil contar de
186
onde vir a fasca que as incendiar (Ibid., p. 52). dessa forma que Bacon prope
conjugar o desenvolvimento do comrcio com uma liberdade moderada como modo de
evaporar pesares e descontentamentos (Ibid., p. 55).
Seja como for, os Estados no esto jamais isentos de suas tempestades, seja
porque as sedies so inevitveis ou simplesmente porque evitar as sedies, diz
Bacon (Ibid., p. 65), seria como dominar a fortuna. Mas, de onde vem essa
inevitabilidade das sedies? As sedies so inevitveis, segundo Bacon, porque
procedem de uma dificuldade inerente aos negcios dos governos. Bacon diz que os
governos devem saber de antemo se negligenciaro e toleraro o preparo de
desordens, visto que ningum capaz de proibir as fascas ou de saber de onde elas
viro. Os exemplos que Bacon fornece para ilustrar essa problemtica so bem
interessantes. Ele afirma que um rei sempre obrigado a lidar com seus vizinhos, com
suas esposas, com suas crianas, com seus padres, seus comerciantes, seu povo e seus
soldados; de todas essas relaes brotam perigos para o exerccio do poder do rei.
Assim, existe sempre o perigo de que os Estados vizinhos cresam, seja por um
aumento de territrio, seja pela expanso de seu comrcio, seja por avanos na
indstria e nas cincias, tornando-se com isso mais ameaadores do que j eram. Nesse
sentido, prefervel a guerra do que uma paz precria. As esposas dos soberanos so
tambm frequentemente perigosas, e a histria repleta de exemplos cruis em que
elas, sobretudo as adlteras e as movidas pela ambio de tornar rei o prprios filho,
constituram um perigo letal para os homens do poder: a histria de Lvia Drusilla
Claudia, que teria envenenado seu marido, o Imperador Romano Tibrio. tambm o
caso de Roxalana, que provocou a runa do Sulto Mustaf, ou ainda como fez a rainha
Isabel daa Frana, que deps e assassinou seu prprio marido, o rei da Inglaterra
Eduardo II. E tambm as crianas dos soberanos podem representar um grande perigo,
e ainda aqui a histria repleta de exemplos em que a suspeita entre reis e seus filhos
provocou grandes tragdias. Os padres so um perigo para os reis, na medida em que
187
buscam opor a cruz espada. E, enfim, sempre pode ser fontes de instabilidade
poltica os homens de comrcio, os soldados e, sobretudo, o povo.
Esse perigo inerente aos negcios dos soberanos, que Bacon entrev at
mesmo na relao entre pais e filhos, o perigo da dominao, o perigo advindo de
um tipo de relao de poder cujo comeo remonta ao estampido do canho e ao sangue
das batalhas. o perigo de um tipo de poder que contm nele mesmo esse elemento
evocado por Bacon e que causador de instabilidades. Elemento que traz para o
interior dos Estados a possibilidade perpetuamente presente da revoluo, que faz da
revoluo um elemento da vida cotidiana e normal dos Estados: esse elemento a
guerra. Da a existncia, no prprio interior dos Estados, de uma espcie de
virtualidade intrnseca, constituda pela ocorrncia sempre provvel de revolues.
Porque, afinal, diz Bacon, os prncipes so como os corpos celestes que trazem
tempos bons ou maus; [so] objetos de muita reverncia, mas sem descanso (Ibid., p.
68).
O que evidente em Bacon que revoluo e guerra foram um dia
indissociveis; foi essa guerra que a Revoluo Francesa tratou precisamente de
pacificar, eliminando esse elemento belicoso e o perigo que ele acarretava para o
Estado. Isso de duas maneiras.
De um lado, a revoluo Francesa se apresentou como acontecimento
inaugural, quer dizer, fixou a idia de que s o inicial funda. Esse inicial que a
Revoluo Francesa instaurou foi os direitos do Homem: se esses direitos foram
constantemente ultrajados no curso da histria, preciso, portanto, romper com todos
os antecedentes histricos e, ao invs de reatar a cadeia dos tempos, [ preciso sair]
da histria para embarcar coletiva e exaltadamente em direo a uma nova terra, a um
comeo absoluto (OZOUF, 1989, p. 843). Assim, se o objetivo da Revoluo
Americana foi simplesmente o de libertar-se de uma aristocracia estrangeira, a
Revoluo Francesa teve como tarefa sacudir uma aristocracia domstica.
188
Os americanos s tinham de recusar a tributao de homens que viviam a 1.500 lguas de
distncia, enquanto os franceses tinham de recusar o sistema fiscal por meio do qual alguns
dentre eles esmagavam os outros. Nos Estados Unidos, a revoluo s desatava um lao
muito frouxo e devia conservar muito, como o procedimento em matria penal, por
exemplo. Na Frana, a revoluo devia desfazer ns muito bem atados e nada tinha a
conservar. Foi por isso necessrio, explica Condorcet, remontar a princpios mais puros,
mais precisos, mais profundos. Os franceses, ao contrrio dos americanos, tiveram de
declarar seus direitos antes de possu-los. Tiveram de subverter uma sociedade que os
americanos conservavam. A Revoluo Francesa, diferentemente da Revoluo
Americana, foi, portanto, uma re-fundao, no apenas do corpo poltico, mas do corpo
social (Ibid., p. 843-844).
Esse comeo absoluto a negao, ou melhor, a inverso da histria cclica
revolucionria, que consistia em tomar como referencia uma origem primeira, fazendo
jogar na reconstituio dessa origem o restabelecimento de antigos direitos que foram
perdidos em batalhas incessantes. Com isso, a histria da revoluo no mais cclica,
mas retilnea: ela parte de um presente positivo e regressa para um passado negativo
para declarar o fim da era das opresses, contrariamente velha revoluo, que partia
de um presente negativo de opresses para pretender e reclamar o retorno de
liberdades e direitos usurpados. O presente na velha revoluo, como dizia Bacon, era
um momento de calma apenas aparente, era um momento sempre ameaado pela
virtualidade da guerra civil ou pelas tempestades de Estado. J na Revoluo Francesa,
o presente um momento de ruptura radical, o dia ou a grande noite dos povos, que
finalmente inaugura sobre a Terra o imprio da igualdade, da liberdade e da
fraternidade entre os homens.
Mas o presente na Revoluo Francesa no somente um momento positivo
e nico, tambm um acontecimento total, no sentido em que, doravante, a revoluo
no pode mais designar o movimento parcial de uma nao insurgida, a revoluo no
pode ser mais a guerra civil, a guerra entre classes, com suas subverses singulares e
suas catstrofes polticas particulares. A revoluo, aps a Revoluo Francesa, obra
de um povo inteiro, e no a realizao de alguns. Ocorre, portanto, uma abertura para o
universal atravs da qual a Revoluo Francesa elimina todas as desordens de seu seio
e se pretendeu fundadora de ordem. A partir disso, a revoluo passou a ser um
189
empreendimento constituinte (cf. FOUCAULT, 1999a, p. 265). Surge a idia de nao,
presente tanto em Sieys, quanto em Condorcet, um dos principais homens da
Revoluo. Condorcet queria eliminar aquilo que considerava o perigo mais premente
do governo representativo, o direito que o povo de Paris reivindicava de exercer
diretamente a soberania mediante a violncia da insurreio. Era preciso, portanto,
legitimar os protestos de modo a impedir as revolues, e para isso foi necessrio dar
ao povo a facilidade de fazer revolues dentro de uma via legal e pacfica. Fazendo
isso, diz Condorcet, j no haveria pretexto para movimentos, uma vez que tais
movimentos s poderiam ser feitos por uma parte contra o todo. Resolvia-se portanto
de modo constitucional o problema da insurreio, mediante uma clusula que previa
uma revoluo legal permanente (BAKER, 1989, p. 235). Ozouf mencionou tambm
a maneira pela qual o governo revolucionrio procurou operar, atravs da polcia, a
passagem do mal ao bem, da corrupo probidade, dos maus aos bons costumes.
Saint-Just, no seu relatrio sobre a polcia geral, faz depender o acabamento da
Revoluo de uma transformao radical dos coraes e dos espritos. Cumpre que
cada cidado experimente e opere em si mesmo uma revoluo igual que mudou a
fisionomia da Frana (OZOUF, 1989, p. 847-848). Revoluo como processo de
converso e salvao dos indivduos.
Enfim, a Revoluo Francesa recobriu a revoluo com essas duas
estratgias de pacificao: de um lado, a ruptura com um passado que era portador da
memria de antigas batalhas, de uma memria que fazia a soberania e o direito
aparecerem fundados sobre sditos vencidos que preferiram viver e obedecer na paz
tolerada dos vencedores, e, de outro, a inveno da sociedade, do social como unidade,
como corpo, como organismo, como conjunto dotado de universalidade, como Estado.
Essa unidade mtica, o povo, a nao, baniu a guerra do seu seio e mobilizou o todo
contra as partes facciosas, excluindo ou imobilizando os elementos que impediam ou
perturbavam a paz social. A poltica no mais a realidade de mil batalhas particulares
e cotidianas entre soberano e sditos, mas fruto do jogo democrtico. A revoluo
190
aparecer finalmente como mera substituio dos homens no poder, quase como um
duplo do modelo jurdico do contrato, que institui novo direito e regime poltico, e
ambos reconduzem o poder.
Um pouco mais tarde, no fim do sculo XIX, encontram-se Lombroso e
Laschi, descrevendo a revoluo em oposio s revoltas, para definir os
fundamentos do crime poltico. Segundo ele, porque o progresso orgnico e moral s
ocorre de modo lento, so definidos como crimes polticos todos os atos em favor do
progresso que se manifestem por meios demasiados bruscos e violentos. Desse modo,
quando se constituem como necessidade para uma minoria oprimida, em linha
jurdica, eles so um fato anti-social e, consequentemente, um crime (LOMBROSO
& LASCHI, 1892, p. 49). A partir desse fundamento possvel distinguir entre as
revolues propriamente ditas que so um efeito lento, preparado, necessrio, s
vezes at tornado um pouco rpido por qualquer gnio neurtico ou por qualquer
acidente histrico e as revoltas ou sedies, que seriam uma incubao precipitada,
voltada, por si mesma, a uma morte certa (Id.). Vejamos as distines.
A primeira delas bem simples: a revoluo a expresso histrica da
evoluo. Assim, estando dados em um povo uma ordem de coisas, um sistema
religioso, cientfico, que no esteja mais em relao com as novas condies, os novos
resultados polticos etc., ela transforma essa ordem de coisas com um mnimo de atrito
e com o mximo de sucesso (Ibid., p. 50). o que explica que as eventuais sedies
que uma revoluo provoca desapaream to rapidamente quanto nasceram, pois essas
sedies so, no fundo, a ruptura da casca pelo pintinho amadurecido (Id.). A
revoluo , portanto, um movimento graduado, e aqui est a razo de seu sucesso,
porque, ento, o movimento tolerado e sofrido sem comoo, ainda que,
frequentemente, uma certa violncia torne-se necessria contra os partidrios do
velho (Id.).
A revoluo um fenmeno extenso, geral e seguido por todo um povo. As
sedies, ao contrrio, so sempre parciais, obras de um grupo limitado de castas ou
191
de indivduos; as classes elevadas no tomam partido quase nunca das sedies; todas
as classes tomam partido da revoluo, sobretudo as classes elevadas, quando elas no
esto em causa, bem entendido. E mesmo que na maioria dos casos, a revoluo
tenha sido a obra de um pequeno nmero, tratou-se sempre de um pequeno nmero
que fareja, que pressente um sentimento universalmente latente. em razo desse
faro que esses poucos pioneiros se multiplicam em razo direta do tempo, um tempo
que pode durar sculos (Id.). Foi assim que os Plebeus lutaram contra Roma pela sua
liberdade durante 250 anos; os apstolos de Cristo que eram doze, 150 anos depois,
somente nas catacumbas romanas contaram-se 737 tumbas crists; mais tarde, no
tempo do imperador Cmodo, chegaram a 35.000.
As sedies no somente respondem a causas pouco importantes,
frequentemente locais ou pessoais, mas esto ligadas geralmente ao lcool e ao clima,
e so privadas de ideais elevados, acontecem entre as populaes menos
desenvolvidas, entre as classes menos cultivadas e entre o sexo mais frgil. Tambm
os criminosos tomam seu partido mais frequentemente do que as pessoas honestas. A
revoluo, ao contrrio, aparece sempre raramente; jamais entre os povos pouco
avanados e sempre por causas muito graves, ou por ideais elevados; nelas, os homens
passionais, quer dizer, os criminosos por paixo ou os gnios, tomam parte mais
frequentemente do que os criminosos ordinrios (Ibid., p. 52).
Finalmente, as verdadeiras revolues so conduzidas e suscitadas pelas
classes intelectuais. No o brao, a idia que ocasiona transformaes profundas e
durveis na organizao dos Estados. Quando somente o brao se agita, provoca
tumulto e no revolues
(Ibid., p. 53). Do que concluem Lombroso e Laschi: as
revolues so fenmenos fisiolgicos; as revoltas fenmenos patolgicos. Por isso as
primeiras no so jamais um crime, porque a opinio publica as consagra e lhes d
razo, tanto que as segundas, ao contrrio, so sempre, se no um crime, pelo menos
seu equivalente, porque elas so o exagero de rebelies ordinrias (Ibid., p. 55).
192
Esse discurso, que pode parecer a primeira vista um tanto exorbitante e
ingnuo, no deixou de ter efeitos polticos importantes. No se deve esquecer que no
sculo XIX, quando a onda de agitao dos anarquistas toma conta da Europa e da
Amrica, a burguesia, que se perguntava perplexa sobre as razes desses atentados
polticos declaradamente desinteressados pelo poder, encontrou no discurso
extravagante da antropologia criminal uma primeira resposta. Seja como for, nesse
discurso a revoluo retomada claramente como resultando da pacificao e da
hierarquizao das agitaes revolucionrias e pensada como troca jurdica de
soberanias. Uma concepo diametralmente oposta de Bacon. Na ordem do poltico,
a revoluo cessou de ser o declnio dos imprios, a queda da monarquia, o fim do
poder real. A burguesia encerrou-a nesse esquema circular que renova a dominao a
cada ciclo sob diferentes formas: do povo, do proletrio, do partido, do operrio.
2. insurreio e evoluo
Quero sugerir um tipo de anlise que, ao contrrio de supor a passividade ou
a subalternidade do poltico, toma em considerao o fato de que foram precisamente
os anarquistas que, negando diretamente a pacificao da revoluo, procuraram
retomar incessantemente a guerra civil, ou a guerra social, como sendo seu elemento
constituinte. Quero propor que as reflexes de Malatesta sobre a revoluo so
indissociveis desse contexto, estabelecendo com ele pontos importantes de dilogo,
de crtica, de oposio e de deslocamentos.
Malatesta rejeita de maneira muito explcita essa estratgia da burguesia que
pretendeu pacificar a revoluo. Em 1897, no artigo Esclarecimento, publicado no
LAgitazione, afirma mais do que nunca a necessidade da revoluo. Mas, insistia,
no no sentido cientfico da palavra, pelo qual frequentemente intitulam-se
revolucionrios at mesmo os legalitrios, mas no sentido vulgar de conflito
193
violento, no qual o povo se desembaraa, com a fora, da fora que o oprime, e realiza
os seus desejos fora e contra toda legalidade (MALATESTA, 1982[12], p. 134). Para
Malatesta, no preciso dizer que a revoluo inevitvel; basta convir que ainda no
chegou aquela idade de ouro em que se pode dizer que a revoluo est excluda da
histria. Muitas revolues ocorreram e poder ocorrer outra. Desejo-a para amanh, o
Sr. a deseja para daqui a mil anos, mas, em suma, a revoluo pode ocorrer (Ibid.,
1975[238], p. 304). Segundo Malatesta, a nrevoluo na concepo burguesa, como,
por exemplo, a queriam Lombroso e Laschi, no passa de uma profunda
transformao de toda a vida social que j comeou, e que durar sculos e sculos.
Mas, a revoluo tomada nesse sentido aparece simplesmente como
sinnimo de progresso, sinnimo de vida histrica, que atravs de mil epopias coloca a
termo, se os nossos desejos se realizarem, o triunfo total da anarquia em todo o mundo. E
nesse sentido, revolucionrio Bvio, e so revolucionrios tambm Treves e Turati, e at
mesmo o prprio dAragona. Quando se coloca como condio os sculos, qualquer um
vos conceder tudo aquilo que quiseres. Porm, quando falamos de revoluo, quando de
revoluo fala o povo, do mesmo modo quando se fala de revoluo na histria, entende-se
simplesmente insurreio vitoriosa. As insurreies sero necessrias at quando existir
um poder que, com a fora material, coaja as massas obedincia; e provvel,
infelizmente, que insurreies devero acontecer muitas antes de que se conquiste aquele
mnimo de condies indispensveis para que seja possvel a evoluo livre e pacfica, e a
humanidade possa caminhar, sem lutas cruis e sofrimentos inteis. (Ibid., 1975[218], p.
202)
Em 1885, Malatesta escreve um longo artigo intitulado Evoluo ou
Revoluo? no jornal La Questione Sociale, publicado em Buenos Aires. Nele, essa
problemtica aparece muito cedo e com bastante fora. Diz que muito freqente
ouvir repetir pelos adversrios do socialismo que seu triunfo no deve ser procurado
na revoluo, mas, ao contrrio, na evoluo lenta. Eles dizem que porque a revoluo
faz vtimas, cria dios entre vencedores e vencidos, torna impossvel atuar o
socialismo, visto que o socialismo pretende a paz e a felicidade humana. J a evoluo,
oposta revoluo, propicia o tempo, se no a todos, ao menos para a maioria, de
persuadir-se do quanto justo o programa socialista, programa que ser realizado
pouco a pouco, mas estavelmente. Enfim, dizem que a evoluo, no criando a
194
necessidade de lutas violentas, evita os dios de classe, habitua os homens a se
amarem, a se respeitarem reciprocamente e, portanto, torna inevitvel o triunfo do
socialismo (Ibid., 1885b). Assim, pretende-se que a revoluo alm de ser nociva ao
triunfo do socialismo, tambm o torna impossvel. Para Malatesta, a questo muito
simples, e basta perguntar: os socialistas tm a escolha entre revoluo e evoluo?
Ou as condies sociais hodiernas no impem (...) a via, o mtodo a seguir?
Segundo Malatesta, para responder essa questo preciso examinar a respectiva
posio dos diversos combatentes da luta social, para ver se entre eles possvel uma
discusso pacfica, acadmica, ou se, ao contrrio, a questo apenas pode ser resolvida
com uma luta cruenta, violenta, se a condio sine qua non do triunfo do socialismo
no a destruio completa da classe privilegiada, da classe burguesa (Id.).
Qual a posio dos trabalhadores: eles vivem na indigncia, na mais
terrvel misria, sofrem a fome, o frio e toda sorte de insultos de seus patres. Quando
doentes ou incapazes pela velhice, pelo trabalho, so jogados na sarjeta como
instrumentos lgubres e inteis, obrigados a uma vida de hospital, e suas filhas
obrigadas a se prostiturem para matar a fome de sua famlia. Trabalham nas minas
durante longussimas horas e, de quando em quando, uma exploso faz sua catacumba.
Trabalham nas indstrias, e quando uma mquina no lhes decepa uma perna ou um
brao, as escassas condies higinicas lhes retiram a vida em poucos anos. Trabalham
nas manses burguesas e no raro carem de uma janela e terem o crnio esmagado
no cho. Trabalham nas ferrovias e no alto de montanhas, e quando uma rocha no os
esmaga, aps um trabalho extenuante, vegetam sob um monte de feno transformado
em leito. Trabalham nos campos produzindo os alimentos necessrios, e quando no
morrem de fome morrem, de pelagra ou de febre amarela, e seus filhos nascem
estpidos ou enlouquecem. Sulcam os oceanos para a navegao dos grandes
negcios, e quando no servem de comida aos tubares, so tratados como nos antigos
navios negreiros.
195
Em suma, proletrios e burgueses so antpodas um do outro. O proletrio
o escravo, a coisa do burgus, enquanto esse o senhor absoluto de tudo e de todos
(Ibid., 1885d). Na Antiguidade, os senhores costumavam se divertir com os escravos,
enviando-os arena para combater contra bestas ferozes. Na modernidade no existem
escravos morrendo para a diverso de seus patres, morrem de um trabalho extenuante
para sustentar a riqueza e o prazer dos burgueses. Os escravos antigos morriam de
feridas, os escravos modernos morrem de fome. Todo o sangue derramado pelos
soldados da revoluo no perodo entre a Antiguidade e a Idade Moderna no realizou
mais do que uma mudana na maneira de morrer, porm as condies de vida do
proletariado permaneceram as mesmas: a escravido abolida de direito, existe sempre
de fato (Id.). Na escravido moderna no so mais as leis sociais os instrumentos de
dominao, mas as leis econmicas e a fora da misria. Antes era-se escravo porque
as leis de ento colocavam em escravido uma certa parte do povo que era reputada
inferior em relao aos outros, e os prisioneiros de guerra; hoje, ao contrrio, a lei
proclama todos livres e iguais, mas a misria e a fome rendem os pobres escravos
daqueles que possuem toda riqueza social (Id.). Porm, coisa mais grave, o escravo
antigo custava dinheiro, e por isso era bem nutrido e cuidado para que tivesse uma
vida longa e til; j o escravo moderno nada custa ao burgus. Para um capitalista,
um cavalo qualquer ou qualquer outra besta representa um valor; um trabalhador, qual
valor representa? Nenhum. Morto, mil outros disputaro entre si para ocupar o lugar
vago, e os burgueses no tm outro trabalho que o de escolher aquele que, pela fome,
se oferece ao mais baixo preo (Id.). Pelo mesmo motivo, um operrio vale menos
que uma mquina. A manuteno de uma mquina certamente mais custosa do que a
manuteno de um operrio, a quem se paga um salrio derrisrio e a quem,
consumido seu organismo pelo trabalho, fcil despejar no hospital.
196
Hospital! Quem escreve viu com os prprios olhos, em uma cidade da Frana, um pobre
operrio sardo, consumido por uma longa doena, jogar-se do terceiro andar estourando o
crnio sobre a calada. Sua doena, por mais grave, podia curar-se e, no possuindo os
meios necessrios, recorreu liberalidade burguesa, solicitou sua entrada no hospital: sua
solicitao foi recusada porque ele convivia com uma mulher sem t-la esposado
legalmente!!! Eis o que a liberalidade burguesa (Id.).
Qual diferena, portanto, pode existir entre escravido antiga e moderna?
Sujeio econmica e, consequentemente, poltica e social, havia em ambas, mudou-se
apenas o grau de sofisticao: antigamente se dizia em voz alta ao escravo: tu me
pertences e farei o que quiser; tenho sobre ti o direito de vida e de morte. Enquanto o
escravo moderno proclamado cidado (...) e declarado livre. Assim, entre a
escravido antiga e moderna existe uma diferena, uma nica: o jesuitismo, a
astcia dos patres hodiernos, que fazem passar por livre aquele que o mais escravo
dos escravos (Id.).
Respondendo uma afirmao segundo a qual a revoluo deveria ser
entendida como mudana integral e durvel, e no como sublevaes populares
parciais, que so, no fundo, revolues abortadas. Malatesta dizia que necessrio
entender-se sobre o significado da palavra revoluo. Mudana integral e durvel,
sim, porm, preciso acrescentar, realizada atravs da violao da legalidade, o que
quer dizer, por meio da insurreio (Ibid., 1889d). Malatesta insistia na necessidade
de distinguir aquilo que se deve fazer revolucionariamente, ou seja, sbito e pela
fora, daquilo que ser conseqncia de uma evoluo futura, e que ser deixado
livre vontade de todos (Ibid., 1889a). Tinha a clara percepo de que a palavra
evoluo tinha sido estrategicamente tomada em sentido genrico de transformao
para afirmar um fato geral da natureza e da histria, discutvel no campo da cincia,
mas que tinha se tornado indiscutvel no campo da sociologia; foi tomado no sentido
de mudana lenta, gradual, regulada por leis fixas no tempo e no espao, que exclui
todo salto, toda catstrofe, qualquer possibilidade de ser apressada ou retardada e,
sobretudo, de ser violentada e dirigida pela vontade humana num sentido ou em outro,
e assim procura-se contrapor evoluo palavra e idia de revoluo (Ibid., 1913e).
197
Mas, pelo fato de que a sociedade atual se mantm com a fora das armas, pelo fato
de que jamais nenhuma classe oprimida conseguiu emancipar-se sem recorrer
violncia, assim como jamais as classes privilegiadas renunciaram a uma parte,
ainda que mnima, de seus privilgios, se no pela fora, por medo da fora. Tambm
porque as instituies atuais so de tal modo que parece impossvel transform-las
pela via de reformas graduais e pacficas, enfim, tem-se a necessidade de uma
revoluo violenta que, violando e destruindo a legalidade (...) impe-se. A
obstinao, a brutalidade com a qual a burguesia responde a toda andina exigncia do
proletariado, demonstra a fatalidade da revoluo violenta. Portanto, lgico e
necessrio que os socialistas, especialmente os anarquistas, prevejam e apressem a
revoluo (Ibid., 1982[2], p. 69). Assim, para Malatesta preciso tomar a revoluo
em termos de conflito que, porm, no assume as caractersticas da luta de classes
marxista: dizer que admito a luta de classes como dizer que admito o terremoto ou a
aurora boreal. um fenmeno que existe, um fenmeno til, um fenmeno
necessrio. At quando existiro classes exploradoras, classes dominantes, e existirem
classes exploradas e oprimidas, natural (...) que a luta entre as duas classes se
estabelea (Ibid., 1975[238], p. 305).
Essa concepo vulgar de Malatesta tem efeitos importantes. Um deles
que nela o tempo revolucionrio no est localizado fora da existncia ordinria, mas
apresenta-se como fato pertencente vida cotidiana. Nesse sentido, a revoluo
tambm uma evoluo, mas no se trata da evoluo como queriam Lombroso e
Laschi, e sim de uma
espcie de evoluo que mais corresponde aos fins do socialismo e que, portanto, os
socialistas devem promover. A revoluo no passa de um resultado da evoluo; modo
rpido e violento que se produz espontaneamente, ou que provocado, quando as
necessidades e as idias resultantes de uma evoluo precedente no encontram mais
possibilidade de se realizarem ou quando os meios aambarcados por alguns provocam na
evoluo um efeito de tal modo regressivo que necessrio a interveno (...) de uma fora
nova: a ao revolucionria (Ibid., 1982[9], p. 103).
198
Trata-se de uma concepo na qual no cabe o Sujeito revolucionrio, seja
em termos de nao, classe, sociedade ou partido, um Sujeito, enfim, que seria
portador dos valores do universal: a fora revolucionria, efeito da luta entre governo e
governados, pode tomar circunstancialmente e estrategicamente uma forma global,
mas afirma sempre particularidades, ao constituir, como disse Malatesta, mirades de
agrupamentos livres conformes s idias, aos desejos, s necessidades e aos gostos dos
indivduos. Finalmente, e como efeito mais importante, uma concepo que rompe
com o crculo da Soberania, no qual a revoluo encontra-se encerrada desde a
Revoluo Francesa. O que esse ciclo da Soberania? Vimos que a Revoluo
Francesa, na qualidade de acontecimento nico e completo, teve por objetivo ordenar
todos os afrontamentos, rebelies e resistncias que atravessavam interminavelmente a
sociedade. A Revoluo Francesa teve a tarefa de comandar as desordens em um
movimento que fez da poltica no mais a realidade de mil batalhas particulares e
cotidianas entre governo e governados, entre Soberano e sditos, mas uma atividade
pacfica resultante do exerccio democrtico. Ento, o triunfo da revoluo, a vitria
revolucionria, se realiza pela mera substituio dos homens no poder. A revoluo
termina quando um novo regime de poder instaurado. A vitria o momento pleno,
solene, inaugural e constituinte da revoluo. isso que poderamos chamar de ciclo
da Soberania, um ciclo no qual a Soberania passa de revoluo em revoluo.
Muito pelo contrrio, para Malatesta a vitria material no possui nenhuma
positividade, e vimos como ele insistiu que a insurreio e os meios para destruir so
coisas meramente contingentes. Da decorre que a aposta anarquista recaia sobre a
concretude das pequenas lutas parciais e imediatas, como portadoras de prticas de
liberdade: Sempre discursando contra toda espcie de governo, sempre reclamando a
liberdade integral, ns devemos favorecer todas as lutas pelas liberdades parciais,
convencidos de que na luta aprende-se a lutar e que iniciando a gozar de um pouco de
liberdade termina-se por quer-la na sua totalidade (Ibid., 1975[223], p. 234).
Malatesta fez das pequenas lutas parciais uma das dimenses mais importantes da
199
anarquia. Razo pela qual preciso evitar de tomar sua noo gradualista em termos
de pacificao. Parece-me, ao contrrio, que seu desenvolvimento est muito mais
ligado a uma necessidade de combater a tendncia jacobina, que se mostrou
necessariamente inerente revoluo concebida como simples processo de liberao.
Como notou Gaetano Manfredonia, a partir da dcada de 1920, com o
fracasso da revoluo russa e a chegada ao poder do fascismo como nova fora
reacionria, o movimento libertrio conhece uma grande crise, que implicou o
questionamento de um grande nmero de certezas, entre as quais a confiana quase
mstica no lan revolucionrio espontneo das massas (MANFREDONIA, 2005, p.
7). Nessa poca, Nestor Makhno e Piotr Archinov, exilados em Paris juntamente com
um grupo de anarquistas russos aps a derrota do movimento makhovista, na Ucrnia,
pelo exrcito de Trotsky, comeam, a partir do vero de 1925, a publicao de uma
srie de estudos dedicados s questes da organizao na revista Dielo Trouda. Em
1926, esse grupo de exilados russos lana a necessidade, para os anarquistas que
combatem pela emancipao do proletariado, de colocar termo, custe o que custar,
disperso e desorganizao reinante em nossas fileiras que destroem nossas foras e
nossa obra libertria (GROUPE, 2005a, p. 23). E o grupo lana tambm a
necessidade de uma base ou plataforma para essa organizao, apresentada nesse
mesmo ano. Nela afirmava-se que o anarquismo no uma bela fantasia, nem uma
idia abstrata de filosofia; um movimento social de massas trabalhadoras, o que
colocava a exigncia da realidade e a estratgia da luta de classes (Ibid., 2005b, p.
30). Na parte organizacional, a plataforma postulava a unidade terica, a unidade ttica
e a responsabilidade coletiva, essa ltima destinada a combater contra a ttica do
individualismo irresponsvel, e postulava a prtica segundo a qual a Unio inteira
ser responsvel da atividade revolucionria e poltica de cada membro; assim como,
cada membro ser responsvel da atividade revolucionria e poltica de toda Unio
(Ibid., p. 57). A essa proposta, outro grupo de exilados russos, dentre os quais Voline,
reservou uma forte crtica, acusando os autores da plataforma de sonharem uma
200
organizao centralista e condutora: um partido, que estabeleceria no anarquismo
uma linha geral para todo o movimento. E afirmaram no acreditar que a
organizao possa curar e recobrir todos os males, e que nem seja ela que possa,
precisamente e em primeiro lugar, nos desembaraar de todos nossos defeitos, em
resumo, no exagerando seu alcance, ns no vemos nem necessidade nem utilidade
para que se faa, em favor da organizao, o sacrifcio dos princpios (VOLINE et al.,
2005, p. 78).
Entre os crticos da plataforma encontrava-se Malatesta, com uma crtica
virulenta, comparando o projeto da plataforma a um governo e uma igreja. Faltam-
lhe, verdade, a polcia e as baionetas, como faltam-lhe os fiis dispostos a aceitarem
a ideologia ditada, mas isso quer dizer simplesmente que o seu governo seria um
governo impotente e impossvel, e a sua igreja seria um viveiro de divises e de
heresias. O esprito, a tendncia permanece autoritria e o efeito educativo seria
sempre anti-anrquico (MALATESTA, 1975[357], p. 304). Ainda mais dura foi sua
crtica ao princpio da responsabilidade coletiva contido na plataforma. Ele se pergunta
o que uma tal expresso pode significar na boca de um anarquista.
Sei que entre militares separa-se um grupo de soldados que se rebelou ou que se conduziu
mal face ao inimigo, fuzilando indistintamente aqueles que a sorte designa. Sei que os
chefes de um exrcito no tm escrpulos em destruir um vilarejo ou uma cidade e
massacrar toda a populao durante a invaso. Sei que em todas as pocas os governos tm
de vrias maneiras aplicado o sistema da responsabilidade coletiva para frear os rebeldes,
exigir impostos etc. E compreendo que esse pode ser um meio eficaz de intimidao e de
opresso. Mas como possvel falar de responsabilidade coletiva entre homens que lutam
pela liberdade e pela justia, e quando s se pode tratar de responsabilidade moral (Ibid.,
1975[358], p. 313).
Por isso, para Malatesta se a responsabilidade coletiva no representa
submisso cega de todos vontade de alguns, ela um absurdo moral em teoria e a
responsabilidade geral na prtica (Ibid., 1975[359], p. 318-319). Para os anarquistas,
no pode existir outra coisa que no seja responsabilidade moral, e ela sempre
individual por sua natureza. Somente o esprito de dominao, nas suas diversas
201
manifestaes polticas, militares, eclesisticas etc., pode considerar responsveis os
homens disso que eles no fizeram voluntariamente (Ibid., 1975[359], p. 319).
Todavia, de maneira muito significativa, Malatesta procura as razes do que
poderia ter produzido o fenmeno do plataformismo no anarquismo. Segundo ele, o
trao comum que marca os autores do chamado plataformismo uma certa obsesso
pelo sucesso que tiveram os bolcheviques na Rssia e, da mesma forma, os autores da
Plataforma
gostariam, tal como os bolcheviques, de reunir os anarquistas em uma espcie de exrcito
disciplinado que, sob a direo ideolgica e prtica de alguns chefes, marchasse compacto
para o assalto dos regimes atuais e, em seguida, dirigisse a vitria material obtida para a
constituio da nova sociedade. E talvez seja verdade que com esse sistema, se fosse
possvel para os anarquistas desempenhar esse papel, e se os chefes fossem homens de
gnio, nossa eficincia material tornar-se-ia maior. Mas com quais resultados? No
sucederia com o anarquismo aquilo que na Rssia sucedeu ao socialismo e ao comunismo?
Aqueles companheiros so ansiosos de sucesso, e ns tambm; mas no preciso, para
viver e vencer, renunciar s razes da vida e falsificar o carter da eventual vitria.
Queremos combater e vencer, mas como anarquistas pela anarquia (Ibid., 1975[357], p.
309-310).
O que que est em jogo nessa atitude obsessiva pelo triunfo da anarquia, ao
ponto de induzir certos anarquistas a colocar em discusso as prprias bases do
anarquismo? No fundo, diz Malatesta, fenmenos semelhantes se produzem em todos
os partidos no dia seguinte da derrota e no seria estranho que o mesmo acontecesse
entre ns. Porm, parece-me que, no nosso caso, essa procura angustiante de novas
vias, mais do que a conseqncia de concepes novas mais audazes e mais
verdadeiras, seja o efeito de uma persistncia de velhas iluses. (Ibid., 1975[377], p.
393-394) Mas quais velhas iluses? Malatesta afirma que nos incios do anarquismo os
anarquistas estavam convencidos de que o povo era portador de uma espcie de
capacidade espontnea para sua prpria organizao e para prover por si mesmos seus
prprios interesses. Os anarquistas estavam certos de uma predisposio do povo para
com a liberdade e a justia. E tratvamos, sobretudo, de aperfeioar nosso ideal
fazendo-nos a iluso de que a massa nos seguisse, ou ainda, acreditando que fssemos
os intrpretes dos instintos profundos da massa. Porm, logo os anarquistas
202
descobriram que essa convico era o efeito muito mais de seus desejos e esperanas
do que uma correspondncia nos fatos reais. Ento
tivemos de nos convencer de que a massa no tinha as virtudes que ns lhe atribuamos e
que (...) sua parte mais evoluda, mais favorecida pelas condies ambientais, aquela que
mais era acessvel a nossa propaganda, no tinha, no geral, nem independncia de esprito,
nem desejo de liberdade; habituada a obedecer, procurava, mesmo nas suas aspiraes e
nas suas inclinaes revolucionrias, ser guiada, dirigida, comandada e, incapaz de
iniciativa, muito mais do que assumir o peso e o risco de pensar e de agir livremente,
esperava que os chefes lhe dissessem o que fazer, e permanecia na inrcia, ou era
corrompida, se os chefes eram indolentes, incapazes ou traidores (Ibid., 1975[377], p. 396).
Foi a influncia dos prejuzos desse primeiro anarquismo que fez muitos
anarquistas acreditarem na iluso da possibilidade de inaugurar a anarquia com um
golpe de fora revolucionrio. Mas o problema foi que, assim como
compreenderam que a massa era ainda despreparada, caiu-se no absurdo de querer
prepar-la com mtodos autoritrios. Para Malatesta, fazer a revoluo inaugurar a
anarquia ou, o que a mesma coisa, impor a anarquia pela fora, seria, como na
Rssia, um comunismo de convento, de caserna e de galera, pior que o prprio
capitalismo. Por isso, preciso esperar da revoluo apenas que ela faa
rapidamente aquilo de que capaz, porm nada mais alm do que capaz; bastaria,
para comear, atacar com todos os meios possveis a autoridade poltica e o privilgio
econmico, dissolver o exrcito e todos os corpos de polcia, armar o quanto possvel
toda a populao, reclamar para o proveito de todos as reservas alimentares e prover
sua continuidade, mas, sobretudo, impelir as massas a agirem sem esperar ordens
(Ibid., 1975[377], p. 397).
Em 1897, Malatesta escrevia que um dos caracteres mais notrios e mais
gerais da evoluo do anarquismo era que os anarquistas tinham se desembaraado
dos prejuzos marxistas que, nos princpios do movimento, tinham sido
demasiadamente aceitos e que foram a causa dos nossos mais graves erros (Ibid.,
1982[11], p. 128). Dizia que quem estudasse a histria do anarquismo perceberia
como, nos primeiros tempos do movimento, um forte resduo de jacobinismo e de
203
autoritarismo sobrevivia (...), resduo que no ouso dizer absolutamente eliminado.
Esse resduo de jacobinismo, Malatesta o atribuiu opinio comum entre ns de que
a revoluo deveria ser necessariamente autoritria, e no era raro encontrar quem,
com estranha contradio, quisesse realizar a anarquia pela fora (Ibid., p. 130).
Assim, parece que a primazia atribuda por alguns anarquistas ao processo de
liberao, esse erro mil vezes repetido de supor que a revoluo deva parir de um s
golpe a anarquia em toda sua glria (Ibid., 1913b), e as iluses de rpidos e
imediatos sucessos (Ibid., 1913a) deveriam provocar uma necessria tendncia ao
jacobinismo, pretendendo realizar o bem pela fora, e reativar a revoluo como ciclo
da soberania no interior mesmo do anarquismo. Era essa tendncia que estava em
questo quando Malatesta insistia que
o bem de todos no pode ser alcanado realmente a no ser mediante o concurso consciente
de todos; acreditamos que no existam frmulas mgicas capazes de resolver as
dificuldades; que no existam doutrinas universais e infalveis aplicveis a todos os
homens e a todos os casos; que no existam homens nem partidos providenciais que
possam de maneira til substituir a vontade dos outros pela sua vontade e fazer o bem pela
fora; acreditamos que a vida social toma sempre as formas que resultam do contraste dos
interesses ideais e materiais daqueles que pensam e querem. E por isso convocamos todos a
pensarem e a quererem (Ibid., 1975[240], p. 26).
A revoluo no produz anarquia e a anarquia no se faz sem anarquistas,
portanto, ns devemos sobretudo fazer anarquistas (Ibid., 1913a). A revoluo abre
um espao que pode, no entanto, ser ocupado com prticas jacobinas ou por prticas de
liberdade. Todavia, mesmo no segundo caso, ningum seria capaz de prescrever quais
sero as formas concretas em que poder se realizar essa esperada vida de liberdade e
de bem-estar para todos, ningum poderia diz-lo com certeza; ningum, sobretudo,
poderia, sendo anarquista, pensar em impor aos outros a forma que lhe parece melhor.
O nico modo para chegar descoberta do melhor a liberdade, liberdade de
agrupamento, liberdade de experimentao, liberdade completa (Ibid., 1975[3], p.
29). Seria, portanto, preciso conformar-se e abandonar a luta? A revoluo no
passaria, ento, de um impossvel sobre o qual necessrio resignar-se? Para
204
Malatesta, importa permanecer convencido que, de um lado, a aspirao liberdade
integral, que ele chama esprito do anarquismo, foi sempre a causa de todo progresso
individual e social; de outro lado, que todos os privilgios polticos e econmicos, que
ele chama os diversos aspectos de uma mesma opresso, quando no encontram no
anarquismo um obstculo suficiente, tendem a fazer retroceder a humanidade em
direo mais obscura barbrie. Em outras palavras, necessrio compreender que a
anarquia s pode vir gradualmente, na medida em que a massa chegue a conceb-la e a
desej-la; e que no vir jamais quando faltar o impulso de uma minoria anrquica
(Ibid., 1975[377], p. 396).
O gradualismo revolucionrio veio para dar relevo problemtica da
insuficincia do processo de liberao e tambm funcionou como resposta s
tendncias jacobinas de alguns anarquistas. Mas seria um erro v-lo apaziguando a luta
revolucionria ou compreend-lo atuando como mediador entre uma anarquia possvel
e realizvel no presente e uma outra anarquia que, devido ao seu grau de exigncia,
seria deixada para dias melhores. Isso talvez fosse ainda o evolucionismo burgus, mas
certamente no o gradualismo malatestiano, afirmador como nico critrio para a
descoberta do melhor a liberdade completa sem outro limite que a igual liberdade dos
outros (Ibid., 1975[3], p. 29). Uma tal afirmao considera que as pequenas melhorias
s valem efetivamente quando atua em certo grau essa liberdade completa, quer dizer,
s valem quando no sirvam para adormecer o povo e para diminuir a capacidade
revolucionria. Se as melhorias so compatveis com a persistncia do regime, se os
dominadores podem fazer concesses antes de recorrerem razo suprema das armas,
ento o melhor modo de obt-las ainda constituir uma fora que exija o tudo e
ameace o pior. Obtidas desse modo, arrancadas pela fora ou pela ameaa da fora, as
melhorias podem constituir graus de potncia na liberdade e fazer os indivduos
tomarem conhecimento de sua prpria fora. De outro modo, serviriam para consolidar
o regime tornando-o mais suportvel. Malatesta admite que o anarquismo foi e no
deixar de ser jamais reformador, porque no fundo sempre de reforma que se trata,
205
mas com esta diferena essencial: no reconheceremos jamais e nisto o nosso
reformismo distingue-se de um certo revolucionarismo que se afoga nas urnas
eleitorais de Mussolini ou de outros , no reconheceremos jamais as instituies,
tomaremos ou conquistaremos as reformas possveis com o esprito de quem vai
arrancando do inimigo o terreno ocupado para proceder sempre mais adiante e
permaneceremos inimigos de qualquer governo (1975[248], p. 44).
Trata-se, para o gradualismo, de substituir a forma abstrata, geral e montona
da mudana revolucionria por tipos de transformaes concretas e diferenciadas. O
gradualismo procura fazer emergir a diferena em toda sua plenitude e vivacidade. A
questo para o gradualismo a de negar a revoluo como causa e de mostrar as
mltiplas transformaes operando como fatos selvagens, que no so nem tanto
provocados por, mas constitudos de revoluo. O gradualismo procura dar a essa
noo montona e vazia de mudana revolucionria um jogo de modificaes
especificas, mostrando que a mudana no se define como um espao de irrupo de
subjetividades puras, mas como um espao de posicionamentos e de funcionamentos
diferenciados dos sujeitos em luta. Preencher rupturas aparentes, levar em
considerao, ao mesmo tempo, tanto progressos quanto regressos e, sobretudo, no
fazer a evoluo seguir hierarquicamente do diferenciado para o mais diferenciado,
mas faz-la acontecer na heterogeneidade, formando composies. Assim, ao invs de
partir de extremos e afirmar um evolucionismo regrado e fixado em leis, ou um
revolucionarismo sob a forma simples e nica da mudana radical, imediata e violenta,
tratava-se, para Malatesta, ao contrrio de contrapor revoluo a evoluo, diremos
insurreio e evoluo (Ibid., 1913e).
206
captulo 3: agonismo como ethos
Existe outra dimenso na reflexo de Malatesta, que talvez a mais
importante, e que pode servir de princpio de inteligibilidade para a compreenso de
outras problemticas, como por exemplo o anarco-terrorismo, o sindicalismo e o
fascismo: trata-se de uma dimenso agnica no anarquismo, que atua fazendo do
governo, seja ele qual for, sob qualquer forma em que se apresente e no importa em
qual circunstncia, uma atividade que se executa sempre perigosamente. Esse
agonismo anrquico o estado permanente de tenso direcionado contra o princpio de
autoridade provocado pela agitao das prticas revolucionrias.
Sugeri que ao rejeitar o processo de liberao como prtica meramente
negativa e destrutiva e declarar sua insuficincia para inaugurar a anarquia, Malatesta
foi levado a pensar essa noo problemtica e ambgua de organizao como prticas
de liberdade para proporcionar anarquia uma dimenso positiva. Sugeri tambm que
essa problemtica imprimiu outra significao ao problema revolucionrio, que em
Malatesta aparece em torno da continuidade insurreio-evoluo, fornecendo
subsdios para o gradualismo revolucionrio. Gostaria agora de tirar outra
conseqncia que me parece estar contida implicitamente nessa discusso.
Vimos, de maneira um pouco resumida, como a insuficincia do processo de
liberao est ligada, de um lado, recusa de compreender a anarquia como qualquer
207
coisa que fosse uma essncia ou natureza existente nos indivduos e que, liberada dos
mecanismos da dominao, poderia emergir livremente na sociedade anarquia como
uma substncia adormecida, indiferente aos processos de subjetivao ; e est ligada,
de outro lado, a uma compreenso que tornava indissocivel autoridade e organizao,
e fazia com que os anarquistas ignorassem isso que Malatesta chamou sinonmia entre
anarquia e sociedade, permitindo s prticas de governo a possibilidade, sem encontrar
maiores obstculos no anarquismo, de penetrar na mecnica social, multiplicando seus
dispositivos e estendendo o exerccio da autoridade governamental. Gostaria de
retomar esse ltimo aspecto.
1. governo e estratgia
Malatesta chamou de foras de conservao a ignorncia e a inrcia das
massas, as mentiras dos padres e dos professores oficiais, o dinheiro dos burgueses, a
violncia dos governos. Foi a partir dessas diferentes realidades que, os
privilegiados elaboraram, atravs dos sculos, todo um complexo sistema de enganos e
de expedientes para assujeitar o povo e obter sua aquiescncia inconsciente (Ibid.,
1913a). Assim, para alm de um aparato repressivo, o Estado tem necessidade de
sditos dceis, tem necessidade de unidade e conformismo e, se renunciar ao freio
religioso ser apenas para substitu-lo com outro freio, que em certas circunstncias
pode parecer mais eficaz: o culto da lei, da ptria etc. (Ibid., 1975[311], p. 174).
Malatesta percebeu claramente como o governo tinha encontrado um meio eficaz de
difundir e estender os efeitos do poder, sobretudo, atravs da organizao social. Por
exemplo, dizia que
208
na Alemanha, na Inglaterra, na Sua, os governos, feudais ou democrticos,
compreenderam a utilidade, para sua estabilidade e para a defesa das classes privilegiadas,
de invadir o quanto possvel a vida social, e prover, ou buscar prover, por sua iniciativa
espontnea, todas aquelas previdncias [sociais] (...), e, naturalmente, as provero como
pode um governo, isto , em proveito da dominao do patro e do assujeitamento do
trabalhador (Ibid., 1913c).
Para Malatesta estava claro que burguesia e governo compreenderam que o
melhor mtodo de liquidar um movimento o de reconhec-lo como legal (Ibid.,
1975[160], p. 47). Da a necessidade para os anarquistas de resistir com todas suas
foras a essa sempre crescente invaso do governo nas funes da vida coletiva
(Ibid., 1975[47], p. 124), lutando para diminuir, no podendo ainda destruir, a
importncia social do Estado. No havendo, para isso, meio mais eficaz que colocar
os operrios na condio de organizar por si mesmos, livremente, a vida e a
previdncia social, e a tornar o governo sempre mais intil e fraco. Quando tivermos
privado o Estado dessas funes mais ou menos teis que ocultam e fazem suportvel
as funes opressivas que constituem a sua primeira razo de ser, o Estado chegaria
viglia de sua morte (Ibid., 1913c).
Atravs dessa problemtica da organizao possvel apreender o alcance da
reflexo de Malatesta, e perceber como ela distinta tanto de uma teoria marxista
quanto de uma teoria weberiana do poder. Quero sugerir tambm o quanto
equivocado supor, como fez SENELLART (2004, p. 118), no discurso anarquista algo
como uma freqente retomada da expresso nietzschiana, em sentido negativo e
denunciativo, do Estado como o mais frio de todos os monstros frios.
Consiste nisso a novidade da reflexo de Malatesta: ao perceber governo e
organizao como realidades compsitas e articuladas, ele escapou da imagem,
certamente equivocada, de um poder operando exclusivamente atravs da represso de
uma subjetividade essencial. MILLER (1987) mostrou a necessidade de distinguir
poder e dominao, na medida em que o primeiro opera atravs da promoo da
subjetividade e menos restringido. No est limitado em empenhar-se na recusa ou
na oposio, mas procura investir o indivduo com uma srie de objetivos e ambies
209
pessoais. Poder nesse sentido um fenmeno ntimo. Reconhece as preferncias
individuais, no age sobre os indivduos de maneira distante e do exterior. Age sobre o
interior das pessoas, atravs do seu eu. (MILLER, 1987, p. 2) Ao contrrio, a
dominao age sobre os indivduos e os grupos contra suas aspiraes e demandas.
um fenmeno que frequentemente testemunhamos no lar, na escola, no local de
trabalho e no plano estatal nacional e internacional. Alcana algumas vezes propores
terrveis, a um tal ponto que pode causar a morte do dominado (Id.).
Todavia, Foucault tomou essa distino, mencionada e retomada por Miller,
entre poder e dominao a partir de uma srie analtica, quando introduziu entre esses
dois termos o fenmeno do governo. Foucault insistiu que o poder poltico no deve
ser compreendido nos termos de uma capacidade que se exerce sobre as coisas,
capacidade de modific-las, utiliz-las, consumi-las etc.; a noo de capacidade trata
muito mais de um poder que remete s aptides diretamente inscritas nos corpos ou
mediadas por dispositivos instrumentais (FOUCAULT, 2001c, p. 1052). Ao
contrrio, Foucault analisa o poder como jogo de relaes entre os indivduos. Porm,
a especificidade do seu exerccio no est simplesmente em sua realidade relacional,
mas na sua maneira de agir: o poder poltico um modo de ao dos indivduos uns
sobre os outros (Ibid., p. 1055). O poder um modo de ao, o poder s existe em
ato. Isso implica que o poder no existe globalmente ou massivamente, nem
simplesmente em estado difuso, concentrado ou distribudo, mas as relaes de poder
se enrazam no conjunto das relaes sociais (Ibid., p. 1059). J por governo, tomado
no sentido estreito como exerccio da soberania, Foucault entende um tipo especfico
de relaes de poder que tm por caracterstica principal o fato delas terem sido, nas
sociedades ocidentais, progressivamente governamentalizadas, quer dizer, elaboradas,
racionalizadas e centralizadas sob a forma ou sob a cauo de instituies estatais
(Ibid., p. 1060). Governo seria ento um tipo de relao de poder que assume como
forma maior e preponderante o sentido de uma estratgia. Essa palavra estratgia,
Foucault a utiliza em trs sentidos:
210
para designar a escolha dos meios empregados para alcanar um fim; trata-se da
racionalidade empregada para conseguir um objetivo. Para designar a maneira pela qual um
parceiro, em um dado jogo, age em funo do que supe que deva ser a ao dos outros, e
em funo disso que ele estima que os outros pensam ser a sua; em suma, a maneira pela
qual se procura ter uma vantagem sobre o outro [prise sur lautre]. Enfim, para designar o
conjunto dos procedimentos utilizados em um afrontamento para privar o adversrio de
seus meios de combate e para reduzi-lo renncia da luta; trata-se dos meios destinados a
obter a vitria (Id.).
Segundo Foucault, muito freqente que esses trs sentidos operem juntos,
sobretudo em uma situao de afrontamento, com o objetivo de agir sobre o
adversrio, procurando fazer com que a luta lhe seja impossvel. A estratgia se
define ento por escolhas de solues ganhadoras (Id.). Em todo caso, possvel
falar em estratgias especficas s relaes de poder, na medida em que elas
constituem modos de ao sobre a ao possvel, eventual, suposta dos outros (Ibid.,
p. 1060-1061). Mas utilizar essa definio de estratgia para a analtica do poder
implica, segundo Foucault, considerar o poder atuando em trs planos distintos. Um
plano, no qual o poder tomado como uma relao cuja presena ocorre de maneira
extraordinariamente extensiva nas relaes humanas: desde relaes amorosas e
erticas at relaes institucionais e econmicas. Poder como fenmeno ubquo da
interao humana. So relaes de poder, portanto, mveis, reversveis e instveis.
Nesse plano de atuao do poder,
preciso sublinhar tambm que s podem existir relaes de poder na medida em que os
sujeitos so livres. Se um dos dois estivesse completamente disposio do outro e se
torna sua coisa, um objeto sobre o qual ele pode exercer uma violncia infinita e ilimitada,
no existiriam relaes de poder. preciso, portanto, para que se exera uma relao de
poder, que existam sempre dos dois lados pelo menos uma certa forma de liberdade.
Mesmo quando a relao de poder completamente desequilibrada, quando
verdadeiramente pode se dizer que um tem todo poder sobre o outro, resta a esse ltimo
ainda a possibilidade de se matar, de se jogar pela janela ou de matar o outro. Isso quer
dizer que, nas relaes de poder, existe forosamente a possibilidade de resistncia, porque
se no existisse possibilidade de resistncia de resistncia violenta, de fuga, manobra, de
estratgias que revertem a situao no existiriam relaes de poder (FOUCAULT,
2001c, p. 1539).
Um outro plano da analtica de Foucault so os estados de dominao atravs
do quais as relaes de poder so fixadas de uma tal maneira que elas so
211
perpetuamente dessimtricas e que a margem de liberdade extremamente limitada
(Id.). Porm, os estados de dominao no so jamais absolutos, eles sempre convivem
com uma srie de manobras que buscam reverter, sem sucesso, a situao. Portanto,
nesse plano das relaes de poder marcadas por estados de dominao econmicos,
sociais, sexuais etc., o problema ser, com efeito, o de saber onde vai se formar a
resistncia. A resistncia se dar, por exemplo, em uma classe operria que vai resistir
dominao poltica no sindicato, no partido e sob qual forma a greve, a greve
geral, a revoluo, a luta parlamentar? Em uma tal situao de dominao, preciso
responder a todas essas questes de uma maneira especfica, em funo do tipo e da
forma precisa da dominao (Ibid., p. 1540). Agora, entre esses dois nveis, entre as
relaes de poder e os estados de dominao, encontram-se as tecnologias
governamentais cuja anlise, segundo Foucault, necessria porque
frequentemente atravs desse gnero de tcnicas que se estabelecem e se mantm os
estados de dominao (Ibid., p. 1547).
preciso tomar nessa direo a reflexo de Errico Malatesta sobre o
governo. E neste momento introduzo imediatamente a afirmao segundo a qual seria
inexato supor que, em uma definio malatestiana do governo como exerccio da
autoridade poltica, o poder aparea sempre e simplesmente como opresso. preciso
evitar essa deduo fcil que visualiza em um estado de dominao uma violncia
bruta e nua. Ao contrrio, a dominao retira sua permanncia no da violncia, mas
das inmeras estratgias em jogo. Dessa forma, seria preciso pensar a dominao no
como o fez Agamben, como o paradigma de governo dominante na poltica
contempornea (...), como um patamar de indeterminao entre democracia e
absolutismo (AGAMBEN, 2004, p. 13), mas como jogo estratgico entre as diversas
tecnologias de governo e as resistncias que necessariamente suscitam. Como
demonstrou Lemke, foi precisamente essa dimenso estratgica das tecnologias de
governo que a anlise de Agamben eliminou, enquanto Foucault analisa e critica o
projeto biopoltico enfatizando a conexo entre formas de subjetividade e tecnologias
212
polticas, essa importante dimenso est completamente ausente nos trabalhos de
Agamben (LEMKE, 2005). Segundo Lemke, Agamben menos interessado na vida
do que na sua nudez, de tal modo que a produo do corpo biopoltico lhe aparece
como atividade original do poder soberano.
A confrontao binria entre bios e zo, existncia poltica e vida nua, ordem e exceo,
apontam exatamente para o modelo jurdico de poder que Foucault tinha justamente
criticado de maneira to convincente. Agamben persegue um conceito de poder que est
baseado nas categorias de represso, reproduo e reduo, eliminando da abordagem o
aspecto relacional, descentralizado e produtivo do poder (LEMKE, 2005).
Portanto, nenhuma dominao sem jogos de estratgia entre tecnologias de
governo e resistncias. no entrecruzamento entre estados de dominao, tecnologias
de governo e resistncias que Malatesta localizou o exerccio do poder. Afirmando o
governo como rgo de domnio de opresso, ao mesmo tempo Malatesta fazia notar
que o governo
deve tambm fazer, ou fingir fazer, qualquer coisa em favor dos dominados para justificar
sua existncia e torn-la suportvel. E o melhor meio encontrado foi o de fazer depender os
interesses dos governados da permanncia e da estabilidade do Estado. Como um patro
inteligente, para poder explorar o trabalho alheio com maior tranqilidade e conceder aos
seus operrios a liberdade de movimento e de rebeldia, constri casas operrias, promete
prmios e penses, que naturalmente depois so sempre pagos em usuras pelos prprios
operrios, do mesmo modo o Estado isto , o governo com as chamadas Previdncias
de Estado, procura desconjurar a revolta, inspirando nas pessoas o medo de que, uma vez
derrubado o governo, uma vez liquidado o organismo estatal, poder-se-ia perder as magras
vantagens j antecipadamente pagas por fora de descontos nos salrios e outros truques do
gnero. E com isso, o governo faz um duplo negcio: encaixa dinheiro e assegura a ordem
pblica, que a fora armada no suficiente para manter [grifos meus]. (MALATESTA,
1975[47], p. 123-124)
Malatesta definiu o governo no como capacidade quantitativa mas como
organizao coercitiva e estratgica da sociedade. Ele distinguiu nitidamente entre o
que seria o fato inevitvel e benfico resultante da capacidade individual, resultante,
por exemplo, do fato de que aquele que sabe e faz melhor uma determinada coisa est
tambm em melhores condies de determinar com um mnimo de resistncia a
conduta dos outros. Aqui teramos o que Foucault chamou relaes de poder. Outra
coisa completamente diferente o que Malatesta chamou de organizao coercitiva
213
da sociedade que se convenciona chamar Estado e que se concretiza no governo com
todos os seus rgos corpos legislativos, fiscal, polcia, magistratura, foras
armadas (Ibid., 1975[275], p. 101). Nesse caso, teramos estados de dominao
atravessadas por tecnologias de governo.
Encontramos essa elaborao do governo como organizao coercitiva e
estratgica j em um texto de juventude de Malatesta. Segundo Ugo FEDELI (1951, p.
11), um dos opsculos mais difundidos escrito por Malatesta, A anarquia, foi
publicado pela primeira vez em Londres pela Biblioteca dellAssociazone, em 1891.
Porm, o desenvolvimento das principais idias desse opsculo aparecem sob a forma
de artigos j em 1884, quando Malatesta contava com 31 anos, publicados em La
Questione Sociale, jornal que dirigiu primeiramente em Florena e depois em Buenos
Aires. Foi nesse conjunto de escritos intitulados A anarquia, que Malatesta elaborou
de maneira substancial sua concepo acerca do governo, em que diz:
os anarquistas se servem normalmente da palavra Estado para exprimir todo esse conjunto
de instituies polticas, legislativas, judicirias, militares, financeiras etc., pelas quais
subtrai-se ao povo a gesto de seus prprios negcios, a direo de sua prpria conduta, o
cuidado de sua prpria segurana para confi-las a alguns indivduos que, por usurpao ou
delegao, se encontram investidos do direito de fazer leis sobre tudo e para todos, de
coagir o povo a se conformar com isso, servindo-se para essa finalidade da fora de todos.
Nesse caso, a palavra Estado significa governo ou, se quiser, expresso impessoal, abstrata
desse estado de coisas do qual o governo a personificao (MALATESTA, 1987, p. 11-
12).
Assim, segundo Malatesta, quando os anarquistas utilizam a expresso
abolio do Estado ou sociedade sem Estado, essas expresses devem ser tomadas
em seu sentido preciso, ou seja, correspondendo perfeitamente idia que os
anarquistas querem exprimir quando falam de destruio de toda organizao poltica
fundada na autoridade (Ibid., p. 12). Todavia, Malatesta sabe perfeitamente que a
palavra Estado possuiu muitas outras conotaes, que servem frequentemente para se
opor ou para lanar confuso no entendimento que os anarquistas tm do Estado.
Assim, freqente tomar a palavra Estado para indicar uma coletividade humana,
reunida num territrio dado e constituindo o que se chama um corpo moral,
214
independentemente da forma de agrupamento dos membros e das relaes que existem
entre eles (Id.). Ou ainda, o Estado tomado simplesmente como sinnimo de
sociedade. Segundo Malatesta, em razo dessas definies, e outras mais, que
frequentemente os adversrios da anarquia acreditam ou fingem acreditar que os
anarquistas querem a abolio de toda conexo social. Em um outro caso, Estado
compreendido como administrao superior de um determinado pas, como poder
central, e aqui outras pessoas acreditaram que os anarquistas querem uma simples
descentralizao territorial, deixando intacto o principio governamental. Mas fato
que os anarquistas tm a sua concepo precisa, e que pode ser resumida da seguinte
forma: Estado significa, enfim, condio, modo de ser, regime social etc. assim que
dizemos, por exemplo, que preciso mudar o estado econmico da classe operria ou
que o estado anrquico o nico estado social fundado sobre o princpio de
solidariedade (Ibid., p. 13). Por isso, ao invs de empregar essa palavra ambgua e
sujeita confuso que o Estado, os anarquistas preferiram empregar o mnimo
possvel a expresso abolio do Estado e substitu-la por outra mais clara e mais
concreta: abolio do governo (Id.).
Entretanto, ainda aqui necessrio precisar bem as coisas. Segundo
Malatesta, existe uma tendncia metafsica que se empenha em definir o governo
como um poder social abstrato, defini-lo como o representante, sempre abstrato, dos
interesses gerais; a expresso do direito de todos, considerado como limite dos
direitos de cada um. Esse modo de conceber o governo est apoiado pelos interessados
em salvar o princpio da autoridade e faz-lo sobreviver apesar das culpas e dos erros
que se sucedem no exerccio do poder (Ibid., p. 14). Inversamente, para os
anarquistas, o governo no possui nada de abstrato, mas trata-se de uma realidade
povoada de pessoas concretas e constituda por relaes materiais.
215
Para ns, o governo a coletividade dos governantes; e os governantes reis, presidentes,
ministros, deputados etc. so aqueles que tm a faculdade de fazer as leis para regular as
relaes dos homens entre eles, e de fazer executar estas leis; decretar e receber os
impostos; obrigar ao servio militar; julgar e punir os contraventores das leis, vigiar e
sancionar os contratos privados, monopolizar certos ramos de produo e certos servios
pblicos; favorecer ou impedir a troca dos produtos; declarar a guerra ou decidir a paz com
os governantes dos outros pases; conceder ou retirar franquias etc., etc. Os governantes,
numa palavra, so aqueles que tm a faculdade, em um grau mais ou menos elevado, de se
servir da fora social seja ela fora fsica, intelectual ou econmica de todos para
obrigar todo mundo a fazer o que eles prprios, os governantes, querem. Essa faculdade
constitui, na nossa opinio, o princpio do governo, o princpio da autoridade (Id.).
Malatesta toma para sua analtica as prticas reais e concretas de governo e,
nesse sentido, a razo de ser do governo, seu princpio justificador, no pode ser
buscada nem na capacidade de certos indivduos, o que justificaria o poder de
governar como destinado aos mais capazes e aos melhores, nem no fenmeno da
opinio que resulta do sufrgio, cujo critrio no prova nem a razo nem a capacidade,
mas uma estratgia que procura melhor enganar a massa (Ibid., p. 15-16). E quais
podem ser as prticas reais de governo?
Segundo Malatesta, ao longo de toda a histria at o presente, o governo, em
sua atuao, ou a dominao bruta, violenta, arbitrria, de alguns sobre a massa, ou
um instrumento ordenado para assegurar a dominao e o privilgio queles que, por
fora, por astcia ou por hereditariedade, aambarcaram todos os meios de vida
(Ibid., p. 17). Assim, existem, nas prticas de governo, dois modos de oprimir os
homens: diretamente, pela fora brutal, pela violncia fsica; ou indiretamente,
subtraindo-lhes seus meios de subsistncia e reduzindo-os, assim, impotncia. O
primeiro modo originado do poder, privilgio poltico; o segundo, do privilgio
econmico (Id.). A dominao do governo pode aparecer ainda agindo sobre sua
inteligncia e seus sentimentos, e segundo Malatesta o que constitui o poder
religioso ou universitrio (Id.). Essa heterogeneidade nas relaes de poder tpicas
das prticas de governo prpria das nossas sociedades. Segundo Malatesta, em
algumas sociedades primitivas, pouco populosas e dotadas de relaes sociais menos
complicadas, esses dois poderes, poltico e econmico, encontram-se reunidos nas
216
mesmas mos (Id.), que podem ser simultaneamente proprietrios, legisladores, reis,
juzes e carrascos (Ibid., p. 18). Mas o crescimento das sociedades, a ampliao e
diversificao das necessidades e a complicao das relaes sociais, tornaram
a existncia prolongada de um tal despotismo impossvel. Os dominadores, seja para
garantir sua segurana, seja por comodidade ou por impossibilidade de agir de outra forma,
encontraram-se na necessidade de, de um lado, apoiar-se sobre uma classe privilegiada, ou
seja, sobre um certo nmero de indivduos co-interessados em sua dominao, e, de outro
lado, fazer de modo que cada um proveja como pode sua prpria existncia (Id.).
A propriedade desenvolveu-se sob a sombra do poder, com sua proteo e
cumplicidade, e concentrou pouco a pouco os meios de produo e os mecanismos da
indstria nas mos dos proprietrios, que acabaram por constituir um poder que, pela
superioridade de seus meios e pela srie de interesses que ele abarca, acaba sempre por
submeter, mais ou menos abertamente, o poder poltico, o governo, para fazer dele seu
prprio policial (Id.). Para Malatesta, foi esse fato que se repetiu diversas vezes na
histria das sociedades ocidentais. Cada vez que uma invaso, uma ao militar ou a
violncia bruta atuaram sobre determinada sociedade, evidenciou-se a irresistvel
tendncia nos vencedores de concentrarem em suas mos governo e propriedade. Mas
foi sempre um estado de coisas precrio e provisrio, e logo vem a necessidade desse
governo dos vencedores de procurar sua cumplicidade, entre os vencidos e naquelas
classes mais poderosas, de indexar seu governo s exigncias da produo etc. E, na
impossibilidade de tudo vigiar e tudo dirigir, re-estabeleceram a propriedade privada,
a diviso dos poderes e, com ela, a dependncia efetiva daqueles que se apoderaram da
fora, os governantes, em proveito daqueles que possuem as fontes da fora, os
proprietrios (Ibid., p. 19). Foi esse fenmeno que, segundo Malatesta, conheceu uma
acentuao sem precedentes na modernidade.
217
O desenvolvimento da produo, a imensa extenso do comrcio, o poderio desmedido que
o dinheiro adquiriu, e todos os fatos econmicos provocados pela descoberta da Amrica,
pela inveno das mquinas etc., asseguraram uma tal supremacia classe capitalista que,
no contente em dispor do apoio do governo, desejou que o governo emanasse de seu seio.
Um governo que extraa sua origem do direito de conquista (do direito divino, dizem os
reis e seus padres), por mais que as circunstncias o submetessem classe capitalista, e
conservava sempre uma atitude arrogante e desdenhosa para com seus antigos escravos
enriquecidos, e veleidades de independncia e de dominao (Id.).
Assim nasceu o parlamentarismo moderno, que trouxe para a burguesia a
seguinte tranqilidade: sendo o governo composto de outros proprietrios ou de
pessoas interessadas pelos proprietrios, o governo no pode contrariar seus interesses.
Rothschild no precisa ser deputado nem ministro: basta-lhe ter sua disposio os
deputados e os ministros (Ibid., p. 20).
Portanto, ao se tomar as prticas de governo, torna-se claramente visvel,
em todos os tempos e lugares, qualquer que seja o nome que o governo assuma,
quaisquer que sejam sua origem e sua organizao, que sua funo essencial foi
sempre a de oprimir e explorar as massas, defender os opressores e os
aambarcadores. Do mesmo modo como ele aparece freqentemente constituindo
como seus rgos principais, caractersticas indispensveis, o policial e o coletor de
impostos, o soldado e o carcereiro, aos quais junta-se infalivelmente o mercador de
mentiras, padre ou professor, pago e protegido pelo governo para escravizar os
espritos e torn-los dceis ao jugo (Ibid., p. 21). Porm, Malatesta diz que a essas
funes primordiais e a esses rgos essenciais do governo vieram acrescentar-se
outros rgos e outras funes ao longo da histria.
Admitamos, entretanto, que nunca, ou quase nunca, tenha existido, num pas pouco
civilizado, um governo que, alm de suas funes opressivas e espoliadoras, no se tenha
atribudo outras funes teis ou indispensveis vida social. Mas isso no invalida em
nada o fato de que o governo , por sua origem e posio, fatalmente levado a defender e a
reforar a classe dominante; este fato no somente confirma o que j dissemos, mas o
agrava [grifo meu] (Id.).
preciso dar o peso necessrio a essa afirmao: como e em que medida a
opresso do governo foi agravada ao longo da histria atravs de outros rgos e
outras funes que no a polcia e o coletor de impostos? Segundo Malatesta,
218
evidente que o governo assume a tarefa de proteger a vida dos seus cidados de
ataques dos agressores internos e externos. verdade que o governo reconhece e
legaliza um certo nmero de direitos e de deveres, dentre os quais alguns primordiais e
procedentes dos usos e costumes de uma sociedade. E sobretudo inquestionvel que
o governo organiza e dirige alguns dos servios pblicos mais essenciais e importantes
na sociedade, tais como os correios, as estradas, a higiene pblica, as precaues
sanitrias, a proteo das florestas etc. O governo abre orfanatos, hospitais e asilos
para cuidar da infncia, dos doentes e da velhice. O governo educa, vela e protege a
infncia, a condio da mulher e assiste aos mais necessitados, e faz tudo isso
comprazendo-se em mostrar o quanto ele o protetor e benfeitor dos pobres e dos
fracos. Porm, o fundamental observar como e por que ele realiza essas funes,
para se ter a prova experimental, prtica, de que tudo o que o governo faz sempre
inspirado pelo esprito de dominao e ordenado para defender, aumentar e perpetuar
seus privilgios prprios e aqueles da classe da qual o representante e o defensor
(Ibid., p. 22). Como e por que um governo se faz protetor? Tomando a aparncia de
protetor ao organizar, autoritariamente, algumas funes essenciais da sociedade,
como foi o caso, por exemplo, das previdncias trabalhistas e do direito social. Agora,
por que, com qual finalidade um governo tomaria a aparncia de protetor, essa uma
questo igualmente importante. Um governo precisa tomar aparncia de protetor. O
poder do governo deve no somente oprimir mas cuidar. O poder do governo deve
tomar para si, como mostrou Foucault, o velho modelo da pastoral crist, porque, diz
Malatesta,
um governo no pode existir por muito tempo sem esconder sua natureza sob o pretexto de
interesse comum: ele no pode fazer respeitar a vida dos privilegiados sem se dar ares de
v-la respeitada por todos: ele no pode fazer com que se aceitem os privilgios de alguns
sem fazer de conta que salvaguarda os direitos de todos. (...) Um governo no pode querer
que a sociedade se desfaa, porque desapareceria ento, para ele e para a classe dominante,
a matria a explorar (Ibid., p. 22).
Existe no governo uma dimenso tecnolgica que inerente e necessria ao
exerccio do seu poder. O governo opera como tecnologia que aperfeioa, corrige e
219
perpetua os estados de dominao. Assim, se o governo se faz regulador e garantidor
dos direitos e deveres de cada um, somente com uma condio, atravs da qual ele
qualifica de crime e pune todos os atos que ofendam ou ameacem os privilgios dos
governantes e dos proprietrios. Se o governo se faz administrador dos servios
pblicos, se ele, por exemplo, se faz professor, impede a propagao da verdade, e
tende a preparar o esprito e o corao dos jovens para que se tornem ou tiranos
implacveis ou escravos dceis (Ibid., p. 24). Enfim, so funes que, nas mos do
governo, tendem a se tornar um meio para explorar ou uma instituio de polcia para
manter o povo assujeitado. E natural que assim seja, diz Malatesta. Se verdade que
a vida dos homens uma luta entre si, no pode deixar de haver vencedores e
vencidos, e o governo que o prmio da luta ou um meio para assegurar aos
vencedores os resultados da vitria, e perpetu-los jamais estar nas mos daqueles
que perderam (Id.). Segundo Malatesta, no importa onde se d a luta, no importa
qual seu campo de atuao, tenha sido ele a fora fsica ou intelectual, ou qual tenha
sido o domnio econmico, enfim, aqueles que lutaram para vencer, ou, o que d no
mesmo, aqueles que lutaram para assegurar para si melhores condies, uma vez
obtida a vitria, com certeza no se serviro dela para defender os direitos dos
vencidos. De tal modo que o governo, ou como se diz, o Estado justiceiro,
moderador das lutas sociais, administrador imparcial dos interesses pblicos, uma
mentira, uma iluso, uma utopia jamais realizada e jamais realizvel (Id.).
Se governo uma tecnologia de poder, a abolio do governo preconizada
pelos anarquistas no pode significar a destruio do que Malatesta chamou conexes
sociais que os indivduos estabelecem entre si. Ao contrrio, essa sociedade sem
governo uma sociedade de homens livres, na medida em que a relao entre suas
diversas capacidades polticas no est atravessada por um conjunto de tecnologias
que buscam direcion-las e fix-las em certo desequilbrio. Isso parece evidente
quando Malatesta, em 1920, escrevendo sobre a base fundamental do anarquismo,
definiu a anarquia como sendo a abolio da polcia, entendendo por polcia qualquer
220
fora armada, qualquer fora material a servio de um homem ou de uma classe para
constranger os outros a fazer aquilo que no querem fazer voluntariamente (Ibid.,
1975[43], p. 110). A abolio da polcia, a eliminao da violncia nas relaes
sociais, parecia-lhe a base, a condio indispensvel, sem a qual a anarquia no
poderia florescer, ou melhor, no poderia nem mesmo conceber-se (Ibid., p. 111).
Aqui, Malatesta introduz um deslocamento em relao definio de 1884
10
, na qual
definiu a anarquia em termos de ausncia de governo: estado de um povo que se rege
sem autoridade (Ibid., 1885a). Esse deslocamento que leva do governo polcia
significativo. Na primeira definio de 1884, Malatesta esfora-se para distinguir
governo de outras foras existentes na sociedade, afirmando que sua abolio no
significa destruir as foras individuais e coletivas que agem na humanidade, nem a
influncia que os homens exercem ocasionalmente uns sobre os outros (Ibid., 1884e).
Ao contrrio, trata-se de abolir o monoplio da fora e da influncia, quer dizer,
significa abolir um estado de coisas no qual a fora social o instrumento do
pensamento, da vontade, dos interesses de um pequeno nmero de indivduos que
constituem o governo e que, atravs da fora de todos, suprimem, para sua vantagem e
na direo de suas inclinaes, a liberdade de cada um (Id.). esse modo de
organizao governamental que, de uma revoluo a outra, coloca os destinos dos
homens nas mos dos vencedores da ocasio, que preciso abolir. O governo aparece
como uma organizao que retira dos homens o poder de influrem na organizao
social e de se constiturem como foras pensantes e dirigentes. O governo aparece
como um modo de organizao que constitui a sociedade de maneira que, graas a um
certo nmero de efeitos como a inrcia que produzem as posies fixas, graas
herana, ao protecionismo e a toda mecnica governativa, as foras mais vivas e as
10
A escritura do clebre folheto A anarquia foi iniciada nesse ano, nas pginas de La Questione Sociale de
Florena, como o prprio Malatesta diz em nota da edio publicada em Buenos Aires: Os pontos que
publicamos sob esse ttulo vieram luz no ano passado em La Questione Sociale de Florena, mas foram logo
interrompidos quando o jornal sucumbiu sob o peso dos seqestros e das condenaes (MALATESTA, 1885a).
221
capacidades mais reais acabam encontrando-se fora do governo e privadas de
influncia sobre a vida social (Id.). Mas tambm, diz Malatesta, o governo no
constitui uma fora distinta, que agregaria qualquer coisa soma das foras e dos
valores que o compem e que compem aqueles que obedecem.
Ao contrrio, do mesmo modo que nada se cria no chamado mundo material, assim nada se
cria tambm nessa forma mais complicada do mundo material chamado sociedade: e o
governo apenas dispe das foras que existem na sociedade, exceto as foras rebeldes e
exceto aquelas que se consomem nos atritos necessariamente enormes de um mecanismo
to artificial. E essas foras materiais e morais de que dispe, em parte, so consumidas em
atividades repressivas para frear as foras rebeldes (Id.).
Assim, o que caracterstico na formulao de Malatesta sua concepo de
governo como um modo de organizao: o governo uma atividade que age
organizando, instrumentalizando, direcionando, dispondo, consumindo e reprimindo
foras individuais e coletivas. Alm disso, o governo em si no uma fora, mas uma
mecnica das foras que altera uma composio existente, uma tcnica. O
deslocamento que enfatiza a definio da anarquia como abolio da polcia parece,
portanto, limitar essa primeira definio de governo ampla e abrangente, j que busca
tomar a polcia como uma fora armada, material e violenta. Mas, trata-se de um
deslocamento que retoma e refora o acento do governo como mecnica das foras.
Como vimos, Malatesta considerou a revoluo como um ato destrutivo e negativo,
insuficiente para fazer da violncia e da prepotncia, provocada ou suportada, uma
prtica inaceitvel. bem provvel, ele diz, que os mais fortes, os mais espertos, os
mais afortunados (...) tentem impor sua prpria vontade por meio da fora, fazendo
renascer a polcia sob uma ou outra forma. Em outras palavras, relaes de violncia
perduraro no cenrio ps-revoluo. Porm, se aqueles a quem Malatesta chama de
violentos contarem apenas com suas prprias foras, ento seriam logo contidos pela
resistncia dos outros e pelo seu prprio interesse. Ao contrrio,
222
o grande perigo, que poderia anular todos os benefcios da revoluo e faz-la retroceder,
aparece quando os violentos conseguem utilizar a fora dos outros, a fora social, para
prpria vantagem, como instrumento para a prpria vontade, ou seja, quando conseguem se
constiturem em governo, organizar o Estado. A polcia no propriamente o violento, mas
o instrumento cego a servio do violento (Ibid., 1975[43], p. 113, grifos meus).
A polcia no o violento, o instrumento com o qual as foras na
sociedade so organizadas, a polcia uma tecnologia de governo. Por meio dessa
tecnologia o violento ganha status de governo e monopoliza, direciona, utiliza as
foras sociais. Mas isso no elimina o fato de Malatesta ter emprestado noo de
governo um certo fundo de violncia. Com efeito, ele dizia que os anarquistas so
contra a autoridade porque a autoridade a violncia (Ibid., 1975[20], p. 64-65), e
que da organizao da violncia que surgem o exrcito vermelho, a tcheca, os
comissrios do povo, os burocratas que dirigem a apreenso e a distribuio das
riquezas seqestradas (Ibid., 1975[222], p. 215). E porque so esses ordenamentos
que, por meio da fora organizada em governo, constringem os homens a suportar a
vontade alheia e a se deixar explorar pelos outros (Ibid., 1975[25], p. 77-78, grifos
meus), ele considerou a violncia como toda essncia do autoritarismo, assim como o
repdio da violncia toda essncia do anarquismo (Ibid., 1975[234], p. 269).
Governo e violncia, governo como fora bruta e violncia material do
homem contra o homem e fator da vida social (Ibid., 1975[58], p. 157), governo
significando o direito de fazer a lei e de imp-la a todos pela fora: sem polcia no
existe governo (Ibid., 1975[332], p. 231), enfim, governo como uma espcie de
violncia permanente (Ibid., 1975[213], p. 193). Concepo de governo como
relaes de dominao e, consequentemente, em termos de combate, de enfrentamento
e de guerra, na qual a luta contra o governo se resolve, em ltima anlise, em luta
fsica, material (Ibid., 1975[223], p. 235) e segundo a qual, para Malatesta, o
problema , e permanece, um problema de fora (Ibid., 1975[59], p. 158).
possvel compreender a concepo que Malatesta tem do poltico em
continuidade daquilo que Proudhon chamou o direito da fora? preciso
compreend-la nessa direo.
223
Parece-me que toda essa brutalidade e violncia do poder insistentemente
retomadas por Malatesta buscam um efeito bastante preciso: no mais diluir os fatos
de dominao e suas conseqncias em sistemas de direito, mas colocar a nu o
problema da dominao e da sujeio do poder. E aqui o deslocamento na sua
definio da anarquia que leva do governo polcia ganha relevncia: que outra
instituio seria mais evidente e mais eficaz para revelar a dominao do poder, sua
violncia nua e a superfcie belicosa da realidade que o constitui? sobretudo na
polcia que se desprende a batalha, e isso de uma maneira inevitvel, se certo, como
mostrou Foucault, que a governamentalidade liberal do final do sculo XVIII
prescreveu para o Estado um papel no mais em termos de regulao, interveno e
interdio, mas em termos de limitao, no sentido que o governo vai agora manipular,
suscitar e facilitar regularidades que so necessrias e naturais ao campo econmico,
mas que, consequentemente, escapam ao domnio do Estado, reservando polcia a
funo especfica de eliminar as desordens que possam perturbar tais regularidades.
Ento, a governamentalidade liberal do sculo XVIII e XIX, referindo-se a um novo
domnio de naturalidade econmica, passou a gerir a populao, mas
dever tambm organizar um sistema jurdico de respeito s liberdades. Dever, enfim,
constituir um instrumento de interveno direta, porm negativo, que ser a polcia. Prtica
econmica, gesto da populao, direito pblico articulado sobre o respeito das liberdades,
uma polcia com funo repressiva: o antigo projeto de polcia, tal como aparecia em
correlao com a razo de Estado, desloca-se, ou melhor, decompe-se nesses quatro
elementos (FOUCAULT, 2004b, p. 362).
Portanto, entre os diversos operadores de dominao a partir do fim do
sculo XVIII, a polcia tornou-se a instituio na qual mais o poder vai aparecer
exercendo-se visivelmente para alm das regras do direito que o organiza e o delimita.
no interior das prticas da polcia que a violncia do poder escapa ou se torna
visvel. Da a brutalidade da polcia poder, em certos casos, determinar uma
insurreio liberadora (1975[54], p. 148).
224
2. anarquia como agonismo poltico
Perceber o governo como uma mecnica das foras implica igualmente uma
percepo do poltico como sendo constitudo por um campo relacional de foras. Em
Malatesta, o governo sempre aparecer como uma instncia material de sujeio,
jamais como espao de liberdade. Em 1883, o primeiro nmero do jornal La Questione
Sociale trazia uma epgrafe bastante significativa: Por que falais de liberdade? Quem
pobre escravo. Esse primeiro nmero trazia tambm um artigo, com o ttulo
Questo Social e Socialismo, no qual Malatesta afirmava uma das tarefas do jornal.
Dizia que, at pouco anos, negava-se a existncia da questo social na Itlia e
declarava-se o socialismo absurdo e impossvel. Porm, quando finalmente o monstro
do socialismo entrou na Itlia atravs dos processos contra a Primeira Internacional,
os porta-vozes da burguesia buscaram, como fizeram em outros lugares, subtrair da
questo social seu carter de unidade e de complexidade; e procuraram reduzir o
socialismo a um conjunto desvinculado de pequenas e inacabadas reformas (Ibid.,
1883b). Assim, segundo Malatesta,
hoje preciso combater para que no seja confundido o verdadeiro socialismo, o
socialismo popular, com o socialismo burgus, que uma mistificao, uma mscara com
a qual os burgueses ocultam seu cetro de usurrio, um instrumento de guerra [grifos
meus], que o governo adota ao lado da baioneta e das prises para imobilizar os
recalcitrantes. Ser uma das tarefas do nosso jornal examinar os mil aspectos sob o quais se
apresenta o socialismo burgus, e demonstrar que ele se resolve sempre em opresso e
explorao (Id.).
Uma das tarefas de La Questione Sociale era, portanto, a de fazer aparecer,
contra todas as tentativas de pacificao, que so, no fundo, instrumentos de guerra da
burguesia, a inevitvel luta existente entre classes privilegiadas e oprimidas, entre
ociosos e trabalhadores, entre servos e senhores, porque, afinal, essa luta que
anima e explica todo movimento social, e, a despeito dos mil desvios causados pelas
rivalidades de homens e partidos (...), essa luta que fatalmente impele os homens e
partidos, ela que fornece o fio das mais intrincadas posies polticas (Ibid., 1883a).
A postura do jovem anarquista italiano evidentemente a do confronto em oposio
225
estratgia liberal pacificadora, de cuja existncia e atuao ele tinha bastante clareza.
Dizia, por exemplo, que no curso dos vinte anos anteriores, no qual se localizava a
intensa atuao da Primeira Internacional, o proletariado comeou a encontrar seu
campo de batalha na destruio da propriedade privada. Destruir a propriedade
individual a meta do proletariado, defend-la a preocupao principal da
burguesia. Nessa luta, as tticas empregadas pelos partidos burgueses so diversas.
Os mais temerosos, diz Malatesta, atiram-se num trabalho de reao, e preparam uma
nova santa aliana contra a revoluo que os acossa. Os mais inteligentes, porm,
acentuam seu liberalismo, fazem inclusive um pouco de socialismo (pouqussimo!),
prometendo mares e montanhas, e, mostrando-se aliados dos proletrios, tentam
destruir a maior conquista da civilizao, o fruto da Internacional, ou seja, a separao
entre os interesses do proletariado e os da burguesia, a luta consciente e declarada
entre o trabalhador e o proprietrio [grifos meus]. Duas tticas de combate, portanto,
apresenta a burguesia contra o proletariado: se de um lado o proletariado ameaado
abertamente de fome perptua, de priso e de metralha, de outro, indignamente
mistificado: procura-se faz-lo aceitar, soberano de papel, voluntariamente o jogo
(Id.). Em suma, a ttica que busca uma reconciliao absurda de classes
naturalmente inimigas, ttica pela qual chega-se at mesmo a falar em liberdade.
Entretanto, ainda que [a burguesia liberal] no houvesse mostrado, quando estava no
poder, que tipo de liberalismo era o dela, poder-se-ia sempre facilmente prev-lo. Ela
quer conservar o presente, portanto deve querer defend-lo. Da, forosamente, resta
sempre esse fato ltimo, que o interesse e o instinto da prpria conservao, que
cedo ou tarde se revelar em toda sua nudez. Malatesta questiona ironicamente a
pretensa liberdade liberal, ao perguntar o que fariam os mais liberais entre os
republicanos, ao nos deixarem a liberdade de fazer aquilo que queremos, quando
quisermos precisamente a sua destruio? (Id.).
Esse um discurso de guerra que procura desarmar o poder de sua estratgia
liberal, e que procura restituir as relaes de dominao que ela oculta, fazendo-as
226
funcionar ali mesmo onde se apresentam: na fbrica, na instituio da polcia, no
pauperismo existencial dos proletrios etc. Discurso que procura no empirismo das
diversas relaes de dominao a arma lgica pela qual ser retomada e intensificada
uma guerra que jamais cessou, mas que a burguesia pretende silenciar. Discurso que
toma as relaes de dominao no que elas tm de factual e de efetivo. Como em
Proudhon, o discurso de Malatesta retoma o fio da guerra entendida como relao
social permanente e como fundamento das relaes e das as instituies do poder. Do
mesmo modo como aparece evidente que sua preocupao a de problematizar o
problema da soberania e de sua obedincia legal para fazer aparecer o problema da
dominao e da sujeio. Para Malatesta, tratava-se de sustentar um discurso que,
denunciando como instrumentos de guerra a lei, a reconciliao ou qualquer aliana de
classe, tinha o objetivo de mostrar a estrutura binria que divide a sociedade,
cuidadosamente ocultada por uma estratgia governamental, mas que, chegada a hora,
colocaria cada um de cada lado, como adversrios num campo de batalha. Se o
partido [anarquista] continuar a sua estrada e organizar o povo para a luta contra tudo
que existe de burgus, ento a burguesia, querendo ou no, far fila sob a bandeira da
mais franca reao. E a ltima batalha, a definitiva batalha, ser combatida entre a
Internacional vermelha e a negra, entre a Internacional dos trabalhadores e a de Loyla.
Aqueles que no souberem ser nem reacionrios nem revolucionrios, talvez restaro
dispersos e se encontraro fora da grande corrente histrica (Ibid., 1883a).
Porm, a espessura dramtica desse binarismo deve ser entendida no em
termos lgicos, mas em uma dimenso estratgica. Malatesta no o utiliza para pensar
o exerccio do governo, mas como ttica de luta. Dessa forma, o binarismo no
responde a uma realidade em que dois sujeitos estariam em conflito, mas a uma
virtualidade das foras em jogo que pode ser sempre atualizvel. No supe a
dominao exercendo-se como uma dominao de um grupo sobre os outros, o
governo como a dominao macia, mas mltiplas formas de dominao que
atravessam a sociedade. Portanto, preciso no compreend-lo como uma
227
simplificao do exerccio do poder de governo vimos na sesso anterior como
Malatesta percebeu um agravamento da atividade do governo atravs de estratgias
sempre mais complexas. Parece-me, ao contrrio, que a reflexo de Malatesta deve ser
inserida sob o prisma reflexivo de uma relao de foras perptua e permanente, que
no apenas atravessa a sociedade, mas que, atravessando-a, determina nela uma
organizao das foras. Em outras palavras, parece-me que todo esse discurso
dramtico tem a funo especfica de resistir contra as tecnologias governamentais.
Malatesta recusou ver o poder do governo agindo como uma substncia cuja
mudana de colorao transmudaria seu contedo em democrtico, liberal ou
socialista. Para ele, ao contrrio, o liberalismo, fazendo-se passar teoricamente como
uma espcie de anarquia sem socialismo (...) uma mentira, visto que a liberdade no
possvel sem a igualdade (...). A crtica que os liberais fazem do governo se reduz a querer
retirar-lhe um certo nmero de atribuies, a chamar os capitalistas a disput-las, mas no
pode atacar as funes repressivas que formam sua essncia, pois sem policiais o
proprietrio no poderia existir, devendo a fora repressiva do governo sempre aumentar
medida em que aumentam, pelo efeito da livre concorrncia, a desarmonia e a desigualdade
(Ibid., 1987, p. 53).
Em suma, para Malatesta o governo no um atributo, mas simplesmente
qualquer coisa que se combate, que se enfrenta, qualquer coisa contra a qual preciso
sempre lutar ou estar em disposio de luta. A guerra, portanto, no uma metfora
que poderia funcionar e ser utilizada na poltica. , ao contrrio, a re-insero concreta
da guerra nos mecanismos da poltica. Sob esse aspecto, Malatesta aparece, como
sugeriu CERRITO (1975, p. II), re-valorizando e renovando particularmente a obra de
Proudhon.
A imagem que Proudhon deu do Estado funcionando como uma empresa
coletiva importante para perceber o segredo encoberto pelo que ele chamou de
governamentalismo. Assim como em uma empresa, no Estado existem imensos
capitais a manejar, grandes negcios a tratar, grandes lucros a fazer:
conseqentemente, para os fundadores, diretores, administradores, inspetores, e outros
funcionrios, gratificaes a esperar e magnficos tratamentos. Os servios so
228
organizados, hierarquizados em conseqncia e segundo a ordem de mrito e tendo em
vista o resultado do servio dos sujeitos (PROUDHON, 1998b, p. 112). Como em
uma empresa, no Estado tambm existe sempre, e com mais intensidade, um
militarismo interno e a tendncia externa para a conquista. a guerra realizando seus
benefcios de uma outra forma.
Delegacias, comissariados, concesses, propinas, sinecuras, honorrios, penses,
substituindo as exaes pr-consulares, os despojos, os latifundia, as vendas de escravos,
as confiscaes, os tributos, o fornecimento de gros, de pastagens, de madeiras etc.
sobretudo no momento de tomar posse que se do os melhores golpes. Quantos servios
para criar, empregos para distribuir! Quantas promoes! Que burocracia! E para os
homens de negcios, quanta especulao! Eis a guerra em sua fase mais elevada, a guerra
com isonomia, sem expropriao e sem pilhagem (Id.).
Proudhon j tinha mostrado que esse governamentalismo constitui uma
espcie de ciclo ou de espiral da guerra (PROUDHON, 1998b, p. 113). Uma
genealogia do direito, dir Proudhon, mostra que a ordem econmica est colocada sob
a proteo da ordem poltica, ela tem sua garantia na potncia poltica: a poltica
inseparvel da sociedade. Ora, a poltica, por sua essncia, por seu direito, por todas
suas instituies, a guerra (Ibid., p. 122). Assim, uma vez realizada a conquista,
necessrio defend-la contra as incurses externas e contra as revoltas internas. At
que finalmente, quando a conquista se transformar em simples incorporao poltica,
o conquistador se ver obrigado a procurar na explorao dos sujeitos os benefcios de
sua vitria e far assegurar sua explorao atravs de um desprendimento contnuo e
perptuo de foras.
Entre aqueles que pensaram a anarquia, Malatesta foi, talvez, quem mais
retomou a introduo desse agonismo na poltica e nas relaes sociais. Sustentava que
229
a sociedade atual o resultado das lutas seculares que os homens combateram entre si, na
qual, naturalmente, os mais fortes, os mais afortunados, deviam vencer e, de inmeras
maneiras, submeter e oprimir os vencidos. Ento, em um primeiro momento os
vencedores no puderam fazer mais do que expulsar ou massacrar os vencidos. Em
seguida, com a descoberta do pastoreio e da agricultura, quando um homem pde produzir
mais do que necessitava para viver, ento os vencedores acharam mais conveniente reduzir
os vencidos escravido e faz-los trabalhar para si. Mais tarde, os vencedores deram-se
conta de que era mais cmodo, mais produtivo e mais seguro explorar o trabalho alheio
com um outro sistema: reter para si a propriedade exclusiva da terra e de todos os meios de
trabalho, e deixar nominalmente livres os espoliados que, no havendo os meios de viver,
foram obrigados a recorrer aos proprietrios e a trabalhar para eles e conforme sua vontade.
Assim, pouco a pouco, atravs de toda uma rede complicadssima de lutas de todas as
espcies, de invases, de guerras, de rebelies, de represses, de concesses arrancadas, de
associaes de vencidos unidos para prpria defesa e de vencedores unidos para o ataque,
chegou-se ao estado atual da sociedade (MALATESTA, 1975[223], p. 222).
Segundo Malatesta, foi desse agonismo ininterrupto que surgiu o governo, ou
a constituio de uma classe especial provida dos meios materiais de represso.
Surgiu o direito, que tem a tarefa de legalizar e defender os proprietrios contra as
reivindicaes dos proletrios. Surgiram as religies, ou a constituio de uma outra
classe especial (o clero), que, por meio de uma srie de fbulas sobre a vontade de
Deus, sobre a vida aps a morte etc., procura induzir os oprimidos a suportarem
docilmente a opresso. Surgiram as humanidades ou a formao de uma cincia
oficial. Surgiram as naes ou o esprito patritico, os dios de raa, as guerras e as
pazes armadas, ainda mais desastrosas que as prprias guerras. Surgiu a sexualidade,
ou o amor transformado em tormento ou em torpe mercadoria. Enfim, surgiu o dio
mais ou menos insidioso, a rivalidade, a suspeita entre todos os homens, a incerteza e o
medo entre todos (Ibid., 1975[223], p. 223). O que est em jogo buscar re-introduzir
esse agonismo ali onde a poltica passou a ser apresentada sob a tranqilidade do jogo
democrtico.
230
Dissemos mil vezes, e creio que o disse tambm Victor Hugo, a guerra civil a nica
guerra justa e razovel. Por guerra civil entendemos a guerra entre oprimidos e opressores,
entre pobres e ricos, entre trabalhadores e exploradores do trabalho, sejam eles ou no da
mesma nacionalidade, falem ou no a mesma lngua. J dissemos tambm que, visto que
impossvel emancipar moralmente a grande massa dos homens e elev-la a fatores
conscientes dos prprios destinos se antes no se transformarem suas condies materiais e
no se romperem as cadeias que impedem o seu livre movimento, s existem duas
possibilidades para abater o regime atual e substitu-lo por um regime de justia e
liberdade: a ditadura ou a guerra civil (Ibid., 1975[85], p. 214-215).
A poltica deve ser compreendida como teatro de foras cujos atores jogam
aleatoriamente papis de lutas, resistncias e combates. E a realidade recoberta pelo
poltico, em outras palavras, aquilo que constitui o poltico deve ser compreendido
como sendo as tecnologias de governo. O poltico deve ser tomando, portanto, no
para se referir a uma realidade de relaes de poder que so abertas e reversveis, mas
como relaes de dominao compreendidas como aquelas relaes de poder cujas
possibilidades de reverso encontram-se limitadas. E a noo de governo utilizada
para designar as maneiras pelas quais se dirige a conduta humana, procurando limitar e
fixar essas relaes. A partir disso, como vimos, Foucault definiu a
governamentalidade como uma generalidade singular atravs da qual seria possvel
dizer que nada poltico, tudo politizvel, tudo pode tornar-se poltico. A poltica
no nada menos do que isso que nasce com a resistncia governamentalidade, a
primeira sublevao, o primeiro afrontamento (cf. SENELLART, 2004a, p. 409). Se
possvel definir as relaes de poder como relaes de fora, relaes antagnicas,
ento possvel atribuir a emergncia do poltico, como notou Dean, no momento em
que esse antagonismo ganha uma certa intensidade. Do mesmo modo como, para
Foucault, as relaes de poder se tornam polticas quando ultrapassam um certo limiar
de intensidade, fazendo da luta no um mero corte e o impulso de palavras, mas um
expediente atravs do qual a deciso de lutar pode ser violentamente imposta e os
riscos nela implicados so matrias de vida e de morte (DEAN, 2007, p. 11).
justamente esse limiar de intensidade do poltico que incessantemente
buscado e retomando em Malatesta, e com o qual ele respondeu ao tipo de estratgia
231
que procurou precisamente o inverso, ou seja, que procurou evitar os perigos e
inconvenientes da batalha. Foucault mostrou que a represso burguesa no sculo XIX
tomou toda uma outra fisionomia, que no a violncia pura simples, quando deparada
com as diversas resistncias. Assim,
o sculo XIX praticou uma maneira especfica de represso ao proletariado. Diversos
direitos polticos lhe foram concedidos, liberdade de reunio, direitos sindicais, mas, ao
contrrio, a burguesia obtinha do proletariado a promessa de uma boa conduta poltica e a
renuncia rebelio aberta. As massas populares exerciam seus magros direitos se dobrando
s regras do jogo da classe dominante. De sorte que o proletariado interiorizou uma parte
da ideologia burguesa. Essa parte concerne ao uso da violncia, a insurreio, a
delinqncia, o sub-proletariado, os marginais da sociedade (FOUCAULT, 2001b, p. 1170-
1171).
Do mesmo modo, em Malatesta a violncia do poder no , necessariamente,
represso. A violncia permanente do poder no se apresenta na reflexo de
Malatesta como represso permanente e contnua do governo. Ao contrrio, o que
aparece como permanente a relao de procedncia entre violncia e poder, a
permanente existncia de uma relao de provenincia: o poder poltico, que comea
com o punho forte e com a maa de armas, desenvolve-se e se consolida com as
instituies policiais e judicirias (MALATESTA, 1975[170], p. 66). Existe,
portanto, uma realidade implcita ou explcita, evidente ou dissimulada, do exerccio
governamental que procede da violncia (do abuso da fora, diria Proudhon). Essa
realidade, segundo Malatesta, deve-se ao fato de que no possvel subtrair o po de
algum sem antes no lhe retirar pela violncia a possibilidade de resistir (Ibid.,
1975[302], p. 155). E nesse momento, a histria aparece como uma srie de
transformaes e de reverses sucessivas desse fato primeiro e fundador do poder.
Como se o poder, no seu desenvolvimento histrico, apenas se resolvesse atravs de
um jogo perptuo de conjurao e de afastamento do perigo inerente a seu exerccio.
232
Existiam os reis e os imperadores de direito divino, que eram os soberanos absolutos no
territrio submetido. Um belo dia o seu poder encontrou-se em perigo; estavam para serem
destitudos e o sistema monrquico estava para ser substitudo pelo regime republicano.
Mas surgiram os moderados, como se dizia ento (hoje se diria reformistas ou at mesmo
os bolchevistas), que propuseram no mais a abolio pura e simples da monarquia por
meio da revoluo, mas um controle popular que conduziria gradualmente repblica. (...)
Da nasce o sistema constitucional, ou seja, um sistema no qual o rei, se no um imbecil
ou um bon-vivant, faz a mesma coisa com menos fadiga, menos responsabilidade e menos
perigos do que em um regime de governo absoluto (Ibid., 1975[62], p. 163).
A imagem descrita por Malatesta a de um ciclo histrico do poder, que se
fecha apenas quando o perigo do abuso da fora, que inerente e inevitvel ao seu
exerccio, reconduzido sob um certo estado legal. Quer dizer que, ao contrrio da
circularidade do capital, o ciclo do poder no engendra contradies, ele no se resolve
nas chamadas crises endgenas, mas na positividade de uma estratgia. Portanto, a
violncia permanente do governo menos um estado contnuo de perversidade e de
represso do que um tipo de movimento conversor que, corrigindo os excessos e os
perigos, perpetua e eterniza a violncia do poder sob outras formas. nesses termos
que Malatesta analisa, em 1920, o pretenso controle sindical nas empresas. Dizia
que, na impossibilidade de deter o operrio pela fora,
necessrio engan-lo, necessrio faz-lo acreditar que finalmente co-participante da
direo e, portanto, da responsabilidade das fbricas; necessrio para isso dar-lhe
novamente o hbito da disciplina, da ordem, da laboriosidade; necessrio, sobretudo,
criar uma espcie de aristocracia operria, um quarto estado, composto de operrios
melhor remunerados, seguros de seus postos, aspirantes a funes administrativas e
diretivas nos organismos de classe, em boa relao com os patres e membro de comisses
paritrias, que se sentiriam interessados na estabilidade do regime burgus, que atrairiam
pouco a pouco ao meio burgus novos elementos destinados a defend-lo, e que seriam os
mais vlidos instrumentos de conservao e concorreriam eficazmente para manter as
massas em um estado de inferioridade e de servil docilidade. isso que tentar a parte
mais iluminada da burguesia, dedicada compreenso de seus interesses nesses novos
tempos (Ibid., 1975[62], p. 164).
E foi ainda nesses mesmos termos que, em 1913, Malatesta lanava o
seguinte questionamento:
233
para provocar uma mudana poltico-social necessrio que o regime vigente seja
exaurido e que na conscincia de todos, ou pelo menos da maioria, seja formado um desejo
e um claro conceito do tipo de mudana a ser provocada? E possvel que em um dado
regime social seja formada uma conscincia universal favorvel transformao
fundamental de tal regime? No seria mais verdadeiro que todo regime, nascido pela
imposio forada (...), tende a consolidar-se e a se fazer aceito corrigindo os seus defeitos,
compensando no melhor modo possvel os males que produz e criando uma mentalidade
pblica adaptada a sua manuteno; e que, portanto, esse regime seria tanto mais forte
quanto mais longa tiver sido sua existncia? (Ibid., 1913e).
Aqui Malatesta introduz a distino fundamental que marca bem a distncia
entre a concepo poltica anarquista e a marxista. Segundo ele, os marxistas
exerceram uma influncia nefasta no socialismo com a idia de que o sistema
capitalista portava em si os germes de morte e que a concentrao da riqueza em um
nmero cada vez menor de pessoas e a crescente misria conduziriam fatalmente
transformao social (Id.). Malatesta, portanto, se desembaraa da leitura marxista
que colocava o problema poltico no em termos de guerra, mas de contradio. Ele
pergunta se a opresso poltica que gera a opresso econmica, ou vice-vera?,
dizendo que o certo que ningum se deixaria subtrair boca o fruto recolhido ou o
peixe pescado se a isso no fosse obrigado pela violncia (Ibid., 1975[170], p. 66).
Para Malatesta, o princpio aceito pela maioria dos socialistas, particularmente os
marxistas, segundo o qual a sujeio econmica a causa da opresso poltica e da
inferioridade moral e de todos os males sociais tem sua origem nesse fato bruto e
inicial de que o homem sente mais vivamente e antes de tudo as necessidades
alimentares (Id.). Mas ele atribuiu sobretudo ao marxismo, se no a Marx, a crena
segundo a qual o poder poltico, o governo, cumpre sempre e em toda parte os
interesses da classe que o elegeu, quando ao contrrio, para Malatesta o governo
cumpre, sobretudo, os interesses de quem governa e cria em torno de si e para sua
defesa uma classe privilegiada. Se olharmos bem a histria, foi sempre o poder
poltico quem criou o privilgio econmico, foi sempre o homem armado quem coagiu
os outros a trabalhar para ele (Ibid., 1975[50], p. 133).
234
Malatesta provoca com isso a inverso da interpretao marxista, mas
tambm estabeleceu um deslocamento importante. Se verdade que o
desenvolvimento histrico de um poder se resolve nessa espcie de ciclo sem
contradio e sem crise, seria precisamente porque seu exerccio produz
necessariamente focos de instabilidade, de fugas, de inverses e de conflitos. porque
o limite opresso do governo est na fora que o povo mostra-se capaz de opor-
lhe, por esse fato que pode haver conflito aberto ou latente, mas conflito sempre
existe; (...) porque se o governo no cede o povo acaba por rebelar-se; e se o governo
cede, o povo adquire confiana em si e toma sempre mais, at que a incompatibilidade
entre a liberdade e a autoridade torna-se evidente e explode o conflito violento (Ibid.,
1975[223], p. 235). Rompendo com a lgica da contradio, Malatesta procura fazer
valer em alto grau de intensidade a lgica da batalha na poltica, busca atuar um
agonismo poltico. Aqui necessrio frisar que se por poltica, segundo Malatesta,
possvel entender o que diz respeito organizao das relaes humanas, e mais
especificamente as relaes livres ou coagidas entre cidados, e a existncia de um
governo que assume em si os poderes pblicos e se serve da fora social para impor a
prpria vontade e defender os interesses de si mesmo e da classe da qual emana,
ento evidente que essa poltica penetra em todas as manifestaes da vida social
(Ibid., 1975[302], p. 154). Todavia, j em relao ao governo, ele diz que no preciso
sutilizar sobre os vrios significados da palavra governo e incluir nela as regras para
bem conduzir uma casa ou uma empresa, o acordo entre os membros de uma
associao, os modos de convivncia social impostos pela necessidade e
voluntariamente aceitos, a direo tcnica de um trabalho ou de uma funo social etc.
Quando os anarquistas dizem que querem abolir o governo, falam evidentemente do
governo no sentido histrico e poltico da palavra, (...) como um indivduo ou um
grupo de indivduos que detm o monoplio e o comando de uma fora armada e que a
conserva para impor ao povo sua vontade (Ibid., 1975[377], p. 392). Assim,
235
Malatesta especifica que a expresso luta poltica deve ser tomada no sentido da
luta contra o poder poltico (Ibid., 1975[380], p. 406).
Malatesta insistir, de maneira incessante e quase obsessiva, em que a
liberdade, qualquer que seja, mesmo uma liberdade relativa, no se obtm ajudando
um governo. Mas, se obtm somente fazendo-o sentir o perigo de oprimir em demasia
(Ibid., 1975[340], p. 250). Assim, a ttica dos anarquistas deve ser aquela de colocar
em relevo, de provocar o antagonismo e a luta entre trabalhadores e exploradores,
entre governados e governantes, e no cessar nunca de promover o uso dos meios
resolutivos, que devem colocar fim ao conflito destruindo suas causas (Ibid.,
1975[187], p. 113-114). E porque qualquer governo tende, antes de mais nada, a
consolidar e a alargar o seu poder, o nico limite as suas invases contra a liberdade
dos indivduos ou da coletividade est na resistncia que se capaz de lhe opor (Ibid.,
1975[347], p. 269), e disso resulta que a diferena entre governo e governo, quer
dizer, o mais ou menos de liberdade que ele deixa ao povo, mais do que da boa
vontade e da crueldade, da inteligncia e da estupidez dos governos, depende da
conscincia e da resistncia dos governados (Ibid., 1975[376], p. 392-393). Portanto,
a tarefa dos anarquistas (...) a de criar, alimentar, organizar essa resistncia,
recusando por sua vez qualquer contribuio obrigatria ao Estado (Ibid., 1975[347],
p. 269).
Nesse momento, Malatesta faz aparecer aquilo que pode ser tomado como o
ethos do anarquismo, ao afirmar que aquilo que constitui a caracterstica, a razo de
ser do anarquismo, a convico de que os governos ditadura, parlamentos etc. so
rgos de conservao ou de reao, de opresso sempre; e que a liberdade, a justia, o
bem-estar para todos devem derivar da luta contra a autoridade, da livre iniciativa e do
acordo livre dos indivduos e dos grupos (Ibid., 1975[369], p. 360). Para Malatesta,
os anarquistas quando no conseguirem impedir que governos existam, em todo caso,
devem se esforar sempre para que esses governos permaneam ou se tornem o mais
fracos possvel (Ibid., 1975[209], p. 174).
236
Abater, ou concorrer para abater, o poder poltico, qualquer que ele seja; impedir, ou
procurar impedir, que se constituam novos governos e novas foras repressivas e, em todos
os casos, no reconhecer jamais nenhum governo e permanecer sempre em luta contra eles,
e reclamar, com a fora, se for preciso e possvel, o direito de se organizar e viver como se
quiser e de experimentar as formas sociais que se julgue melhores (Ibid., 1975[209], p.
175).
Entretanto, se a tarefa dos anarquismos realmente definida por essa tarefa
especfica de impedir, ou procurar impedir, que se constitua um novo governo ou,
caso no seja possvel, ao menos de lutar para que o novo governo no seja nico,
no concentre em suas mos todo o poder social, continue fraco e vacilante, no
consiga dispor de suficiente fora militar e financeira, e seja reconhecido e obedecido
o menos possvel, se a razo de ser do anarquismo est constituda realmente nessa
atitude de recusa, em todas as situaes, que postula sempre para os anarquistas no
participar jamais do governo, jamais reconhec-lo e permanecer sempre em luta contra
ele (Ibid., 1975[211], p. 184), isso implica compreender tanto o anarquista italiano
quanto o anarquismo imersos no interior de um conjunto constitudo por instituies,
mecanismos, saberes, estratgias, anlises e clculos, articulados em relaes de poder.
Todavia, compreend-los manifestando-se, sob a forma da recusa e da dissidncia, no
interior de conflitos mais amplos e globais. Compreend-los funcionando no de
maneira autnoma, mas como prticas de resistncia que portam a dimenso e a
componente contra, e que possuem uma positividade, ou melhor, uma produtividade
de formas de existncias individuais e de organizao coletiva. Tudo indica que os
anarquismos do sculo XIX e XX no somente estiveram completamente inseridos
nesses jogos de poder chamados poltica, como tambm eles mesmos desempenharam
nesses jogos um papel fundamental. E parece que, efetivamente, a partir das inmeras
estratgias de governo colocadas em funcionamento, a partir das diversas tticas
empregadas nas resistncias, uma certa constituio poltica tenha emergido. At que
ponto e em que medida a especificidade histrica do capitalismo numa determinada
poca no correspondeu singularidade da recusa e da resistncia anarquista? Seria
possvel falar de uma correlao imediata e fundadora entre uma certa forma histrica
237
do capitalismo e a recusa anrquica? O anarquismo no existiria a no ser por esse
jogo perptuo de adaptaes e converses relativas e operadas entre fluxos de poder e
linhas de fuga? Ento, qual foi a forma que essa recusa tomou: ela foi uma recusa
econmica, ou ela teria tomado uma forma mais ampla, digamos, uma forma do tipo
de uma recusa tica? A essas questes to s saberia responder por aproximaes e por
hipteses.
Seja como for, se sugiro que um ethos do anarquismo pode ser definido por
essa postura de negar todo concurso ao governo, negar o servio militar, negar o
pagamento de impostos. No obedecer por princpio, resistir at a ltima extremidade
a toda imposio das autoridades, e recusar-se absolutamente de aceitar qualquer posto
de comando (Ibid., 1975[367], p. 355-356), preciso sempre ter com muita reserva o
procedimento fcil de ver nisso um princpio de subalternizao poltica.
Inicialmente porque, sem dvida, ao lado dessa recusa, Malatesta colocou outra
insistncia, que afirmava a necessidade para os anarquistas de, ao mesmo tempo,
exigir para todos aqueles que queiram, o direito ao uso gratuito dos meios de
produo necessrios para uma vida independente. Insistiu em que os anarquistas
deveriam sempre aconselhar, quando tiverem conselhos a dar; ensinar, se souberem
mais que os outros; dar o exemplo de vida por acordos livres; defender, ainda com a
fora se necessrio e se possvel, a [sua] autonomia contra qualquer pretenso
governativa... mas comandar, jamais (Id.).
Para Malatesta, se os anarquistas atribuem luta contra o governo uma
importncia prtica superior, no pelo fato deles ignorarem que a emancipao
econmica est sempre na base de todo progresso poltico, nem tampouco porque os
anarquistas ignoram que uma revoluo que deixasse subsistir qualquer privilgio
econmico logo provocaria a reconstituio do governo. Mas essa proeminncia da
luta contra o governo se deve, principalmente, ao fato de que o povo habituado a ser
governado e que, quando derruba um governo, est sempre disposto a aceitar outro.
De modo que a luta contra o governo contm tambm um elemento menos negativo,
238
ou ela contm uma outra dimenso que mais positiva. Para Malatesta, a luta contra o
governo abre para a prtica do educar para a liberdade, de tornar consciente da
prpria fora e da prpria capacidade homens habituados obedincia e
passividade. A luta contra o governo possibilita aos anarquistas agirem
de modo que o povo faa por si mesmo, ou que pelo menos acredite fazer por si mesmo por
instinto e inspirao prpria, mesmo quando na realidade ele sugestionado. Assim como
faz um bom mestre quando prope um problema ao aluno que no capaz de resolv-lo,
ajuda-o, sugere-lhe a soluo, mas ensina de modo que ele acredite que chegou at l por si
mesmo, fazendo-o adquirir coragem e confiana nas prprias capacidades. [Assim,
preciso] esforar-se para no dar ares de expor e impor magistralmente aos outros uma
verdade conhecida e indiscutvel; procurar estimular-lhes o pensamento, fazendo-os chegar
com o prprio raciocnio a concluses que teria sido possvel de serem apresentadas, belas
e acabadas, com maior facilidade para si, mas com menor esforo para o aluno. E quando
se encontrar, na propaganda e na ao, em situao de agir como chefe e como mestre,
num momento em que os outros estavam inertes e incapazes, esforar-se- de no fazer-
lhes perceber, para estimular neles o pensamento, a iniciativa e a confiana em si.
segundo esses critrios que necessrio, portanto, impelir o povo a resistir ao governo e a
faz-lo agir o quanto possvel como se governo no existisse (Ibid., 1975[378], p. 400-
401).
O que est em jogo na luta contra o governo? Para Malatesta, uma
caracterstica especificamente humana ser descontente consigo mesmo, desejar sempre
qualquer coisa de melhor, aspirar maior liberdade, maior potncia, maior beleza.
Assim, o homem que considerasse tudo bom, que pensasse que tudo isso que existe
deve ser assim, que no se deve nem possvel mudar, e se adaptasse tranquilamente,
sem luta, sem protesto, sem movimento de rebelio, na posio que as circunstncias
lhe fazem, seria menos que um homem: seria... um vegetal, se fosse permitido falar
desse modo sem caluniar os vegetais (Ibid., 1975[245], p. 33). Nesse sentido, a luta
contra o governo produz o desbloqueio de um elemento tico que provoca inquietao
de si mesmo; ela contm um princpio de agitao e de movimento que desassossega a
vida dos indivduos. A luta contra o governo constitui o devir revolucionrio das
pessoas. Ser anarquista rebelar-se s ms influncias do ambiente, e se tanto mais
anarquista quanto mais se consegue evitar essas ms influncias e quanto mais se luta
para modificar o ambiente prejudicial. Naturalmente, trata-se de mais ou de menos,
239
porque ningum pode colocar-se completamente fora e contra o ambiente (Ibid.,
1975[269], p. 90-91). Dessa forma, a luta pode conter o devir revolucionrio das
pessoas na medida em que capaz de provocar individuaes sem sujeito. Como
Deleuze e Guattari afirmaram, o devir no imitar, nem identificar-se; nem regredir-
progredir; nem corresponder, o devir no reduz os indivduos a parecer, nem a
ser, nem a equivaler, nem a produzir (DELEUZE; GUATTARI, 2005, p. 19).
Uma luta sem devir produziria apenas sujeitos determinados. Ao contrrio, o devir dos
indivduos em luta a abertura para o indeterminado, para sua capacidade poltica.
Esse modo de individuao que diferente daquele do sujeito, Deleuze e Guattari
chamaram-no de hecceidades. Nelas os indivduos cessam de serem sujeitos para se
tornarem acontecimentos em agenciamentos coletivos, em um fluxo que dissolve as
formas e as pessoas e libera os movimentos. Assim, existe sempre um devir
revolucionrio, mesmo nas lutas mais minsculas, e que pode ser visto constituindo a
virtualidade delas e operando como percepo do limite do intolervel. Ele marca at
onde foi possvel suportar a misria, a opresso, a fome e a humilhao. Limite alm
do qual explode bruscamente, e frequentemente por razes muito banais, a revolta que
reativa o combate. O devir revolucionrio , portanto, o momento que todo poder
busca evitar.
Vimos como a reflexo de Malatesta reverteu o modelo da Revoluo
Francesa. Mas ele fez mais. Ao romper com o ciclo da Soberania no qual a revoluo
foi encerrada, ao recusar o momento solene e instaurador da revoluo, Malatesta fez
do devir revolucionrio matria da tica anarquista: o sujeito anarquista, a
subjetividade anarquista, resulta do prprio ato revolucionrio. O anarquista se inventa
no gesto da agitao, da rebelio e da revolta. No existe subjetividade anarquista, no
pode haver tica anarquista sem atos de rebelio, sem devir revolucionrio. A
revoluo, rompendo violentamente o estado de coisas atual, fornece s massas
condies tais que as tornam capazes de compreender e de atuar a anarquia
(MALATESTA, 1975[5], p. 37-38), do mesmo modo como os indivduos no se
240
aperfeioariam e a anarquia no se realizaria nem mesmo daqui a um milho de anos,
sem que antes no seja criado por meio da revoluo o ambiente necessrio de
liberdade e de bem-estar (Ibid., 1975[113], p. 283).
No h, portanto, nenhuma solenidade na vitria revolucionria. Mas h no
combate revolucionrio, na luta revolucionria, as condies que provocam e que
asseguram a emergncia da anarquia. Aquilo que a burguesia pretendeu eliminar da
revoluo, a guerra civil, precisamente o que constitui a matria da subjetividade
anarquista: a guerra civil que forma a substncia tica da anarquia, porque na
guerra civil, nessa dimenso contingente e intensa das relaes de fora, que
concentra, conserva e desprende as energias individuais, que Malatesta localizou a
procedncia tica do anarquismo: o anarquismo nasceu da revolta moral contra as
injustias sociais (Ibid., 1975[310], p. 171-172).
Sugeri considerar a presena desse agonismo poltico como ethos do
anarquismo porque parece que, de alguma maneira, ele que atravessa a maior parte
das problematizaes de Errico Malatesta, sendo possvel consider-lo como um
princpio de inteligibilidade para a compreenso de vrias outras problemticas, como
veremos, tais como a propaganda pelo fato, o sindicalismo e o fascismo.
241
captulo 4: ilegalismo, terrorismo e violncia
Um lugar de destaque na reflexo de Malatesta foi dado questo da
violncia. A procedncia dessa problemtica deve ser buscada nas prticas do
terrorismo anarquista que marcaram as ltimas dcadas do sculo XIX.
Com a represso Comuna de Paris, em 1871, a seo francesa da
Associao Internacional dos Trabalhadores foi praticamente extinta. A mar de
violncias que se abateu sobre a Comuna tambm silenciou a ala mais combativa dessa
grande organizao revolucionria que sacudiu a Europa desde sua fundao, em
1864. Isso de maneira quase inevitvel, j que na Comuna de Paris protagonizaram
duas tendncias: os blanquistas de um lado, e de outro lado os proudhonianos, que
constituam a maioria da seo internacionalista francesa. Alguns dos mais conhecidos
communards foram tambm internacionalistas, termos que se confundiram e que se
tornaram at mesmo sinnimos para a opinio pblica da poca (MASINI, 1974, p.
45). Aps a Comuna de Paris o cenrio com o qual os militantes anarquistas
defrontavam-se era desolador. Fernand Pelloutier (1867-1901), secretrio geral das
Bolsas de Trabalho, deu a seguinte descrio: a seo francesa da Internacional
dissolvida, os revolucionrios fuzilados, enviados para colnias penais ou condenados
ao exlio; os clubes dispersados, as reunies proibidas; o terror paralisando
profundamente os raros homens que escaparam ao massacre: tal era a situao do
242
proletariado no dia seguinte Comuna (cf. MAITRON, 1975, p. 86). Realidade que,
por sua vez, fazia eco clebre afirmao de Adolphe Thiers, que, ao defender o
mximo rigor durante a represso, disse que o socialismo estaria acabado por muito
tempo (cf. LISSAGARAY, 1995, p. 283). Todavia, como observou Jensen, o breve
sucesso da Comuna no serviu apenas para promover sua notoriedade mundial e
provocar o terror nas classes mdias, ela convenceu a burguesia e muitos governos de
que a Internacional era uma organizao de imenso poder (...). A Comuna tambm
convenceu os internacionalistas espalhados pelo mundo de que era possvel lanar
realmente uma insurreio bem sucedida contra a ordem estabelecida (JENSEN,
2004, p. 123).
Mas um outro acontecimento tambm concorreu para o refluxo do
movimento anarquista na Europa. Com o desaparecimento da seo francesa, a
Intermacional se tornou permevel s manobras de Marx e Engels, que transferiram
seu conselho geral para Londres e provocaram a expulso de Bakunin, Guillaume e
outros anarquistas, durante o congresso de Haia. Como resposta, as sees italiana,
espanhola e sua aprovaram a separao entre libertrios e autoritrios durante o
congresso realizado em Saint-Imier, em setembro de 1872: o socialismo seguiria,
doravante, dividido entre socialistas que defendiam o uso dos meios legais
disponibilizados pela burguesia, e anarquistas que no somente reivindicavam a ao
direta como mtodo, mas tambm faziam intensa campanha para manter o movimento
operrio alheio a qualquer ao legal.
A histria da 1 Internacional foi inteiramente atravessada por grandes
embates tericos travados entre Bakunin e Marx, mas tambm entre Bakunin e
Mazzini, sobre os meios de ao. Foi um momento de definio ttica do anarquismo:
Proudhon e Stirner, e antes deles Godwin, j tinham lanado reflexes e crticas
singulares contra o Estado. Bakunin, por sua vez, provocou sua infuso no movimento
operrio por meio da AIT. Caberia gerao seguinte de militantes promover os
experimentos no presente por meio disso que se chamou revoluo social. O jovem
243
Bakunin foi portador de uma concepo de revoluo tpica ao sculo XVIII. A
revoluo lhe parecia um evento extraordinrio e descontnuo, um fato determinado
pela ordem das coisas e portador de uma destinao e de um corte temporal. Essa viso
romntica bem evidente nos relatos que deu sobre a revoluo de 1848, em Paris.
Parecia que o universo inteiro estava transtornado; o incrvel fez-se habitual, o
impossvel possvel e o possvel e o habitual insensatos. Em uma palavra, os nimos
estavam em tal estado que se algum dissesse: o bom Deus acabou de ser expulso do
cu, a Repblica foi proclamada, todos acreditariam e ningum se surpreenderia
(BAKUNIN, 1976, p. 69-70). Mas, uma nova percepo fazia-se presente na ltima
declarao de Bakunin, feita em 1873 aos seus amigos da Federao do Jura: estou
convencido de que j passou o tempo dos grandes discursos tericos, impressos ou
falados. Nos ltimos nove anos desenvolveram-se no seio da Internacional mais idias
do que as necessrias para salvar o mundo (...). O tempo j no est para as idias, mas
para os fatos e para os atos (cf. VASCO, 1984, p. 88). Da revoluo como fato macro
e cumulativo, como a grande noite dos povos, ocorre um deslocamento para um
movimento difuso constitudo por fatos revolucionrios. a esta nova configurao de
batalhas parcelares que corresponder a incorporao e a difuso de uma ampla rede
de conspiraes, demonstraes revolucionrias, assassinatos, incndios, guerrilhas,
barricadas, motins, greves, atentados, revolta operria e camponesa, atos individuais e
movimentos coletivos, todos eles re-condutveis revoluo, sob a forma de fatos
revolucionrios, que atuaro num tempo que agora contnuo e processual, como
revoluo permanente.
Desse modo, propaganda pelo fato possui uma dupla procedncia. Por um
lado, emergiu pela insuficincia da propaganda oral e escrita, pelo declnio de um
tempo que estava ligado aos grandes embates discursivos. Mas foi tambm uma recusa
da representao, da mediao entre coisa e signo, na medida em que esse apelo aos
fatos ocorreu num contexto em que o socialismo eleitoral ganhava sempre mais
influncia, atraindo para suas fileiras at mesmo antigos internacionalistas, como foi o
244
caso de Andrea Costa
11
. Por isso, o apelo significou tambm uma resposta idia de
representao. Propagar pelo fato no era uma mensagem ideolgica, no foi a
linguagem presa agindo no interior de uma representao cuja potncia apaga a prpria
existncia da linguagem. Era uma multiplicidade macia de atos que apresentavam a
fala bruta emergida da prpria superfcie das coisas: o fato que fala, no sua
representao. A propaganda pelo fato foi um gesto, muitas vezes dramtico, que
procurou demonstrar que toda teoria poltica est sempre e efetivamente implicada
numa prtica social, que entre uma e outra existe uma relao constitutiva cuja
inteligibilidade a representao tem por funo eliminar.
De um outro lado, foi por meio da propaganda pelo fato que uma srie de
ilegalismos passou a ser praticada sob uma certa linguagem poltica. Essa questo do
ilegalismo foi muito mal compreendida. Geralmente tratados como fenmeno
marginal, procurou-se privar esses fatos de qualquer significado poltico. Porm, esses
atos ilegais, longe de terem sido o resultado do equvoco ou de encontrarem sua razo
na existncia de personagens mais ou menos lendrias, tiveram um papel constitutivo
no desenvolvimento do anarquismo: no possvel pensar o anarquismo sem a
dimenso ilegalista, que est ao mesmo tempo para alm dos atos e prticas ilegais,
mantendo com ele uma relao constitutiva. O ilegalismo encontra-se inscrito no
anarquismo desde quando Proudhon lanava sua mxima no sculo XIX,
escandalizando mesmo os mais radicais. A declarao de que a propriedade o roubo
trazia em si outra frmula necessria: proprietrio igual a ladro: a propriedade o
roubo... Que modificao no pensamento humano! Proprietrio e ladro sempre
foram expresses contraditrias, tanto quanto os seres que designam so antipticos;
todas as lnguas consagraram esta antilogia (PROUDHON, 1997, p. 12). Portanto,
11
Andrea Costa foi, ao lado de Carlo Cafiero e Errico Malatesta, um notrio propagandista da Internacional na
Itlia, travando relao direta com Bakunin. Em 1879, aps ter cumprido quatorze meses de priso, rev suas
concepes e adere ao socialismo parlamentarista. Essa passagem marca o nascimento da via legalitria e
reformista do socialismo italiano. O mesmo suceder a Francesco Saverio Merlino em 1896.
245
menos do que uma valorizao positiva do crime, como queriam os partidrios de
Fourier, Proudhon produz uma reverso do direito que colocou em evidncia a
propriedade como resultado de uma espoliao, procurando re-introduzir nas relaes
sociais a noo de fora: sendo a posse um produto da fora - o roubo! -, o direito de
propriedade o direito do mais forte, em outras palavras, o poder soberano atuando
em segredo, sob o aspecto da lei, da moral e da religio. Reverter o direito significou,
para Proudhon, denunciar esse fenmeno paradoxal da autoridade em que o Estado, ao
criar o direito, aceita limitar seu poder por meio das leis.
A ligao entre anarquismo e ilegalidade aparece ainda de maneira mais
explcita em outro texto mais tardio, escrito, em 1921, sob os efeitos provocados pela
falncia da Revoluo Russa, pelos efeitos da guerra e sob a novidade do fascismo.
Nesse texto pode-se ler sobre a revoluo que: a caracterstica principal, para que se
possa dizer que a revoluo comeou, o afastamento da legalidade, a ruptura do
equilbrio e da disciplina estatais, a ao impune da rua contra a lei, (...) enquanto a
fora se encontre do lado da lei e do velho poder, no se entrar no perodo
revolucionrio (FABBRI, 1967, p. 200-201, grifos meus). Fabbri no pergunta qual
o fato revolucionrio? Ele violento ou no? Qual o tipo de violncia que o recobre?
Trata-se de um regicdio ou de uma greve no violenta? Tudo isso importa pouco ou
nada, na medida em que a violncia empregada contra quem manda por quem j no
quer obedecer (...) a revoluo em ao. (Ibid., p. 202). O fato s revolucionrio
apenas quando rompe a legalidade. Nesse sentido, a noo de fora como princpio de
estruturao das relaes sociais, fundamental para entender o uso especfico que os
anarquistas fizeram da violncia. Ela funcionou como pano de fundo para a maioria
dos atentados que procuravam reverter a poltica, que se pretendia democrtica,
fazendo reaparecer nela o gesto guerreiro ocultado.
Alm da m reputao que implicou os atos anarco-terroristas, como notou
COLSON (2001, p. 29), tambm a violncia produzida pela nudez desses confrontos
obscureceu a inteligibilidade implcita desses embates fsicos, literalmente corpo a
246
corpo, e conduziu a uma simples condenao moral. Frutos do equvoco e destinados
a uma existncia efmera, os atos terroristas no anarquismo foram algumas vezes
privados de contedo poltico; foram considerados produtos de um sentimento confuso
de revolta individual incompatveis com a ao revolucionria.
J foi dito como, aps as revolues que sacudiram a Europa, a ilegalidade
popular portava consigo novos perigos. Como observou Foucault, durante todo os
sculos XVIII e XIX, aquilo que o capitalismo temeu verdadeiramente, sem ou com
razo e desde 1789, 1848, 1870, foi o perigo iminente das sedies, das agitaes, da
terrvel imagem de uma juventude pobre e arruinada descendo as ruas com suas facas
e fuzis prontas para ao direta e violenta (FOUCAULT, 2001b, p. 1202). Do mesmo
modo como, at o final do sculo XIX, segundo Foucault, bem visvel que quase
todas as insurreies populares foram feitas sob o impulso comum no apenas dos
camponeses, dos pequenos artesos e dos primeiros operrios, mas tambm dessa
categoria de elementos agitados, mal integrados sociedade, que eram, por exemplo,
os bandidos das grandes estradas, os contrabandistas..., em suma, todos esses que o
sistema jurdico em vigor, que a lei do Estado tinha rejeitado (Ibid., 2001b, 1402).
Desse modo, se de um lado a burguesia tratou de conjurar esse
desenvolvimento da dimenso poltica das ilegalidade populares pela produo da
delinqncia - um tipo ilegalidade politicamente no perigosa -, de outro, foram os
anarquistas que procuraram conferir a ela um desenvolvimento pleno - uma ilegalidade
macia de ordem no somente econmica, mas poltica e social. O ilegalismo
anarquista da segunda metade do sculo XIX procurou reativar o afrontamento da rua
contra a lei, num horizonte fora do direito e da moral, mas dentro do campo da
poltica e dos jogos de fora. Mas preciso dizer que no h futuro na ilegalidade
anarquista, e isso a distingue das demais ilegalidades. Tratou-se de um ato finalizado
em si mesmo e sem pretenso de positividade ou cristalizao, e de um meio poltico
que devia concordar com os fins do anarquismo.
247
Segundo o historiador Pier Carlo Masini, Carlo Cafiero e Errico Malatesta,
esse ltimo contando com 21 anos, haviam declarado solenemente, durante o
congresso da Internacional em Berna, ocorrido entre os dias 26 e 29 outubro de 1874,
que a Federao italiana acreditava que o fato insurrecional, destinado a afirmar com
aes o princpio socialista, seja o meio de propaganda mais eficaz e o nico que, sem
enganar e corromper as massas, capaz de penetrar profundamente nos estratos sociais
e atrair as foras vivas da humanidade na luta que a Internacional sustenta.
Lanavam, com isso, as justificativas da propaganda pelo fato como tcnica de
difuso mais eficaz dos princpios anarquistas (MASINI, 1974, p. 108). Mas,
segundo Jensen, foi Paulo Brousse, anarquista francs emigrado para Barcelona e em
seguida para Berna aps a supresso da Comuna, quem teria desenvolvido o conceito
de um outro modo. Brousse, aparentemente, foi a primeira pessoa a usar a frase
propaganda pelo fato, em um artigo publicado duas semanas aps a ao guerrilheira
italiana [o Bando do Matese], sugerindo que se tratava de uma ttica que poderia ser
empregada no somente por bandos de conspiradores, mas tambm por indivduos
(JENSEN, 2004, p. 124).
Seja como for, na primavera de 1877 foram os dois internacionalistas
italianos, Cafiero e Malatesta, que protagonizaram a ao insurrecional que ficou
conhecida como Bando do Matese. Matese uma regio formada por um conjunto
de montanhas cuja disposio constitui um quadriltero com fronteiras entre as cidades
de Caserta, Benevento e Campobasso, regies compostas de uma populao de
camponeses pobres que sofriam com a arbitrariedade governamental na represso
indiscriminada aos grupos marginais. Narrando brevemente, a inteno do bando
armando do Matese era percorrer as montanhas, alcanado pequenas cidades que
seriam tomadas de assalto em uma ao insurrecional. Porm, no seu desfecho, os
insurrecionalistas acabam vencidos pelo terrvel mal tempo das montanhas e pela falta
de alimentos, sendo capturados. Sobre essa iniciativa, Malatesta escreveu para o
Boletim da Federao Jurassiana:
248
Permanecemos no campo por seis dias e fizemos toda propaganda possvel. Entramos em
duas cidades [Gallo e Letino]; queimamos o arquivo municipal, os registros dos impostos e
todos os documentos que encontramos; distribumos ao povo os fuzis da Guarda Nacional,
os machados seqestrados aos camponeses no curso de vrios anos por contraveno s
leis florestais; e o pouco dinheiro que encontramos na caixa do cobrador de impostos de
uma das duas cidades. Destrumos o contador dos moinhos e depois explicamos ao povo,
que cheio de entusiasmo reunia-se na praa, os nossos princpios, que foram acolhidos com
grande simpatia. (...) Agora estamos na priso e j declaramos ao juiz instrutor que
empunhamos armas para fazer a revoluo (cf. BERTI, 2003, p. 74-75).
A propaganda do bando armado do Matese queria mostrar s populaes
miserveis e descontentes as vias de sua prpria emancipao. E elas, por sua vez,
aplaudiam a consumao pelas chamas do retrato do rei Vittorio Emanuele II, aos
gritos de Evviva lInternazionale! O Bando do Matese foi apenas o preldio desse
novo mtodo ao qual o congresso anarquista de Londres, realizado em julho de 1881,
conferiu um estatuto de programa. Aquele congresso reuniu os mais notrios
expoentes do anarquismo, num total de 40 congressistas oriundos de 56 federaes e
46 sees ou grupos no federados da Europa e da Amrica. A imprensa londrina
noticiava a presena desses inmeros estrangeiros andando pelas ruas da cidade sujos
e com os bolsos cheios de dinamite (MASINI, 1974, p. 205). A principal deliberao
do congresso foi a aprovao da propaganda pelo fato como mtodo de luta:
considerando que a AIT reconheceu necessrio agregar propaganda verbal e escrita a
propaganda pelo fato; considerando, entre outros, que a poca de uma Revoluo no est
distante; o congresso resolve que as organizaes aderentes AIT tenham em conta as
seguintes proposies: (...) propagar, por atos, a idia revolucionria (...). Saindo do terreno
legal (...), para portar nossa ao sobre o terreno da ilegalidade, que a nica via
condizente com a revoluo, necessrio recorrer a meios que estejam em conformidade
com esse fim (cf. MAITRON, 1975, p. 114). (...) recordando que o mais simples fato,
dirigido contra as instituies atuais, fala melhor s massas do que milhares de impressos e
rios de palavras (cf. BERTI, 2003, p. 95), [e que] as cincias tcnicas e qumicas, tendo j
rendido servios causa revolucionria e sendo chamadas no futuro a lhe render ainda
mais, o congresso recomenda s organizaes e indivduos membros da AIT, de dar um
grande peso ao estudo e s aplicaes dessas cincias, como meio de defesa e ataque (cf.
MAITRON, 1975, p. 114-115).
O esforo de propaganda anarquista seguiria essa direo. Na Frana, o
jornal La Rvolution sociale inaugura sua seo de crnica para a fabricao de
bombas com o ttulo Estudos cientficos, e o mesmo sucede com La Lutte e Le
249
Drapeau noir, em 1883, La Varlope, em 1885 e La Lutte sociale, em 1886. Maitron
(Ibid., p. 206) fala de um grupo de anarquistas cuja ordem do dia de sua primeira
reunio foi dedicada questo Da confeco manual de bombas, ao mesmo tempo
em que se difundiam alguns conselhos prticos.
Esperando o momento preciso: no vero, deve-se queimar ou explodir as igrejas,
envenenar os legumes, as frutas e presente-los aos padres, agir do mesmo modo em
relao aos proprietrios. Que os serventes temperem a cozinha do burgus com veneno;
que o campons mate o guarda-florestal quando este passar portando seu fuzil, o mesmo
pode-se fazer com o prefeito e os conselheiros municipais, porque eles representam o
Estado. (...) [Mas,] um bom meio de causar um fogo satisfatrio o de se munir de cinco
ou seis ratos, os embebedar com petrleo ou essncia mineral, atear fogo e os jogar no
local que ser quer destruir. As bestas, enlouquecidas pela dor, imbricam-se, saltam e
colocam fogo em vinte lugares ao mesmo tempo (Ibid., p. 206-207).
Na mesma direo, o jornal Le Drapeau noir reproduz o Manifesto dos
Niilistas franceses, no qual era preconizado o envenenamento dos patres por estrato
de chumbo, pores de carne infectada, cicuta etc. O manifesto acrescentava que
nestes trs anos que a liga existe, centenas de famlias burguesas pagaram o tributo
fatal, devoradas por um mal misterioso que a medicina era incapaz de definir e de
conjurar (Ibid., p. 207). Tambm o jornal Le Rvolt, em 1882, reproduziu um cartaz
dos Justiceiros do povo que aconselhava incendiar os imveis dos proprietrios
identificados pela sua resistncia. E em 1887 LAction rvolutionnaire, publicado em
Nmes, que assim resume sua ttica: armemo-nos de todos os meios que nos d a
cincia; faamos desaparecer essa sociedade de instituies criminais baseadas sobre o
egosmo desenfreado, pilhemos, queimemos, DESTRUAMOS. Coloquemo-nos
ardorosamente obra, que cada um de ns aja livremente segundo seu temperamento e
seu ponto de vista, com o fogo, o punhal, o veneno, que cada golpe aplicado no corpo
social burgus cause nele uma ferida profunda! (Ibid., p. 208).
No ano seguinte, LIde ouvrire, publicado em Havre, aplaudia os cartazes
revolucionrios fixados naquela vila, nos quais se lia:
250
Justia ou morte, aos trabalhadores. Vocs, a quem se explora e a quem se rouba
diariamente; vocs, que produzem toda riqueza social; vocs, que so a FRAQUEZA dessa
vida de misria e de embrutecimento, REVOLTEM-SE! Forados do trabalho, queimem o
crcere industrial! Estrangulem o carcereiro! Abatam o policial que os aprisiona! Degolem
o magistrado que os condena! Enforquem o proprietrio que os joga na rua nos momentos
de misria! Forados da caserna, passem a baioneta pelo corpo do seu superior! Verdugos
do povo! Futuros mestres assassinos! Forados de todas as ordens, sufoquem seu patro!
Retirem de suas bainhas a lmina liberadora! Pilhem! Incendeiem! Destruam! Aniquilem!
Purifiquem! VIVA A REVOLTA! Viva o incndio, morte aos exploradores! (Ibid., p. 208-
209).
O ilegalismo anarquista se tornou rapidamente uma prtica bastante
generalizada e que, sob o grito de Viva a revolta! Viva o incndio, morte aos
exploradores!, configurava-se uma nova ttica revolucionria. A revoluo diziam
os anarquistas no ser mais uma batalha livre no grande dia, mas uma guerra de
partidrios conduzida de modo oculto, por atos individuais (Id.). Nessa mesma
direo, das pginas de LAssociazione, em 1889, l-se Malatesta defendendo a linha
de conduta que deveria ser a dos anarquistas: Propaganda com escritos, com palavras
e com os fatos contra a propriedade, contra os governos, contra as religies; suscitar o
esprito de revolta em meio s massas (MALATESTA, 1889a). Quanta coisa
possvel fazer, diz Malatesta, com apenas um pouco de criatividade e mpeto. Por
exemplo, basta um homem forte para roubar ao patro o dinheiro em dia de pagamento
e distribu-lo entre os companheiros; ou ento, quando um proprietrio aparecer para
despejar uma famlia de operrios, que coisa necessria para faz-lo rolar escada
abaixo? E para interceptar o executor de uma penhora, o cobrador de taxas? Para
Malatesta, esses eram todos bons meios de guerra. Em outros tempos praticamos o
bando armado, que igualmente uma empresa de guerra, (...) mas que exige forte
organizao funcionando com mtodos autoritrios; exige chefes especializados e
prestigiosos. (...) Porque queremos uma revoluo popular (...), necessrio adotar
meios que esto disposio de todos (Ibid., 1889c).
A inteno dessas aes era a de reforar um face a face entre Estado e
indivduo. Esses atos deveriam fazer ressurgir o espectro daquela velha revoluo que
a ordem burguesa tinha encoberto apenas mediocremente, e para isso o registro da
251
ilegalidade popular foi largamente utilizado pelos anarquistas para descrever as
relaes polticas no interior do corpo social em termos de luta e antagonismos. E foi a
partir dos anos 1890 que o terrorismo anarquista irrompe no pice da propaganda pelo
fato, encontrando no atentado a bomba sua forma mais espetacular.
Era 9 de dezembro de 1893, quase quatro horas da tarde, quando uma
exploso bramiu, ensurdecendo os presentes na Cmera dos Deputados de Paris, no
Palcio Bourbon, o templo do sufrgio universal. Do Htel-Dieu, ferido pela exploso,
Auguste Vaillant se entrega, escrevendo ao tribunal uma relao de seu atentado: tinha
lanado uma bomba feita com uma marmita plena de pregos e plvora. O atentado no
deixou mortos, mas disseminou o terror entre a classe poltica e provocou sua ira. Ao
deixar de joelhos o smbolo da lei, o atentado de Vaillant serviu tambm como
pretexto para a reativao da mquina repressiva que funcionou na represso
Comuna de Paris. Em menos de uma semana e sem nenhuma discusso prvia, o
senado aprovou duas leis celeradas: em 12 de dezembro contra a liberdade de
imprensa, e em18 de dezembro contra a liberdade de associao. Nas palavras de
Lacour, presidente do Senado, era preciso estirpar uma seita abominvel em aberta
guerra contra a sociedade, contra toda noo de moral, e que proclama ter por
finalidade a destruio universal; por meios: o delito, o terror (cf. GALLEANI, 1994,
p. 32). Vaillant julgado em janeiro de 1894. Com uma voz suave e uma indiferena
corts, ele diz corte:
252
entre os explorados, senhores, possvel distinguir duas categorias: uns no se dando conta
nem daquilo que so nem daquilo que poderiam ser, se conformam com a vida como est,
convencidos de que nasceram para serem escravos, felizes pela migalha que a eles se joga
em troca do seu trabalho; mas existem os que pensam, estudam e observando em torno
percebem flagrantes desigualdades sociais. (...) Atiram-se no combate de cabea erguida,
porta-vozes das reivindicaes proletrias. Eu sou desses ltimos, senhores jurados. (...) Os
massacres no impedem massacres, verdade; mas respondendo de baixo s agresses que
vm do alto no estamos em estado de legtima defesa? Sei o que diz a gente sobre isso:
devia conter nas palavras a minha reivindicao. Mas o que querem? Para comover os
surdos, para chamar a ateno daqueles que no querem ouvir a voz, preciso o estampido
de uma detonao. Desde muito tempo s nossas vozes se responde com crcere, forca,
metralha, e no vos iludam, a exploso da minha bomba no o grito de um Vaillant
solitrio; o grito de toda uma classe que reivindica os prprios direitos, e que aps
palavra vir a ao (Ibid., pp. 51-52).
Vaillant condenado a morte. Desde o incio do sculo era a primeira vez
que se condenava morte algum que no tinha assassinado. No dia 18 de janeiro de
1894 sua pequena filha, Sidonie, enviou para a primeira dama francesa, Sra. Carnot,
uma carta suplicando pela vida do pai. Mas o presidente da repblica, Sr. Sadi Carnot,
recusa clemncia, e Vaillant guilhotinado em 5 de fevereiro de 1894, com 33 anos e
aos gritos de Viva a anarquia! Minha morte ser vingada.
12
Todavia, a espiral dos atentados logo atingir o prprio vrtice da pirmide
poltica quando um jovem anarquista italiano de vinte anos, Sante Geronimo Caserio,
far vibrar a voz do seu punhal. Caserio trabalhava de padeiro em Ste, sul de
Montpellier. Na manh do dia 23 de junho de 1894, provoca sua demisso e recebe de
seu patro o pagamento de 20 francos. Pouco depois compra um punhal pelo valor de
5 francos e se dirige a Lyon. O pouco dinheiro que lhe resta no suficiente para uma
refeio e mais o gasto da viagem, assim que Caserio decide saciar sua fome e fazer
parte do trajeto a p, de Vienne a Lyon, 27 quilmetros. Finalmente alcana Lyon na
12
A duquesa de Uzs se oferece para adotar a pequena Sidonie, mas Vaillant recusa entregando-a, ao anarquista
Sebastin Faure, que a educar at a juventude. Quando adulta e aps se casar, toda relao com Faure e os
meios anarquistas foi rompida, e feito segredo de sua filiao. A tumba de Vaillant no cemitrio de Ivry foi local
de grande peregrinao, desaparecendo sob as flores. Uma mensagem, deixada entre as folhas de uma palmeira,
dizia: Porque fizeram beber a terra / Na hora do Sol nascente / Rosado, augusto e salutar / As santas gotas do
teu sangue / Sob as folhas desta palma / Que te oferece o direito ultrajado / Dormes teu sono soberbo e calmo /
mrtir!... Tu sers vingado (cf. MAITRON, 1975, p. 235).
253
noite de 24 de junho. A cidade est em festa por ocasio da visita do presidente da
repblica, Sadi Carnot, Exposio Universal de Lyon. Caserio se coloca entre a
multido, portando no bolso o punhal envolvido por um jornal que havia comprado na
estao. O presidente, que tinha dado ordem expressa para deixar a populao
aproximar-se, estava brio de satisfao pela multido entusiasta. Diz Caserio,
no momento em que os ltimos cavaleiros da escolta passaram por mim, desabotoei a
jaqueta, o punhal estava com cabo para cima no bolso direito. O agarrei com a mo
esquerda e num nico movimento desloquei os dois jovens minha frente e num salto,
colocando a mo sobre a janela da viatura, golpeei gritando: Viva a Revoluo! A minha
mo tocou a roupa do Presidente, a lmina estava afundada at o cabo. (...) O Presidente
me olhou, quando eu abandonei a viatura, gritei: Viva a anarquia! Certo que finalmente
seria preso (Ibid., p. 158).
Foi precisamente esse ltimo gesto que causou sua priso, pois at ento se
imaginava que o jornal que envolvia o punhal continha flores ou um pedido de uma
splica. O golpe perfurou em onze centmetros o fgado de Sadi Carnot, que morreu
trs horas depois. No dia seguinte, a viva, Sra. Carnot, recebe uma carta contendo
uma foto do anarquista guilhotinado Ravachol, na qual se lia: devidamente vingado.
Durante o interrogatrio, Caserio mostrou aos presentes que a guilhotina que decapitou
Henry no tinha amedrontado nem silenciado os anarquistas que permaneciam em seus
postos, na primeira fila e face a face com o inimigo:
Presidente s anarquista, cultivas idias destruidoras da sociedade, s o inimigo de todos
os chefes de Estado, seja o Estado uma autocracia ou repblica. Caserio Sou tudo isso.
Presidente Aprovastes o ato de Henry com uma nica reserva, que menciono nas tuas
prprias palavras: Seria melhor que ao invs de lanar sua bomba num caf, a tivesse
lanado no seio de qualquer gorda famlia burguesa. Caserio verdade. Presidente (...)
No afirmastes tambm que se voltasses para a Itlia atacarias o Rei e o Papa? Caserio,
sorrindo Ah, no de uma nica vez. No tm o hbito de sarem juntos. Presidente (...)
No assassinastes somente o chefe da nao, mas o melhor dos maridos e um pai de
famlia. Caserio Pai de famlia? So milhares os abatidos pela misria e pelo trabalho!
Vaillant no era um pai de famlia? No tinha uma companheira e uma criana? Henry no
deixou uma me e um irmo? Tiveram piedade deles? (Ibid., pp. 158-159).
Em 27 de julho de 1894 o Senado aprova a terceira lei celerada, contra o
delito de anarquismo. Duas semanas depois, a manh do dia 16 de agosto de 1894
seria a ltima do jovem Caserio: segue o trajeto da priso guilhotina em um silncio
254
apenas quebrado pelo grito de Viva a anarquia!. O atentado de Caserio foi o mais
dramtico cometido no pice da propaganda pelo fato, mas no foi seu eplogo. Na
noite de 29 de agosto de 1900, o anarquista italiano Gaetano Bresci assassinava em
Milo o rei Umberto I com trs disparos no corao. Em 06 de setembro de 1901 o
anarquista Leon Czolgosz, filho de imigrantes poloneses, disparou, durante um
comcio em Buffalo, contra o presidente americano William Mc Kinley, quem faleceu
alguns dias depois.
A propaganda pelo fato produziu um tipo de personagem no anarquismo que
apenas possvel de ser percebido a partir de uma histria fragmentada de insurreies
menores e dispersas, de uma histria de resistncias improvveis e espontneas, de
resistncias selvagens, solitrias, violentas, irreconciliveis e intransgiveis. Esse
personagem o do regicda ou, como denominou Masini, do tiranicida: um
personagem nada montono, que habitou as salas dos tribunais europeus no final do
sculo XIX e reativou com grande ferocidade o velho mecanismo da guilhotina.
Tratou-se de um personagem que era portador de uma infmia obstinada: no h outro
modo de falar sobre ele, de contar sua histria, suas desventuras e herosmos, que no
seja por meio de uma narrativa de vidas perdidas, de gestos individuais esquecidos.
No h outro modo de referir-se a esse personagem que no seja por fragmentos de
fatos do passado, de passagens to breves e to exemplares que se levado a acreditar
que suas existncias pertenam menos vida real do que fico literria. Foucault, ao
escrever A vida dos homens infames, um escrito curto e intenso sobre histrias que
queimam e inquietam, dizia que no resta absolutamente nada de personagens como
esses fora do seu impacto com o poder, fora do momento mesmo em que foram
reduzidos a cinzas. Esses homens, dizia, to s existem por palavras terrveis,
destinadas a lhes tornar indignos, para sempre, na memria dos homens. O anarco-
terrorista o infame da anarquia.
255
1. ravacholizar
Mas o terrorismo tambm produziu uma tendncia no interior do
anarquismo. Jean Maitron mostrou como a execuo do anarco-terrorista Ravachol
deu nascimento ao verbo ravacholizar, que tinha o mesmo significado de assassinar,
de suprimir os inimigos. Algumas canes foram escritas para expressar esse gesto,
entre elas La Ravachole, no ritmo da Carmagnole e da a Ira, que dizia no seu refro:
Dancemos a Ravachola / Viva o som, viva o som / Dancemos a Ravachola / Viva o
som / da exploso!
13
Elogios foram feitos a Ravachol. Por exemplo, lise Reclus
tinha declarado que conhecera poucos homens que o superassem em generosidade.
Mas tambm no faltou quem o elevasse a um patamar bastante alto.
Museux, no LArt social, imagina Paris festejando o centenrio do mrtir em 1992; um
terceiro, Paul Adam, v em Ravachol o renovador do sacrifcio essencial e proclama:
Ravachol se tornou o propagador da grande idia das religies antigas, que preconizaram
a busca pela morte individual pelo Bem do mundo; a abnegao de si, de sua vida, e de sua
reputao para a exaltao dos pobres, dos humildes. Ele definitivamente o renovador do
Sacrifcio essencial. A morte legal de Ravachol abrir uma era; Victor Barrucand, enfim,
no LEn Dehors, traa um paralelo entre a vida de Cristo e a do dinamitador [dizendo que]
no faltariam coincidncias curiosas: a idade de trinta e trs anos com a qual ambos
morreram (MAITRON, 1975, p. 233).
Mas foi com mile Henry
14
que a tendncia do ravacholismo ganhou
efetivamente um estatuto de programa e uma lgica prpria. Ao declarar ao jri, em
1894, por que tinha atirado a esmo, Henry dizia que seu alvo no eram somente os
burgueses, mas todos os que se sentem satisfeitos com a ordem atual, que aplaudem
os atos do governo e que se tornam seus cmplices, esses assalariados por 300 ou 500
francos ao ms que odeiam o povo e mais ainda do que os grandes burgueses, essa
massa estpida pretensiosa que se coloca sempre do lado do mais forte, clientela
habitual do Terminus e de outros grandes cafs (cf. MAITRON, 1981, p. 90). Henry
13
Dansons la Ravachole / Vive le son, vive le son / Dansons la Ravachole / Vive le son / de lexplosion!
14
Sobre Ravachol e Henry, alm dos clssicos trabalhos j citados de MAITRON (1975, 1981), podem ser
consultados: MAITRON, Jean. mile Henry, o benjamim da anarquia. Verve, So Paulo, n 7, maio/2005, p.
11-42; PASSETTI, Edson; OLIVEIRA, Salete (orgs.). Terrorismos. So Paulo, Educ, 2006.
256
parece ter provocado um deslocamento que levou da ttica do tiranicdio, que tinha
como alvo chefes de Estado e autoridades polticas ou policiais, para o atentado
generalizado cujo alvo era a burguesia. O chamado ravacholismo consistiu nesse
deslocamento e provocou a crtica de alguns anarquistas, entre eles Malatesta.
Malatesta, durante uma declarao feita em uma audincia em julho de 1920,
dizia como
h cerca de 25 ou 30 anos atrs, nas proximidades de Paris, depois de um conflito entre
alguns jovens e agentes da polcia, alguns foram presos e maltratados de modo brutal pela
polcia. Os encarcerados, frente indiferena com a qual o pblico tomou conhecimento
desses fatos, conceberam esta idia: que as responsabilidades dos danos sociais so dos
capitalistas e dos trabalhadores, dos ricos e dos pobres, e que, portanto, necessrio punir
todos. (...) Constitui-se aquele movimento terrorista que conhecido pelo nome de
ravacholismo e, naquela circunstncia, eu e o meu velho amigo advogado Merlino, fizemos
uma campanha contra essa tendncia; com discursos, conferncias e a imprensa,
colocando-nos em atrito com muita gente e expondo-nos a perigos pessoais, conseguimos
bloquear essa tendncia. talvez uma das mais belas memrias da minha vida o ter
contribudo para a destruio do ravacholismo (MALATESTA, 1975[238], p. 314).
A expresso mais bela memria da minha vida usada para se referir ao
combate contra o ravacholismo sugere a gravidade do problema. certo que, desde
1889, Malatesta j colocava a necessidade para os anarquistas de discutirem a questo
do ilegalismo, de um lado, fora dos prejuzos burgueses e, de outro lado, subtraindo-o
ao entusiasmo e ao exagero, subtraindo-o ao que ele chamou ingnua mania de querer
a todo custo ser ou parecer mais radical do que os outros. Assim, por exemplo,
ocorria com a prtica do furto que uns, em nome do ideal, tendo em vista a sociedade
futura, condenam pura e simplesmente o furto, como se fossem procuradores do rei, ou
o desculpam como se fossem filantropos caridosos; os outros olham a sociedade atual
e, em nome do direito de guerra, o exaltam, o elevam a princpio, gostariam de torn-
lo quase um dever de todo bom anarquista, e chegam mesmo ao extremo de dizer que
todo ladro anrquico (Ibid., 1889h).
Malatesta afirmava o furto no como ato anti-social, como definiam os
cdigos, dizendo que possvel discutir a respeito de sua utilidade como meio de luta,
perguntando-se qual tipo de ao moral ele exerce sobre quem o pratica. Mas no
257
possvel consider-lo delito, porque no o e no o at quando, de atentado contra
a propriedade e contra o privilgio, se transforme em atentado contra a humanidade e
contra a solidariedade. (Ibid., 1889i). Dizia ser preciso ter em conta que pelas
aes que se distinguem os amigos e os inimigos; no pelos nomes que a cada um
agrada usar. Assim, em relao ao furto, os conservadores podem se afastar, os
espritos timoratos podem se escandalizar, os moralistas oficiais gritar o fim do
mundo, os policiais se irritar o quanto quiserem. Tudo intil: o respeito pela
propriedade se foi (Id.).
Mais tarde, encontrando-se em Londres, Malatesta escreve, em 29 de abril de
1892, uma longa carta destinada a Luisia Pezzi, na qual expe de maneira clara o seu
posicionamento em relao ao anarco-terrorismo. De Ravachol, ele dir ser um
homem sincero, mas que se deixou levar por um falso raciocnio, at o limite de
assassinar, de modo feroz, um velho impotente e inofensivo
15
.
Mas no contra Ravachol que sentimos necessidade de protestar; pela defesa que alguns
de seus amigos fazem dele. Um diz que Ravachol fez bem em assassinar o velho porque
era um ser intil sociedade; outro diz que no vale a pena discutir por um velho a quem
restavam poucos anos de vida, e assim por diante. Significa que esses anarquistas, que no
querem juzes, no querem tribunais, tornam-se eles mesmos juzes e algozes, e condenam
morte e executam quem eles julgam inteis. Nenhum governo jamais foi to sincero!
(Ibid., 1984, p. 66)
Tambm na exploso de Ravachol, Malatesta v esse mesmo desprezo pela
vida e indiferena pelo sofrimento alheio. Ela foi realizada de tal modo que para
eliminar um mesquinho procurador arriscou-se assassinar cinqenta inocentes. Se diria
que essas so conseqncias lamentveis de um estado de guerra. Pode ser, mas o
protesto de Malatesta dirigido contra essa tendncia que condena morte criados
porque so piores que os patres e por isso preciso matar todos, ou operrios,
porque so vis e por isso tambm preciso mat-los, ou ainda que, tomando as
15
Trata-se do caso do velho ermito de Notre-Dame-de-Grce que Ravachol assassinou por sufocamento em sua
cama, para lhe roubar (MAITRON, 1981, p. 54).
258
crianas como sementes burguesas, conclui-se pela necessidade de mat-las. Essa
lgica indica que os anarquistas perderam o uso tico do ilegalismo, deixando-se levar
pela agitao provocada pela sua violncia. E a violncia tinha produzido sua lgica. A
propaganda pelo fato, que num primeiro momento emergiu contra a representao,
produziu essa espcie de linguagem soberana que, eliminando a fala das coisas, fez
nascer a figura obscura e dominadora por meio da qual atuou a morte. Tudo isso quer
dizer que sucede a muitos anarquistas aquilo que sucede aos soldados, aos homens de
guerra, que embriagados pela luta, tornam-se ferozes e esquecem at mesmo os fins
pelos quais se luta, acabam por querer o sangue pelo sangue. No mais o amor pela
humanidade que os guia, mas o sentimento de vingana unido ao culto de uma idia
abstrata, de um fantasma terico (Ibid., p. 66).
Malatesta percebeu o ravacholismo introduzindo na ttica do terrorismo uma
espcie de corte entre o que deve morrer e o que deve viver, deslocando o alvo: no
mais um adversrio poltico preciso na figura de um chefe de Estado ou outra
autoridade que se buscar abater, e o alvo ganhou uma extenso bem mais ampla que
via na burguesia a classe, quase diria a raa, a ser eliminada. Foi esse fenmeno que
Foucault chamou uma extrapolao biolgica do tema do inimigo poltico
(FOUCAULT, 1999a, p. 308). Em que medida Henry, quando perguntado se
desprezava a vida humana respondeu no, a vida dos burgueses (cf. MAITRON,
1981, p. 72), no teria evidenciado um momento em que o componente do racismo
penetrou o terrorismo como razo para matar o adversrio? No teria sido esse um
momento no qual o terrorismo anarquista passou de uma ttica que buscava a
eliminao econmica e a destruio dos privilgios dos inimigos, ainda que
provocando uma ocasional perda de vidas, para uma ttica da eliminao fsica pura e
simples? E nesse momento estava aberto o campo para o racismo.
Seja como for, foi precisamente esse deslocamento que Malatesta combateu
insistentemente, percebendo como esse modo pelo qual foi interpretada a teoria da
violncia tinha sido
259
uma fonte de erros e de acontecimentos gravssimos (...). Desgraadamente existe nos
homens uma tendncia a tomar o meio pelo fim; e a violncia, que para ns e deve
permanecer uma dura necessidade, foi tornada para muitos quase como o objetivo final da
luta. A histria plena de exemplos de homens que, tendo comeado a lutar para uma
finalidade elevada, perderam em seguida, no calor do combate, todo controle sobre si
mesmos, deixaram escapar os objetivos e se tornaram ferozes exterminadores. E, como
demonstram os fatos recentes, muitos anarquistas no escaparam desse terrvel perigo da
luta violenta. Irritados pelas perseguies, ensandecidos pelos exemplos de ferocidade cega
que a burguesia fornece diariamente, substituram o esprito de amor pelo esprito de
vingana e dio. E ao dio e vingana eles, tal como os burgueses, chamaram justia. Em
seguida, para justificar esses atos, (...) alguns comearam a formular as mais estranhas, as
mais fantsticas, as mais autoritrias teorias; e no enxergando a contradio, as
apresentaram como um novssimo progresso da idia anrquica (MALATESTA, 1982[2],
p. 69-70).
Malatesta constatou que nessa prtica da violncia alguns anarquistas
pretenderam tornar-se distribuidores de graa e justia, sem perceber, entretanto, que
se tivessem o direito de condenar, em nome da idia que [tm] da justia, o mesmo
direito teria o governo em nome de sua justia. Com isso, na medida em que cada um
acredita possuir a razo, natural que os mais fortes fossem, como o so hoje, o
governo (MALATESTA, 1984, p. 66). Todavia, o anarquista deve ser um liberador,
no um justiceiro. A dinamite uma arma de luta que, como qualquer outra, pode ser
usada para o bem ou para o mal, para liberar da opresso ou para aterrorizar e oprimir
os fracos. Por isso preciso us-la sem jamais perder de vista os fins e nem as
propores entre meios e fins. Compreende-se que se possa arriscar matar inocentes
para realizar um ato resolutivo, do tipo explodir um parlamento ou matar um Czar,
mas um risco que, para no ser criminoso, isso deve resultar unicamente da impercia
do clculo, e no da indiferena pela vida alheia.
Alguns meses depois, o jornal anarquista francs LEn-Dehors publica, em
17 de agosto de 1892, um artigo de Malatesta intitulado Um pouco de teoria. nele
que Malatesta esboa uma das mais valiosas contribuies ao pensamento anarquista:
a correlao entre meios e fins. dele tambm que se desprende sua problematizao
da violncia.
260
Malatesta faz uma constatao: um sopro de revolta est em toda parte, seja
essa revolta a expresso de uma idia ou o resultado de uma necessidade, ou ainda a
imbricao de idias e necessidades, ela se lana contra as causas que a provocam ou
atingem apenas seus efeitos, ela consciente ou instintiva, clemente ou impiedosa,
generosa ou altrusta. Seja como for, diz Malatesta, essa revolta se alastra e se estende
a cada dia. Por isso, antes de lamentar as vias e as escolhas pelas quais ela se
apresenta, e para evitar converter-se em espectador indiferente e passivo em relao
aos fatos, necessrio um critrio que nos sirva de guia na apreciao dos fatos que
se produzem, sobretudo para saber escolher o lugar que devemos ocupar na batalha
(MALATESTA, 1982, p. 56). Para isso, diz, cada fim requer o seu meio.
Estabelecido o propsito que se quer alcanar, por vontade ou necessidade, o grande
problema da vida est em encontrar o meio que, segundo as circunstncias, conduz com
maior segurana e mais economicamente, ao propsito pr-estabelecido. Da maneira como
resolvido esse problema, depende, tanto quanto pode depender da vontade humana, que
um homem ou um partido alcance ou no sua finalidade, que seja til a sua causa ou que
sirva, involuntariamente, causa inimiga. (Id.)
Da a necessidade de encontrar um bom meio. Qual o seria para os
anarquistas? Os anarquistas querem a liberdade e o bem-estar de todos os homens, sem
exceo, ao mesmo tempo que esto convencidos que essa liberdade e bem-estar no
podem ser dados por nenhum homem ou partido, mas que cabe a cada um descobrir as
condies de conquist-los. Os anarquistas tambm pensam que somente o princpio
de solidariedade capaz de destruir a luta, a opresso e a explorao, mas trata-se de
uma solidariedade imanente ao livre acordo e resultante da vontade. De modo que, o
bem e o mal para os anarquistas tm validade apenas relativamente nessa direo.
Segundo os anarquistas, tudo isso que est voltado para destruir a opresso econmica e
poltica, tudo isso que serve para elevar o nvel moral e intelectual dos homens, para dar a
eles a conscincia dos prprios direitos e das prprias foras e de persuadi-los a perseguir
os prprios interesses, tudo isso que provoca o dio contra a opresso e suscita o amor
entre os homens, nos aproxima de nossa finalidade e, portanto, bom sujeito apenas a
um clculo quantitativo para obter com determinada fora o mximo de efeito til. E, ao
contrrio, mau, porque em contradio com nossa finalidade, tudo isso que tende a
conservar o estado atual, tudo isso que tende a sacrificar, contra sua prpria vontade, um
homem para o triunfo de um princpio (Ibid., p. 57)
261
Para Malatesta, bom e mau no indicam nada de positivo ou negativo nas
coisas consideradas em si mesmas, mas so somente noes formadas para comparar
as coisas entre si. Portanto, se os anarquistas querem o triunfo da liberdade e da
solidariedade, no significa que devam renunciar aos meios violentos. Se, de um lado,
eles desejam no fazer versar lgrimas, de outro, foroso lutar no mundo como ele ,
ou, do contrrio, tornar-se-iam estreis sonhadores. Vir o dia, cremos firmemente,
no qual ser possvel fazer o bem dos homens sem fazer mal nem a si nem aos outros;
mas hoje isso impossvel (Id.). Por isso preciso, em todos os atos da vida, escolher
o mnimo de mal possvel para uma maior soma de bem. Coisa difcil, uma vez que,
para defender o atual estado de coisas existem organizaes militares e policiais que
respondem com priso, guilhotina e massacres a qualquer tentativa de mudana,
tornando impossvel a existncia de vias pacficas ou legais para sair dessa situao.
Contra a fora fsica que bloqueia o caminho, para vencer no existe mais do que o
apelo fora fsica, no existe mais do que a revoluo violenta (Ibid., p. 58). Assim,
compreensvel que existam oprimidos que,
desde sempre tratados pelos burgueses com a mais repugnante brutalidade, e tendo sempre
visto que tudo era permitido ao mais fortes, um belo dia, tornados por um instante como
mais fortes, digam para si mesmos: Faamos, tambm ns, como os burgueses.
Compreendemos como possa acontecer que, na febre da batalha, naturezas originariamente
generosas, porm no preparadas por uma longa ginstica moral, muito difcil nas
condies presentes, percam de vista a finalidade pretendida e tomem a violncia como um
fim em si mesmo, deixando-se arrastar por atos selvagens (Ibid., p. 59).
Porm, compreender no aceitar, diz Malatesta, nem muito menos
reivindic-los ou prestar-lhes solidariedade, visto que tais atos no podem ser
encorajados ou imitados. Devemos ser resolutos e enrgicos, mas devemos
igualmente esforar-nos em jamais ultrapassar o limite assinalado pela necessidade.
Devemos fazer como o cirurgio, que corta quando precisa cortar, mas evita provocar
sofrimentos inteis (Id.). A prtica da violncia constitua, como se v, o centro do
problema, na medida em que, diz Malatesta, infelizmente, muitos revolucionrios, no
fervor da luta, irritados pelas infmias sanguinrias dos governantes, no uso dos meios
262
necessrios luta, ou na predicao do seu uso, perderam a viso clara do objetivo
pelo qual combatem; e, ao contrrio de se comportarem como revolucionrios
conscientes, comportaram-se como violentos (1975[213], p. 192).
Mas como estabelecer o limite assinalado pela necessidade? Berti afirma
que Malatesta no resolve esse problema, permanecendo preso em uma espcie de
circularidade que afirma o uso aberrante da violncia justificado para a realizao de
uma sociedade sem violncia (BERTI, 2004, p. 200). Mas, ao contrrio, Malatesta
responde questo da violncia com sua radical rejeio do terror: a violncia
ultrapassa o limite assinalado pela necessidade quando ela precisamente se torna
terror. o princpio do terror que preciso evitar. Ao escrever para o jornal londrino
The Torch, em abril de 1895, um artigo em ingls intitulado Violncia como fator
social, Malatesta dizia que a excitao causada pelas recentes exploses e a
admirao pela coragem com a qual os autores dos atentados encararam a morte, fez
muitos anarquistas entrarem em uma rota de negao das idias e dos sentimentos do
anarquismo. Diziam que as massas so brutalizadas e que preciso impor-lhes as
idias anarquistas pela violncia, que as massas, permitindo a opresso, deveriam
tambm sofrer vingana, que quanto mais se matam trabalhadores, menos permanecem
escravos. Tais so as idias correntes em certos crculos anarquistas. Uma revista
anarquista, durante uma controvrsia sobre as diferentes tendncias do movimento,
replicava a um camarada com um argumento incontestvel: temos bombas tambm
para voc (MALATESTA, 2005b, p. 161). Dessa forma, Malatesta apontava o
perigo de ser corrompido pelo uso da violncia e pelo desprezo para com as massas
populares e de tornar-se um fantico e cruel perseguidor, existente para todos (Id.).
Segundo Levy, no somente mile Henry, mas muitos adeptos de Ravachol viveram
em Londres na dcada de 1890. Nessa mesma poca, Malatesta criticava a violncia
irrefletida de William Morris (LEVY, 1993, p. 30). Anos mais tarde, por ocasio da
revoluo russa, Malatesta voltar a sustentar que
263
ainda existem muitos que so fascinados pela idia do terror. Parece-lhes que guilhotina,
fuzilaes, massacres, deportaes, priso (forca e priso dizia-me recentemente um
comunista dos mais notrios) sejam armas potentes e indispensveis da revoluo,
sustentando que, se muitas revolues no tiveram sucesso ou no deram o resultado que
se esperava, foi em razo da bondade, da fraqueza dos revolucionrios, que no
perseguiram, reprimiram, assassinaram suficientemente. um prejuzo corrente em certos
ambientes revolucionrios que tem origem na retrica e na falsificao histrica dos
apologistas da Grande Revoluo Francesa, e que foi revigorado nesses ltimos anos pela
propaganda dos bolcheviques. Mas a verdade exatamente o oposto; o terror sempre foi
instrumento de tirania (MALATESTA, 1975[283], p. 122).
Trata-se de evitar e combater quanto possvel o sistema do terror porque,
segundo Malatesta, mesmo quando utilizado como ttica revolucionria, ele desperta
os piores sentimentos blicos, cobertos apenas mediocremente por um verniz de
civilizao, e valoriza os piores indivduos que compem uma populao. Assim, ao
invs de servir para defender a revoluo, serve para desacredit-la, para torn-la
odiosa s massas e, depois de um perodo de lutas ferozes, coloca necessariamente
como prioridade aquilo que hoje se chama normalizao, ou seja, a legalizao e a
perpetuao da tirania. Vena uma ou outra parte, chega-se sempre constituio de
um governo forte, que assegura a uns a paz s custas da liberdade e aos outros o
domnio sem muitos perigos (Ibid., 1975[283], p. 122). Portanto, mesmo supondo que
os anarco-terroristas (os poucos que existem) rejeitem todo terror organizado,
preferindo ver a massa diretamente causando a morte de seus inimigos, para Malatesta,
isso ainda no faria mais do que piorar a situao. O terror pode agradar os fanticos,
mas convm sobretudo ao verdadeiros cruis vidos por dinheiro e sangue. E no
preciso idealizar a massa e imagin-la inteiramente composta de homens simples
passveis de cometer excessos, mas sempre animados de boas intenes. Os esbirros e
os fascistas servem os burgueses, mas saem do seio da massa (Ibid., 1975[283], p.
123).
Malatesta compreendeu o sistema do terror como uma lgica que,
curiosamente, fazia tanto terroristas quanto tolstoianos alcanarem conseqncias
prticas idnticas. Os primeiros no hesitariam em destruir meia humanidade para o
triunfo de uma idia; os segundos deixariam que toda a humanidade permanecesse sob
264
o peso dos maiores sofrimentos para no violar um princpio. Quanto a mim, eu
violaria todos os princpios do mundo para salvar um homem: o que seria, no fundo,
respeitar o princpio, j que para mim todos os princpios morais e sociolgicos se
reduzem unicamente a isto: o bem dos homens, de todos os homens (Ibid., 1982[2], p.
69-70).
A atitude, segundo Malatesta, que os anarquistas deveriam ter no somente
frente prtica da violncia, mas diante da vida em geral, simplesmente a de agir
sempre como anarquista, mesmo sob o risco de sermos vencidos, renunciando, assim,
a uma vitria que poderia ser uma vitria pessoal, mas que seria a derrota de nossas
idias (1975[376], p. 393). Agora, a atitude que os anarquistas sustentariam
particularmente diante violncia seria esta: se para vencer fosse preciso levantar a
forca nas praas, eu preferirei perder (Ibid., 1975[283], p. 123).
2. aes internacionais anti-anarquistas
A intensa onda de atentados que sacudiram a Europa durante toda a dcada
de 1890 provocou um enorme esforo orquestrado de represso ao anarquismo, tanto
no plano nacional quanto no internacional, jamais visto antes. Porter mostrou como a
idia de uma polcia poltica repugnava o liberalismo ingls da primeira metade do
sculo XIX, que percebia na produo de leis e de agncias destinadas a reprimir a
subverso um efeito verdadeiramente contraproducente. Provoca desgosto nas
pessoas e, conseqentemente, rebelio. Elas no seriam incomodadas no teriam
nada com que se aborrecer se fossem (como os vitorianos costumavam colocar)
livres. Essa era a resposta para o problema da subverso, que no era um problema
genuno na viso dos meios vitorianos. Sistema e sociedade poltica eram melhor
defendidos paradoxalmente no havendo nenhuma defesa (PORTER, 1987, p. 3).
A melhor maneira de desacreditar movimentos de liberao, diziam os vitorianos, a
265
de persuadir as pessoas de que elas so verdadeiramente livres, e a ausncia de uma
diviso Britnica de Polcia Poltica era um meio excelente para se vangloriar disso,
mas era tambm um meio efetivamente legtimo e eficiente de controle social (...).
O jornal Daily News, em 1858, chamava a polcia poltica de um sistema repugnante
para a verdadeira sensibilidade, sentimento e princpios de vida dos ingleses (Ibid.,
p. 4). Mas logo as agitaes revolucionrias do movimento Feniano irlands e os
atentados anarquistas convenceram os ingleses do contrrio. Em 1878, o anarquista
August Reinsdorf atentou contra a vida do Kaiser alemo Wilhelm, o Rei da Espanha
sofre atentados em 1878 e 1879, o Rei da Itlia em 1878. Em maro de 1881, o Czar
russo Alexander II assassinado. Portanto, eram tempos de apreenso. Nesse mesmo
ano, o anarquista Johann Most, responsvel pelo jornal Freiheit, publicado em
Londres, escreve um panfleto sedicioso aplaudindo o assassinado do Czar. A polcia
inglesa abre o caso Freiheit, particularmente pressionada pelo ministro de Bismarck
em Londres, Count Mnster. Assim surge, em maro de 1881, o CID, Criminal
Investigation Departament of the Metropolitan Police, embrio do que seria, mais
tarde, o Special Branch, diviso especial de polcia poltica da Scotland Yard (Ibid., p.
42).
Masini mencionou como o ministro do interior Giuseppe Zanardelli, que
chegou a ser acusado pelos conservadores por sua poltica demasiado liberal em
relao ao socialismo, referia-se aos anarquistas no seu discurso em novembro de
1878. O ministro italiano felicitava-se que os internacionalistas no tinham tanta
difuso na Itlia como em outros pases, mas que, em todo caso, indubitvel que
preciso segui-los de olhos atentos e com a mo firme, visto que a Internacional difunde
ensinamentos que so a negao de todo direito e moral, e excita continuamente ao
delito (...). Nesse propsito, posso assegurar que o dever de preservar a Itlia de seus
impulsos uma das mais assduas e perseverantes tarefas do meu mandato (cf.
MASINI, 1974, p. 154). Ainda com mais gravidade, aps a morte da Imperatriz
Elisabeth da ustria, assassinada em Genebra, em setembro de 1898, pelo anarquista
266
Luigi Lucheni
16
, e do presidente americano McKinley, em 1901, jornais alemes
noticiaram que a sociedade... dana sobre um vulco e que um nmero
verdadeiramente insignificante de fanticos sem escrpulos aterroriza toda a raa
humana... O perigo para todos os pases enorme e urgente (cf. JENSEN, 2004, p.
117). Anos mais tarde, aps uma dcada de atentados e assassinatos, o presidente
Theodore Roosevelt declarou que quando comparada com a supresso da anarquia,
toda outra questo parece insignificante (Id.).
Ainda em setembro de 1898, o primeiro ministro italiano Luigi Pelloux
comunicava ao ministro da justia informaes sobre um vasto compl para atentar
contra a vida de todos os chefes de Estado, em particular o Rei da Itlia, e
recomendava a necessidade de combater mais energeticamente as associaes
contrrias ordem do Estado (MANTOVANI, 1988, p. 116). Foi com esse intuito
que o governo italiano, sob iniciativa do ministro do exterior Napoleno Canevaro,
convidou os outros pases europeus a participarem de uma conferncia anti-anarquista,
promovida para tentar assegurar um sistema repressivo em escala internacional. At a
metade do ms de outubro, a maior parte dos pases da Europa tinham confirmado a
participao. A abertura da Conferncia Internacional pela defesa Social contra os
Anarquistas, mais conhecida como Conferncia Anti-Anarquista, se deu no dia 24 de
novembro de 1898, com a presena de 54 delegaes representando 21 naes:
Alemanha, Imprio Austro-Hngaro, Blgica, Bulgria, Dinamarca, Espanha, Frana,
Inglaterra, Grcia, Itlia, Luxemburgo, Mnaco, Monte Negro, Pases Baixos,
Portugal, Romnia, Rssia, Srvia, Sucia, Noruega, Sua e Turquia. Foram tambm
convidados os chefes da polcia nacional da Rssia, Frana, Blgica, e os chefes da
16
Para mais detalhes, ver LOPES, E. Lucheni um terrorista anarquista. Verve, So Paulo, Nu-Sol, n 12,
out/2007, p. 300-306; LUCHENI, L.; CAPPON, S. Memrias do assassinato de Sissi: histria de um menino
abandonado no fim do sculo XIX contada por ele mesmo. Traduo de Ana L. Ramazzina. So Paulo: Novo
Conceito Editora, 2007.
267
polcia municipal de Berlim, Viena e Estocolmo (Ibid., p. 123). A pauta da
conferncia foi organizada em cinco itens:
1 - Estabelecer os dados que de fato caracterizem o ato anrquico, seja no que concerne ao
indivduo, seja no que concerne sua obra; 2 - Sugerir, em matria de legislao e de
polcia, os meios mais adequados para reprimir a obra e a propaganda anrquica, sempre
respeitando, bem entendido, a autonomia legislativa e administrativa de cada Estado; 3 -
Consagrar o princpio que todo ato anrquico, tendo os caracteres jurdicos de um delito,
deve, como tal, e quaisquer que sejam os motivos e a forma, ser enquadrado nos efeitos
teis dos tratados de extradio; 4 - Consagrar o duplo princpio de que cada Estado tem o
direito e o dever de expulsar os anarquistas estrangeiros, encaminhando-os, observando as
regras uniformes, vigilncia e eventualmente justia do Estado a que pertencem; 5 -
Estipular por engajamento mtuo a defesa de toda circulao de impressos anarquistas,
bem como de toda publicidade apta, com ou sem inteno, a favorecer a propaganda
anrquica (Ibid., p. 124-125).
Jensen viu na conferncia anti-anarquista um acontecimento fundamental de
coroamento de vinte e cinco anos de campanhas anti-anarquistas que tinham sido
conduzidas, em maior ou menor grau, por todos os regimes polticos da Europa. No
perodo anterior Grande Guerra, os governos europeus, inicialmente em um plano
nacional mas depois internacional, empenharam-se para forjar armas que pudessem
controlar e suprimir o que na poca foi percebido como o mais feroz e intratvel
inimigo social, o terrorismo anarquista (JENSEN, 1981, p. 323). Os esforos
repressivos orquestrados pelos governos da Europa produziam frequentemente um
excesso de represso cujo efeito resultava em descontentamentos exacerbados e
produzia novas ondas de violncia. A esse propsito, a conferncia anti-anarquista,
cujos efeitos foram frequentemente tidos como nulos em razo do quase absoluto
desacordo entre seus participantes, motivado pelas diferenas enormes entre os pases
em matria de legislao e costumes, pode ser vista produzindo efeitos muito positivos
de poder. De acordo com Jensen, as medidas que a conferncia adotou com
unanimidade foram as seguintes: caberia a cada nao ter sob controle os prprios
anarquistas; que fosse estabelecido um comit central para esse fim; e que fossem
facilitadas as trocas de informaes entre as vrias agncias centrais (Ibid., p. 331).
Alm disso, durante a realizao da conferncia, tinha-se operado um comit secreto
268
dos chefes de polcia, reunindo-se diversas vezes. Sir Howard Vicent, um dos
representantes ingleses na conferncia e ex-diretor das investigaes criminais da
Scotland Yard, admitiu que um dos maiores resultados obtidos desses encontros foi o
acordo por parte das foras de polcia de diversos Estados da Europa central para a
troca mensal de listas das expulses, contendo nomes e a razo da expulso (Ibid., p.
332). Sobre a questo da extradio, a conferncia acordou a proposta dos alemes de
considerar os crimes anarquistas como no polticos para finalidade de extradio, mas
os variados atos violentos tipicamente anarquistas, como a fabricao de bombas etc.,
estariam sujeitos extradio. Os conferencistas fizeram uso da famosa clusula belga
do attentat, criada em 1856, aps o atentado sem sucesso contra Napoleo III. A
conferncia ainda estabeleceu como sistema de identificao eficaz o chamado portait
parl [retrato falado], para ser utilizado de maneira uniforme em todos os pases.
Tratava-se do refinamento do velho mtodo de identificao antropomtrico, tambm
conhecido como Bertillonage, criado pelo oficial de polcia francs Alphonse
Bertillon, que consistia na classificao das medidas de vrias partes da cabea e do
corpo, cor dos cabelos, dos olhos, da pele, presena de cicatrizes e tatuagens etc. J o
retrato falado foi um sistema especialmente usado na apreenso de criminosos,
funcionando com uma margem que vai desde muitas at uma nica pea vital de
informao para a identificao positiva de suspeitos, e que poderiam ser transmitidas
por telefone ou telgrafo (Ibid., p. 332-333).
Entretanto, a herana certamente mais significativa da conferncia anti-
anarquista de Roma pode ser vista, como sugere Jensen, em uma organizao singular:
o International Criminal Police Organization, Interpol. Ao promover o uso de
modernas tcnicas de polcia, o congresso anti-anarquista encorajou a cooperao
policial internacional (Ibid., p. 334).
Aps o assassinato do presidente americano McKinley aumentam na Europa
os esforos diplomticos para incrementar a cooperao policial internacional. A
Rssia toma a iniciativa, solicitando com insistncia a retomada do programa da
269
conferncia de Roma e despacha, juntamente com a Alemanha, um memorando para
os governos da Europa e dos Estados Unidos, mas que esse ltimo rejeita. Em 14 de
maro de 1904, dez pases assinam um protocolo secreto em So Petersburgo que
retomava sumariamente a pauta de 1898: especificando procedimentos de expulso,
convocando para a criao de escritrios centrais anti-anarquistas em cada pas e, no
geral, regularizava a comunicao inter-policial (Ibid., p. 337). Os pases que
assinaram o Protocolo de So Petersburgo foram Alemanha, Imprio Austro-Hngaro,
Dinamarca, Sucia e Noruega, Rssia, Romnia, Srvia, Bulgria e Turquia.
A Conferncia de Roma e o acordo de So Petersburgo so tambm precedentes
significativos para qualquer posterior organizao de polcia internacional. Pode at
mesmo ser afirmado que o conclave de 1898 foi o indcio do primeiro esforo na recente
histria da Europa para promover, oficialmente, uma ampla comunicao policial
internacional e troca de informaes. As medidas estipuladas pelos protocolos de Roma e
So Petersburgo foram os precursores de muito do que hoje a organizao da polcia em
rede mundial, Interpol (Ibid., p. 338).
Em suma, a era ps-atentados foi certamente um dos perodos de maior
reao sofridos pelo anarquismo. E disso d testemunho a descrio de mile Pouget.
Era 1894. Em pleno perodo de perseguio anarquista. Um momento em que bastava
ser denunciado como libertrio para ser encarcerado. Os anarquistas, dispersados,
paralisados, aprisionados, estavam na impossibilidade absoluta de exercer uma ao
qualquer (POUGET, 2006, p. 101). Tambm Malatesta, do seu exlio londrino,
escreve em agosto de 1894, para o jornal anarco-comunista Liberty, publicado por
James Tochatti, um artigo em ingls intitulado As obrigaes da presente hora.
Malatesta, dizendo que a burguesia, enfurecida pelo medo de perder seus privilgios,
usa de todos os meios de represso para suprimir no somente os anarquistas, mas todo
o movimento progressista, os golpes vm de todos os lados. E seria errado pensar que
as perseguies sempre so teis para o desenvolvimento das idias perseguidas. Isso
um erro, como o so quase sempre todas as generalizaes. Perseguies podem
ajudar ou concorrer para o triunfo da causa, de acordo com a relao existente entre o
poder de perseguio e o poder de resistncia do perseguido (MALATESTA, 2005a,
270
p. 181). Assim, sem cair em iluses, preciso enfrentar a situao em que a burguesia
colocou os anarquistas, e estudar os melhores meios para resistir com o mximo de
proveito para o anarquismo. Segundo Malatesta, alguns anarquistas esperam o triunfo
da anarquia realizado pela multiplicao dos atos individuais de violncia. Nesse caso,
podem existir muitas diferenas de opinio a respeito dos efeitos morais e da prtica
efetiva que esses atos individuais exercem sobre cada um. Porm,
uma coisa certa, (...) uma sociedade como a nossa no pode ser destruda, estando
fundada, como est, sobre uma enorme massa de interesses privados e prejuzos, e
sustentada, muito mais do que pela fora das armas, pela inrcia das massas e seus hbitos
de submisso. Outras coisas so necessrias para efetuar a revoluo, especialmente a
revoluo anarquista. necessrio que as pessoas tenham conscincia de seus direitos e de
seu poder; necessrio que elas estejam dispostas para a luta e estejam dispostas a tomar a
conduta de seus interesses nas prprias mos (Ibid., p. 181-182).
Portanto, os atos brilhantes de um pequeno nmero de indivduos podem
ajudar nessa tarefa, mas no bastam e, na realidade, seus resultados so positivos
apenas quando acompanhados mais ou menos pelo movimento coletivo das massas.
Alm disso, esperar a emancipao de atos de herosmo, equivale a esper-la da
interveno de um engenhoso legislador ou de um general vitorioso. Ento, o que fazer
na presente situao? Segundo Malatesta, antes de mais nada, deve-se resistir o quanto
possvel contra as leis, visto que
os graus de liberdade, como tambm os graus de explorao sob os quais vivemos, no
dependem, ou dependem apenas relativamente, das letras da lei: dependem antes de mais
nada da resistncia que se capaz de opor s leis. (...) Os resultados das novas leis,
essencialmente forjadas contra ns, dependem, em alto grau, de nossa atitude. Se
oferecermos resistncia enrgica, elas logo aparecero para a opinio pblica como uma
desavergonhada violao dos direitos, e seriam condenadas a uma rpida extino ou a
permanecer letra morta (Ibid., p. 182)
Assim, se no existe outro limite para a opresso governamental mais do que
a resistncia a ele contraposta, segundo Malatesta, antes de tudo, preciso andar entre
o povo: essa a via de salvao para nossa causa (Ibid., p. 183). Alm disso, segundo
Malatesta, as idias obrigam os anarquistas a colocarem sua expectativa nas massas,
porque no acreditam na possibilidade de impor o bem pela fora. Assim, aps esse
271
primeiro perodo do anarquismo, aps mais de vinte anos de propaganda e de lutas,
aps muita devoo e muitos mrtires, estamos hoje praticamente alheios s grandes
comoes populares que agitam a Europa e a Amrica, e colocamos a ns mesmos em
uma situao que encoraja o governo, sem parecer absurdo, tentativa de nos suprimir
atravs de vrias medidas de polcia (Id.). A tarefa urgente da hora atual , segundo
Malatesta, necessria no somente porque corresponde prpria concepo de
revoluo e de organizao social dos anarquistas, que os impele a viver entre o povo
e influenci-lo com nossas idias tomando parte ativa nas suas lutas e sofrimentos,
mas essa tarefa tambm se tornou hoje absolutamente necessria, nos sendo imposta
pela prpria situao sob a qual vivemos (Id.).
Os anarquistas foram levados a reconsiderar sua estratgica de luta, e nesse
momento surge o movimento operrio e o sindicalismo como novo campo de atuao
das prticas a anarquistas.
272
captulo 5: movimento operrio e sindicalismo
Em 1922, escrevendo sobre a greve geral, Malatesta recordava como, nos
primeiros tempos do movimento socialista, e especialmente na Itlia no tempo da
Primeira Internacional, quando ainda era recente a memria das lutas mazzinianas e
eram ainda vivos a maior parte dos homens que haviam combatido pela Itlia nas
fileiras garibaldinas, (...) se compreendia claramente que o regime sustentado pelas
baionetas no poderia ser abatido a no ser convertendo em defensores do povo uma
parte dos soldados e vencendo em luta armada as foras de polcia e aquela parte dos
soldados fiis disciplina. E nessa poca, se conspirava, foi um tempo em que o
velho internacionalismo bakuninista constitua a estratgia de luta dos anarquistas que
procuravam fazer propaganda ativa entre os soldados, procurava-se armar e
preparava-se planos de ao militares. Em seguida, deu-se uma evoluo econmica
que intensificou o conflito e desenvolveu a conscincia do conflito entre trabalhadores
e patres, dos quais os anarquistas procuraram tirar todo proveito. As esperanas da
revoluo social cresciam e parecia certo que, entre lutas, perseguies, tentativas mais
ou menos imprudentes e desafortunadas, estagnao e retomada de atividades febris,
chegar-se-ia, em um tempo no muito distante, a alcanar o objetivo final e vitorioso
que deveria abater o regime poltico e econmico vigente (MALATESTA,
(1975[172], p. 70-72). Foi a era do bando armado e dos atentados nos quais a
273
militncia tomava a forma de atos insurrecionais como no caso Matese. Todavia, alm
das perseguies sofridas
para frear o impulso voluntrio da juventude socialista (na poca chamavam-se socialistas
tambm os anarquistas), veio o marxismo com os seus dogmas e o seu fatalismo. E
desgraadamente, com as suas aparncias cientficas (estava-se me plena embriagues
cientificista), o marxismo iludiu, atraiu e desviou a maior parte dos anarquistas. Os
marxistas comearam a dizer que a revoluo no se faz, ela vir, que o socialismo se
realizaria necessariamente pelo desenvolvimento fatal das coisas, e que o fato poltico
(que a fora, a violncia colocada a servio dos interesses econmicos) no tem
importncia e que o fato econmico determina toda vida social. Com isso a preparao
insurrecional foi esquecida e praticamente abandonada (Id.).
Aps esse estado de coisas, foi finalmente lanada a idia da greve geral,
que foi acolhida entusiasticamente por aqueles que no tinham confiana na ao
parlamentar e viam aberta uma via nova ao popular plena de expectativas. No
demorou e veio mais uma decepo, porque a maioria viu na greve geral no um
meio para impelir as massas insurreio, ou seja, para abater violentamente o poder
poltico e para tomar posse da terra, dos instrumentos de produo e de toda riqueza
social, mas viram nela um substituto da insurreio, um modo para esfomear a
burguesia e faz-la capitular sem atingi-la (Ibid., 1975[172], p. 70-72). Essa nova
decepo se deu sob a forma do sindicalismo transformado em doutrina por muitos
anarquistas.
Essa narrativa de Malatesta particularmente significativa porque fornece
um fio para a compreenso dos diversos deslocamentos ocorridos na reflexo sobre as
prticas do anarquismo. Ela torna claro que, para sair da estagnao causada pelas
perseguies e pelo fatalismo marxista, foi necessrio recorrer ao movimento operrio;
mas que, no entanto, conduziu para um outro tipo de estagnao do anarquismo
representado pelo sindicalismo.
274
1. pauperismo e subverso
Durante muito tempo anarquismo e movimento operrio funcionaram como
duas realidades inseparveis, dando uma outra motivos de ao, confundindo-se em
seus objetivos e muitas vezes neutralizando-se mutuamente. Essa identificao
provocou reflexes e prticas muito singulares no anarquismo, alimentou resistncias e
acionou estratgias de poder; em outras palavras, provocou governamentalizaes no
Estado.
Em todo caso, seria inexato sustentar que anarquismo e movimento operrio
foram sempre duas realidades imbricadas uma na outra. No verdade que o
anarquismo nasceu do movimento operrio. Ao contrrio, seria mais correto admitir,
como sugere COLSON (2004, p. 10), que o anarquismo est inicialmente conectado,
sobretudo, a uma espcie de intensa, corrosiva e perigosa atividade jornalstica e
intelectual, constituda atravs dos escritos de Proudhon, Djacques, Coeurderoy e
Bakunin. Mas tambm no verdade que a Associao Internacional de
Trabalhadores, AIT, teve uma inspirao operria; com efeito, ela surge de uma
exposio industrial realizada em Londres em 1864, e que, como bvio, ela traz em
seu nome essa palavra trabalhador. Porm, se analisarmos mais atentamente a
resoluo do primeiro congresso da AIT, realizado em setembro de 1866 na cidade de
Genebra, essa resoluo diz muito claramente o seguinte: o congresso declara que, no
estado atual da indstria, que a guerra, deve-se prestar uma ajuda mtua para a
defesa dos salrios. Mas dever declarar ao mesmo tempo que existe um fim mais
elevado a alcanar: a supresso do salariado. O congresso recomenda o estudo dos
meios econmicos baseados sobre a justia e a reciprocidade (cf. GUILLAUME,
1985, 9).
Portanto, supresso do salariado. Mas o que o salariado? Enfim, suprimir
o salariado quer dizer suprimir o regime, suprimir a relao poltica no interior da qual
os operrios encontravam-se presos. O que esses operrios da 1o Internacional,
evidentemente inspirados em Proudhon, diziam era que a sua explorao econmica
275
estava determinada por uma sujeio poltica e que, consequentemente, todo progresso
econmico, sendo sempre logicamente desejvel, era ao mesmo tempo efetivamente
insuficiente quando no resultava de um aumento real de liberdade. Esses operrios
declararam que quem pobre , necessariamente, escravo. E nesse momento, creio, foi
inventada outra maneira de lidar com isso, que se chamou, no sculo XIX, de questo
social: pela primeira vez na histria do movimento operrio foi introduzido um vnculo
fundamental, necessrio e indispensvel entre emancipao econmica e liberao
poltica. Um vnculo que indicava em toda melhoria econmica, por maior que
pudesse ser sua extenso e abrangncia, uma espcie de contrapartida de liberdade
poltica que lhe era imprescindvel. E sem a qual toda melhoria econmica corre
sempre o risco de no ter importncia alguma. Em outras palavras, os anarquistas
provocam no interior do movimento operrio uma espcie de inverso de valores
atravs da qual o domnio do poltico ganhou evidncia. Essa , sem dvida, uma das
razes que explica a enorme distino que separa a concepo de greve geral, por
exemplo, dada por seu inventor, o cartista William Benbow, e aquela que empregou o
anarquista francs, inventor das bolsas de trabalho, Fernand Pelloutier lanou. Em
1832, Benbow preconizou para os operrios ingleses uma estratgia de luta intitulada
Grand National Holiday, defendendo a greve geral (general strike) como meio de
mudana do sistema poltico ingls. No seu panfleto a greve era descrita sob a forma
do the holyday, momento sagrado para promoo da felicidade e da liberdade humana,
dia sagrado para o estabelecimento da abundncia, a abolio da penria e a realizao
da igualdade entre os homens (BENBOW, 1832). J Pelloutier afirmava, na sua
brochura sobre a greve escrita em 1895, que a greve geral no ser um movimento
pacfico, porque uma greve geral pacfica, suposta possvel, no levaria nada. (...)
No, a greve geral, eu o digo decididamente, uma revoluo (PELLOUTIER, 1971,
p. 325).
Assim, se verdade que foi principalmente no movimento operrio que o
anarquismo do sculo XIX e XX encontrou a fonte maior da sua eficcia poltica, no
276
preciso ver nesse fato uma espcie de ligao ontolgica entre eles. Como sugeriu
Colson, para o anarquismo, com efeito, (...) as relaes de dominao e as
possibilidades de emancipao no se limitam em nada s condio operria, a essa
situao humana particular da qual se percebe melhor, ao longo do tempo, seu carter
efmero (COLSON, 2004, p. 16). Portanto, para o anarquismo, a condio de
operrio e de assalariado uma condio somente circunstancial e passageira, mas
sobretudo portadora de mltiplos devires possveis. O movimento operrio deve ser
tomado como realidade mltipla, entre uma multiplicidade de outras, que se
transforma sem cessar e pode at mesmo desaparecer, sem que o projeto anarquista
no perca nenhuma das suas razes de desenvolvimento (Ibid., p. 16-17). Colson
insiste que no confundir e no identificar anarquismo e movimento operrio
possibilita perceber a originalidade poltica e social do pensamento libertrio, ao
colocar em evidncia que para o anarquismo, a emancipao humana, a potncia, os
desejos e as aspiraes que percebemos ao mesmo tempo em ns e em torno a ns com
tanta fora de intensidade, no so determinadas por uma condio da histria. Por
definio, poder-se-ia dizer, elas no dependem em nada de uma determinao exterior
hipostasiada e historicamente orientada (Ibid., p. 17). Para Colson, a coerncia que o
anarquismo mantm com ele mesmo est no fato de considerar as potncias de
emancipao e de opresso atravessando todas as coisas, em todos os tempos e em
todos lugares, de maneira que seria simplificar suas implicaes terico-prticas
buscar fix-lo em uma forma histrica determinada, como, por exemplo, o movimento
operrio.
Quando tomadas a produo textual do anarquismo at o final do sculo
XIX, uma das coisas perceptveis que seus temas so quase sempre alheios a um
domnio de objetos que seriam, por assim dizer, prprios realidade do movimento
operrio; questes especficas relacionadas aos sindicatos, a greve e s extensas
discusses sobre qual deveria ser o papel do anarquismo no movimento operrio e nos
sindicatos, encontram seu ponto de intensidade mxima somente a partir da primeira
277
dcada do sculo XX. Ao contrrio, parece que o anarquismo esteve muito mais
concernido com uma dimenso mais ampla e mais singular da condio operria que
ficou conhecida pelo nome de pauperismo.
Ao contrrio do movimento operrio, o pauperismo na Europa foi tomando
como um fenmeno especfico da civilizao industrial provocado pelo volume e o
ritmo de crescimento da populao das grandes vilas urbanas que colocou questes
relativas ao vnculo entre populao e riqueza: seu equilbrio, constantemente
ameaado pela progresso dos homens e o crescimento das riquezas (CHEVALIER,
2002, p. 184-185) De um lado, o fato demogrfico toma cada vez mais realidade
pelas conseqncias das grandes aglomeraes urbanas, de outro lado a populao
ganha, sob a sombra ameaadora do pauperismo, um valor econmico sob a forma de
polticas da pobreza, bem como uma percepo em relao misria. Segundo
FOUCAULT (1999b, p. 64), em 1606 a cidade de Paris possua 30.000 mendigos para
uma populao inferior aos 100.000 habitantes. Foi a partir da multiplicao de uma
populao duvidosa de camponeses expulsos de suas terras, de soldados desertores, de
operrios sem trabalho, de pobres, de doentes etc., que um etnocentrismo aqum-mar
colocou em funcionamento as categorias lgicas familiares aos povos colonizados pelo
Velho Mundo. Selvagens, dir Eugne Buret a respeito desses pobres, ao escrever em
1840 La misre des classes laborieuses en Angleterre et en France. Selvagens os
operrios o so pela incerteza da sua existncia, primeiro trao de identificao que
aproxima o pobre do selvagem. Para o proletrio da indstria, como para o selvagem, a
vida est merc das sortes do jogo, dos caprichos do acaso: hoje boa caa e salrio,
amanh caa improdutiva ou desemprego, hoje abundncia e amanh a fome (cf.
CHEVALIER, 2002, p. 451-452). Mas so selvagens, sobretudo, por seu nomadismo
incessante que se inicia com a vagabundagem das crianas e que no se encerra, mas
se desdobra, com essa populao flutuante das grandes vilas, esta massa de homens
que a indstria atrai em torno de si, da qual ela no pode ocupar constantemente,
mantendo sempre em reserva a sua disposio. no interior dessa populao, muito
278
mais numerosa do que se supe, que se recruta o pauperismo, este inimigo ameaador
de nossa civilizao (Ibid., p. 452).
Condio selvagem de uma populao primitiva que habita bairros malditos
onde homens e mulheres flertam com o vcio e com a misria, onde crianas semi-nuas
se atrofiam nessas habitaes sem ar e sem luz. l, no corao mesmo da civilizao
e do progresso, que se encontram esses homens e mulheres embrutecidos por uma vida
selvagem, por uma misria to horrvel que inspira mais desgosto que piedade e que
nos leva a v-la como o justo castigo de um crime (Ibid., p. 452). Para Buret, no
apenas a condio do operrio e o seu gnero de vida possuam uma analogia com os
povos selvagens, mas tambm os aspectos da sua revolta e dos seus conflitos de
classes ganharam os contornos de uma raa diferenciada. Isolados da nao,
colocados fora da comunidade social e poltica, solitrios em suas necessidades e
misrias, para sair dessa apavorante solido eles tentam e, como os brbaros aos quais
foram comparados, planejam provavelmente uma invaso (Ibid., p. 453). Esse estado
de degradao social foi descrito como sendo o resultado do crescimento excessivo de
uma frao importante das classes populares e que, por um concurso de circunstncias
fatais, dir Daniel Stern, formava no seu seio como que uma classe parte, como que
uma nao no interior da nao e que comeava a se designar sob um nome novo: o
proletariado industrial (Ibid., p. 456). No sculo XIX nada era mais evidente entre as
classes populares que essa noo de proletariado. O proletariado o duplo da noo de
pauperismo que foi descrito por Lon Say como doena social nova que tem sua
origem na organizao industrial de nossa poca contempornea [e que] consiste na
maneira de ser e de viver dos operrios das manufaturas (Ibid., p. 456). Assim, at a
primeira metade do sculo XIX a palavra proletrio possua conotaes muito
diferentes das que se conhecer em seguida e que estavam alm de uma simples
conotao econmico-poltica. Proletrio para Balzac era menos uma classe que uma
raa portadora de um modo selvagem e brbaro de viver.
279
Tambm na sua descrio, Tocqueville apresentou o pauperismo como sendo
um desenvolvimento gradual e inevitvel de degradao das classes inferiores.
O nmero de filhos naturais aumenta sem cessar, o de criminosos cresce rapidamente, a
populao indigente incrementa-se demasiadamente e o esprito de poupana e previso se
mostra cada vez mais distante do pobre. Enquanto que no resto da nao se difundem os
conhecimentos, suavizam-se os costumes, os gostos tornam-se mais refinados e os hbitos
mais corteses, o pobre permanece imvel ou mais ainda, retrocede em sentido barbrie e,
situado em meio as maravilhas da civilizao, parece assemelhar-se por suas idias e
inclinaes ao homem selvagem (TOCQUEVILLE, 2003, p. 31).
Para Tocqueville, o pauperismo consistia em uma praga horrvel e enorme
que se acha unida a um corpo pleno de fora e sade (Ibid., p. 33), causada pela
marcha progressiva da civilizao moderna que induz gradualmente, e em uma
proporo mais ou menos rpida, o aumento do nmero desses que se vm obrigados a
recorrer a caridade (Ibid., p. 40). Todavia, existe entre as classes inferiores uma certa
categoria de indivduos que o pauperismo atinge mais plenamente, instalando-se na
sua prpria maneira de existir.
Quem so, entre os membros das classes inferiores, aqueles que se entregam mais
prazerosamente a todos os excessos da intemperana e que querem viver como se cada dia
no tivesse uma manh? Quem mostra em tudo sempre a maior impreviso? Quem contrai
esses matrimnios precoces e imprudentes que parecem no ter outro objetivo que o de
multiplicar o nmero de deserdados sobre a terra? A resposta fcil. So os proletrios,
aqueles que no tem no mundo mais propriedade que a de seus braos (Ibid., p. 47-48).
Proudhon, por sua vez, viu o pauperismo caracterizado por uma fome lenta,
por uma
fome de todos os instantes, de todos os anos, de toda vida; fome que no mata em um dia,
mas que se compe de todas as privaes e de todos os arrependimentos; que mina sem
cessar o corpo, arruna o esprito, desmoraliza a conscincia, avilta as raas, engendra
todos as doenas e todos os vcios, o alcoolismo, entre outros, e o cime, o desgosto pelo
trabalho e a poupana, a baixeza de esprito, a indelicadeza de conscincia, a grosseria da
moral, a preguia, a mendicidade, a prostituio e o roubo. essa fome lenta que alimenta
a raiva surda das classes trabalhadoras contra as classes abastadas e que, em tempos de
revoluo, assinala-se por traos de ferocidade que aterrorizam por muito tempo as classes
pacificas, que suscita a tirania e, nos tempos ordinrios, refora sem cessar o poder sobre a
vida (PROUDHON, 1998b, p. 38).
280
Todavia, para Proudhon, o pauperismo est localizado tanto nos indivduos
quando nas instituies, resultando menos de uma marcha inevitvel da civilizao,
que de uma violao da lei econmica que, de um lado, obriga o homem a trabalhar
para viver e, de outro, proporciona o produto sua necessidade (Ibid., p. 35). O
pauperismo o desequilbrio da justia e a guerra.
No entanto, foi Adolphe Thiers, chefe do Poder Executivo de 1871 1873 e
responsvel pela represso a Comuna de Paris, quem enfatizou a necessidade de
atribuir um princpio de separao e de classificao a essa turba de nmades e
vagabundos que possuam salrios considerveis para terem um domiclio, mas que
o recusavam preferindo uma vida desajustada. Dizia que no o povo que queremos
excluir, essa multido confusa, essa multido de vagabundos dos quais no se pode
tomar nem o domiclio, nem a famlia; de tal modo oscilantes que no possvel
encontr-los em nenhuma parte; e que no souberam garantir s suas famlias um
sustento razovel: esta multido que a lei tem por finalidade afastar (cf.
CHEVALIER, 2002, p. 459).
Como observou Procacci, uma das primeiras reaes ao pauperismo foi a
necessidade de distinguir nesse magma indistinto da misria o que era natural de
seus excessos anormais, procurou-se tornar possvel a separao entre pobreza e
pauperismo. Ao contrrio do pauperismo, a pobreza ocupa um lugar natural na ordem
social, ela o reverso necessrio da riqueza e funciona mesmo como estmulo em um
sistema econmico fundado em jogos de interesses e necessidades e, nesse sentido, a
pobreza no da ordem do escndalo; e ela no escandaliza, sobretudo, porque
remete para a desigualdade natural entre os indivduos, (...) um dado fundamental e
irrefutvel, pr-analtico, da sociedade industrial (PROCACCI, 1993, p. 207). A
pobreza, portanto, vista como inocente e acidental, por isso que ela permitiu emergir
em seu seio a figura do bom pobre, do pobre honesto, respeitoso, resignado; a
resignao a maior das virtudes do bom pobre, no porque ele se identifique com a
sua pobreza, ao contrrio, o bom pobre tem vergonha dela e sonha um dia abandona-la
281
recorrendo poupana e outros mecanismos; mas ele virtuosamente resignado
porque sustenta um comportamento que est em conformidade sua situao (Ibid., p.
209). Coisa bem diferente ocorre com o pauprrimo. Ele constitui o excesso da
pobreza, acostando-se da misria e da indigncia, constitui um fenmeno de contra-
natureza. Como mostrou Procacci, o pauperismo no foi considerado um fenmeno
de ordem natural porque ele no vivido como um destino individual marcado pelos
caprichos do infortnio, mas trata-se de uma condio geral que afeta toda sociedade;
o pauperismo tambm no se ops riqueza, como se passava com a pobreza, mas ele
se ope diretamente sociedade e tira disso toda sua fora desestabilizadora que
impede de o assimilar pobreza. O pauperismo um fenmeno disforme que se
insinua nas dobras da ordem natural fundada pela economia poltica. Ele desfigura a
pobreza, subtra dela seu carter de infelicidade individual e individualmente
reparvel, e assume, ao contrrio, uma importncia indita sobre o plano social (Ibid.,
p. 210). Ao invs de se resignar, o pauprrimo foi visto como pretendendo direitos e
reclamando assistncia, enfim, colocando-se como interlocutor poltico.
Insubmisso por definio, o pauperismo no oferece nenhuma garantia e parece escapar
toda tentativa de subordinao. Ele causa o mesmo sentimento de mal estar e de ameaa
indefinida que provoca a multido numerosa e annima que o constitui. A categoria do
pauperismo e, por conseqncia, a linha de demarcao por relao ao grau normal de
pobreza, se definem menos pelo nvel efetivo dos recursos que por traos morais: sua
opacidade, sua indistino, seu carter desordenado e inconstante, so os traos que o
tornam impossvel de controlar. Contra-natureza, o pauperismo no fundo essencialmente
anti-social (Ibid., p. 211).
Assim, no foi a classe operria que foi vista como ameaa ordem social,
mas o pauperismo da qual ela foi talvez, o principal veculo, entretanto, circunstancial.
De modo que, todos os dispositivos destinados a desarm-lo no tiveram jamais a
inteno, como afirmou Tocqueville, de reunir em um mesmo povo essas duas naes
rivais que existem desde o comeo do mundo e que se chamam ricos e pobres
(TOCQUEVILLE, 2003, p. 30); mas essas medidas foram tomadas contra a
exacerbao do pauperismo que se alastrava pelo prprio estilo de vida da classe
282
operria. Dessa forma, diz Tocqueville, bastaria modificar suas idias e seus costumes,
incutir-lhes um apego ao futuro, fazer com que sintam possuir algo valioso para torn-
los previdentes, inculcar-lhes a necessidade e indicar-lhes as condies para manterem
suas famlias fora da misria etc. Na minha opinio, todo o problema a resolver
esse: encontrar um meio de proporcionar ao operrio industrial, como ao pequeno
agricultor, o esprito e os hbitos da propriedade (Ibid., p. 53).
2. movimento operrio
Foi, portanto, o pauperismo, como realidade primeira e como condio
conjetural do movimento operrio, que ocupou inicialmente o debate poltico na
primeira metade do sculo XIX; foi dele tambm que se ocupou Proudhon e ele que
se encontra entre as motivaes pan-eslavistas de Bakunin quando ele colocava as
potencialidades revolucionrias entre a massa miservel de camponeses e no chamado
lupem-proletariado do leste europeu. E sempre o pauperismo das classes operrias o
elemento real e fundamental que tomando na reflexo de Malatesta acerca do
movimento operrio.
Para Malatesta, no capitalismo, precisamente por tratar-se de um regime
individualista e de concorrncia, o bem de um indivduo sempre feito pelo mal de
outros. Assim, por exemplo,
se uma categoria de trabalhadores melhora de condies, os preos dos seus produtos
aumentam e todos aqueles que no pertencem categoria so por ela prejudicados. Se os
operrios empregados conseguem impedir os patres de dispens-los e tornam-se, por
assim dizer, donos de sua ocupao, os desempregados vero diminudas as possibilidades
de emprego. Se devido a novas invenes, ou por mudana no funcionamento ou outra
razo, um ofcio decai e extingue, uns sero prejudicados, outros favorecidos; se um artigo
vem do exterior, vendido a um preo inferior daquele que produzido no pas, os
consumidores ganham, mas os fabricantes do artigo so arruinados. E, em geral, toda nova
descoberta, todo progresso nos meios de produo, ainda que no futuro possam beneficiar a
todos, comea sempre produzindo um deslocamento de interesse que se traduz em
sofrimento humano (MALATESTA, 1975[51], p. 137).
283
Acontece, por exemplo, em regime capitalista, que os melhoramentos de
uma parte seleta do proletariado, a segurana conquistada por certos operrios de no
serem privados do seu posto, agrava a situao da massa miservel e torna permanente
a desocupao dos menos fortes, dos menos afortunados e dos menos hbeis
(MALATESTA, 1975[64], p. 167-168). o circulo angustiante do pauperismo que
provoca a luta e o
antagonismo, geralmente involuntrio e inconsciente, mas natural e fatal, entre quem
trabalha e que desempregado, entre quem tem um emprego estvel e bem remunerado e
quem ganha pouco e corre sempre o risco de ser demitido, entre quem sabe um oficio e
quem quer aprender-lo, entre o homem que tem o monoplio da profisso e a mulher que
se insere no terreno da concorrncia econmica, entre o nacional e o estrangeiro, entre o
especialista que gostaria de proibir aos outros a sua especialidade e os outros que no
reconhecem esse monoplio, e ainda, geralmente, entre categoria e categoria, conforme
contrastam-se os interesses transitrios ou permanentes entre uma e outra. Algumas
categorias tiram vantagem da proteo alfandegria, outras sofrem com ela; algumas
desejariam certos intervenes das autoridades estatais, certas leis, certos regulamentos,
enquanto outras lutam em melhores condies quando o governo no se mete nos seus
interesses (Ibid., 1975[113], p. 280-281).
Luta e antagonismo de todos contra todos que, alm de condenar os vencidos
a um estado de misria e degradao gradual e constante, tambm concorre para que as
organizaes operrias (...) a medida que cresam em nmero e em potncia, se
tornem em seguida moderadas, corruptas, transformadas em corporaes fechadas,
preocupadas unicamente com os interesses dos associados em oposio aos no-
associados (Id.). Assim, o pauperismo das classes operrias age de uma tal forma que
faz com que a luta econmica, ao permanecer confinada nos limites dos interesses
atuais e imediatos dos trabalhadores, no somente incapaz de conduzir
emancipao definitiva, mas tende, pelo contrrio, a criar antagonismos e lutas entre
trabalhadores e trabalhadores, para o benefcio da conservao da ordem burguesa
(Ibid., 1975[51], p. 134).
Mas existe tambm uma outra direo de luta que o pauperismo fatalmente
provoca quando se trata de um tipo particular de relaes estabelecidas entre patres e
284
operrios, quando se trata, em suma, de relaes de explorao. Tambm aqui, para
Malatesta,
a questo clara. Naturalmente o capitalista deve deixar ao trabalhador uma parte do
produto do trabalho. Qualquer que seja o modo como essa parte dada, salrio, pagamento
in natura, concesses, participaes nos lucros, o capitalista gostaria sempre de dar ao
trabalhador apenas o estrito necessrio para que esse possa trabalhar e produzir, e o
trabalhador, por sua vez, gostaria sempre todo o produto que devido sua obra. A taxa
real de compensao do trabalho, em todo caso pago, determinada pela necessidade que
capitalista e trabalhador tm um do outro, e da fora que um pode opor ao outro [grifos
meus] (Ibid., 1975[69], p. 176-177).
Assim, ao contrrio do que dizem os economistas a respeito de uma pretensa
lei natural dos salrios, o que de fato determina a parte que vai para o trabalhador
sobre o produto do seu trabalho o fato de que o salrio, a durao da jornada e
todas as outras condies de trabalho so o resultado da luta entre patres e
trabalhadores. (...) De modo que, pode-se afirmar, o salrio, dentro de certos limites,
aquilo que o operrio (no como indivduo, claro, mas como classe) pretende (Ibid.,
1975[223], p. 231). nesse sentido que o regime do salrio pode fazer o trabalhador
perceber sua escravido e o antagonismo de interesses que existe entre ele e o patro e,
nesse momento,
ele luta com o patro e chega facilmente a conceber a justia e a necessidade da abolio
do patronato. Se, ao contrrio, o operrio controla a indstria, participa nos lucros,
acionista da fbrica, ele perde de vista o antagonismo de interesses e a necessidade da
guerra de classe, se torna realmente interessado, ainda que explorado, na prosperidade do
patro e aceita o estado de servo, mais ou menos bem nutrido, no qual se encontra. Mas
no tudo. Quando o pagamento do trabalho fosse feito sob a forma de diviso dos lucros,
de dividendos sobre as aes ou outros modos de co-participao, os patres tero
facilitado a via daquilo que seria o ltimo meio para tentar perpetuar o privilgio: a co-
gesto com os operrios mais hbeis, tambm com os mais servis e mais egostas, o que j
se conseguiu realizar, em grande parte, com os profissionais e com os tcnicos, ou seja,
assegurar seu trabalho estvel e relativamente bem pago, constituindo assim uma classe
intermediria que os ajudaria a manter assujeitada a grande massa de miserveis (Ibid.,
1975[69], p. 176-177).
Malatesta introduz um corte no pauperismo das classes operrias. De um
lado, ele age colocando os operrios um em oposio aos outros em benefcio da
conservao do regime burgus; chamaremos isso de dimenso puramente econmica
285
do pauperismo. De outro lado, o pauperismo age de maneira selvagem, ele explode no
antagonismo que fatal e inevitvel nas relaes de explorao entre patres e
operrios; esse pauperismo est mais alheio s lutas de categoria e as lutas
econmicas, e conecta-se tambm com questes e reivindicaes de ordem moral e
de interesse geral (Ibid., 1975[51], p. 138). , portanto, um pauperismo capaz de
tornar as massas acessveis propaganda anarquista e de predisp-las revoluo;
atravs dele os oprimidos ainda dceis e submissos comeam a tomar conscincia dos
seus direitos e da fora que podem encontrar no acordo com os companheiros de
opresso: nessas aes eles compreendem que o patro o seu inimigo, que o governo,
ladro e opressor por natureza, est sempre pronto para defender os patres, e se
preparam espiritualmente para a runa total da ordem social vigente (Ibid., 1975[113],
p. 282).
Tocqueville, na sua Memria sobre o pauperismo, tinha pretendido pacificar
o potencial poltico do pauperismo atravs de dois meios: o primeiro, aquele que, a
primeira vista, parece mais eficaz, consistiria em dar ao operrio uma participao na
fbrica. Isso produziria nas classes industriais os mesmos efeitos parecidos aos
ocasionados pela diviso da propriedade territorial entre a classe agrcola
(TOCQUEVILLE, 2003, p. 53). Um segundo meio, e porque o primeiro aparecia, aos
olhos de Tocqueville, provocando a oposio de grande parte dos empresrios, seria o
de favorecer a poupana dos salrios e oferecer aos operrios um mtodo fcil e
seguro de capitalizar essas poupanas, fazendo-as produzir rendas (Ibid., p. 55). Eram
estratgias para normalizar o pauperismo nos quadros do sistema scio-econmico
capitalista e que dizia respeito muito mais a uma constelao de comportamentos
morais em consonncia com esse sistema. No se deve perder de vista que o
pauperismo, como mostrou Procacci, foi caracterizado sobretudo como um conjunto
de comportamentos imorais, quer dizer, irredutveis ao projeto social e inteis a seus
fins. Ele se torna, com isso, uma ameaa ordem pblica e moral. A poltica deve
286
trabalhar para conduzir essa ameaa em direo a uma transio pacifica
(PROCACCI, 1993, p. 213).
Malatesta tomar, obviamente, a direo inversa. Para ele a luta econmica e
legal uma via sem sada porque supe sempre e necessariamente o reconhecimento
de fato do privilgio proprietrio, quando o que preciso fazer que a luta contra o
pauperismo desperte nos trabalhadores o esprito de rebelio contra os patres,
levando a eles a febre do descontentamento e do inconformismo (Ibid., 1975[212],
p. 188). Para Malatesta, trata-se sempre de pretender qualquer coisa, de subtrair ao
Estado uma parte da sua potncia de obrigar os trabalhadores a sofrerem as condies
dos patres (1975[311], p. 175), mas para isso sobretudo necessrio passar da luta
econmica para a luta poltica, ou seja, para luta contra o governo; e ao invs de opor
aos milhes de capitalistas os escassos centavos penosamente acumulados pelos
operrios, preciso opor aos fuzis e aos canhes, que defendem a propriedade, os
meios melhores que o povo poder encontrar para vencer a fora com a fora (Ibid.,
1975[223], p. 233). E isso em um tal grau de intensidade que preciso jamais perder
de vista que
quaisquer que sejam os resultados prticos da luta pelas melhorias imediatas, a utilidade
principal est na luta mesma. Com ela os operrios aprendem que os patres tm interesses
opostos aos seus e que eles no podem melhorar a sua condio, e nem mesmo emancipar-
se, seno unindo-se e se tornando mais fortes que os patres. Se tm xito em obter aquilo
que querem, estaro melhor; ganharo mais, trabalharo menos, tero mais tempo e mais
fora para refletir sobre as coisas que lhes interessam e sentiro logo desejos maiores,
necessidades maiores. Se falham, sero conduzidos a estudar as causas do insucesso e a
reconhecer a necessidade de maior unio, de maior energia; e compreendero, enfim, que
para vencer seguramente e definitivamente necessrio destruir o capitalismo (Ibid.,
1975[223], p. 230).
Somente nessa direo os operrios podem constiturem-se na fora
principal da revoluo. Porque, so eles que sofrem mais diretamente as
conseqncias da m organizao social, so eles que, vtimas primeiras e imediatas da
injustia, aspiram, de modo mais ou menos consciente, uma transformao radical da
qual resulte maior justia e maior liberdade. esse fato que, em razo do
287
desenvolvimento da grande indstria, da facilidade de comunicao e do
desenvolvimento geral da civilizao ganhou nos tempos modernos propores
grandiosas e constituiu um dos fenmenos mais importantes da vida social
contempornea, conhecido pelo nome de movimento operrio. Porm, o objetivo
imediato desse movimento no o eliminar o capitalismo, mas de melhorar o quanto
possvel as condies de vida do trabalhador. Assim, no geral, quem entra em uma
associao operria tem o objetivo e a esperana de ganhar mais, de tornar o trabalho
menos opressivo, de viver em condies higinicas mais humanas e confia na potncia
coletiva para conquistar, pouco a pouco, essas melhores condies. Mas logo a
prtica da luta demonstra a necessidade de ultrapassar os limites assinalados pelas
instituies vigentes. Logo colocado em dvida o prprio direito do patro, a
instituio da propriedade da terra e dos instrumentos de trabalho (Ibid., 1975[113],
p. 276).
Desse modo, Malatesta insiste que o movimento operrio no foi uma
criao artificial que idelogos fizeram para propulsionar determinado programa
poltico, seja ele anarquista ou no. Ele , ao contrrio, o resultado dos desejos e das
necessidades imediatos que tm os trabalhadores de melhorar as suas condies de
vida ou pelo menos de impedir que ela piore; por esse motivo, ele deve existir e se
desenvolver no ambiente atual e tem necessariamente tendncia a limitar as suas
pretenses s possibilidades do momento. E esse fato que explica o que
frequentemente ocorre quando os iniciadores de agrupamentos operrios so homens
de idias buscando transformaes sociais radicais e aproveitam das necessidades
sentidas da massa para provocar o desejo de melhorias; ento, esses homens
288
renem em torno de si companheiros do mesmo temperamento (...) e formam associaes
operrias que so, na realidade, grupos polticos, grupos revolucionrios, pelos quais as
questes de salrio, de horrio, de regulamento interno das oficinas so coisas secundrias
e servem muito mais de pretexto para atrair a massa, para fazer propaganda das prprias
idias e preparar as foras para uma ao resolutiva. Mas bem cedo, na medida em que
crescem o nmero dos aderentes, os interesses imediatos ganham preponderncia, as
aspiraes revolucionrias tornam-se um obstculo e um perigo, os homens prticos,
conservadores, reformistas, prontos a todas as transaes e acomodamentos exigidos pelas
circunstncias, opem-se a influncia dos idealistas e dos intransigentes e a organizao
operria torna-se aquilo que necessariamente deve ser em sistema capitalista, ou seja, um
meio no para negar e abater o patronato, mas simplesmente para colocar um limite s suas
pretenses (Ibid., 1975[321], p. 207-209).
A grave questo que se coloca a seguinte: o que devem fazer os
anarquistas quando o grupo operrio, com o afluir da massa impelida na organizao,
cessa de ser uma fora revolucionria e torna-se um instrumento de equilbrio entre
capital e trabalho e, talvez, um fator de conservao do atual ordenamento social?
(Id.). Segundo Malatesta, preciso evitar a todos custo o prejuzo dos operaisti
[operariostas] prprio daqueles anarquistas
que acreditam que o fato de ter calos nas mos seja como uma divina infuso de todos os
mritos e de todas as virtudes, e que protestam se ousas falar de povo e de humanidade e
esqueces de jurar sobre sacro nome do proletariado. Ora, verdade que a histria fez do
proletariado o instrumento principal da prxima transformao social (...). Mas no
preciso por isso fazer fetiche do pobre apenas porque pobre, nem encorajar nele a crena
de que ele uma essncia superior e que, por uma condio que certamente no fruto
nem do seu mrito nem de sua vontade, ele tenha conquistado o direito de fazer aos outros
o mal que os outros lhe fizeram. A tirania das mos calejadas (...) no seria menos dura,
menos srdida, menos fecunda de males duradouros, daquela tirania das mos enluvadas.
Talvez seria menos iluminada e mais brutal: eis tudo (Ibid., 1975[91], p. 232-233).
preciso, portanto, jamais considerar os operrios melhores que os
burgueses, mas preciso tirar proveito dessa condio que a sua devido a
circunstncias histricas e sociais, fazendo emergir dela a luta entre governo e
governados.
289
3. anarco-sindicalismo
O movimento operrio emergiu para o anarquismo quando esse percebeu a
necessidade para sua propaganda de abandonar a ttica exclusiva da propaganda pelo
fato. No final do sculo XIX, Malatesta passa a postular que a revoluo no se faz
com quatro gatos pingados e que indivduos e grupos isolados podem fazer um
pouco de propaganda, realizar golpes audazes, atentados e coisas semelhantes que,
quando feitos com critrio, podem atrair a ateno pblica sobre os males dos
trabalhadores e sobre as nossas idias, podem desembaraar-nos de algum obstculo
potente; mas a revoluo no se faz a no ser quando o povo sai as ruas (Ibid.,
1982[4], p. 75-76). Em uma tal disposio, desprendeu-se a idia de greve geral e de
sindicalismo; como notou Nettlau, depois das perseguies de 1892-1894, a repentina
e rpida evoluo do sindicalismo francs era para todos uma grande alegria, e muitos
viram nele um novo caminho. Falou-se dele em Londres, at meados de 1895 e
Malatesta tinha tratado provavelmente a fundo a questo especialmente com Pouget,
que foi o primeiro a romper com as lois sclrates; dirigiu-se a Paris, liquidou
brevemente seu processo e publicou La Sociale, abrindo ao sindicalismo um caminho
entre os anarquistas (NETTLAU, 1923, p. 165). Isso, no entanto, no deve ser visto
constituindo uma diminuio da intensidade das lutas; coisa bastante evidente quando
se l algumas passagens de uma pea teatral, a nica escrita por ele, de Malatesta
intitulada Lo Sciopero [A greve].
A greve foi um drama em trs atos escrito em 1906 para contentar os
companheiros filodramticos de Londres, mas que, por quanto escreve Fabbri, era sua
vontade no v-la publicada, tendo solicitado formalmente a seu amigo de no faz-lo;
Fabbri acrescenta que essa recusa em publicar respondia a escrpulos exclusivamente
literrios e no, entenda-se, em razo dos sentimentos e das idias expressas
(FABBRI, 1933, p. 1).
As personagens do drama so Nicola, um velho carpinteiro de sessenta anos,
pai de Giorgio e Maria, que no consegue mais trabalho em razo da instalao de uma
290
grande fbrica de mveis no vilarejo, alm de pesar sobre ele a ameaa de despejo pelo
no pagamento de trs meses de aluguel; Cesare Sacconi, rico industrial e patro da
fbrica de mveis; e diversos operrios, policiais e soldados. Giorgio um jovem
operrio de vinte e cinco anos e conhecido por sua atividade de anarquista, razo pela
qual seu pai, Nicola, no consegue ocupao na fbrica; estava fora da cidade e seu
retorno coincide com uma greve recentemente iniciada na fbrica de mveis, os
operrios abandonaram o trabalho e os soldados ocuparam a vila e protegem a fbrica.
Com a greve, Nicola supe que o patro Cesare Sacconi poderia finalmente lhe dar
trabalho, visto que aceitaria as condies que os operrios grevistas recusam; mas sabe
que seu filho Giorgio no permitiria faz-lo sem acusar-lhe de se vender aos patres;
ento, ele se resigna. Quando da sua chegada, Giorgio, pressionado pelo pai e pela
irm, admite ter retornado precisamente pela greve: para dizer a essas ovelhas que
com bondade no obtero jamais nada, que se querem qualquer coisa a devem tomar
pela fora (MALATESTA, 1933, p. 6). O pai, indignado, teme pela priso do filho e
lhe faz lembrar que quando ele estiver morto, sua irm no contar com mais ningum
no mundo; Giorgio responde: E de uma existncia semelhante que devemos ter
medo de comprometer! por ela que devemos cultivar uma pacincia vil em relao
aos nossos males e indiferentes aos alheios! Mas no vale mil vezes morrer de um
nico golpe? (Ibid., p. 6-7). Em seguida, anunciada sua ida at a vila a procura de
trabalho, dizendo que se nada encontrar, se oferecer a Sacconi: Agora com a greve e
tem necessidade de operrios, esquecer que sou anarquista e me deixar trabalhar. A
irm, que nada dissera at o momento, rompe o silncio surpreendida: Como,
Giorgio, vai trabalhar?! Em tempo de greve?; e Giorgio responde: Sim, talvez irei
tomar o lugar dos grevistas..., mas no duvides, no ser para prejudicar meus
companheiros (Ibid., p. 7).
Giorgio e seu pai Nicola vo solicitar trabalho a Sacconi que lhes nega
soberbamente, at que o patro reconhece em Giorgio o terrvel anarquista que
gostaria de mandar tudo pelos ares, aceitando-os estrategicamente como empregados:
291
melhor mant-lo aqui dentro trabalhando que saber que gira pela vila incitando as
pessoas e esquentando os nimos... J uma boa coisa que a fome o tenha induzido a
vir trabalhar (Ibid., p. 12). Mas, quando saem Giorgio e Nicola, imprevistamente
comea um enorme rumor de Abaixo Cesare Sacconi, Morte aos esfomeadores do
povo, Viva a revoluo. Sacconi, acionando a sirene, chama a polcia sem obter
resposta. Em seguida se apercebe que Giorgio, planejando a manifestao
antecipadamente, havia aberto os portes para a entrada da multido revoltada. De
repente, entra novamente Giorgio que agarra Sacconi firmemente pelo pescoo lhe
dizendo: Infame, queria ver as pessoas mortas de fome aos seus ps. Agora vomita o
sangue que sugou dos pobres (Ibid., p. 13), e nesse momento introduz um punhal no
seu peito e Sacconi cai morto.
parte o pouco talento dramatrgico de Malatesta, A greve, serve para
indicar o clima nesse comeo do sculo XX, mostrando qual o sentido deveria ser
tomado pelos anarquistas nas lutas do movimento operrio. Nesse pequeno drama
escrito para os operrios londrinos, o que ainda aparece uma voz bem conhecida nos
tempos dos atentados e que fazia vibrar o punhal, o revolver e a dinamite como meios
que, certamente no foram abandonados, mas que passaram a ser empregados em
outros contextos. Ainda em 1890, Malatesta j tinha manifestado a necessidade de que
a greve no deveria ser a guerra dos braos cruzados. Os fuzis e todas as armas para o
ataque e a defesa que a cincia coloca a nossa disposio, longe de terem sido
inutilizadas pelas greves, permanecem sempre instrumentos de liberao que nas
greves encontram uma boa ocasio para serem utilmente adotados (Ibid., 1982[3], p.
73). Como notou Antonioli, a greve geral importava para Malatesta pelo seu aspecto
de massa e seu valor moral. Para Malatesta, na realidade, no eram tanto os
resultados prticos da greve que contavam, mas os seus traos de revolta quotidiana,
de escola de rebelio. A greve, e sobretudo a greve geral, era uma lacerao do tecido
social, uma fissura na ordem existente que os anarquistas podiam aprofundar, alm de
ser a melhor ocasio para permanecer em contato com as massas protagonistas
292
(ANTONIOLI, 1983, p. 162). O movimento operrio, pela realidade de seus conflitos,
constitua inegavelmente um dos melhores meios de atuao do anarquismo, sobretudo
quando considerado anarquismo atravessado, como sugerimos, por um agonismo
poltico.
Todavia, assim como ocorreu com a onda de atentados, logo alguns
anarquistas tornaram o sindicalismo um exagero. Em 8 de outubro de 1906, em
Amiens, pequena cidade da Picardia na Frana, 300 delegados se renem
representando cerca de 1000 sindicatos operrios. O Congresso Sindicalista de
Amiens considerado o ponto culminante do lan revolucionrio do sindicalismo
francs e da CGT, Confdration Gnrale du Travail, fundada em 1895; as
resolues tomadas constituram por muito tempo o documento fundador do
sindicalismo francs, dando origem, a partir de 1912, expresso que se tornou
conhecida mundialmente como Carta de Amiens, empregada para referir-se
constituio moral ou carta do sindicalismo e representou o triunfo do
sindicalismo de ao direta sobre a tendncia legalitria e moderada de Jules Guesde e
Jean Jaurs, j intensamente combatida por Fernand Pelloutier e as Bolsas de Trabalho
(JULLIARD, 1971, p. 119).
Foi do congresso de Amiens que saram as concepes bsicas do que mais
tarde se chamou anarco-sindicalismo. Como mostrou Antonioli, existe uma enorme
controvrsia em torno dos termos sindicalismo revolucionrio e anarco-sindicalismo.
Ele sugere que anarco-sindicalismo teria sido empregado pela primeira vez por
Armando Borghi que o teria utilizado para referir-se a Alecksander Shapiro em 1920
(ANTONIOLI, 1997, p. 157); Maitron refere-se ao congresso de Amsterdam como o
momento de passagem do anarco-sindicalismo para o sindialismo revolucionrio,
fazendo assim o anarco-sindicalismo coligar-se com o bakuninismo da Primeira
Internacional; j Guillaume dizia que a CGT francesa que era a continuao da
Primeira Internacional. Portanto, sugere Antonioli que
293
poderamos dizer e talvez essa a explicao mais lgica que o uso prolongado do
termo sindicalismo revolucionrio por parte dos anarco-sindicalistas respondia a razes
prticas e tticas ao mesmo tempo. O apelativo de sindicalistas revolucionrios tinha
entrado, sobretudo em alguns pases, no uso comum, enquanto aquele de anarco-
sindicalista esforava-se por ganhar terreno. Alm disso, o primeiro era ideologicamente
menos marcado, mais aberto, mais geral e ao mesmo tempo mais genrico, enquanto o
segundo arriscava traduzir uma simples tendncia do anarquismo (Ibid., p. 168).
Seja como for, o congresso de Amiens permite assinalar um momento em
que prticas sindicalistas ganharam um grande destaque no anarquismo. mile Pouget,
participante do congresso e um dos principais tericos da suas formulaes, afirmava
que os socialistas, desejosos de eliminar da Confederao os anarquistas, davam
provas de desconhecimento absoluto do movimento sindical. Eles supem que existe
no ambiente econmico do sindicalismo os mesmos hbitos existentes nos ambientes
polticos e imaginam que bastaria eliminar alguns indivduos para modificar a
orientao geral do movimento. Porm, diz Pouget, movimento poltico e movimento
econmico no so comparveis. O primeiro inteiramente fachada, exterioridade,
como o objetivo que ele persegue; o segundo tem razes profundas penetradas
plenamente no corao dos interesses primordiais dos trabalhadores (POUGET, 2006,
p. 100). Alm disso, segundo Pouget, o ambiente econmico possui a particularidade
de fazer
desprender uma atmosfera de cordialidade e de concrdia que uma resultante da
intensidade da luta engajada. As discordncias de opinio se atenuam, se amenizam,
evidenciam-se vazias, cria-se uma mentalidade nova que a manifestao de uma
comunidade de tendncias. Assim, no cadinho da luta econmica realiza-se a fuso dos
elementos polticos e se obtm uma unidade viva que erige o sindicalismo em potncia de
coordenao revolucionria. essa unificao maravilhosa e fecunda que a caracterstica
da influncia vivificante do sindicalismo! Os homens de opinies diversas que em outros
lugares se olham como co e gato fazem aqui boa combinao. Se os socialistas so
unificados recente e apenas de epiderme; no fundo, as velhas categorias subsistem:
alemanistas, blanquistas, guedistas. No ambiente sindical, uns e outros marcham em pleno
acordo, e uns e outros entendem-se perfeitamente com anarquistas (Ibid., p. 100-101).
Agora, verdade que os anarquistas tomaram sempre mais uma parte ativa
no movimento sindicalista aps a onda dos atentados; mas perfeitamente
compreensvel. Nesse movimento eles descobriram, colocadas em ao, a maior parte
294
de suas teorias, seno todas (Ibid., p. 101). Assim, a crtica anarquista ao
parlamentarismo os anarquistas encontram no sindicato no sob uma forma
combativa, mas sob forma de indiferena [grifos meus]: os sindicatos no eram anti-
parlamentares, mas, nitidamente, eles se manifestam a-parlamentares. (...) O que o
anarquista tinha por fato considervel que o sindicato permanece a-poltico (Ibid.,
p. 101-102). Desse modo, a teoria anarquista, que no tem outra realidade social que
no ambiente econmico, encontra sua confirmao espontnea na ao sindical por ela
mesma, de tal maneira que cada vez mais, os prprios objetivos revolucionrios
perseguidos pelos sindicatos identificam-se com o ideal anarquista. Devido todas essas
concordncias e porque foi provado numerosos pontos de contato existentes entre
suas teorias e as tendncias sindicalistas, que espritos impacientes concluram pela
identificao do sindicalismo e do anarquismo e, seu desconhecimento dos caracteres
especficos do sindicalismo os induziram, tambm, qualificar de anarquizantes os
sindicalistas puros (Ibid., p. 102).
Foi substancialmente a partir dessa disposio que difundiu largamente a
idia de que o sindicalismo fosse uma doutrina nova ou, como dizia Latapie, uma
teoria entre as teorias anarquistas e socialistas (ANTONIOLI, 1997, p. 163), que
inicia-se entre a maior parte dos anarquistas cgtistes um esforo terico para superar
o anarquismo e com a finalidade de se reconhecer simplesmente como sindicalistas.
Neste clima se deu, um ano mais tarde, o Congresso Internacional Anarquista de
Amsterd, em 1907, trazendo j na sua convocao uma conotao fortemente
sindicalista. Amde Dunois, ento cgtiste e depois integrante do Partido Socialista,
a partir de 1911, constatava em julho, um ms antes do Congresso,
a existncia de dois files bem distintos do anarquismo, um certo anarquismo terico,
interessado por generalizaes abstratas, esse anarquismo que, por exemplo, tinha se
oposto na primavera de 1906 batalha pelas 8 horas e que ele definia puro, e um
anarquismo operrio, que sem abandonar jamais a terra firme das realidades concretas,
devota-se com continuidade organizao do proletariado com vistas para a revolta
econmica ou, em outras palavras, para a luta de classes (ANTONIOLI, 1978, p. 20).
295
Os sindicalistas no somente comearam a afirmar a necessidade de
distino entre as formas no genunas de anarquismo, precisamente quelas que no
estavam inseridas ou vinculadas s organizaes de classe, mas tambm, e ao mesmo
tempo, conferiam uma prioridade decisiva organizao de tipo sindical. Desse modo,
foi nesse momento, no ano de 1907 e a partir desse congresso de Amsterd, que se deu
o deslocamento do movimento operrio para o primeiro lugar na militncia anarquista.
Se a ao da velha AIT tinha se configurado em toda parte como associao de
malfeitores e procurou incendiar a Europa com o fogo da revoluo, dando-se como
armas de luta tanto a palavra como a dinamite e o fuzil, e elegendo como objeto e meio
de ao no uma certa categoria profissional de indivduos, mas uma cidade, um
vilarejo, at mesmo um pas. Diferentemente e ao mesmo tempo, aquilo que est em
jogo quando do nascimento do anarco-sindicalismo, denominao certamente a mais
difundida e a que provocou o maior nmero de prticas e de reflexes que
influenciaram os movimentos operrios da Europa e da Amrica, foi tambm um
fenmeno bastante complexo do qual resultou uma concepo sindicalista da
revoluo e inaugurou um tipo de anarquismo operariosta. Essa vertente do
anarquismo elegeu a greve como arma nica da revoluo e identificou na realidade
operria o domnio dos objetos necessrios e suficientes para a revoluo. E foi
tambm essa vertente que esteve no centro da polmica entre Pierre Monate e Errico
Malatesta durante esse congresso, o primeiro defendendo a luta classes como o
verdadeiro terreno de luta do anarquismo e o segundo defendendo a posio
classicamente pluralista do anarquismo.
Nettlau comentou na sua biografia escrita em 1923 como as esperanas
colocadas no sindicalismo desde 1895 no tinham se realizado e foi necessrio intervir
contra o excessivo apreo do valor revolucionrio do sindicalismo existente, pois se
desenvolvia a tendncia a relegar o anarquismo a plano secundrio em benefcio do
sindicalismo que basta a si mesmo (NETTALU, 1923, p. 179); j Fabbri afirma ter
se surpreendido pela f diminuda, que era muita em 1897, no movimento
296
sindicalista (FABBRI, 1945, p. 119). Como notou Antonioli, Malatesta rapidamente
percebeu que uma adeso incondicionada ao movimento operrio teria provocado a
perda da prpria identidade poltica, tornando indistinta a interveno anarquista
daquela reformista (ANTONIOLI, 1983, p. 163), e desse modo no podia
compartilhar dessa idia de que o anarquismo devesse praticamente renascer
continuamente no interior do processo de emancipao operria, que fosse colado
histria da luta de classe (ANTONIOLI, 1978, p. 27).
Durante o congresso de Amsterd, aps a relao apresentada por Pierre
Monatte sobre Sindicalismo e Greve Geral, na sesso do dia 28 de agosto, Malatesta
apresentou um contra-discurso no qual conclua dizendo que havia um tempo que
deplorava que os anarquistas se isolassem do movimento operrio; hoje deploro que
muitos de ns, caindo no excesso oposto, se deixam absorver por esse mesmo
movimento. A organizao operria, a greve, a greve geral, a ao direta, o boicote, a
sabotagem so meios, mas o verdadeiro e completo objetivo anarquia (cf.
FABBRI, 1907, p. 338). Malatesta escreveu suas impresses sobre o congresso no
jornal Temps Nouveaux, Fabbri as traduziu para figurar de prefcio ao balano
escrevito por ele na sua revista Il Pensiero. Nessas impresses, Malatesta deixa claro
que a discusso sobre sindicalismo e sobre a greve geral foram as discusses mais
importante do congresso, porque foram precisamente sobre essas questes que se
manifestou a nica diferena sria de opinio entre os congressistas, uns dando
organizao operria e greve geral uma importncia excessiva e considerando-as
como se fossem quase iguais a anarquismo e a revoluo, outros insistindo sobre a
concepo integral do anarquismo (MALATESTA, 1907, p. 323). Na sua
apresentao, Monatte tinha encerrado afirmando que o sindicalismo bastava-se a si
mesmo como meio para efetuar a revoluo social e realizar a anarquia. Malatesta
respondeu que o sindicalismo mesmo quando reforado com o adjetivo de
revolucionrio, no podia ser que um movimento legal, um movimento de luta contra
o capitalismo no ambiente econmico e poltico que o capitalismo e o Estado lhe
297
impe (Ibid., p. 323-324). Para Malatesta, o erro fundamental estava na crena que os
anarquistas sindicalistas sustentavam de que os interesses dos operrios eram
solidrios e que, portanto, bastava aos operrios de colocarem-se em defesa dos
prprios interesses, procurando melhorar as suas condies, para que sejam
naturalmente conduzidos a defender os interesses de todo o proletariado contra os
patres. Ora, isso era justamente o inverso do que sustentava Malatesta, para quem
era justamente o contrrio que se dava; dizia que a histria do tradeunionismo ingls
e americano demonstra precisamente o modo pelo qual se produziu a degenerao do
movimento operrio quando est limitado defesa dos interesses atuais. essa a
razo que faz com que a funo dos anarquistas seja precisamente a de procurar
direcionar quanto possvel todo o movimento (...) em direo revoluo, ainda que se
necessrio, em detrimento das pequenas vantagens que pode obter hoje algumas
faces da classe operria (Id.). Tambm a greve geral ele a avaliar nessa direo.
Para Malatesta, certamente preciso propagar a idia da greve geral como um meio
muito prtico de comear a revoluo, mas sem cair na iluso de que a greve geral
poder substituir a luta armada contra as foras do Estado (Id.).
Pareceu a Malatesta que essas diferenas de tendncia no tenham ficado
bem definidas e claras para os congressistas; ao contrrio, lhe pareceria que era preciso
muita penetrao para descobri-las e, na realidade, a maior parte dos congressistas
no as descobriram (...). O que no impede que duas tendncias bem reais tenham se
manifestado, mesmo que a diferena concreta exista principalmente nos
desenvolvimentos futuros (Ibid., p. 325). Entretanto, parece claro que essas
diferenas de tendncia as quais se refere Malatesta tornam-se evidentes se tomadas ao
lado das formulaes de Pouget; como vimos, Pouget esforou-se sobretudo para
conferir uma consistncia e uma valorizao cada vez maior do ambiente econmico
atravs da luta sindical. esse o aspecto principal que Malatesta trata de se opor na
sua crtica ao sindicalismo.
298
Em 1922 escrevendo ter sempre sustentado que a questo social uma
questo essencialmente poltica e ter sempre defendido que a luta que os anarquistas
combatem precisamente uma luta poltica dizia que lhe pareceu sempre que essa
devia ser uma coisa, diria assim, axiomtica para os anarquistas que vm na
autoridade, ou seja, no domnio violento de uns sobre os outros, o inimigo primeiro a
abater (Ibid., 1975[170], p. 65). De acordo com essa premissa, afirmava que a
escravido econmica era fruto da escravido poltica, sendo preciso eliminar a
primeira para poder abater a segunda, mesmo que Marx tenha dito o oposto. Porque
o campons entrega seus gros ao patro?, pergunta Malatesta. A resposta lhe parece
bvia: por qu existe a polcia para obrig-lo. Disso implica que o sindicalismo no
pode ser um fim em si mesmo e que a luta deve ser tambm combatida sobre o terreno
poltico para destruir o Estado (Ibid., 1975[138], p. 328). A luta contra o governo
inevitvel. Por mais que os capitalistas procurem mant-la sobre o terreno econmico,
isso s possvel at quando os operrios exijam pequenas e geralmente ilusrias
melhorias; mas to logo vem diminudo seriamente o seu proveito e ameaada a
existncia mesma de seus privilgios, fazem apelo ao governo (Ibid., 1975[302], p.
155). Precisamente nesse momento que o desprezo pela poltica contm o perigo de
descuidar dessa luta contra o governo, desprezo que, segundo Malatesta, j produziu
seus maus efeitos, seja atenuando o esprito revolucionrio, seja dando origem aquele
sindicalismo que em teoria pretende esvaziar o Estado, mas que na prtica o deixa
tranqilo; com efeito, quando chegaram os fascistas, os trabalhadores deixaram-se
simplesmente agredir (Ibid., 1975[170], p. 66). Por isso, dizia que os sindicatos
sero utilssimos no perodo revolucionrio, mas somente com a condio de serem... o
menos sindicalistas possvel (Ibid., 1975[150], p. 19). Malatesta julgava intil
esperar, como seria danoso desejar, que a poltica fosse excluda dos sindicatos,
porque toda questo econmica de qualquer importncia torna-se automaticamente
uma questo poltica, e sobre o terreno poltico, na luta entre governos e
governados, que se resolver definitivamente a questo da emancipao dos
299
trabalhadores e da liberdade humana (Ibid.,1975[302], p. 155). Resta aos anarquistas
a tarefa de mostrar a insuficincia e a precariedade de todas as melhorias possveis de
serem obtidas em regime capitalista e impelir a luta sempre em direo maiores
solues radicais. Quanto aos sindicatos, os anarquistas deveriam, sobretudo,
restarem anarquistas, manterem-se sempre em relao com os outros anarquistas e
lembrarem-se que a organizao operria no o fim, mas simplesmente um dos
meios, por mais importante que seja, para preparar o advento da anarquia (Ibid.,
1975[305], p. 164).
verdade que a organizao operria seja o melhor meio, talvez o nico, de
reunir o maior nmero de operrios necessrios para uma ao resolutiva, mas no
altera o fato evidente de que essas organizaes sejam revolucionrias quando
fracas, mas na medida em que crescem em nmero e fora burocratizam-se e se
tornam conservadoras e egostas em matria poltica. O problema a ser colocado o
de tirar proveito das vantagens da organizao evitando seus inconvenientes e perigos.
E um rduo problema (Ibid., 1984[24], p. 340). Por ter notadp claramente essa
ambigidade da organizao operria que Malatesta se dizia adversrio do
sindicalismo e partidrio caloroso do movimento operrio (Ibid., 1975[326], p. 217).
O sindicalismo aparecia aceitando o jogo patronal de despolitizao do pauperismo;
um jogo que, segundo Tocqueville, na medida em que os operrios adquiriam os
hbitos da propriedade, modificavam suas idias e transformavam seus costumes;
mostravam-se mais preocupados com o futuro e mais previdentes; tornavam-se
pessoas que, muito embora ainda no sendo ricas, possuam, todavia, as qualidades
que engendravam a riqueza (TOCQUEVILLE, 2003, p. 48).
Na medida em que nossos operrios adquiram conhecimentos mais amplos e que a arte de
se associar para finalidades honestas e pacficas progrida entre ns; quando a poltica no
se misturar com as associaes industriais e quando o governo, tranqilizado em seu
objeto, no negar a elas sua benevolncia e seu apoio, ver-se- elas multiplicarem-se e
progredirem. Penso que em tempos democrticos como os nossos, a associao, em todos
seus aspectos, deve substituir pouco a pouco a ao preponderante de alguns indivduos
poderosos (Ibid., p. 54-55).
300
Malatesta, por sua vez, postulava uma nica idia comum e uma condio
nica para que a atuao anarquista nos sindicatos seja possvel e desejvel [nos
sindicatos]: querer combater os patres. dio ao patro o princpio da salvao.(...)
No fundo, esse o objetivo, essa a esperana pela qual nos interessamos pelo
movimento operrio (Ibid., 1975[205], p. 155-156).
301
captulo 6: fascismo
De acordo com Antonioli, a USI, Unione Sindacale Italiana, organizao
nacional do sindicalismo revolucionrio com forte presena anarquista, fundada em
1912 como alternativa CGL, Confederazione Generale del Lavoro dos socialistas,
contou inicialmente com aproximadamente 80.000 inscritos; nmero que subiu para
101.000 em dezembro de 1913; j no fim de 1918, os inscritos chegaram casa dos
180.000, para tornarem-se, apenas um ano depois, 305.000 (ANTONIOLI, 1997, p.
141 et seq.). Essa extenso vertiginosa da USI reflete o clima de intensa instabilidade
no ambiente industrial como tambm a indiscutvel proeminncia anarquista na
militncia sindical. Como notou Cerrito, a ao anarquista no sindicalismo
revolucionrio influiu visivelmente sobre os acontecimentos do movimento operrio
em geral e do prprio Partido Socialista, contribuindo entre outras coisas, para a
falncia da operao de captura conduzida pelo governo de Giolitti (CERRITO, 1977,
p. 95). Giovani Giolitti, primeiro ministro e lder liberal italiano, instituiu o Estado
liberal durante seu governo de 1911-1914, evitando que o Estado se apresentasse
como o agressor cego nos confrontos do movimento subversivo, na medida em que
tolerava certas liberdades que permitiam o funcionamento de um grupo, a criao de
uma federao, uma certa programao de conferncias de propaganda, a vida e a
difuso de peridicos e de outras publicaes de partido (Ibid., p. 52). Foi essa
302
fisionomia liberal que as agitaes dos sindicalistas revolucionrios da USI
modificaram radicalmente e promoveram sua crise at a deflagrao da Primeira
Guerra mundial, em 1914.
1. o fenmeno nacionalista
A Primeira Guerra colocou em campos inimigos a Trplice Entente formada
pelo Imprio Britnico, Imprio Russo e Frana (ganhando, mais tarde, a incluso dos
Estados Unidos), contra a Trplice Aliana composta pelo Imprio Alemo, Imprio
Austro-Hngaro e Imprio Turco-Otomano. A guerra no somente modificou
radicalmente o mapa geopoltico da Europa e do Oriente Mdio, tambm contribuiu,
ao quebrar o sistema poltico do czarismo russo, para o advento da Revoluo Russa
de 1917; e materializou um sentimento que at ento vagueava na vida prtica, dando-
lhe um carter de doutrina: o nacionalismo. Com a guerra, o nacionalismo representou
a renovao da conscincia burguesa sob a forma da afirmao da nao e da sua
individualidade frente aos vrios internacionalismos socialistas, anarquistas,
manicos etc., aspirando devolver autoridade ao Estado contra os diversos partidos,
parlamento e burocracias, e exigindo polticas coloniais e de imigrao que no se
traduzissem no empobrecimento da nao. Em 1909, o Tricolore, jornal nacionalista
de Turim, afirmava a necessidade de liberar o mundo operrio da tirania demaggica,
democrtica e socialista, para faz-lo aliado na grande empresa da nao imperialista
(cf. DE FELICE, 1998, p. 333). Foi essa disposio que a guerra alimentou e forneceu
uma nova configurao que se chamou fascismo.
Segundo De Ambris, na primavera de 1919 a situao poltica italiana era
nitidamente revolucionria. A guerra tinha deixado em todas as classes sociais graves
fermentos e no apenas os proletrios das fbricas e dos campos pareciam tomados de
um verdadeiro furor de rebelio, mas tambm no exrcito tornado recentemente do
303
fronte desenhavam-se fortes traos revolucionrios (...). Para a maioria, a trincheira
tinha sido escola de subverso [scuola di sovversivismo] (DE AMBRIS, 1998, p.
197). Nesse ambiente desenvolveu-se a manifestao de um tipo de nacionalismo
agressivo que apelava para as paixes violentas dos oprimidos (COLE, 1998, p. 667)
que constituiu a fora animadora, o elemento essencial que a guerra conferiu tanto
ao fascismo quanto ao nazismo: ambos compartilham o fato de que na Itlia e na
Alemanha, nesses dois pases a gnese do fascismo reside na desiluso de ex-
combatentes e no frenesi de ao difundido entre a juventude ausente na ocasio
oferecida pela guerra (HUGHES, 1998, p. 681).
Mas a guerra acendeu novas e poderosas paixes tambm entre anarquistas.
Masini mostrou como, aps ter provocado ambigidades entre o socialismo e o
sindicalismo revolucionrio, o conflito blico entre as diversas naes introduziu no
campo anarquista algumas incertezas quanto s conexes entre guerra e capitalismo: as
polmicas acerca do intervencionismo ou da neutralidade da Itlia no conflito Austro-
Servo, que corroam os diversos partidos e o movimento sindicalista, no pouparam
nem mesmo o anarquismo. Um dos principais expoentes do intervencionismo
anrquico foi Libero Tancredi (Massimo Rocca), mais tarde adepto do fascismo;
decididamente intervencionista, Tancredi foi o responsvel por revelar publicamente
as inclinaes intervencionistas de Mussolini, ento diretor do Avanti!, rgo do
Partido Socialista. Ao reprovar a dubiedade e a hesitao de Mussolini frente ao
conflito iminente, Tancredi escrevia em outubro de 1914, que toda sua campanha
estava fundada sobre uma reticncia mental: a certeza ou a esperana que o governo
faa a guerra (DE FELICE, 1995, p. 255). Com efeito, Mussolini, demitia-se, em
seguida da direo do Avanti!, aps tentar, sem sucesso, subtrair o Partido Socialista
da sua posio de neutralidade em relao ao conflito. O anarco-intervencionismo
italiano encontrava sua justificativa na simpatia pela Frana republicana e
revolucionria, na Inglaterra constitucional e livre, na Rssia minada de uma profunda
revoluo ntima e pela hostilidade em direo a Alemanha luterana, militarista,
304
feudal sem revoltas e a ustria catlica, ameaadora e sanguinria (MASINI, 2001,
p. 16). Os anarquistas intervencionistas eram constitudos, sobretudo, de anarco-
individualistas conhecidos pela forte carga de violncia e de agressividade que
habitualmente descarregavam sobre o adversrio de classe, sobre o socialismo
reformista; em certos casos contra correntes e tendncias do anarquismo consideradas
demasiadamente moderadas, como as representadas por Malatesta e Fabbri (Ibid., p.
17).
Em relao s polmicas acerca do intervencionismo dos anarquistas,
Malatesta manteve um silncio inquietante desde seu exlio londrino, devido a
complicaes de sade sua e da famlia Defendi com quem habitava (BERTI, 2003, p.
567). Mas quando foi lanada a suspeita de que seu silncio poderia indicar uma
posio favorvel ao intervencionismo, em novembro de 1914, envia uma carta para
Universit Popolare, publicado por Luigi Molinari, dizendo que poderia ter
permanecido em silncio, j que lhe parecia ser suficiente chamar-se anarquista para
afirmar implicitamente a prpria oposio guerra e a qualquer colaborao com os
governos e com a burguesia; afirmava que seu silncio era devido a condies
pessoais e no a qualquer hesitao em condenar absolutamente a guerra e toda
participao nela por parte desses que se dizem anarquistas (cf. NETTLAU, 1982, p.
81). No mesmo ms, escreve para o Freedom de Londres e para Volont de Ancona
sua posio em artigo intitulado Os anarquistas esqueceram seus princpios. Para
Malatesta era difcil acreditar que socialistas teriam aplaudido e participado
voluntariamente, seja ao lado dos alemes seja dos aliados, em uma guerra que tem
devastado a Europa. E o que dizer quando essa atitude adotada por anarquistas,
pouco numerosos verdade, mas entre os quais companheiros que amamos e
respeitamos profundamente? (MALATESTA, 1914a). No questo de pacifismo,
segundo Malatesta, os oprimidos esto sempre em posio de legtima defesa frente
aos opressores e possuem sempre o direito de atacar quem lhes oprime. o caso das
guerras de liberao, como so geralmente a guerra civil e as revolues. Mas, em
305
que a atual guerra diz respeito emancipao humana? Os socialistas, diz Malatesta,
precisamente como os burgueses, falam da Frana, da Alemanha e de outras
aglomeraes polticas e nacionais, que so o produto histrico de lutas seculares,
como se fossem unidades etnogrficas homogneas dotadas cada uma de interesses,
de aspiraes e de misso prpria e opostos aos interesses, aspiraes e misses de
outras unidades rivais. Esquecem que essa pretensa unidade s possvel quando os
trabalhadores no se do conta da sua condio de inferioridade e se tornam
instrumentos dceis de seus opressores. Nessa indiferenciao fabricada natural que
o governo se interesse particularmente em excitar as ambies e os dios de raa,
enviando tropas aos pases estrangeiros com o propsito de liberar populaes de
seus atuais opressores para submet-los prpria dominao poltica e econmica
(Id.). Todavia, a tarefa dos anarquistas precisamente a de despertar a conscincia
dos antagonismos entre dominadores e dominados, entre exploradores e explorados e
desenvolver a luta entre as classes em todos os pases e a solidariedade entre todos os
trabalhadores independentemente de quaisquer fronteiras e contra todos os prejuzos e
paixes raciais e nacionais. Nesse sentido, para os anarquistas o estrangeiro, o
inimigo de guerra o explorador, tenha ele nascido em terra natal ou num outro pas,
fale ele a mesma lngua ou outra desconhecida. Escolhemos constantemente os
nossos amigos, os nossos companheiros de luta, assim como os nossos inimigos, em
funo das idias que professam e da posio que assumem na luta social, jamais em
funo de sua raa ou de sua nacionalidade (Id.).
Portanto, preciso colocar anteriormente a qualquer guerra entre Estados,
essa guerra elementar e cotidianamente travada, guerra que no admite cooperao
nem transigncias nem armistcios, porque encontra seu fundamento nas inmeras
diferenciaes sociais que colocam em campos inimigos operrios e patres, governo e
governados. Contra essa guerra, os pretextos de solidariedade patritica so
impotentes.
306
Se, na ocasio em que soldados estrangeiros invadissem o solo sagrado da ptria, as
classes privilegiadas renunciassem aos seus privilgios e agissem de maneira que a ptria
se tornasse realmente propriedade comum a todos os habitantes, seria ento justo que todos
levantassem suas armas contra o invasor. Mas, se os reis querem conservar sua coroa, se os
proprietrios querem manter as suas terras e as suas casas, os comerciantes querem manter
o seu negcio e buscam at mesmo vender a preos mais altos, ento os trabalhadores, os
socialistas, os anarquistas devem abandon-los sua sorte, esperando a ocasio propcia
para desembaraar-se de seus opressores internos ao mesmo tempo daqueles externos (Id).
Os socialistas tambm disseram que a vitria dos aliados sobre o imprio
Germnico e Austro-Hngaro representaria o fim do militarismo, o triunfo da
civilizao e da justia na relaes internacionais. Para Malatesta, o co raivoso de
Berlim e o velho carrasco de Viena no so piores que o Czar sanguinrio da Rssia,
nem que a diplomacia inglesa que oprime os indianos, ludibria a Prsia, massacra a
repblica dos Boers; no so piores que a burguesia francesa assassina de ndios no
Marrocos; ou a burguesia belga que autoriza e lucra amplamente com as atrocidades
cometidas no Congo e no cito apenas alguns de seus delitos sem mencionar aqueles
que os governos e as classes capitalistas cometem contra os trabalhadores e
revolucionrios de seus pases (Id.). Ao despotismo militarista alemo e austraco que
tanto repugnava socialistas e anarquistas, Malatesta recordou a insidiosa e genocida
poltica colonialista dos Aliados e seus extermnios raciais de populaes tnicas
inteiras. E tinha razo de faz-lo. Kaminski mostrou como o fenmeno
concentracionrio tinha sido largamente praticado pelas sociedades liberais do sculo
XIX precisamente como parte de suas polticas colonialistas. Os primeiros campos de
concentrao foram instaurados, em razo de guerras coloniais, pelo general espanhol
de origem prussiana Valeriano Weyler y Nicolau, na ilha de Cuba em 1896, com o
objetivo de conter as revoltas contra a dominao espanhola; em seguida, os
americanos instauram campos de concentrao em 1898 para conter insurreies nas
Filipinas; em 1900, os ingleses instauraram campos na Repblica Sul Africana contra
a guerrilha do povo Ber (KAMINSKI, 1998, p. 38-39). O campo de concentrao foi
uma conseqncia lgica da biopoltica liberal de gesto das populaes colonizadas;
John Stuart Mill defendia a aplicao do bom despotismo para naes
307
subdesenvolvidas (unimprovement nations) como frica e China; Alxis de
Tocqueville via como necessria a colonizao da Arglia; mas foi Jeremy Bentham
quem aperfeioou a prtica concentracionria na colonizao interna de pobres e
vagabundos com seu The Poor Law Report of 1834 para as workhouses inglesas
(DEAN, 1999, p. 133-134). Desse modo, era essa poltica colonial que anarquistas e
socialistas subscreviam na prtica ao apoiarem a causa dos Aliados contra a Trplice
Aliana; se a vitria da Alemanha corresponde sem dvida nenhuma ao triunfo do
militarismo e da reao, o triunfo dos Aliados corresponderia dominao russo-
inglesa (quer dizer, capitalismo com aoite) na Europa e na sia, ao advento do
alistamento obrigatrio e ao desenvolvimento do esprito militarista na Inglaterra e
reao clerical e talvez monrquica na Frana (MALATESTA, 1914a).
Malatesta termina seu artigo exprimindo sua expectativa na derrota da
Alemanha, por entender que tal derrota abriria maiores possibilidades revolucionrias
naquele pas. Mussolini, agora diretor de Il Popolo dItalia, jornal cujo primeiro
nmero aparece em 15 de novembro de 1914 subvencionado por intervencionistas
franceses interessados na adeso italiana aos Aliados (DE FELICE, 1995, p. 277),
afirmou que a expectativa malatestiana na derrota alem contradizia inteiramente o
artigo e destrua sua argumentao. De Londres, Malatesta escreve a Mussolini um
esclarecimento para ser publicado no seu jornal que, entretanto, no ocorre;
publicado no jornal Volont que Luigi Fabbri passou a dirigir aps o exlio de
Malatesta em Londres. Malatesta afirma que todo acontecimento pode atuar contra ou
a favor dos objetivos a que se prope: portanto, em toda circunstncia existe uma
escolha, uma expectativa a ser feita, sem, por isso, ser levado a deixar a prpria via e a
colocar-se em favor de tudo aquilo que se avalia indiretamente til. Pode-se esperar
que chegue ao poder um ministrio de imbecis e de reacionrios cegos ao invs de um
ministrio de homens inteligentes que saberiam melhor iludir e enganar os
trabalhadores. Mas em que seria til a fraqueza e cegueira de um ministrio se para
faz-lo chegar e mant-lo no poder, tornssemos ns mesmos sustentadores do
308
governo? (MALATESTA, 1914b). Ao mesmo tempo, Volont publica igualmente a
carta que Malatesta escreve ao jornal Freedom de Londres, que discute um artigo de
Kropotkin sobre anti-militarismo publicado em novembro de 1914. Segundo Nettlau,
essa carta de Malatesta memorvel porque o apresenta pela primeira vez em
oposio a Kropotkin, com palavras corteses, mas resolutas (NETTLAU, 1982, p.
83). Rocker menciona como Kropotkin, em junho de 1914, temia e considerava
iminente a deflagrao de uma guerra, convencido de que a Alemanha j havia tomado
todas as medidas para o conflito. Em uma conversa que travou com ele em sua casa,
Kropotkin afirmou estar firmemente persuadido de que, caso no se produza uma
transformao inesperada, a guerra se produzir absolutamente. (...) Alemanha se
afastou cada vez mais da Europa ocidental com sua poltica exterior. Desde a queda de
Bismarck a situao se tornou mais aguda a cada ano (...). Toda sua poltica se baseou
at aqui nos meios de intimidao. Em seguida, perguntado se acreditava se a
Alemanha era a nica responsvel pela situao atual, respondeu negativamente,
porm os atuais governos da Alemanha so mais responsveis que todos os outros,
pois deram um impulso para a militarizao da Europa e resistiram decididamente
todas as propostas de desarmamento (cf. ROCKER, 1949, p. 365). Segundo Rocker, a
maioria dos anarquistas radicados em Londres consideravam a opinio de Kropotkin
sobre a guerra fruto de um prejuzo russo herdado contra os alemes. J Rocker
acreditava que a causa principal dessa sua atitude deveria ser procurada na sua
concepo singular da histria moderna (Ibid., p. 379). Nas suas anlises da guerra
franco-prussiana de 1870-1871, Kropotkin viu surgir no continente europeu um novo
tipo de reao representado pelo militarismo moderno de uma burocracia estatal
onipresente inaugurada pelo que Bakunin chamou bismarckismo. Dessa maneira,
Kropotkin
309
via nos movimentos sociais do presente, que favoreciam a reorganizao da vida
econmica e social, a continuao natural das aspiraes revolucionrias de 1789 e tinha
firme convico de que uma vitria da Alemanha atrasaria por dcadas ou at mesmo por
sculos o grande processo histrico que havia comeado com a revoluo francesa na
Europa. Quando a guerra, que ele tinha previsto h muito tempo, no foi impedida pelos
povos, colocou-se sem maiores consideraes do lado dos Aliados para salvar o que fosse
possvel salvar das conquistas revolucionrias (ROCKER, 1949, p. 381).
No seu artigo no Freedom, Kropotkin afirmava que um anti-militarista no
deveria jamais participar das agitaes anti-militares sem antes fazer no seu ntimo o
voto solene de que se a guerra comeasse, ele daria o apoio da sua ao ao pas
invadido, qualquer que tenha sido (cf. NETTLAU, 1982, p. 83). Contra isso, Malatesta
respondeu que Kropotkin parece ter esquecido todos antagonismos sociais quando diz
que um anti-militarista deve sempre estar pronto, em caso de deflagrao de guerra,
para tomar armas e defender o pas que ser invadido (MALATESTA, 1914c); ao
contrrio, defendia o anti-militarismo como princpio segundo o qual afirma que o
servio militar uma ao abominvel e homicida e que um homem no deve
consentir de tomar armas sob as ordens dos patres, nem muito menos combater,
exceto pela revoluo social (Id.). Para Malatesta, o anti-militarismo de Kropotkin
no era mais que a obedincia aos comandos do governo. O que resta do anti-
militarismo e, com mais razo, da anarquia? Assim, compreendendo os fatos,
Kropotkin renuncia ao anti-militarismo porque acredita que a questo nacional deve
ser resolvida antes da questo social (Id.). Malatesta foi bastante enrgico na sua
resposta Kropotkin; dizia ser muito doloroso opor-se a um velho amado
companheiro como Kropotkin. Em todo caso, com mais razo, pela estima e amor
que temos por Kropotkin, necessrio fazer conhecer que no o seguimos nas suas
divagaes sobre a guerra (Id.). Malatesta dizia que a atitude de Kropotkin frente a
guerra no era um fato novo, porque h mais de dez anos ele predicava o perigo
alemo; e admito que erramos ao no dar importncia ao fenmeno do seu patriotismo
franco-russo, no prevendo onde os seus prejuzos anti-alemes o conduziriam (Id.).
310
Em Londres, o clima das discusses ganha cada vez mais tenso e
intensidade. Rocker menciona uma apaixonada discusso, por ocasio de reunio na
sede do grupo Freedom, da qual participaram anarquistas de vrias nacionalidades,
entre eles Malatesta, Tcherkesof, Keel, Schapiro e outros. Tcherkesof, que
compartilhava o ponto de vista de Kropotkin, insistiu sobre o perigo que significava a
vitria da Alemanha para o desenvolvimento do anarquismo na Europa e tambm para
o movimento operrio, dizia que um tal resultado teria conseqncias catastrficas que
anulariam todas as conquistas dos ltimos cem anos. Por isso, conclua, que todos
deveriam colocar-se resolutamente ao lado dos Aliados, caso no se quisesse
abandonar o dever de revolucionrios e apoiar o militarismo prussiano.
Malatesta, que j tinha interrompido violentamente algumas vezes Tcherkesof, continha-se.
Nunca o vi to excitado como naquela noite. Manifestou-se com grande rispidez contra
Tcherkesof, de quem era amigo a dcadas, e qualificou suas opinies como a negao de
todos os princpios libertrios. Segundo sua viso, tratava-se nessa guerra, como em todas
as outras, simplesmente dos interesses das classes dominantes, no dos interesses da
populao (ROCKER, 1949, p. 382).
Depois de uma violenta rplica de Tcherkesof, os demais participantes
expuseram seus pontos de vista que coincidiam, em linhas gerais, com os de
Malatesta; em todo caso, segundo Rocker, o consenso foi impossvel: nos separamos
bem tarde e com muita tenso, fortemente visvel especialmente em Malatesta e
Tcherkesof (Id.).
Em maro de 1915 um grupo de anarquistas publicou o Manifesto
Internacional Anrquico contra a Guerra; entre os subscritores, alm de Malatesta,
figuravam Leonard D. Abbott, Alexander Berkman, L. Bertoni, L. Bersani, G.
Bernard, G. Barrett, A. Bernardo, E. Boudot, A. Calzitta, Joseph J. Cohen, Henry
Combes, Nestor Ciele van Diepen, F. W. Dunn, Ch. Frigerio, Emma Goldman, V.
Garcia, Hippolyte Havel, T. H. Keell, Harry Kelly, J. Lemaire, H. Marquez, F. Domela
Nieuwenhuis, Noel Paravich, E. Recchioni, G. Rijnders, I. Rochtchine, A. Savioli, A.
Schapiro, William Shatoff, V. J. C. Schermerhorn, C. Trombetti, P. Vallina, G.
Vignati, Liliam G. Woolf e S. Yanowsky. O manifesto inicia-se afirmando que a
311
guerra certamente um espetculo terrvel, angustiante e odioso, mas que, no entanto,
no era inesperado, pelo menos para os anarquistas que jamais tiveram e no tm ainda
nenhuma dvida que a guerra permanentemente apresentada pelo presente sistema
social. A guerra, diz o manifesto, seja ela ampla ou limitada, esteja revestida de
dimenses europias ou coloniais, a conseqncia natural, o resultado inevitvel e
fatal de uma sociedade fundada sobre a explorao dos trabalhadores, que repousa
sobre a selvagem luta de classes e constringe o trabalho a se submeter dominao de
uma minoria de parasitas que detm o poder poltico e econmico (MALATESTA; et
al., 1915). Alm disso, seria estulto e infantil, vendo que as naes multiplicaram as
causas e as ocasies dos conflitos, querer fixar a responsabilidade nesse ou naquele
governo. No presente conflito, nenhuma distino possvel pode ser estabelecida
entre guerra ofensiva e guerra defensiva. Certamente, nesse momento os governos de
cada nao disputam entre si os adjetivos de humanitrio e civilizador, procurando o
verniz de defensores dos direitos e da liberdade dos povos para suas aes.
Civilidade? Quem nesse exato momento a representa? Talvez o Estado alemo com seu
formidvel militarismo, to potente que sufocou qualquer disposio para a revolta? Ou o
governo russo para quem o cnute [instrumento de suplcio feito de tiras de couro com bolas
de metal nas extremidades], a forca e a Sibria so os nicos meios de persuaso? Quem
sabe o governo francs com seu Biribi [colnia penal na frica do Norte destinada para
receber militares refratrios ou indisciplinados], as suas conquistas sanguinrias no Golfo
de Tonkin [Vietn], em Madagascar e no Marrocos e com seu alistamento obrigatrio de
tropas mercenrias? A Frana que detm nas prises, h anos, inmeros companheiros
culpados unicamente de terem escrito ou discursado contra a guerra? Ou seria o Estado
ingls que explora, divide e oprime as populaes de seu Imprio Colonial? No: nenhum
dos beligerantes est em condies de reclamar em nome da civilidade ou de declarar a si
mesmo em estado de legtima defesa (Id.).
No h, portanto, outra razo para a causa da guerra que a existncia do
Estado, forma poltica do privilgio. Porque o Estado sustentado pela fora
militar; atravs dessa fora militar que ele se desenvolveu e sobre a fora militar
que ele logicamente se assenta para manter a sua onipotncia. Qualquer que seja a
forma que possa assumir, o Estado a opresso organizada em benefcio das minorias
privilegiadas (Id.). E o manifesto diz que a presente guerra ilustra bem esse ltimo
312
aspecto, na medida em que nela encontram-se engajados todas as formas de Estados
existentes na Europa: o absolutismo russo, o absolutismo germnico adocicado por
instituies parlamentares, o regime constitucional ingls, o regime republicano
francs. Diante disso, a tarefa dos anarquistas na presente tragdia, qualquer que
possa ser o lugar ou a situao que se encontrem, aquela de continuar a proclamar
que existe uma s guerra de liberao: aquela que em cada pas sustentada pelos
oprimidos contra os opressores, pelos exploradores contra os explorados. Nossa tarefa
de incitar os escravos a se revoltarem contra seus patres (Id.).
Um ms depois, em abril de 1915, Malatesta redige um longo artigo
intitulado Enquanto dura o massacre no jornal Volont, no qual procura responder
algumas acusaes. Os revolucionrios intervencionistas tinham qualificado a atitude
anarquista contra a guerra de fossilizada, dogmtica e dominicana. Diziam que a
atitude hostil aos governos francs e ingls, tanto quanto aos governos alemo e
austraco, mostrava que os anarquistas no intervencionistas fazem tbula rasa de
todos os governos, no notando que, se verdade que todos os governos so ruins, o
so em graus diferentes. Na sua resposta, Malatesta concorda perfeitamente com a
existncia de diferenas de governo a governo e diz que no preciso fazer esforos
para persuadir-nos de que melhor ser preso do que ser assassinado, e que permanecer
preso um ano melhor que restar dez. Porm, fundamentalmente, ele diz que a razo
da diferena, mais do que na forma de governo, esto nas condies gerais,
econmicas e morais, da sociedade, no estado da opinio pblica, na resistncia que os
governados sabem opor ao alastramento e ao arbtrio da autoridade. Assim, as formas
de governo que no so outra coisa que o resultado de lutas travadas pelas geraes
passadas, tm certamente importncia quando constituem um obstculo contra os
abusos da autoridade. Portanto, sabendo que todos os governos devem, pela sua lei
vital, oporem-se liberdade, a tarefa dos anarquistas a de buscar abater o governo
e no de melhor-lo. Na prtica, diz Malatesta, o pior governo sempre aquele sob o
qual nos encontramos, aquele contra o qual mais diretamente combatemos
313
(MALATESTA, 1915). Para Malatesta, essa era a nica condio possvel de
permanecer revolucionrio, do contrrio, seria preciso estar sempre contente de tudo,
j que encontra-se sempre um lugar em que se est pior, ou uma poca na qual estava-
se pior do que hoje. De resto, esse o tpico estado de nimo dos conservadores que
renunciam ao melhor por medo do pior e no querem caminhar em direo ao futuro
por temerem um retorno ao passado (Id.). No se deve ignorar as graduaes e as
relatividades nas coisas humanas, ao contrrio, preciso sempre estar pronto para
concorrer para tudo que pode constituir um progresso efetivo em direo ao
anarquismo; mas no preciso, para isso, fechar os olhos para a evidncia e se tornar
sqito de quem inimigo nato da liberdade e da justia (Id.). Malatesta tambm
recusa dar a guerra apenas uma explicao de nacionalidade que lhe parece no
somente insuficiente, mas que serve tambm para distrair a ateno dos povos para as
verdadeiras lutas pela sua emancipao. Diz que grita-se com razo contra a infame
ustria que obriga sua populao assujeitada a combater em defesa dos opressores.
Mas porque se faz silncio quando a Frana constringe os Argelinos a morrerem por ela,
assim como outros povos que ela tem sob seu jugo? Ou quando a Inglaterra conduz ao
matadouro os indianos? Quem pensaria, portanto, em liberar as nacionalidades
independentes? Talvez a Inglaterra que desde o incio aproveita da ocasio para capturar
Chipre, Egito e tudo aquilo que pode? Talvez a Servia que quer unir tudo que tem qualquer
relao com a nacionalidade serva, mas tem estreita a Macednia mesmo com o risco de
ser atacada pelas costas? Talvez a Rssia que, onde coloca os ps, na Galcia e na
Bucovina, suprime at mesmo aquele pouco de autonomia que a ustria concedia,
prescreve a lngua do pas, massacra os judeus e persegue os cismticos Unichi? Talvez a
Frana que nos mesmos dias em que celebrava a vitria do Marne contra os invasores
alemes, massacrava os rebeldes marroquinos e incendiava seus vilarejos? (Id.).
Para Malatesta, nas questes internacionais, como nas questes de poltica
nacional, o nico limite que possvel impor prepotncia dos governos a
resistncia que sabe opor o povo.
Quando finalmente, em fins de fevereiro de 1916, comearam a correr os
primeiros rumores de paz, um grupo de anarquistas, entre eles Kropotkin, Jean Grave,
Charles Malato, Paul Reclus e Varlan Tcherkesof, publicaram no jornal Battaille
Syndicaliste um artigo que ficou conhecido como O manifesto dos dezesseis, muito
314
embora, segundo Nettlau, o nmero de subscritores tenha sido quinze, o 16 teria sido
fruto de uma confuso com o nome de uma localidade Argelina (NETTLAU, 1982, p.
88). O manifesto pedia a continuao da guerra at a derrota total da Alemanha e dizia
que falar de paz nesse momento significava fazer o jogo do partido governamental
alemo, de Bulow e seus agentes. No que nos diz respeito, recusamos absolutamente
fazer-nos partcipes das iluses dos companheiros sobre as intenes pacficas
daqueles que dirigem a corte da Alemanha. Preferimos encarar o perigo de frente e
procurar fazer o necessrio para afront-lo. Ignorar esse perigo significa refor-lo
(KROPOTKIN; et al., 1999, p. 69). Malatesta respondeu com um artigo no Freedom
intitulado Anarquistas pr-governo, em que afirmava a necessidade de se separar
publicamente desses companheiros que acreditam possvel conciliar as idias
anarquistas com a colaborao com os governos e com a burguesia de certos pases nas
suas rivalidades contra a burguesia e o governos de outros pases (MALATESTA,
1982[13], p. 67). Durante a crise provocada pela guerra, viu-se os republicanos
colocarem-se sob o servio de Sua Majestade, os socialistas fazerem causa comum
com a burguesia, trabalhadores fazerem os interesses dos patres; mas no fundo,
todas essas pessoas so, em graus diversos, conservadores, crentes na misso do
Estado e compreensvel que tenham hesitado e desviado de suas finalidades at cair
nos braos dos inimigos (...). Mas no se compreende quando se trata de anarquistas
(Id.). E no compreensvel porque contra uma guerra, quando no se resiste com a
revoluo, no h outro meio de resistir a um exrcito forte e disciplinado a no ser
opondo-lhe um outro exrcito ainda mais forte e mais disciplinado; de modo que os
mais ferozes anti-militaristas, se no so anarquistas ou se no crem na dissoluo do
Estado, esto fatalmente destinados a se tornarem militaristas ardentes (Ibid., p. 68).
Assim,
315
na esperana de abater o militarismo prussiano, renunciou-se ao esprito e a qualquer
tradio libertria, prussianizou-se a Inglaterra e a Frana, submeteu-se ao czarismo,
renovou-se o prestgio da vacilante monarquia italiana. Podem os anarquistas, mesmo por
um s instante, aceitar esse estado de coisas sem renunciarem a dizerem-se anarquistas?
Para mim, melhor a dominao estrangeira que se agenta pela fora e contra a qual se
revolta, que a dominao nativa que se aceita docilmente, quase reconhecida, acreditando
desse modo estar garantido contra um mal maior (Id.).
O debate internacional anarquista sobre guerra no qual Malatesta
desempenhou um papel fundamental ao lado de Kropotkin, bastante significativo por
evidenciar a qual intensidade a guerra levou o fenmeno do nacionalismo, no
deixando escapar nem mesmo o anarquismo. Foi a intensificao desse fenmeno que
produziu a tendncia, nova e breve, do anarco-intervencionismo que, terminada a
guerra, foi destinada, seno todos ao menos a maioria como sublinhou MASINI (2001,
p. 17), a engrossar as fileiras dos fasci di combatimento. De outro lado, existe um
aspecto importante que ressalta desse debate internacional sobre a guerra, que BERTI
(2003, p. 557) chamou o problema do mal menor e apresentou nos seguintes
termos. Malatesta reconhecia e valorizava as diferenas existentes entre as potncias
envolvidas na guerra, mas, segundo Berti, no podia fazer outra coisa para no
comprometer sua identidade e seu patrimnio ideolgico. Na prtica os anarquistas,
adotando a posio de Malatesta, estavam impedidos de agirem de modo que
surgissem da sua ao determinados fatos, ou no mximo agiriam na condio de no
colocar em risco [repentaglio] as suas idias. Quer dizer: as objetivas situaes
histrico-polticas deveriam estar abaixo das subjetivas intenes tico-ideolgicas
(Ibid., p. 569). O mal menor, diz Berti, no existe na posio de Malatesta, ele um
falso problema. A intencionalidade anrquica no contemplava a considerao
poltica do menos pior, estando convencida, entre outras coisas, que se podia obter
unicamente exigindo o mximo (Id.). Assim, a ao anarquista para Malatesta deveria
permanecer integralmente revolucionria porque irremediavelmente tica e nessa
posio, Berti afirma a existncia de um absoluto moral que supera a relatividade
poltica.
316
Talvez a separao entre histria objetiva e inteno subjetiva seja
insuficiente para notar o posicionamento de Malatesta, por duas razes; de um lado, tal
separao arrisca conferir autonomia excessiva s objetivaes histricas, em outras
palavras, como notou Paul Veyne, arrisca produzir uma iluso mediante a qual as
objetivaes so reificadas como objetos naturais independentes dos sujeitos
histricos (VEYNE,1998, p. 257); de outro lado, arrisca tomar os contra-discursos
como realidades trans-histricas. Seria preciso, ao contrrio, evitar o que Veyne
chamou de filosofia do objeto e considerar na anlise as prticas que lhes so
correspondentes. Se verdade que no fundo so as prticas que objetivam, que so
elas que conferem significao s coisas e lhes do um status de objetividade, ento ao
invs de preferir formas de governo entre si, seria preciso comparar e, portanto,
agregar (...) atrativos e desvantagens heterogneas e medidas por uma escala
subjetiva de valores; no preciso falsear a apreciao do possvel, sustentando que
as coisas so o que so, pois, justamente, no h coisas: s existem prticas (Ibid.,
p. 264). Dessa forma, s prticas que se apresentam como objetivaes histricas,
como objeto natural, preciso opor uma outra objetivao, um outro conjunto de
prticas que nega o objeto. Negar a objetividade da guerra no incidir em
idealismo, porque aquilo que se chamou de paz no repousa em um fundo branco
sobre o qual a guerra viria, de tempos em tempos, imprimir suas marcas: a paz fala a
partir de virtualidades que as objetivaes buscam suspender, virtualidades de prticas
coloniais, da guerra social indefinidamente travada entre os sujeitos de uma mesma
sociedade, das dessimetrias sociais etc. A histria torna-se histria daquilo que os
homens chamaram as verdades e de suas lutas em torno dessas verdades (Ibid., p.
268).
Em Malatesta a histria acontece como negao dos objetos naturais para
tornar possvel o estabelecimento de outras prticas que no so a irrupo de um
absoluto moral, mas que re-fazem outras relaes entre as coisas. Quando, no
comeo dos anos 1920, o bolchevique Sandomirsky sustentava que quando se
317
colocado na posio de ter que escolher entre uma doutrina e a revoluo, preciso
esquecer a doutrina, Malatesta respondeu que se tratava ainda do velho engano da
realidade histrica com o qual se desejou fazer-nos apoiar a guerra! Nossa tarefa ,
ao contrrio, de combater todas as realidades que nos parecem ruins, chamem-se elas
revolucionrias ou sejam o produto de um cataclismo social (MALATESTA,
1975[161], p. 51-52). A prtica anrquica, precisamente porque no consiste no
ensinamento de uma teoria abstrata, precisamente porque consiste menos na ordem de
uma convico, de uma crena, de uma ideologia, e mais em prticas e em atitudes
concretas, em um estilo de vida determinado que engaja toda a existncia do
indivduo, a histria toma a forma de um gesto irredutvel, a forma de um fato
estranho, mas comum nas nossas sociedades, que coloca a insurreio ao mesmo
tempo dentro e fora da histria; porque sempre preciso um dilaceramento que
interrompa o fio da histria e suas longas cadeias de razes (FOUCAULT, 2004a, p.
77). Entre dois males equivalentes, dizia Malatesta, eu no escolheria nenhum; se me
encontrasse na posio de ter que escolher entre a forca ou a guilhotina, eu
escolheria... a vida e a liberdade; e se no pudesse fazer de outro modo, me deixaria
arrastar pelo suplcio, mas no daria nunca o meu consentimento (MALATESTA,
1975[161], p. 51). A esse propsito, Foucault notou que um homem acorrentado e
espancado encontra-se submetido fora exercida sobre ele, no ao poder. Agora, no
momento em que esse homem levado a falar quando seu ltimo recurso poderia ter
sido o de segurar sua lngua, preferindo a morte, (...) sua liberdade foi sujeitada ao
poder (FOUCAULT, 2001c, p. 979).
Como apontou BERTI (2003, p. 770), em Malatesta desenha-se nitidamente
uma contra-histria (con la storia, ma contro la storia). Uma histria-insurreio que,
no entanto, no se apresenta pela separao entre anarquismo, como movimento
histrico, e anarquia, como expresso tica. Sugeri (AVELINO, 2004, p. 98) a
necessidade de considerar a tica anarquista como pensamento que se exerce no
comportamento, evitando que seja tomada como prescrio do cdigo. O paradoxo
318
dessa simultaneidade que coloca o anarquista ao mesmo temo na e contra a histria
no operado por diviso e corte, ao contrrio, implica uma atitude limite, um estado
intermedirio em que o anarquista no vive a anarquia, nem to pouco vive a no
anarquia e se move interminavelmente entre o limiar de uma vida no anrquica e de
uma vida anrquica, entre o domnio do cotidiano e o domnio do pensamento e da
lucidez: na medida mesma em que se do prticas anarquistas que a vida anrquica
uma brecha, um espao liso diria Deleuze, na vida cotidiana. O problema, para ns
anarquistas que consideramos a anarquia no como um belo sonho para divagar sob a
luz da lua, mas como um modo de vida individual e social (...), o problema, dizamos,
o de regular a nossa ao de maneira a obter o mximo de efeito til nas vrias
circunstncias que a histria cria em torno de ns (MALATESTA, 1975[245], p. 34).
Para Malatesta, porque a histria movida por fatores potentes, preciso agir toda
vez que a ocasio se apresente e tirar de cada agitao espontnea o mximo de
resultados possveis (Ibid., 1975[20], p. 63); aos anarquistas, no cabe o papel de
permanecer espectadores indiferentes e passivos da tragdia histrica, mas de
concorrer para determinar os acontecimentos que nos parecem mais favorveis
nossa causa (Ibid., 1982[1], p. 56). Se os anarquistas no so mais que uma das
foras agentes na sociedade, e a histria caminhar, como sempre, segundo a
resultante dessas foras (Ibid., 1975[81], p. 208), e se o ideal no o nico fator da
histria, ao contrrio, mais que o ideal que estimula, existem as condies materiais,
os hbitos, os contrastes de interesse e de vontade, em suma, as mil necessidades nas
quais foroso submeter-se no convvio de todos os dias, ento na prtica, se far o
que se pode: mas fica sempre firme a tarefa dos anarquistas de impelir na direo do
seu ideal e impedir, ou esforar-se por impedir, que as inevitveis imperfeies e as
possveis injustias sejam consagradas pela lei e perpetuadas por meio da fora do
Estado (Ibid., 1975[90], p. 229), desse modo necessrio fazer tudo que se pode
para que a histria se oriente rumo aos prprios desejos. Porque os
acontecimentos seguem a resultante das foras em ao, preciso que cada um
319
empregue na luta tanta fora quanto pode e aplic-la no modo mais vantajoso (Ibid.,
1975[243], p. 32). E essa problemtica vai reaparecer com o problema do fascismo.
2. o fenmeno fascista
Fenmeno complexo, o fascismo pode ser compreendido em dois momentos:
fascismo como movimento social e fascismo como regime poltico. Como movimento
social, o fascismo resultou, sobretudo, da forte cultura subversiva que atravessou os
mais diversos ambientes da Itlia no ps-guerra, produzida por dcadas de agitaes
revolucionrias de anarquistas, socialistas e sindicalistas. O evento conhecido como
Settimana Rossa foi o ltimo grande acontecimento que sacudiu a Itlia antes da
guerra e nele a atividade de Malatesta e a intensa propaganda que realizada por seu
jornal Volont publicado em Ancona, durante o perodo que vai de agosto de 1913 a
junho de 1914, foram decisivos. De acordo com SANTARELLI (1973, p. 152), em
1914, os anarco-sindicalistas da USI, juntamente com as demais foras revolucionrias
da Itlia, resolveram propor uma jornada nacional contra o militarismo que ganhava
cada vez maiores propores em razo da guerra com Lbia. A data escolhida foi o
primeiro domingo de junho, dia das comemoraes do Statuto Albertino e ocasio em
que se davam paradas militares organizadas pelo Estado. A inteno, ao se convocar
nacionalmente comcios e passeatas para o dia do Statuto, lembra Malatesta, era de
obrigar o governo a manter as tropas nos bairros ou mant-las ocupadas em servios
de segurana pblica, impedindo assim a realizao das demonstraes militares.
320
A idia, abraada pelo peridico Volont que publicvamos em Ancona, foi sustentada e
propagada com fervor e, quando chegou o primeiro domingo de junho, atuada em muitas
cidades. As paradas no foram feitas: a manifestao teve xito e ns no teramos
impulsionado a coisa mais alm (...). Mas a estupidez e a brutalidade da polcia deram
outra disposio. (...) Em um conflito, a polcia abre fogo matando trs jovens.
Imediatamente os bondes cessam de circular, todo comrcio fechou e a greve geral foi
executada sem a necessidade de deliber-la e proclam-la. Ao amanhecer, e nos dias
seguintes, Ancona encontrava-se em estado de insurreio potencial (MALATESTA,
1975[184], p. 101-102).
O acontecimento no teve maiores xitos, sobretudo, em virtude da recusa de
socialistas e republicanos em radicalizar o movimento, mas serviu para evidenciar a
marca indelvel de um revolucionarismo latente que atravessava inteiramente a Itlia.
Malatesta reencontrou esse sovversivismo de maneira ainda mais intensa no ps-
guerra, ao retornar de seu ltimo exlio londrino para dirigir, em Milo, o jornal
Umanit Nova fundado em 1920. Paolo Finzi descreve como seu retorno foi
clamorosamente realizado sob um indescritvel delrio de aplausos e de entusiasmos
prestados em todas as manifestaes populares organizadas para sad-lo. Um cronista
dizia que, terminado um comcio no dia 27 de dezembro de 1919, com muito esforo,
e no sem perigos, os membros do Comit conseguiram colocar Malatesta em um
automvel, subtraindo-o ao entusiasmo do povo (FINZI, 1990, p. 65). No dia 28,
aps desembarcar na estao ferroviria de Turim, um outro cronista descreveu como
todo o trio da estao de Porta Nuova estava pleno de multides. Sobre milhares de
cabeas agitavam-se as bandeiras vermelhas e negras do proletariado revolucionrio
turins. Em torno dele, esperavam grupos de jovens entoando estrofes de hinos
subversivos, que ecoavam at no interior da estao (Ibid., p. 69). Ao chegar,
Malatesta literalmente tomado pela multido em direo sada e com muita
dificuldade conseguiu entrar em um automvel (Id.). De acordo com Finzi, foi uma
poca na qual Malatesta, aos 67 anos, tornou-se uma figura quase mstica: ele era o
homem da Primeira Internacional, o eterno exilado e por toda parte perseguido, o heri
da Settimana Rossa (Ibid., p. 76). Mas essas manifestaes tambm traduziam, em
certa medida, a disposio de vastos setores do movimento operrio para a atividade
321
subversiva. Em Modena, o operrios abandonaram as fbricas ao correr a notcia da
chegada de Malatesta: trinta e cinco mil pessoas o ouviram discursar na praa central
da cidade; em mola cerca de duas mil pessoas se espremeram para ouvi-lo no teatro
municipal; em Rimini mil pessoas correram para recebe-lo. Quando chega em Cesena,
o cronista do jornal Sorgiamo! escreve que Malatesta era saudado freneticamente
pelos companheiros, pelos amigos e pelos... adversrios: pelos companheiros que
estaro com ele no dia da luta, pelos amigos que o estimam e se deixam impulsionar
por ele, pelos adversrios que o temem e que buscam maldizer, nessa obra cinza para
as conscincias inquietas, a sua e a nossa benevolncia (Ibid., p. 78).
Nettlau, escrevendo sobre esse glorioso retorno de Malatesta Itlia, dizia
que a multido acreditava ver em Malatesta
um chefe, um salvador, um libertador e estou mesmo autorizado a dizer que se fundiu nele
a velha lenda de Garibaldi e a nova lenda de Lnin, e muitas pessoas do povo viram em
Malatesta o Garibaldi socialista ou o Lnin italiano. Esse mal entendido, fruto da
venerao autoritria, foi trgico. Malatesta estava disposto a qualquer sacrifcio, porm
no queria conquistar o poder; esteve ao seu alcance a ditadura, mas a rechaou. O povo,
por sua vez, esperava um sinal e uma ordem que no vieram e que no poderiam vir de
Malatesta; o povo no soube mais que modular alguns gritos de alegria e depois voltar
novamente para casa (NETTLAU, 1923, p. 211).
Entrevendo o perigo que resultava de toda essa exaltao popular em torno
de sua pessoa, Malatesta procurou impedir seu prosseguimento, escrevendo para o
jornal Volont, em janeiro de 1920, um artigo intitulado Obrigado, mas chega! no
qual dizia:
Durante a agitao para meu retorno e durante os primeiros dias da minha presena na
Itlia, foram ditas e feitas coisas que ofendem a minha modstia e o meu senso de medida.
Recordem-se os companheiros que a hiprbole uma figura retrica da qual no preciso
abusar. Recordem-se, sobretudo, que exaltar um homem coisa politicamente perigosa e
moralmente mals para o exaltado e ara os exaltadores (MALATESTA, 1975[227], p.
251).
Com efeito, entre os perigos dessa desenfreada exaltao popular em torno
de Malatesta, figurava, segundo Levy, uma estranha negociao atravs da qual o
Capito Giulietti, responsvel pelo retorno de Malatesta Itlia, buscou articular sua
322
popularidade com a popularidade igualmente forte do lder dos legionrios do Fiume,
cidade alto-adritica italiana, Gabrielle DAnnunzio, visando realizar uma
manifestao poltica sob a forma da marcha sobre Roma; ato que mais tarde foi
realizado por Mussolini, por meio do qual o fascismo conquistou o poder (LEVY,
1998, p. 210). Malatesta, como era de se esperar, recusa dizendo-se grato a Giulietti,
sem que isso possa ter algum significado poltico (Ibid., 1975[226], p. 250). Foi
assim que, em 1921, passado o momento carismtico de Malatesta e DAnnunzio,
Mussolini, fixando no tempo a imagem do novo homem, a personificao da cultura
da personalidade forte, rapidamente tomou o poder. (...) Como mostrou Emilio
Gentile na sua massiva histria do Partido Nacional Fascista, Mussolini usou o
exemplo e o sucesso inicial de DAnnunzio e as vitrias do esquadrismo no Vale do
P para sua ascenso ao poder (Ibid., p. 215).
Weber chamou de carismtico o lder natural que, em situaes de
dificuldades psquicas, fsicas, econmicas, ticas, religiosas e polticas portador
de dons fsicos e espirituais especficos, considerados sobrenaturais (no sentido de
no serem acessveis a todo mundo) (WEBER, 1999, p. 323). Essa componente foi
muito considerada nas anlises do fascismo. Cole chamou ateno para uma
qualidade perigosa constituda pelo elemento cultural do revolucionarismo italiano
do ps-guerra (COLE, 1998, p. 667), e Hughes atribuiu a esse revolucionarismo um
vigor adicional que foi dado ao fascismo (HUGHES, 1998, p. 682). No mesmo
sentido, Guido Dorso afirmou que o fascismo nas vsperas da marcha sobre Roma,
apresentava-se como uma amalgama informe de foras discordantes e contraditrias,
reunidas pelo prestgio pessoal de um homem que, na imaturidade geral do pas,
conseguiu obter astutamente de quase todas as camadas da populao uma promessa
de confiana (DORSO, 1998, p. 237-238). Portanto, a cultura do subversivismo
italiano do ps-guerra, e a onda carismtica correspondente, foram fatores decisivos
para o desenvolvimento do fascismo.
323
Em maro de 1919 Mussolini funda os Fasci di Combattimento. No seu
discurso de fundao, publicado no Il Popolo dItalia em 24/03/1919, dizia que os
fasci deveriam ser uma minoria ativa procurando dividir o partido socialista oficial do
proletariado, e para isso era preciso ir ao encontro do trabalho. Dizia que
examinando o programa dos fasci poder-se- encontrar analogias com outros
programas; encontrar-se-o postulados comuns aos socialistas oficiais, mas nem por
isso eles so idnticos no esprito porque ns nos colocamos sobre o terreno da guerra
e da vitria e colocando-se sobre esse terreno que podemos ter todas as audcias (cf.
DE FELICE, 2004, p. 16). Em 1920, l-se nas Orientaes tericas. Postulados
prticos dos Fasci di Combattimento que a linha geral para sua obra imediata so: a
defesa da ltima guerra, a valorizao da vitria, a resistncia e a oposio s
degeneraes tericas e prticas do socialismo politiqueiro, acrescentando: note-se:
no oposio ao socialismo em si e por si doutrina e movimento discutveis mas
oposio s suas degeneraes tericas e prticas que resumem-se na palavra:
bolchevismo (Ibid., p. 25). Os fasci tambm adotaram o produtivismo, declarando-
se tendencialmente favorveis as formas (...) que garantem o mximo de produo e o
mximo bem estar e se disseram interessados pelo movimento operrio e pelos
proletrios organizados que sabem combinar a defesa da classe com o interesse da
nao, visto que os fasci no eram a priori pela luta de classe nem pela cooperao
de classe. Uma e outra ttica deve ser empregadas conforme as circunstncias. A
cooperao de classe se impe quando se trata de produzir; a luta de classe ou de
grupos inevitvel quando se trata de dividir. Mas a luta de classe no pode levar ao
assassinato da produo (Ibid., p. 27-28). Em 1921, Piero Marsich, o co raivoso
do esquadrismo fascista, escreveu que os dois problemas fundamentais com os quais o
fascismo deve se defrontar so as relaes entre Estado e sindicatos e a
descentralizao administrativa. Dizia que o aspecto mais preocupante da atual crise
do Estado italiano era constitudo pela sobreposio do sindicato ao Estado
determinada por dois fenmenos histricos: de um lado, o prepotente esprito
324
associativo que cada dia se afirma e invade todas as manifestaes da vida econmica
e poltica, e de outro, o enfraquecimento das conexes estatais. O sindicalismo
hodierno , portanto, eminentemente anti-estatal e at mesmo anti-nacional. O
sindicalismo de amanh deve ser estatal e nacional. Mas isso possvel?, pergunta
Marsich. No verdade que o sindicato seja um inimigo inconcilivel do Estado. Ele
hoje violento e prepotente porque o instrumento das demagogias polticas que o
governam desastrosamente, ou porque o Estado atual, na sua impotncia orgnica, no
capaz de frear e disciplinar o movimento sindical. necessrio: a) disciplinar o
movimento sindical; b) abrir ao mercado as portas do Estado (Ibid., p. 40-41). Hoje o
Estado, no reconhecendo teoricamente e praticamente o sindicato, obrigado a
tolerar e a sancionar suas violncias e ilegalidades. Desse modo, que nenhum dano
poder mais derivar aps o Estado reconhecer as manifestaes legais dos sindicatos.
Eis, portanto, delineada a tarefa do Estado de amanh: reconhecer os sindicatos, dar a eles
uma veste jurdica, trat-los como sujeitos de direito, como titulares de direito e de deveres
ao mesmo tempo, regular o instituto da responsabilidade sindical. O sindicato, parte
integrante do Estado, no ter direito greve nos servios pblico, do contrrio sero
punidos como crime. Os chefes dos sindicatos devero ser, politicamente e juridicamente,
responsveis por suas aes e pelos danos por ela produzidos. (...) Nenhum perigo, como
muitos temem, no reconhecimento dos sindicato; o perigo consiste no oposto, em tolerar
seu alastramento sem reconhec-lo. Assim disciplinados, assim reconhecidos, os sindicatos
tero direito de participarem do poder do Estado (Ibid., p. 41-42).
preciso fechar as portas do sindicato aos politiqueiros de profisso para
que a Itlia possa desenvolver uma verdadeira conscincia sindical e atravs da qual
o Estado sindical possa representar um progresso em relao ao Estado parlamentar
(Ibid., p. 42).
Foi dessa maneira que as crticas de Malatesta ao movimento operrio
encontraram uma terrvel confirmao no sindicalismo fascista. Recorde-se como nas
vsperas da deflagrao da guerra, Malatesta nutria em relao ao movimento operrio
uma crtica severa e uma atitude quase de hostilidade. No somente recusou as
virtudes que se costumava atribuir ao sindicato, como afirmou estar muito mais
inclinado em acreditar, at certo ponto, que ele conduza naturalmente ao equilbrio, ao
325
acomodamento, conservao e consolidao dos privilgios sociais, e defendeu a
necessidade de grupos de propaganda para impelir o movimento [operrio] na direo
desejada; o movimento operrio lhe aparecia como uma das principais foras de que
se dispe para a revoluo, porm a possibilidade sempre presente da sua
desvirtuao constitua ao mesmo tempo um dos maiores perigos que ameaam a
revoluo (MALATESTA, 1914d). Quando, por exemplo, James Guillaume, um dos
velhos participantes vivos da 1 Internacional ao lado de Bakunin, defendeu em 1914
que o sindicato e o sindicalismo eram ao mesmo tempo meio e fim, Malatesta
respondeu-lhe que seu dissenso era fundamental. O sindicato meio e fim! Mas qual
sindicato? Tambm os sindicatos catlicos? Os sindicatos amarelos? Tambm aqueles
que querem acordos com os patres?. Ao contrrio, para Malatesta, uma vez excluda
a influncia anrquica do sindicato, a tendncia natural dos operrios ser de
contentarem-se com pequenas melhorias; ou de monopolizar privilgios para a prpria
categoria (...); ou de aceitar qualquer co-participao nos ganhos do patro; ou de
constiturem-se em cooperativa ingressando no mundo comercial e capitalista em
suma, sempre o desejo de estar melhor possvel na sociedade atual que eles (...)
consideram como um fato natural, necessrio e legtimo (Ibid., 1914e). Mais tarde,
no Umanit Nova, Malatesta divulgava o fato deplorvel de que os telegrafistas de
Genova reclamavam a excluso das mulheres do trabalho, alegando que essas
trabalhavam somente para comprarem para si perfumes, maquiagem, meias de seda,
enquanto milhares de pais de famlia encontram-se desempregados; com isso, exigiam
os telegrafistas masculinos: Fora com as mulheres! (...) Uma empregada no poder
nunca ser uma boa me de famlia; ou uma coisa ou outra, no possvel estar em dois
lugares (MALATESTA, 1975[51], p. 134-135). Defendendo a liberdade inviolvel
das mulheres de recusarem permanecer em casa como servas de seus senhores
machos que muitas vezes retornam para casa bbados e as espancam (Ibid., p. 136),
Malatesta dizia que era por essa realidade evidente que os anarquistas deveriam
interessarem-se apenas mediocremente pelas lutas de categoria e pelas lutas
326
econmicas, sempre que elas no assumissem reivindicaes de ordem moral (Ibid.,
p. 138). Insistia na necessidade de estar atento e de combater as prticas amplamente
difundidas nos estabelecimentos industriais que obrigavam os operrios a se
organizarem sob pena de no serem admitidos no trabalho. Dizia que se tais prticas
tiverem xito, delas resultar que a organizao perder todo contedo moral e toda
consistncia material. Os trabalhadores suportaro a organizao como suportam
tantas outras coisas, a odiaro como odeiam todas as coisas feitas pela fora, se
revoltaro e trairo quando a ocasio se apresentar (Ibid., 1975[10], p. 45). Se, de um
lado, era possvel impor a adeso a todos e criar organizaes mastodnticas, de
outro lado disso resultava que ao primeiro ataque vigoroso do inimigo elas se
dissolveriam, permanecendo apenas alguns poucos convictos. Os demais que estavam
na organizao vermelha pela fora, tambm pela fora passam para a organizao
fascista: ovelhas sempre (Ibid., 1975[156], p. 39). Quando finalmente chegou o
fascismo, Malatesta no hesitou em atribuir embriaguez sindicalista uma das causas
principais do seu sucesso entre as classes trabalhadoras. Dizia que existiam
muitos trabalhadores para os quais o fascismo foi, a princpio, uma espcie de liberao
(...). intil negar e perigoso para o futuro no reconhecer: as organizaes operrias
estavam se tornando verdadeiras prises. Recordo como em Milo a Cmera do Trabalho
queria tornar obrigatria a filiao a uma organizao, negando o direito de trabalhar a
quem no tivesse no bolso uma identidade sindical. Essa tentativa teve pouco sucesso
porque Umanit Nova protestou e os anarquistas resistiram; mas aquilo que no foi
possvel em Milo, se fez correntemente em outras partes da Itlia onde, por meio de
intimidaes, boicotes e tambm perseguio, obrigava-se os trabalhadores a ingressarem
nas ligas e a fazer a vontade (e geralmente o interesse) dos seus chefes. Umanit Nova
advertia ento que com a inscrio obrigatria nas organizaes, no somente se violava o
inviolvel princpio de liberdade, mas se introduzia no movimento operrio um germe de
dissoluo e de morte (Ibid., 1975[89], p. 225).
Para Malatesta, se o fascismo pde crescer e ampliar-se nas regies mais
vermelhas da Itlia, (...) foi sobretudo porque ele tomou de surpresa a massa operria
desorientada e habituada a um revolucionarismo verbal que desembocava sempre nas
lutas da farsa eleitoral (Ibid., 1975[120], p. 293). O fascismo aparece como o reverso
de uma mesma prtica autoritria e como reao aos abusos de poder e s prepotncias
327
perpetradas pelos socialistas atravs do movimento operrio. Malatesta afirmou que a
sindicalizao forada, alm de violar, suprimia todo incentivo nas organizaes de
fazer propaganda para obteno de adeses conscientes e voluntrias, tornando as
organizaes repletas de pessoas descontentes, aderidas obrigatoriamente e que
constituiriam traidores potenciais. Essa previso encontrou confirmao no fascismo.
Nas regies precisamente onde, pelo boicote e pela violncia de todos os gneros,
obrigava-se os trabalhadores a se inscreverem nas ligas, nas regies onde no era
possvel trabalhar a no ser com a permisso do chefe da liga, ali o fascismo encontrou
maior fora e tambm um simulacro de justificao para as suas expedies infames.
O fascismo exagerou o erro das ligas vermelhas organizando as pessoas pela fora
(Ibid., 1975[152], p. 27).
Esse estado de nimo ainda mencionado por Fabbri sua anlise do
fascismo. Segundo ele, no somente a burguesia, mas numerosas categorias de pessoas
sofriam a hostilidade do proletrio socialista por coisas pequenas e banais, mas que
somadas, acabaram criando
em torno do movimento operrio um estado de esprito de irritao, uma opinio pblica
melanclica e fatigada. Os assdios, as aluses, as zombarias, as ameaas vagas feitas por
operrios e operrias nas ruas ou nos bondes contra aqueles que passavam por e
frequentemente no o eram Senhores e Senhoras; o ar de vigilncia e de controle que
davam a si mesmos os operrios que ocupavam certas funes nas administraes pblicas
socialistas; a derriso para com as idias e os smbolos diferentes ou opostos queles
socialistas; a hostilidade manifesta contra certas categorias de pessoas conhecidas por
terem sido em favor da guerra (estudantes, oficiais etc.), tudo isso indisps amplas
correntes da opinio pblica (FABBRI, 1994, p. 194).
Fabbri faz referncia a um lento suplcio de hostilidades imprecisas,
impessoais, difusas e fugidias, que muitas vezes escapavam aos limites estabelecidos
pelos chefes e pelas organizaes socialistas, mas que foram se acumulando
lentamente e aumentando o sentimento de mal estar entre todos os que no eram
considerados prximos dos socialistas ou que no estavam formalmente enquadrados
em suas fileiras (Id.). Irritava e provocava particularmente o mal humor geral as
constantes greves lanadas simplesmente na inteno de provar a fora de um
328
determinado partido sobre os outros ou realizadas por pretextos variados e pouco
srios. O que mais cansava era a paralisao imprevista dos servios pblicos mais
importantes, seja por pequenos interesses, seja por fatos ainda mais derrisrios: em
razo de uma reunio, comemorao, ou... porque pisou-se no p de um certo
organizador! No exagero! Certas interrupes do servio de bondes, correios,
telgrafos etc., eram absolutamente injustificadas (Ibid., p. 195). Fabbri narra uma
ocasio em que o servio dos bondes foi paralisado em razo do transporte de material
blico pouco importante que seguia em direo oposta fronteira, ou porque se
transportava oito ou dez policiais que estavam sendo transferidos por motivos de
servio. Era como colocar fogo num celeiro para ascender um cigarro! Faltava o
senso de proporo entre causa e efeito e a desproporo alimentava de maneira
indescritvel a hostilidade contra o movimento operrio (Ibid., p. 196).
Outro aspecto que fomentou o estado de animosidade geral foi constitudo
pelos numerosos meetings pblicos. No perodo da guerra em que certas interdies
tornaram-se muito rigorosas e em que sobretudo o militarismo e seus efeitos
disciplinares atingiam uma grande parte da populao, era necessrio um estado
constante de agitao para se contrapor a essa situao. A guerra acabou, mudanas
polticas tornaram menos rgido as condies de vida, mas, ao contrrio, os meetings
se fizeram cada vez mais constantes e serviram apenas para transformar em um
verdadeiro furor irreprimvel a irritao das foras da ordem (policiais, guarda real,
soldados) que encontravam-se continuamente em servio, frequentemente dia e noite
sem interrupo, enviados aqui e ali, sofrendo continuamente o desprezo da multido
(Id). Existe certamente uma animosidade necessria, lgica e conseqente nas funes
antipticas exercidas pelas foras da ordem contra os movimentos polticos, porm
no significa que se deva, fora dos casos excepcionais, tambm sistematicamente e
inutilmente, irritar pela palavra, pela escrita, por insultos e desprezos, os homens da
fora pblica (Ibid., p. 197). Segundo Fabbri, nessa atitude equivocada dos
revolucionrio que preciso procurar uma parte das razes pelas quais hoje as foras
329
da ordem so tambm solidrias e cmplices do fascismo, e isso a ponto de
desobedecerem as ordens dos comissrios e as circulares dos ministros (Id.).
Foi esse ambiente que nutriu o fascismo: de um lado, a disciplina de partido
que introduzia nos sindicatos e no movimento operrio uma organizao autoritria e
rgida, em um contexto fortemente revolucionrio; de outro, um forte estado de
animosidade cada vez mais alimentado e reforado entre os diferentes segmentos
sociais, agravado pela guerra e convergindo sobretudo contra o socialismo. De alguma
maneira, foi a combinao desses elementos heterogneos que produziu um modo de
vida fascista em seguida fomentado e instrumentalizado por diversas foras
conservadoras que o fizeram regime poltico. Foi esse modo de vida que Malatesta
chamou o maior e o verdadeiro mal realizado pelo fascismo, o fato de ter revelado
a baixeza moral na qual caiu-se depois da guerra e da super-excitao revolucionria
dos ltimos anos. Para Malatesta, era quase inacreditvel o suplcio feito da
liberdade, da vida e da dignidade das pessoas pela ao de outras pessoas.
humilhante (...) pensar que todas as infmias cometidas no tenham produzido na
multido um senso adequado de rebelio, de horror, de desgosto. humilhante para a
natureza humana a possibilidade de tanta ferocidade e de tanta velhacaria. humilhante
que homens, chegados ao poder apenas porque (...) souberam esperar o momento oportuno
para tranqilizar a burguesia temerosa, possam encontrar o consenso (...) de um nmero de
pessoas suficiente para impor a todo o pas a prpria tirania. Por essa razo, a rebelio que
esperamos e evocamos deve ser, antes de tudo, uma rebelio moral: a revalorizao da
liberdade e da dignidade humana (MALATESTA, 1975[231], p. 257-258).
Esse modo de vida fascista pr-figurou nos ambientes revolucionrios,
sobretudo, no movimento operrio. Reside principalmente nele a fora de adeso que o
fascismo encontrou nos ambientes operrios, socialista, sindicalista e tambm, ainda
que com menor intensidade, anarquista. Segundo Malatesta, o apelo e a prtica da
violncia feito pela maior parte dos revolucionrios no estava entre as ltimas causas
que tornaram possvel o fascismo (Ibid., 1975[213], p. 192). Ao reivindicar
demasiadamente a violncia nas lutas revolucionrias, o resultado foi que quando se
apresentaram violentos providos de fora adequada ou de audcia suficiente, no
330
encontrou-se nem resistncia fsica, nem condenao moral. De acordo com
Malatesta, era freqente ouvir dos subversivos a afirmao segundo a qual no h
nada o que condenar nos fascistas porque, caso pudessem, fariam no seu lugar pior
contra os burgueses do que os fascistas fazem contra os proletrios (Ibid., 1975[213],
p. 193). Existiu at mesmo subversivos que disseram que os fascistas ensinaram
como fazer a revoluo (1975[213], p. 200). Malatesta apontava nesse aspecto a
razo fundamental pela qual o fascismo pde triunfar e continua predominando,
devido sobretudo a ausncia de revolta moral contra o abuso da fora bruta, contra o
desprezo da liberdade e da dignidade humana, que so as caracterstica do fascismo.
Muita gente, mesmo entre suas vtimas, pensaram: ns faramos o mesmo se
tivssemos a fora. E naturalmente muitos desses que assim pensaram sentiram-se
atrados para o lado onde estava, ou parecia estar, a fora (Ibid., 1975[256], p. 59).
Na sua anlise das causas do fascismo, Malatesta conferiu ao elemento
subjetivo um valor preponderante, destacando trs aspectos entre as razes da sua
vitria poltica. O fascismo teria vencido porque teve o apoio financeiro da burguesia e
o apoio dos vrios governos que se serviram dele contra a ameaa do movimento
operrio. O fascismo teria vencido tambm porque encontrou uma populao esgotada,
desiludida e entorpecida por cinqenta anos de propaganda parlamentar. Porm, o
fascismo
venceu sobretudo, porque as suas violncias e os seus delitos encontraram certamente o
dio e o esprito de vingana em quem os sofreu, mas no suscitaram a reprovao geral, a
indignao, o horror moral (...). E, infelizmente, no pode haver retomada material sem
antes haver revolta moral. Falemos francamente, ainda que seja doloroso constat-lo.
Fascistas existem tambm fora do partido fascista, existem em todas as classes e em todos
os partidos: existem por toda parte pessoas que ainda no sendo fascistas, e at mesmo
sendo anti-fascista, tm, no entanto, o nimo fascista, o mesmo desejo de supremacia que
distingue os fascistas. Ocorre, por exemplo, encontrar homens que se dizem e se crem
revolucionrios ou at mesmo anarquistas que, para resolver uma questo qualquer,
afirmam encolerizados que agiriam fascisticamente, (...) agir como camorrista ou policial.
Infelizmente verdade: pode-se agir, e muito frequentemente age-se, fascisticamente sem
ter a necessidade de se inscrever entre os fascistas: certamente, no sero esses que agem
assim ou que se propem agir fascisticamente, que podero provocar a revolta moral e o
senso de repugnncia, que matar o fascismo (Ibid., 1975[232], p. 259-260).
331
Portanto, o fascismo venceu no porque conquistou o poder
democraticamente ou demonstrando sua fora na marcha sobre Roma; a vitria do
fascismo est menos no fato dele tornar-se regime poltico e muito mais em razo de
ter encontrado em um nmero suficiente de pessoas, de ter encontrado nas massas
populares, no movimento operrio, entre os sindicalistas revolucionrios, socialistas e
at mesmo entre anarquistas, disposio para agir fascisticamente; em outras palavras,
a vitria poltica do fascismo est no seu desenvolvimento e na sua extenso como
modo de vida. esse triunfo moral do fascismo que, para Malatesta, deveria afligir e
impressionar os anarquistas. Quanto a sua vitria poltica, quanto ao fato de sido
proclamado regime, isso tem uma importncia secundaria que, alm do mais, era
previsto e esperado.
Trs anos atrs, quando era possvel fazer a revoluo (...), ns repetamos para as massas
em centenas de comcios: faam logo a revoluo, do contrrio, mais tarde os burgueses
cobraro lgrimas de sangue pelo medo que sofreram hoje. (...) Agora, segundo nossa
opinio, tem pouca importncia o prejuzo poltico e econmico que o fascismo trouxe e
pode at mesmo ser um bem na medida em que coloca a nu, sem mscaras e hipocrisias, a
verdadeira natureza do Estado e do domnio burgus. Politicamente o fascismo no poder,
mesmo com formas bestialmente brutais e modos risivelmente teatrais, no fundo no faz
nada que no tenham feito sempre todos os governos: proteger as classes privilegiadas e
criar novos privilgios para os seus partidrios. Demonstra tambm aos mais cegos, que
gostariam de acreditar nas harmonias naturais e na misso moderadora do Estado, como a
origem verdadeira do poder poltico e o seu meio essencial de vida a violncia brutal o
santo manganello (Ibid., 1975[231], p. 256-257).
Nesse momento, Malatesta introduz na sua anlise um elemento fundamental
peculiar e distinto em relao s tradicionais anlises marxistas e liberais do fascismo.
Para De Ambris, o desenvolvimento do fascismo deveu-se adeso de uma pequena
burguesia agrria profundamente conservadora e responsvel por ter alterado
completamente sua fisionomia poltica.
O programa originrio do movimento foi completamente desnaturado por restries
infinitas: a direo republicana torna-se apenas uma tendncia sempre mais vaga; a
expropriao parcial da burguesia, o direito terra dos camponeses ex-combatentes
aprovado no ltimo congresso fascista, a constituio de corpos legislativos destinados
representarem diretamente as classes produtoras, tudo isso no passou, finalmente, de
simples abstrao a ser esquecida definitivamente (DE AMBRIS, 1998, p. 201).
332
Para De Ambris, a burguesia, representada por Giolitti, soube transformar o
fascismo revolucionrio em instrumento de reao ao arm-lo e torn-lo mais
combativo. Do mesmo modo Dorso afirma que o movimento fascista surgido em
1919 em concorrncia com a revoluo bolchevique, com programa revolucionrio e
anti-plutocrtico, em 1921-22 se deixa encapuzar pelos interesses capitalistas
(DORSO, 1998, p. 235). Para ambos, a natureza original do fascismo aparece de
alguma maneira falseada pela burguesia e pelo capitalismo. Diferentemente, Hayek
considerou a invaso de certos hbitos polticos na vida dos indivduos como tendo
sido introduzidos pelo socialismo, antes do fascismo e do nazismo, tanto na Itlia
quanto na Alemanha. A imagem de um partido poltico abraando todas as atividades
do indivduo, do seu nascimento at sua morte, reclamando o direito de conduzir sua
conscincia e de orientar suas opinies sob quase todos os aspectos e problemas, essa
imagem, diz Hayek, foi operada primeiramente pelos socialistas.
No foram os fascistas, mas os socialistas que comearam a reunir as crianas, desde a
mais tenra idade, em organizaes polticas para assegurarem que seriam bons proletrios.
No foram os fascistas, mas os socialistas que tiveram a primeira idia de organizar
esportes e jogos, disputas de futebol e torneios, em crculos de partido nos quais os
aderentes no estivessem infectados pela opinio dos outros. Foram os socialistas os
primeiros a insistirem para que os membros do partido se distinguissem dos outros pelos
modos de saudao e nas frmulas adotadas no desenrolar do discurso. Foram eles quem,
mediante a organizao de clulas e dispositivos para a vigilncia contnua da vida
privada, criaram o prottipo do Estado totalitrio. Balila e Hitlerjuged [juventude fascista e
hitlerista], Dopolavoro e Kraft durch Freude [termos que designavam recreao aps o
trabalho], uniformes polticos e formaes militares de partido, so pouco mais que
imitaes de instituies socialistas mais antigas (HAYEK, 1998, p. 715-716).
Nesse caso, no houve falseamento pela burguesia da origem primeira do
fascismo direcionando-o contra o socialismo, mas o fascismo aparece como a
conseqncia de alguma maneira inevitvel de um tipo de experincia de sociedade
extremamente controlada, estabelecida e desenvolvida antes do fascismo pela poltica
socialista. Existe nessa anlise, como sugeriu Foucault, um golpe de fora terico do
liberalismo. Nas suas reflexes sobre as experincias nazi-fascistas, alguns autores
neo-liberais, sobretudo Hayek e Rpke, identificaram uma espcie de invariante anti-
333
liberal localizvel em regimes polticos to dspares como o nazismo alemo, o
parlamentarismo ingls, o comunismo sovitico e a democracia americana; em todos
esses regimes, segundo eles, existia uma invariante econmico-poltica que era
impermevel e indiferente s suas formas polticas especficas, e que provocava neles
efeitos e conseqncias idnticas; essa invariante era o dirigismo ou o
intervencionismo governamental na economia que continha tanto o plano Gring,
quanto o plano Beveridge ingls, o New Deal americano ou a planificao comunista.
Esse dirigismo como variante anti-liberal transversal a esses regimes polticos
especficos provocava um crescimento indefinido do poder estatal sobre a sociedade
sob a forma do Estado de polcia; por sua vez, esse estatismo galopante do Estado de
polcia inerente ao dirigismo econmico, riscava uma destruio efetiva do tecido
social. Foi a partir dessa anlise, realizada sob a sombra da crtica ao dirigismo nazi-
fascista, que, segundo Foucault, os neo-liberais tornaram aceitvel seu verdadeiro
objetivo, quer dizer, uma formalizao geral dos poderes do Estado e da organizao
da sociedade a partir de uma economia de mercado (FOUCAULT, 2004c, p. 121).
nesse momento que o Estado de direito, contraposto ao Estado de polcia prprio aos
regimes totalitrios, aparece como alternativa positiva. E a partir do Estado de direito
que os liberais vo procurar definir o que seria a maneira de renovar o capitalismo.
Essa maneira de renovar o capitalismo seria introduzir os princpios do Estado de
direito na legislao econmica (Ibid., p. 176).
Foucault sugeriu que preciso buscar nessa elaborao terica a procedncia
de um tema recorrente a um grande nmero de posicionamentos tericos, que ele
chamou fobia de Estado e que consiste em considerar o Estado e seu crescimento
indefinido, sua onipresena, sua burocratizao, o Estado com seus germes de
fascismo, sua violncia intrnseca etc. Dois elementos so subjacentes a essa fobia de
Estado: a idia de um processo de estatizao dotado de dinamismo prprio, de uma
potncia de expanso, de um crescimento tendencial, de um imperialismo endgeno
que o impele sem cessar a ganhar em superfcie, em extenso, em profundidade, em
334
fineza, chegando a tomar totalmente a incumbncia disso que constituiria para ele o
seu outro, o seu exterior, o seu alvo e objetivo, saber: a sociedade civil (Ibid., p.
192-193). A esse primeiro elemento da fobia de Estado, que toma o Estado como
potncia intrnseca em relao a um alvo que seria a sociedade civil, Foucault
acrescenta um segundo elemento que relativo a existncia de um parentesco, um
tipo de continuidade gentica, de implicao evolutiva entre diferentes formas de
Estado, o Estado administrativo, o Estado providncia, o Estado burocrtico, o Estado
fascista, o Estado totalitrio, tudo isso constituindo (...) os ramos sucessivos de uma s
e mesma grande rvore estatal (Ibid., p. 193). Segundo Foucault, o tema da fobia de
Estado , grosso modo, composto por esses dois elementos: o Estado como portador de
uma fora de expanso indefinida em relao a seu alvo que seria a sociedade civil e as
formas de Estado engendrando-se umas s outras numa espcie de dinamismo
evolutivo do Estado, essas duas idias parecem-me constituir uma espcie de lugar
comum crtico que pode ser encontrado na hora atual (Id.). Entre os inconvenientes
dessas anlises, Foucault destacou o fato de que ela autoriza a prtica que ele chamou
desqualificao geral pelo pior e que se d na medida em que, qualquer que seja o
objeto da anlise, qualquer que seja sua tenuidade, a exigidade do objeto de anlise,
qualquer que seja o funcionamento real do objeto de anlise, na medida em que
sempre possvel, em nome de um dinamismo intrnseco do Estado e em nome das
formas ltimas que esse dinamismo pode assumir, reenvi-lo a qualquer coisa que vai
ser o pior e, assim, possvel desqualificar o menos pelo mais, o melhor pelo pior
(Ibid., p. 193-194). O outro inconveniente sugerido por Foucault que uma tal anlise
provoca a eliso da atualidade, quer dizer, em nome desse dinamismo do Estado
atravs do qual supe-se sempre o monstro frio, essas anlises permitem evitar que se
pague o preo do real e do atual (Ibid., p. 194). Desse modo, Foucault viu uma
espcie de laxismo, de permissividade excessiva resultando dessas anlises ligadas
ao tema da fobia de Estado. Ao contrrio, dizia que o Estado de bem-estar ou Estado
providncia no assume nem a forma nem a continuidade do Estado totalitrio de tipo
335
fascista, nazista ou stalinista; afirmou tambm que o Estado totalitrio, longe de ser
caracterizado pela intensificao e pela extenso endgena dos seus mecanismos, o
que constitui o totalitarismo , ao contrrio, uma limitao, uma diminuio, uma
subordinao da autonomia do Estado, de sua especificidade e de seu funcionamento
prprio em relao a que? Em relao uma outra coisa que o partido (Ibid., p.
196). Segundo Foucault, o princpio do Estado totalitrio deve ser procurado no no
Estado administrativo do sculo XVIII, nem no Estado de polcia do sculo XIX, mas
em uma governamentalidade no estatal que ele chamou governamentalidade de
partido.
Mencionei essas passagens da anlise de Foucault sobre a crtica liberal aos
totalitarismos porque, talvez, elas possam conferir uma outra inteligibilidade reflexo
de Malatesta acerca do fascismo. Por exemplo, aquilo que Foucault chamou de
desqualificao pelo pior acredito ser perfeitamente re-condutvel recusa de
Malatesta do mal menor e que seria a opo por um governo menos ruim. Na
polmica sobre a guerra, Malatesta recusou o jogo que desqualificava o governo
alemo devido seu militarismo escandaloso e em nome da valorizao poltica dos
governos constitudos em Aliados; para ele, ao contrrio, o pior governo sempre
aquele contra o qual se luta. Do mesmo modo que, contra a eliso do atual,
corresponde insistncia de Malatesta em demonstrar que as prticas colonialistas dos
governos democrticos, se no eram a evidncia brutal de um militarismo homicida
praticado contra populaes inteiras das colnias, impediam radicalmente qualquer
tentativa ingnua de apoiar a causa dos Aliados. Essa mesma problemtica vai
reaparecer, dessa vez em relao ao fascismo.
muito significativo que Malatesta tenha visto a invariante fascista no no
dirigismo estatal, como os liberais, mas em um modo de vida fascista, na disposio
para agir fascisticamente muito difundida e de algum modo tornada transversal a todas
as tendncias do revolucionarismo italiano do comeo do sculo XIX, incluindo os
anarquistas. O perigo do fascismo estava na generalizao de seu modo de vida e no
336
na compresso que ele realizava do Estado de direito. No fundo, o fascismo no
poder, um regime fascista no poderia ser diferente dos regimes liberais precedentes,
visto que sua ascenso implicava a normalizao necessria da sua dimenso
esquadrista; em outras palavras, o fascismo no poder no seria pior que o liberalismo,
no por incapacidade, mas por impossibilidade. Assim, Malatesta produz uma inverso
dos valores da crtica liberal.
Para os liberais o problema do fascismo est no crescimento indefinido do
poder estatal, no excesso do Estado em uma forma oposta ao Estado de direito: a
violncia que abole todas as garantias do Estado de direito e que constitui em partido
nico a minoria que a sustenta atribuindo-lhe amplas funes pblicas e legislativas e
no tolerando, em todos os mbitos da nao, grupos, atividades, opinies,
associaes, religies, publicaes, escolas ou negcios independentes da vontade do
governo (RPKE, 1998, p. 725). Desse modo, o que condenvel no a violncia
em si como instrumento possvel nas mos do Estado, mas a violncia do fascismo
que abole o Estado de direito e suas garantias contra o dirigismo e o intervencionismo
econmico que a organizao do Estado fascista implica. PASSETTI (1994, fl. 77)
mostrou como foi precisamente o papel de restaurador da liberdade que o
neoliberalismo assumiu, sobretudo, a partir das teses de Ludwig von Mises, que
entendia a democracia como o melhor dos regimes sob a propriedade privada dos
meios de produo, o tempo da cooperao pacfica por meio da qual o homem
gradativamente pode reduzir seu sofrimento. Segundo von Mises, (...) a democracia
a forma de constituio poltica que torna possvel a adaptao do governo aos desejos
dos governados, sem lutas violentas (Ibid., fl. 80). A democracia foi considerada a
verdadeira realizao do consentimento permitido pela emergncia de um novo
cidado capaz de ampliar as condies mais satisfatrias para a cooperao pacfica
(Ibid., fl. 87).
Para Malatesta, ao contrrio, o problema do fascismo no est na maior
violncia que possa conter o Estado fascista, mas no fenmeno de fasciszao da vida
337
evidente no somente na ausncia de resistncias, mas sobretudo na difuso e na
extenso das prticas fascistas, na fasciszao do movimento operrio, do
sindicalismo, de socialistas e anarquistas; o problema poltico maior no est tanto no
regime fascista, quanto no movimento fascista. No o autoritarismo do Estado
fascista o problema dos anarquistas, mas o autoritarismo capilar, autoritarismo a
nvel molecular, o autoritarismo exercido no pelo Estado, mas pelos indivduos uns
contra os outros nas suas prticas cotidianas. A subjetivao de prticas autoritrias era
o problema para os anarquistas, no o Estado que era em si mesmo uma ordem das
coisas. Desse modo, se o problema do fascismo no est colocado na pretensa
violncia de que capaz de produzir comparado ao Estado liberal, logo a luta contra o
fascismo no passa pela valorizao de um modo de vida democrtico. FABBRI
(1994, p. 347) observou que se dizer anti-fascista para os anarquistas constitua uma
espcie de pleonasmo, porque a luta contra o fascismo indissocivel da luta
anarquista contra a autoridade e contra o Estado que so deles sua manifestao mais
tpica; assim, o anti-fascismo encontra-se de alguma maneira contido no anarquismo,
mas ao mesmo tempo ultrapassado ou subordinado luta contra todas as formas de
autoridade e de explorao do homem pelo homem (Ibid., p. 348).
nessa direo que seria preciso entender Malatesta, ao escrever, em maro
de 1922, que preferia a violncia desenfreada represso legal, a desordem ordem
burguesa, a licena tirania... em uma palavra, os fascistas aos carabinieri. (...) Nos
parece natural, como anarquistas, recusar principalmente tudo o que serve para dar
autoridade, prestgio, fora ao Estado, e considerar bom isso que desacredita e
enfraquece o Estado, mesmo quando feito com a inteno de defend-lo
(MALATESTA, 1975[137], p. 325-326). Alm do perigo do fascismo, Malatesta
entrevia um outro perigo que considerava ainda maior e que era o fato de que a luta
contra o fascismo produzia o inconveniente de induzir os subversivos a invocar o
domnio da lei... daquela lei que precisamente a causa primeira do mal, da lei que nos
desarma, nos amarra e nos deixa indefesos contra os golpes dos inimigos (Ibid.,
338
1975[89], p. 226). Para Malatesta, se o fascismo no faz o liberalismo melhor nem
mais prefervel, no porque os anarquistas, adversrios decisivos, irredutveis do
regime burgus, esquecem que a histria conheceu regimes piores que o da
burguesia, de modo que sempre possvel que regimes piores poderiam advir no
futuro; mas pela simples razo de que se ao regime burgus devesse advir um
governo de fanticos que lembrasse o comunismo jesuta do Paraguai, nem por isso
os anarquistas se tornariam amigos do regime abatido, ah no, mas combateramos
com igual deciso o velho e o novo regime (Ibid., 1975[121], p. 296). Para Malatesta,
ao contrrio, o fascismo, precisamente por suas desmedidas e disparidades, arriscava
exaurir o Estado e habituar os cidados a defenderem por si suas pessoas e coisas;
quando finalmente o governo no tiver mais necessidade do auxlio perigoso de
esbirros irregulares, retomar sua funo de polcia. Por esse motivo, segundo
Malatesta, que os principais dirigentes do fascismo gostariam de renunciar violncia
bruta, que reclamaram at ontem, para transformarem-se em um partido legal com
programa especfico, ainda que permanecendo na rbita das instituies monrquicas e
capitalistas, que o diferencie dos outros partidos constitucionais (Ibid., 1975[120], p.
293-294).
Dessa maneira, era prefervel o movimento fascista que provocava o
descrdito e a decadncia do princpio de autoridade, mas tendo sempre em vista que
seria intil e danosa aos fins da liberdade e da justia, se a populao no souber, pela
sua ao direta, estabelecer as condies de liberdade e de segurana indispensveis
convivncia civil (Ibid., 1975[171], p. 68). Era certamente preciso destruir o
fascismo, porm era preciso faz-lo diretamente, com a fora do povo, sem invocar a
ajuda do Estado, de maneira que o Estado no resulte reforado, mas quanto mais
desacreditado e enfraquecido (Ibid., 1975[137], p. 327). De outro modo, diz, seria
simplesmente ridculo pedir ao Estado a supresso do fascismo, quando notrio que
o fascismo foi uma criao da burguesia e do governo, e que no teria podido nascer e
viver um dia [como regime] sem a proteo e a ajuda da polcia e que no ser
339
suprimido, voluntariamente, pelo governo a no ser quando sentir-se suficientemente
forte para proceder de outro modo... ou para ressuscit-lo de novo quando ressurgisse a
necessidade (Ibid., 1975[137], p. 327). Assim, nenhuma indulgncia com o fascismo,
mas clareza de que ele cumpre a funo poltica de
milcia irregular da burguesia e do Estado que, em determinado momento, fez, faz ou far
aquilo que o governo no pode fazer sem renegar a lei e revelar de modo demasiado aberto
e perigoso sua natureza. Ningum colocar em dvida o nosso vivo desejo de ver debelado
o fascismo e a nossa vontade firme de concorrer, como podemos, para debel-lo. Mas ns
no queremos abater o fascismo para substitu-lo por qualquer coisa de pior, e pior que o
fascismo seria a consolidao do Estado. Os fascistas agridem, incendeiam, assassinam,
violam toda liberdade, esmagam da maneira mais ultrajante a dignidade dos trabalhadores.
Mas, francamente, todo o mal que o fascismo fez nesses ltimos dois anos e que far no
tempo que os trabalhadores o deixarem existir, talvez comparvel ao mal que o Estado
fez, tranquilamente, normalmente, durante inumerveis anos, e que faz e far at quando
continuar existindo? (Ibid., 1975[137], p. 326).
Aps a marcha sobre Roma e o xito eleitoral, o rei Vittorio Emanuele III
nomeia, em novembro de 1922, Mussolini primeiro ministro. Malatesta se pergunta
qual poderia ser o significado, qual o valor, qual o resultado provvel desse novo
modo de chegar ao poder em nome e servio do rei, violando a constituio que o rei
tinha jurado respeitar e defender? E, na sua opinio, nada mudaria, salvo durante
certo tempo uma maior presso policial contra os subversivos e contra os
trabalhadores. Uma nova edio de Crispi e de Pelloux. sempre a velha histria do
delinqente que se torna polcia! (1975[217], p. 198-199). Sabia que o regime fascista
foi o produto de uma burguesia, ameaada pelo subversivismo proletrio agravado
pelos efeitos da guerra, impotente de se defender apenas com a represso legal; foi um
momento que, segundo Malatesta, a burguesia teria saudado o primeiro general que se
oferecesse como ditador para afogar em sangue as rebelies populares, mas era uma
empresa demasiado perigosa, alm disso, surgiu coisa mais til que um ditador:
aventureiros que, no encontrando nos partidos subversivos campo para suas
ambies e apetites, especularam sobre o medo da burguesia oferecendo a ela, em
troca de adequada compensao, o socorro de foras irregulares que, asseguradas pela
impunidade, puderam abandonar-se a todos os excessos contra os trabalhadores sem
340
comprometer diretamente a responsabilidade dos beneficirios das violncias
cometidas. Ento, a burguesia no somente aceitou, mas pagou e o governo forneceu
armas, ajudou-os quando seus ataques estavam em desvantagem, assegurou sua
impunidade, desarmou preventivamente seus alvos. provvel, continua Malatesta,
que quando todas as instituies operrias tiverem sido destrudas, as organizaes
debandadas, os homens mais odiados e mais perigosos assassinados ou aprisionados
ou reduzidos impotncia, a burguesia e o governo tivessem desejado colocar freio
nos novos pretorianos (...). Mas era demasiado tarde. Os fascistas eram finalmente os
mais fortes e pretenderam cobrar pela usura e pelos servios prestados (Id.). A partir
disso, os liberais do Partido Democrtico Italiano, Nitti e Amendola, alijados do poder,
comearam a esboar uma estratgia de constitucionalizao do fascismo, pretendendo
assegurar a paz entre as classes sociais e, portanto, o fim dos atuais conflitos,
restabelecendo em direo a todos os cidados e todos os partidos a autoridade do
Estado. O que significa que o fascismo deve ser suprimido quando a burguesia no
mais dele precisar, porque polcia e guarda rgia faro a obra dos fascistas de modo
mais regular e, portanto, mais duradouro (Ibid., 1975[176], p. 79). Malatesta estava
convencido de que Mussolini, se conseguir consolidar o seu poder, far nem mais
nem menos do que faria um outro ministro qualquer: servir os interesses das classes
privilegiadas... e se far pagar pelos seus servios (Ibid., 1975[219], p. 205). E tinha
razo na sua anlise.
O fascismo nasceu como fenmeno urbano de base squadrista cuja principal
caracterstica eram as chamadas expedies punitivas: o deslocamento de esquadras
fascistas armadas para determinadas regies de forte tradio socialista e anarquista,
com o objetivo de devastar e incendiar as organizaes operrias e assassinar os
lderes, sem que as autoridades locais interviessem ou, ao contrrio, o que era
freqente, contando com seu apoio. Mas o esquadrismo fascista era certamente
incompatvel com a organizao do Estado fascista, e isso levou Mussolini adotar
como premissa do regime no apenas a supresso dos partidos de oposio, mas
341
tambm a liquidao poltica do movimento fascista e a sua conseqente normalizao
por meio do PNF, Partito Nazionale Fascista. Entre outros inconvenientes ao regime, o
mais grave era que o esquadrismo provocava a guerra civil e colocava em perigo a
estabilidade poltica; isso foi sobretudo evidente com o surgimento dos Arditi del
Popolo, milcias populares organizadas para combater o esquadrismo fascista. De
acordo com Di Lembo, os arditi consistiam em uma verdadeira e prpria organizao
militar, dividida em sees de pelo menos um batalho de 40 homens, divididos em
reparties de 10, com um comando (eletivo) em cada provncia e um comando geral
em Roma (DI LEMBO, 2001, p. 129-130). No obstante, os arditi encontraram nos
anarquistas, se no os nicos, em todo caso fortes aliados, sobretudo a partir da moo
de apoio aprovada pelo congresso de Bolonha de julho de 1920: apoiar os arditi seja
no plano terico, seja no plano da luta efetiva, mas mantendo a prpria especificidade
anrquica (BALSAMINI, 2002, p. 201). Foi temendo o recrudescimento da guerra
civil que, em agosto de 1921, Mussolini aceitou assinar com o Partido Socialista
Italiano o vergonhoso Pacto de Pacificao no qual [o PSI] negava qualquer relao
com os Arditi, rompia a solidariedade com as esquerdas tambm no plano da defesa
contra os fascistas e abandonava as outras formaes represso estatal e s violncias
extra-legais (DI LEMBO, 2001, p. 131). O curioso que Mussolini foi desobedecido
pelos seus soldados em um episdio que foi considerado a crise do fascismo. Falando
sobre esse triste espetculo de indisciplina fascista, o Dulce solicitava o
enfileiramento dos insubordinados dizendo que com o pacto de Roma, o fascismo
podia modificar de forma tendencial, onde possvel, o carter das suas aes;
demonstrar no somente a superioridade pugilista ou bombardeira, mas sua
superioridade cerebral e moral (DE FELICE, 2001, p. 85).
Aproveitando-se desse momento um tanto pattico e a propsito da ocupao
da sede de Umanit Nova por um bando fascista, Malatesta escrevia, em dezembro de
1922, que se tem
342
sempre dois governos, dois Estados, que as vezes se apiam e as vezes se ignoram um ao
outro! Que reflita sobre isso o onorevole Mussolini. Certas coisas Napoleo no as deixaria
fazer debaixo do prprio nariz. Porm, verdade que aquele era o verdadeiro Napoleo, e
no uma imitao de barro! Mas intil prevenir Mussolini. O pobrezinho faz o que pode;
logo dever dar-se conta que no basta esbugalhar os olhos e imitar o ogro para ser
obedecido e constituir um Estado forte. (...) Mussolini, lder-delinqente e conquistador,
poder manter-se no poder o tempo necessrio para saciar os apetites dos seus principais
colaboradores, mas no poder fazer nada de mais (Ibid., 1975[221], p. 210).
Malatesta considerava o triunfo poltico de uma ditadura de aventureiros
sem escrpulos e sem ideais, que chegou ao poder e nele permanece pela
desorientao da massa e pela intrpida avareza da classe burguesa em busca de um
salvador, uma empresa que no podia durar; tanto que os conservadores mais
iluminados, mesmo fazendo as devidas homenagens ao patro do momento e traindo a
cada palavra o medo que os domina, pediam a restaurao do Estado liberal, ou seja,
o retorno s mentiras constitucionais (Ibid., 1975[219], p. 205). Berti considerou essa
atitude de Malatesta uma subestimao do fascismo que resultava da sua
desvalorizao da democracia: o anarquista italiano no conseguiu entender o
verdadeiro carter do fascismo (...), deu-lhe uma interpretao classicamente
socialista (...). No foi individuada a concepo indita e totalitria da vida e da
poltica que nada tinha de equivalente com os precedentes regimes liberais (BERTI,
2003, p. 735). Essa subestimao era o produto, conforme Berti, de um tpico prejuzo
ideolgico absolutista. Ao invs de julgar o fascismo confrontando-o diretamente
com a democracia liberal e individuar seus despropsitos e incompatibilidades
[Malatesta] relacionou as duas formaes [democracia e fascismo] ao anarquismo.
Considerava duas idias relativas de autoritarismo (fascismo e democracia), com uma
idia absoluta de liberdade (anarquismo) (Ibid., p. 737).
Existe uma outra possibilidade de leitura que busca ver na prtica nazi-
fascista no somente o escndalo do racismo e a loucura do Dulce condutor das
massas, que procura conferir maior ateno racionalidade do regime, fazendo com
que os clculos e as estratgias, quase sempre obscurecidos pelo espectro da
megalomania e do crime, ganhem maior autonomia. Fez-se, ento, uma constatao
343
bem simples: uma empresa a tal ponto megalomanaca, abertamente mistificadora e
criminosa tal como o nazi-fascismo, no teria podido alcanar o amplo consenso
poltico dos alemes sem ter colocado em funcionamento uma tcnica essencial do
regime democrtico: a poltica de promoo do bem estar. Hitler, e seus chefes
regionais, tendo se perguntado sistematicamente como consolidar a satisfao geral e
de que maneira conquistar a aprovao pblica do regime, ou pelo menos a indiferena
em relao a seus atos mais polmicos, no fizeram mais do que colocar em prtica
uma frmula bem usual do liberalismo.
Apoiando-se sobre uma guerra predatria e racial de grande envergadura, o nacional
socialismo foi a origem de uma nova igualdade, notadamente por uma poltica de
promoo social de uma amplido sem precedentes na Alemanha, que o rendeu ao mesmo
tempo popular e criminoso. O conforto material, as vantagens tiradas do crime em grande
escala, certamente de maneira indireta e sem comprometimento da responsabilidade
pessoal, mas aceito de bom grado, nutria a conscincia, entre a maior parte dos alemes, da
solicitude do regime. E, reciprocamente, de l que a poltica de extermnio tirava sua
energia: ela tomava por critrio o bem-estar do povo. A ausncia de resistncia interior
digna desse nome e, ulteriormente, a falta de sentimentos de culpa, pertencem a essa
constelao histrica (ALY, 2005, p. 10).
Tambm esto equivocadas, segundo Aly, as explicaes acerca da ascenso
do nazismo que buscam sua justificativa, seja no burocratismo alemo, seja no esprito
prussiano de submisso. Porque, mais que a repblica de Weimar, e contrariamente
imagem que o Estado hitlerista deu dele mesmo, o nazismo limitou o processo
decisrio vertical em proveito de um sistema horizontal mais moderno. Nas
instituies existentes, e mais ainda nas novas, ele liberou as iniciativas, suprimiu a
rigidez da hierarquia tradicional e fez nascer, no lugar do respeito estrito ao
regulamento, o prazer de trabalhar e, frequentemente, um sentimento zeloso de
iniciativa (Ibid., p. 31). Outro aspecto enfatizado so as chamadas receitas da
arianizao. Alm dos dentes de ouro embolsados pelo Reichsbank, tambm o
mobilirio e os produtos confiscados dos judeus baixavam ou garantiam estabilidade
dos preos na Alemanha. Esse expediente foi de tal modo importante para o regime
que ideologia racista, que desejava o desaparecimento judeu; poltica de
344
desconcentrao tica, que acelerou a Soluo Final; idia de que os judeus
formavam a quinta coluna do inimigo, cuja propagao encorajava a passividade e a
indiferena frente ao genocdio; seria necessrio acrescentar um quarto fio condutor s
motivaes de destruio bastante aceitas pela literatura especializada: os altos
oficiais militares procuravam receber taxas de ocupao tanto mais elevadas quanto
possvel, no por voracidade individual, mas do ponto de vista profissionalmente
fundamentado da inteligncia militar; tratava-se de conduzir a guerra evitando o
quanto possvel que o estrangulamento financeiro prejudicasse os planos estratgicos e
o moral das tropas (Ibid., p. 264).
Seria possvel acreditar que toda essa racionalidade poltica e todos esses
clculos econmicos tenham sido o resultado da imaginao nazi-fascista? Ou seria
mais exato pensar, como sugeriu Foucault, que o fascismo e o stalinismo apenas
prolongaram toda uma srie de mecanismos que j existiam nos sistemas sociais e
polticos do Ocidente? (FOUCAULT, 2001c, p. 535).
Seja como for, o que significativo na anlise de Malatesta acerca do
fascismo sua recusa dos efeitos de majorao institucional da democracia e do
Estado de direito. Isso aparece de maneira evidente quando colocado lado a lado sua
anlise do fascismo e do governo. Em 1897, ao polemizar com Merlino em torno da
democracia, Malatesta tinha recusado a lgica segundo a qual era preciso defender as
instituies parlamentares dos regressos sempre possveis ao absolutismo. Segundo
essa lgica, dizia Malatesta, seria preciso no existir nem anarquistas nem socialistas,
mas apenas conservadores para nos salvarmos do perigo de ter que voltar para trs.
Ou ento, seria preciso que os republicanos defendessem a monarquia constitucional,
com medo de verem a volta da ustria e do Rei-Papa; que os socialistas defendessem
a burguesia para se precaverem do regresso Idade Mdia; que os anarquistas, enfim,
fizessem a apologia do Governo parlamentar, com medo do absolutismo
(MALATESTA, 2001, p. 160). Mas essa lgica da desqualificao/qualificao pelo
pior tambm provocava a eliso de que deve-se a resistncia republicana, socialista e
345
anarquista, o fato das monarquias constitucionais existem: elas respondem ao medo
que os reis nutrem pela repblica; na Frana, no haveria repblica se a Comuna de
Paris no tivesse obrigado os partidrios da restaurao a refletirem; e se um dia, na
Itlia, houver uma repblica, isso acontecer quando a ameaa crescente do socialismo
e do anarquismo tiver induzido a burguesia a tentar jogar a ltima cartada com a
finalidade de iludir e refrear o povo (Ibid., p. 162). Essa relao de fora eliminada
sem maiores consideraes pela lgica que desqualifica a monarquia pretendendo
encontrar no constitucionalismo a garantia contra o perigo de retrocesso; resulta dessa
lgica no o reforo efetivo da liberdade poltica, mas das instituies fundadas contra
o instituto monrquico. Por essa razo, segundo Malatesta, o remdio contra os perigos
de retrocesso suscitar no povo o sentimento de rebelio e resistncia, inspirar-lhes
a conscincia dos seus direitos e da sua fora, habitu-lo a agir por si, a ter vontade
prpria, a conquistar pela fora a maior liberdade e bem estar possveis, e ele diz,
sobretudo no habitu-lo a no voltar a dar virgindade ao sistema parlamentar, o qual
voltaria a percorrer a mesma parbola de decadncia que j percorreu uma vez (Ibid.,
p. 170). O que est em questo, portanto, nessa lgica da desqualificao reativada
pelo advento do regime fascista, so todas as chances de renovao da autoridade do
governo na sua forma democrtica.
Malatesta notou como
os governos ditatoriais que predominam na Itlia, na Espanha, na Rssia, e que provocam a
invdia e o desejo das fraes mais reacionrias ou mais pvidas dos diversos pases, esto
fazendo da j exaurida democracia uma espcie de nova virgem. Por isso vemos velhos
defensores do governo, habituados a todas as ms artes da poltica, responsveis por
represses e por massacres contra o povo, fingirem-se ao contrrio, quando no lhes falta a
coragem, de homens de progresso e procuram assegurar o prximo futuro em nome da
idia liberal. E, dada a situao, podero at mesmo conseguir (1975[250], p. 45).
Estava claro que o fascismo na sua verso esquadrista, ao produzir uma
situao poltica pautada pela guerra civil generalizada, era incapaz de estabelecer-se
como regime poltico duradouro sob pena de dissolver a vida social e de tornar
impossvel a prpria vida material. Porm, o que parecia menos evidente que o re-
346
estabelecimento da ordem liberal no seria outra coisa que o retorno s condies
anteriores guerra, ou seja, o retorno a um estado de opresso temperada, duradouro
porque suportvel, faria restabelecer as mesmas condies que em breve, atravs de
novas guerras e novas convulses, reproduziria a catstrofe atual (Ibid., 1975[239], p.
22). Por isso Malatesta considerou a ditadura, fascista ou no, odiosa tambm porque
faz desejar a democracia, provoca seu retorno e com isso tende a perpetuar essa
oscilao da sociedade humana entre uma franca e brutal tirania a uma pretensa
liberdade falsa e mentirosa (Ibid., 1975[250], p. 46-47). nesse momento que
Malatesta arruna o golpe de fora terico liberal mencionado por Foucault, que
pretendia conferir positividade ao Estado de direito. Da sua anlise comparativa,
resultava a afirmao paradoxal segundo a qual entre o parlamentarismo que se aceita
e celebra como se fosse uma meta intransponvel, e o despotismo que se suporta,
porque a tal se forado, com o esprito absorto pela desforra, mil vezes melhor o
despotismo (MALATESTA, 2001, p. 13). Porm, uma atitude que no deve ser
confundida com quanto pior melhor ou com tudo ou nada, no catastrofismo
ingnuo nem lirismo radical. Adversrio irredutvel do regime parlamentar e
democrtico, Malatesta no considerava menos absurda a tirania. Sei, todos os
anarquistas sabem, que a liberdade e as garantias constitucionais valem pouqussimo
para a maioria e quase nada para os pobres. Mas no gostaria, por isso, fazer-me
defensor do governo absoluto. Conheo, por exemplo, os erros que se cometem nas
delegacias de polcia e nas casernas da Itlia, conheo toda infmia dos mtodos
vigentes da Instrutoria Penal, mas nem por isso gostaria o estabelecimento oficial da
tortura e das execues em processo (Ibid., 1975[161], p. 51). Do mesmo modo,
considerava um absurdo sustentar que todos os governos se equivalem. No existe, na
sociedade como na natureza, nada que seja perfeitamente equivalente. No somente
existe diferena entre uma forma de governo e outra, entre um ministrio e outro, mas
tambm entre um esbirro e outro; e essas diferenas tm a sua influncia, boas ou
ruins, sobre a vida atual dos indivduos e da sociedade, como sobre o curso dos
347
eventos futuros (Ibid., 1975[187], p. 113); e afirmou no ter dvidas, para ele, de
que a pior das democracias sempre prefervel, exceto do ponto de vista educativo,
melhor das ditaduras. Claro, a democracia, o assim chamado governo do povo uma
mentira, mas a mentira sempre compromete um pouco o mentiroso, limitando seu
arbtrio; claro, o povo soberano um soberano de comdia, um escravo com coroa e
cetro de papel, mas o fato de se crer livre, mesmo sem s-lo, vale sempre mais que
saber-se escravo e aceitar a escravido como coisa justa e inevitvel (Ibid.,
1975[250], p. 46, grifos meus). A pior democracia sempre prefervel melhor das
ditaduras, porm, exceto do ponto de vista educativo. Para Malatesta, a democracia
continha um elemento que a tornava potencialmente perigosa e mais liberticida que a
pior das ditaduras, esse elemento era sua continua capacidade de renovao
estratgica. Assim, se a ditadura era tirania declarada, a democracia, dizia, a tirania
mascarada, provavelmente mais danosa que uma franca ditadura, porque d s pessoas
a iluso de estar em liberdade e, portanto, tem a possibilidade de durar mais (Ibid.,
1975[87], p. 221). Por essa razo, o prisma reflexivo no deve tomar como referncia
os graus de violncia que podem existir entre democracia e ditadura ou a maior ou
menor liberdade que cada um desses regimes capaz de garantir; porque,
simplesmente um governo estabelecido, fundado no consenso passivo da maioria,
forte pelo nmero, pela tradio, pelo sentimento, as vezes sincero quando em estado
de direito, pode deixar qualquer liberdade, pelo menos at que as classes privilegiadas
no sintam-se em perigo (Ibid., 1975[332], p. 232), do mesmo modo que o governo
que se sinta verdadeiramente forte, moralmente ou materialmente, pode desdenhar do
recurso violncia (Ibid., 1975[347], p. 270). No so os graus de violncia e
liberdade que estabelecem os limites para ao dos governos; ao contrrio, mais um
governo ser fraco quanto mais forte for a resistncia que ele encontra no povo e
quanto maior a liberdade, maior a possibilidade de progredir (Ibid., 1982[5], p. 81).
A liberdade e a violncia de um governo esto em razo direta com a fora de
resistncia que os governados so capazes de opor, no pertencem nem so atributo do
348
Estado de direito. Desse modo, entre Constituinte e Ditadura existe simples diferena de
grau. A ditadura capa de chumbo: a supresso aberta, descarada de toda liberdade,
contra a qual no existe outra resistncia que a conspirao e a revolta armada. (...) A
constituinte, em razo do confronto e da luta entre os partidos, tem necessidade, at
quando um dos partidos no se aposse do poder, de apelar ao consenso da maioria, de
ter em conta a corrente de opinies que se agita entre as massas populares e por isso
pode deixar aberta espirais liberdade (Ibid., 1975[292], p. 141-142). No obstante,
preciso ter sempre presente que a constituinte tambm o meio pelo qual recorrem as
classes privilegiadas, quando no possvel a ditadura, para impedir a revoluo ou,
quando a revoluo comeou, para impedir o seu curso com o pretexto de legaliz-la e
para subtrair do povo o quanto possvel das conquistas realizadas no perodo
revolucionrio. De maneira que se a ditadura oprime e mata, a constituinte
adormece e sufoca (Ibid., 1975[369], p. 358).
Todavia, Malatesta confere uma importncia particular democracia e
constituinte como estratgias de governo. Considera que entre vrios tipos de governo,
os mais honestos, os mais bem intencionados, so os mais danosos. Um bando de
ladres no poder suscita o nojo e cai sob a prpria runa que provocou (...); um general
violento e torturador provoca a ira e a insurreio dos mais energticos como tambm
a piedade das massas passivas; ao contrrio, um fantico de boa f, (...), na medida em
que produz todos os males dos ladres e dos violentos, comanda, para a pureza da vida
e pela sinceridade da sua f, o respeito geral (Ibid., 1975[247], p. 40-41). Nesse
sentido, preciso considerar o liberal Nitti mais perigoso, porque mais hbil, do que
muitos generais com ou sem uniforme. Ele certamente mais inteligente, mais culto e
mais hbil, em outras palavras, mais perigoso para o progresso e para a emancipao
humana. No temos a iluso que o regime burgus, chegado ao absurdo pelo seu
desenvolvimento, cair fatalmente pela necessidade das coisas. Se os trabalhadores
no souberem destru-lo, ele encontrar sempre um modo de prosseguir, e Nitti o
349
homem apto para combinar astcia e violncia com o objetivo de fazer durar o regime
(Ibid., 1975[176], p. 79).
Quando o fascismo instalou-se no poder, Malatesta afirmou que
toda hipocrisia, toda iluso foi banida: o bom fascista agride, incendeia, extorque, assassina
abertamente e com orgulho, rgo sustentado pelo governo. No existe mais equvoco.
Entende-se agora que violncia autoridade, governo, tirania e que coisa puramente
acidental o fato de que o violento uma vez ou outra amigo ou inimigo do policial, porque
no fundo a moral dos dois a mesma. E hoje acontece, com efeito, que os violentos, ainda
no sendo fascistas, quando comentem uma prepotncia, orgulham-se de agir
fascisticamente (Ibid., 1975[275], p. 103).
Era necessrio olhar as coisas de um ponto de vista mais elevado, fazendo
perder as pequenas diferenas entre liberalismo e fascismo. Para Malatesta, os liberais
so reacionrios de estirpe, defensores conscientes e inteligentes da ordem burguesa
vigente; no tocam em nenhum organismo estatal destinado para a proteo dos
privilgios sociais a no ser para consolid-lo. So capazes de tudo: desde leis
liberticidas violao das prprias leis feitas por eles mesmos, desde os estados de
assdio at os massacres. Porm, so dotados do senso de limite que os faz alheios a
certos excessos que poderiam ser danosos sua causa. Habituados ao domnio da sua
classe a ponto de acredit-lo justo, necessrio e perptuo, possuem aquela relativa
moderao que resulta do sentimento de segurana. So, geralmente, na vida ordinria,
pessoas educadas e corteses, e podem ser tambm subjetivamente honestos na medida
em que acreditam s-lo. Ao contrrio, os fascistas so soldados aventureiros
recrutados pela alta burguesia. (...) refugos de todos os partidos, traidores sempre
prontos a traio, gente habituada a ser comandada (...) e a vingar sobre os fracos as
humilhaes sofridas e provocadas pelos fortes, violentos por temperamento, no so
contidos por nenhum escrpulo moral e nenhuma exigncia intelectual. Todavia,
apesar disso, apesar dessas diferenas morais e intelectuais existentes entre
constitucionalistas e fascistas,
350
politicamente falando, ou seja, considerados do ponto de vista da sua ao social, devemos
dizer que eles pertencem ao mesmo campo. No fundo, no h mais diferena entre eles do
que a que existiria entre um ministro do interior, que ordenasse aos seus inferiores de
manter a qualquer custo a chamada ordem, (...) e os esbirros que aproveitassem da ordem
recebida para praticarem seus maus instintos e cometer excessos que comprometeriam a
prpria ordem que tm a misso de defender. (...) Para ns, portanto, constitucionais e
fascistas, Mussolini, Albertini, Giolitti, Nitti, Amendola e outros Salandra, so, de cima a
abaixo, a mesma coisa: defensores do privilgio e de todas as torpezas que dele deriva. E
quase nos perguntamos se, em vista do futuro, para a mais solcita emancipao da massa
oprimida, no convenha melhor o regime fascista que no pode durar e que, com os seus
excessos e a dana de So Vito de que sofre seu chefe, conduz runa as instituies, ao
invs de um regime verdadeiramente constitucional que, com habilidade e moderao,
poderia talvez, prolongar a vida das instituies (Ibid., 1975[285], p. 125-126-127).
Portanto, para Malatesta os anarquistas esto sempre prontos a dar seu
concurso a quem queira abater o fascismo, porm permanecendo sempre anarquistas,
sem entrar em nenhuma espcie de aliana com constitucionais e atentando sempre
aos seus objetivos (Ibid., 1975[285], p. 127).
Malatesta morreu aos 79 anos no dia 22 de julho de 1932. A casa onde
habitava, em Roma, era vigiada por quatro policiais fascistas que jamais tocaram em
um nico fio de cabelo seu, mas que o seguia por toda parte vinte e quatro horas por
dia. O fascismo no permitiu funeral, seu corpo foi transportado em carro funerrio de
3 classe e foi unicamente acompanhado de sua companheira e afilhada. No cemitrio,
uma cruz e dois policiais fascistas foram plantados sobre sua tumba. Malatesta era
temido pelo regime fascista mesmo depois de morto.
351
concluso
Quem sabe um dia o anarquismo seja esquecido, sua existncia sem rosto
estar fechada em si mesmo. Aqueles que eventualmente olharo para sua histria, no
compreendero o motivo de tanto alvoroo e as razes de tanto barulho. Suas figuras
sero como marcas negras difceis de decifrar. Ele estar para sempre perdido aos
olhares ignorantes, que no sabero colher nele a no ser sua configurao mais
pattica. Nesse dia, Proudhon e Malatesta, ao lado de outras personagens mais ou
menos banais, faro finalmente parte do panteo da literatura erudita e da grande
confraria do saber universal. Seus discursos, produtos de uma frgil contingncia, ditos
no correr dos dias e das relaes corriqueiras, sero fixados para serem
indefinidamente pronunciados e para dizer sempre mais, como se conservassem
sempre um segredo possvel de ser revelado. provvel que sejam ainda vistos, por
algum tempo, com um certo exotismo, algum que tentou acabar com a propriedade
ou que desafiou o fascismo; mas sero sempre excentricidades que escaparo
coerncia do conjunto. No se saber nada de suas batalhas, nem das vidas nelas
consumidas. O anarquismo tornar-se- um enigma a ser decifrado para a diverso de
alguns poucos curiosos.
Fato que esse momento de jbilo do poder jamais existiu e difcil
imaginar um ponto no futuro em que se realize. E se a anarquia, na sua existncia
errante, no se afirmou como utopia, foi porque suas prticas foram sempre
diferenciadas, heterotpicas como sugeriu PASSETTI (2007, p. 66), atitudes-limite
352
que se distanciam dos padres de normalidade. O anarquismo, como prtica
heterotpica, aparece sempre no improvvel subvertendo relaes homlogas.
Prescinde das formas de rigidez poltica e dos estados de precariedade econmica. Os
operrios atravessados pelo pauperismo do sculo XIX encontraram sempre uma nova
atualizao sob formas diversas, o no future! punk das periferias tornadas campos de
concentrao foi uma delas.
Todavia, muitos especialistas em anarquismo, inimigos dos anarquismos e da
anarquia, aps o fim dos regimes totalitrios, sonharam com essa dobra do tempo em
que a mistura insidiosa de astcia governamental e bem-estar econmico viria
finalmente recobrir as experincias da anarquia, apagar a memria de suas lutas,
colonizar seus discursos solitrios e corriqueiros. Mas esse tempo no veio e quando a
dobra foi desfeita, compreendeu-se que o advento das democracias no significou o
abrandamento do poder poltico e a eliminao do que nele havia de fascismo; a
experincia desdobrada do anarquismo, mostrou uma nova imagem de poder
exercendo-se com dispositivos de controle quase imperceptveis que permitiram sua
instalao no plano dos desejos e dos saberes. Os totalitarismos trouxeram consigo
uma vontade de governo que as democracias praticaram quase como a realizao da
utopia fisiocrata do self-government. O desejo sempre mais acalentado de democracia
retirou, e retira ainda hoje, seu alimento da m conscincia ocidental: a imagem dos
arames farpados cortando os cus e da luz dos holofotes projetada sobre corpos
esqulidos continuar sendo, talvez ainda por muito tempo, o canto de sereia das
democracias. Torna-se democrtico quase sem o saber ou sabe-se com preciso o que
no suficientemente democrtico. Em todo caso, considerando o funcionamento
poltico desses saberes, quais jogos de foras esto implcitos nesses brados de
democracia e nessa vontade insacivel de governo to caractersticos da nossa
atualidade?
Os anos 1960, ao formularem a questo como se libertar de uma sociedade
que cumpre o que prometeu para uma grande parte das pessoas?, gritaram por
353
direitos e pela afirmao das inmeras formas de subjetividade. A resposta veio com
os pavs atirados contra as viaturas de polcia em 1968. Nos anos 1980, a questo que
se formulou foi outra: como nos liberar de ns mesmos? Da nossa identidade, da
pletora de direitos que recobriu nossa individualidade?. Ao que parece, os vidros das
viaturas continuaram intactos, talvez porque a polcia no estava mais l..., talvez
porque a individualidade no foi suficientemente des-subjetivizada.
Governo e anarquia devem um ao outro a densidade de seu ser, ao reagirem
mutuamente. No a falsa reao do ressentimento, mas o sim triunfante que, dito a si
mesmo, rejeita o outro. O governo no o mundo oposto e exterior da anarquia, do
qual retira estmulos para uma ao que depois se descobre reao. A reao anrquica
ao governo se exauri e tem consumo imediato. Mas, a anarquia precisa do governo
para afirmar a si mesma, como se no pudesse ter uma existncia plena fora dessa
realidade que a atravessa e a nega. O que seria feito da anarquia antes do governo, ou
depois dele? Diga-se da anarquia o que Foucault disse da transgresso. Entre governo
e anarquia existe uma espcie de ponto ou de cruzamento, fora do qual certamente no
podem existir, mas que tambm transforma completamente o que so e os ultrapassa.
O governo, operando a glorificao do que exclui, abre violentamente para a anarquia,
ameaado pelo prprio contedo que rejeita. A anarquia, introduzindo o governo no
centro de sua crtica, incita-o a querer sua eliminao e encontra sua verdade positiva
nesse movimento que o da sua prpria desapario. Nesse movimento, a anarquia
no pode se desencadear seno na direo do que a encadeia. Contra o que ela dirige
sua violncia e a que vazio deve a livre plenitude do seu ser seno quele mesmo que
ela atravessa com seu gesto violento e que se destina a barrar no trao que ela apaga?
(FOUCAULT, 2001a, p. 33).
O exerccio do governo foi uma das atividades humanas que mais provocou
reflexo e agitao nas sociedades ocidentais. Talvez tenha sido a que mais fascinou os
espritos, que mais despertou dios e excitou desejos. O governo foi um dos
empreendimentos que, sem dvida, mais produziu prazer e saber. Do que feita a
354
realidade dessa atividade to singular? Proudhon afirmou que na realidade do poder
no se encontra outra coisa alm de fora. Todos os seres, na medida em que
constituem um grupo, possuem em si mesmo, a um grau qualquer, a capacidade de
atrair ou de ser atrado, de pensar, de produzir ou, pelo menos, de resistir com sua
inrcia, s influncias exteriores. Essa capacidade constitui sua fora. Ela inerente e
imanente aos seres. A mecnica dessa fora, seu agrupamento, sua aglomerao e seu
direcionamento, forma a base do poder poltico. Assim, aquilo que produz o poder na
sociedade o mesmo que produz a fora e a realidade dos corpos: uma relao. Mas
uma relao comutativa. No momento em que deixa de ser comutativa, no momento
em que instaurado o desequilbrio nessa relao entre as foras, surge o governo. Se
o poder imanente sociedade, como a atrao matria, o governo lhe , como
toda mecnica, artificial e exterior. No age por si mesmo, porque desprovido de fora
prpria, mas age por ajustamento.
Mas preciso se guardar das solues definitivas. Nietzsche afirmou como
seria um despropsito exigir da fora que no se expresse como fora, que no
contenha uma vontade de domnio, um querer-vencer, um querer-subjugar, uma sede
de inimigos, de resistncias e de triunfos. Nesse sentido, recusando ver um anarquista
adormecido em cada ser, Malatesta perguntou se, ao contrrio, no seria mais exato
afirmar que todo ser um tirano em potencial, na medida que lhe imanente esse
querer-crescer e a rejeio dos impedimentos. Dizia que a vontade de deixar crescer
tambm o outro, prpria do anarquista, uma disposio tica. Haver, portanto,
sempre um certo grau de governo, que sempre produzir graus de anarquia. Proudhon
se divertia respondendo os contraditores que o chamavam de demolidor admirvel;
dizia-lhes que nada proporia em substituio propriedade, ao governo etc.,
precisamente porque no entendia suprimir nada daquilo que criticava resolutamente.
A anarquia no apaga o governo, afirma-se resistindo. Cuida para que a desmesura
seja contida por sua existncia extrema. O que no quer dizer que o melhor governo
seja o que menos governa. Onde h governo h juzo, no se trata de questo de
355
medida. Proudhon, levando a srio as palavras, dizia que reinar e julgar so sinnimos
na lngua hebraica. Tambm os gregos, generalizando um pouco as coisas,
apresentavam essa idia: Homero chamou os reis de pomenas lan e kosmtoras lan,
pastores e edificadores de naes, ou seja, uma potncia indivisvel. Governar e julgar
so indissociveis; entre outras coisas, o que torna essa atividade odiosa
(compreende-se que essa sordidez em um alto grau produza o Ubu, o grotestco, o
ogro-Dulce). Assim, seria melhor dizer que o menor governo aquele contra o qual se
contrape maior resistncia.
O que ocorre quando se governado ou se resiste ao governo? Forma-se um
campo possvel de liberdade. Aumenta ou diminu a fora, porque o governo tambm
uma atividade moral intensificada. Algum perguntou Malatesta se o ato pelo qual o
proprietrio obriga algum a no pagar aluguel autoritarismo. No ser preciso,
certamente, recorrer fora para fazer-se obedecer, j que faz o que seu inquilino
deseja. Mas, nesse caso, como o no pagamento do aluguel no resulta da rebelio,
mas de um ato de obedincia, incapaz de aumentar a fora e, consequentemente, o
bem-estar material. Quem no paga porque foi para isso ordenado, pagar depois
docilmente o dobro ao mesmo proprietrio ou a um outro quando novamente lhe for
ordenado (MALATESTA, 1975[379], p. 403-404). Por essa razo, preciso evitar ver
a fora como fenmeno fsico, ela tambm moral. As prticas de governo no esto
ligadas apenas ao governo dos outros, mas ao governo de si mesmo e procura formar,
mobilizar, modelar desejos, aspiraes, necessidades, interesses. O governo uma
atividade que conecta poltica, administrao, corpo, vida, subjetividade,
individualidade. Por isso a governamentalidade compreendida como o ponto em que
se cruzam tecnologias de dominao exercidas sobre os outros e tcnicas de si
exercidas sobre si mesmo.
Nessa direo seria preciso correlacionar anarquia e governamentalidade.
Para caracterizar qual foi a configurao que tomaram as relaes de poder em nossa
atualidade, seria necessrio investigar o que ocorreu no campo das resistncias. Trata-
356
se menos de uma questo terica, uma atitude poltica que diz respeito a uma parte,
seno a mais importante, ao menos considervel da nossa prpria existncia. Uma
caracterstica do governo, a mais brutal, a de fazer a autoridade questionar a si
mesma, desenvolver amplas formas de saber e modos de fazer, adotar vises e
objetivos. O fascismo e o nazismo, o welfare-state e, antes dele, o socialismo de
Estado etc., foram algumas dessas formas. A pergunta a ser colocada hoje seria: qual
forma inconfessa de poder nos capturou em determinado momento da nossa prpria
histria? Como se articulou, surda e silenciosamente, a atual configurao do poder?
preciso evitar a fascinao, prpria dos ltimos dois sculos, em relao
vontade de governo. Fascinao que foi o produto dos jogos entre Revoluo e Estado,
que levaram da revoluo para o Estado melhor e do bom Estado para a Revoluo.
Talvez bastasse hoje se opor s prticas de governo, aceitando o fato de que, sejam
quais forem as deficincias que o provoca, a emancipao possvel no ser jamais
global.
357
bibliografia
1. escritos de Errico Malatesta:
MALATESTA, E. (1883a). Situazione. La Questione Sociale, Florena, n 1, ano I, 22/dez.
_____. (1883b). Questione Sociale e Socialismo. La Questione Sociale, Florena, n 1, ano
I, 22/dez.
_____. (1884a). La repubblica dei giovanetti e quella degli uomini colla barba. La
Questione Sociale, Florena, n 3, ano I, 05/jan.
_____. (1884b). Quello che noi non dobbiamo dimenticare. La Questione Sociale, Florena,
n 4, ano I, 12/jan.
_____. (1884c). L'Anarchia. La Questione Sociale, Florena, n 9, ano I, 11/mai.
_____. (1884d). Ancora della massoneria. La Questione Sociale, Florena, n 10, ano I,
18/mai.
_____. (1884e). L'Anarchia. La Questione Sociale, Florena, n 10, ano I, 18/mai.
_____. (1884f). La sovranit popolare. La Questione Sociale, Florena, n 11, ano I, 25/mai.
_____. (1885a). L'Anarchia. La Questione Sociale, Buenos Aires, ano I, n 2, 04/out.
_____. (1885b). Evoluzione o rivoluzione? La Questione Sociale, Buenos Aires, ano I, n 8,
15/nov.
_____. (1885c). Un fattore della rivoluzione sociale La Questione Sociale, Buenos Aires,
ano I, n 8, 15/nov.
_____. (1885d). Evoluzione o rivoluzione? La Questione Sociale, Buenos Aires, ano I, n 9,
22/nov.
_____. (1889a). Programma. LAssociazione, Nice-Martima, ano I, n 1, 08/set.
_____. (1889b). L'indomani della Rivoluzione: I, Autorit e Organizzazione.
LAssociazione, Nice-Martima, ano I, n 2, 16/out.
_____. (1889c). La propaganda a fatti. LAssociazione, Nice-Martima, ano I, n 2, 16/out.
_____. (1889d). La sommossa non Rivoluzione. LAssociazione, Nice-Martima, ano I, n
3, 27/out.
_____. (1889e). L'indomani della Rivoluzione: II, La misura del valore e le commissioni di
statistica. LAssociazione, Nice-Martima, ano I, n 3, 27/out.
_____. (1889f). Il Duello. LAssociazione, Nice-Martima, ano I, n 3, 27/out.
_____. (1889g). Nostri Propositi: II, L'Organizzazione. LAssociazione, Londres, ano I, n
5, 07/dez.
358
_____. (1889h). Il furto. LAssociazione, Londres, ano I, n 5, 07/dez.
_____. (1889i). Ancora del furto. LAssociazione, Londres, ano I, n 6, 21/dez.
_____. (1889j). Contribuizione allo studio della questione del furto [resposta Francesco
Saverio Merlino]. LAssociazione, Londres, ano I, n 6, 21/dez.
_____. (1900a). La lotta per la vita. Egoismo e solidariet. LAssociazione, Londres, ano I,
n 7, 23/jan.
_____. (1900b). Questione tecnica. A proposito di bombe. LAssociazione, Londres, ano I,
n 7, 23/jan.
_____. (1907). "Il Congresso Anarchico Internazionale di Amsterdam". Il Pensiero: rivista
quindicinale di sociologia, arte e letteratura, Roma, a. V, n 20-21, 16/out-1/nov. p. 321-325.
_____. (1913a). "Quel che vogliamo". Volont, Ancona, ano I, n 1, 08/jun.
_____. (1913b). "Anachismo riformista (per intenderci)". Volont, Ancona, ano I, n 11,
24/ago.
_____. (1913c). "Riforme e rivoluzione [resposta a Libero Merlino]". Volont, Ancona, ano I,
n 12, 30/ago.
_____. (1913d). "Rivoluzione o riforme [resposta a Libero Merlino]". Volont, Ancona, ano I,
n 14, 13/set.
_____. (1913e). "Insurrezionismo o Evoluzionismo?". Volont, Ancona, ano I, n 21, 01/nov.
_____. (1913f). "'Anarchismo' riformista". Volont, Ancona, ano I, n 21, 01/nov.
_____. (1913g). "Libert e fatalit. Determinismo e volont". Volont, Ancona, ano I, n 24,
22/nov.
_____. (1913h). "La volont (ancora intorno al tema 'Scienza e riforma sociale')". Volont,
Ancona, ano II, n 1, 03/jan.
_____. (1913i). Ancora sull'Educacionismo (per intenderci). Volont, Ancona, ano I, n 26,
06/dez.
_____. (1914a). Gli Anarchici hanno dimenticato i loro principi. Volont, Ancona, ano II, n
42, 28/nov.
_____. (1914b). Due lettere di Malatesta. Volont, Ancona, ano II, n 46, 26/dez.
_____. (1914c). Antimilitarismo. Volont, Ancona, ano II, n 46, 26/dez.
_____. (1914d). Intorno alla vecchia Internazionale. Volont, Ancona, ano II, n 11, 14/mar.
_____. (1914e). Anarchismo e sindacalismoVolont, Ancona, ano II, n 15, 11/abr.
_____. (1915). Mentre la strage dura. Volont, Ancona, ano III, n 14, 03/abr.
_____. (1933). Lo Sciopero. Dramma in 3 atti. Genebra: Libreria del Risveglio.
359
_____. (1975[1]). Le leggi storiche e la rivoluzione. Volont, Npoles, ano XXVIII, n. 2,
mar/abr, p. 133-135.
_____. (1975[2]). Arrestiamoci sulla china. Volont, Npoles, ano XXVIII, n. 6, nov/dez, p.
412-415.
_____. (1975[3]). "I nostri propositi". UN, Milo, n. 1, 27/02/1920. In:_____. Scritti. Carrara:
Movimento Anarchico Italiano. p. 29-33. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[4]). "Produrre". UN, Milo, n. 8, 07/03/1920. In:_____. Scritti. Carrara:
Movimento Anarchico Italiano. p. 33-35. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[5]). "L'alleanza rivoluzionaria". UN, Milo, n. 13, 13/03/1920. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 35-39. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[6]). "Perch non prima?". UN, Milo, n. 16, 17/03/1920. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 39-40. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[7]). "Repubblica sociale". UN, Milo, n. 29, 01/04/1920. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 40-42. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[8]). "Azione Parlamentare". UN, Milo, n. 30, 02/04/1920. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 42-43. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[9]). "Il mio ritorno in Italia". UN, Milo, n. 31, 03/04/1920. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 43-44. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[10]). "L'organizzazione operaia". UN, Milo, n. 32, 04/04/1920. In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 44-45. 1 volume: Umanit Nova
1920/1922.
_____. (1975[11]). "Fronte nico proletario". UN, Milo, n. 35, 08/04/1920. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 45-47. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[12]). "Azione e disciplina". UN, Milo, n. 38, 11/04/1920. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 47-50. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[13]). "Rivoluzione cosciente. . . o l'abisso". UN, Milo, n. 41, 15/04/1920.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 51-52. 1 volume: Umanit Nova
1920/1922.
_____. (1975[14]). "Se la facessero finita!". UN, Milo, n. 42, 16/04/1920. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 53. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[15]). "Sulla buona strada". UN, Milo, n. 45, 20/04/1920. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 53-54. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[16]). "Questione di onest - Noi ed i socialisti". UN, Milo, n. 47, 22/04/1920.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 54-56. 1 volume: Umanit Nova
1920/1922.
_____. (1975[17]). "La Terza Internazionale". UN, Milo, n. 49, 24/04/1920. In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 56-57. 1 volume: Umanit Nova
1920/1922.
360
_____. (1975[18]). "Noi ed i repubblicani". UN, Milo, n. 50, 25/04/1920. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 57-60. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[19]). "Amore e odio". UN, Milo, n. 51, 27/04/1920. In:_____. Scritti. Carrara:
Movimento Anarchico Italiano. p. 60-61. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[20]). "Gli anarchici ed i socialisti. Affinit e contrasti". UN, Milo, n. 55,
01/05/1920. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 62-67. 1 volume:
Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[21]). "Vogliono dunque proprio che li trattiamo da poliziotti?". UN, Milo, n.
58, 06/05/1920. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 67-68. 1
volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[22]). "Noi ed i mazziniani". UN, Milo, n. 61, 09/05/1920. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 68-72. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[23]). "Governo e sicurezza pubblica". UN, Milo, n. 63, 11/05/1920. In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 72-73. 1 volume: Umanit Nova
1920/1922.
_____. (1975[24]). "La questione della terra I". UN, Milo, n. 66, 15/05/1920. In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 73-75. 1 volume: Umanit Nova
1920/1922.
_____. (1975[25]). "La questione della terra II". UN, Milo, n. 69, 19/05/1920. In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 75-79. 1 volume: Umanit Nova
1920/1922.
_____. (1975[26]). "La questione della terra III". UN, Milo, n. 84, 05/06/1920. In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 79-81. 1 volume: Umanit Nova
1920/1922.
_____. (1975[27]). "Rapporti tra socialisti e anarchici". UN, Milo, n. 66, 15/05/1920.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 82-83. 1 volume: Umanit Nova
1920/1922.
_____. (1975[28]). "Ancora sulla repubblica". UN, Milo, n. 71, 21/05/1920. In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 83-85. 1 volume: Umanit Nova
1920/1922.
_____. (1975[29]). " roba vostra!". UN, Milo, n. 88, 10/06/1920. In:_____. Scritti. Carrara:
Movimento Anarchico Italiano. p. 85-86. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[30]). "Necessit del comunismo". UN, Milo, n. 93, 16/06/1920. In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 86-87. 1 volume: Umanit Nova
1920/1922.
_____. (1975[31]). "Gli anarchici ed il movimento operaio". UN, Milo, n. 94, 17/06/1920.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 88-90. 1 volume: Umanit Nova
1920/1922.
_____. (1975[32]). "Non comprare!". UN, Milo, n. 96, 19/06/1920. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 90-91. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
361
_____. (1975[33]). "L'oro straniero". UN, Milo, n. 96, 19/06/1920. In:_____. Scritti. Carrara:
Movimento Anarchico Italiano. p. 91-92. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[34]). "Anarchismo e dittatura". UN, Milo, n. 96, 19/06/1920. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 93-95. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[35]). "Ancora sulla distruzione delle messi". UN, Milo, n. 97, 20/06/1920.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 95. 1 volume: Umanit Nova
1920/1922.
_____. (1975[36]). "Impudenti!". UN, Milo, n. 101, 25/06/1920. In:_____. Scritti. Carrara:
Movimento Anarchico Italiano. p. 95-96. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[37]). "'Tanto peggio, tanto meglio'". UN, Milo, n. 102, 26/06/1920. In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 96-98. 1 volume: Umanit Nova
1920/1922.
_____. (1975[38]). "'Il socialismo dei pazzi'". UN, Milo, n. 103, 27/06/1920. In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 98-101. 1 volume: Umanit Nova
1920/1922.
_____. (1975[39]). "Rivolte e rivoluzione". UN, Milo, n. 117, 14/07/1920. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 101-103. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[40]). "Le leggi storiche e la rivoluzione". UN, Milo, n. 120, 17/07/1920.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 103-106. 1 volume: Umanit
Nova 1920/1922.
_____. (1975[41]). "Ancora su anarchismo e comunismo". UN, Milo, n. 121, 18/07/1920.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 106-109. 1 volume: Umanit
Nova 1920/1922.
_____. (1975[42]). "Che cosa la Terza Internazionale?". UN, Milo, n. 122, 20/07/1920.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 109-110. 1 volume: Umanit
Nova 1920/1922.
_____. (1975[43]). "La base fondamentale dell'anarchismo". UN, Milo, n. 127, 25/07/1920.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 110-113. 1 volume: Umanit
Nova 1920/1922.
_____. (1975[44]). "Le due vie - riforme o rivoluzione? Libert o dittatura?, I". UN, Milo, n.
136, 05/08/1920. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 113-117. 1
volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[45]). "Le due vie - riforme o rivoluzione? Libert o dittatura?, II". UN, Milo,
n. 142, 12/08/1920. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 117-119. 1
volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[46]). "Le due vie - riforme o rivoluzione? Libert o dittatura?, III". UN, Milo,
n. 145, 15/08/1920. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 119-123. 1
volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[47]). "Le assicurazioni statali". UN, Milo, n. 137, 06/08/1920. In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 123-124. 1 volume: Umanit Nova
1920/1922.
362
_____. (1975[48]). "La preparazione insurrezionale ed i partiti sovversivi". UN, Milo, n.
138, 07/08/1920. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 125-127. 1
volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[49]). "Fra anarchici e socialisti". UN, Milo, n. 153, 25/08/1920. In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 127-130. 1 volume: Umanit Nova
1920/1922.
_____. (1975[50]). "Insurrezione, libert e dittatura". UN, Milo, n. 155, 27/08/1920.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 131-134. 1 volume: Umanit
Nova 1920/1922.
_____. (1975[51]). "Lotta economica e solidariet". UN, Milo, n. 158, 31/08/1920. In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 134-139. 1 volume: Umanit Nova
1920/1922.
_____. (1975[52]). "La questione del riconoscimento ufficiale del governo russo. Rivoluzione
e diplomazia". UN, Milo, n. 160, 02/09/1920. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento
Anarchico Italiano. p. 139-143. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[53]). "Ancora su comunismo e anarchia". UN, Milo, n. 163, 05/09/1920.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 143-146. 1 volume: Umanit
Nova 1920/1922.
_____. (1975[54]). "Facce toste!". UN, Milo, n. 165, 08/09/1920. In:_____. Scritti. Carrara:
Movimento Anarchico Italiano. p. 146-150. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[55]). "Riforme e rivoluzione". UN, Milo, n. 167, 10/09/1920. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 150-153. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[56]). "Il movimento dei metallurgici". UN, Milo, n. 167, 10/09/1920.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 153. 1 volume: Umanit Nova
1920/1922.
_____. (1975[57]). "Agli operai metallurgici". UN, Milo, n. 167, 10/09/1920. In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 154-155. 1 volume: Umanit Nova
1920/1922.
_____. (1975[58]). "Maggioranze e minoranze". UN, Milo, n. 168, 11/09/1920. In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 155-157. 1 volume: Umanit Nova
1920/1922.
_____. (1975[59]). "'Senza spargere uma goccia di sangue'". UN, Milo, n. 170, 13/09/1920.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 157-158. 1 volume: Umanit
Nova 1920/1922.
_____. (1975[60]). " vero, o non vero?'". UN, Milo, n. 172, 16/09/1920. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 158-160. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[61]). "La propaganda del compagno E. Malatesta". UN, Milo, n. 172,
16/09/1920. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 160-161. 1 volume:
Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[62]). "Il controllo sindacale sulle aziende". UN, Milo, n. 175, 19/09/1920.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 161-164. 1 volume: Umanit
Nova 1920/1922.
363
_____. (1975[63]). "Tutto non finito!". UN, Milo, n. 177, 22/09/1920. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 164-165. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[64]). "Verso l'anarchia". UN, Milo, n. 178, 23/09/1920. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 165-168. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[65]). "La propaganda di Errico Malatesta". UN, Milo, n. 178, 23/09/1920.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 168-169. 1 volume: Umanit
Nova 1920/1922.
_____. (1975[66]). "Il concetto di libert". UN, Milo, n. 179, 24/09/1920. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 169-171. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[67]). "Libert di stampa e produzione cosciente". UN, Milo, n. 181,
26/09/1920. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 171-172. 1 volume:
Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[68]). "Finalmente! Che cosa la 'dittatura del proletariato'". UN, Milo, n. 182,
28/09/1920. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 173-175. 1 volume:
Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[69]). "Il 'co-azionismo operaio'". UN, Milo, n. 184, 30/09/1920. In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 175-177. 1 volume: Umanit Nova
1920/1922.
_____. (1975[70]). "E se si mutasse bersaglio? (Nota ad un articolo di N. G. )". UN, Milo, n.
184, 30/09/1920. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 177-179. 1
volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[71]). "La psicosi autoritaria del Partito Socialista". UN, Milo, n. 187,
03/10/1920. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 179-182. 1 volume:
Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[72]). "Anche questa! A proposito di Massoneria". UN, Milo, n. 190,
07/10/1920. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 183-184. 1 volume:
Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[73]). "La dittatura di. . . Malatesta!". UN, Milo, n. 194, 12/10/1920. In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 184-186. 1 volume: Umanit Nova
1920/1922.
_____. (1975[74]). "Ricominciando: il compito dell'ora presente". UN, Roma, n. 112,
21/08/1921. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 187-190. 1 volume:
Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[75]). "Intorno al mio processo". UN, Roma, n. 113, 23/08/1921. In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 190-192. 1 volume: Umanit Nova
1920/1922.
_____. (1975[76]). "Intorno al mio processo. I: L'amor di patria". UN, Roma, n. 114,
24/08/1921. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 192-195. 1 volume:
Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[77]). "Intorno al mio processo. II: La violenza e la rivoluzione". UN, Roma, n.
115, 25/08/1921. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 195-198. 1
volume: Umanit Nova 1920/1922.
364
_____. (1975[78]). "Ancora del diritto penale nella rivoluzione". UN, Roma, n. 117,
27/08/1921. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 198-201. 1 volume:
Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[79]). "Mentitore!". UN, Roma, n. 119, 30/08/1921. In:_____. Scritti. Carrara:
Movimento Anarchico Italiano. p. 201-202. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[80]). "Comunismo e anarchismo". UN, Roma, n. 120, 31/08/1921. In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 202-204. 1 volume: Umanit Nova
1920/1922.
_____. (1975[81]). "La difesa sociale contro il delitto". UN, Roma, n. 122, 02/09/1921.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 204-208. 1 volume: Umanit
Nova 1920/1922.
_____. (1975[82]). "Socialisti e anarchici. La differenza essenziale". UN, Roma, n. 123,
03/09/1921. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 209-211. 1 volume:
Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[83]). "Ai compagni". UN, Roma, n. 124, 04/09/1921. In:_____. Scritti. Carrara:
Movimento Anarchico Italiano. p. 211. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[84]). "La 'fretta' rivoluzionaria". UN, Roma, n. 125, 06/09/1921. In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 212-214. 1 volume: Umanit Nova
1920/1922.
_____. (1975[85]). "Intorno al mio processo. III: La 'guerra civile'". UN, Roma, n. 127,
08/09/1921. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 214-217. 1 volume:
Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[86]). "Sulla questione del delitto". UN, Roma, n. 128, 09/09/1921. In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 217-218. 1 volume: Umanit Nova
1920/1922.
_____. (1975[87]). "Socialisti e anarchici". UN, Roma, n. 129, 10/09/1921. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 218-221. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[88]). "Le colone straniere in Egitto". UN, Roma, n. 130, 11/09/1921. In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 221-223. 1 volume: Umanit Nova
1920/1922.
_____. (1975[89]). "Sulla guerra civile". UN, Roma, n. 132, 14/09/1921. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 223-226. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[90]). "Ancora sulla questione della criminalit". UN, Roma, n. 134, 16/09/1921.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 226-231. 1 volume: Umanit
Nova 1920/1922.
_____. (1975[91]). "Intorno al mio processo. IV: Lotta di classe o odio tra le classe? 'Popolo'
e 'Proletario'". UN, Roma, n. 137, 20/09/1921. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento
Anarchico Italiano. p. 231-234. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[92]). "La disoccupazione". UN, Roma, n. 138, 21/09/1921. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 234-236. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
365
_____. (1975[93]). "Scarfoglio". UN, Roma, n. 140, 23/09/1921. In:_____. Scritti. Carrara:
Movimento Anarchico Italiano. p. 237-239. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[94]). "La mrineria nazionale. Il patriotismo dei pescicani". UN, Roma, n. 141,
24/09/1921. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 239-240. 1 volume:
Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[95]). "Giuseppe di Vagno assassinato. Il proletariato aspetta. . . ". UN, Roma, n.
144, 28/09/1921. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 240-242. 1
volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[96]). "Nota a 'Il congresso dell'Unione Sindacale e gli anarchici', di C. N. ".
UN, Roma, n. 145, 29/09/1921. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p.
242-244. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[97]). "A proposito di Deputati 'sindacalisti'". UN, Roma, n. 146, 30/09/1921.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 244-245. 1 volume: Umanit
Nova 1920/1922.
_____. (1975[98]). "Per due innocenti". UN, Roma, n. 147, 01/10/1921. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 245. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[99]). "Sulla questione della criminalit". UN, Roma, n. 149, 04/10/1921.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 245-249. 1 volume: Umanit
Nova 1920/1922.
_____. (1975[100]). "Gli italiani all'estero". UN, Roma, n. 151, 06/10/1921. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 249-252. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[101]). "Chiarimenti". UN, Roma, n. 151, 06/10/1921. In:_____. Scritti. Carrara:
Movimento Anarchico Italiano. p. 252-253. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[102]). "Un bandito (?)". UN, Roma, n. 151, 06/10/1921. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 253-254. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[103]). "Il ministro della torretta contro Sacco e Vanzetti". UN, Roma, n. 152,
07/10/1921. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 254-256. 1 volume:
Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[104]). "Cherimonie inutili". UN, Roma, n. 154, 09/10/1921. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 256-257. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[105]). "Grido di dolore e di vergogna". UN, Roma, n. 155, 11/10/1921.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 258-259. 1 volume: Umanit
Nova 1920/1922.
_____. (1975[106]). "Libert, giustizia, umanit!". UN, Roma, n. 157, 13/10/1921. In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 259-261. 1 volume: Umanit Nova
1920/1922.
_____. (1975[107]). "Il dovere dello Stato. A proposito del caso Sacco e Vanzetti". UN,
Roma, n. 162, 19/10/1921. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 261-
263. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
366
_____. (1975[108]). "Un 'nemico della rivoluzione'. Ai padroni della stessa". UN, Roma, n.
163, 20/10/1921. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 263-264. 1
volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[109]). "'L'Internazionale Intelettuale'". UN, Roma, n. 163, 20/10/1921.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 265-268. 1 volume: Umanit
Nova 1920/1922.
_____. (1975[110]). "La medaglietta o la morte". UN, Roma, n. 164, 21/10/1921. In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 269-270. 1 volume: Umanit Nova
1920/1922.
_____. (1975[111]). "Nota ad una lettera di Di Vittorio". UN, Roma, n. 165, 22/10/1921.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 271-272. 1 volume: Umanit
Nova 1920/1922.
_____. (1975[112]). "Accusati di bolscevismo". UN, Roma, n. 167, 25/10/1921. In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 272-275. 1 volume: Umanit Nova
1920/1922.
_____. (1975[113]). "Gli anarchici nel movimento operaio (Relazione per il congresso dell'U.
A. I)". UN, Roma, n. 168-169-170, 26-27-28/10/1921. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento
Anarchico Italiano. p. 275-284. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[114]). "Questioni. . . di lana caprina". UN, Roma, n. 169, 27/10/1921. In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 284-285. 1 volume: Umanit Nova
1920/1922.
_____. (1975[115]). "Per il 'comunista' di Roma". UN, Roma, n. 171, 29/10/1921. In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 286. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[116]). "'Abolite le carceri' di Giovanni Forbicini". UN, Roma, n. 165,
22/10/1921. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 286-287. 1 volume:
Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[117]). "Ai compagni 'di buona volont'". UN, Roma, n. 174, 02/11/1921.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 287-288. 1 volume: Umanit
Nova 1920/1922.
_____. (1975[118]). "Esposizione d'idee di Malatesta al congresso dell'U. A. I. in Ancona".
UN, Roma, n. 176, 04/11/1921. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p.
288-292. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[119]). "Aspettando. . . ". UN, Roma, n. 187, 20/11/1921. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 292. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[120]). "Il 'partito' fascista". UN, Roma, n. 189, 23/11/1921. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 293-294. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[121]). "A proposito di libert". UN, Roma, n. 190, 24/11/1921. In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 295-297. 1 volume: Umanit Nova
1920/1922.
_____. (1975[122]). "La farsa continua". UN, Roma, n. 191, 25/11/1921. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 297-298. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
367
_____. (1975[123]). "Per la verit e per la seriet". UN, Roma, n. 192, 26/11/1921. In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 298-299. 1 volume: Umanit Nova
1920/1922.
_____. (1975[124]). "Nota ad un articolo 'Verit e semenza' di G. D'Annunzio". UN, Roma, n.
195, 02/12/1921. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 299-304. 1
volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[125]). "Senilit e infantilismo". UN, Roma, n. 197, 04/12/1921. In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 304-305. 1 volume: Umanit Nova
1920/1922.
_____. (1975[126]). "Dopo le conferenze 'criminose'". UN, Roma, n. 197, 04/12/1921.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 306. 1 volume: Umanit Nova
1920/1922.
_____. (1975[127]). "Polemiche anarchiche sul congresso di Ancona". UN, Roma, n. 199,
07/12/1921. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 306-308. 1 volume:
Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[128]). "Per i bombardieri del Diana". UN, Roma, n. 165, 22/10/1921. In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 308-312. 1 volume: Umanit Nova
1920/1922.
_____. (1975[129]). "Vittime od eroi. Nota ad un articolo di L. Fabbri sull'attentato del
'Diana'". UN, Roma, n. 214, 24/12/1921. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico
Italiano. p. 312-315. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[130]). "La nuova crisi". UN, Roma, n. 12, 14/01/1922. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 317-319. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[131]). "Anarchici, a voi!". UN, Roma, n. 23, 27/01/1922. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 319-320. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[132]). "Propriet individuale e libert". UN, Roma, n. 26, 31/01/1922.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 320-321. 1 volume: Umanit
Nova 1920/1922.
_____. (1975[133]). "L'Alleanza del lavoro. Anarchici, a noi!". UN, Roma, n. 35, 10/02/1922.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 322. 1 volume: Umanit Nova
1920/1922.
_____. (1975[134]). "Nota ad una relazione dell'Alleanza del lavoro". UN, Roma, n. 45,
22/02/1922. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 323. 1 volume:
Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[135]). "Nota ad una lettera di L. Fabbri". UN, Roma, n. 59, 10/03/1922.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 323-324. 1 volume: Umanit
Nova 1920/1922.
_____. (1975[136]). "Giuseppe Mazzini". UN, Roma, n. 60, 11/03/1922. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 324-325. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[137]). "Il fascismo e la legalit". UN, Roma, n. 62, 14/03/1922. In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 325-327. 1 volume: Umanit Nova
1920/1922.
368
_____. (1975[138]). "Discorso ad un comizio dell'U. S. I. ". UN, Roma, n. 62, 14/03/1922.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 327-328. 1 volume: Umanit
Nova 1920/1922.
_____. (1975[139]). "XVIII marzo". UN, Roma, n. 67, 19/03/1922. In:_____. Scritti. Carrara:
Movimento Anarchico Italiano. p. 329-330. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[140]). "Nota ad un articolo di Carlo Francesco Ansaldi in favore di Sacco e
Vanzetti". UN, Roma, n. 70, 23/03/1922. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico
Italiano. p. 330-331. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[141]). "Dichiarazioni personali". UN, Roma, n. 72, 25/03/1922. In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 331-336. 1 volume: Umanit Nova
1920/1922.
_____. (1975[142]). "Strascichi del congresso anarchico". UN, Roma, n. 75, 29/03/1922.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 336-338. 1 volume: Umanit
Nova 1920/1922.
_____. (1975[143]). "Per la libert di stampa (lettera in comune con Gigi Damiani)". UN,
Roma, n. 77, 31/03/1922. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 338-
340. 1 volume: Umanit Nova 1920/1922.
_____. (1975[144]). "Che cosa la repubblica sociale?". UN, Roma, n. 79, 02/04/1922.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 340-344. 1 volume: Umanit
Nova 1920/1922.
_____. (1975[145]). "Sindacalismo e anarchismo". UN, Roma, n. 82, 06/04/1922. In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 344-350. 1 volume: Umanit Nova
1920/1922.
_____. (1975[146]). "L'Alleanza del lavoro". UN, Roma, n. 37, 12/02/1922. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 9. 2 volume: Umanit Nova e scritti vari
1919/1923.
_____. (1975[147]). "Repubblicanesimo sociale e anarchismo (concordanze e
differenziazioni)". UN, Roma, n. 83, 07/04/1922. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento
Anarchico Italiano. p. 10-15. 2 volume: Umanit Nova e scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[148]). "Gli intendimenti dell'Alleanza del lavoro (nota ad un articolo di C.
Ciciarelli)". UN, Roma, n. 84, 08/04/1922. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico
Italiano. p. 15-16. 2 volume: Umanit Nova e scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[149]). "Nota ad una recensione di A. V. al libro 'Al Caff'". UN, Roma, n. 87,
12/04/1922. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 16. 2 volume:
Umanit Nova e scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[150]). "La funzione dei sindacati nella rivoluzione". UN, Roma, n. 88,
13/04/1922. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 17-19. 2 volume:
Umanit Nova e scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[151]). "Repubblicanesimo sociale e anarchismo. Consensi e dissensi sulla teoria
e la tecnica della rivoluzione". UN, Roma, n. 89, 14/04/1922. In:_____. Scritti. Carrara:
Movimento Anarchico Italiano. p. 20-25. 2 volume: Umanit Nova e scritti vari 1919/1923.
369
_____. (1975[152]). "La libert del lavoro". UN, Roma, n. 90, 15/04/1922. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 25-28. 2 volume: Umanit Nova e scritti vari
1919/1923.
_____. (1975[153]). "Ancora sulla libert del lavoro". UN, Roma, n. 91, 16/04/1922.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 28-29. 2 volume: Umanit Nova
e scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[154]). "Repubblicanesimo sociale e anarchismo. In margine alla polemica
Ansaldi-Malatesta". UN, Roma, n. 83, 07/04/1922. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento
Anarchico Italiano. p. 30-34. 2 volume: Umanit Nova e scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[155]). "Nota alla riproduzione del programma di 'Umanit Nova' (pubblicato
nel primo numero del 1920)". UN, Roma, n. 93, 19/04/1922. In:_____. Scritti. Carrara:
Movimento Anarchico Italiano. p. 35-36. 2 volume: Umanit Nova e scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[156]). "Ancora sulla libert di lavoro. Un caso di deformazione profissionale".
UN, Roma, n. 95, 21/04/1922. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p.
36-39. 2 volume: Umanit Nova e scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[157]). "Il programma di 'Umanit Nova' e gli anarchici". UN, Roma, n. 98,
25/04/1922. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 39-41. 2 volume:
Umanit Nova e scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[158]). "Repubblicanesimo sociale e anarchismo". UN, Roma, n. 100,
27/04/1922. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 41-44. 2 volume:
Umanit Nova e scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[159]). "Repubblicanesimo sociale e anarchismo". UN, Roma, n. 102,
29/04/1922. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 44-45. 2 volume:
Umanit Nova e scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[160]). "Primo maggio". UN, Roma, n. 103, 30/04/1922. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 45-48. 2 volume: Umanit Nova e scritti vari
1919/1923.
_____. (1975[161]). "Un anarchico alle prese con se stesso. Intorno all'intervista con Herman
Sandomirsky". UN, Roma, n. 105, 04/05/1922. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento
Anarchico Italiano. p. 48-52. 2 volume: Umanit Nova e scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[162]). "A proposito di un giuri d'onore". UN, Roma, n. 105, 04/05/1922.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 52-53. 2 volume: Umanit Nova
e scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[163]). "Ad un anonimo". UN, Roma, n. 108, 07/05/1922. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 54-55. 2 volume: Umanit Nova e scritti vari
1919/1923.
_____. (1975[164]). "Intorno all'individualismo (a un compagno venuto dall'America)". UN,
Roma, n. 108, 07/05/1922. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 55-
56. 2 volume: Umanit Nova e scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[165]). "I processati del 'Diana' (nota introduttiva ad un articolo di Ettore
Arnolfo su Giuseppe Mariani". UN, Roma, n. 109, 09/05/1922. In:_____. Scritti. Carrara:
Movimento Anarchico Italiano. p. 57-58. 2 volume: Umanit Nova e scritti vari 1919/1923.
370
_____. (1975[166]). "Anarchici e bolscevichi (nota ad un articolo di Sandomirsky che
preconizzava una impossibile intesa tra bolscevici ed anarchici)". UN, Roma, n. 115,
16/05/1922. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 58-60. 2 volume:
Umanit Nova e scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[167]). "Agli anarchici e a tutta la gente di cuore". UN, Roma, n. 115,
16/05/1922. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 60-61. 2 volume:
Umanit Nova e scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[168]). "Il 'Diana'. Tormento d'animo". UN, Roma, n. 116, 17/05/1922.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 61-63. 2 volume: Umanit Nova
e scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[169]). "Nota ad una lettera di saluto agli anarchici italiani di H. Sandomirsky".
UN, Roma, n. 119, 20/05/1922. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p.
63-64. 2 volume: Umanit Nova e scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[170]). "Parliamo ancora di politica". UN, Roma, n. 123, 25/05/1922. In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 64-67. 2 volume: Umanit Nova e scritti
vari 1919/1923.
_____. (1975[171]). "La situazione". UN, Roma, n. 124, 28/05/1922. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 67-69. 2 volume: Umanit Nova e scritti vari
1919/1923.
_____. (1975[172]). "Lo sciopero generale". UN, Roma, n. 132, 07/06/1922. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 70-72. 2 volume: Umanit Nova e scritti vari
1919/1923.
_____. (1975[173]). "Il diritto di proprit e la riforma agraria". UN, Roma, n. 135,
10/06/1922. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 72-75. 2 volume:
Umanit Nova e scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[174]). "Collaborazione o intransigenza?". UN, Roma, n. 136, 14/06/1922.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 75-77. 2 volume: Umanit Nova
e scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[175]). "Per una diffida". UN, Roma, n. 136, 14/06/1922. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 77-78. 2 volume: Umanit Nova e scritti vari
1919/1923.
_____. (1975[176]). "Il Partito Democratico Italiano". UN, Roma, n. 137, 15/06/1922.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 78-80. 2 volume: Umanit Nova
e scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[177]). "Ancora sul collaborazionismo socilista". UN, Roma, n. 138,
16/06/1922. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 80-82. 2 volume:
Umanit Nova e scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[178]). "La sfige di gardone. A proposito del messagio che D'Annunzio manda
al popolo italiano per mezzo di Renato Simoni del 'Corriere della Sera'". UN, Roma, n. 139,
17/06/1922. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 82-83. 2 volume:
Umanit Nova e scritti vari 1919/1923.
371
_____. (1975[179]). "Riformisti o insurrezionisti?". UN, Roma, n. 140, 18/06/1922. In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 84-86. 2 volume: Umanit Nova e scritti
vari 1919/1923.
_____. (1975[180]). "Organizzatori ed anti-organizzatori. Contro una leggenda sciocca e
tendenziosa". UN, Roma, n. 141, 20/06/1922. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento
Anarchico Italiano. p. 86-91. 2 volume: Umanit Nova e scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[181]). "Mosca e Milano". UN, Roma, n. 142, 21/06/1922. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 92-94. 2 volume: Umanit Nova e scritti vari
1919/1923.
_____. (1975[182]). "Nel campo socialista". UN, Roma, n. 143, 22/06/1922. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 94-97. 2 volume: Umanit Nova e scritti vari
1919/1923.
_____. (1975[183]). "Il dovere dell'ora". UN, Roma, n. 145, 25/06/1922. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 97-101. 2 volume: Umanit Nova e scritti vari
1919/1923.
_____. (1975[184]). "Movimenti stroncati". UN, Roma, n. 147, 28/06/1922. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 101-105. 2 volume: Umanit Nova e scritti vari
1919/1923.
_____. (1975[185]). "L'Alleanza del Lavoro e l'on. Dugoni". UN, Roma, n. 149, 30/06/1922.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 105-107. 2 volume: Umanit
Nova e scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[186]). " il fegato, o che cosa ?". UN, Roma, n. 150, 01/07/1922. In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 109-112. 2 volume: Umanit Nova e
scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[187]). "Il governo migliore". UN, Roma, n. 153, 05/07/1922. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 112-114. 2 volume: Umanit Nova e scritti vari
1919/1923.
_____. (1975[188]). "La vanit delle riforme". UN, Roma, n. 154, 06/07/1922. In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 114-117. 2 volume: Umanit Nova e
scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[189]). "Disciplina?". UN, Roma, n. 154, 06/07/1922. In:_____. Scritti. Carrara:
Movimento Anarchico Italiano. p. 117-118. 2 volume: Umanit Nova e scritti vari
1919/1923.
_____. (1975[190]). "La rinunzia definitiva al socialismo". UN, Roma, n. 155, 07/07/1922.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 119-121. 2 volume: Umanit
Nova e scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[191]). "Lavorare per la societ borghese o per il socialismo". UN, Roma, n.
157, 09/07/1922. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 121-123. 2
volume: Umanit Nova e scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[192]). "A proposito di un furto". UN, Roma, n. 158, 11/07/1922. In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 123-125. 2 volume: Umanit Nova e
scritti vari 1919/1923.
372
_____. (1975[193]). "Il furto come arma di guerra". UN, Roma, n. 159, 12/07/1922. In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 125-127. 2 volume: Umanit Nova e
scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[194]). "La voce di un 'individualista' (nota in risposta ad un articolo di Enzo
Martucci su 'Quello che ci divide')". UN, Roma, n. 160, 13/07/1922. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 127-128. 2 volume: Umanit Nova e scritti vari
1919/1923.
_____. (1975[195]). "'Il parlamento: baluardo della libert'". UN, Roma, n. 168, 22/07/1922.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 129-131. 2 volume: Umanit
Nova e scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[196]). "Socialisti?". UN, Roma, n. 176, 01/08/1922. In:_____. Scritti. Carrara:
Movimento Anarchico Italiano. p. 131-132. 2 volume: Umanit Nova e scritti vari
1919/1923.
_____. (1975[197]). "Per domani". UN, Roma, n. 181, 10/08/1922. In:_____. Scritti. Carrara:
Movimento Anarchico Italiano. p. 132-134. 2 volume: Umanit Nova e scritti vari
1919/1923.
_____. (1975[198]). "Il pericolo della cocaina. Una proposta. . . che non sar accettata". UN,
Roma, n. 181, 10/08/1922. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 134-
135. 2 volume: Umanit Nova e scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[199]). "La libert di studiare". UN, Roma, n. 181, 10/08/1922. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 136-137. 2 volume: Umanit Nova e scritti vari
1919/1923.
_____. (1975[200]). "In regime di dittatura 'proletaria'. La giustizia secondo i comunisti
dittatoriali". UN, Roma, n. 183, 12/08/1922. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico
Italiano. p. 138-140. 2 volume: Umanit Nova e scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[201]). "'Individualismo'". UN, Roma, n. 184, 19/08/1922. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 140-143. 2 volume: Umanit Nova e scritti vari
1919/1923.
_____. (1975[202]). "Cosa fare? (Risposta ad un articolo di 'Outcast')". UN, Roma, n. 185,
26/08/1922. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 144-147. 2 volume:
Umanit Nova e scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[203]). "Liquidazione socialista". UN, Roma, n. 186, 02/09/1922. In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 147-149. 2 volume: Umanit Nova e
scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[204]). "Qual' l'uomo pi forte?". UN, Roma, n. 186, 02/09/1922. In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 149-152. 2 volume: Umanit Nova e
scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[205]). "La Prima Internazionale. A proposito del Cinquantenario del Congresso
di Saint-Imier". UN, Roma, n. 187, 09/09/1922. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento
Anarchico Italiano. p. 152-158. 2 volume: Umanit Nova e scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[206]). "La base morale dell'anarchismo (In risposta a 'Il pensiero di un
iconoclasta' di Enzo Martucci)". UN, Roma, n. 188, 16/09/1922. In:_____. Scritti. Carrara:
373
Movimento Anarchico Italiano. p. 158-164. 2 volume: Umanit Nova e scritti vari
1919/1923.
_____. (1975[207]). "Libert e delinquenza (Ancora in risposta a 'Il pensiero di un
iconoclasta' di Enzo Martucci)". UN, Roma, n. 190, 30/09/1922. In:_____. Scritti. Carrara:
Movimento Anarchico Italiano. p. 165-168. 2 volume: Umanit Nova e scritti vari
1919/1923.
_____. (1975[208]). "'Partito Anarchico Italiano'". UN, Roma, n. 190, 30/09/1922. In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 168-171. 2 volume: Umanit Nova e
scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[209]). "La rivoluzione in pratica". UN, Roma, n. 191, 07/10/1922. In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 171-177. 2 volume: Umanit Nova e
scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[210]). "Per farla finita. Contro un imposore". UN, Roma, n. 192, 14/10/1922.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 177-181. 2 volume: Umanit
Nova e scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[211]). "Ancora sulla rivoluzione in pratica". UN, Roma, n. 192, 14/10/1922.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 181-186. 2 volume: Umanit
Nova e scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[212]). "La lotta economica in regime capitalistico". UN, Roma, n. 193,
21/10/1922. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 186-188. 2 volume:
Umanit Nova e scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[213]). "Moral e violenza". UN, Roma, n. 193, 21/10/1922. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 189-193. 2 volume: Umanit Nova e scritti vari
1919/1923.
_____. (1975[214]). "L'on. Nitti sulla situazione". UN, Roma, n. 194, 28/10/1922. In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 194-195. 2 volume: Umanit Nova e
scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[215]). "Nota (senza titolo)". UN, Roma, n. 195, 25/11/1922. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 196-197. 2 volume: Umanit Nova e scritti vari
1919/1923.
_____. (1975[216]). "Libert di stampa". UN, Roma, n. 195, 25/11/1922. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 197. 2 volume: Umanit Nova e scritti vari
1919/1923.
_____. (1975[217]). "Mussolini al potere". UN, Roma, n. 195, 25/11/1922. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 198-200. 2 volume: Umanit Nova e scritti vari
1919/1923.
_____. (1975[218]). "Discorrendo di revoluzione". UN, Roma, n. 195, 25/11/1922. In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 200-204. 2 volume: Umanit Nova e
scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[219]). "La situazione". UN, Roma, n. 196, 02/12/1922. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 204-206. 2 volume: Umanit Nova e scritti vari
1919/1923.
374
_____. (1975[220]). "Interesse ed ideale". UN, Roma, n. 196, 02/12/1922. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 206-209. 2 volume: Umanit Nova e scritti vari
1919/1923.
_____. (1975[221]). "'Umanit Nova' occupata". UN, Roma, n. 196, 02/12/1922. In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 209-210. 2 volume: Umanit Nova e
scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[222]). "Anarchismo e rivoluzione". Il Risveglio, Genebra, n. 605, 30/12/1922.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 210-216. 2 volume: Umanit
Nova e scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[223]). "Il programa anarchico dell'U. A. I. del 1920". In:_____. Scritti. Carrara:
Movimento Anarchico Italiano. p. 220-237. 2 volume: Umanit Nova e scritti vari
1919/1923.
_____. (1975[224]). "Lettera a Luigi Fabbri sulla 'Dittatura del proletariato' (Premessa al libro
'Dittatura e rivoluzione), 30/07/1919". In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico
Italiano. p. 243-245. 2 volume: Umanit Nova e scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[225]). "Lettere a Luigi Bertoni, 1919-1923". In:_____. Scritti. Carrara:
Movimento Anarchico Italiano. p. 245-249. 2 volume: Umanit Nova e scritti vari
1919/1923.
_____. (1975[226]). "Una spiegazione di Errico Malatesta. Avanti!, Turim, 29/12/1919".
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 249-251. 2 volume: Umanit
Nova e scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[227]). "Grazie, ma basta. Volont, Ancona, n. 2, 16/01/1920". In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 251-252. 2 volume: Umanit Nova e scritti vari
1919/1923.
_____. (1975[228]). "Lettera al 'Resto del Carlino' di Bologna. Sulla questione della mia
appartenenza alla massoneria, 15/10/1920". In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico
Italiano. p. 252-253. 2 volume: Umanit Nova e scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[229]). "Prefazione a 'Tormento' di Virgilia D'Andrea, Roma, abril/1922".
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 253-254. 2 volume: Umanit
Nova e scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[230]). "'La pace maledetta' (Prefazione al libro di C. Camoglio)". In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 254-255. 2 volume: Umanit Nova e
scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[231]). "Per la prossima riscossa". Libero Accordo, Roma, suplemento, n. 67,
fev/1923. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 256-258. 2 volume:
Umanit Nova e scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[232]). "Perch il fascismo vinse e perch continua a spadroneggiare in Italia".
Libero Accordo, Roma, n. 78, 28/08/1923. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico
Italiano. p. 258-261. 2 volume: Umanit Nova e scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[233]). "La condotta degli anarchici nel movimento sindacale". Fede!, Roma, n.
3, 30/09/1923. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 261-266. 2
volume: Umanit Nova e scritti vari 1919/1923.
375
_____. (1975[234]). "Risposta ad un comunista". Fede!, Roma, n. 7, 28/10/1923. In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 266-271. 2 volume: Umanit Nova e
scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[235]). "Bolscevismo e anarchismo. A proposito del libro 'Dittatura e
rivoluzione' di L. Fabbri (Prefazione all'edizione spagnuola)". Libero Accordo, Roma, n. 82,
07/11/1923. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 271-276. 2 volume:
Umanit Nova e scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[236]). "Un comunista a Malatesta sulla pratica della libert". Fede!, Roma, n.
11, 25/11/1923. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 276-280. 2
volume: Umanit Nova e scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[237]). "Un'intervista con Malatesta". Volont, Ancona, n. 8, 01/05/1920.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 285-292. 2 volume: Umanit
Nova e scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[238]). "Dichiarazioni e autodifesa alle assise di Milano, 27-29/07/1921".
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 296-316. 2 volume: Umanit
Nova e scritti vari 1919/1923.
_____. (1975[239]). "A quelli che studiano e che lavorano (circulare annunciante la
pubblicazione di 'Pensiero e Volont', nov/1923)". In:_____. Scritti. Carrara: Movimento
Anarchico Italiano. p. 21-23. 3 volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[240]). "I nostri propositi". Pensiero e Volont, Roma, ano I, n. 1, 01/01/1924.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 25-28. 3 volume: Pensiero e
Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[241]). "Nota all'articolo 'Revisione necessaria' di S. Merlino". Pensiero e
Volont, Roma, ano I, n. 1, 01/01/1924. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico
Italiano. p. 28. 3 volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[242]). "'Idealismo' e 'Materialismo'". Pensiero e Volont, Roma, ano I, n. 2,
15/01/1924. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 28-32. 3 volume:
Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[243]). "Posta redazionale". Pensiero e Volont, Roma, ano I, n. 2, 15/01/1924.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 32. 3 volume: Pensiero e
Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[244]). "Lutto o festa?". Pensiero e Volont, Roma, ano I, n. 3, 01/02/1924.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 33. 3 volume: Pensiero e
Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[245]). "Ideal e realt". Pensiero e Volont, Roma, ano I, n. 3, 01/02/1924.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 33-37. 3 volume: Pensiero e
Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[246]). "Nota all'articolo: 'Lenin e l'esperimento russo' di Luigi Fabbri". Pensiero
e Volont, Roma, ano I, n. 4, 15/02/1924. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico
Italiano. p. 37-38. 3 volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[247]). "Anarchici (?) realizzatori(??)". Pensiero e Volont, Roma, ano I, n. 4,
15/02/1924. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 38-42. 3 volume:
Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
376
_____. (1975[248]). "Anarchismo e riforme". Pensiero e Volont, Roma, ano I, n. 5,
01/03/1924. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 42-44. 3 volume:
Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[249]). "Posta redazionale". Pensiero e Volont, Roma, ano I, n. 5, 10/03/1924.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 44-45. 3 volume: Pensiero e
Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[250]). "Democrazia e anarchia". Pensiero e Volont, Roma, ano I, n. 6,
15/03/1924. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 45-49. 3 volume:
Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[251]). "Nota all'articolo 'Le polemiche fra anarchici e comunisti' di
'L'Osservatore'". Pensiero e Volont, Roma, ano I, n. 6, 15/03/1924. In:_____. Scritti. Carrara:
Movimento Anarchico Italiano. p. 49-50. 3 volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti
1924/1932.
_____. (1975[252]). "Nota all'articolo 'Amore', di L. Brunelli". Pensiero e Volont, Roma,
ano I, n. 6, 15/03/1924. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 50. 3
volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[253]). "Posta redazionale". Pensiero e Volont, Roma, ano I, n. 6, 15/03/1924.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 51. 3 volume: Pensiero e
Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[254]). "Intorno al 'nostro' anarchismo". Pensiero e Volont, Roma, ano I, n. 7,
01/04/1924. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 51-58. 3 volume:
Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[255]). "Riprincipia la burla". Pensiero e Volont, Roma, ano I, n. 8, 15/04/1924.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 58-59. 3 volume: Pensiero e
Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[256]). "Comunisti e fascisti". Pensiero e Volont, Roma, ano I, n. 9,
01/05/1924. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 59-60. 3 volume:
Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[257]). "A proposito di 'revisionismo anarchico". Pensiero e Volont, Roma, ano
I, n. 9, 01/05/1924. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 60-65. 3
volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[258]). "Posta redazionale". Pensiero e Volont, Roma, ano I, n. 9, 10/05/1924.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 65-66. 3 volume: Pensiero e
Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[259]). "'Anarchci' elezionisti". Pensiero e Volont, Roma, ano I, n. 10,
15/05/1924. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 67-70. 3 volume:
Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[260]). "Nota all'articolo: 'Nazionali ed antinazionali' di Sacconi". Pensiero e
Volont, Roma, ano I, n. 10, 15/05/1924. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico
Italiano. p. 71. 3 volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[261]). "Repubblica e rivoluzione". Pensiero e Volont, Roma, ano I, n. 11,
01/06/1924. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 71-76. 3 volume:
Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
377
_____. (1975[262]). "Ancora di repubblica e rivoluzione". Pensiero e Volont, Roma, ano I,
n. 12, 15/06/1924. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 76-80. 3
volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[263]). "Nota all'articolo 'Chiarezza' di Charles l'Ermite". Pensiero e Volont,
Roma, ano I, n. 12, 15/06/1924. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p.
81. 3 volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[264]). "Posta redazionale". Pensiero e Volont, Roma, ano I, n. 12, 15/06/1924.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 81. 3 volume: Pensiero e
Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[265]). "L'assassinio di Giacomo Matteotti". Pensiero e Volont, Roma, ano I, n.
13, 01/07/1924. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 82. 3 volume:
Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[266]). "Individualismo e comunismo nell'anarchismo". Pensiero e Volont,
Roma, ano I, n. 13, 01/07/1924. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p.
83-87. 3 volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[267]). "Nota all'articolo 'Puritanismo' di Randolfo Vella". Pensiero e Volont,
Roma, ano I, n. 13, 01/07/1924. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p.
87-88. 3 volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[268]). "Libert!". Pensiero e Volont, Roma, ano I, n. 14, 15/07/1924.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 88. 3 volume: Pensiero e
Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[269]). "Intorno alla morale anarchica. A Randolfo Vella". Pensiero e Volont,
Roma, ano I, n. 14, 15/07/1924. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p.
88-92. 3 volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[270]). "'Quale italiani'". Pensiero e Volont, Roma, ano I, n. 14, 15/07/1924.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 92-93. 3 volume: Pensiero e
Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[271]). "Posta redazionale". Pensiero e Volont, Roma, ano I, n. 14, 15/07/1924.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 94-95. 3 volume: Pensiero e
Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[272]). "Nota a 'Commenti' di C. B. ". Pensiero e Volont, Roma, ano I, n. 14,
15/07/1924. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 95. 3 volume:
Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[273]). "Nota all'articolo 'Individualismo e anarchismo' di Adamas". Pensiero e
Volont, Roma, ano I, n. 15, 01/08/1924. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico
Italiano. p. 95-98. 3 volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[274]). "Il Laccio Scorsoio in anazione". Pensiero e Volont, Roma, ano I, n. 16,
15/08/1924. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 98-100. 3 volume:
Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[275]). "Opinione popolare e delinquenza. Un effeto moralizzatore del
fascismo". Pensiero e Volont, Roma, ano I, n. 16, 15/08/1924. In:_____. Scritti. Carrara:
Movimento Anarchico Italiano. p. 100-104. 3 volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti
1924/1932.
378
_____. (1975[276]). "Una porcheriola comunista". Pensiero e Volont, Roma, ano I, n. 16,
15/08/1924. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 104-105. 3 volume:
Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[277]). "Nota all'articolo 'Riforma religiosa' di Benigno Biaschi". Pensiero e
Volont, Roma, ano I, n. 16, 15/08/1924. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico
Italiano. p. 105-106. 3 volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[278]). "Anarchia e violenza". Pensiero e Volont, Roma, ano I, n. 17,
01/09/1924. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 106-109. 3 volume:
Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[279]). "La Prima Internazionale". Pensiero e Volont, Roma, ano I, n. 18,
15/09/1924. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 109-115. 3 volume:
Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[280]). "Contro le intemperanze di linguaggio". Pensiero e Volont, Roma, ano
I, n. 18, 15/09/1924. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 115-117. 3
volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[281]). "La fede e la scienza". Pensiero e Volont, Roma, ano I, n. 18,
15/09/1924. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 117-119. 3 volume:
Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[282]). "Nota all'articolo 'Sul problema del lavoro libero' di Spartaco Stagnetti".
Pensiero e Volont, Roma, ano I, n. 19, 01/10/1924. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento
Anarchico Italiano. p. 119-120. 3 volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[283]). "Il terrore rivoluzionario (in vista di un avvenire, que potrebbe anche
essere prossimo)". Pensiero e Volont, Roma, ano I, n. 19, 01/10/1924. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 121-124. 3 volume: Pensiero e Volont e ultimi
scritti 1924/1932.
_____. (1975[284]). "Posta redazionale". Pensiero e Volont, Roma, ano I, n. 19, 01/10/1924.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 124. 3 volume: Pensiero e
Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[285]). "'L'anello Malatesta-Albertini'". Pensiero e Volont, Roma, ano I, n. 20,
15/10/1924. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 124-127. 3 volume:
Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[286]). "A proposito di costituente". Pensiero e Volont, Roma, ano I, n. 20,
15/10/1924. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 128-130. 3 volume:
Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[287]). "Recensioni". Pensiero e Volont, Roma, ano I, n. 20, 15/10/1924.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 130. 3 volume: Pensiero e
Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[288]). "Fra le nebbie della filosofia". Pensiero e Volont, Roma, ano I, n. 21,
01/11/1924. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 131-135. 3 volume:
Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[289]). "L'Amnistia". Pensiero e Volont, Roma, ano I, n. 22, 15/11/1924.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 135-137. 3 volume: Pensiero e
Volont e ultimi scritti 1924/1932.
379
_____. (1975[290]). "Come certi repubblicani non vogliono fare la repubblica". Pensiero e
Volont, Roma, ano I, n. 22, 15/11/1924. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico
Italiano. p. 137-140. 3 volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[291]). "Il terrore bianco negli Stati Uniti". Pensiero e Volont, Roma, ano I, n.
22, 15/11/1924. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 140-141. 3
volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[292]). "Costituente e dittatura". Pensiero e Volont, Roma, ano I, n. 23,
01/12/1924. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 141-144. 3 volume:
Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[293]). "Domande e risposte". Pensiero e Volont, Roma, ano I, n. 23,
01/12/1924. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 144-146. 3 volume:
Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[294]). "Posta redazionale". Pensiero e Volont, Roma, ano I, n. 24, 15/12/1924.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 146-147. 3 volume: Pensiero e
Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[295]). "Nota all'articolo 'Le riserve del guardaroba: La Costituente' di C. F.
Ansaldi". Pensiero e Volont, Roma, ano I, n. 24, 15/12/1924. In:_____. Scritti. Carrara:
Movimento Anarchico Italiano. p. 147-148. 3 volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti
1924/1932.
_____. (1975[296]). "Nota all'articolo 'Costituente e Dittatura' di Gaetano Marino". Pensiero e
Volont, Roma, ano II, n. 1, 01/01/1925. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico
Italiano. p. 149-150. 3 volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[297]). "Posta redazinale". Pensiero e Volont, Roma, ano II, n. 1, 01/01/1925.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 150. 3 volume: Pensiero e
Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[298]). "Nota per il sequestro del n. 1". Pensiero e Volont, Roma, ano II, n. 2,
16/01/1925. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 150. 3 volume:
Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[299]). "Nota per il sequestro del n. 2". Pensiero e Volont, Roma, ano II, n. 3,
01/02/1925. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 150-151. 3 volume:
Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[300]). "Nota all'articolo: 'La Confederazione generale del lavoro a congresso' di
'Un organizzato'". Pensiero e Volont, Roma, ano II, n. 3, 01/02/1925. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 151. 3 volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti
1924/1932.
_____. (1975[301]). "Nota per il sequestro del n. 3". Pensiero e Volont, Roma, ano II, n. 4,
16/fev-16/mar de 1925. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 151. 3
volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[302]). "L'unit sindacale". Pensiero e Volont, Roma, ano II, n. 4, 16/fev-16/03
de 1925. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 152-158. 3 volume:
Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[303]). "Nota all'articolo: 'Non ignara mali, miseris sucurrere disco' di 'Maria'".
Pensiero e Volont, Roma, ano II, n. 4, 16/fev-16/03 de 1925. In:_____. Scritti. Carrara:
380
Movimento Anarchico Italiano. p. 158-159. 3 volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti
1924/1932.
_____. (1975[304]). "Povera gente!!". Pensiero e Volont, Roma, ano II, n. 5, 01/04/1925.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 159-160. 3 volume: Pensiero e
Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[305]). "Sindacalismo e anarchismo". Pensiero e Volont, Roma, ano II, n. 6,
16/abr-16/mai de 1925. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 160-165.
3 volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[306]). "Serafino Mazzotti". Pensiero e Volont, Roma, ano II, n. 6, 16/abr-
16/mai de 1925. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 165-166. 3
volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[307]). "Nota all'articolo: 'A proposito di rivoluzione protestante' di Michele
Pantaleo". Pensiero e Volont, Roma, ano II, n. 6, 16/abr-16/mai de 1925. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 166. 3 volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti
1924/1932.
_____. (1975[308]). "Cristiano?". Pensiero e Volont, Roma, ano II, n. 6, 16/abr-16/mai de
1925. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 166-168. 3 volume:
Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[309]). "Nota all'articolo: 'Perch la rivoluzione russa non h realizzato le sue
speranze' di Emma Goldman". Pensiero e Volont, Roma, ano II, n. 7, 16/mai-15/jun de 1925.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 168-170. 3 volume: Pensiero e
Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[310]). "L'anarchismo giudicato da un filosofo. . . o teologo che sia". Pensiero e
Volont, Roma, ano II, n. 7, 16/mai-15/jun de 1925. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento
Anarchico Italiano. p. 170-173. 3 volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[311]). "Lo Stato e la scuola". Pensiero e Volont, Roma, ano II, n. 7, 16/mai-
15/jun de 1925. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 173-175. 3
volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[312]). "Commento all'articolo: "Scienza e anarchia' di Nino Napolitano".
Pensiero e Volont, Roma, ano II, n. 8, 01/07/1925. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento
Anarchico Italiano. p. 175-180. 3 volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[313]). "Per la verit. . . e per la seriet". Pensiero e Volont, Roma, ano II, n. 9,
01/08/1925. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 180. 3 volume:
Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[314]). "Nota all'articolo: Scienza e anarchia' di Hz. ". Pensiero e Volont,
Roma, ano II, n. 10, 01/09/1925. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p.
180-184. 3 volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[315]). "Gli anarchici e la legge. A proposito del recente decreto di amnistia".
Pensiero e Volont, Roma, ano II, n. 11, 16/09/1925. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento
Anarchico Italiano. p. 184-187. 3 volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[316]). "Giuseppe Fanelli. Ricordi personali". Pensiero e Volont, Roma, ano II,
n. 11, 16/09/1925. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 187-193. 3
volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
381
_____. (1975[317]). "Gradualismo". Pensiero e Volont, Roma, ano II, n. 12, 01/10/1925.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 193-198. 3 volume: Pensiero e
Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[318]). "Repubblica?". Pensiero e Volont, Roma, ano II, n. 13, 16/10/1925.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 199-202. 3 volume: Pensiero e
Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[319]). "Riccardo Mella e Pedro Esteve". Pensiero e Volont, Roma, ano II, n.
13, 16/10/1925. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 202-203. 3
volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[320]). "Aberrazioni pseudoscientifiche". Pensiero e Volont, Roma, ano II, n.
15, 16/11/1925. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 203-205. 3
volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[321]). "Movimento operaio e anarchismo". Pensiero e Volont, Roma, ano II, n.
16, 16/12/1925. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 205-209. 3
volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[322]). "Posta redazionale". Pensiero e Volont, Roma, ano II, n. 16,
16/12/1925. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 209. 3 volume:
Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[323]). "Nota di fine annata". Pensiero e Volont, Roma, ano II, n. 16,
16/12/1925. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 210. 3 volume:
Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[324]). "Ancora su scienza e anarchia. Necessit e libert". Pensiero e Volont,
Roma, ano III, n. 2, 01/02/1926. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p.
211-213. 3 volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[325]). "Dichiarazione". Pensiero e Volont, Roma, ano III, n. 3, 01/03/1926.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 214. 3 volume: Pensiero e
Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[326]). "Ancora su 'Movimento operario e anarchismo'". Pensiero e Volont,
Roma, ano III, n. 3, 01/03/1926. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p.
214-220. 3 volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[327]). "Nota all'articolo: 'Il problema agrario in Russia' di M. Isidine". Pensiero
e Volont, Roma, ano III, n. 3, 01/03/1926. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico
Italiano. p. 220-221. 3 volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[328]). "Mali costumi giornalistici". Pensiero e Volont, Roma, ano III, n. 3,
01/03/1926. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 221-222. 3 volume:
Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[329]). "Comunismo e individualismo (commenti all'articolo di Nettlau)".
Pensiero e Volont, Roma, ano III, n. 4, 01/04/1926. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento
Anarchico Italiano. p. 222-227. 3 volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[330]). "Serenamente". Pensiero e Volont, Roma, ano III, n. 4, 01/04/1926.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 228-229. 3 volume: Pensiero e
Volont e ultimi scritti 1924/1932.
382
_____. (1975[331]). "Nota all'articolo: 'Concetti chiari', di Carlo Molaschi". Pensiero e
Volont, Roma, ano III, n. 4, 01/04/1926. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico
Italiano. p. 229. 3 volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[332]). "N democratici, n dittatoriali: anarchici". Pensiero e Volont, Roma,
ano III, n. 7, 06/05/1926. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 229-
233. 3 volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[333]). "Nota all'articolo: 'Russia' di Carlo Molaschi". Pensiero e Volont,
Roma, ano III, n. 9, 01/06/1926. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p.
233. 3 volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[334]). "'La fine dell'anarchismo?' di Luigi Galleani". Pensiero e Volont, Roma,
ano III, n. 9, 01/06/1926. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 233-
236. 3 volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[335]). "Sacco e Vanzetti". Pensiero e Volont, Roma, ano III, n. 9, 01/06/1926.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 236-237. 3 volume: Pensiero e
Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[336]). "Demoliamo. E poi?". Pensiero e Volont, Roma, ano III, n. 10,
16/06/1926. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 237-242. 3 volume:
Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[337]). "Michele Bakunin (20/05/1814-01/07/1876)". Pensiero e Volont, Roma,
ano III, n. 11, 01/07/1926. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 242-
243. 3 volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[338]). "I principi anarchici quali furono formulati nel 1872 al congresso di
Saint-Imier per ispirazione di Bakunin". Pensiero e Volont, Roma, ano III, n. 11,
01/07/1926. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 244. 3 volume:
Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[339]). "Il mio primo incontro con Bakunin". Pensiero e Volont, Roma, ano III,
n. 11, 01/07/1926. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 244-248. 3
volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[340]). "E poi? Chiarimenti I". Pensiero e Volont, Roma, ano III, n. 12,
01/08/1926. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 248-250. 3 volume:
Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[341]). "II. Repubblica?". Pensiero e Volont, Roma, ano III, n. 12, 01/08/1926.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 251-252. 3 volume: Pensiero e
Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[342]). "Personale". Pensiero e Volont, Roma, ano III, n. 12, 01/08/1926.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 252-253. 3 volume: Pensiero e
Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[343]). "Nota all'articolo: 'Massoneria' di Struggling Alone". Pensiero e Volont,
Roma, ano III, n. 12, 01/08/1926. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano.
p. 253. 3 volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[344]). "Internazionale colletivista e comunismo anarchico". Pensiero e Volont,
Roma, ano III, n. 14, 25/08/1926. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano.
p. 253-265. 3 volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
383
_____. (1975[345]). "Nota in testa alla rivista". Pensiero e Volont, Roma, ano III, n. 15,
01/10/1926. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 265. 3 volume:
Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[346]). "Per Luigi Galleani". Pensiero e Volont, Roma, ano III, n. 15,
01/10/1926. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 266. 3 volume:
Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[347]). "Per la verit". Pensiero e Volont, Roma, ano III, n. 15, 01/10/1926.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 266-272. 3 volume: Pensiero e
Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[348]). "Nota all'articolo: 'Ancora su Scienza e anarchia' di Hz. ". Pensiero e
Volont, Roma, ano III, n. 15, 01/10/1926. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico
Italiano. p. 272-273. 3 volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[349]). "Effetti del sol d'agosto". Pensiero e Volont, Roma, ano III, n. 15,
01/10/1926. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 274. 3 volume:
Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[350]). "Nota all'artiolo: 'Strano modo di comprendere l'anarchia' di Peppe
Convinto". Pensiero e Volont, Roma, ano III, n. 15, 01/10/1926. In:_____. Scritti. Carrara:
Movimento Anarchico Italiano. p. 274-276. 3 volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti
1924/1932.
_____. (1975[351]). "Comunicato". Out/1926. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento
Anarchico Italiano. p. 276-277. 3 volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[352]). "La pena di morte". Il Risveglio Anarchico, [s. l. ], n. 867, 11/02/1933.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 277-279. 3 volume: Pensiero e
Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[353]). "Il provveditore della ghigliottina". Il Risveglio Anarchico, [s. l. ], n.
867, 11/02/1933. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 279-283. 3
volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[354]). "Alcune lettere a Luigi Fabbri, 1922-1926". In:_____. Scritti. Carrara:
Movimento Anarchico Italiano. p. 287-294. 3 volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti
1924/1932.
_____. (1975[355]). "Manifesto dell'U. A. I. per il Primo Maggio 1926". Sorgiamo, [s. l. ], n.
7, 01/05/1934. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 294-296. 3
volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[356]). "Per fatto personale. Manovre borboniche, ou malignit comuniste?".
Risveglio, [s. l. ], [s. n. ], 31/07/1926. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico
Italiano. p. 296-298. 3 volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[357]). "Un progetto di organizzazione anarchica". Risveglio, [s. l. ], [s. n. ], 1-
15/10/1927. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 298-310. 3 volume:
Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[358]). "A proposito della 'Plateforme'. Risposta a Nestore Makhno". Risveglio,
[s. l. ], [s. n. ], 14/12/1929. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 310-
312. 3 volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
384
_____. (1975[359]). "A proposito della 'responsabilit colletiva'". Studi Sociali, Montevido,
n. 10, jul/1930. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 312-317. 3
volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[360]). "Prefazione al libro 'Bakunin e l'Internazionale in Italia' di Max Nettlau
(1928)". In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 317-319. 3 volume:
Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[361]). "Lettera a Jean Grave". Rveil, [s. l. ], [s. d. ], mar/1928. In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 320-335. 3 volume: Pensiero e Volont e
ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[362]). "Una lettera a Luigi Bertoni". Risveglio, Genebra, [s. n. ], 16/04/1929.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 335-336. 3 volume: Pensiero e
Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[363]). "Qualche considerazione sul regime della propriet dopo la rivoluzione".
Risveglio, Genebra, [s. n. ], 30/11/1929. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico
Italiano. p. 337. 3 volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[364]). "A proposito di certe polemiche tra anarchici italiani all'estero".
Risveglio, Genebra, [s. n. ], 11/01/1930. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico
Italiano. p. 338-344. 3 volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[365]). "Giuseppe Turci". Risveglio, Genebra, [s. n. ], 22/02/1930. In:_____.
Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 345-346. 3 volume: Pensiero e Volont e
ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[366]). "Felice Vezzani". Vogliamo!, [s. d. ], [s. n. ], mar/1930. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 347-348. 3 volume: Pensiero e Volont e ultimi
scritti 1924/1932.
_____. (1975[367]). "Gli anarchici nel momento attuale". Vogliamo!, [s. d. ], [s. n. ],
jun/1930. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 349. 3 volume:
Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[368]). "Francesco Saverio Merlino". Risveglio, Genebra, [s. n. ], 26/07/1930.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 349-356. 3 volume: Pensiero e
Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[369]). "Contro la costituente come contro la dittatura". AdR, Nova York, [s. n.
], 04/10/1930. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 356-357. 3
volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[370]). "Francesco Saverio Merlino". Almanacco Libertario, [s. l. ], [s. n. ],
1931. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 357-361. 3 volume:
Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[371]). "Questioni di tattica". Almanacco Libertario, [s. l. ], [s. n. ], 1931.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 361-364. 3 volume: Pensiero e
Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[372]). "Pietro Kropotkin. Ricordi e critiche di un suo vecchio amico". Studi
Sociali, Montevido, [s. n. ], 15/04/1931. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico
Italiano. p. 364-368. 3 volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
385
_____. (1975[373]). "Rimasticature autoritarie". Risveglio, Genebra, [s. n. ], 01/05/1931.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 368-379. 3 volume: Pensiero e
Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[374]). "Le materie prime e il socialismo". Risveglio, Genebra, [s. n. ],
16/05/1931. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 379-382. 3 volume:
Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[375]). "Incoerenza o necessit?". AdR, Nova York, [s. n. ], 29/05/1931.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 382-383. 3 volume: Pensiero e
Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[376]). "Epistolario". AdR, Nova York, [s. n. ], 20/08/1931. In:_____. Scritti.
Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 383-386. 3 volume: Pensiero e Volont e ultimi
scritti 1924/1932.
_____. (1975[377]). "A proposito di 'revisionismo'". AdR, Nova York, [s. n. ], 01/08/1931.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 386-390. 3 volume: Pensiero e
Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[378]). "Un 'governo' che non governo". AdR, Nova York, [s. n. ], 26/12/1931.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 386-398. 3 volume: Pensiero e
Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[379]). "Ancora qualche parola sul governo 'libertario'". AdR, Nova York, [s. n.
], 12/08/1932. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 398-402. 3
volume: Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[380]). "Una lettera sulle cose d'Italia e di Spagna". AdR, Nova York, [s. n. ],
12/08/1933. In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 403-405. 3 volume:
Pensiero e Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1975[381]). "Ultimi pensieri". Studi Sociali, Montevido, [s. n. ], 04/12/1933.
In:_____. Scritti. Carrara: Movimento Anarchico Italiano. p. 405-407. 3 volume: Pensiero e
Volont e ultimi scritti 1924/1932.
_____. (1984[1]). "Correspondncia para Luigia Pezzi. Londres, 29/04/1892". In:_____.
Epistolario. Lettere edite e inedite, 1873-1932. Carrara: Centro Studi Sociali. p. 65-69.
_____. (1984[2]). "Correspondncia para Luigi Fabbri. Ancona, 02/09/1913". In:_____.
Epistolario. Lettere edite e inedite, 1873-1932. Carrara: Centro Studi Sociali. p. 109.
_____. (1984[3]). "Correspondncia para Luigi Fabbri. Ancona, 12/09/1913". In:_____.
Epistolario. Lettere edite e inedite, 1873-1932. Carrara: Centro Studi Sociali. p. 110-111.
_____. (1984[4]). "Correspondncia para Luigi Fabbri. Ancona, 15/09/1913". In:_____.
Epistolario. Lettere edite e inedite, 1873-1932. Carrara: Centro Studi Sociali. p. 112-113.
_____. (1984[5]). "Correspondncia para Luigi Fabbri. Roma, 31/10/1922". In:_____.
Epistolario. Lettere edite e inedite, 1873-1932. Carrara: Centro Studi Sociali. p. 183-184.
_____. (1984[6]). "Correspondncia para Luigi Fabbri. Roma, 08/02/1925". In:_____.
Epistolario. Lettere edite e inedite, 1873-1932. Carrara: Centro Studi Sociali. p. 196-197.
_____. (1984[7]). "Correspondncia para Osvaldo Maraviglia. Roma, 08/04/1926". In:_____.
Epistolario. Lettere edite e inedite, 1873-1932. Carrara: Centro Studi Sociali. p. 212-213.
386
_____. (1984[8]). "Correspondncia para Antonio Gagliardi. Roma, 25/09/1926". In:_____.
Epistolario. Lettere edite e inedite, 1873-1932. Carrara: Centro Studi Sociali. p. 225.
_____. (1984[9]). "Correspondncia para Osvaldo Maraviglia. Roma, 03/11/1926". In:_____.
Epistolario. Lettere edite e inedite, 1873-1932. Carrara: Centro Studi Sociali. p. 233.
_____. (1984[10]). "Correspondncia para Gigi Damiani. Roma, 10/12/1926". In:_____.
Epistolario. Lettere edite e inedite, 1873-1932. Carrara: Centro Studi Sociali. p. 237-238.
_____. (1984[11]). "Correspondncia para Osvaldo Maraviglia. Roma, 16/12/1926".
In:_____. Epistolario. Lettere edite e inedite, 1873-1932. Carrara: Centro Studi Sociali. p.
239.
_____. (1984[12]). "Correspondncia para Gigi Damiani. Roma, 15/01/1927". In:_____.
Epistolario. Lettere edite e inedite, 1873-1932. Carrara: Centro Studi Sociali. p. 241.
_____. (1984[13]). "Correspondncia para Osvaldo Maraviglia. Roma, 14/03/1927".
In:_____. Epistolario. Lettere edite e inedite, 1873-1932. Carrara: Centro Studi Sociali. p.
248-249.
_____. (1984[14]). "Correspondncia para Gigi Damiani. Roma, 05/06/1927". In:_____.
Epistolario. Lettere edite e inedite, 1873-1932. Carrara: Centro Studi Sociali. p. 252.
_____. (1984[15]). "Correspondncia para Virgilia D'Andrea. Roma, set/1927". In:_____.
Epistolario. Lettere edite e inedite, 1873-1932. Carrara: Centro Studi Sociali. p. 259.
_____. (1984[16]). "Correspondncia para Osvaldo Maraviglia. Roma, 18/12/1927".
In:_____. Epistolario. Lettere edite e inedite, 1873-1932. Carrara: Centro Studi Sociali. p.
261-262.
_____. (1984[17]). "Correspondncia para Armando Borghi. Roma, 01/05/1928". In:_____.
Epistolario. Lettere edite e inedite, 1873-1932. Carrara: Centro Studi Sociali. p. 269.
_____. (1984[18]). "Correspondncia para Osvaldo Maraviglia. Roma, 08/08/1928".
In:_____. Epistolario. Lettere edite e inedite, 1873-1932. Carrara: Centro Studi Sociali. p.
271.
_____. (1984[19]). "Correspondncia para Virgilia D'Andrea. Roma, 03/04/1930". In:_____.
Epistolario. Lettere edite e inedite, 1873-1932. Carrara: Centro Studi Sociali. p. 285-286.
_____. (1984[20]). "Correspondncia para Gigi Damiani. Roma, 09/04/1930". In:_____.
Epistolario. Lettere edite e inedite, 1873-1932. Carrara: Centro Studi Sociali. p. 287-289.
_____. (1984[21]). "Correspondncia para Luigi Fabbri. Roma, 18/05/1931". In:_____.
Epistolario. Lettere edite e inedite, 1873-1932. Carrara: Centro Studi Sociali. p. 314-317.
_____. (1984[22]). "Correspondncia para Gigi Damiani. Roma, 28/05/1931". In:_____.
Epistolario. Lettere edite e inedite, 1873-1932. Carrara: Centro Studi Sociali. p. 318-319.
_____. (1984[23]). "Correspondncia para Virgilia D'Andrea. Roma, 06/08/1931". In:_____.
Epistolario. Lettere edite e inedite, 1873-1932. Carrara: Centro Studi Sociali. p. 333.
_____. (1984[24]). "Correspondncia para Gigi Damiani. Roma, 17/10/1931". In:_____.
Epistolario. Lettere edite e inedite, 1873-1932. Carrara: Centro Studi Sociali. p. 339-340.
387
_____. (1984[25]). "Correspondncia para Gigi Damiani. Roma, 08/11/1931". In:_____.
Epistolario. Lettere edite e inedite, 1873-1932. Carrara: Centro Studi Sociali. p. 341.
_____. (1984[26]). "Correspondncia para Gigi Damiani. Roma, 19/11/1931". In:_____.
Epistolario. Lettere edite e inedite, 1873-1932. Carrara: Centro Studi Sociali. p. 342.
_____. (1984[27]). "Correspondncia para Armando Borghi. Roma, 14/12/1931". In:_____.
Epistolario. Lettere edite e inedite, 1873-1932. Carrara: Centro Studi Sociali. p. 344.
_____. (1984[28]). "Correspondncia para Salvatore Vellucci. Roma, 17/12/1931". In:_____.
Epistolario. Lettere edite e inedite, 1873-1932. Carrara: Centro Studi Sociali. p. 345.
_____. (1984[29]). "Correspondncia para Luigi Fabbri. Roma, 11/03/1932". In:_____.
Epistolario. Lettere edite e inedite, 1873-1932. Carrara: Centro Studi Sociali. p. 355.
_____. (1984[30]). "Correspondncia para Luigi Fabbri. Roma, 03/05/1932". In:_____.
Epistolario. Lettere edite e inedite, 1873-1932. Carrara: Centro Studi Sociali. p. 358.
_____. (1984[31]). "Correspondncia para Armando Borghi. Roma, 03/05/1932". In:_____.
Epistolario. Lettere edite e inedite, 1873-1932. Carrara: Centro Studi Sociali. p. 360.
_____. (1984[32]). "Correspondncia para Osvaldo Maraviglia. Roma, 16/05/1932".
In:_____. Epistolario. Lettere edite e inedite, 1873-1932. Carrara: Centro Studi Sociali. p.
361-362.
_____. (1982[1]). "Un p di teoria". Paris, En-Dehors, 17/08/1892. In: _____. Rivoluzione e
lotta quotidiana. Vicenza: Edizioni Antistato. p. 56-59.
_____. (1982[2]). "Errori e rimedi. Schiarimenti". Londres, L'Anarchia, ago/1896. In: _____.
Rivoluzione e lotta quotidiana. Vicenza: Edizioni Antistato. p. 67-70.
_____. (1982[3]). "Questioni rivoluzionarie". Paris, La Rvolte, 10/10/1890. In: _____.
Rivoluzione e lotta quotidiana. Vicenza: Edizioni Antistato. p. 73-74.
_____. (1982[4]). "Andiamo fra il popolo". Ancona, L'Art. 248, 04/02/1894. In: _____.
Rivoluzione e lotta quotidiana. Vicenza: Edizioni Antistato. p. 74-78.
_____. (1982[5]). "Il compito degli anarchici". Paterson, La Questione Sociale, set-out/1899.
In: _____. Rivoluzione e lotta quotidiana. Vicenza: Edizioni Antistato. p. 79-82.
_____. (1982[6]). "Correspondncia para N. Converti". Londres, 10/03/1896. In: _____.
Rivoluzione e lotta quotidiana. Vicenza: Edizioni Antistato. p. 83-84.
_____. (1982[7]). "L'organizzazione". Ancona, L'Agitazione, 04/06/1897. In: _____.
Rivoluzione e lotta quotidiana. Vicenza: Edizioni Antistato. p. 84-87.
_____. (1982[8]). "L'organizzazione". Ancona, L'Agitazione, 11/06/1897. In: _____.
Rivoluzione e lotta quotidiana. Vicenza: Edizioni Antistato. p. 87-93.
_____. (1982[9]). "La politica parlamentare nel movimento socialista". Londres, 1890
(opsculo). In: _____. Rivoluzione e lotta quotidiana. Vicenza: Edizioni Antistato. p. 98-109.
_____. (1982[10]). "Un'intervista". L'Avanti!, 03/10/1897. In: _____. Rivoluzione e lotta
quotidiana. Vicenza: Edizioni Antistato. p. 123-127.
388
_____. (1982[11]). "Conferma". Ancona, L'Agitazione, 14/10/1897. In: _____. Rivoluzione e
lotta quotidiana. Vicenza: Edizioni Antistato. p. 127-131.
_____. (1982[12]). "Chiarimento". Ancona, L'Agitazione, 28/10/1897. In: _____. Rivoluzione
e lotta quotidiana. Vicenza: Edizioni Antistato. p. 131-136.
_____. (1982[13]). Anarchici pro-governo. [Cronaca Sovversiva, Paterson, 29/04/1916]. In:
_____. Scritti antimilitaristi dal 1912 al 1916. Milo: Cooperativa Segno Libero. p. 67-69.
_____. (1987). A anarquia e outros escritos. Traduo de Plnio A. Coelho. Braslia/So
Paulo: Novos Tempos/Centro de Cultura Social.
_____. (2005a ). The Duties of the Present Hour (1894). In: GRAHAM, R. (org. ).
Anarchism. A Documentary History of Libertarian Ideas. Montreal: Black Rose Books. p.
181-183. 1 volume: From Anarchy to Anarchismo (300CE to 1939).
_____. (2005b ). Violence as a Social Factor (1895). In: GRAHAM, R. (org. ). Anarchism. A
Documentary History of Libertarian Ideas. Montreal: Black Rose Books. p. 160-163. 1
volume: From Anarchy to Anarchismo (300CE to 1939).
MALATESTA, E. ; et al. (1915). Manifesto Internazionale Anarchico contro la Guerra.
Volont, Ancona, ano III, n 12, 20/mar,
MALATESTA, E. ; MERLINO, F. S. (2001). Democracia ou anarquismo? A clebre
polmica sobre as eleies, o anarquismo e a ao revolucionria que apaixonou a Itlia
rebelde. Traduo de Jlio Carrapato. Faro: Edies Sotavento.
2. bibliografia geral
AGAMBEN, G. Estado de Exceo. Traduo de Iraci D. Poleti. So Paulo: Boitempo, 2004.
ALY, G. Comment Hitler a achet les Alemands. Le IIIe Reich, une dictature au service du
peuple. Traduo de Marie Gravey. Paris: Flammarion, 2005.
ANSART, P. Marx y el anarquismo. Barcelona: Barral editores, 1972.
ANTONIOLI, M. Introduzione Anarchismo e/o Sindacalismo. In: _____ (org. ). Dibattito
sul Sindacalismo. Atti del Congresso Internazionale Anarchico di Amsterdam (1907).
Florena: CP Editrice, 1978. p. 7-33.
_____. Errico Malatesta, l'organizzazione operaia e il sindacalismo (1889-1914). Ricerche
Storiche, Florena, a. XIII, n 1, jan-abr/1983. p. 151-204.
_____. Il sindacalismo italiano. Dalle origini al fascismo. Pisa: BFS, 1997.
_____. L'Individualismo Anarchico. In: MASINI, P. C. ; ANTONIOLI, M. Il Sol
dell'Avvenire. L'Anarchismo in Italia dalle origini alla Prima Guerra Mondiale. Pisa: BFS,
1999a. p. 55-84.
_____. Gli anarchici e l'organizzazione. In: MASINI, P. C. ; ANTONIOLI, M. Il Sol
dell'Avvenire. L'Anarchismo in Italia dalle origini alla Prima Guerra Mondiale. Pisa: BFS,
1999b. p. 127-169.
389
AVELINO, N. Anarquistas: tica e antologia de existncias. Rio de Janeiro: Achiam, 2004.
BACON, F. Ensaios de Francis Bacon. Traduo de Alan N. Ditchfield. Petrpolis: Vozes,
2007.
BAKER, K. M. Condorcet. In: FURET, F. ; OZOUF, M. (org). Dicionrio crtico da
Revoluo Francesa. Traduo de Henrique de A. Mesquita. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
1989. p. 230-239.
BAKUNIN, M. O conceito de liberdade. Porto: Rs, 1975.
_____. Confesin al Zar Nicols I. Barcelona: Editorial Labor, 1976.
_____. Obras Completas. Madrid: La Piqueta, 1986. tomo 5: Estatismo y Anarquia (1873).
BALSAMINI, L. Gli Arditi del Popolo. Dalla guerra alla difesa del popolo contro le violenze
fasciste. Salerno: Galzerano Editore, 2002.
BENBOW, W. Grand National Holiday, and Congress of the Productive Classes. Disponvel
em: <http://www. marxists. org/history/england/chartists/benbow-congres> (Acesso em: 25
jul 2007), 1832.
BERTI, G. La rivoluzione e il nostro tempo. Volont, Npoles, n 4, ano XXXVII, out-
dez/1983. p. 29-40.
_____. L'anarchismo e 'il crollo dell'ideologia'. Volont, Npoles, n 2, ano XL, abr-jun/1986.
p. 65-75.
_____. Errico Malatesta e il movimento anarchico italiano e internazionale, 1872-1932.
Milo: Franco Angeli, 2003.
BETTINI, L. Bibliografia dellanarchismo. Florena: CP Editrice, 1976. vol. I, tomo 2:
periodici e numeri unici anarchici in lingua italiana publicati allestero (1872-1971).
BRANDO, J. de S. Mitologia Grega. 10 ed. , Petrpolis: Vozes, 2000. v. III.
BURKE, E. Reflexes sobre a Revoluo em Frana. 2 ed. , traduo de Renato de A. Faria.
Braslia: UNB, 1997.
CERRITO, G. Dall'insurrezionalismo alla settimana rossa: per una storia dell'anarchismo in
Italia (1881/1914). Florena: CP Editrice, 1977.
CHAMBOST, A-S. Proudhon et la norme. Pense juridique dun anarchiste. Rennes: Presses
universitaires de Rennes, 2004.
CHEVALIER, L. Classes laborieuses et classes dangereuses Paris pendant la premire
moiti du XIXe sicle. Paris: ditions Perrin, 2002.
COLE, G. D. H. Socialismo e fascismo. In: DE FELICE, R. (org. ). Il fascismo. Le
interpretazioni dei contemporanei e degli storici. Bari: Editori Laterza, 1998. p. 667-679.
COLSON, D. Petit lexique philosophique de l'anarchisme. De Proudhon Deleuze. Paris:
Librairie Gnrale Franaise, 2001.
_____. A cincia anarquista. Novos Tempos, So Paulo, n 3, 3 quadrimestre, 2001. p. 23-50.
390
_____. Proudhon e Leibniz. Anarchie et monadologie. IN: PESSIN, A. ; PUCCIARELLI, M.
Lyon et l'esprit proudhonien. Actes du colloque de Lyon 6 et 7 dcembre 2002. Lyon: Atelier
de Cration Libertaire, Socit P. -J. Proudhon, Universit Solidaire, 2003. p. 95-122.
_____. Trois essais de philosophie anarchiste. Islam - Histoire - Monadologie. Paris: ditions
Lo Scheer, 2004.
_____. A filiao de Proudhon. Traduo de Martha Gambini. Verve, Nu-Sol, So Paulo, n 9,
maio, 2006. p. 23-29.
DAD, A. L'anarchismo in Italia: fra movimento e partito. Milo: Teti editore, 1984.
DE AMBRIS, A. L'evoluzione del fascismo. In: DE FELICE, R. (org. ). Il fascismo. Le
interpretazioni dei contemporanei e degli storici. Bari: Editori Laterza, 1998. p. 197-216.
DE FELICE, R. Mussolini il rivoluzionario, 1883-1920. Turim: Einaudi, 1995.
_____. Autobiografia del fascismo. Antologia di testi fascisti 1919-1945. Turim: Einaudi,
2004.
DE FELICE, R. (org. ). Il fascismo. Le interpretazioni dei contemporanei e degli storici. Bari:
Editori Laterza, 1998.
DEAN, M. Critical and effective histories. Foucault's methods and historical sociology.
Londres: Routledge, 1994.
_____. Governmentality: power and rule in modern society. Londres: Sage Publ, 1999.
_____. Governing Societies: Political perspectives on domestic and international rule.
Londres: MacGraw-Hill, 2007.
DELEPLACE, M. L'Anarchie de Mably Proudhon (1750-1850). Histoire d'une
appropriation polmique. Lyon: ENS ditions, 2000.
DELEUZE, G. Foucault. So Paulo: Brasiliense, 1995.
_____. Conversaes, 1972-1990. Traduo de Peter Pl Pelbart. So Paulo: Ed. 34, 2004.
DELEUZE, G. ; GUATTARI, F. Mil plats capitalismo e esquizofrenia. Traduo de
Aurlio G. Neto, Ana L. de Oliveira, Lcia C. Leo e Suely Rolnik. So Paulo: Ed. 34, 1996.
v. 3.
_____. Mil plats capitalismo e esquizofrenia. Traduo de Peter P. Pelbart e Janice Caiafa.
So Paulo: Ed. 34, 2002. v. 5.
_____. Mil plats capitalismo e esquizofrenia. Traduo de Suely Rolnik. So Paulo: Ed.
34, 2005. v. 4.
DI LEMBO, L. Guerra di classe e lotta umana. Lanarchismo in Italia dal biennio rosso alla
guerra di Spagna (1919-1939). Pisa: BFS, 2001.
DONZELOT, J. L'Invention du social. Essai sur le dclin des passions politiques. Paris:
itions du Seuil, 1994.
DORSO, G. La rivoluzione in marcia: il fascismo. In: DE FELICE, R. Il fascismo. Le
interpretazioni dei contemporanei e degli storici. Bari: Editori Laterza, 1998. p. 229-257.
391
ESPINOSA, B. de. Tratado teolgico-poltico. Traduo de Diogo Pires Aurlio. So Paulo:
Martins Fontes, 2003.
FABBRI, L. Resoconto generale del Congresso Anarchico di Amsterdam, 24-31 Agosto
1907. Il Pensiero: rivista quindicinale di sociologia, arte e letteratura, Roma, a. V, n 20-21,
16/out-1/nov, 1907. p. 326-344.
_____. [Abertura]. In: MALATESTA, E. Lo Sciopero. Dramma in 3 atti. Genebra: Libreria
del Risveglio, 1933. p. 1.
_____. Malatesta. Traduo de Diego Abad de Santilln. Buenos Aires: Editorial Americalee,
1945.
_____. Dictadura y revolucin. Traduo de D. A. de Santilln. Buenos Aires: Editorial
Proyeccin, 1967.
_____. La contre-rvolution prventive. In: MANFREDONIA, G. Luigi Fabbri, le
mouvement anarchiste italien et la lutte contre le fascisme. Paris: ditions du Monde
Libertaire, 1994. p. 179-372.
FEDELE, S. Una Breve ilusione. Gli anarchici e la Russia sovietica (1917-1939). Milo:
Franco Angeli,1996.
FEDELI, U. Bibliografa malatestiana. Npoles: Edizioni RL, 1951.
FERRER, C. Gastronomia e anarquismo - vestgios de viagens patagnia trapeiro. Verve,
Nu-Sol, So Paulo, n 3, abril/2003, p. 137-160.
FINZI, P. La nota persona. Errico Malatesta in Italia (dicembre 1919/luglio 1920). Ragusa:
La Fiaccola, 1990.
FOUCAULT, M. La socit punitive. Cours au Collge de France (1972-1973). Paris: indito,
datilografado [Biblioteca Geral, Collge de France], 1973.
_____. Du gouvernement des vivants. Cours au Collge de France (1979-1980). Paris: indito,
udio [Biblioteca Geral, Collge de France], 1980.
_____. Subjectivit et verit. Cours au Collge de France (1980-1981). Paris: indito, udio
[Biblioteca Geral, Collge de France], 1981.
_____. Histria da Sexualidade. 11 ed. , traduo de Maria T. da C. Albuquerque e J. A.
Guilhon Albuquerque. Rio de Janeiro: Graal, 1993. v. 1: A vontade de saber.
_____. O Sujeito e o Poder. In: DREYFUS, H. L. ; RABINOW, P. Michel Foucault, uma
trajetria filosfica. Para alm do estruturalismo e da hermenutica. Traduo de Vera Porto
Carrero. Rio de Janeiro: Forense, 1995. p. 231-249.
_____. Em defesa da sociedade. Curso no Collge de France (1975-1976). Traduo de Maria
Ermantina Galvo. So Paulo: Martins Fontes, 1999a.
_____. Histria da loucura na idade clssica. 6 edio, traduo de Jos T. C. Netto. So
Paulo: Perspectiva, 1999b.
_____. A ordem do discurso. Aula inaugural no Collge de France, pronunciada em 2 de
dezembro de 1970. 5 edio, traduo de Laura F. de A. Sampaio. So Paulo: Loyola, 1999c.
392
_____. Vigiar e punir. Nascimento da priso. 22 ed. , traduo de Raquel Ramalhete.
Petrpolis: Vozes, 2000a.
_____. As palavras e as coisas. Uma arqueologia das cincias humanas. Traduo de Salma
T. Muchail. So Paulo: Martins Fontes, 2000b.
_____. Prefcio Transgresso. In: MOTTA, M. B. (org. ). Ditos e Escritos. Traduo de
Ins A. D. Barbosa. Rio de Janeiro: Forense, 2001a. v. III: Esttica: Literatura e Pintura,
Msica e Cinema. p. 28-46.
_____. Dits et crits. Paris: Gallimard, 2001b. v. I: 1954-1975.
_____. Dits et crits. Paris: Gallimard, 2001c. v. II: 1976-1988.
_____. A verdade e as formas jurdicas. 3 ed. , traduo de Roberto Machado e Eduardo J.
Moarias. Rio de Janeiro: Nau, 2002a.
_____. La hermenutica del sujeto. Curso en el Collge de France (1981-1982). Mxico:
Fondo de Cultura Econmica, 2002b.
_____. Os anormais. Curso no Collge de France (1974-1975). So Paulo: Martins Fontes,
2002c.
_____. Precises sobre o poder. Respostas a certas crticas. In: MOTTA, M. de B. (org. ).
Ditos e Escritos. Traduo: Vera L. A. Ribeiro. Rio de Janeiro: Forense, 2003a. v. IV:
Estratgia, Poder-Saber. p. 270-280.
_____. Le pouvoir psychiatrique. Cours au Collge de France, 1973-1974. Paris:
Gallimanrd/Seuil, 2003b.
_____. A 'Governamentalidade'. In: MOTTA, M. de B. (org. ). Ditos e Escritos. Traduo de
Vera L. A. Ribeiro. Rio de Janeiro: Forense, 2003c. v. IV: Estratgia, Poder-Saber. p. 281-
305.
_____. A sociedade disciplinar em crise. In: MOTTA, M. de B. (org. ). Ditos e Escritos.
Traduo de Vera L. A. Ribeiro. Rio de Janeiro: Forense, 2003d. v. IV: Estratgia, Poder-
Saber. p. 267-269.
_____. A vida dos homens infames. In: MOTTA, M. de B. (org. ). Ditos e Escritos. Traduo
de Vera L. A. Ribeiro. Rio de Janeiro: Forense, 2003e. v. IV: Estratgia, Poder-Saber. p. 201-
222.
_____. Poder e saber. In: MOTTA, M. de B. (org. ). Ditos e Escritos. Traduo de Vera L. A.
Ribeiro. Rio de Janeiro: Forense, 2003f. v. IV: Estratgia, Poder-Saber. p. 223-240.
_____. intil revoltar-se?. In: MOTTA, M. de B. (org. ). Ditos e Escritos. Traduo: Elisa
Monteiro e Ins A. D. Barbosa. Rio de Janeiro: Forense, 2004a. v. V: tica, sexualidade,
poltica. p. 77-81.
_____. Scurit, territoire, population. Cours au Collge de France, 1977-1978. Paris:
Gallimard/Seuil, 2004b.
_____. Naissance de la biopolitique. Cours au Collge de France, 1978-1979. Paris:
Gallimard/Seuil, 2004c.
393
_____. Do governo dos vivos. Transcrio, traduo e notas de Nildo Avelino. Verve, So
Paulo, Nu-Sol, n. 12, outubro,2007. p. 270-298.
FOUCAULT, M; FARGE, A. (orgs. ). Le dsordre des familles. Lettres de cachet des
Archives de la Bastille. Paris: Gallimard, 1982.
GALLEANI, L. La propaganda col fatto. Vaillant, Henry, Sante Caserio: gli attentati alla
Camera dei Deputati, al Caff Terminus e al Presidente della Repubblica, Carnot (cronache
giudiziarie dellanarchismo militante, 1893-1894). Guasila: T. Serra,1994.
GARCA, V. Presentacin: Bakunin, hoy. In: BAKUNIN, M. Obras Completas. Madrid:
Jcar, 1980. p. 5-55, v. 1: La revolucin social en Francia.
GARCA, V. L'Anarchisme aujourd'hui. Paris: L'Harmattan, 2007.
GRAMSCI, A. Obras Escolhidas. Traduo por Manuel B. da Cruz. Lisboa: Editorial
Estampa, 1974. v. II.
GRIMAL, P. Dicionrio da mitologia grega e romana. 3 ed. ,traduo de Victor Jabouille.
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997.
GROUPE des anarchistes russes l'tranger. Le problme organisationnel et l'ide de
synthse. In: MANFEDRONIA, G. ; et al. Lorganisation anarchiste. Textes fondateurs.
Paris: Les ditions de LEntraide, 2005a. p. 23-28.
_____. Plate-forme organisationnelle de l'Union gnrale des anarchistes. In:
MANFEDRONIA, G. ; et al. Lorganisation anarchiste. Textes fondateurs. Paris: Les
ditions de LEntraide, 2005b. p. 29-60.
GUILLAUME, J. L'Internationale. Documents et souvenirs (1864-1872). Paris: ditions
Grard Lebovici, 1985a. t. I
_____. L'Internationale. Documents et souvenirs (1864-1872). Paris: ditions Grard
Lebovici, 1985b. t. II
GURVITCH, G. Proudhon e Marx. 2 ed. , traduo de Luz Cary. Lisboa: Editorial Presena,
1980.
HAYEK, F. A. von. Socialismo e fascismo. In: DE FELICE, R. (org. ). Il fascismo. Le
interpretazioni dei contemporanei e degli storici. Bari: Editori Laterza, 1998. p. 715-719.
HINDESS, B. Liberalism, socialism and democracy: variations on a governmental theme.
Economy and Society (Special issue: Liberalism, neo-liberalism and governmentality),
Londres, vol. 22, n. 3, agosto/1993, pp. 300-313.
_____. Discourses of power: from Hobbes to Foucault. Oxford: Blackwell Publishers, 1996.
HOBBES DE MALMESBURY, T. Os pensadores. Traduo de Joo Monteiro e Maria B. N.
da Silva. So Paulo: Victor Civita, 1974. v. XIV: Leviat ou matria, forma e poder de um
Estado eclesistico e civil.
HUGHES, H. S. La natura del sistema fascista. In: DE FELICE, R. (org. ). Il fascismo. Le
interpretazioni dei contemporanei e degli storici. Bari: Editori Laterza, 1998. p. 680-688.
JENSEN, R. B. The International Anti-Anarchist Conference of 1898 and the Origins of
Interpol. Journal of Contemporary History, Londres, vol. 16, n. 2, abril, 1981. p. 323-347.
394
_____. Daggers, rifles and dynamite: Anarchist Terrorism in nineteenth century Europe.
Terrorism and Political Violence, Londres, vol. 16, n. 1, primavera, 2004. p. 116-153.
KAMINSKI, A. J. I campi di concentramento dal 1896 a oggi. Storia, funzioni, tipologia.
Turim: Bollati Boringhieri, 1998.
KANT, E. Projet de Paix Perptuelle. Esquisse Philosophique 1795. Traduo de J. Gibelin.
Paris: J. Vrin, 1984.
KROPOTKIN, P. ; et al. Manifesto dei sedici. Rivista Libertaria, Milo, ano I, n 1, out-
dez/1999. p. 67-69.
LANDRY, J. -M. Gnalogie politique de la psychologie. Une lecture du cours de Michel
Foucault 'Du gouvernement des vivants' (Collge de France, 1980). Raisons Politiques, Paris,
n. 25, fevereiro/2007, pp. 31-45.
LEHNING, A. (org. ). Bakounine et les autres. Esquisses et portraits contemporains d'un
rvolutionnairre. Paris: Union Gnrale d'ditions, 1976.
LEIBNIZ, G. W. Os pensadores. So Paulo: Victor Civita, 1974. v. XIX: "A Monadologia,
Discursos de Metafsica e outras obras.
LEMKE, T. "A Zone of Indistinction" A Critique of Giorgio Agambens Concept of
Biopolitics. Disponvel em: <www. thomaslemkeweb. de> (Acesso em: 10 ago 2007), 2005.
LEVY, C. Malatesta in London: the era of dynamite. In: SPONZA, L. ; TOSI, A. A century of
italian emigration to Britain 1880-1980s, five essays. Cambridge, Suplement to the italianist
number thirtenn, 1993. p. 25-42.
_____. Charisma and social movements: Errico Malatesta and Italian anarchism. Modern
Italy, Cambridge, v. 3, n 2, 1998. p. 205-217.
_____. Gramsci and the Anarchists. Oxford: Berg, 1999.
LISSAGARAY, P. -O. Histria da Comuna de 1871. 2 ed. , traduo de Sieni M. Santos.
So Paulo: Ensaio, 1995.
LOMBROSO, C. ; LASCHI, R. Le crime politique et les rvolutions par rapport au droit,
l'anthropologie criminelle et la science du gouvernement. Traduo de A. Bouchard. Paris:
Flix Alcan, 1892.
LOPES, E. Lucheni um terrorista anarquista. Verve, So Paulo, Nu-Sol, n 12, outubro, 2007.
p. 300-306.
LUBAC, H. de. Proudhon e il cristianesimo. Traduo de Carola Mattioli. Milo: Jaca Book,
1985.
MAITRON, J. Le mouvement anarchiste en France. Paris: Gallimard, 1975. vol. I: des
origines 1914
_____. Ravachol e os anarquistas. Lisboa: Antgona1981.
_____. mile Henry, o benjamim da anarquia. Verve, So Paulo, n 7, maio, 2005, p. 11-42.
MALTHUS, T. R. Ensaio sobre a populao. Traduo de Regis de Castro, Dinah de A.
Azevedo e Antonio A. Cury. So Paulo: Victor Civita, 1983. Coleo "Os economistas".
395
MANFREDONIA, G. Le dbat "plate-forme" ou "synthse". In: _____; et al. Lorganisation
anarchiste. Textes fondateurs. Paris: Les ditions de LEntraide, 2005. p. 5-22.
MANTOVANI, A. Errico Malatesta e la crise di fine secolo. Dal processo di Ancona al
regicidio. Milo, 275f. Tese (Laurea), Universit degli Studi di Milano, Facolt di Lettere e
Filosofia, 1988.
MAQUIAVEL, N. Os pensadores. Traduo de Lvio Xavier. So Paulo: Victor Civita, 1973.
vol. IX: O Prncipe, Escritos Polticos.
_____. Comentrios sobre a Primeira Dcada de Tito Lvio. Traduo de Srgio Bath. 3 ed. ,
Brasilia: UNB, 1994.
MARX, K. Misria da Filosofia. Traduo de Jos Carlos Morel. So Paulo: cone editora,
2004.
MASINI, P. C. Storia degli anarchici italiani. Da Bakunin a Malatesta (1862-1892). Milo:
Rizzoli Editore, 1974.
_____. Storia degli anarchici italiani nellepoca degli attentati. Milo: Rizzoli Editore, 1981.
_____. Gli Anarchici fra neutralit e intervento (1914-1915). Rivista Storica dell'Anarchismo,
Pisa, n 8, ano 2, jul-dez/2001. p. 9-22.
MAY, T. Ps-estruturalismo e anarquismo. Margem, So Paulo, n 5, 1996, p. 171-185.
_____. Anarchismo e post-struturalismo. Da Bakunin a Foucault. Traduo de Salvo Vaccaro.
Milo: Eluthera, 1998.
MEYET, S. Les trajectoires d'un texte: "la gouvernementalit" de Michel Foucault. In: _____;
NAVES, M. -C. ; RIBEMONT, T. (orgs. ). Travailler avec Foucault. Retours sur le politique.
Paris: L'Harmattan, 2005. p. 13-36.
MOREL, J. C. O. Introduo. In: PROUDHON, P. -J. Sistemas das Contradies Econmicas
ou Filosofia da Misria. Traduo de Jos Carlos Orsi Morel. So Paulo: cone editora, 2003.
p. 7-32.
NETTLAU, M. Errico Malatesta. La vida de un anarquista. Traduo de Diego Abad de
Santilln. Buenos Aires: Editorial La Protesta, 1923.
_____. Malatesta e la guerra. In: MALATESTA, E. Scritti antimilitaristi dal 1912 al 1916.
Milo: Cooperativa Segno Libero, 1982. p. 73-91.
NEWMAN, S. From Bakunin to Lacan. Anti-Authoritarianism and the Dislocation of Power.
Boston: Lexington Books, 2001.
_____. Power and Politics in Poststructuralist Thought. New theories of the political.
Londres: Routledge, 2005.
_____. Guerra ao Estado: o anarquismo de Stirner e Deleuze. Traduo de Anamaria Salles e
Andre Degenszajn. Verve, Nu-Sol, So Paulo, n 8, outubro/2005a. p. 13-41.
_____. As polticas do ps-anarquismo. Traduo de Andre Degenszajn e Olivia Goulart.
Verve, Nu-Sol, So Paulo, n 9, maio/2006. p. 30-50.
396
NIETZSCHE, F. A gaia cincia. Traduo de Paulo C. de Souza. So Paulo: Cia. das Letras,
2001.
_____. Alm do bem e do mal. Preldio a uma filosofia do futuro. 2 ed. , traduo de Paulo
C. de Souza. So Paulo: Cia. das Letras, 2002.
OZOUF, M. Revoluo. In: FURET, F. ; OZOUF, M. Dicionrio crtico da Revoluo
Francesa. Traduo de Henrique de A. Mesquita. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1989. p.
840-851.
PAINE, T. Os direitos do Homem. Uma resposta ao ataque do sr. Burke Revoluo
Francesa. Traduo de Jaime A. Clasen. Petrpolis: Vozes, 1989.
PASQUINO, P. Political theory of war and peace: Foucault and the history of modern
political theory. Economy and Society, Londres, vol. 22, n 1, fevereiro/1993. p. 77-88.
PASSETTI, E. Poltica e massa: o impasse liberal por Ludwig von Mises. So Paulo, 333f.
Tese (Doutorado em Cincias Sociais - Poltica), Pontifcia Universidade Catlica, 1994.
_____. Foucault libertrio. Margem, So Paulo, n 5, 1996, p. 135-147.
_____. ticas dos amigos: invenes libertrias da vida. So Paulo: Imaginrio/CAPES,
2003a.
_____. Anarquismos e sociedade de controle. So Paulo: Cortez, 2003b.
_____. Anarquismo urgente. Rio de Janeiro: Achiam, 2007.
PASSETTI, E. ; OLIVEIRA, S. (orgs. ). Terrorismos. So Paulo: Educ2006.
PASSETTI, E. ; RESENDE, P. -E. A. Proudhon: aqui comea o anarquismo in _____ (orgs. ).
Pierre-Joseph Proudhon (coleo grandes cientistas sociais). So Paulo: tica, 1986. p. 7-30.
PELLOUTIER, F. Textes choisis. In: JULLIARD, J. Fernand Pelloutier et les origines du
syndicalisme d'action directe. Paris: Seuil, 1971. p. 265-518.
PORTER, B. The Origins of the Vigilant State. The London Metropolitan Police Special
Branch before the First World War. Londres: The Boydell Press, 1987.
POUGET, . 1906. Le Congrs syndicaliste d'Amiens. Paris: ditions CNT, 2006.
PROCACCI, G. Gouverner la misre. La question sociale em France (1789-1848). Paris:
Seuil, 1993.
PROUDHON, P-J. Filosofa del Progresso. Traduo de Francisco P y Margall. Madrid:
Librera de Alfonso Duran, 1869 [1853].
_____. Las confesiones de un revolucionario. Para servir a la historia de la revolucin de
febrero de 1848. Traduo de Diego A. de Santillan. Buenos Aires: Editorial Americalee,
1947 [1849].
_____. Ide gnrale de la rvolution au XIXe sicle. Antony: dition de la Fdration
Anarchiste, 1979 [1851].
_____. De la justice dans la rvolution et dans l'glise. tudes de philosophie pratique. Paris:
Fayard, 1988a [1860]. tomo I.
397
_____. De la justice dans la rvolution et dans l'glise. tudes de philosophie pratique. Paris:
Fayard, 1988b [1860]. tomo II.
_____. De la justice dans la rvolution et dans l'glise. tudes de philosophie pratique. Paris:
Fayard, 1990 [1860]. tomo III.
_____. Ides Rvolutionnaires. Antony: ditions Tops/H. Trinquier, 1996a [1848].
_____. Do Princpio Federativo e da necessidade de recontruir o partido da revoluo.
Traduo de Francisco Trindade. Lisboa: Colibri, 1996b [1863].
_____. O que a propriedade? 3 ed. , traduo de Marlia Caeiro. Lisboa: Editorial Estampa,
1997 [1840].
_____. La guerre et la paix. Antony: ditions Tops/H. Trinquier, 1998a [1861]. tomo I.
_____. La guerre et la paix. Antony: ditions Tops/H. Trinquier, 1998b [1861]. tomo II.
_____. De la cration de l'ordre dans l'humanit. Antony: ditions Tops/H. Trinquier, 2000a
[1843]. tomo I
_____. De la cration de l'ordre dans l'humanit. Antony: ditions Tops/H. Trinquier, 2000b
[1843]. tomo II
_____. Sistemas das Contradies Econmicas ou Filosofia da Misria. So Paulo: cone
editora, 2003. tomo I.
_____. Sobre o princpio da associao. Traduo de Martha Gambini. Verve, So Paulo, n
10, outubro, 2006, p. 44-74.
RAGO, M. Entre a histria e a liberdade. Luce Fabbri e o anarquismo contemporneo. So
Paulo: Unesp, 2000.
_____. Foucault, histria e anarquismo. Rio de Janeiro: Achiam, 2004.
REALE, G. Corpo, alma e sade. O conceito de homem de Homero a Plato. So Paulo:
Paulus, 2002.
ROCKER, R. En la borrasca (aos de destierro). Traduo de Diego A. de Santillan. Buenos
Aires: Editorial Tupac, 1949.
RPKE, W. Il nazionalsocialismo come totalitarismo. In: DE FELICE, R. (org. ). Il fascismo.
Le interpretazioni dei contemporanei e degli storici. Bari: Editori Laterza, 1998. p. 724-734.
ROSE, N. ; BARRY, A. ; OSBORNE, T. Liberalism, neo-liberalism and governmentality:
introduction. Economy and Society (Special issue: Liberalism, neo-liberalism and
governmentality), Londres, vol. 22, n. 3, agosto/1993. p. 265-266.
ROSE, Nikolas. Powers of freedom: reframing political thought. Cambridge: Cambridge
University Press, 1999.
ROUSSEAU, J. -J. Os pensadores. Traduo de Lourdes S. Machado. So Paulo:Victor
Civita,1973. v. XXIV: Do contrato social ou princpios do direito poltico, Ensaio sobre a
origem das lnguas, Discurso sobre as cincias e as artes, Discurso sobre a origem e os
fundamentos da desigualdade entre os homens.
398
SANTARELLI, E. Il socialismo anarchico in Italia. Milo: Feltrinelli, 1973.
SARTI, R. Giuseppe Mazzini. La politica come religione civile. Roma-Bari: Laterza, 2000.
SENNELART, M. Situation des cours. In: FOUCAULT, Michel. Scurit, territoire,
population. Cours au Collge de France, (1977-1978). Paris: Gallimanrd/Seuil, 2004. p. 379-
411
_____. As artes de governar. Traduo de Paulo Neves. So Paulo: ed. 34, 2006.
SHAKESPEARE, W. Obras completas. 2 edio, traduo de Carlos Alberto Nunes. So
Paulo: Edies Melhoramentos, s/d. vol. XI:Coriolano, Macbeth.
SZAKOLCZAI, A. Max Weber and Michel Foucault. Parallel life-works. Londres:
Routledge, 1998.
TOCQUEVILLE, A. Lembrancas de 1848: as jornadas revolucionarias em Paris. So Paulo:
Cia. das Letras, 1991.
_____. Memoria sobre el pauperismo. Traduo de Juan M. Ros. Madrid: Tecnos, 2003.
VACCARO, S. Foucault e o anarquismo. Margem, So Paulo, n 5, 1996. p. 158-170.
_____. Prefazione. In: MAY, T. Anarchismo e post-struturalismo. Da Bakunin a Foucault.
Milo: Eluthera, 1998. p. 7-17.
_____. Anarchismo e modernit. Pisa: BFS, 2004.
VEYNE, P. Como se escreve a histria. 4 ed. , trad. de Alda Baltar e Maria A. Kneipp.
Braslia: UNB, 1998.
VOLINE et al. A propos du projet d'une "Plate-forme d'organisation". In: MANFEDRONIA,
G. ; et al. Lorganisation anarchiste. Textes fondateurs. Paris: Les ditions de LEntraide,
2005. p. 77-121.
WEBER, M. Economia e Sociedade. Fundamentos da Sociologia Compreensiva. Traduo de
Regis Barbosa e Karen E. Barbosa. Braslia: UNB, 1999. v. 2.
3. peridicos consultados:
Revistas
Rivista Anarchica, Milo.
Rivista Libertaria, Milo.
Rivista Storica dell'Anarchismo, Pisa.
Quaderni della Rivista Storica dell'Anarchismo, Pisa.
Volont, Npoles.
Volont, Genova-Nervi.
399
Volont, Genova.
Volont, Pistoia.
Volont, Milo.
Jornais
Cause ed effetti, Londres.
Commemorando Errico Malatesta nel 18 anno della sua morte, Roma.
Guerra e pace, Ancona.
La Questione Sociale, Buenos Aires.
La Questione Sociale, Florena.
La Questione Sociale, Florena-Livorno.
La Questione Sociale, Pisa.
La Questione Sociale, Turim.
L'Adunata dei Refrattari, New York.
L'Agitazione, Ancona.
L'Agitatore, Ancona.
L'Agitiamoci, Ancona.
L'Agitatevi, Ancona.
L'Associazione, Nice Martima.
L'Associazione, Londres.
Volont, Ancona.
4. outras fontes:
ACS/CPC. Schedario Politico di Errico Malatesta. Roma, b. 2949, fasc. 1, pp. 176, 1883-
1892.
ACS/CPC. Schedario Politico di Errico Malatesta. Roma, b. 2949, fasc. 2, pp. 59, 1894-1909.
ACS/CPC. Schedario Politico di Errico Malatesta. Roma, b. 2950, fasc. 3, pp. 64, 1911-1913.
ACS/CPC. Schedario Politico di Errico Malatesta. Roma, b. 2950, fasc. 4, pp. 59, 1913-1914.
ACS/CPC. Schedario Politico di Errico Malatesta. Roma, b. 2950, fasc. 5, p. 21, 1914-1918.
400
ACS/CPC. Schedario Politico di Errico Malatesta. Roma, b. 2951, fasc. 6, pp. 130, 1919-
1920.
ACS/CPC. Schedario Politico di Errico Malatesta. Roma, b. 2951, fasc. 7, pp. 20, 1921-1923.
ACS/CPC. Schedario Politico di Errico Malatesta. Roma, b. 2951, fasc. 8, pp. 433, 1920-
1924.
ACS/CPC. Schedario Politico di Errico Malatesta. Roma, b. 2952, fasc. 9, pp. 61, 1924-1928.
ACS/CPC. Schedario Politico di Errico Malatesta. Roma, b. 2952, fasc. 10, pp. 45, 1928-
1930.
ACS/CPC. Schedario Politico di Errico Malatesta. Roma, b. 2952, fasc. 11, pp. 99, 1930-
1931.
ACS/CPC. Schedario Politico di Errico Malatesta. Roma, b. 2952, fasc. 12, pp. 90, 1931-
1932.
ACS/CPC. Schedario Politico di Errico Malatesta. Roma, b. 2953, fasc. 13, pp. 36, 1896-
1932.
ACS/CPC. Schedario Politico di Elena Melli. Roma, b. 3211, fasc. 1, pp. 49, 1918-1932.
ACS/CPC. Schedario Politico di Elena Melli. Roma, b. 3211, fasc. 2, pp. 29, 1918-1934.
ACS/CPC. Schedario Politico di Elena Melli. Roma, b. 3211, fasc. 3, pp. 47, 1933-1934.
ACS/CPC. Schedario Politico di Elena Melli. Roma, b. 3212, fasc. 4, pp. 54, 1935-1936.
ACS/CPC. Schedario Politico di Elena Melli. Roma, b. 3212, fasc. 5, pp. 41, 1936-1938.
ACS/CPC. Schedario Politico di Elena Melli. Roma, b. 3212, fasc. 6, pp. 63, 1918-1941.
ACS/CPC. Schedario Politico di Luigi Damiani. Roma, b. 1601, fasc. 1, pp. 26, 1894-1931.
ACS/CPC. Schedario Politico di Luigi Damiani. Roma, b. 1601, fasc. 2, pp. 9, 1931-1934.
ACS/CPC. Schedario Politico di Luigi Damiani. Roma, b. 1601, fasc. 3, pp. 6, 1934-1943.
Vous aimerez peut-être aussi
- Informativo 14 2017 2Document18 pagesInformativo 14 2017 2gatjPas encore d'évaluation
- Artigo O Antiterrorismo Após o 11 de Setembro e o Policiamento GlobalDocument18 pagesArtigo O Antiterrorismo Após o 11 de Setembro e o Policiamento GlobalgatjPas encore d'évaluation
- Informativo 08Document13 pagesInformativo 08LauroBorbaPas encore d'évaluation
- Cicero Das LeisDocument3 pagesCicero Das LeisgatjPas encore d'évaluation
- Marx Questao JudaicaDocument41 pagesMarx Questao JudaicaJuan Juan100% (2)
- AQUINO, São Tomás De. Escritos Políticos de São Tomás de AquinoDocument172 pagesAQUINO, São Tomás De. Escritos Políticos de São Tomás de AquinoAtaque Violento100% (1)
- Kant - Crítica Da Razão Prática (PDF-Livro)Document327 pagesKant - Crítica Da Razão Prática (PDF-Livro)Luis Carlos Dalla RosaPas encore d'évaluation
- LOSURDO, D. Como Nasceu e Como Morreu o Marxismo OcidentalDocument30 pagesLOSURDO, D. Como Nasceu e Como Morreu o Marxismo OcidentalEric FonsecaPas encore d'évaluation
- Historia Da Guerra Do Peloponeso - TucididesDocument598 pagesHistoria Da Guerra Do Peloponeso - TucididesMICHELLETABORDA100% (2)
- Fritijof Capra - O Ponto de MutaçãoDocument432 pagesFritijof Capra - O Ponto de MutaçãoLeonardo RodriguezPas encore d'évaluation
- Pare de se importar com o que os outros pensamDocument26 pagesPare de se importar com o que os outros pensamEFJTECPas encore d'évaluation
- PlanoEnsinoLeituraProduçãoTextosDocument4 pagesPlanoEnsinoLeituraProduçãoTextosEzio SantosPas encore d'évaluation
- Trabalho Processo de Tomada de Decisão - Solução Ampliada de Problema - Compra de Um VeículoDocument10 pagesTrabalho Processo de Tomada de Decisão - Solução Ampliada de Problema - Compra de Um VeículoHumberto De Azevedo BehsPas encore d'évaluation
- Felipe Charbel - Janelasirreais - Final - Grafica PDFDocument190 pagesFelipe Charbel - Janelasirreais - Final - Grafica PDFGuille GonzálezPas encore d'évaluation
- Psicologia Da EducaçãoDocument29 pagesPsicologia Da EducaçãoClaudson Cerqueira SantanaPas encore d'évaluation
- Comunicação AssertivaDocument29 pagesComunicação Assertivanavolar100% (2)
- Prática de ensino na escolaDocument54 pagesPrática de ensino na escolaDaniella Bezerra100% (1)
- CARNEIRO, Ana - Retrato Da Repressão Política No CampoDocument374 pagesCARNEIRO, Ana - Retrato Da Repressão Política No CampoLuís Augusto LopesPas encore d'évaluation
- Ócio, lazer e tempo livre: reflexões sobre a felicidade e dignidade humanaDocument280 pagesÓcio, lazer e tempo livre: reflexões sobre a felicidade e dignidade humanaNayra SousaPas encore d'évaluation
- Observaçoes Tumara 1Document272 pagesObservaçoes Tumara 1Daniela Quinhões100% (3)
- 4 O Diabo Veste PradaDocument7 pages4 O Diabo Veste PradaEneidavonEckhardtPas encore d'évaluation
- Historiografia Brasileira no século XIX segundo Guimarães e IglésiasDocument3 pagesHistoriografia Brasileira no século XIX segundo Guimarães e IglésiasDiego BaiãoPas encore d'évaluation
- Neotomismo e Serviço SocialDocument20 pagesNeotomismo e Serviço SocialLakata_am100% (1)
- Retorno À Consciência CrísticaDocument3 pagesRetorno À Consciência CrísticaRegina SylviaPas encore d'évaluation
- Ferramentas Industriais Profissionais AlicatesDocument60 pagesFerramentas Industriais Profissionais AlicatesAntonio Domingos DiasPas encore d'évaluation
- O Direito e A SociedadeDocument9 pagesO Direito e A SociedadeVarzua NZingaPas encore d'évaluation
- 11 2010 PPC Engenharia Florestal 3305 PDFDocument181 pages11 2010 PPC Engenharia Florestal 3305 PDFJosevan BarbosaPas encore d'évaluation
- Resenha Dos Meios As MediaçõesDocument19 pagesResenha Dos Meios As MediaçõesMarcus Dickson100% (1)
- A presença de Camillo Sitte no urbanismo contemporâneoDocument14 pagesA presença de Camillo Sitte no urbanismo contemporâneoRaquel WeissPas encore d'évaluation
- Aluna de Design busca imersão cultural no Nordeste através da Mobilidade AcadêmicaDocument1 pageAluna de Design busca imersão cultural no Nordeste através da Mobilidade AcadêmicamarianaPas encore d'évaluation
- Almeida, J. e Pinto, J. Teoria e Investigacao Empírica em Ciências SociaisDocument81 pagesAlmeida, J. e Pinto, J. Teoria e Investigacao Empírica em Ciências SociaiswahombePas encore d'évaluation
- Religião Salugênica e Religião PatogênicaDocument22 pagesReligião Salugênica e Religião PatogênicaAdalene Sales100% (1)
- Novas Modalidades de Laço SocialDocument5 pagesNovas Modalidades de Laço SocialpaulamarialadelPas encore d'évaluation
- O Tesouro de Eça de QueirósDocument2 pagesO Tesouro de Eça de QueirósBiblioESGPas encore d'évaluation
- Ensino Médio papel professor avaliação estratégiasDocument3 pagesEnsino Médio papel professor avaliação estratégiasRobevaldo Santos SousaPas encore d'évaluation
- Mager, R. F. (1977) - Medindo Os Objetivos EnsinoDocument184 pagesMager, R. F. (1977) - Medindo Os Objetivos EnsinoifmelojrPas encore d'évaluation
- Viagens de GulliverDocument34 pagesViagens de GulliverMaria Clara Mendes50% (4)
- MUSEUS E SEUS VIZINHOS - Redesenhando Limites CitadinosDocument232 pagesMUSEUS E SEUS VIZINHOS - Redesenhando Limites CitadinosCélia Dulce Godinho MachadoPas encore d'évaluation
- Sustentabilidade e MetáforaDocument8 pagesSustentabilidade e MetáforaAdriana GarciaPas encore d'évaluation
- Socialização adequada em sociedadesDocument3 pagesSocialização adequada em sociedadesFelipe GameleiraPas encore d'évaluation