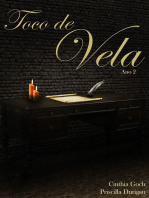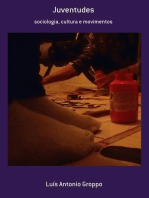Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
20110829-Actas Vol 1 PDF
Transféré par
Diana BispoTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
20110829-Actas Vol 1 PDF
Transféré par
Diana BispoDroits d'auteur :
Formats disponibles
3 ABERTURA E SESSES PLENRIAS
ANTNIO FIDALGO e PAULO SERRA (ORG.)
Cincias da Comunicao em Congresso na Covilh
Actas do III Sopcom, VI Lusocom e II Ibrico
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Volume I
ESTTICA E TECNOLOGIAS DA IMAGEM
4 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Actas dos III SOPCOM, IV LUSOCOM e II IBRICO
Design da Capa: Catarina Moura
Edio e Execuo Grfica: Servios Grficos da Universidade da Beira Interior
Tiragem: 200 exemplares
Covilh, 2005
Depsito Legal N 233236/05
ISBN 972-8790-36-8
Apoio:
Programa Operacional Cincia, Tecnologia, Inovao do III Quadro Comunitrio de Apoio
Instituto da Comunicao Social
5 ABERTURA E SESSES PLENRIAS
NDICE
Apresentao, Antnio Fidalgo e Paulo Serra ............................................................... 11
Captulo I
ABERTURA E SESSES PLENRIAS
Discurso proferido pelo Presidente da Comisso Executiva dos III SOPCOM, VI
LUSOCOM e II IBRICO, Prof. Doutor Antnio Fidalgo, na Sesso de Abertura dos
Congressos .......................................................................................................................... 15
Discurso do Sr. Ministro da Presidncia, Dr. Nuno Morais Sarmento, na Sesso de Abertura
dos Congressos ................................................................................................................... 21
Discurso proferido pelo Reitor da Universidade da Beira Interior, Prof. Doutor Manuel
Jos dos Santos Silva, na Sesso de Abertura dos Congressos............................. 25
A construo da identidade nacional e as identidades regionais no rdio brasileiro (o
caso gacho), Doris Fagundes Haussen.......................................................................... 27
Tecnologia e Sonho de Humanidade, Moiss de Lemos Martins .............................. 35
Textos sobre identidades como textos: um exerccio a partir das literaturas de lngua
portuguesa, Augusto Santos Silva .................................................................................... 41
Desafios da comunicao lusfona na globalizao, Antonio Teixeira de Barros .... 59
A democracia digital e o problema da participao civil na deciso poltica, Wilson
Gomes.................................................................................................................................. 65
A cidadania como problema, Jos A. Bragana de Miranda ...................................... 73
Captulo II
FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
Apresentao, Paulo Filipe Monteiro .............................................................................. 79
Apresentao, Eduardo Jorge Esperana ......................................................................... 81
O real quando menos se espera, Anabela Moutinho.................................................... 83
La identidad de gnero: aproximacin desde el consumo cinematogrfico entre los
estudiantes de la Universidad del Pais Vasco, Casilda de Miguel, Elena Olabarri, Leire
Ituarte................................................................................................................................... 89
Linhas de fuga na cinematografia brasileira contempornea, Denize Correa Araujo..... 97
Formas documentrias da representao do real na fotografia, no filme documentrio
e no reality show televisivo atuais, Fernando Andacht ............................................. 103
6 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
El registro cinematogrfico: nuevas seales de vida. Restaurar el silencio es la funcin
del objeto, Francisca Bermejo........................................................................................ 113
Comic e cinema, uma relao entre iguais?, Gisa Fernandes DOliveira ..................... 119
Imagens de som /Sons de Imagem: Philip Glass versus Godfrey Reggio, Helena Santana
e Rosrio Santana ............................................................................................................ 127
Documentrio e a produo da imagem estereoscpica digital, Hlio Augusto Godoy-
de-Souza ............................................................................................................................ 133
A atmosfera como figura flmica, Ins Gil ................................................................. 141
Generacin y utilizacin de tecnologas digitales e informacionales para el anlisis de
la imagen fotogrfica, Jos Aguilar Garca, Fco. Javier Gmez Tarn, Javier Marzal Felici
e Emilio Sez Soro ......................................................................................................... 147
La fotografa como interfaz cinematogrfico: importancia de la luz en el discurso ci-
nematogrfico, Jos Manuel Susperregui ...................................................................... 157
O heri solitrio e o heri vilo - Dois paradigmas de anti-heri, em filmes portugueses
de 2003, Leonor Areal .................................................................................................... 165
A percepo cromtica na imagem fotogrfica em preto-e-branco: uma anlise em nove
eventos de cor, Luciana Martha Silveira .................................................................. 175
O filme documentrio em debate: John Grierson e o movimento documentarista britnico,
Manuela Penafria ............................................................................................................. 185
Fronteiras Imprecisas: o documentrio antropolgico entre a explorao do extico e a
representao do outro, Mrcius Freire ........................................................................ 197
Entre cine e foto: Un sorriso a cmara, Margarita Ledo Andin ........................... 205
Lgrimas para o Real a inscrio da piedade atravs de documentrios melodramticos,
Mariana Baltar .................................................................................................................. 213
O Picaresco e as Hipteses de Heteronimia no Cinema de Joo Csar Monteiro, Mrio
Jorge Torres ...................................................................................................................... 221
Em defesa de uma ecologia para o cinema portugus (ou questes levantadas pelo
desaparecimento de um ecossistema), Nuno Anbal Figueiredo.............................. 227
Cmara Clara, um dilogo com Barthes, Osvaldo L. dos Santos Lima ...................... 235
Desterritorializao e exilio no cinema de Walter Salles Junior, Regina Glria Nunes
Andrade ............................................................................................................................. 241
Captulo III
NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Apresentao, scar Mealha........................................................................................... 249
Apresentao, Graa Rocha Simes .............................................................................. 255
Refrescando a memria arquivo e gesto da informao, Alberto S ...................... 257
7 ABERTURA E SESSES PLENRIAS
Comunicao Organizacional impacto da adopo de um Sistema Workflow, Anabela
Sarmento............................................................................................................................ 265
Novos media: inaugurao de novas formas de sociabilidade, Ana Sofia Andr Bentes
Marcelo.............................................................................................................................. 275
Cidade, tecnologia e interfaces. Anlise de interfaces de portais governamentais brasi-
leiros. Uma proposta metodolgica, Andr Lemos, Jos Mamede,
Rodrigo Nbrega, Silvado
Pereira, Luize Meirelles .................................................................................................. 283
La figura del comunicador digital en la era de la Sociedad de la Informacin: Contexto
y retos de futuro, Beatriz Correyero Ruiz ................................................................... 293
A Base de Dados como Formato no Jornalismo Digital, Elias Machado ...................... 301
Linguagens da informao digital: reflexes conceituais e uma proposta de sistematizao,
Elizabeth Saad Corra ..................................................................................................... 309
Transformaciones estructurales del lenguaje en el entorno digital, Guiomar Salvat
Martinrey........................................................................................................................... 321
Espaos Multifacetados em Arte Novas Formas, Novas Linguagens, Helena Santana
e Rosrio Santana ............................................................................................................ 327
You cant see me: Contributo para uma teoria das Ligaes, Ivone Ferreira ....................... 333
Estratgias de midiatizao das ONG's, Jairo Ferreira............................................... 341
Periodismo de cdigo abierto: diversidad contrainformativa en la era digital, Jos Mara
Garca de Madariaga ....................................................................................................... 353
El impacto de Internet en los medios de comunicacin en Espaa. Aproximacin
metodolgica y primeros resultados, Jos Pereira, Manuel Gago, Xos Lpez, Ramn
Salaverra, Javier Daz Noci, Koldo Meso, Mara ngeles Cabrera, Mara Bella
Palomo .............................................................................................................................. 361
Interfaces meta-comunicativos: uma anlise das novas interfaces homem/mquina, Jos
Manuel Brtolo................................................................................................................. 371
Qual o papel da Internet na promoo da (in)existncia de laos entre os investigadores
da comunidade lusfona?, Ldia J. Oliveira L. Silva ................................................ 377
Significando e ressignificando, Lourdes Meireles Leo ........................................... 387
Clipoema: a inter-relao das linguagens visual, sonora e verbal, Luiz Antonio Zahdi
Salgado .............................................................................................................................. 395
Modelos de Personalizao de contedos em Audiovisual: novas formas de aceder a velhos
contedos, Manuel Jos Damsio .................................................................................. 403
Contributo dos servios de comunicao assentes em Internet para a manuteno e alar-
gamento das redes de relaes dos sujeitos, Maria Joo Antunes, Eduardo Anselmo Castro,
scar Mealha.................................................................................................................... 409
Los web sites instituciones. Dos casos concretos: Guardia Civil y Cuerpo Nacional de
Polica, Mara de las Mercedes Cancelo San Martn ................................................. 417
8 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Enquadramento e impacto dos sistemas de informao no Programa Aveiro Norte, Miguel
Oliveira, Pedro Bea, Nuno Carvalho, Sara Petiz e A. Manuel de Oliveira Duarte .. 423
Elementos de Emoo no Entretenimento Virtual Interactivo, Nelson Zagalo, Vasco Branco,
Anthony Barker ................................................................................................................ 433
Rdio e Internet: novas perspectivas para um velho meio, Paula Cordeiro ...................... 443
Critrios de qualidade para revistas cientficas em Cincias da Comunicao: reflexes para
a PORTCOM, Sueli Mara Soares Pinto Ferreira .......................................................... 451
Banco de dados como metfora para o jornalismo digital de terceira gerao, Suzana
Barbosa .............................................................................................................................. 461
Killer parrilla generalista. Produccin, programacin y difusin documental, Xaime Fandio
Alonso ............................................................................................................................... 471
Captulo IV
ESTTICA, ARTE E DESIGN
Apresentao, Ftima Pombo ......................................................................................... 479
Apresentao, Maria Teresa Cruz .................................................................................. 483
Resultados y funcin de procesos de investigacin sobre intervencin en esculturas del
patrimonio, Antonio Garca Romero, Vicente Albarrn Fernndez, Rodrigo Espada Belmonte,
Cayetano Jos Cruz Garca ............................................................................................ 487
La potica de la imagen en Deseando Amar de Wong Kar-Wai: El cuerpo y el espacio como
las materias del espritu, Begna Gonzlez Cuesta ........................................................ 495
Dibujar la forma volumtrica, matrica y espacial mediante el uso del elemento de
comunicacin visual: El plano. Experiencias didcticas innovadoras para diseo industrial,
Cayetano Jos Cruz Garca ............................................................................................ 503
Diseo><Design, Eva M Domnguez Gmez ............................................................. 509
Performance multimdia: Laurie Anderson e arte feita de palavras e bits, Fernando do
Nascimento Gonalves ..................................................................................................... 517
As Bandas Desenhadas brasileiras contemporneas, Flvio de Alcntara Calazans .. 525
V isto, ou antes, escuta, Jos A. Domingues ............................................................ 533
O esttico como compensao, Jos Manuel Gomes Pinto....................................... 541
Em busca de paisagens sonoras: polioralidade, a voz miditica, Marcos Jlio Sergl .... 552
Nietzsche, Arte e Esttica, Marisa C. Forghieri ......................................................... 563
Parasos artificiais: autoria partilhada na criao contempornea e na era dos jogos em
rede, Patrcia Gouveia ..................................................................................................... 569
O Museu Virtual: as novas tecnologias e a reinveno do espao museolgico, Rute
Muchacho .......................................................................................................................... 579
9 ABERTURA E SESSES PLENRIAS
Captulo V
COMUNICAO AUDIOVISUAL
Apresentao, Manuel Damsio ..................................................................................... 587
Apresentao, Francisco Rui Cdima ............................................................................ 589
El protagonista del nuevo mercado de la informacin y la comunicacin: el consumidor,
Carmen Fernndez Camacho .......................................................................................... 593
Televiso Digital e Interactiva: o desafio de adequar a oferta s necessidades e prefe-
rncias dos utilizadores, Clia Quico............................................................................ 601
Tv comunitria no Brasil: histrico e participao popular na gesto e na programao,
Cicilia M.Krohling Peruzzo ............................................................................................ 609
Identificando um gnero: a tragdia televisiva, Eduardo Cintra Torres ..................... 623
La desaparicin del hroe: espacio y pica en el reality, Edysa Mondelo Gonzlez, Alfonso
Cuadrado Alvarado........................................................................................................... 633
Big Brother: um programa que mapeou a informao televisiva, Felisbela Lopes ..... 641
Os sons das cidades, o cu de Lisboa, Fernando Morais da Costa ....................... 653
Personalizao de Contedos Multimdia. Anlise aos atributos relevantes para a sua
anotao, Ins Oliveira .................................................................................................... 661
La eficacia del relato narrativo audiovisual frente al discurso persuasivo retrico, Jess
Bermejo Berros ................................................................................................................ 669
Portugal / Brasil: a telenovela no entre-fronteiras, Maria Lourdes Motter, Maria Ataide
Malcher .............................................................................................................................. 679
Regras de usabilidade para a produo de aplicaes em televiso interactiva, Valter de
Matos ................................................................................................................................. 687
10 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
11 ABERTURA E SESSES PLENRIAS
APRESENTAO
Antnio Fidalgo e Paulo Serra
Cincias da Comunicao em Congres-
so na Covilh (CCCC) foi a designao
escolhida, pela Direco da SOPCOM
Associao Portuguesa de Cincias da Co-
municao, para o seu III Congresso, inte-
grando o VI LUSOCOM e o II IBRICO,
e que teve lugar na UBI, Covilh, entre os
dias 21 e 24 de Abril de 2004 (o LUSOCOM
teve lugar nos dois primeiros dias e o
IBRICO nos dois ltimos).
Dedicados aos temas da Informao,
Identidades e Cidadania, os Congressos de
Cincias da Comunicao na Covilh cons-
tituram um momento privilegiado de encon-
tro das comunidades acadmicas lusfona e
ibrica, fazendo pblico o estado da pesquisa
cientfica nos diferentes pases e lanando
pontes para a internacionalizao da respec-
tiva investigao. Ao mesmo tempo, contri-
buram de forma importante para a conso-
lidao, tanto interna como externa rela-
tivamente comunidade cientfica, ao mun-
do acadmico e ao prprio pblico em geral
das Cincias da Comunicao como campo
acadmico e cientfico em Portugal.
Este duplo resultado ainda mais rele-
vante tendo em conta que se trata de campo
de investigao recente em Portugal. No
pretendendo fazer uma descrio exaustiva
do seu historial, assinalem-se algumas datas
mais significativas. O primeiro curso de
licenciatura na rea das Cincias da Comu-
nicao na altura denominado de Comu-
nicao Social iniciou-se em 1979, na
Faculdade de Cincias Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa, a que se
seguiram o do ISCSP da Universidade Tc-
nica de Lisboa (em 1980) e o da UBI (em
1989), para citarmos apenas os trs primei-
ros, expandindo-se at aos actuais 33 cursos
superiores do ensino pblico universitrio e
politcnico actualmente existentes.
No que se refere aos antecedentes ime-
diatos dos Congressos que tiveram lugar na
UBI, em Abril de 1997 realizava-se na
Universidade Lusfona, em Lisboa, o I
Encontro Luso-Brasileiro de Cincias da
Comunicao, momento em que os investi-
gadores portugueses decidem criar a
SOPCOM Associao Portuguesa de Ci-
ncias da Comunicao. Um ano mais tarde,
em Abril de 1998, o II Encontro organi-
zado na Universidade Federal de Sergipe, no
Brasil, incluindo investigadores de pases
africanos de lngua portuguesa. ento que
se funda a LUSOCOM Federao das
Associaes Lusfonas de Cincias da Co-
municao. A terceira edio do LUSOCOM
realiza-se na Universidade do Minho, nova-
mente em Portugal, em Outubro de 1999,
regressando ao Brasil para a sua quarta
edio, desta vez a S. Vicente, em Abril de
2000. Depois de dois anos de pausa, o V
LUSOCOM estreia Moambique como pas
organizador, decorrendo em Maputo em Abril
de 2002. Apenas com uma edio, realizada
em Mlaga em Maio de 2001, o Congresso
Ibrico de Cincias da Comunicao procura
agora, pela segunda vez, juntar investigado-
res e acadmicos de Espanha e de Portugal,
e assumir-se assim como momento de unio
e debate acerca do trabalho levado a cabo
nos dois pases. O primeiro congresso
SOPCOM a Associao teve a sua criao
legal em Fevereiro de 1998 , realizou-se em
Maro de 1999, em Lisboa, sendo tambm
a que, decorridos mais dois anos, viria a
organizar-se o II SOPCOM, em Outubro de
2001.
No decurso dos quatro dias em que
decorreram os Congressos de Cincias da
Comunicao na Covilh foram apresentadas
cerca de duzentas comunicaes, repartidas
por dezasseis Sesses Temticas (repetidas
em cada um dos Congressos), a saber: Teorias
da Comunicao, Semitica e Texto, Econo-
mia e Polticas da Comunicao, Retrica e
Argumentao, Fotografia, Vdeo e Cinema,
Novas Tecnologias, Novas Linguagens, Di-
reito e tica da Comunicao, Histria da
12 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Comunicao, Esttica, Arte e Design, Pu-
blicidade e Relaes Pblicas, Jornalismo,
Estudos Culturais e de Gnero, Comunica-
o e Educao, Comunicao Audiovisual,
Opinio Pblica e Audincias, Comunicao
e Organizao.
A publicao do enorme volume de
pginas resultante de tal nmero de comu-
nicaes um volume que, e a aplicar o
formato estabelecido para a redaco das
comunicaes, excederia as duas mil e
quinhentas pginas , colocava vrios dile-
mas, nomeadamente: i) Publicar as Actas do
VI LUSOCOM e do II IBRICO em sepa-
rado, ou public-las em conjunto; ii) Publi-
car as Actas pela ordem cronolgica das
Sesses Temticas ou agrupar estas em grupos
temticos mais amplos; iii) Dada a impos-
sibilidade de reunir as Actas, mesmo que de
um s Congresso, em um s volume, quantos
volumes publicar.
A soluo escolhida veio a ser a de
publicar as Actas de ambos os Congressos
em conjunto, agrupando Sesses Temticas
com maior afinidade em quatro volumes
distintos: o Volume I, intitulado Esttica e
Tecnologias da Imagem, compreende os
discursos/comunicaes referentes Aber-
tura e Sesses Plenrias (Captulo I), Fo-
tografia, Vdeo e Cinema (Captulo II),
Novas Tecnologias e Novas Linguagens
(Captulo III), Esttica, Arte e Design
(Captulo IV) e Comunicao Audiovisual
(Captulo V); o Volume II, intitulado Te-
orias e Estratgias Discursivas, compreen-
de as comunicaes referentes a Teorias da
Comunicao (Captulo I), Semitica e Texto
(Captulo II), Retrica e Argumentao
(Captulo III) e Publicidade e Relaes
Pblicas (Captulo IV); o Volume III,
intitulado Vises Disciplinares, compreende
as comunicaes referentes a Economia e
Polticas da Comunicao (Captulo I),
Direito e tica da Comunicao (Captulo
II), Histria da Comunicao (Captulo III)
e Estudos Culturais e de Gnero (Captulo
IV); finalmente, o Volume IV, intitulado
Campos da Comunicao, compreende as
comunicaes referentes a Jornalismo (Ca-
ptulo I), Comunicao e Educao (Cap-
tulo II), Opinio Pblica e Audincias
(Captulo III) e Comunicao e Organiza-
o (Captulo IV).
A realizao dos Congressos de Cincias
da Comunicao na Covilh e a publicao
destas Actas s foi possvel graas ao apoio,
ao trabalho e colaborao de muitas pes-
soas e entidades, de que nos cumpre destacar
a Universidade da Beira Interior, o Instituto
de Comunicao Social, a Fundao para a
Cincia e Tecnologia e a Fundao Calouste
Gulbenkian.
13 ABERTURA E SESSES PLENRIAS
Captulo I
ABERTURA E SESSES PLENRIAS
14 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
15 ABERTURA E SESSES PLENRIAS
Discurso proferido pelo Presidente da Comisso Executiva dos
III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO,
Prof. Doutor Antnio Fidalgo, na Sesso de Abertura dos Congressos
1
1 - Breve historial dos Congressos da
SOPCOM e da LUSOCOM
Os Congressos de Cincias da Comuni-
cao que se realizam de hoje a sbado na
UBI, o III SOPCOM, o VI LUSOCOM, e
o II IBRICO, constituem um marco deci-
sivo e memorvel no desenvolvimento e na
afirmao das Cincias da Comunicao em
Portugal, no mundo lusfono e no espao
ibrico. A confluncia dos trs congressos esta
semana na cidade da Covilh resulta de uma
feliz coincidncia de alternncia de organi-
zao pelos diferentes pases, mas acontece,
fundamentalmente, por deciso da Direco
da SOPCOM Associao Portuguesa de
Cincias da Comunicao, a quem desde j
agradeo a confiana depositada na UBI, em
particular no Departamento de Comunicao
e Artes e no LABCOM, para organizar e
acolher os trs congressos de uma vez.
O primeiro curso de licenciatura em
Cincias da Comunicao foi criado h
precisamente 25 anos na Universidade Nova
de Lisboa, em 1979. Um ano depois surgiu
o segundo curso no ISCSP da Universidade
Tcnica de Lisboa e o curso da UBI foi o
terceiro curso de licenciatura a ser criado em
Portugal em 1989. Actualmente existem 27
cursos superiores na rea das Cincias da
Comunicao em 21 instituies do ensino
pblico universitrio e politcnico, somando,
em 2003, as respectivas vagas de ingresso
1243.
Dada a extraordinria expanso dos cursos
registada na dcada de 90, impunha-se a
colaborao das escolas e dos investigadores
da rea. Em 11 e 12 de Novembro de 1994,
teve lugar, nas instalaes da UBI o I
Encontro dos Cursos de Comunicao
(ECCO), nomeadamente dos cursos da UNL,
da UTL, da UBI, Universidade do Minho,
da Universidade de Aveiro, da Universidade
Catlica e da Universidade de Coimbra. Do
comunicado emanado desse Encontro foram
apontados como objectivos:
a) Representar os Cursos Superiores, os
docentes e os investigadores, da rea dos
estudos em cincias da comunicao;
b) Promover o intercmbio cientfico e
pedaggico entre os referidos cursos;
c) Contribuir para a melhoria da quali-
dade dos cursos existentes ou a criar;
d) Fomentar a investigao cientfica nesta
rea de estudos;
e) Dinamizar o intercmbio internacional.
Porm, esta iniciativa do ECCO, que
privilegiava o lado institucional dos cursos
universitrios, no vingou. Foi preciso espe-
rar pelo I Encontro dos Investigadores Por-
tugueses e Brasileiros, realizado em 18 e 19
de Abril de 1997 na Universidade Lusfona
em Lisboa, para os investigadores portugue-
ses ali reunidos avanarem com a Comisso
Instaladora da SOPCOM, j no como uma
associao de cursos, mas de investigadores
e profissionais da rea da comunicao.
2
esse encontro de Abril de 97 que hoje re-
ferimos como o I LUSOCOM e que deve
ser encarado de facto como o momento fun-
dador da SOPCOM, que viria a ser cons-
tituda de iure em 6 de Fevereiro de 1998.
O II Encontro Lusfono de Cincias da
Comunicao realizou-se de 28 a 30 de Abril
de 1998, em Sergipe Brasil, tendo a par-
ticipado dois investigadores da frica
Lusfona, um angolano, Albino Carlos, e um
moambicano, Nelson Sate. Foi nesse encon-
tro na Universidade Federal de Sergipe, na
cidade de Aracaju, que se fundou a
LUSOCOM, como Federao das Associaes
Lusfonas de Cincias da Comunicao.
Em 1999 a SOPCOM estabelece-se de-
finitivamente como Associao representati-
va da comunidade com a realizao do seu
I Congresso Nacional, realizado em Lisboa
na Fundao Calouste Gulbenkian de 22 a 24
de Maro, e com o III LUSOCOM, que teve
lugar de 27 a 30 de Outubro na Universidade
do Minho, Braga. Foram congressos de gran-
de participao, como o comprovam os vo-
lumosos livros de Actas respectivos.
16 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Dos congressos que precederam os que
hoje iniciamos, quero ainda referir o V
LUSOCOM, realizado em Moambique, pois
mostra o quanto a LUSOCOM pretende
abranger e integrar os novos pases lusfonos.
Estas foram as origens da Associao que
hoje organiza com a UBI os congressos; e
se pode parecer estranho que o III Congresso
da SOPCOM acolha dois congressos, o VI
LUSOCOM e o II IBRICO, a explanao
do surgimento da SOPCOM, mostra o quan-
to, pela sua histria, est ligada lusofonia.
2 - Cincias e profisses da comunicao
Se os cursos superiores de cincias da
comunicao tiveram em Portugal na dcada
de 90 uma expanso extraordinria, que ficou
conhecida como o milagre da multiplicao
dos cursos na expresso feliz de Mrio
Mesquita, porque havia uma necessidade
e uma apetncia da sociedade portuguesa
relativamente s profisses da comunicao,
em particular, jornalismo, relaes pblicas,
publicidade e audiovisual. Os cursos supe-
riores de comunicao eram vistos pelos
jovens portugueses como o melhor meio de
acesso a profisses j estabelecidas como o
jornalismo e s novas profisses entretanto
induzidas pelo extraordinrio incremento
econmico a seguir adeso de Portugal s
Comunidades Europeias em 1986. Felizmen-
te que o mal-estar por mim denunciado no
III LUSOCOM em 1999 entre as classes
profissionais ligadas comunicao, nome-
adamente jornalistas e publicitrios, e os
cursos superiores de comunicao, se des-
vaneceu.
Mas a tenso entre o cariz profis-
sionalizante que os cursos de comunicao
tm necessariamente de ter e a natureza
terico-cientfica prpria dos cursos superi-
ores, em particular, os universitrios, man-
tm-se.
Tal tenso , porm, normal e mesmo
saudvel, e no de natureza diferente da
de outros cursos superiores profissionalizantes
como as Engenharias, a Medicina e at o
Direito. Raros sero os alunos desses cursos
que no achem demasiada a componente
terica dos seus cursos, respectivamente as
disciplinas curriculares de Matemtica, Fsi-
ca, Bioqumica e Biologia, e Filosofia. No
seu lado profissionalizante, as Cincias da
Comunicao so mais afins aos cursos
citados que aos cursos de cincias sociais e
de humanidades, com que tm grande afi-
nidade epistemolgica, mas que, alm do
ensino, no tm sadas profissionais espec-
ficas. Muito justamente e bem o Ministrio
da tutela sempre considerou o aspecto
profissionalizante, com as consequentes
necessidades laboratoriais e de trabalho de
atelier, para efeitos de contabilizao do ratio
de alunos/professor dos cursos de Cincias
da Comunicao, que igual ao das Enge-
nharias.
Abordo este ponto da tenso entre o lado
profissionalizante dos cursos e a componente
terica (mais propcia investigao) por duas
razes: uma poltica e outra epistemolgica.
Primeiro por causa das relaes entre o poder
poltico e os cursos superiores de comuni-
cao. A segunda razo para desse modo
contribuir para uma fixao epistemolgica
das cincias da comunicao.
Dado que os cursos universitrios
profissionalizantes atrs referidos, tm j uma
larga tradio curricular e existe um consen-
so alargado sobre as matrias cientficas a
incluir, no surge a acusao de serem
demasiado tericos. Ao invs, acha-se que
uma excelente formao cientfica de base
condio necessria para uma slida for-
mao profissional. Infelizmente esse consen-
so curricular ainda no existe nas cincias
da comunicao. E at pelo contrrio, por
vezes, a dimenso terico-cientfica vista
como uma esclerose acadmica, que deveria
ser banida dos currculos.
O papel da comunicao na sociedade
crucial e os diferentes poderes, social,
econmico e poltico (executivo, legislativo
e judicial), registam o poder da comuni-
cao, respeitam-no, temem-no, criticam-
no, lutam com ele. Mas no se d a devida
importncia anlise, investigao e
reflexo que as Cincias da Comunicao
produzem.
sabido que o Governo tem dedicado
especial ateno, e recursos financeiros, s
cincias da sade, no s aos hospitais e
centros de sade, mas tambm s respectivas
instituies de ensino, criando at para o
efeito um Grupo de Misso para o Ensino
da Medicina em Portugal. Ora este Governo
17 ABERTURA E SESSES PLENRIAS
dedicou tambm especial ateno reorga-
nizao da comunicao social estatal, no-
meadamente RTP e RDP, procedendo a
reformas que h muito se impunham. Seria
um erro no flanquear essas reformas com
uma ateno cuidada aos cursos superiores
em que se formam os profissionais do sector.
A segunda razo por que abordo a tenso
entre o lado profissionalizante e o lado terico
dos cursos , como disse, de cariz
epistemolgico. As Cincias da Comunica-
o cobrem um vasto espectro de saberes,
como visvel pela multiplicidade e diver-
sidade das Mesas Temticas. H obviamente
pontos afins com outras cincias como a Fi-
losofia, a Sociologia, os Estudos Lingusticos
e Artsticos, mas fundamental fixar o ncleo
duro especfico. Pelo menos desde Peirce,
Kuhn, Merton, sabemos que as cincias so
produtos de uma comunidade de investiga-
dores.
Em Portugal, nestes congressos, rene-
se a comunidade cientfica, que no seu labor,
em colaborao, vai definindo esse ncleo
de saber e de investigao. No o facto
de uma disciplina integrar um currculo de
licenciatura que a converte numa rea espe-
cfica da cincia que tutela e sistematiza tal
licenciatura. Faz todo o sentido incluir dis-
ciplinas de tica ou de Direito Comercial num
curso de licenciatura em Economia, mas no
faria qualquer sentido considerar tica ou
Direito como reas disciplinares da Econo-
mia. Por estes congressos passa tambm a
definio epistemolgica das Cincias da
Comunicao. No que seja o povo a fazer
a cincia como faz a lngua, mas a co-
munidade cientfica que faz a cincia.
3 - Avaliao do Ensino e da Investigao
Decorrem no mbito do CNAVES, Con-
selho Nacional de Avaliao do Ensino
Superior, as reunies preparatrias para a
constituio da Comisso de Avaliao
Externa dos Cursos de Cincias da Comu-
nicao, dos cursos universitrios pblicos e
dos cursos do ensino privado. Ser a segun-
da vez que se proceder a essa avaliao.
A primeira ocorreu em 1998/1999, feita por
uma comisso presidida pelo Prof. Manuel
Lopes da Silva, Professor Jubilado da Uni-
versidade Nova de Lisboa, ele prprio
membro da SOPCOM. O trabalho realizado
foi um trabalho pioneiro que permitir
prxima comisso aferir a evoluo do ensino
superior portugus em Cincias da Comuni-
cao.
fundamental que os cursos sejam
avaliados, que os respectivos corpos docen-
tes sejam identificados e avaliados pedag-
gica e cientificamente, que se averigue a
pertinncia e coerncia dos respectivos cur-
rculos e das matrias leccionadas, que se
escrutine as condies de salas, bibliotecas
e laboratrios, que sejam salientados os
pontos fortes e os pontos fracos de cada curso,
que as falhas sejam detectadas e apontadas
e que no fim os relatrios sejam divulgados
de modo a que a sociedade portuguesa em
geral e os estudantes em particular tenham
os dados suficientes para escolherem com
conhecimento de causa um curso de qualida-
de. preciso que se saiba, publicamente,
como as universidades e os politcnicos,
pblicos e privados, ministram o ensino, e
com que qualidade o fazem. Os milhares de
candidatos aos cursos de comunicao de-
vem poder escolher o curso que pretendem
com conhecimento desse relatrio de avali-
ao.
Quanto ao financiamento e avaliao
da investigao, houve passos extremamente
significativos nos ltimos anos. S em 2000
os projectos de investigao em Cincias da
Comunicao, apresentados FCT - Funda-
o para a Cincia e Tecnologia, comearam
a ser financiados numa rubrica especfica e
avaliados por um comisso prpria. At ento
os projectos eram avaliados ora pela Comis-
so de Filosofia ora de Lingustica. E s em
2003 se constitui a Comisso das Cincias
da Comunicao para avaliar os centros de
investigao. Em 2003 houve 8 centros de
investigao na rea de cincias da comu-
nicao avaliados, sendo 5 deles novos, ou
seja avaliados pela primeira vez. Este facto
deve ser encarado como um passo decisivo
e do maior alcance na afirmao e no de-
senvolvimento das cincias da comunicao
em Portugal. Desde o ano passado que temos
8 centros a serem financiados pela FCT, a
saber:
1 - CECL - Centro de Estudos de Co-
municao e Linguagens, na UNL (Good);
18 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
2 - UNICA - Unidade de Investigao
em Comunicao e Arte, na Universidade de
Aveiro (Fair).
3 - Centro Interdisciplinar de Cincia,
Tecnologia e Sociedade da Universidade de
Lisboa (Fair);
4 - CETAC.COM - Centro de Estudos
das Tecnologias, Artes e Cincias da Comu-
nicao, na Universidade do Porto (Fair);
5 - CIMJ - Centro de Investigao Media
e Jornalismo, em Lisboa (Good);
6 - LABCOM - Laboratrio de Comu-
nicao Online, na UBI (Good);
7 - CICANT - Centro de Investigao em
Comunicao Aplicada, Cultura e Novas Tec-
nologias, na Universidade Lusfona em Lis-
boa (Fair);
8 - Ncleo de Estudos de Comunicao
e Sociedade, na Universidade do Minho (Very
Good).
Atendendo dimenso das Cincias da
Comunicao, ao nmero de Departamentos
e de cursos, de estudantes e de professores,
podemos achar que pouco, que relativa-
mente a outras reas muito mais pequenas,
como a Filosofia ou a Lingustica, por exem-
plo, que tiveram respectivamente 11 e 9
unidades avaliadas, o quadro no favor-
vel, sobretudo se atendermos classificao
obtida.
H que considerar todavia que a avali-
ao das unidades de Comunicao se fez
pela primeira vez, que as equipas de inves-
tigao s agora comeam a constituir-se. O
passo estratgico mais importante era de facto
criar a rea e isso foi conseguido.
Devo, no entanto, fazer aqui um reparo
forma como foi constitudo o painel de
avaliao das Cincias da Comunicao. Os
trs membros do painel de avaliao, cuja
competncia cientfica no questionada,
eram todos do norte da Europa, nenhum deles
falava ou entendia portugus, oral ou escrito.
Ora se a produo cientfica em Cincias da
Comunicao em Portugal feita na quase
totalidade em portugus, como pde haver
uma avaliao objectiva, profunda, do que
as unidades fizeram? Sinto-me vontade para
fazer aqui em pblico este reparo, apesar de
ser um dos avaliados, porque, antes da sada
dos resultados, o fiz por escrito ao Presiden-
te da FCT, Prof. Rama Ribeiro.
Se no havia condies para colocar no
painel nenhum investigador portugus, por-
qu no incluir ento investigadores do Brasil
ou mesmo de Espanha? Com esta pergunta,
que tanto retrica quanto crtica, passo ao
ponto seguinte da minha interveno de
abertura neste congresso, e que sobre a
internacionalizao da investigao, sobre as
parcerias de cooperao da comunidade
cientfica portuguesa com outras comunida-
des cientficas e sobre as estratgias de
afirmao de um grande espao ibrico-
americano na cincia, nomeadamente na rea
dos estudos em comunicao.
4 - A internacionalizao necessria e
desejvel
Por definio a cincia universal. No
h uma cincia portuguesa, nem brasileira,
nem espanhola, nem to pouco americana ou
inglesa. H sim comunidades cientficas, com
maior ou menor vitalidade, coeso e
internacionalizao. O facto de a lngua
inglesa ser actualmente a lngua dominante
na cincia um facto circunstancial e aces-
srio e no um princpio perene e imutvel.
Noutras pocas, no muito longnquas, as
lnguas dominantes das cincias foram ou-
tras, bastando lembrar que no Sculo XVII
Descartes, Espinosa, Newton e Leibniz es-
creveram em Latim, de modo a serem lidos
e entendidos noutros pases, que at II
Guerra Mundial o francs e o alemo foram
to ou mais importantes que o ingls como
lnguas de comunicao na cincia. O pre-
domnio indiscutvel que hoje o ingls
mantm nas cincias no uniforme, mas
varivel de cincia para cincia, e verifica-
se sobretudo nas cincias exactas. Nas ci-
ncias sociais, e mais ainda nas humanida-
des, j muito discutvel esse domnio. Os
contributos originais da Europa Continental
so fundamentais para a filosofia, a socio-
logia, a antropologia, a lingustica, a
semitica, e tambm para as cincias da
comunicao. Nomes como Habermas, Karl-
Otto Apel, Niklas Luhmann, Foucault,
Deleuze, Baudrillard, Barthes, Greimas, entre
muitos outros, so cabal exemplo disso.
O conceito fsico de massa crtica apli-
cado dimenso de uma comunidade cien-
tfica faz sentido se e somente se houver uma
19 ABERTURA E SESSES PLENRIAS
comunidade crtica. E comunidade cientfica
obriga antes de mais a uma proximidade de
investigadores, no fsica apenas, obviamen-
te, mas sobretudo a uma proximidade de
formao, de interesses, de problemas, de
debates, dos investigadores envolvidos.
Ora no h maior proximidade de inves-
tigao que a da lngua em que feita. A
internacionalizao da cincia no pode de
modo algum significar, como por vezes
parece acontecer em Portugal, um conheci-
mento vasto do que se faz no mundo anglo-
saxnico, num olmpico desconhecimento do
que se faz c dentro, s vezes numa univer-
sidade vizinha, ou num departamento mesmo
ao lado. A internacionalizao individual, de-
sintegrada de uma comunidade real de in-
vestigao, conduz apenas a um atomizao
de investigadores, e constitui pura e simples-
mente a negao do conceito e da realidade
de comunidade e de equipa de investigao.
A questo em causa simples, mas de
suma importncia. Como muitos outros bens,
tambm a cincia e a cultura se produzem,
se transaccionam e se consomem. O nosso
propsito no pode ser outro que no seja
o de produzir cincia. E a melhor maneira
de o fazer aqui, por ns, ser faz-lo em
portugus.
O III Congresso da SOPCOM concreti-
za-se em dois congressos internacionais, o
VI LUSOCOM e o II IBRICO. Procurou-
se uma paridade entre investigadores naci-
onais e estrangeiros, que se expressam na
mesma lngua ou em lnguas prximas (ga-
lego e espanhol) em cada uma das mesas.
No esta porventura a internacionalizao
primeira e prioritria que as Cincias da Co-
municao cumprem nestes dias aqui na UBI
e que deveria ser um exemplo para as outras
comunidades cientficas nacionais?
No considero que seja um servio
cincia a organizao de seminrios e con-
gressos cientficos em Portugal, com mais de
90 por cento de participantes portugueses, e
em que a nica lngua admitida o ingls.
O princpio primeiro da comunicao cien-
tfica mantm-se: o mais importante no
a lngua em que se diz, mas o que se diz.
As comunidades que nos esto mais
prximas, pela lngua, pela formao, por
problemas comuns e at idnticos, so as
comunidades cientficas lusfona e ibrica.
por a que tem de comear a nossa
internacionalizao, e de comear no ape-
nas como ponto de passagem (como se a meta
fosse a absoro na comunidade anglo-
saxnica), mas de comear porque prioritria
para j e sempre.
Impossvel no certamente, mas seria
descabido, e mesmo ridculo, fazer cincia
da comunicao em ingls em pases que
comunicam em portugus e espanhol.
A lusofonia compreende hoje mais de
200 milhes de pessoas, nos diferentes
continentes.
Os falantes de espanhol so cerca de 350
milhes, o que somados constitui o principal
grupo lingustico no hemisfrio ocidental.
5 - Passos a dar
O VI LUSOCOM como o nmero indica
no um ponto de partida.
Tambm o no o II IBRICO, com que
completaremos o III Congresso da SOPCOM.
Tal facto representa j uma ligao existente,
a funcionar, entre as comunidades acadmicas
e cientficas de Portugal com os pases
lusfonos, em especial o Brasil, e com a
Espanha. Desta vez coincidimos aqui na UBI,
e os congressos que se seguiro a estes tero
um tempo e espao diferentes; o VII
LUSOCOM realizar-se- num outro pas
lusfono e o III IBRICO ter lugar em
Espanha. Mas o encontro de investigadores,
a apresentao do seu trabalho, o debate de
ideias, o lanamento de projectos comuns,
aqui, nesta semana de Abril que antecede o
30 aniversrio do 25 de Abril de 1974,
constitui um marco importante da SOPCOM-
da Associao que organiza os congressos e
das Cincias da Comunicao dos pases
lusfonos e ibricos.
Que estes Congressos ocorram na
Covilh, bem no Interior de Portugal, que
a adeso tenha sido muito superior s me-
lhores expectativas, resultam tambm dos
novos meios de comunicao. Sem a Internet,
a web e o correio electrnico, nunca pode-
ramos ter organizado estes eventos. O facto
de a UBI ser desde o incio da SOPCOM
a placa giratria das informaes electrni-
cas, de as pginas web dos congressos
anteriores estarem sediadas aqui, e continua-
20 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
rem ainda online, de a Biblioteca Online de
Cincias da Comunicao ser hoje o maior
repositrio de textos cientficos da rea, de o
nmero dos seus autores e dos seus visitantes
aumentar de ms para ms, tornou possvel que
investigadores da Catalunha ao Rio Grande do
Sul se juntassem aqui esta semana.
Termino com os agradecimentos ao Sr.
Ministro da Presidncia, que honrou com a
sua presena a abertura dos congressos, ao
Sr. Reitor da UBI, ao Sr Presidente da Cmara
da Covilh, aos Presidentes das Associaes
Lusfonas de Cincias da Comunicao, e
aos muitos membros da Comisso Organiza-
dora que verdadeiramente viabilizaram
logisticamente os congressos.
_______________________________
1
A Sesso de Abertura teve lugar em 21 de
Abril de 2004.
2
A acta dessa reunio pode ser consultada
online na pgina web da SOPCOM.
21 ABERTURA E SESSES PLENRIAS
Discurso do Sr. Ministro da Presidncia,
Dr. Nuno Morais Sarmento, na Sesso de Abertura dos Congressos
1
Magnfico Reitor da Universidade da Beira
Interior
Senhora Governadora Civil de Castelo Branco
Senhor Presidente da Cmara Municipal da
Covilh
Senhor Presidente da Comisso Executiva do
Congresso
Senhora Vice-Presidente da FCT
Ilustres conferencistas e participantes
Senhores Docentes
Estimados Alunos
Minhas Senhoras e meus Senhores
Aproveito a circunstncia de aqui estar
para felicitar, em primeiro lugar, a Univer-
sidade da Beira Interior e fao-o dirigindo-
me a si, Senhor Reitor.
A UBI tem demonstrado um dinamismo
incessante, uma procura de afirmao que
vem da percepo do papel e do servio que
pode e deve desempenhar na Regio em que
se insere e no Pas que serve.
Todos esperamos que assim continue.
Pela nossa parte continuaremos a apostar
no seu crescimento, como disso prova a
residncia universitria, a maior e mais
moderna do Pas, que daqui a dois dias o
Senhor Primeiro-Ministro ir inaugurar nesta
cidade.
Quero, em segundo lugar, cumprimentar
toda a comisso executiva deste evento e em
particular o seu presidente, Prof. Antnio
Fidalgo.
atravs de iniciativas como esta que
a Associao Portuguesa de Cincias da Co-
municao continua a dar um relevante
contributo no s para a comunidade cien-
tfica do nosso Pas, como para a comuni-
dade mais vasta da lusofonia e do mundo
ibrico.
Todos temos a ganhar com isso e, por
isso, esperamos que se sintam sempre en-
corajados a continuar.
As Cincias da Comunicao so hoje,
de facto, uma rea do saber que suscita o
interesse de um nmero cada vez maior de
jovens.
E este interesse tambm aqui consta-
tado pelo grande nmero de inscries no
Congresso precisamente o ponto de
partida para a minha curta interveno em
que pretendo apenas partilhar duas ideias.
Sociedade da comunicao e autodetermi-
nao
Em primeiro lugar, a empatia partilhada
por esta rea das Cincias da Comunicao,
mais do que uma coincidncia, um ver-
dadeiro fenmeno social, que caracteriza, na
minha opinio, a sociedade em que vivemos.
A multiplicao de cursos e licenciaturas
de Cincias da Comunicao j referida
pelo Prof. Doutor Antnio Fidalgo reflecte
o nosso tempo, a que outros j apelidaram,
o tempo da comunicao.
A Comunicao mesmo, nos nossos
dias, com algum excesso, tomada como
Verdade, porque tantas vezes se confunde o
que parece, neste caso o que se comunica,
com a realidade.
Retirados os excessos, Comunicar de
facto, inquestionavelmente, uma regra, um
imperativo de qualquer indivduo, de qual-
quer grupo seja ele poltico, religioso ou
empresarial.
Neste contexto, bom que um dos
leitmotiv escolhidos para este Congresso tenha
sido justamente o da comunicao.
Mas, e esta a primeira nota que queria
trazer, na era de individualismo, como
chamou Thomas Franck ao nosso tempo, a
comunicao (e de modo reflexo, a informa-
o) um instrumento permanente de reve-
lao e proteco de identidades colectivas.
E em consequncia, a comunicao
tambm um modo de desenvolvimento do
direito de autodeterminao de cada um.
Nessa medida, e inevitavelmente, a in-
formao realiza direitos individuais e colec-
22 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
tivos, respectivamente, na sua singularidade
e na sua diversidade.
E por isso que no subscrevo a ideia
pessimista de que a generalizao da comu-
nicao conduziria inevitavelmente nor-
malizao descaracterizada em termos glo-
bais. Pelo contrrio, enquanto espao de
realizao individual e colectivo que ,
acredito que a comunicao continuar a ser
factor de iniciativa e debate, de singularida-
de e diversidade.
Em particular, neste sentido, comunicar na
nossa prpria lngua, o portugus, tambm
recusar pr-formataes da realidade.
por isso - e a concluir este ponto -
que considero que a informao e a comu-
nicao, so e continuaro a ser no futuro
dimenses fundamentais do poltico e da
nossa liberdade, independentemente da sua
massificao.
Este naturalmente apenas um ponto de
vista que trago aqui e que no tem a pre-
tenso de ser fechado.
Ao traz-lo aqui pretendi, apenas, pr em
comum uma reflexo que, embora sendo
pessoal, me ocorreu a propsito da abertura
desta Conferncia, porque a Universidade
o lugar por excelncia da discusso e da
realizao federal de diferentes pensares e
saberes.
Comunicao social e democracia
A segunda ideia que aqui deixo, tem a
ver com a Comunicao Social e a Demo-
cracia.
Sendo eu um poltico com responsabili-
dades nessa rea, permitam-me que destaque
a importncia poltica e sistmica da comu-
nicao social, a propsito da celebrao dos
30 anos do 25 de Abril.
E neste domnio, creio que importaria
determo-nos na ligao que frequentemente
se faz entre democracia, opinio pblica
e audincias.
O balano do nosso projecto poltico
colectivo que neste aniversrio somos con-
vidados a fazer, obriga a uma reflexo sobre
a nossa identidade, mas tambm a um
reequacionar dos limites e subverses a que
a Comunicao pode conduzir.
Escravos que nos tornmos, quantas
vezes, do que os outros pensam de ns, tenho
para mim muito vincada a ideia de que
devemos procurar resistir a seguir, de forma
sistemtica, aquilo para que aponta a mai-
oria do pensar conjuntural.
verdade que a opinio pblica, que
alguns entendem at j estar erigida con-
dio de sujeito, determina realmente as
comunidades, naquela dimenso imaginada
de que falava Benedict Anderson.
Mas, numa era de democracia que no-
vamente se pretende deliberativa, a infor-
mao e o uso que dela seja feito em termos
comunicacionais e identitrios, podem arras-
tar-nos para o que Susan Stokes descreve
como patologias da deliberao como
diria eu, o processo inibidor da deciso.
E foi a isso que renunciei no incio do
meu mandato e que, agora dois anos mais
tarde, penso ter sido o caminho certo.
O diagnstico do estado disfuncional da
sociedade, reflectida data em que assumi
funes, numa comunicao social em crise,
abundava.
Estudos e declaraes reafirmando
ciclicamente o estado de crise faziam parte
dum conhecimento adquirido e duma reali-
dade contra a qual pouco ou nada parecia
possvel fazer-se.
Na preparao desta Conferncia e ao
consultar papis antigos, encontrei as actas
de uma outra conferncia internacional re-
alizada pela Fundao Friedrich Ebert, em
Maio de 1997.
Reli a as declaraes do membro do
Governo de ento, o Dr. Arons de Carvalho
que, de resto, por ser tambm membro da
Comisso Cientfica do SOPCOM pode muito
bem ser chamado colao.
Dizia ele que em Portugal no existiria
um consenso poltico em relao ao servio
pblico de televiso, no s porque a ideia
de servio pblico no est arreigada na
populao em geral, mas tambm porque ao
nvel partidrio cada organizao tinha idei-
as completamente diferentes sobre esta
matria.
Ora, a minha constatao a inversa.
a de que a partir de uma poltica feita de
riscos que assumimos; uma poltica que no
ficou presa a constataes e que rompeu com
23 ABERTURA E SESSES PLENRIAS
o atavismo da indeciso, se conseguiu ca-
minhar da divergncia para um acordo.
Ou para utilizar a linguagem hegeliana
de uma situao de ruptura se avanou para
a sntese.
Por isso, com muita alegria que na
celebrao dos 30 anos do 25 de Abril,
acredito que na Comunicao Social o Pas
se conseguir unir acima de perspectivas
partidrias.
E, por isso, considero que h condies
para, mesmo ao nvel de uma reviso cons-
titucional, se evidenciar tal acordo.
Esta uma concluso que, creio, pode
ser retirada da reflexo que faamos sobre
esta temtica: a obsesso comunicacional no
deve impor-se como obstculo ao caminho,
ou se quisermos, deciso. Pelo contrrio,
a capacidade de romper com a comunicao
e ser capaz de decidir para alm dela pode
ser, no final, um caminho de reencontro e
concordncia.
Minhas Senhoras e Meu Senhores,
No quero terminar sem ter uma palavra
para o mbito internacional desta Confern-
cia, ou melhor dito destas Conferncias e em
particular para o LUSOCOM que hoje se
inicia...
A cidadania, a lusofonia so, para um
portugus, conceitos parentes, se no irmos.
Na minha aco governativa, tenho vi-
vido esta experincia de modo muito inten-
so.
Portugal vive hoje a realidade internaci-
onal da lusofonia dentro das suas fronteiras.
Pas que secularmente se conheceu a
partir, seja nos seus navegadores seja nos seus
emigrantes, desse modo representado no
imaginrio colectivo, nos nossos dias um
povo que se v diante do desafio do aco-
lhimento.
Como Ministro responsvel pela integra-
o dos imigrantes, tenho-me apercebido
como cada vez mais o destino de Portugal
tambm o de acolher as pessoas que querem
vir viver entre ns.
E esta perspectiva, a de quem parte e de
quem acolhe, a de quem pertence a uma
comunidade que convida a ir alm de si
prprio, sem dvida a forma que melhor
demonstra o desafio da Comunicao.
Porque, seja como processo cognitivo,
seja como processo de deciso, ou como
processo existencial de uma vida, comunicar
sempre partir.
Partir para uma aventura que supe pelo
menos duas pessoas. Porque ningum comu-
nica sozinho.
Por isso, o meu desejo neste incio destas
Conferncias que as experincias de inves-
tigao permitam a cada um partir, deslocar-
se. E chegar a algum lado.
Muitos partiram de longe para estar aqui
hoje. Alguns do Brasil e tambm de Angola
e de Moambique. Outros da vizinha Galiza.
Que a esta viagem de alguns, todos
permitam associar uma viagem para alm de
cada um, na aprendizagem e no conhecimen-
to. Porque assim que formamos comuni-
dade e porque assim que somos verdadei-
ramente ns.
E j agora, que estas viagens se multi-
pliquem. No nosso pas. No mundo lusfono.
No espao ibrico.
Muito obrigado.
_______________________________
1
S faz f o discurso efectivamente proferido.
24 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
25 ABERTURA E SESSES PLENRIAS
Discurso proferido pelo Reitor da Universidade da Beira Interior,
Prof. Doutor Manuel Jos dos Santos Silva,
na Sesso de Abertura dos Congressos
Senhor Ministro da Presidncia, Excelncia
Senhora Governadora Civil de Castelo Branco
Senhor Presidente da Cmara Municipal da
Covilh
Senhores Membros da Comisso de Honra
Senhores Membros da Comisso Executiva
Senhores Membros da Comisso Cientfica
Senhores Congressistas
Senhores Membros da Comisso Orga-
nizadora
Senhores Docentes
Estimados Alunos
Minhas Senhoras e Meus Senhores
Gostaria, antes de mais, de cumprimentar
todos os presentes, em especial, Sua Exce-
lncia o Ministro da Presidncia, Dr. Morais
Sarmento, que pela primeira vez se desloca
Universidade da Beira Interior, e dirigir uma
palavra de boas vindas a todos os especi-
alistas nacionais e internacionais que parti-
cipam neste III Congresso da SOPCOM -
Associao Portuguesa de Cincias da Co-
municao, que engloba o VI Congresso da
LUSOCOM e o II Congresso IBRICO.
para mim uma grande honra e uma
enorme satisfao dar incio a este aconte-
cimento que rene mais de 700 congressis-
tas, oriundos de pases como Angola, Brasil,
Espanha, Guin, Moambique e, naturalmen-
te, Portugal. Trata-se de uma iniciativa
ambiciosa, que se assume como ponto de
convergncia entre os diferentes percursos dos
referidos congressos, sob a gide dos temas
Informao e Identidades e Cidadania, e que
constitui um momento privilegiado de encon-
tro das comunidades acadmicas lusfonas
e ibricas, fazendo pblico o estado da
pesquisa cientfica nos diferentes pases e
lanando pontes para a internacionalizao
da respectiva investigao.
Permitam-me, ento, que lhes apresente,
de forma resumida, a Universidade que os
ir acolher durante os prximos dias.
A UBI encontra-se implantada numa
regio em que o sector txtil possui no s
uma longa tradio, como um peso
determinante. Foi, alis, a necessidade de
formao de quadros tcnicos altamente
qualificados para a indstria que esteve na
origem da criao das licenciaturas em
Engenharia Txtil e em Gesto, dois dos
cursos mais antigos desta Instituio.
Numa cidade com cerca de 40 mil ha-
bitantes e numa regio que sofreu a crise da
mono-indstria dos lanifcios, a presena e
evoluo de uma Instituio como a Univer-
sidade da Beira Interior tem um impacto
muito significativo, no s na actividade
econmica, mas tambm na quantidade e
qualidade dos acontecimentos de cariz cien-
tfico, cultural e social que leva a efeito, e
ainda na requalificao do patrimnio legado
cidade pela sua indstria, como podero,
certamente, apreciar no decurso deste con-
gresso.
A Universidade assume assim um papel
central na regio, o que pode ser compro-
vado por alguns nmeros que a caracterizam:
o campus universitrio, com uma rea de mais
de 150.000 m2, conta com uma populao
estudantil de cerca de 5500 alunos (dos quais
5017 em licenciatura e 420 em ps-gradu-
ao), e com um corpo docente composto
por mais de 460 elementos, dos quais cerca
de 50 % doutorados, apoiado por 408 fun-
cionrios.
Actualmente, a UBI ministra 31 licenci-
aturas, 28 cursos de mestrado e 25 ramos
de doutoramento nas mais diversas reas do
saber, desde as Engenharias s Artes e Letras,
passando pelas Cincias Sociais e Humanas,
pelas Cincias Exactas e pelas Cincias da
Sade. A sua filosofia de ensino assenta na
estreita aliana entre a formao integral do
indivduo e a componente de preparao
prtica e de investigao, recorrendo s mais
modernas metodologias de ensino e apren-
dizagem e actualizao permanente dos
26 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
programas de estudo, adaptando-os s sadas
profissionais dos futuros licenciados.
Alm de um ensino terico de qualidade,
solidamente assente na formao e qualifi-
cao do corpo docente, a UBI caracte-
rizada pela qualidade dos seus edifcios e
equipamentos e dispe, actualmente, de um
conjunto de laboratrios e oficinas conside-
rado, por muitos, exemplar, no seio dos quais
so levados a efeito trabalhos de investiga-
o, muitos dos quais realizados no domnio
da prestao de servios comunidade.
Desta forma, embora face s suas
congneres nacionais apresente uma dimen-
so relativamente pequena, a Universidade
da Beira Interior tornou-se um dos motores
de desenvolvimento da regio, tendo por base
os seus meios humanos qualificados e a
qualidade das suas modernas infra-estruturas
de ensino e investigao.
Com efeito, medida que aumenta a
importncia e significado da investigao no
desenvolvimento das sociedades, mais se
estreita a relao entre universidade e comu-
nidade. Assim, por parte das instituies de
ensino superior torna-se cada vez mais pre-
mente a necessidade de um desenvolvimento
estratgico da investigao cientfica funda-
mental como forma e instrumento de criao
cultural por excelncia.
Por outro lado e eis-nos chegados ao
motivo pelo qual hoje estamos aqui reunidos
- h que saber articular a actividade cien-
tfica produzida pelas diversas instituies,
promovendo a cooperao nacional e inter-
nacional atravs do trabalho de equipa, da
circulao dos investigadores e dos resulta-
dos da investigao que devero ser
disponibilizados e contribuir para o desen-
volvimento da sociedade e melhoria das con-
dies de vida da humanidade.
A longa experincia e conhecimento
adquiridos, ao longo do tempo, pelo Depar-
tamento de Comunicao e Artes da Univer-
sidade da Beira Interior permitem-lhe, actu-
almente, assumir um papel extremamente
activo no desenvolvimento da investigao
cientfica a nvel nacional. Chegou o momen-
to de apostar na promoo do relacionamen-
to internacional e na cooperao estratgica
com instituies estrangeiras, estabelecendo
um dilogo de interaco que possibilite o
debate de ideias e a apresentao de resul-
tados de estudos cientficos, permitindo que
a investigao reverta para a sociedade de
uma forma mais rpida e mais directa, numa
lgica de intercmbio que beneficiar no s
a investigao, mas tambm o prprio en-
sino.
A avaliar pelo nmero de interessados em
participar neste Congresso e pela enverga-
dura que assumiu esta iniciativa, no s se
atingiram os objectivos, como se ultrapas-
saram as expectativas. A Comisso
Organizadora e o Departamento de Comu-
nicao e Artes esto, por isso, de parabns
pelo empenho, entusiasmo e dinamismo com
que, desde a primeira hora, assumiram a
responsabilidade de levar em frente esta
iniciativa. Dirijo aqui uma palavra do maior
apreo ao Senhor Prof. Antnio Fidalgo pela
excelente organizao deste Congresso, para
o qual formulo votos dos maiores xitos.
Termino, agradecendo a participao de
todos os congressistas e desejando a todos
uma frutuosa e agradvel estadia na Covilh.
Muito obrigado.
27 ABERTURA E SESSES PLENRIAS
A construo da identidade nacional e as identidades
regionais no rdio brasileiro (o caso gacho)
1
Doris Fagundes Haussen
2
O processo de construo da identidade
nacional brasileira teve no rdio um forte
aliado, a partir da sua instalao no pas, na
dcada de 20 do sculo passado. Desde o
seu incio, o veculo serviu de expresso s
diferentes manifestaes culturais, principal-
mente atravs da msica, do esporte e da in-
formao. Mas, possibilitou, tambm, outros
usos, como o poltico e, tambm mais re-
centemente, o religioso.
O Brasil, assim como vrios pases la-
tino-americanos, viveu forte movimento na-
cionalista na primeira metade do sculo XX.
O crescimento da populao urbana prestou-
se a projetos polticos populistas e naciona-
listas resultando na organizao do poder que
deu forma ao compromisso entre essas massas
e o Estado. Por seu turno, o rdio e o cinema,
que iniciavam a sua trajetria, introduziram
uma nova linguagem e um novo discurso
social: o popular massivo. Estas tecnologias
de comunicao tiveram, assim, a sua re-
lao com a cultura mediada por um projeto
estatal de modernizao poltico mas, tam-
bm, cultural. poca, no era possvel
transformar esses pases em naes sem criar
neles uma cultura nacional (Martn-Barbero,
1987).
Neste sentido, Getlio Vargas no seu
primeiro perodo como presidente do Brasil
- 1930/1945 - governou sob forte cunho
nacionalista, influindo sobre os meios de
comunicao ao buscar impor o seu projeto
poltico que inclua a unificao nacional. Em
1 de maio de 1937 j destacava o valor que
daria ao rdio, na mensagem enviada ao
Congresso Nacional anunciando o aumento
do nmero de emissoras no pas. Nela,
aconselhava os estados e municpios a ins-
talarem aparelhos rdio-receptores, providos
de alto-falantes, em condies de facilitar a
todos os brasileiros, sem distino de sexo
nem de idade, momentos de educao po-
ltica e social, informes teis aos seus ne-
gcios e toda a sorte de notcias tendentes
a entrelaar os interesses diversos da nao...
(Getlio Vargas. Mensagem ao Congresso
Nacional, 1/5/1937, in Cabral, 1975).
O papel do rdio, portanto, precisa ser
analisado sob o ponto de vista do contexto
da poca em que est inserido. Os anos 30
e 40, por exemplo, foram de grandes trans-
formaes em toda a sociedade brasileira,
com o aumento da populao, o crescimento
dos centros urbanos e o desenvolvimento da
indstria e dos servios. No incio, a coor-
denao do setor de divulgao e propagan-
da do governo esteve sob a responsabilidade
do Ministrio da Educao. O projeto cul-
tural e educativo, de uma maneira ampla,
tinha uma viso nacionalista e buscava a
mobilizao e a participao cvicas, assim
como as reformas educacionais.
Mas, j em 1934, Getlio Vargas criaria
o Departamento de Propaganda e Difuso
Cultural ligado ao Ministrio da Justia,
esvaziando o Ministrio da Educao no s
da propaganda como tambm do rdio e do
cinema. A meta era estudar a utilizao do
cinema, da radiotelegrafia e de outros pro-
cessos tcnicos, no sentido de us-los como
instrumentos de difuso, sob a influncia do
recm criado Ministrio da Propaganda ale-
mo (Schwartzman, 1984). No entanto,
embora nesses primeiros anos o governo
Vargas tenha criado uma srie de leis e
dispositivos para controlar a radiodifuso, na
prtica o veculo teve, tambm, uma vida
prpria, construda por diversos atores, entre
eles os radialistas, artistas, tcnicos, empre-
srios e polticos. A colaborao de intelec-
tuais engajados ao movimento nacionalista
tambm foi de grande importncia para o
projeto poltico de Vargas
3
.
Sobre o assunto, Oliven (1983:81) con-
sidera que, no Brasil, o papel do Estado em
relao cultura complexo: ele no apenas
o agente de represso e de censura mas,
tambm, o incentivador da produo cultu-
ral. Para o autor, o Estado, acima de tudo,
28 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
o criador de uma imagem que tenta se
apropriar do monoplio da memria nacio-
nal. No mesmo sentido, Miceli (1972:218)
lembra que os meios de comunicao, nesta
fase, constituem os veculos de uma ao
pedaggica a servio do processo de unifi-
cao do mercado material e simblico, que
se traduz pela imposio diferencial da cultura
dominante.
Pode-se dizer, assim, que a trajetria do
rdio acompanha a do pas em, praticamen-
te, todo o sculo XX. Da mesma forma que
o Brasil comeava a se estruturar o rdio
tambm dava os seus primeiros passos.
Quando Getlio Vargas assumiu a presidn-
cia em 1930, o veculo sofreu o seu impacto
inicial ao surgir o primeiro documento sobre
a radiodifuso que, at ento, era regida pelas
leis da radiotelegrafia. A partir de 1932 a
publicidade foi legalmente permitida, o que
viria a traar os rumos da trajetria da
radiodifuso brasileira.
As modificaes na legislao influram
no rdio dos anos 30 que se caracterizava
por programaes eruditas e musicais. A
chegada das agncias de publicidade altera-
ria a feio do veculo que se tornaria, a partir
de ento, comercial. Com o aporte da pu-
blicidade, o rdio incrementou a sua progra-
mao, tanto de entretenimento como de
jornalismo, pois as agncias internacionais de
notcias que chegavam ao Brasil iriam au-
xiliar neste sentido. A ocorrncia da Segunda
Guerra Mundial (1939-1945) tambm impul-
sionou o jornalismo uma vez que a popu-
lao queria se informar sobre o conflito e,
neste sentido, a vinda do noticioso Reprter
Esso responderia a este anseio (e, tambm,
a sua finalidade principal que era a de
divulgar as notcias sob o ponto de vista dos
Aliados).
Neste perodo, segundo Ortiz (1988:54),
o sonho do Estado totalitrio de construir
um sistema radiofnico em nvel nacional se
desfaz diante da impossibilidade material de
realiz-lo. Isto porque a radiodifuso bra-
sileira no adquiriu a forma de rede, o que
favoreceu o desenvolvimento da radiofonia
local. O que acontecia era que algumas
emissoras mais potentes limitavam-se a
irradiar a sua programao a partir de sua
base geogrfica, mas elas no constituam um
centro integrador da diversidade nacional.
Para o autor, a explorao comercial dos
mercados se fazia, portanto, regionalmente,
faltando ao rdio brasileiro da poca esta
dimenso integradora caracterstica das in-
dstrias da cultura.
A no-formatao inicial do sistema
radiofnico em redes possibilitou, assim, a
emergncia de inmeras emissoras pelo Brasil
afora, cada uma preenchendo a sua progra-
mao com as caractersticas locais. As di-
ferenciadas manifestaes culturais do pas
tiveram, deste modo, possibilidade de se
mostrar. A Rdio Nacional do Rio de Janei-
ro, que teve um forte papel integrador a partir
dos anos 40, aps ser encampada pelo
governo federal, no deixou de aproveitar esta
riqueza, principalmente da msica, do humor
e de artistas de todo o Brasil.
A partir da dcada de 40 o veculo tomou
o seu grande impulso e a fase de ouro do
rdio (anos 40-50) pde existir, segundo Ortiz
(1988:134), porque o mesmo concentrava a
massa de investimento publicitrio dispon-
vel na poca. Com o deslocamento da verba
publicitria para a televiso, sua explorao
comercial teve que levar em conta novos
fatores de mercado, caminhando para a es-
pecializao das emissoras e a formao de
redes.
De l para c, o Brasil viveu diversos
processos polticos e culturais. Mas, pode-
se dizer que, na sua trajetria, o veculo esteve
presente em todas as manifestaes mais
importantes da vida do pas. A relao rdio
e cultura, assim, tem sido visceral, desde a
divulgao das primeiras msicas gravadas,
no incio da dcada de 20, passando pelos
programas de auditrio, de humor, radiono-
velas, jornalismo, pelas jornadas esportivas
e reportagens. O rdio divulgou eventos e
promoveu nomes de jornalistas, radialistas,
artistas, msicos, polticos, esportistas. Fez
grandes coberturas de momentos felizes e de
grandes tragdias brasileiras. O veculo foi
responsvel, tambm, por impulsionar a
indstria cultural no pas atravs de vrios
elos desta corrente: a indstria fonogrfica,
as revistas especializadas, os jornais, o ci-
nema, os artistas, o esporte e a publicidade.
Na atualidade, a caracterstica principal
do veculo continua sendo a da proximidade
29 ABERTURA E SESSES PLENRIAS
com a comunidade local. Se a televiso aberta
tomou para si o papel que a Rdio Nacional
desempenhava, se a globalizao e a
tecnologia trazem cada vez mais as informa-
es mundiais, coube justamente ao rdio,
devido s suas caractersticas inerentes,
promover as informaes locais. Isto sem
falar nas rdios comunitrias que se proli-
feram em grande nmero pelo pas (estima-
tivas extra-oficiais constatam existir, na
atualidade, mais de dez mil emissoras deste
tipo no Brasil).
Por sua vez, o novo panorama desenhado
pelas possibilidades tecnolgicas, como a
internet, comea a alterar a ecologia dos
meios de comunicao, no significando, at
o momento, o fim do rdio atual. O que est
mudando, principalmente, a convivncia
entre os antigos e os novos meios. Neste
sentido, Castells (2001:224) considera que o
rdio est vivendo um renascimento e ex-
perimentando um grande auge, tanto as
emissoras que emitem atravs das ondas
quanto as que o fazem apenas pela rede. Para
o autor, um dos fatores determinantes desta
transformao est na dificuldade de satis-
fazer o interesse por assuntos locais a uma
escala global, fora do alcance das redes locais
de informao.
A identidade brasileira
O rdio, em relao construo da
identidade nacional brasileira teve, assim, um
importante papel. Esta construo, por sua
vez, no s no Brasil mas na maioria dos
pases do mundo, mostrou a sua face dura.
Para atingir seus objetivos, precisou negar
e impedir a manifestao de outros tipos de
identidade: tnicas, regionais, etc. Durante o
Estado Novo (1937-1945), por exemplo,
foram famosos os casos da queima das
bandeiras e da proibio da utilizao do
idioma alemo pelos imigrantes durante a
Segunda Guerra Mundial, alm da extino
dos partidos polticos e do banimento dos
hinos, escudos, e outros smbolos regionais.
A queima das bandeiras foi um gesto
simblico promovido pelo presidente Get-
lio Vargas, em que as bandeiras de cada estado
brasileiro foram incineradas, na ento capital
do pas, Rio de Janeiro, para demonstrar que,
a partir daquela data, a prioridade estava nas
questes nacionais em detrimento das regi-
onais. E, no caso da proibio do idioma
alemo, alm do motivo poltico, a partir da
definio do Brasil de apoiar os aliados,
estava a questo da unificao da lngua
portuguesa.
Em relao cultura nacional, Hall
(1999:59) lembra que a mesma nunca foi um
simples ponto de lealdade, unio e identi-
ficao simblica. Ela tambm uma es-
trutura de poder cultural. Para o autor,
preciso levar-se em considerao que a
maioria das naes consiste de culturas
separadas que s foram unificadas por um
longo processo de conquista violenta. Tam-
bm salienta que as naes so sempre
compostas de diferentes classes sociais e
diferentes grupos tnicos e de gnero. E,
lembra ainda, que as naes ocidentais
modernas foram tambm os centros de
imprios ou de esferas neoimperiais de in-
fluncia, exercendo uma hegemonia cultural
sobre a cultura dos colonizados. Desta for-
ma, diz o autor, em vez de pensar as culturas
nacionais como unificadas, deveramos pens-
las como constituindo um dispositivo
discursivo que representa a diferena como
unidade ou identidade (...) as naes moder-
nas so todas hbridos culturais (idem:60).
A questo da mdia brasileira, neste
sentido, tem que ser recolocada. Na
atualidade, com 3668 emissoras de rdio, 416
canais de televiso e 9543 retransmissoras,
acesso a inmeros canais de TV a cabo e
satlite, com mais de 10% da populao
conectada internet
4
, alm de grande nme-
ro de jornais e revistas disponveis no Brasil,
o panorama outro. Se na primeira metade
do sculo XX o rdio pde cumprir, num
certo sentido, um papel unificador (seguido
pela TV na outra metade), com a fragmen-
tao da oferta de comunicao e da infor-
mao e a insero do pas num mundo
globalizado isto no mais possvel.
Sobre a questo, Ortiz (2000:87) salienta
que a globalizao no deve ser entendida
como um processo exterior, alheio vida
nacional, pois as contradies inauguradas
pela sociedade industrial e que atravessam
os espaos nacionais ganham agora uma nova
dimenso. Para o autor, elas extravasam
30 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
para o plano mundial. Neste contexto, a
identidade nacional perde a sua posio
privilegiada de fonte produtora de sentido
pois emergem outros referentes, questionan-
do a sua legitimidade.
No entanto, Ortiz considera que no
possvel falar-se em cultura global pois
seria insensato buscar-se uma identidade
global. Para ele, o processo de mundializao
da cultura
5
engendra novos referentes
identitrios havendo, na atualidade, dispo-
sio das coletividades um conjunto variado
de referentes. Alguns so antigos, como a
etnicidade, o local e o regional, por exemplo,
e outros mais recentes, resultantes da
mundializao da cultura (a juventude, o
consumo, etc.). Desta forma, cada grupo
social, na elaborao da sua identidade
coletiva, deles se apropriaro de maneira di-
ferenciada. Mas, para o autor, as identidades
so diferentes e desiguais porque as instn-
cias que as constrem desfrutam distintas
posies de poder e de legitimidade. Con-
cretamente, elas se exprimem num campo de
lutas e de conflitos, nele prevalecendo as
linhas de fora desenhadas pela lgica da
mquina da sociedade(idem:93).
Neste sentido, Hall (1999:65) salienta que,
quando se discute se as identidades nacio-
nais esto sendo deslocadas, deve-se ter em
mente a forma pela qual as culturas naci-
onais contribuem para costurar` as diferen-
as numa nica identidade. Um caso inte-
ressante para exemplificar a questo o da
identidade gacha.
A identidade gacha
O tema da identidade gacha tem servido
de base a muitas discusses, teses, reporta-
gens na imprensa, no s no Rio Grande do
Sul mas em outros estados brasileiros. O tema
recorrente e tem intrigado pela fora desta
identidade que se apia na figura de um
gacho mtico, oriundo do pampa, regio
fronteiria entre Brasil, Argentina e o Uru-
guai
6
. Uma figura masculina e rural e que
representa apenas parcialmente os componen-
tes da sociedade riograndense. De onde,
ento, vem esta fora?
Para DaMatta (2003:9)
7
, a figura mascu-
lina preponderante nos locais que, como
o Rio Grande, tm sua identidade forjada
pelas questes polticas. Os gachos foram
republicanos antes do restante do pas. E isto
quer dizer igualdade perante a lei, ter uma
constituio que vale para todos, entre outras
questes. Para o antroplogo, estes elemen-
tos acabam determinando uma imagem de
uma pessoa que luta pelos seus direitos,
assertiva
8
.
Outro autor que se dedica a estudar o
assunto, Oliven (1992:128) considera que
para os gachos, s se chega ao nacional
atravs do regional, ou seja, para eles s
possvel ser brasileiro sendo gacho antes.
Segundo o pesquisador, quando se pretende
comparar o Rio Grande do Sul ao resto do
pas, apontando diferenas e construindo uma
identidade social, quase inegvel que este
processo lance mo do passado rural e da
figura do gacho, por serem estes os elemen-
tos emblemticos que permitem ser utiliza-
dos como sinais distintivos. Mas, conforme
Jacks (1999:86), difcil definir em que
medida, com que relaes se constitui esta
identidade, especialmente porque esto em
jogo diversos agentes desta construo, como
o Estado, os meios de comunicao, a es-
cola, os Centros de Tradio Gacha
9
, e as
prticas culturais como um todo.
Na atualidade, o tema retomado, ana-
lisando-se o alargamento das fronteiras. Com
as questes da globalizao da economia e
a mundializao da cultura, o gacho, no-
vamente, chamado a explicar a sua iden-
tidade. E, de novo, busca as suas razes (reais
ou imaginadas) para sobreviver no mundo
mais amplo. Dependendo do desafio, o nativo
do Rio Grande do Sul vai apresentar-se/sentir-
se como gacho ou como brasileiro (ou,
quem sabe, cidado do Mercosul, se este vier
a vingar...) e tambm, como latino-ameri-
cano, revelando as suas mltiplas identida-
des. O que h de novo, portanto, a per-
cepo mais expandida da prpria identidade
e, tambm, das diferenas. O que, em termos
gerais, no necessariamente tem significado
maior compreenso com as demais identida-
des (em alguns casos tem ocorrido justamen-
te o contrrio, com casos de xenofobia).
Sobre o recrudescimento das identidades
locais perante a globalizao, DaMatta lem-
bra que um dos fatores a considerar o de
31 ABERTURA E SESSES PLENRIAS
que uma identidade forte no liquidada
facilmente em pouco tempo. No fundo, as
identidades esto ligadas a experincias
elementares, e no apenas a experincias in-
telectuais. A identidade gacha, por exem-
plo, tem uma base muito slida nos costu-
mes, na realidade, no cheiro, na comida, at
no ar que se respira no Sul. O antroplogo
conclui: Por que os pases vo guerra?
Por que se morre, se mata por uma bandeira?
Por uma lngua, por um estilo de vida? Porque
as pessoas defendem a sua identidade. Se
fosse to fcil mudar a imagem de um povo
de uma hora para outra, o mundo seria muito
mais manipulvel.
Mas, mesmo em situaes de identidade
local forte, conveniente lembrar, conforme
Garca-Canclni (2002:91), que hoje, no
mundo todo, muitos setores populares mi-
gram, comunicam-se na dispora, subsistem
graas a remessas de dinheiro, informao
e recursos materiais procedentes de diversas
regies. Assim, o local-popular
10
se produz
e reproduz em vizinhanas virtuais j pouco
ligadas a um determinado territrio e outras
caractersticas definidoras do poltico. Segun-
do o autor, vive-se o popular-local confor-
me se padece a globalizao ou se participa
nela. E, mais, em um mundo miditico, ser
um sujeito popular includo requer controlar,
em certa medida, o habitat fsico imediato
e, tambm, tornar-se capaz de disputar os
circuitos translocais dos quais depende a sua
auto-reproduo. Neste sentido, muitos
autores preferem falar mais em identificao
do que em identidade, aludindo a um sentido
contextual e flutuante.
Na poca atual, de interaes
transnacionais, de comunicao agilizada,
uma mesma pessoa pode identificar-se com
vrias lnguas e estilos de vida. O que no
necessariamente significa o abandono da
identidade nacional mas o acrscimo, ou a
aceitao (e tambm o rechao), de outras
identidades. Num certo sentido, tomando-se
o exemplo da identidade gacha, regional/
local, brasileira e latinoamericana, esta pas-
sa, tambm a perceber-se de uma maneira
mais ampla, como parte de um mundo maior.
Se por um lado h o receio de perder a sua
fora, por outro pode ganhar ao tornar-se
menos rgida e acessvel aos novos desafios.
Como registra DaMatta, se h a disposio
de se morrer por uma bandeira, o outro lado
da moeda significa que, tambm, se est
disposto a matar. E a reside o risco da
intransigncia.
Neste sentido, Bauman (2003:21) vai dizer
que uma vida dedicada procura da iden-
tidade cheia de som e de fria. Identidade
significa aparecer; ser diferente e, por essa
diferena, singular - e assim a procura da
identidade no pode deixar de dividir e de
separar. Para ele, desta forma, no de
surpreender que num mundo globalizado as
fronteiras no desapaream e que, pelo con-
trrio, se fortaleam. Num certo sentido, o
grande desafio, conforme Wolton (2003:24),
o da coabitao cultural, Para o autor, se
a revoluo da tecnologia permitiu a liberao
das distncias fsicas foi para provar, em
seguida, a dificuldade das distncias culturais.
Ou seja, a obrigao da coabitao cultural
facilita uma espcie de retorno da experin-
cia, do tempo, das razes, da tradio e da
geografia como condio de encontro. Como
se a obrigao da coabitao cultural fosse
revalorizar o que as performances da moder-
nidade consideraram como ultrapassado.
Consideraes finais
Retomando-se a questo do papel do rdio
e da identidade brasileira, ao acompanhar-
mos a trajetria do veculo ao longo de 80
anos do sculo XX e incio do sculo XXI,
percebemos que, se por um lado auxiliou na
construo de uma identidade nacional, por
outro tambm contribuiu para o fortalecimen-
to de identidades regionais, devido as suas
caractersticas intrnsecas de proximidade
com o local. Na atualidade, com as possi-
bilidades tecnolgicas, o que est se confi-
gurando o que Castells considera a liber-
dade de buscar uma identidade local prpria
via uma rede global de comunicao local
(entre as demais identidades). Evidentemen-
te, uma liberdade que vai depender da
condio econmica dos pases de dotarem
as comunidades da infra-estrutura necess-
ria, alm das disponibilidades individuais. E
a j outra histria. A possibilidade
tecnolgica real, existe. Mas, a sua con-
secuo, at o momento, no tem sido para
32 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
todos. a face excludente da questo, que
j vem sendo estudada, em profundidade, por
diversos autores.
No caso especfico do rdio e da iden-
tidade gacha, pode-se dizer que o veculo,
mesmo com grande nmero de emissoras
operando em rede
11
, tem auxiliado na ma-
nuteno da identidade cultural. Atualmente,
cerca de 96% das residncias gachas pos-
suem aparelhos de rdio (no Brasil o ndice
de 90%), havendo 366 emissoras de rdio
no Rio Grande do Sul. Destas, 180 so em
Ondas Mdias, 176 em Frequncia Modu-
lada e 10 em Ondas Curtas e grande parte
da programao dedica-se a assuntos de
interesse local. Vrias emissoras tambm j
disponibilizam a sua programao na internet.
Lembrando Moreira (2002:218), mesmo com
as facilidades de informao disponveis em
sistemas de comunicao globalizados como
a internet ou nas transmisses de rdio digital,
o perfil dos ouvintes tende a continuar local,
ainda que com uma insero global.
Outro dado interessante refere-se aos sites
de centros de tradio gachas existentes na
internet
12
atravs dos quais, gachos e sim-
patizantes desta cultura, em todo o mundo,
tm se encontrado
13
. Neste sentido, Garca-
Canclni (1997:80) considera que repensar a
identidade em tempos de globalizao
repens-la como uma identidade
multicultural que se nutre de vrios reper-
trios. Para o autor, esta identidade pode
ser multilngue, nmade, pode transitar,
deslocar-se, reproduzir-se como identidade em
lugares distantes do territrio onde nasceu.
O fenmeno demonstra que a tecnologia -
para quem dela dispe - tem auxiliado no
encontro e na manuteno de comunidades
distncia, reforando, tambm, a tese da
possibilidade de mltiplas identidades. A
discusso, portanto, est longe de se esgotar
e os caminhos esto abertos. O caso da
identidade cultural gacha apenas um dentre
tantos que ocorrem no mundo neste momen-
to.
33 ABERTURA E SESSES PLENRIAS
Bibliografia
Assis Brasil, L. A (1994). Marcas de um
povoamento. In Documentos n5. Diversida-
de tnica e identidade gacha. Santa Cruz
do Sul, Editora da UNISC, pp:155-164.
Bauman, Z. (2003). Comunidade. A
busca por segurana no mundo atual. Rio
de Janeiro, Jorge Zahar Editor.
Cabral, S. (1975). Getlio Vargas e a
msica popular brasileira. Ensaios de Opi-
nio. Rio de Janeiro, Inbia.
Castells, M. (2001). La galaxia internet.
Reflexiones sobre internet, empresa y
sociedad. Barcelona, Plaza&Jans.
Damatta, R. in FEIX, D. e
ALBUQUERQUE. F. (2003). Os gachos
versus o Brasil in Aplauso. Cultura em
Revista. Ano 6, n 52, Porto Alegre, Plural
Comunicao.
Garca-Canclni, N. (1997). Cultura y
comunicacin: entre lo global y lo local. La
Plata, EPC/Universidad Nacional de La Plata.
(2002). Latinoamericanos
buscando lugar en este siglo. Buenos Aires,
Paids.
Hall, S. (1999, 3ed.). A identidade cul-
tural na ps-modernidade. Rio de Janeiro,
DP&A editora.
Haussen, D.F. (2001,2ed.). Rdio e Po-
ltica. Tempos de Vargas e Pern. Porto
Alegre, Edipucrs.
Haussen D. F. e Duval, A. Redes
radiofnicas e produo local: um estudo de
caso. In Moreira, S.V. e Del Bianco, N.
(orgs.2001). Desafios do rdio no sculo XXI.
Rio de Janeiro, UERJ/Intercom.
Jacks, N. (1999). Querncia. Cultura re-
gional como mediao simblica Um estudo
de recepo. Porto Alegre, Edufrgs.
(1998). Mdia nativa.
Indstria cultural e regional. Porto Alegre,
Edufrgs.
Martn-Barbero, J. (1987). Procesos de
comunicacin y matrices de cultura. Itine-
rrio para salir de la razn dualista. M-
xico, Gustavo Gilli.
Miceli, S. (1972). A noite da madrinha.
So Paulo, Perspectiva.
Moreira, S.V. (2002). Rdio em Tran-
sio. Tecnologias e Leis nos Estados Uni-
dos e no Brasil.
Rio de Janeiro. Mil Palavras.
Oliven, R.G. (1992). A parte e o todo.
A diversidade cultural no Brasil-Nao.
Petrpolis, Vozes.
. (1983). Violncia
e cultura no Brasil. Petrpolis, Vozes.
Ortiz, R. (1988). A moderna tradio bra-
sileira. Cultura brasileira e identidade na-
cional. So Paulo, Brasiliense.
(2000, 2ed.). Um outro
territrio. Ensaios sobre a mundializao.
So Paulo, Olho dgua.
Schwartzman e outros (1984). Tempos
de Capanema. So Paulo, Edusp/Paz e Terra.
Wolton, D. (2003) A globalizao da
informao. In Revista Famecos n 20, abril
de 2003. Porto Alegre, Edipucrs, pp:21-25.
_______________________________
1
Conferncia proferida na Sesso Plenria
inaugural do VI Lusocom, em 21 de Abril de 2004,
subordinada ao tema Comunicao e Identida-
des.
2
Pontifcia Universidade Catlica do Rio
Grande do Sul.
3
Ver Doris Fagundes Haussen, Rdio e
Poltica. Tempos de Vargas e Pern. Porto Ale-
gre, Edipucrs, 2001, 2ed.
4
Dados da Fundao Getlio Vargas sobre
o Mapa da Excluso Digital, citados no Portal
da Revista Exame, em abril de 2003
(www.portalexame.abril.com.br).
5
Quanto aos conceitos de globalizao e
mundializao Ortiz diz: prefiro utilizar o termo
globalizao quando falo de economia e de
tecnologia; so dimenses que nos reenviam a uma
certa unicidade da vida social. Reservo, assim,
o termo mundializao ao domnio especfico da
cultura (2000:24).
6
Sobre a contribuio dos aorianos for-
mao do gacho, Assis Brasil (1994:137) diz que
os aorianos, habituados s pequenas proprieda-
des das ilhas, aqui chegaram e receberam enor-
mes extenses de terras, muitas delas maiores do
que as prprias ilhas de onde vieram. Adaptaram-
se logo s circunstncias de clima e topografia,
e j na primeira gerao eram estancieiros ple-
namente estabelecidos. No tiveram problema em
mesclar-se com os castelhanos andarilhos, gente
que vagava pelo campo sem ocupo definida,
mas que, se sabiam algo, sabiam tropear, cuidar
do gado, pelear... Formou-se, assim, um
caldeamento de raas que resultou num tipo
34 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
humano mpar, o gacho da campanha, cujas
noes de insolncia e possveis problemas com
a lei foram amortecidos com o tempo.
7
A entrevista de Roberto DaMatta foi con-
cedida a Daniel Feix e Fernanda Albuquerque e
publicada em Aplauso. Cultura em Revista, ano
6, n 52, Porto Alegre, Plural Comunicao, 2003,
p.7-9.
8
O autor aprofunda este tema em Roberto
DaMatta Nao e Regio: em torno do signifi-
cado cultural de uma permanente dualidade
brasileira In Fernando Lus Schuler e Maria da
Glria Bordini (orgs.) Cultura e Identidade
Regional, Coleo Memria das Letras, Porto
Alegre, Edipucrs, 2004, p.19-30.
9
Os Centros de Tradio Gacha (CTG) tm
como iderio, segundo um de seus fundadores,
zelar pelas tradies do Rio Grande do Sul
(histria, lendas, canes, costumes, etc.); lutar
por uma sempre e maior elevao cultural e moral
do Estado e fomentar a criao de ncleos
regionalistas dando-lhes todo o apoio possvel
(Lessa, 1985, in Jacks, 1998:38).
10
Garca-Canclni diz Ao resistirmos a li-
mitar o popular ao local-tradicional, podemos
comear a compreender sua persistncia nas etapas
mais recentes do capitalismo. Reconhecemos a
especfica dinmica cultural de suas transforma-
es e, ao mesmo tempo, buscamos entend-las
correlacionadas com a lgica econmica seletiva
e com as novas disputas polticas (2002:90).
11
Sobre redes ver Doris F. Haussen e Adriana
R. Duval Redes radiofnicas e produo local:
um estudo de caso. In Sonia V. Moreira e Nlia
Del Bianco, N. Desafios do Rdio no sculo XXI.
Rio de Janeiro, UERJ/Intercom, 2001, p.193-207.
12
Os principais endereos de busca so
www.mtg.org.br ; www.paginadogaucho.com.br e
www.galpaovirtual.com.br Este ltimo, o site
Galpo Virtual divulga arte e tradio gachas
e do provedor Internet Via RS, petencente
Companhia de Processamento de Dados do Rio
Grande do Sul. Na seo do site denominada Tch-
mail a comunidade de internautas virtual deixa
as suas impresses sobre o mesmo e assuntos
correlatos.
13
Em seu estudo sobre a cultura regional
gacha, Jacks (1999:257) j observava que a
presena de Centros de Tradio Gacha (reais
e, no, virtuais) em vrios estados brasileiros e
no exterior significava uma reterritorializao,
uma vez que o CTG, no imaginrio tradiciona-
lista a recriao do pago ( lugar onde se nasceu,
o lar) em um ambiente distante dele.
35 ABERTURA E SESSES PLENRIAS
Tecnologia e Sonho de Humanidade
1
Moiss de Lemos Martins
2
1. A tecnologia no castelo da cultura
Ao intervir nesta sesso plenria sobre
o tema Comunicao e Identidades, gos-
taria de convocar, de entrada, Dominique
Wolton. Na sua obra A outra globalizao,
refere Wolton (2004: 43) que a comunicao
e a identidade constituem, com a cultura, o
tringulo explosivo do sculo XXI. E a meu
ver, o que torna explosivo este tringulo so
as novas tecnologias, sejam as biotecnologias,
sejam as tecnologias da informao.
Na minha interveno, vou, todavia,
ocupar-me exclusivamente das novas tecno-
logias da informao. E muito particularmen-
te, vou debater as figuraes do humano por
elas projectadas, quero dizer, os sonhos de
humanidade que as animam. Para o fazer,
coloco-me sob a inspirao de George Steiner.
Para caracterizar a cultura contempor-
nea, Steiner escreveu em 1971 um ensaio,
que intitulou No Castelo do Barba Azul. Este
ttulo tem tanto de sugestivo como de inqui-
etante. Todos nos lembramos do conto tra-
dicional em que um tenebroso senhor, de
barba azul, guardava um terrvel segredo bem
aferroado no quarto do seu castelo. Era nesse
verdadeiro quarto dos horrores que escondia
os cadveres esquartejados das sucessivas
mulheres com quem se casara, mas que
invariavelmente assassinara.
O compositor hngaro Bella Bartok fez
deste conto tradicional o libreto de uma das
suas peras. E George Steiner, logo na
abertura do seu ensaio sobre a cultura con-
tempornea, convoca uma personagem de
Bartok, querendo com ela precisar todo o
sentido da viagem que quer empreender
connosco. Escreve ento: Dir-se-ia que
estamos, no que se refere a uma teoria da
cultura, no mesmo ponto em que a Judite
de Bartok quando pede para abrir a ltima
porta para a noite (Steiner, 1992: 5).
Abrir a ltima porta para a noite! isso
o que faz Steiner neste seu ensaio, que uma
porta aberta sobre O grande tdio (ttulo
do primeiro captulo); sobre Uma tempo-
rada no Inferno (ttulo do segundo captu-
lo), sobre a Ps-cultura (ttulo do terceiro
captulo).
Mas estas notas para uma redefinio
da cultura, qual ltima porta aberta para a
noite do seu castelo, no significam qualquer
conformismo ou submisso noite por onde
entra. Referindo-se ao Amanh, ttulo do
quarto e ltimo captulo do seu ensaio, George
Steiner tem esta palavra de lucidez, ao mesmo
tempo trgica e herica: No podemos optar
pelos sonhos da ignorncia. Abriremos, penso
eu, a ltima porta do castelo embora ela possa
levar, ou talvez porque ela pode levar, a
realidades que esto para alm da capacida-
de do entendimento e controlo humanos. F-
lo-emos com a lucidez desolada, que a msica
de Bartok prodigiosamente nos comunica,
porque abrir portas o trgico preo da nossa
identidade (Steiner, 1992: 141).
Seguindo a sugesto de Steiner, de abrir
portas no castelo da cultura, entendo que a
porta do castelo que hoje h que abrir a
porta da tecnologia. E a minha proposta
exactamente essa: debater a tcnica e o papel
que as novas tecnologias, que incluem os
media, tm na redefinio da cultura, ou seja,
na delimitao do humano. Trata-se de uma
porta que no podemos deixar de abrir, uma
vez que ela constitui hoje o trgico preo
da nossa identidade, como podemos dizer,
retomando uma frmula de Steiner.
Penso, de facto, que o novum da expe-
rincia contempornea precisamente este,
o de a techn se fundir com a bios. Num
momento em que, com as biotecnologias, se
fala da clonagem, de replicantes e de cyborgs,
de hibridez, de ps-orgnico e de trans-
humano, e que, com as novas tecnologias da
informao, se fala daquilo a que Lyotard
chama logotcnicas, com a crescente
miniaturizao da tcnica e com a
imaterializao do digital, neste tempo de
36 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
biotecnologias e de novas tecnologias da
informao, dizia, d-se a completa imerso
da tcnica na histria e nos corpos.
Esta imerso da tcnica na vida - a fuso
da bios com a techn -, particularmente
evidente com as biotecnologias, os implan-
tes, as prteses, a engenharia gentica. Mas
acontece tambm no caso das novas tecno-
logias da imagem. Aquilo que hoje chama-
mos as tecnologias da comunicao e da
informao, especificamente a fotografia, o
cinema, a televiso, o multimdia, as redes
cibernticas e os ambientes virtuais, funci-
onam em ns como prteses de produo de
emoes, como maquinetas que modelam em
ns uma sensibilidade puxada manivela
(Martins, 2002 b: 181-186).
Se bem observarmos, vemos esta tese
declinada por inteiro em La Monnaie Vivante
de Pierre Klossowski (1997): desejo, valor
e simulacro, a est o tringulo que nos
domina e nos constitui na nossa histria, sem
dvida desde h sculos, como bem assi-
nala Michel Foucault na carta que precede
a obra (Foucault, in Klossowski, 1997: 9).
Alis, j era claro para Walter Benjamin
(1936-1939), na primeira metade do sculo
XX, que os dispositivos de imagens causa-
vam comoo e impacto generalizados, e que,
portanto, como assinalou Teresa Cruz (s.d.:
112), a nossa sensibilidade estava a ser
penetrada pela aparelhagem tcnica, de um
modo simultaneamente ptico e tctil. Mas
foi nos anos sessenta deste mesmo sculo que
McLuhan (1968: 37) insistiu neste ponto: no
ao nvel das ideias e dos conceitos que a
tecnologia tem os seus efeitos; a sua relao
com os sentidos e com os modelos de per-
cepo que a tecnologia transforma pouco a
pouco, e sem encontrar a menor resistncia.
E foram Gilles Deleuze e Flix Guattari quem,
j nos anos setenta, fez o a diagnstico mais
completo desta situao, em que a tcnica e
a esttica fazem bloco um bloco
alucinatrio, como escreve, a propsito,
Bragana de Miranda (s.d.: 101). No Anti-
Oedipe, Deleuze e Guattari propem a equi-
valncia entre corpo, mquina e desejo. Sendo
a mquina desejante e o desejo maquinado,
ideia de ambos que existem tantos seres
vivos na mquina como mquinas nos seres
vivos (Deleuze e Guattari, 1972: 230).
A tecnologia inscreve-se, deste modo, no
movimento daquilo a que Bragana de
Miranda (1999) chama razo medial, ou
seja, uma razo que no constituindo a razo
dos media, seria todavia o suporte da razo
que produz e controla a existncia. Neste
entendimento, a tecnologia vista como um
dispositivo (Foucault) e tem o carcter de
uma maquinao: com a tecnologia maqui-
na-se a esttica, compe-se uma sensibilida-
de artificial, uma sntese artificial no inte-
rior da qual se desintegram as sensaes, as
emoes e os desejos (Cruz, s.d.: 111-112).
Num processo de crescente
anestesiamento da vida nas sociedades
modernas Guy Debord (1991: 16) falar
antes de uma congelao dissimulada do
mundo: a sociedade moderna acorrentada
[...] no exprime seno o seu desejo de dormir.
O espectculo o guardio deste sono
3
.
2. A pele da cultura
No podemos, pois, deixar de abrir esta
porta do Castelo. Para retomar a frmula de
Steiner, essa porta - uma porta aberta para
a noite - constitui o preo trgico da nossa
identidade.
Da tcnica depende hoje, com efeito, a
possibilidade de delimitarmos o humano,
enfim, a possibilidade de nos definirmos a
ns mesmos. O nosso problema , com efeito,
o seguinte: a tcnica deixou de prolongar o
nosso brao; pelo contrrio, ela faz o nosso
brao. Mais, a tcnica promete produzir-nos
por inteiro. Tendo deixado de ser feita nossa
imagem e semelhana, somos ns prprios
que somos feitos imagem e semelhana da
tcnica. Ela aparelha a vida e os corpos,
investindo-os, penetrando-os, atravessando-
os, alucinando-os, ou ento, anestesiando-os.
A tcnica tanto produz e administra a vida,
como produz e administra os corpos. E ao
fazer uma coisa e outra, a tcnica faz bloco,
cada vez mais, com a esttica, quero eu dizer,
com os sentidos, com as emoes, com a
sensibilidade. A tcnica, que um artefacto
da razo, faz bloco com a emoo. Ela
exprime, verdade, a racionalidade moder-
na, a razo como controle da existncia. Mas,
por outro lado, produz e administra emoes.
Ou seja, a tcnica reorganiza toda a nossa
37 ABERTURA E SESSES PLENRIAS
emotividade e produz, por outro lado, o efeito
cada vez mais alargado de uma estetizao
da existncia. A tcnica produz, pois, o efeito
de um espao que se gasta em emoes, quero
dizer, um espao agitado, excitado, sobre-
aquecido, que se esgota em emoo. E ento
ver-nos a replicar-nos neste mundo, clnica
e protesicamente: com regimes alimentares,
com normalizao em ginsio, com plsti-
cas, com prteses de silicone, com implantes
de cabelo, com implantes electrnicos no
crebro para realizar up grades de intelign-
cia, com implantes de embries clonados para
apurar a raa humana.
Autores h que falam, a este propsito,
da existncia em ns de uma pele tecnolgica,
de uma pele para a afeco e a emoo.
o caso de Derrick de Kerckhove. Na obra
The Skin of Culture, defende este autor a tese
de que os media electrnicos so extenses
no apenas do nosso sistema nervoso e do
nosso corpo, mas tambm extenses da
psicologia humana.
Steven Shaviro radicaliza esta tese ao falar
da erotic life of machines. Trabalhando
sobre o videoclip que Chris Cunningham
realizou para a cano de Bjrk All is full
of love, Shaviro analisa o modo como Bjrk
se transforma num cyborg e como esse
fantasma, esse duplo de Bjrk, se replica
noutro cyborg, ou seja noutro duplo, acaban-
do os duplos de Bjrk apaixonados um pelo
outro.
Ora, nesse videoclip, o ser vivo que
Bjrk vai deslizando at se fundir com a
mquina, ou seja, com a imagem maqunica
de Bjrk. Essa fuso, uma liga de bios e de
techn, faz irromper o ps-orgnico. A voz
de Bjrk figura esta ps-organicidade, dei-
xando de ser a voz de um ser humano para
se identificar com o som de um sintetizador.
O inorgnico, todos o sabemos, estril
por natureza. Mas o ps-orgnico (essa liga
de bios e de techn), fantasia um acto de
criao, atravs de um amor estritamente
endogmico
4
. O videoclip de Chris
Cunningham apresenta-nos assim um enlace
entre dois cyborgs, entre dois duplos, entre
dois fantasmas de Bjrk, encenando o pre-
ldio de um acto sexual.
Convoco, de novo, neste ponto, a tese
proposta por Deleuze e Guattari no Anti-
Oedipe (1972): o desejo maqunico e a
mquina desejante, de maneira que h tantos
seres vivos na mquina como mquinas nos
seres vivos. Neste quarto do castelo, um
quarto de horrores, de homens-mquinas,
corpo, mquina e desejo fazem uma liga que
no apenas nos fascina, mas que igualmente
nos inquieta.
3. A melancolia das narrativas tecnolgicas
Gostaria de dar mais um passo portas
adentro deste quarto do castelo, evocando as
figuras da runa e da utopia do corpo nas
imagens tecnolgicas. A runa e a utopia do
corpo so figuradas, por exemplo, nos cor-
pos virtuais, corpos que so imagem pura,
absoluta criao tecnolgica, corpos alis
volatilizados pela tcnica, corpos pervasivos,
de total irrealidade, todos eles luz.
Entre esses corpos virtuais, encontra-se
Kyoko, uma pop star japonesa, que existe
entre o real e o virtual. Um dos sites que
esta estrela tem na Internet faz a seguinte
descrio de Kyoko: Alm de cantora,
trabalha num restaurante fast-food de Tquio,
cidade onde os pais tambm tm um restau-
rante. Tem fs no Japo e no mundo inteiro.
Medidas: Tem 40 000 polgonos (pixels) e
uma equipa de criadores que a inventam e
reinventam a todo o instante (site:
www.citi.pt/estudos)
5
.
Ora aqui est um corpo prolongado por
prteses miniaturizadas, pelos pixels do
computador, pela imagem que est sempre
em mutao, criao e reinveno. Kyoko
a figurao de uma verdadeira mquina
autopoitica. Este corpo sem defeito d-nos
a possibilidade de uma identifico que rompe
com as deficincias e as insuficincias de um
corpo real. Uma star virtual no est nunca
sujeita a doenas, acidentes e problemas
sentimentais. A sua imagem segura e a nossa
identificao faz-se com uma perenidade e
uma infinitude, vividas em imagem.
Num tempo sem Gnesis nem Apocalipse,
um tempo em sofrimento de finalidade,
como diria Lyotard (1993: 93), um tempo
sem qualquer promessa de redeno que o
finalize, a tecnologia, neste caso Kyoko,
a escatologia que nos resta.
38 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Kyoko uma narrativa mtica sobre a
beleza, a sade e a juventude de um corpo
imperecvel. Mas uma narrativa melanc-
lica, que diz o mal-estar em que nos encon-
tramos relativamente ao corpo, a incomodi-
dade de um corpo em runa, de que perma-
nentemente fazemos um estaleiro para dietas
e exerccios de reanimao, implantes,
liftings, limpezas e plsticas.
Gostaria de evocar igualmente aqui o
imaginrio futurista de um corpus de alguns
filmes das ltimas dcadas do sculo XX.
Tanto pelos seus fantasmas, como pelas
inseguranas, inquietaes, temores e espe-
ranas que os animam, possvel manifestar
a alma que nos constitui, ou seja, possvel
manifestar as nossas esperanas mais utpi-
cas, e tambm os nossos medos mais
recalcados. Refiro-me, por exemplo, aos
seguintes filmes: Sleeper, realizado por
Woddy Allen em 1973; Blade Runner, rea-
lizado por Ridley Scott em 1982; Strange
Days, realizado por Kathryn Begelow em
1995; a trilogia dos irmos Wachowsky (The
Matrix, realizado em 1999, The Matrix
Reloaded e The Matrix Revolutions, ambos
realizados em 2003), e Artificial Inteligence,
realizado por Spielberg em 2001
6
.
Em todos estes filmes acaba por se impor
uma mesma concluso, indecisa entre a sada
airosa que o heri encontra para a sua vida
e a irresoluo dos problemas que afligem
a humanidade. Ou seja, o happy-end da vida
do heri mistura-se com a falta de solues
para os problemas colectivos. Dir-se-ia que
o fantasma mais recorrente deste imaginrio
um imaginrio suportado pelas grandes
conquistas biotecnolgicas sem sombra
de dvida o persistente fascnio que o enig-
ma da vida exerce sobre o esprito do Homem.
Mas, em contrapartida, o criador no est de
modo nenhum sossegado quanto ao risco de
vir a perder o controlo da sua criatura.
Todas estas narrativas filmogrficas so
narrativas mticas, que glosam, nas novas
condies tecnolgicas, o mito do Jardim do
den. Diria, no entanto, que se trata de
narrativas mticas melanclicas, que dizem
o mal-estar em que nos encontramos por
relao ao nosso Planeta. Sentimo-nos, com
efeito, desconfortveis diante da sua runa,
pelo que um dos fantasmas que hoje mais
nos assombram o fantasma da defesa e da
preservao da natureza, o fantasma da defesa
e da preservao do meio-ambiente.
A melancolia diz bem o nosso sentimen-
to diante do real, sempre que ele nos falta
ou abre brechas. Neste crepsculo de poca
em runa, a melancolia vive jungida nar-
rativa mtica, essa sabedoria que hoje levanta
voo, qual coruja de Minerva em Hegel,
exprimindo o nosso mal-estar.
Aqui est entreaberta apenas entreaber-
ta a porta do castelo que eu penso ser
necessrio abrir bem aberta para nos enten-
dermos a ns prprios. Steiner falava de uma
porta aberta para a noite. Quaisquer horrores
que todavia a habitem no podem nunca ser-
nos inteiramente estranhos. Mesmo que o
preo a pagar seja trgico. esse, com efeito,
o preo da nossa identidade: as novas tec-
nologias so hoje, cada vez mais, uma fron-
teira onde se joga a possibilidade de deli-
mitarmos o humano.
39 ABERTURA E SESSES PLENRIAS
Bibliografia
Benjamin, Walter, 1992 [1936-1939], A
Obra de Arte na Era da sua Reprodutibilidade
Tcnica, in Sobre Arte, Tcnica, Linguagem
e Poltica, Lisboa, Relgio dgua, pp. 71-
110.
Cruz, Maria Teresa, s.d., Da Nova Sen-
sibilidade Artificial, in Imagens e Reflexes.
Actas da 2. Semana Internacional do
Audiovisual e Multimdia, Lisboa, Ed.
Universitrias Lusfonas, pp. 111-116.
Debord, Guy, 1991 [1967], A Sociedade
do Espectculo, Lisboa, Mobilis in Mobile.
Deleuze, Gilles & guattari, Flix, 1972,
LAnti-Oedipe, Paris, ditions de Minuit.
Kerckhove, Derrick de, 1997 [1995], A
Pele da Cultura Uma Investigao sobre
a Nova Realidade Electrnica, Lisboa,
Relgio Dgua.
Klossowski, Pierre, 1997 [1970], La
Monnaie Vivante, Paris, Ed, Payot & Rivages.
Lyotard, Jean-Franois, 1993, Une
Fable Postmoderne, in Moralits
Postmodernes, Paris Galile, pp. 79-94.
Martins, Moiss de Lemos, 2002 a, O
Trgico como Imaginrio da Era Meditica,
in Comunicao e Sociedade, Braga, NECS,
n. 4, pp. 73-79.
Martins, Moiss de Lemos, 2002 b, A
Linguagem, a Verdade e o Poder, Lisboa,
Fundao Calouste Gulbenkian & Fundao
para a Cincia e a Tecnologia.
Mcluhan, Marshall, 1968 [1964], Pour
Comprendre les Mdias, Paris, Seuil.
Miranda, Jos Bragana de, 1999, Fim
da Mediao? De uma Agitao na Metafsica
Contempornea, in Revista de Comunicao
e Linguagens, n. 25, pp. 293-330.
Miranda, Jos Bragana de, s.d, Crtica
da Esteticizao Moderna, in Imagens e Re-
flexes. Actas da 2. Semana Internacional do
Audiovisual e Multimdia, Lisboa, Ed. Uni-
versitrias Lusfonas, pp. 92-105.
Perniola, Mrio, 1993 [1991], Do Sentir,
Lisboa, Presena.
Perniola, Mrio, 1994 [1990], Enigmas.
O Momento Egpcio na Sociedade e na Arte,
Lisboa, Bertrand.
Perniola, Mrio, 2004 [1994], O Sex
Appeal do Inorgnico, Lisboa.
Shaviro, Steven, 2000, The Erotic Life
of Machines (Bjrk and Chris Cunningham,
All Is Full of Love), Curso de Vero no
Convento da Arrbida sobre Tecnologia e
vida contempornea, organizado por
Hermnio Martins e Jos Bragana de
Miranda.
Steiner, George, 1992 [1971], No Cas-
telo do Barba Azul. Algumas Notas para a
Redefinio da Cultura, Lisboa, Relgio
Dgua.
Wolton, Dominique, 2004 [2003], A
Outra Globalizao, Lisboa, Difel.
Site: www.citi.pt/estudos.
_______________________________
1
Conferncia proferida na Sesso Plenria
inaugural do VI Lusocom, em 21 de Abril de 2004,
subordinada ao tema Comunicao e Identidades.
2
Instituto de Cincias Sociais da Universi-
dade do Minho.
3
Ver tambm Martins (2002 a, 2002 b), Perniola
(1993, 1994 e 2004), e ainda, Shaviro (2000).
4
No posso, no entanto, deixar de assinalar
a tese proposta por Mrio Perniola (1994) sobre
o sex appeal do inorgnico, que contraria o meu
ponto de vista.
5
A figurao da runa e da utopia do corpo
nas novas tecnologias constitui o objecto de uma
dissertao de mestrado em Cincias da Comu-
nicao na Universidade do Minho, a realizar por
Mrio Camaro Neto em 2004/2005.
6
Estes filmes constituem parte do objecto de
estudo sobre que incide uma dissertao de
mestrado em Cincias da Comunicao, a realizar
por Lurdes Macedo na Universidade do Minho
em 2004/2005.
40 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
41 ABERTURA E SESSES PLENRIAS
Textos sobre identidades como textos:
um exerccio a partir das literaturas de lngua portuguesa
1
Augusto Santos Silva
2
1. Sociologia cultural e literatura
Podemos comear por recordar que j
passaram trinta anos sobre o 25 de Abril de
1974. E que ele desencadeou uma experi-
ncia social intensa e arrebatadora: revolu-
o poltica, descolonizao dos antigos
territrios ultramarinos e regresso de Portu-
gal ao seu territrio peninsular. E que foi ele
que permitiu a institucionalizao de um
regime poltico democrtico, a reorientao
para a Europa e, depois, a integrao na que
agora se designa como Unio Europeia,
tomando-a por referncia fundamental de um
desenvolvimento econmico e social final-
mente concebido em termos modernos.
Pensando neste sobressalto como poucos
teve a histria portuguesa, percebe-se bem
quo ilusrio enunciar a identidade ao modo
antigo, como a essncia psquica ou moral
que ontologicamente caracterizaria um ser ou
personalidade colectiva, assim a distinguin-
do e singularizando no concerto das demais:
isso seria prolongar indagaes prprias dos
tempos anteriores ao 25 de Abril, que as
houve vrias, de diferentes provenincias
cognitivas e ideolgicas, procurando fixar
uma identidade histrica nacional (cf. Leal,
2000: 63-82). Mas tambm se compreende
quo errado se tornaria confundir a recusa
da concepo essencialista e patrimonialista
da identidade colectiva com o menosprezo
por essa dimenso constitutiva das realida-
des sociais que so as representaes sim-
blicas que sobre si prprias vo construindo
as comunidades e os agentes especializados
dos seus campos culturais (Almeida, 2001).
Uma coisa seria aceitar a ensima tentativa
de definir e impor uma matriz nacional
uniforme e permanente, um ser colectivo
nacional, portugus ou de qualquer outro
povo; coisa diversa considerar e interpretar
os mltiplos planos e formas atravs dos quais
os grupos sociais e os crculos culturais vo
elaborando e reelaborando, dinamicamente,
sentimentos, ideias, imagens, eventos,
edificaes, a que atribuem valor simblico,
e com que procuram situar-se, agregar-se e
distinguir-se, constituindo-se e pensando-se
como colectivos, com os seus traos, cones,
emblemas, discursos prprios. O primeiro
caminho, essencialista, leva-nos ao beco sem
sada dos primordialismos. O segundo cami-
nho reconduz-nos ao sentido, como condio
sine qua non da aco humana.
S, todavia, o percorreremos se colocar-
mos as identidades dentro, e no fora, das
dinmicas sociais, articulando-as com os
contextos e agentes da sua produo e
aquisio; se tomarmos as identidades como
factores de dinmica social, e no exclusiva
ou predominantemente como resultados ou
efeitos; se concebermos as identidades como
textos sociais, matrias significantes, que
enunciam vises e representaes do mundo
e so motivo de sucessivas e diferentes
interpretaes (Alexander & Smith, 1998;
Costa, 1999: 61-115, 494-505; Silva, 1999:
117-122). No basta, portanto, declinar as
identidades no plural; preciso situ-las
socialmente, e tambm como produtoras de
realidade social, integrando-as nos encade-
amentos mltiplos (e tensos) de interpreta-
o que lhes vo conferindo sentido.
A estes encadeamentos pertencem os
discursos especializados que, em registo
ficcional, analtico ou comunicacional isto
, partindo do imaginrio, dos saberes ou da
interaco simblica elaboram, codificam,
interpelam identidades. Fazendo-o, produzem
conhecimento (o que as coisas so), inter-
pretao (porque e como as coisas so o que
so) e apreciao (o que as coisas valem)
e na interseco daqueles registos e destes
planos que o jogo das identidades adquire
o seu mais amplo significado social e pode
ser apreendido fora da vulgata essencialista.
Se o que fica dito tiver pertinncia, ento
tornar-se-o claras as potencialidades de um
exerccio analtico em torno dos sobressaltos
42 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
identitrios associados revoluo democr-
tica portuguesa, ao processo de
descolonizao e formao dos novos
Estados africanos de lngua portuguesa. E
pode-se procurar perceb-los recorrendo
mediao de textos literrios que os tomam
por temas ou pontos de partida.
Vou atrever-me a fazer o exerccio, apenas
para tentar mostrar como ele seria interes-
sante, se fosse conduzido de forma menos
canhestra do que aquela de que no vou
seguramente sair. No pretendo fazer anlise
literria; o que designei, falta de melhor
expresso, como considerao analtica de
textos literrios refere-se ao trabalho prprio
de disciplinas do universo das cincias
sociais, tais como a sociologia, a histria, a
antropologia ou a semiologia. Mas, para um
convicto defensor da anlise cultural em
sociologia (Silva, 1994: 13-144) ou, o que
vem a dar ao mesmo, da sociologia cultu-
ral (Alexander & Smith, 1998), sempre
motivo de mgoa que os debates peridicos
sobre identidades no universo da lusofonia
no aproveitem o riqussimo material de
representao e significao que as literatu-
ras lusfonas vm construindo sobre as
encruzilhadas identitrias e as identidades de
encruzilhada que as nossas naes vo cons-
truindo.
2. Portugal diminudo no espelho cosmo-
polita
Pedirei, ento, licena ao escritor Almeida
Faria, nascido em 1943 e revelado como um
dos iniciadores da renovao literria portu-
guesa dos anos 1960, com o romance Rumor
Branco, que publicou aos 19 anos, para me
servir da tetralogia que dedicou ao que, por
minha conta e risco, chamarei os dilemas
identitrios da revoluo portuguesa. Refiro-
me aos livros A Paixo, cuja primeira edio
data de 1963 mas foi objecto de uma im-
portante reviso em 1976, Cortes, sado em
1978, Lusitnia, de 1980, e Cavaleiro An-
dante, de 1983.
Acompanhamos uma famlia alentejana,
de proprietrios latifundirios. Acompa-
nhamo-la, desde A Paixo, em ciclo descen-
dente. J desapareceu a personagem forte, o
fundador da herdade dos Cantares. Ns segui-
mos a famlia do seu filho, lavrador a
contragosto, instalado na rotina de agrrio,
preso a um tempo que ele prprio pressente
que vai passar. A sequncia dos romances
ressituar a aco de A Paixo (na sua edio
revista de 1976) no dia 12 de Abril de 1974,
sexta-feira santa. A sucesso de textos curtos
que organiza o romance, segundo a cadncia
Manh, Tarde, Noite, inicia-se com a ante-
cipao do dia de trabalho duro por parte
da cozinheira e faz depois ver o impasse
social e cultural da famlia pelas perspecti-
vas, geralmente dadas pela descrio de
sonhos, dos pais, dos cinco filhos e dos
criados de casa e lavoura. Ao longo deste
dia de Paixo, o leitor apercebe-se dos sinais
de transformao iminente: a postura
desistente dos pais, amarrados ao passado sem
futuro e ao cdigo da sua classe latifundi-
ria; o distanciamento dos filhos mais ve-
lhos; a revolta surda dos trabalhadores ru-
rais. Os acontecimentos-chave do romance
so o incndio da herdade (porventura fogo
posto) e a sada de casa de um dos filhos,
Joo Carlos, estudante universitrio em
Lisboa e a participante das lutas contra a
ditadura, que rompe pessoal e politicamente
com os pais e o seu meio social.
Que estamos em vsperas do 25 de Abril,
eis o que explicita o romance de 1978, Cortes.
Cortes, rupturas: de novo a aco de um
dia, o sbado santo, a partir das vozes e
sentimentos do pai, da me, dos filhos e
namoradas, do criado de lavoura e das cria-
das. A vila tem nome: Montemnimo. Os
filhos tm idades: Joo Carlos, doravante JC
(como Cristo), 18 anos, Andr, 24, Arminda,
21; J, 12, e Tiago, 11, ainda crianas,
defrontam-se com a primeira adolescncia.
Com diferentes nveis de intensidade, a
ruptura envolve os trs jovens: Andr contra
a guerra, Arminda anda com um militante
comunista, JC, j sabamos, na luta estudan-
til. Corte com os pais, a educao familiar,
as normas do meio social (da classe, do
latifndio alentejano), o regime, o pas, numa
gradao que, como se v sobretudo no caso
de JC, no pra e esse o ponto capital
na situao poltica, porque abarca a
sociedade portuguesa, o padro de compor-
tamentos, a moral pblica, o lastro da his-
tria. Ou seja, e por assim dizer, a identida-
43 ABERTURA E SESSES PLENRIAS
de colectivamente constituda. Ajuste de
contas de uma juventude culta com o seu
pas encalhado, parado, bloqueado. Andr h-
de pensar que fugir ao intragvel tornou-
se obsessiva ambio deste pas cado em
caliginoso bru (Faria, 1978: 112). Marta,
namorada de JC, h-de deduzir, passando
ocasionalmente por uma rua lisboeta chama-
da Travessa da Espera, que esta o
retrato duma espcie de ptria
espera que o tiraninho fuja e a
ditamole engula ou que a ditaputa
estique caindo do pedestal do Cristo-
Rei-saca-rolhas sempre presente dian-
te da misria de abrir de espanto os
braos mais incrdula esttua
(Faria, 1978: 172-173). E o romance
acaba dando-nos a ver JC e Marta
juntos, a congeminarem o exlio para
sair desta merda de ptria (Faria,
1978: 185).
Entretanto, que sucedera nesse sbado
santo, em Montemnino? O assassinato do
pai por trabalhadores rurais na herdade dos
Cantares, talvez como vingana da antece-
dente morte do militante comunista suspeito
de ter ateado o fogo do dia anterior. O
latifndio morreu, os jovens que com ele
cortaram vero a histria cortar-lhes, por sua
vez, a amarra do modo que nunca imagina-
ram. A morte real redobra a morte simblica,
confere-lhe a crueza e a irrevocabilidade que
ela sozinha no teria.
Dois anos depois da edio de Cortes,
em 1980, Almeida Faria publica o romance
Lusitnia. Dedica-o a Eduardo Loureno e
coloca-lhe como prtico a ltima frase de O
Crime do Padre Amaro: ptria para sempre
passada, memria quase perdida. Agora, a
forma epistolar: as personagens adultas
trocam correspondncia, e o narrador assu-
me a perspectiva dos dois irmos mais novos,
ainda meninos, relatando os seus sonhos,
pesadelos e desventuras. A primeira carta
pertence a JC e datada de 14 de Abril de
1974: domingo de Pscoa, pois. Escrita em
Veneza, aonde JC e Marta acabaram por
aportar, salvos por um filho-famlia italiano
de um rapto rocambolesco de que haviam
sido vtimas, orquestrado por rabes misteri-
osos, mais interessados na rapariga do que
no rapaz. Na trama narrativa, o que o epi-
sdio faz colocar JC fora de Portugal, para
da assistir revoluo, operando uma se-
gunda descolagem do seu protagonista prin-
cipal, primeiro fugido da sua famlia e meio
social, agora deslocado do pas.
Como a revoluo democrtica, o roman-
ce encadeia-se em trs partes.
guas mil, a euforia da libertao e
logo algumas perplexidades. No dia 24, JC
ainda escreve me sobre esse universo
fechado, essa asfixia (Faria, 1980: 50), que
envolve a me, a casa e a nao, com que
rompeu e que no quer. Depois, sabedor da
revoluo e tambm de que o irmo mais
velho fora obrigado a assumir as responsa-
bilidades de primognito, porque o pai est
morto e a me e os benjamins desamparados,
o dinheiro e o patrimnio escasseiam, e a
namorada dele, Snia, nascida em Angola,
a Angola volta JC verifica que no deseja
regressar a Portugal, descobre-se desalinha-
do, ambguo, no enquadrvel. Identidade
incerta, ou melhor, identificaes perdidas
a herdada, que filho de terratenente no quis
ser, a nova, que no o empolga nem a
disciplina partidria, nem o individualismo
revolucionrio. Falta-me f para defender
qualquer seita, por anrquica que seja, sou
apenas o desdichado, o tenebroso, ausente
nos momentos-chave, o que esqueceu a
chave (Faria, 1980: 64). Entretanto, os
irmos que esto em Portugal e vivem por
dentro a comoo do primeiro Primeiro de
Maio, Andr e Arminda, assistem morte
gratuita de uns marinheiros perdidos e
progressiva frieza do namorado comunista
dela, embaraado com o possvel significado
de uma relao com a que, para todos os
efeitos, continuava a ser filha, embora rf,
de um latifundirio.
O segundo tempo do romance e da
revoluo Setembro de 1974. Setembro
negro, o ttulo: a contragosto, sucumbindo
presso da famlia, JC regressa, mas sem
Marta, que se recusa a abandonar Veneza e
os seus canais, a sua arquitectura, a sua arte.
As palavras do retornado so violentssimas,
numa torrente de revoltas contra o rumo que
vai levando a revoluo. Que se rene ao
desespero do irmo Andr, impedido pelas
44 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
circunstncias familiares de ir ter com Snia
a Angola, e que tambm no compreende o
folclore revolucionrio (Faria, 1980: 141).
Terceiro tempo, idos de Maro, de
Maro de 1975. Na perspectiva de JC, a
revoluo virou opereta. Agora escreve
volta a vir ao de cima o nosso secular
cepticismo, indiferena, fatalismo, transfor-
mando em gesto nacional o encolher-de-
ombros de outrora conhecido (Faria, 1980:
158). Marta em Veneza, no apenas Marta,
Veneza como lugar-outro e contraponto ao
carnaval na quaresma (Faria, 1980: 169)
em que virou o processo revolucionrio. E
o romance conclui-se nesta amargura: a
ruptura querida tornou-se numa ruptura
vencida, a amada diz que no volta, JC que
v ter com ela se quiser.
A publicao, em 1983, de Cavaleiro
Andante fechar o crculo ficcional sobre esse
pas-Portugal perdido na histria secular de
injustias, atavismos e bloqueios, mas tam-
bm perdido numa revoluo que lhe ter
mudado apenas a epiderme. As cartas so
trocadas entre Junho e Novembro de 1975,
e entre Lisboa, onde est JC, ou os stios
por onde transita no seu novo emprego de
comissrio de bordo, Veneza, onde continua
Marta, o Brasil onde Andr, o mais velho,
vai tentar encontrar trabalho, para logo
desistir, e Luanda, onde est Snia, a namo-
rada de Andr, e aonde este acabar por se
dirigir, a morrendo, junto a ela, de doena
fulminante.
Assim se combinam duas escalas, porm
o elemento de articulao o mesmo: para
os jovens filhos de lavradores alentejanos,
apanhados na voragem revolucionria ao
mesmo tempo que inquietos dos seus vn-
culos de famlia, cl ou meio e imersos na
tenso dos relacionamentos afectivos e
amorosos, a ressaca do Portugal-imprio, to
mal descolonizado quanto havia sido mal
administrado, homloga da ressaca do
Portugal-parquia, provinciano e pacvio, que
vive uma revoluo sem grandeza e pathos,
maneira nas custicas palavras de Marta
dos festivais da cano Euroviso (Faria,
1983: 233).
Claro que a esto as identidades si-
tuadas de que comemos por falar,
construdas ou desestruturadas de dentro de
contextos e lugares sociais estas so as
perspectivas de protagonistas eles prprios
pessoal e grupalmente perturbados, desloca-
dos, desvinculados, dilacerados. Mas dessa
opo bsica do ciclo romanesco o que resulta
uma representao do pas e do seu pre-
sente, da oportunidade perdida do seu pre-
sente, perdida por causa da repetio da
pequenez, da tacanhez ancestral. Andr, o
irmo mais velho, o que vai morrer, escreve
numa das suas cartas de So Paulo, Brasil:
Durante as minhas insnias
crepitantes, penso que no me perten-
o, sou no eu mas um povo inteiro
perdido de si, confusamente procu-
ra de no sabe que sada. J em Lisboa
pensava isto ao olhar as ruas degra-
dadas a que os murais revolucion-
rios ainda davam tons de revolta ou
de ironia contra a histria que nos tem
andado a enganar. Ou fomos ns que
nos enganmos preferindo culpar os
outros, por ser mais fcil? (Faria,
1983: 131).
Assim se opera uma espcie de
desocultao, atravs dos sonhos, dos pen-
samentos, das cartas dos personagens
primeiro, nos dois romances iniciais, alargada
a perspectiva ao olhar dos subalternos, as
criadas de casa, o velho empregado, os
trabalhadores rurais, depois, nos dois ltimos,
circunscrita aos dilogos de jovens separa-
dos entre si e de si mesmos (e sua relao
com a me que no compreende o que se
passa e com as crianas que experimentam
a adolescncia). Essa desocultao mostra um
pas pequenino, onde terratenentes e revo-
lucionrios, onde colonos e descolonizadores,
onde conservadores e progressistas esto
presos de anlogas incapacidades, encontram-
se nos mesmos impasses, que so os impasses
da histria e das elites sociais nacionais.
Como explicar JC a Marta, Marta que
prefere Veneza a Lisboa porque prefere a arte
ao provincianismo e prefere o prazer ao
engajamento e prefere-se a si prpria a
qualquer ente gregrio transcendente, a raiz
do impasse est na averso ao
cosmopolitismo:
45 ABERTURA E SESSES PLENRIAS
Que pode a ideologia mudar nisto?
Pouco, ao menos neste pequeno pas
que certas direitas e curtas esquerdas
tornam mais mnimo ainda, ambas de
acordo num ponto, no exacerbado
nacionalismo, no ataque ao
cosmopolitismo considerado crime
poltico, no destemperado elogio do
povo e das delcias da ptria
umbigo do mundo, o qual pode aca-
bar vontade desde que sobrem estes
duzentos quilmetros de largura que
Deus teve o bom-senso de criar entre
a Espanha j perigosamente Europa
e o mar onde est a nossa alma a
que as direitas chamam vocao atln-
tica e as curtas esquerdas vocao
terceiro-mundista por nos aproximar
do sul que descobrimos. No me
entendo com tal gente, nem me con-
veno, depois de ver Veneza, que a
nossa capital, degradada mistura de
Belgrado e Istambul, seja a jia que
esta crassa cambada de ignorantes ou
parvos pretende impor-me. Gosto de
muitas ruas de Lisboa descendo para
o rio, gosto da luz feroz em certos
dias, do azul sem uma nuvem sema-
nas seguidas, gosto do vero aqui, mas
no me obriguem a transformar com-
plexos de inferioridade em superio-
ridades ridculas (Faria, 1983: 153).
3. Moambique redimvel pela fora das
razes
Talvez no seja exagerado escrever que
os romances de Almeida Faria organizam
como que um processo, ora sarcstico, ora
melanclico (Loureno, 1999: 115) ao Por-
tugal-pas-e-imprio que passou ao lado de
uma transformao de mentalidades e com-
portamentos, porque o ancestral dfice de
cosmopolitismo levou avante sobre o impul-
so voluntarista, afinal superficial. Vista do
lugar de observao destes romances, a
questo portuguesa mais cultural do que
ideolgica: o fechamento na escala mnima,
o temor abertura e confrontao, o peso
dos emblemas passadistas, mesmo se dou-
trinria e politicamente reciclados. Lisboa
perdida na incapacidade de saber fechar um
ciclo ilusoriamente imperial, em que a si
mesma se ludibriou, incapaz de imaginar
outras formas de relao, ps-colonial, no
espao triangular que ela prpria historica-
mente criou, ressituando-se positivamente
entre o Rio de Janeiro ou So Paulo e Luanda
(ou Maputo). Lisboa diminuda na todavia
inevitvel e inadivel comparao com a
Europa da modernidade de criao e gosto.
Rupturas por fazer, vnculos desaparecidos
sem equivalentes nem alternativas, desencan-
tamento e dilacerao.
Apetecia convocar outros universos
ficcionais: por exemplo o de Antnio Lobo
Antunes. Mas, para sugerir o filo analtico
contido na elaborao literria sobre a tenso
entre identidades e mudanas, h-de bastar
a singularidade de Almeida Faria. Ele
desconstri por assim dizer de dentro, inter-
pelando a experincia revolucionria a partir
da perspectiva de personagens jovens que
apostaram no corte com valores e hbitos
longamente estabelecidos e se viram por eles
mesmos tolhidos, prematuramente vencidos.
Ora, Andr, o mais velho deles, o que vai
morrer, doente da alma e do corpo, depois
de falhar Portugal e de falhar o Brasil,
morrer em Luanda, isto , na frica nosso
descobrimento e culpa, assim se fechando
ficcionalmente, como escreveu Eduardo
Loureno (1999: 119), o ciclo do nosso
imaginrio lusfono enquanto imperial. A
interpretao da obra de Almeida Faria como
uma interpelao do Portugal conformista em
aparente revoluo (uma das mltiplas hip-
teses de leitura e, sem dvida, a menos
literria) indissocivel, pois, da sua
prefigurao do tempo ps-colonial como
impossibilidade. O que talvez justifique
confrontar-se esta portuguesa perspectiva, em
conflito consigo prpria porque se sente no-
europeia, no-moderna, anticosmopolita, com
outras elaboraes literrias sobre a encru-
zilhada ps-ditadura e ps-colonialismo,
elaboraes de outros escritores noutros
lugares de escrita designadamente, os
escritores que usando a mesma lngua por-
tuguesa e editando em Portugal, falam de e
a partir de frica. Ser que, se mudarmos
assim o posto e os instrumentos de obser-
vao, mudam as paisagens observadas?
46 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Almeida Faria coloca a sua ptria,
Montemnimo/pas-mnimo, num div de
esteta; e sacode-lhe o arcaico provincianismo
com os ventos fortes e instantes da cultura
moderna e cosmopolita. Se fosse, porm, ao
contrrio? Se a raiz que prende a identidade
colectiva terra e ao passado constitusse
o que resta de melhor, para enfrentar a
desventura e manter um gro de esperana
mesmo quando parece que tudo se desmo-
rona? Se o moderno estivesse longe de ser
o horizonte exaltante face ao qual haveria
de lamentar-se a ncora que nos prende ao
cho das tradies, e fosse ao invs neste
cho que residissem as foras de resistncia
e de futuro?
Poderamos talvez reler, desse ngulo, a
obra at agora publicada pelo romancista e
contista moambicano Mia Couto, nascido em
1955. O que a frica? Quando o autor,
ele prprio branco, alude ao Moambique
colonial, logo sobressai a incapacidade do
colono para entender frica. Em Vinte e
Zinco, novela publicada em 1999 como
evocao do 25. aniversrio do 25 de Abril,
o dio dos colonos pelos negros vem carre-
gado, ao mesmo tempo, de medo e fascnio
pela Me frica, a sua exuberncia natural
e cultural, os poderes ilgicos e ocultos,
a ancestralidade. O pide Loureno de Castro,
abusador e torcionrio, no deixa de ser um
menino da mam, que dorme com um pano
de fralda por travesseiro e o cavalinho de
pau ao lado da cama, e arde de desejo pela
sua tia traidora, mulher branca
frequentadora de negras e negros, amante de
frica e comprometida com a Frelimo. A
personagem cega, cega e negra, comenta:
os brancos falam da ideia como
coisa solar que ilumina as mentes.
Mas a ideia, todos sabemos, pertence
ao mundo do escuro, dessas
profundezas de onde nossas vsceras
nos conduzem (Couto, 1999: 84)
e esta diferena condensa a contradio das
maneiras de ver e avaliar a relao entre
mente e corpo, seres e coisas. Quando, no
conto O novo padre de O Fio das
Missangas, o colono se apercebe de que o
novo padre negro e no consegue reagir
de imediato, por causa da incrvel fora
que emana da complexidade de frica. Esse
era o suspiro do colono. Em frica, tudo
outra coisa (Couto, 2004: 92). Como agarr-
-la, pois, como domin-la, como prend-la?
O foco principal da obra ficcional de Mia
Couto no , porm, o tempo colonial, mas
sim a alvorada do novo Estado, a quase
imediata convulso da guerra civil e a cus-
tosa e incerta sada dela para a possibilidade
da paz e do desenvolvimento.
No primeiro romance, Terra Sonmbula,
de 1992, a desolao que impera. Um velho
e um moo, deslocados e sozinhos, tomam
por provisrio abrigo um autocarro incendi-
ado em estrada intransitvel; e nele desco-
brem os cadernos manuscritos de outro jovem,
Kindzu, que o moo ler em voz alta para
o velho e para si prprio. Kindzu, que partira
da aldeia em busca dos mticos naparamas,
guerreiros da justia, encontra uma mulher
e, a pedido desta, tenta recuperar-lhe o filho.
No sonho com que acaba o romance, Kindzu
acaba por chegar ao autocarro, o moo seria
afinal o filho da mulher, lendo os cadernos
escritos por quem o procura. A guerra matou
o pas (agora, j no h pas, Couto, 1992:
165), as aldeias, as estradas, as bases da
existncia e da comunicao. As gentes esto
merc dos bandidos armados, da nomen-
clatura dirigente, da raiva e do dio que
destroem; as gentes foram arrancadas s suas
comunidades, deslocadas para campos de
refugiados, esto famintas, desesperadas. O
que , ento, a esperana? esta terra
sonmbula, a sua histria e imaginrio, a
sua capacidade de sonhar, o amor entre os
velhos e os jovens e das mes aos filhos,
que uns se atrevam a figurar possibilidades
que vo alm do preconceito, do tribalismo,
do racismo, da corrupo e do rancor. Como
aquele comerciante indiano, Surendra, mais
sua nao sonhada: o oceano sem nenhum
fim (Couto, 1992: 214): os continentes
separam e o mar une e seria, portanto,
prefervel conceber moambicanos, de um dos
lados do ndico, e indianos, do outro, como
nacionais de uma mesma nao. Ou, ento,
como os homens de que Surendra gosta, os
homens que no tm raa (Couto, 1992:
29). Ou como aquele velho, Nhamataca, que
47 ABERTURA E SESSES PLENRIAS
quer cavar um rio, para reparar a ofensa feita
terra e repor a paz, porque o rio costura
os destinos dos viventes (Couto, 1992: 96).
No muito diferente o tom do volume
de contos publicado em 1994, Estrias
Abensonhadas. Moambique na incerta paz
que sucede ao fim da guerra civil. O conflito
entre Renamo e Frelimo no poupado, por
exemplo no conto-parbola significativamente
intitulado A guerra dos palhaos, assim
como no deixa de ser castigado o sem-
sentido de vrios rituais e decises do Estado-
Frelimo (Jorojo vai embalando lembran-
as). Mas, entre a amargura, sinais de
esperana, estrias abensonhadas de gente
comum, capaz de inventar, no labirinto das
desgraas, pequenos caminhos de felicidade.
Dessa gente se poderia dizer o que intui o
narrador de certa moa: desenvenenava o
tempo, sempre vido de desgraa? (Couto,
1994: 24).
Algum pergunta a um descampons
que as terras lhe haviam sido retiradas, s
lhe sobrando o descampado Como vos
sobreviveu a esperana?. E ele responde:
Mastigmo-la. Foi da fome (Couto, 1997:
115). Cito os Contos do Nascer da Terra,
contos que falam sobre os sonhos das pes-
soas, rurais ou suburbanas, as suas relaes
com a terra e os bichos, com as tradies,
com os mortos e os velhos a que se deve
obedincia, com o misterioso, o inslito, o
inesperado, que so todos outros modos de
ver e imaginar as coisas. (Des)encontros entre
a vida e a morte, o homem e a mulher, o
menino e o adulto, o normal e o inslito,
a tradio e o que a transgride, o saber comum
e o saber tcnico ou burocrtico, a vizinhan-
a e o Estado, a natureza e o homem pre-
dador
Ora, a pujana ancestral, fsica e sim-
blica, da terra moambicana que os discur-
sos e os actos de dominao no entendem
e, por no entenderem, violentam e afinal
se perdem, tolhidos na sua prpria
incompreenso. NA Varanda do Frangipani,
a enfermeira Marta usa termos muito duros
para a denncia da morte dos velhos (os
intrpretes das razes de uma nao devas-
tada pela guerra, a corrupo e a indiferen-
a). Eles so guardies de um mundo, diz
Marta. todo esse mundo que est sendo
morto. O verdadeiro crime que est a ser
cometido aqui que esto matando o anti-
gamente, as ltimas razes. Estes velhos
esto morrendo dentro de ns, isto , na
nossa indiferena, na nossa incapacidade de
articular o presente terra, histria, sua
herana. Marta previne:H que guardar este
passado. Seno o pas fica sem cho (Couto,
1996: 59, 60, 103).
Um pas a que roubam o cho, eis a nao
moambicana engolida pelo abismo, espera
da possibilidade de uma redeno que
como a ficciona o fim do romance de 2000,
O ltimo Voo do Flamingo. Quem lho rouba
no s a guerra civil, os bandidos de
um e outro campo; no s a nomenclatura
dirigente do Estado, merecido alvo de
impiedosos sarcasmos; tambm o olhar
ocidental e moderno, o novo discurso da
ordem democrtica tutelada pelos organismos
internacionais, em que se recicla a nomen-
clatura, e os peritos dessa ordem que teimam
em no entender a cultura oral, popular e
tradicional, protagonizada sobretudo por
velhos e mulheres, e a ela pretendem qui-
mericamente contrapor a sua lgica poltico-
administrativa exterior, urbana e
transnacional. E, como a cultura ancestral
indomvel, e tem do seu lado o mistrio
quer dizer, o que o racionalismo plano do
discurso moderno no consegue apreender na
sua complexidade multifacetada, porque o
olha de um s ngulo que se do esses
estranhos e no deslindados casos, como certa
exploso de capacetes azuis da ONU nos
confins do territrio moambicano (Couto,
2000).
E, como a terra indomvel, ela a ltima
barreira aos ventos de corrupo que casti-
gam o pas devastado: querem enterrar um
Av, que ningum sabe se morreu se con-
tinua vivo, ou seja, que est, semelhana
do pas, como que em suspenso entre direc-
es contrrias; e a terra fecha-se, impedindo
que se cave a sepultura. Fecha-se porque
havia sido conspurcada com o p branco das
drogas que os traficantes tentavam introduzir
na ilha, a terra fecha-se porque o desenlace
da relao dos homens com o rio chamado
tempo e a casa chamada terra est por
decidir.
48 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Refiro-me agora, bem entendido, ao
romance de 2002, com esse ttulo. Mariano
um jovem universitrio, estudante na ci-
dade, que se desloca ilha natal e casa
familiar para participar no funeral de seu
suposto av, tambm chamado Mariano, o
tal que nem vive (ainda) nem (j) morreu.
O pai de Mariano, Fulano Malta, um ex-
guerrilheiro da Frelimo, amargurado com o
rumo da sua causa, o tio mais velho,
Abstinncio, um humilde e fugidio funci-
onrio, o tio mais novo, Ultmio, membro
arrogante e corrupto da elite dirigente. O
jovem penetra na casa-mundo, que envolve
no seu interior os homens, as coisas e as
memrias; e a casa-mundo vai iniciando-o
na rede de mistrios, tendo por fio os su-
cessivos bilhetes com que o Av lhe fala
atravs da prpria caligrafia dele, o neto
Mariano, at que ele aceda descoberta da
verdadeira identidade do Av, afinal seu pai
biolgico, filho que foi de um amor proibido
dele com a cunhada Admirana. Mariano,
universitrio, jovem e urbano, est afinal
ligado mais vigorosamente do que algum
pensara a essa fonte de saber local, a essa
misteriosa raiz (fsica e cultural) de identi-
dade e resistncia que o suposto av, afinal
pai, poderia personificar.
4. O cosmopolitismo reconfigurado como
travessia
A obra de Mia Couto comparvel com
a de Almeida Faria? No me parece que faa
sentido diz-lo. Ou, pelo menos, no isso
que pretendo discutir. Cuido de identidades
problemticas em tempos de mudana e
encruzilhada, tendo a ver com a maneira
como um velho pas e novas naes ligados
pela histria colonial podem viver a aurora
de liberdade; e sirvo-me, desrespeitoso, de
elaboraes literrias. Mas no para provo-
car uma cansativa reiterao de abordagens
afins, ao contrrio, para acentuar contrastes.
A revoluo aparentemente perdida, ao olhar
esteticizante de Almeida Faria, do Portugal
ps-ditadura e ps-colonialismo, configura-
ria certamente uma dessas situaes de
desenlace incerto, tambm no que toca aos
modos colectivos de se definir, qualificar e
posicionar face a outrem isto , no que
toca s identidades. Porm, o Portugal que
regressa do seu imprio de pacotilha falha
o encontro com a Europa, porque afinal,
liberto da ditadura, continua preso ao mesmo
dfice de modernidade, continua preso
mesma pequenez. Isto o sentem e dizem
jovens que quereriam romper com o seu meio
e cultura e se acham tolhidos e amarrados,
falhando sucessivamente sadas positivas para
a triangulao entre o seu pas, o Brasil e
a frica que o seu pas conheceu e confor-
mou. O saldo desta relao no presente
anuncia-se to negativo quanto historicamente
o fora. E quando se busca a razo, vai-se
ter multissecular averso abertura,
inovao, ao cosmopolitismo. Para a juven-
tude desalentada e dilacerada posta em li-
teratura por Almeida Faria, o problema da
identidade portuguesa est na sua raiz, que
a prende bem fundo a esse solo histrico que
impede o corte, a ruptura em direco ao
futuro.
Ora, bem outra a perspectiva de Mia
Couto, lidando com o parto doloroso da nova
nao moambicana e a convulso que
imediatamente se lhe seguiu e de que ela se
vai libertando, se que se liberta,
custosamente. Toda a fora criativa da obra
ficcional de Mia Couto, a espantosa recri-
ao da lngua portuguesa como a no menos
espantosa respirao potica das narrativas,
nas razes que se alimenta: no mundo da
oralidade, das falas, das estrias, das vises,
das memrias, dos sonhos, das maneiras de
ser, pensar, sentir e agir longamente
amadurecidas pelo viver comunitrio e
sedimentadas nos sentimentos, nas crenas
e nas palavras dos velhos, dos aldees, dos
homens e mulheres a seu modo sbios,
lgicos, mestres do segredo da polivalncia
dos smbolos e das oscilaes do sentido, e
que esto ligados, indissoluvelmente ligados,
terra africana. Cortar os laos, desenraizar
as gentes, fazendo parar a vida e anoitecer
as vozes (Couto, 1987: 19), esse o maior
crime das mltiplas violncias que sobre elas
se foram abatendo a dominao colonial,
a guerra civil, o abuso do Estado e da clique
dirigente, a desumanidade das cidades, a
escassez e a fome, at a linguagem e a atitude
das organizaes portadoras da racionalidade
e do progresso ocidental, caixeiros viajantes
49 ABERTURA E SESSES PLENRIAS
da paz e da democracia feitas mercadorias
de exportao. Mas tambm enorme o vigor
dos laos e razes, e da durao que os
protege, a fora que permite sobreviver, a
resistncia, a capacidade de enfraquecer e
desnortear o dominador, a esperana. Aqui,
no Moambique de Mia Couto, quem est
do lado sombrio e no plo negativo a
modernidade unidimensional, inbil na co-
municao com o que lhe escapa, incapaz
de acolher o que da ordem do onrico, do
misterioso, do sagrado, a modernidade da
racionalidade fria e instrumental e da domi-
nao tecnocrtica. Positiva e prometedora
a cultura, em toda a sua latitude antropo-
lgica, a cultura material e simblica to
prxima da terra, to alicerada na espessura
geo-histrica, luminosas so as tradies, as
linguagens, usos, gestos, o fio das geraes
e dos territrios. No haver futuro, pelo
menos humano, pacfico e so, para uma mo-
dernidade sem raiz, para um pas feito de
fora, em combate com o seu prprio povo,
a sua prpria paisagem e o seu prprio
passado. O sagrado tem seus mtodos, as
lendas se sabem defender (Couto, 1994: 91)
e ns s conseguiremos resolver positiva-
mente a questo da identidade se soubermos
respeitar o muito que complexo e escapa
a uma apreenso ch, que por ser complexo
s se nos oferece se soubermos estim-lo,
honr-lo, preserv-lo, usando de todos os
recursos da razo e do sonho para
compreend-lo plenamente.
Num dos mais belos contos do nascer
da terra, um velho portugus, agora asilado,
faz a pergunta:
Foi ento que eu vi as rvores,
enormes sentinelas da terra. Nesse mo-
mento aprendi a espreitar as rvores.
So os nicos monumentos em fri-
ca, os testemunhos da antiguidade. Me
diga uma coisa: l fora ainda exis-
tem? Pergunto sobre as rvores
(Couto, 1997: 111).
Perguntar pelas rvores: perguntar pelas
razes, pelo que liga ar e cho, identidade
e memria.
O olhar de Mia Couto no o olhar
cosmopolita do Joo Carlos e da Marta dos
romances de Almeida Faria. Para estes, por
no prezar o que vem de fora e moderno
que Portugal se perdeu e perdido continua,
mesmo quando se sobressalta: falha
incontornvel da ausncia de cosmopolitismo.
Para os protagonistas da fico de Mia Couto,
por no ser prezado o longo e paciente
trabalho das geraes que tantas ameaas
pairam, colocando em perigo a identidade
moambicana e o seu devir: erro fatal da
modernidade sem cho. , pois, a dialctica
entre estes dois plos que define, do ponto
de vista criativo, a dinmica das identidades?
O muito que gosto em Agualusa e o pouco
que posso dizer acerca da sua obra levam-
me a sugerir que no. Que a relao se pode
ainda adensar um pouco mais.
Jos Eduardo Agualusa nasceu em 1960
no Huambo, em Angola. Estudou agronomia
em Portugal e a se fez jornalista. Com o
romance A Conjura, ganhou o Prmio Re-
velao Sonangol de 1989. A partir da
escreveu, at ao ano de 2004, cinco roman-
ces, alm de contos, novelas, crnicas e
literatura para crianas. Viveu tambm no
Brasil e na Alemanha. Neste aspecto, dos
escritores de origem africana e lngua por-
tuguesa mais cosmopolitas. A sua fico fala-
nos sobretudo de Angola, da Angola de dois
momentos histricos fundamentais: de um
lado, a segunda metade do sculo XIX e o
incio do sculo XX a sociedade ango-
lense dos tempos coloniais e a sua relao
com as questes da autonomia, da indepen-
dncia, da escravatura e, do outro lado,
a actualidade, a luta pela independncia e a
sua consagrao em 1975, a interminvel
guerra civil que se lhe seguiu e os equvocos
da normalizao operada depois da li-
quidao de Jonas Savimbi. Mas no fala s
de Angola, fala de Angola-em-relao: Angola
face a Portugal, Angola face ao Brasil; e,
mais recentemente, tambm de Portugal face
ao Brasil e reciprocamente (alm de Goa).
Neste plano, Agualusa um dos escritores
de lngua portuguesa que melhor se movi-
menta em todo o espao geogrfico, hist-
rico e cultural da lusofonia.
Creio que posso exprimir a interpretao
cultural que proponho se sugerir que esto
presentes, na fico de Agualusa, duas linhas
de aproximao identidade angolana.
50 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
A primeira desenvolve-se segundo o fio
do processo de independncia nacional. A
Conjura, romance de estreia, escrito em
Lisboa, em 1987-88, fala-nos sobre um golpe
preparado por meios luandenses um golpe
abortado, a 16 de Junho de 1911, pela traio
de um dos implicados, que o denunciou s
autoridades coloniais portuguesas. Esses
meios provinham do que Agualusa designa
como angolenses, naturais de Angola, na
sua maioria mulatos, pouco menos que to-
lerados e muitas vezes hostilizados pelos
proprietrios e funcionrios coloniais prove-
nientes da metrpole. Os angolenses que
organizam a Sociedade conspiradora, e cuja
vida o romance acompanha entre 1880 e 1911,
sonham com a independncia do pas e o seu
desenvolvimento prprio, querem que Ango-
la deixe de ser apenas um lugar de degredo
para os criminosos ou perseguidos polticos
e um territrio rico para explorao infrene
e enriquecimento fcil. Parte deles sonha
tambm com um tratamento mais humano
para os escravos negros e revolta-se contra
o racismo cru dos escravocratas. Parte de-
positou esperanas no movimento republica-
no portugus; e a conspirao precipitada,
em Junho de 1911, precisamente pela desi-
luso com o facto de, a seus olhos, a im-
plantao da Repblica no ter trazido ne-
nhuma mudana de vulto. A revolta vencida,
mas no a esperana. O romance acaba com
uma nota optimista. O inspirador-mor da
conjura, o barbeiro Caninguili,
naquela semana havia envelhecido
anos. E s ento Adolfo [um dos con-
jurados, que o visita] reparou que tinha
os cabelos todos brancos e lhe tre-
miam as mos e que a sua voz era
insegura e quebradia. Alice, por seu
lado, parecia cada vez mais alheada
das coisas deste mundo. Mas quando
ambos [o barbeiro e a mulher] se
levantaram para os acompanharem
[aos visitantes] porta, a frgil se-
nhora passou o brao pela cintura do
marido e havia nesse gesto tanta
ternura e tanta autoridade que Adolfo
compreendeu que tudo podia ainda ser
recomeado. Porque o barbeiro tinha
a sustent-lo a maior fora do mun-
do (Agualusa, 1998: 203).
Os conspiradores so gente de vida cheia
e aventurosa, e o romance evoca poderosa-
mente essa capital colonial dos fins do sculo
XIX, o ambiente de paixes, amizades,
polmicas, loucuras, que faz o quotidiano de
toda uma gerao. Um ambiente que a novela
A Feira dos Assombrados, claramente deve-
dora do modelo literrio do realismo fants-
tico, evoca tambm, agora tendo como ce-
nrio um posto avanado de povoamento e
comrcio, o Dondo, na margem do rio
Quanza. O narrador do estranho e no
deslindado caso da chegada vila, flutuando
pelo rio, de sucessivos cadveres, um
comerciante nela estabelecido: e pelo seu
olhar que acompanhamos as personagens da
histria, o major do exrcito que administra
o concelho, o padre, o professor, o capito
que veio degredado de Portugal por haver
participado na revolta do 31 de Janeiro de
1891, os comerciantes. E tambm ele que
nos relata certa vinda de seu primo Severino
de Sousa, um dos principais conspiradores
de A Conjura, para tentar recrutar (em vo),
no Dondo, companheiros de revolta
(Agualusa, 1992).
Ora, esta Angola inquieta, esta Angola que
se no quer deixar amordaar pelo modelo
de colonizao portuguesa (implacavelmente
descrito na carta de Fradique Mendes a Ea
de Queirs, imaginada em Nao Crioula:
colonizao sem fomento, nenhum carinho
pelas elites locais, nsia do lucro fcil,
nenhum sentido de planeamento, mero es-
coadouro de degredados, cf. Agualusa, 2003b:
125-128), esta Angola exuberante, resistente
e esperanosa, esta Angola carnal, acabar
por matar-se a si mesma. Assim conclui o
notvel romance de 1996, Estao das
Chuvas, cuja ltima frase pertence ao relo-
joeiro Jooquinzinho. E agora?, pergunta-
lhe o narrador agora depois dos massa-
cres de 1992 e do reincio, ainda mais brutal,
da guerra civil.
Jooquinzinho fez um gesto largo,
mostrando a casa, com as paredes co-
midas pelas balas. A cidade apodre-
cendo sem remdio. Os prdios com
as entranhas devastadas. Os ces a
comer os mortos. Os homens a comer
os ces e os excrementos dos ces. Os
51 ABERTURA E SESSES PLENRIAS
loucos com o corpo coberto de alca-
tro. Os mutilados de olhar perdido.
Os soldados em pnico no meio dos
escombros. E mais alm as aldeias
desertas, as lavras calcinadas, as tur-
vas multides de foragidos. E ainda
mais alm a natureza transtornada, o
fogo devorando os horizontes.
Disse:
- Este pas morreu! (Agualusa,
2003a: 279).
Morreu depois de ter lutado contra o
colonialismo portugus e de o ter vencido,
morreu depois de ganhar a sua prpria in-
dependncia, morreu por causa da guerra civil
e dos dios cruzados contra a paz e a li-
berdade. O narrador um jovem jornalista,
que, por ter como contexto de formao e
pertena poltica um pequeno grupo esquer-
dista, a Organizao Comunista de Angola,
assume um radical distanciamento face a
qualquer um dos principais contendores, o
MPLA, a FNLA e a UNITA, e vive a
experincia da priso arbitrria s ordens do
poder de Agostinho Neto. Ele interessa-se
pela vida de uma mulher, Ldia do Carmo
Ferreira, poetisa e professora, fundadora do
MPLA e depois ligada Revoluo Activa
de Mrio Pinto de Andrade, que desaparece
(perdida, morta?) nos sangrentos confrontos
de 1992. E so os seus dois pontos de vista
que nos descrevem a tragdia angolana, no
intervalo temporal que vai da resistncia
anticolonial, ao longo da segunda metade do
sculo XX, at aos massacres de Luanda, os
tais que liquidam a iluso de que as eleies
de Setembro de 1992 poderiam ter contri-
budo para a resoluo pacfica da luta pelo
poder. Avaliada do seu lugar de observao,
Angola morre s mos do tribalismo, das
vrias formas de racismo, do mercenarismo
e da corrupo, do exerccio brutal do poder
e da fora, e tambm morre s mos da
demisso, da indiferena, do refgio num
modo de sobrevivncia feito do desenrascano
e dos pequenos prazeres. A guerra existe e
destri porque os beligerantes, to contrrios
na retrica ideolgica, reclamando-se uns da
frica profunda e tribal, outro do ambiente
urbano, esto afinal irmanados na mesma
sanha sanguinria e no mesmo dio s pessoas
e sua liberdade.
O que restaria, neste curso das coisas,
seriam a desiluso, a amargura e o sarcasmo.
Na incurso por Goa, no quadro de uma bolsa
de criao literria oferecida pela Fundao
Oriente, Agualusa exila na antiga ndia
portuguesa um velho combatente da guerri-
lha do MPLA, Plcido Domingo, depois da
independncia acusado de traio e persegui-
do, como suposto agente da PIDE infiltrado
no movimento: com esta experincia, onde
fica o mal, seno sempre connosco, irreme-
diavelmente perto de ns, inseparvel com-
panheiro do que julgamos ser o bem, e o
que doravante Angola se no uma
inexistncia, uma no-origem, um nada que,
contudo, cada um procura recriar noutras
paisagens, noutros lugares, os lugares de
exlio, procurando os rios que paream o
Quanza ou os cheiros que lembrem a floresta
(Agualusa, 2000: 26, 50)?
Depois, no romance O Ano em que Zumbi
Tomou o Rio, que ficciona uma guerra civil
urbana desencadeada pela revolta dos
favelados do Rio de Janeiro, comandados por
um estranho traficante de droga animado de
conscincia poltica, participa Francisco
Palmares, negro, ex-coronel do exrcito de
Angola, heri desiludido com a revoluo e
o regime do seu pas. Palmares coloca-se do
lado dos revoltosos, acabando assim por
abraar uma nova causa, dada partida como
perdida, por isso talvez ganhadora, abrindo
caminho para uma morte, bela aventura que
confira ao menos um derradeiro sentido ao
que se foi (Agualusa, 2002: 248, 282); e
outro angolano, Euclides Matoso da Cmara,
negro e ano, jornalista, que acompanha e
observa mais de perto este percurso terminal.
No romance mais recente, sado em 2004,
O Vendedor de Passados, a aco regressa
a Luanda. Remexendo em feridas por sarar,
designadamente as lutas entre faces do
MPLA, o esmagamento do golpe de Nito
Alves em 1997 e a perseguio implacvel
da direco do partido aos nitistas. O pro-
tagonista Flix Ventura vive de inventar
passados e os seus clientes so habitualmen-
te figuras da nomenclatura do regime, que
querem retocar as genealogias pessoais e
familiares, para rasurar pontos negativos ou
compor ilustraes nobilitantes. Vale por
todas a figura do Ministro, assim chamado,
cuja origem Ventura far ficticiamente remon-
52 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
tar at ao prprio Salvador Correia de S,
heri da reconquista de Luanda aos holan-
deses, no j longnquo sculo XVII. Mas
como, perturba-se o Ministro, esse no um
colonialista, por isso mesmo apeado do
patronato do liceu da capital? Que no,
sossega-o o inventor, Correia de S vinha do
Brasil, no de Portugal, e at se ligou, certo
que por via de adultrio e concubinato, s
negras de Angola. Qual qu, brada ento o
Ministro, preciso repor a honra perdida de
Correia de S, afinal combatente
internacionalista (por ser brasileiro) e
anticolonialista (por ter expulsado os holan-
deses), alm de, doravante, afro-ascenden-
te, visto que ficar sendo a origem da ilustre
rvore cujo actual fruto ele prprio, o
Ministro (Agualusa, 2004: 143). Neste sar-
casmo est condensada a denncia da clique
a que desgraadamente Angola se encontra
sujeita. No chegam, porm, ao Ministro, uns
tais louros do passado: quer publicar a
autobiografia, Memrias de um Combatente,
e dela se encarrega Ventura, que preciso
transformar a nvia ascenso de uma perso-
nagem obscura, cobarde, oportunista e ligada
a negcios mal-afamados, na gloriosa vida
de um combatente (Agualusa, 2004: 163-
167).
este o ofcio de Ventura; mas por causa
do ofcio ser demandado por um estran-
geiro, nascido em Portugal, que tambm
quer um passado: um passado novo, que
Ventura lhe procura e tece, e que ele in-
corpora com tal fora que o inventor aca-
bar confrontado com a realidade da sua
inveno. Ora, quem assim to desespe-
radamente procura reescrever a sua raiz
na verdade um tal Pedro Gouveia, envol-
vido no golpe de 1977, preso s ordens da
faco de Agostinho Neto e sujeito a cas-
tigos to brbaros quanto a tortura da filha
recm-nascida e o assassinato da mulher. O
torcionrio um chamado Reis, ento agente
da segurana do Estado e, agora, com a
suposta normalizao democrtica do regi-
me, deitado fora, tornado de agente em ex-
gente, mendigo e sem abrigo refugiado
numa sarjeta (Agualusa, 2004: 183-190).
Onde est, portanto, o pas sonhado pelos
conspiradores angolenses do fim do sculo
XIX, pelos resistentes da guerra contra o
colonialismo, pelos poetas e artistas que
imaginaram a nova nao? Parece destrudo
inapelavelmente pela guerra, o dio, a opres-
so, o desvario, a crueldade feita poder.
Parece desapossado de futuro ou sequer
esperana, seja na demncia da guerra civil,
seja no inferno totalitrio, seja na hipcrita
pacificao de agora. As identidades pare-
cem, pois, ou perdidas, vergadas ao peso da
falsidade e do simulacro, ou fechadas no
crculo dos tribalismos mutuamente exclusi-
vos que as torna, como diz Maalouf (1999),
assassinas.
Esta no , todavia, a nica linha de
aproximao questo das identidades que
entrevejo na fico de Agualusa. H uma
segunda linha: a que parte da inquietao que
no se conforma com destinos de injustia
e imagina outras possibilidades. A que pensa
Angola, nossa me dolorosa e ofendida
(Agualusa, 1992: 42), marcada secularmen-
te, desde os fins de Quatrocentos, pela
condio da escravatura, a pensa tambm
como matriz, tambm como fundura, como
fora subterrnea, como amplido de terri-
trios, paisagens, imaginrios. intruso
colonial, enorme ferida que os europeus
abrem e rasgam no espao e na histria
africana, os angolenses de A Conjura con-
trapem a fora ancestral do seu continente,
o que h nele de fecundo, pletrico,
perturbador e indomvel. dessa fora que,
mulatos que so, feitos de cruzamento, novos
protagonistas nem inteiramente negros nem
brancos, dessa fora que querem ser, por
assim dizer, representantes, intermediando o
incontornvel relacionamento dela com a
civilizao econmica e tcnica da moder-
nidade europeia.
Eu penso [diz Severino, um dos
heris da conspirao] que a fora e
a originalidade de um genuno roman-
ce angolense s se poder conseguir
atravs da sbia mistura entre o
imaginrio e a realidade. Porque
assim que ns somos (Agualusa,
1998: 128-129).
Protagonistas do que est no meio,
irredutvel a oposies polares, e pode mediar,
articulando os contrrios e fazendo comuni-
car os diferentes, ho-de ser tambm, em
Nao Crioula: a Correspondncia Secreta
53 ABERTURA E SESSES PLENRIAS
de Fradique Mendes, o Fradique queirosiano,
moderno e dandy, curioso insacivel e vi-
ajante incansvel, cidado que se quer do
mundo, que Agualusa brilhantemente imagi-
na descobridor e amante de Angola, e a negra
Ana Olmpia, filha de uma escrava e de um
prncipe congols, de quem ele se enamora.
Os negros carregam o Brasil (Agualusa,
2003b: 86), o suor e o sangue da frica
escravizada fazem o Brasil com esta
questo que o cosmopolita Fradique se ver,
afinal, confrontado. Comea por aportar a
Luanda, em 1868, aventureiro em busca de
uma daquelas combinaes de ordem e sin-
gularidade de que Ea o havia feito paladino.
frica, atraco irresistvel para tantos,
prend-lo-. Porm, o trfico de escravos
rumo ao Brasil, j clandestino por causa da
proibio imposta pelos ingleses, massacra
e, ao mesmo tempo, embaraa os africanos,
alguns dos quais desse trfico vivem. A
prpria Ana Olmpia casar com um negrei-
ro angolense. Mas, quando enviva, aperce-
be-se de que este se havia esquecido de
alforri-la e cai outra vez na condio de
escrava. Fradique participar na aventura da
sua libertao, fugindo com ela para o Brasil,
onde contactar com os crculos abolicionistas
e da sua causa se tornar combatente. esta
sua condio cosmopolita, de quem sempre
se encontra disponvel para articular as coisas,
para percorrer as distncias, fsicas, histri-
cas e culturais, quem viaja, encontra, des-
cobre, que lhe permite ligar vrios mundos
e dessa ligao construir uma identidade
pessoal mltipla. E esta identidade que lhe
permite sopesar, a partir de pontos de vista
mais amplos, o valor e a desvalia recprocos
da civilizao ocidental moderna que a sua,
do Portugal-pas e nao que o seu (com
as virtudes e os defeitos que discute ao
almoo com Ea, certa tarde de Lisboa, cf.
Agualusa, 2003b: 107-108), da frica e do
Brasil aparentemente to distantes da sua
formao e interesses, e afinal, sugere
Agualusa, to pertinentemente motivos e
facilitadores de uma compreenso fazedora
de futuros.
Outros personagens das narrativas de
Agualusa compartilharo esta condio de
mediadores, de produtos e agentes de encon-
tro e mistura, e portanto de resistncia ao
encerramento em pertenas nicas e fecha-
das. Portadores, assim, da possibilidade de
recriao de pertenas mltiplas e abertas (uso
adequadamente os termos de Maalouf, 1999).
Ldia do Carmo Ferreira, de quem o jovem
narrador de Estao das Chuvas se quer fazer
bigrafo, uma delas, no encerrvel nos
crculos fechados que odeiam a alteridade,
defensora, mesmo no mais aceso dos com-
bates intelectuais de Senghor ou Pinto de
Andrade pela negritude, da abertura
diversidade do mundo e fecundidade da
comunicao (Agualusa, 2003a: 81-86). NO
Vendedor de Passados, Ventura um negro
albino, outro inclassificvel, pois, outro
excntrico ao jogo de mesmidades mutuamen-
te exclusivas. E, se Pedro Gouveia, o per-
seguido do regime, se fez fotgrafo de correr
mundo, de guerra em guerra, j Anglica, a
sua filha torturada em beb, fotgrafa tam-
bm, prefere olhar o cu e fixar-se em
paisagens, em nuvens em esperana. Vrios
contos de Catlogo das Sombras (Agualusa,
2003c) falam igualmente desta gente que
escapa reproduo das ideias e linhagens
feitas e desse escape faz sementeira de novas
ideias e linhagens: o projeccionista de cine-
ma, de ascendncia russa, que continua a
deambular pela Angola mergulhada em guerra
civil; o pescador brasileiro, amante de lite-
ratura; o pernambucano preguioso que
guerra contrape o cio, no sei de clera
que resista ao balano de uma cadeira
(Agualusa, 2003c: 131), etc. E da mesma
incapacidade de fixar rigidamente, num
esteretipo, a complexidade dinmica da vida
que nos fala o escritor, estranho em Goa,
em busca de traos da presena portuguesa
e da ausncia-presente desse lugar que talvez
no exista, chamado Angola, mas que, por-
que, o acompanha a todo o lado (Agualusa,
2000).
Recorro novamente ao texto de Amin
Maalouf: s identidades assassinas no se
ope a v pretenso de no haver identidades
colectivas, consolidadas e influentes; ope-
se sim a valorizao dessasidentidades
compsitas, feitas de mltiplas pertenas,
que so afinal o que melhor nos caracteriza
como humanos, frutos de mltiplos encon-
tros de cultura mais do que afiliados forma
monista do discurso da identidade autnti-
ca (Maalouf, 1999: 41-47). Ao fim e ao cabo,
construindo uma fico que gira em torno
54 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
da explorao das travessias sendo como
radicalmente intertextual, literatura sobre
a literatura e literatura sobre a histria, a
viagem, a deslocao, as deambulaes por
diferentes territrios e culturas e os textos
que delas resultam Agualusa, escritor
multicultural, como alguns diriam com n-
fase, prope-nos tambm uma via de apro-
ximao identidade e ao futuro de frica
e dos mundos que com frica dialogam.
Aproximao feita da valorizao da
pluralidade, da alteridade e, a bem dizer, do
carcter inclassificvel, no-enclausurvel, de
cada um de ns, sempremisturas, espe-
remos que sbias, como queriam o con-
jurado Severino de Sousa e a poeta Ldia do
Carmo Ferreira. Ou, como certo amigo do
escritor, oficialmente perguntado sobre a sua
raa:
A minha raa? Ponha raa melho-
rada, por favor (Agualusa, 2003d:
71).
Esta via no faz sentido sem a outra, a
denncia e o pronunciamento crtico, a re-
volta perante a frica ou o Brasil dolorosos
e ofendidos pela explorao colonial, os
racismos, as desigualdades, a violncia ur-
bana ou tribal. Mas, crticos e s vezes mesmo
profetas, os escritores no so ainda cons-
trutores de possibilidades, proponentes de
caminhos-outros? E no essa uma sua
funo essencial, enquanto intelectuais?
5. Lusofonia como espao de pertenas
mltiplas
No possvel falar sobre a aco social
sem falar sobre as identidades sociais: como
compreenderamos a relao entre estruturas
e prticas se no a focssemos tambm do
lado dos sentidos que, sobre si prprios e
os outros, as pessoas e os grupos que elas
formam esto constantemente a construir e
reconstruir? No possvel falar sobre iden-
tidades sem consider-las tambm como
textos sociais (Alexander & Smith, 1998:
108-109, 113-115): se incorrssemos no erro
de atribuir-lhes significados genunos, rgi-
dos e estticos, como evitaramos as derivas
essencialistas, como daramos conta da com-
plexidade e pluralidade das interpretaes que
esto sempre a reinvestir de sentido as
identidades e que se confrontam umas com
as outras na varivel determinao das suas
significaes?
Se isto aceitarmos, ento teremos de
aceitar que as identidades esto envoltas numa
espiral discursiva: as identidades como tex-
tos s so apercebidas a partir de sucessivos
textos sobre identidades. O que o discurso
identitrio, seja de que sujeito colectivo for
um grupo, uma classe, uma instituio,
uma sociedade, uma religio, uma civiliza-
o indissocivel do que so os dis-
cursos sobre esse discurso identitrio, as
interpelaes, recriaes, re-presentaes
constantemente operadas a partir dele, sobre
ele.
Na espiral discursiva, no encadeamento
de textos sobre textos a que tambm
pertencem, ao contrrio do que julgam
aqueles que reivindicam uma exterioridade
objectivista, as interpretaes histricas,
antropolgicas e sociolgicas acerca das
dinmicas sociais da identidade os discur-
sos literrios ocupam um lugar de relevo. Por
vrias razes, interessando-nos aqui, pelo
menos, quatro. Por uma questo de densi-
dade textual: valem por si prprios, so
representaes simblicas que detm a sua
espessura prpria, no se podendo reduzir
lgica testemunhal, porque so uma ordem
significante em si prpria. Por uma questo
de riqueza significativa: a polivalncia e a
abertura interpretativa caractersticas das
prticas e das obras simblicas redobram-se
no e pelo trabalho literrio sobre linguagens,
ideias e emoes, assim gerando uma
pluralidade de aproximaes de segundo grau.
Por uma questo de capacidade interpelativa:
o poder de problematizao da literatura
enorme, na medida em que a sua aproxima-
o ao real mobiliza o trabalho especfico
de criao da lngua literria e a relao
original com o conjunto dos textos
constitutivos da(s) histria(s) e patrimnio(s)
literrios. Por uma questo de configurao
de possibilidades: quem seno o escritor pode
explorar sem limites as possibilidades ins-
critas ou imaginveis nas coisas e nos seres
e nas respectivas ligaes? Porque no h-
de o mdico Ricardo Reis, emigrado no Rio
de Janeiro, voltar a Lisboa quando sabe da
morte do seu amigo Fernando Pessoa e a
55 ABERTURA E SESSES PLENRIAS
ver-se envolvido no ambiente j sufocante
da ditadura salazarista, desmentindo afinal a
sua prpria mxima de sbio o que se
contenta com o espectculo do mundo
(Saramago, 1984)? E porque que esse
compulsivo indagador dos terrenos em que
a razo se faz mistrio e o mistrio, razo,
chamado Fernando Pessoa, no haveria de
interessar-se pelo candombl brasileiro
(Agualusa, 2003c: 11-27)?
No se pea literatura o que ela no
pode nem deve dar; ela no uma expli-
cao total do mundo. Nem se aprisione
o texto literrio numa espcie de revelador
sociolgico, um reflexo mais ou menos
elaborado e oblquo do real. Mas perceba-
se melhor, com a ajuda da literatura, e em
particular das indagaes literrias sobre
questes de identidade, como as identidades
so processos: realidades dinmicas, comple-
xas, abertas, mltiplas, plurais, regularmente
construdas e desconstrudas e reconstrudas,
incorporadas e transformadas por diversos
sujeitos em diversos contextos e de muito
diversas formas. quando o que est afinal
em jogo o jogo das identidades o que
se e como se , onde e com quem se est,
o que se quer e projecta ser que o discurso
literrio pode sobremaneira iluminar, desa-
fiando-o, o labor interpretativo da sociologia
cultural.
Ora, consideremos situaes de crise,
ruptura e passagem, de que pode vir a surgir
algo de novo, a democracia num pas
longamente estabelecido, como o Portugal dos
meados da dcada de 1970, a prpria in-
dependncia e constituio de novos Esta-
dos, como nas principais possesses coloni-
ais portuguesas de ento, Angola e
Moambique, e novos quadros e modos de
relacionamento entre um e outros. Sondemos
o que se passa com a ajuda dos olhos e das
expresses de escritores, no como se eles
fossem reprteres ou informantes, mas sim
como o que so: criadores que, a esse material
eventualmente literrio que so as encruzi-
lhadas da histria, do presente e do futuro
de tais naes, aplicam as suas
mundividncias, os seus imaginrios, as artes
prprias. Retenhamos que discorrer literari-
amente sobre cada um desses casos, do
ponto de vista das identidades (o que vai
sucedendo a essas comunidades e como que
elas o vivem), necessariamente discorrer
sobre a sua interrelao: uma, Portugal, deixa
de ser a potncia colonial das outras,
Moambique e Angola, todas se articulam,
embora de diferentes maneiras, com naes
histrico-culturalmente prximas, como Por-
tugal e Angola com o Brasil e Moambique
com parte da ndia, e com outros pases e
povos esto envolvidas num espao de ln-
gua comum e numa histria de
(des)encontros, que, um pouco mais tarde,
alguns anos passados sobre o trauma da
descolonizao, tendero a imaginar e ante-
cipar como uma espcie de pertena parti-
lhada, penhor dado por todos, a lusofonia.
Peamos, por fim, a trs escritores, singu-
lares em cada um dos trs pases, Portugal,
Moambique e Angola, a permisso de usar
como pretexto e texto de exerccio as res-
pectivas obras. Poderiam ser outros, mas
chegaro estes, o portugus Almeida Faria,
o moambicano Mia Couto e o angolano-
cidado do mundo Jos Eduardo Agualusa
que se trata apenas de defender, junto de
quem saiba faz-lo, a enorme vantagem de
incorporar a anlise literria das suas obras
numa anlise cultural mais geral.
So suficientemente contrastantes entre si
para que a deambulao entre eles seja
produtiva. Mas tambm so suficientemente
centrados sobre a temtica que nos ocupa,
a interpelao sobre histrias e identidades
colectivas, sobre os recursos e os projectos
culturais das gentes. Intersectam-se, desafi-
am-se vrias vezes as suas elaboraes. No
sociologiada literatura que sobre eles, a
propsito deles quereremos fazer: mesmo
quando consegue sair da arcaica imagem da
literatura como reflexo, representao, cons-
cincia de uma realidade histrico-social
sempre outra e sempre precedente sobre o
corpo literrio propriamente dito, mesmo
quando consegue ao menos compreender os
escritores e as obras por relao com o seu
prprio campo intelectual e por a mediar e
afinar a sua articulao ao campo social mais
geral, mesmo quando consegue superar o
biografismo e tratar os textos, mais do que
os autores, e as redes, mais do que os
indivduos, como objecto de anlise, a ex-
plicao sociolgica da literatura sabe sem-
pre a pouco, fica sempre presa, de forma
manifesta ou larvar, do reducionismo. Aqui,
56 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
no se trata de ir por tal caminho: no se
trata de fazer sociologia sobre a literatura,
mas de fazer sociologia com a literatura. Isto
, usar esta obra ou este conjunto de obras
como uma interpretao com que se pode e
deve confrontar e alimentar, e enriquecer
a interpretao sociolgica. No , pois,
um objecto, um texto que podemos con-
siderar na tessitura do nosso prprio texto
sociolgico, um e outro texto construdos
sobre esses textos que so, por serem vvidos
de sentido, e pelo menos nas suas dimenses
simblicas, os processos sociais.
Mas se assim, se pode ser assim, ento
no se evitar outra consequncia: que os
textos produzem realidade, no exprimem s,
produzem realidade, criam factos, determi-
nam ideias e emoes, orientam a aco.
Neste sentido, o dilogo entre os textos
sociolgicos ou antropolgicos e os textos
literrios tambm produz realidade: e, no caso
vertente, produz realidade acerca e a prop-
sito das identidades culturais.
Sumariando temerariamente o que ficou
visto ser complexo, dir-se- que o olhar que
Almeida Faria projecta sobre a revoluo
portuguesa sobre-evidencia a desvalia estru-
tural do pas e da sua gente, que continuam
mnimos, porque avessos modernidade
e ao cosmopolitismo, encerrados na triste
histria da pequenez mal disfarada. O
verdadeiro Cavaleiro Andante no ser,
contudo, o JC distanciado e crtico, mas o
seu irmo mais velho, o tal que tentou refazer,
agora em sentido positivo, o trajecto hist-
rico de Portugal para o Brasil e frica, no
reverso do que fazia a grande torrente dos
ex-colonos retornados, e em frica aca-
baria por encontrar, apenas, a morte. Se o
olhar for o de Mia Couto e projectar-se sobre
o tumultuoso parto da nao moambicana,
ento o que fica em destaque o valor do
que a histria ch das pessoas comuns, dos
seus lugares, territrios, paisagens, costumes,
tradies, numa palavra, a sua cultura, foi
consolidando e o principal meio de resis-
tncia contra os vrios males que afligem
Moambique (miopia ocidental includa), bem
como quase nico factor de esperana. A,
a raiz que segura e acalenta, de cada um
fazendo um ser de parte inteira (cada homem
uma raa, Couto, 1990) e de cada povo
uma comunidade de percurso e imaginao.
E, se acompanharmos Jos Eduardo Agualusa
no seu prprio percurso cultural atravs do
espao lusfono, por terras e tempos de
Angola, de Portugal e do Brasil (ou do que
resta em Goa), cosmopolitismo quer dizer
uma coisa radicalmente diferente, quer dizer
abertura, travessia transfronteiria,
deambulao, comunicao recproca,
interculturalidade, e as identidades portado-
ras de futuro so as que se compem de
mltiplas origens, pertenas e projectos, e por
isso no so enclausurveis em crculos
fechados ou descries monocromticas, so,
a bem dizer, inclassificveis, so identidades
do meio, da mistura, e por a, ao menos
potencialmente, da mediao.
E, contudo, todas trs so obras de
amargura e desencanto, e tambm de denn-
cia e violento sarcasmo contra a injustia,
o horror ou a estupidez. O que tpico do
labor literrio, quer dizer, criativo, ao
mesmo tempo imaginar possibilidades, cami-
nhos-outros. Ora, no isto, propor possi-
bilidades, que define a criao cultural? No
isto tambm o que define a relao entre
a criao cultural e a interveno pblica,
de que quer dar conta, desde o fim do sculo
XIX, a ideia do intelectual? No ser isto
que poder ser, apesar ou para alm da
solenidade ritual ou do interesse tctico, a
lusofonia como espao multicultural de
comunicao intercultural, estruturado por
aquilo que, como escreveu Eduardo Louren-
o (1999: 164), os portugueses que perde-
ram tudo (perdendo-se no tudo com que se
encontraram) no perderam, a lngua? E, se
for isso, no ser enfim baseada numa forma
mais densa, mais abrangente de
cosmopolitismo, como abertura, como traves-
sia, como comunicao alm-fronteiras e
ligao entre territrios? E, se for isso, no
se encontrar assim um novo sentido para
a histria comum e tomada, criticamente, por
inteiro um sentido que nos projecte para
l das imagens simtricas e simetricamente
distorcidas da culpa irredimvel da predao
colonial e da variante doce de um
colonialismo rasurado em encontro e singu-
laridade luso-tropical (cf. Almeida, 2000:
161-184)? E no se resgatar enfim o sonho
do indiano Surendra, de Terra Sonmbula,
pertencer no aos continentes separados mas
ao oceano que os une (Couto, 1992: 26)?
57 ABERTURA E SESSES PLENRIAS
J ouo os analistas da literatura a fus-
tigar o primarismo da abordagem que
esquematizei. Se o problema a incompe-
tncia prpria, no ficarei preocupado, quem
sabe suprir a falta. Ouvirei com maior
inquietao as crticas dos socilogos que
achem intil, suprfluo ou at impertinente
o dilogo com a literatura. Perante esses,
posso apenas fazer minha a recomendao
do pescador de um belo conto de Agualusa
(2003c: 97-101): se nada mais der certo, leia
Clarice. Lispector, obviamente. Mas gene-
ralizarei por minha conta: se, na compreen-
so das identidades e na projeco da
lusofonia, nada mais der certo, leiam a li-
teratura dos autores que se exprimem em
portugus.
58 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Bibliografia
Agualusa, Jos Eduardo (1992): A Feira
dos Assombrados, Lisboa: Vega.
Agualusa, Jos Eduardo (1998): A Con-
jura [1989], reed., Lisboa: Dom Quixote.
Agualusa, Jos Eduardo (2000): Um
Estranho em Goa, Lisboa: Cotovia/Fundao
Oriente.
Agualusa, Jos Eduardo (2002): O Ano
em que Zumbi Tomou o Rio, Lisboa: Dom
Quixote.
Agualusa, Jos Eduardo (2003a): Esta-
o das Chuvas [1996], 6. ed., Lisboa: Dom
Quixote.
Agualusa, Jos Eduardo (2003b): Nao
Crioula: a Correspondncia Secreta de
Fradique Mendes [1997], reed., Porto: Pblico.
Agualusa, Jos Eduardo (2003c): Cat-
logo de Sombras, Lisboa: Dom Quixote.
Agualusa, Jos Eduardo (2003d): A
Substncia do Amor e Outras Crnicas
[2000], 2 ed., Lisboa: Dom Quixote.
Agualusa, Jos Eduardo (2004): O Ven-
dedor de Passados, Lisboa: Dom Quixote.
Alexander, Jeffrey & Smith, Philip
(1998):
Sociologie culturelle ou sociologie de la
culture? Um programme fort pour donner
la sociologie son second souffle, Sociologie
et Socits, XXX (1) : 107-1 16.
Almeida, Miguel Vale de (2000) : Um Mar
da Cor da Terra: Raa, Cultura e Poltica
da Identidade, Oeiras: Celta Editora.
Almeida, Onsimo Teotnio (2001):
Identidade nacional algumas achegas ao
debate portugus, Semear. Revista da C-
tedra Padre Antnio Vieira de Estudos
Portugueses, 5: 151-165.
Costa, Antnio Firmino da (1999): So-
ciedade de Bairro: Dinmicas Sociais da
Identidade Cultural, Oeiras: Celta.
Couto, Mia (1987): Vozes Anoitecidas
[1986], 3 ed. (1 portuguesa), Lisboa: Ca-
minho.
Couto, Mia (1990): Cada Homem uma
Raa, Lisboa: Caminho.
Couto, Mia (1992): Terra Sonmbula,
Lisboa: Caminho.
Couto, Mia (1994): Estrias
Abensonhadas, Lisboa: Caminho.
Couto, Mia (1996): A Varanda do
Frangipani, Lisboa: Caminho.
Couto, Mia (1997): Contos do Nascer da
Terra, Lisboa: Caminho.
Couto, Mia (1999): Vinte e Zinco, Lis-
boa: Caminho.
Couto, Mia (2000): O ltimo Voo do
Flamingo, Lisboa: Caminho.
Couto, Mia (2002): Um Rio Chamado
Tempo, uma Casa Chamada Terra, Lisboa:
Caminho.
Couto, Mia (2004): O Fio das Missangas,
Lisboa: Caminho.
Faria, Almeida (1976): A Paixo [1963],
3 ed. rev., Lisboa: Estampa.
Faria, Almeida (1978): Cortes, Lisboa:
Dom Quixote.
Faria, Almeida (1980): Lusitnia, Lisboa:
Edies 70, 1980.
Faria, Almeida (1983): Cavaleiro Andan-
te, Lisboa: Imprensa Nacional.
Leal, Joo (2000): Etnografias Portugue-
sas (1870-1970): Cultura Popular e Identi-
dade Nacional, Lisboa: Dom Quixote, 2000.
Loureno, Eduardo (1999): A Nau de
caro, Seguido de Imagem e Miragem da
Lusofonia, Lisboa: Gradiva.
Maalouf, Amin (1999):
As Identidades Assassinas [1998], trad.,
Lisboa: Difel.
Saramago, Jos (1984): O Ano da Morte
de Ricardo Reis, Lisboa: Caminho.
Silva, Augusto Santos (1994): Tempos
Cruzados: um Estudo Interpretativo da
Cultura Popular, Porto: Afrontamento.
Silva, Augusto Santos (1999): Parte
Devida: Intervenes Pblicas, 1992-1998,
Porto: Afrontamento.
_______________________________
1
O texto desenvolve a Conferncia proferida
na Sesso Plenria inaugural do VI Lusocom, em
21 de Abril de 2004, subordinada ao tema Co-
municao e Identidades.
2
Faculdade de Economia da Universidade do Porto.
59 ABERTURA E SESSES PLENRIAS
Desafios da comunicao lusfona na globalizao
1
Antonio Teixeira de Barros
2
A lngua sempre foi a
companheira do imprio
(Antonio de Nebrija,
A Conquista da Amrica)
Introduo
A lusofonia exerceu um papel impor-
tante na globalizao, desde os grandes em-
preendimentos nuticos que resultaram na
colonizao do Brasil e da frica. Mais de
500 anos depois, o tema continua relevan-
te, com novos desafios para a reflexo aca-
dmica, a comear pela prpria noo de
lusofonia. Pode-se conceituar lusofonia
como um si st ema de comuni cao
lingstico e cultural na lngua portuguesa
e suas variedades lingsticas, geogrficas
e sociais, pertencentes a vrios povos de
que dela instrumento de expresso
materna ou oficial. (Cristvo, 1999,
p.10). Oficialmente, fazem parte desse
sistema sete pases: Portugal, Brasil, An-
gola, Moambique, Cabo Verde, Guin-
Bissau e So Tom e Prncipe. H, ainda,
alguns dos antigos territrios portugueses
da ndia, da China e da Malsia que no
falam o Portugus oficialmente, mas usam
a lngua. So eles: Macau, Timor e Goa.
No total, so mais de 200 milhes de
falantes da lngua portuguesa.
A institucionalizao da comunidade de
lngua lusfona deu-se em Maio de 1986 com
o Acordo Ortogrfico, assinado pelos repre-
sentantes dos setes pases lusfonos, reuni-
dos na Academia Brasileira de Letras, no Rio
de Janeiro. Com a necessidade da criao de
suportes necessrios para o fortalecimento da
identidade lusfona, o estabelecimento do
dilogo interno e a reivindicao internaci-
onal, surgem duas organizaes, voltadas para
o intercmbio e a unio de esforos: o
Instituto Internacional da Lngua Portuguesa
e a Comunidade dos Povos da Lngua
Portuguesa, conhecida como CPLP.
O Instituto foi criado em novembro de
1989 pelos chefes de Estado dos pases
lusfonos reunidos na cidade de So Lus,
estado do Maranho, no final do Governo
Sarney. A CPLP teve na sua ltima fase a
participao enftica do embaixador brasilei-
ro em Lisboa, Jos Aparecido de Oliveira.
Aps sua criao, multiplicaram-se nos l-
timos anos as diligncias diplomticas, com
vistas cooperao tcnica, poltica e cul-
tural e a dinamizao econmico-social dos
pases lusfonos.
A cultura lusfona o resultado da mescla
cultural ocorrida ao longo de sculos dos
povos que ocuparam o centro-oeste da Pe-
nnsula Ibrica, regio dominada pelos ro-
manos (sc. II a.C), que recebeu o nome de
Lusitnia, em homenagem a Lusus, filho de
Liber, antigo deus do vinho dos povos it-
licos. O habitante da Lusitnia era ento
chamado de lusitnus (em latim), isto
lusitano/a, ou simplesmente luso/a. A expres-
so Lusada/s foi criada por Lus de Cames
(sculo XVI), ao descrever a viagem de Vasco
da Gama s ndias, associando-o a Ulisses,
o heri grego e sua obra Os Lusadas Ilada
de Homero. Luso, o heri mitolgico fun-
dador da Lusitnia, seria o filho de Baco,
o deus grego do vinho, correspondente a Liber
na mitologia itlica.
Em 1139, o pequeno Condado de Portus
Cales ou Porto de Cale, devido vitria de
Afonso Henriques contra os califados rabes,
que por sculos haviam dominado o sul da
Pennsula Ibrica, no s expandiu seu ter-
ritrio como se tornou independente do Reino
de Castela, tornando-se o Reino de Portugal.
Como o novo Estado se constituiu no antigo
territrio da Lusitnia, portugus sinnimo
de lusitano e quem fala portugus lusfono.
Mas a cultura lusfona no se esgota na
geocultura portuguesa, mas se desdobra em
vrias outras geoculturas lusfonas.
Hoje, na chamada sociedade global ou
globalizada, a lusofonia enfrenta diversos
60 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
desafios. Neste paper, no trataremos de todo
o sistema de cultura lusfono, mas de uma
aspecto especfico: a configurao do campo
acadmico da Comunicao e do sistema de
mdia.
O campo da comunicao na comunidade
lusfona
A expanso das tecnologias de informa-
o e suas influncias nas prticas miditicas
gestou um novo desafio epistemolgico para
as Cincias da Comunicao, a partir do
estudo da mdia globalizada. At ento, os
estudos miditicos tinham como referncia
bsica as sociedades nacionais e seu sistema
de indstria cultural. Tal fenmeno constitui
herana direta do campo das Cincias So-
ciais, o qual talvez tenha exercido a maior
influncia na lgica, no arcabouo terico e
na metodologia nas pesquisas comunica-
cionais.
Em muitos casos, os prprios cientistas
sociais foram protagonistas das pesquisas. Tal
influncia, apesar de suas contribuies,
tambm acarretou muitos equvocos. Em
primeiro lugar, pode-se destacar a transfern-
cia direta de conceitos e a transposio quase
literal das prticas de pesquisa daquele
campo. Neste sentido, houve uma avalanche
de estudos que podem ser caracterizados
como leituras sobre a Comunicao e no
estudos de Comunicao propriamente ditos.
Em segundo lugar, o sistema nacional de
indstria cultural estudado nos limites
conceituais e metodolgicos do prprio
campo das Cincias Sociais, o que acarretou,
na maioria das vezes, pesquisas sobre os
efeitos e impactos da mdia em comunidades
localizadas. Finalmente, cabe destacar a
generalizao resultante das duas tendncias
anteriores. O termo indstria cultural ou
mdia tornou-se uma denominao aplic-
vel a qualquer forma de comunicao me-
diada, ignorando as epecificidades de cada
modalidade de comunicao, com suas lin-
guagens especficas e caractersticas peculi-
ares.
Contraditoriamente, o quadro de refern-
cia de anlise que tinha por base as soci-
edades nacionais, o que pode sugerir parti-
cularizao, gerou modelos de anlise
globalizantes. A mudana causada pelo de-
safio epistemolgico imposto s Cincias da
Comunicao pela chamada globalizao das
tecnologias de informao que proporci-
onou uma ruptura com tais modelos
globalizantes. Significa dizer, portanto, que
a lgica do global que gerou a necessidade
de estudos particularizantes. O global impul-
sionou o local. Um exemplo so as pesquisas
de campo, os estudos de casos e as anlises
mais especficas e contextualizadas, ao con-
trrio das anlises tericas no estilo
frankfurtiano, ou seja, demaisadamente
abrangentes, sem base emprica.
Sociedade global e a comunicao lusfona
A globalizao vista sob diversos pris-
mas. Para alguns a soluo mgica para os
problemas de comunicao do mundo, inclu-
sive dos pases da CPLP. Para outros, ao
mesmo tempo que a sociedade globalizada
traz benefcios para os indivduos e as ins-
tituies sociais, tambm impe problemas
de difcil soluo. Um desses problemas
a globalizao de alguns idiomas e sua
consequente supervalorizao, em detrimen-
to de outros, a exemplo do que ocorre com
o ingls e o portugus.
Essa questo no recente. Como diz
Antonio de Nebrija (1983, p.120), a lngua
sempre foi a companheira do imprio. A
histria nos fornece vrios exemplos, passan-
do por Napoleo III, que controlou
rigorosomente o telgrafo e a imprensa
nacional, Salazar, em Portugal, Mussolini na
Itlia, Hitler, na Alemanha e Getlio Vargas
no Brasil. A propsito, os pases da CPLP,
ainda hoje, constituem exemplos
emblemticos de tal controle, como Angola,
Moambique, Nova Guin e Timor Leste.
Ademais, a experincia democrtica parece
ser comum apenas entre Portugal e Brasil,
embora, de ambos os lados, seja recente.
Hoje, a mdia a instituio que perso-
nifica o poder de controlar o idioma e coloc-
lo a servio do poder. Como analisa Octvio
Ianni (1997), sobretudo a mdia eletrnica
assume multifacetados papis. Dependendo
do ponto de vista, ela pode ser identificada
como um singular e inslito intelectual
orgnico, ao articular as organizaes e
empresas transnacionais predominantes nas
relaes, nos processos e nas estruturas de
61 ABERTURA E SESSES PLENRIAS
dominao poltica e apropriao econmica
que tecem o mundo, em conformidade com
a nova ordem econmica mundial, ou as
novas geopolticas regionais e mundiais
(Ianni, 1997, p.95). Mas, pode ser identificada
como o novo prncipe, no contexto da
modernidade-mundo. Se o prncipe de
Maquiavel era tido como um indivduo
excepcional, dotado de virtu (talento moral
e poltico) e de fortuna (capacidade de
aproveitar as condies e possibilidades
emergentes na vida poltica de um reino),
hoje, como diz o prprio autor, o moderno
prncipe, o mito-prncipe no pode ser uma
pessoa real, um indivduo concreto; s pode
ser um organismo; um elemento complexo
da sociedade no qual tenha se iniciado a
concretizao de uma vontade coletiva reco-
nhecida e fundamentada parcialmente na
ao...
Nesta ordem de idias, cabe ressaltar que,
atualmente, a lngua do prncipe o ingls,
cuja valorizao teve incio ainda no sculo
XIX, como a lngua do imprio britnico.
Tal processo foi acentuado com as duas
guerras mundiais, tornando-o idioma do
imprio norte-americano e vulgata da
globalizao, jargo universal e lngua
oficial da aldeia global, como ressalta
Octvio Ianni. oportuno destacar ainda que
o ingls referncia para a informtica e a
eletrnica, elementos essenciais
mundializao da cultura. A troca de infor-
maes e idias, bem como a formao de
smbolos e a construo de imagens passa
pelo crivo da lngua inglesa, monopolizando
todas as formas de trocas simblicas, desde
as mercadorias s idias, das moedas s
religies, sem contar com a filosofia, a
cincia, a tecnologia, o cinema, a msica,
as artes e praticamente todas as formas de
comunicao e informao.
Mesmo o conhecimento ou as informa-
es produzidas em outros pases ou regies
passam pela traduo para o ingls e, por
meio deste idioma que atingem os demais
pblicos. Isto ocorre, inclusive, nos pases
de lngua lusfona. Como exemplos temos
o ensino quase obrigatrio de ingls, quando
se trata da aprendizagem de uma segunda
lngua e a bibliografia bsica dos cursos de
graduao e de ps-graduao, seja em ter-
mos de traduo ou da indicao de textos
originais (sobretudo no caso dos cursos de
ps-graduao).
Essa idia remete ao papel dos intelec-
tuais, como operrios da lngua. No con-
texto da chamada aldeia global, como
chama a ateno Octvio Ianni, dentre todos
os elementos que se mobilizam na organi-
zao da aldeia global, logo sobressai a
categoria dos intelectuais, pois
so eles que pensam os meios e
modos de operao de todo e de suas
partes, colaborando para que se ar-
ticulem dinamicamente, de modo a
constituir a aldeia como um sistema
global. So esses intelectuais que
promovem a traduo da organizao
e dinmica das foras sociais,
econmicas, polticas e culturais que
operam em mbito mundial, transpon-
do fronteiras, regimes polticos, idi-
omas, religies, culturas e civilizaes.
Para isso operam as tecnologias da
inteligncia, cada vez mais indispen-
sveis, quando se trata de desenhar,
tecer, colorir, sonorizar e movimentar
a aldeia global, traduzindo as confi-
guraes e os movimentos da soci-
edade mundial (1997, p.101).
A comunicao lusfona e as relaes
Brasil Portugal
Segundo o professor Jos Marques de
Melo, em seu texto Lusofonia miditica: a
cooperao Brasil-Portugal
3
, as relaes de
cooperao entre Brasil e Portugal, no cam-
po da Comunicao Social, foram
desencadeadas no mbito profissional, mais
especificamente entre os profissionais de
jornalismo, h pouco mais de cem anos. Tal
processo teve incio com o interesse dos
comunicadores de lngua portuguesa em
discutir a tese de que o exerccio profis-
sional da comunicao j no podia conti-
nuar sob a gide do amadorismo (p.1).
Evidenciava-se, portanto, a necessidade de
formao sistemtica dos produtores das
informaes de atualidade difundidas pela
imprensa, tendo em vista a transformao do
jornalismo em atividade industrial (Id.,
Ibidem).
62 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Essa tese, conforme Marques de Melo,
no mesmo texto citado, foi exposta publi-
camente em Lisboa, em 1898, durante o V
Congresso Internacional da Imprensa. Entre-
tanto, o Brasil s viria a institucionalizar tal
iniciativa quase meio sculo depois, mais
precisamente em 1947, com a criao do
curso de jornalismo da Universidade Csper
Lbero, em convnio com a PUC-SP. Em
Portugal, a primeira Licenciatura em Comu-
nicao Social seria criada trinta e dois anos
depois, em 1979, na Universidade Nova de
Lisboa e em 1985 a Escola Superior de
Jornalismo do Porto. Portanto, enfatiza
Marques de Melo, a cooperao Brasil-Por-
tugal, no campo das Cincias da Comuni-
cao, muito recente. Segundo ele, a
cooperao deslancha to somente quando
Portugal inicia os primeiros programas de
ensino e pesquisa na rea, tanto em Lisboa
quanto na cidade do Porto (idem). Antes
disso, porm, houve intercmbio isolado de
experincias entre pesquisadores e profissi-
onais. A literatura brasileira sobre comuni-
cao social circulou fartamente em Portu-
gal, durante os anos 70. Entre os autores,
destaca-se o prprio Marques de Melo, cujos
textos foram publicados em espanhol na
revista Informao, Comunicao, Turismo.
Conforme descreve o autor, no texto
supracitado, aps a Revoluo dos Cravos,
quando o governo portugus comeou a
analisar a possibilidade de criar programas
universitrios para formar jornalistas, convi-
dou o Prof. Fernando Perrone, brasileiro
exilado na Europa, que havia sido parceiro
de Mrio Soares num empreendimento edi-
torial. Os contactos diretos entre os dois
pases foram conduzidos por iniciativa do
prprio Jos Marques de Melo, a partir da
fundao da INTERCOM (Sociedade Brasi-
leira de Estudos Interdisciplinares da Comu-
nicao), em 1977 e mais ainda com a criao
do PORTCOM - Centro de Documentao
da Comunicao nos Pases de Lngua
Portuguesa -, quando a INTERCOM, por
meio de seu presidente, Jos Marques de
Melo, procura articular-se com o Centro de
Documentao sobre Meios de Comunicao
mantido pela Presidncia da Republica Por-
tuguesa, no Palcio da Foz, em Lisboa.
Amanaria Fadul, durante sua gesto na
presidncia da INTERCOM, faz uma via-
gem a Lisboa para visitar as instituies que
ento se dedicavam pesquisa, documenta-
o e ao ensino da comunicao social,
demonstrando o interesse brasileiro na co-
operao lusfona. Os laos se estreitariam
na dcada de 1980, quando a diretoria da
INTERCOM convida o Prof. Adriano Duarte
Rodrigues, fundador do Departamento de
Comunicao da Universidade Nova de
Lisboa para participar do V Congresso
Brasileiro de Cincias da Comunicao,
realizado em Bertioga, no estado de So
Paulo.
Em 1986, os professores portugueses
Sebastio Jos Dinis e Salvato Trigo parti-
cipam de um colquio em So Paulo, o qual
visava ao estabelecimento de bases para a
construo de um Thesaurus da Comunica-
o para uso nos pases de lngua portugue-
sa. Entretanto, como registra Marques de
Melo, do lado portugus, no houve o mesmo
interesse no intercmbio acadmico. Apenas
a Escola Superior de Jornalismo, da cidade
do Porto, convidou alguns professores bra-
sileiros - entre eles Mrio Erbolato, Erasmo
Nuzzi e Antonio Costela - para ministrar
cursos naquela cidade.
Congressos e colquios acadmicos
No mbito dos congressos e colquios
acadmicos, cabe destacar a realizao dos
dois Encontros Afro-Luso-Brasileiro de Jor-
nalismo e Literatura realizados em So Paulo
(1983) e na cidade do Porto (1986). Anos
depois, em 1992, seria realizado um semi-
nrio sobre Histria e Jornalismo, por ini-
ciativa de Celia Freire, com a presena de
um grupo de pesquisadores portugueses. No
mesmo ano, foi realizado, no Porto, o I
Congresso da Imprensa de Expresso Por-
tuguesa, coordenado por Fernando de Sousa.
O evento contou com a presena de uma
delegao expressiva de brasileiros: Jos
Marques de Melo, Fernando Perrone, Ana
Arruda Callado, Celia Freire, Joo Alves das
Neves e Ciro Marcondes Filho.
Em 1994, foi realizado no Rio de Janei-
ro, o II Congresso Internacional de Jorna-
lismo de Lngua Portuguesa, sob a coorde-
nao acadmica de Jos Marques de Melo.
Nessa ocasio, a Revista da INTERCOM
dedicou uma edio especial cooperao
63 ABERTURA E SESSES PLENRIAS
luso-brasileira, acolhendo artigos de vrios
cientistas lusfonos. Mas, o marco decisivo
para institucionalizar a cooperao luso-bra-
sileira no campo das Cincias da Comuni-
cao, segundo Marques de Melo, foi a
proposta da INTERCOM para a realizao
de um Colquio Luso-Brasileiro de Cincias
da Comunicao, como evento prvio ao III
Congresso Internacional de Jornalismo de
Lngua Portuguesa, organizado pelo Obser-
vatrio da Imprensa de Lisboa, sob a direo
de Joaquim Vieira, Rui Paulo da Cruz e
Tereza Moutinho.
O colquio, idealizado pelo Prof. Pedro
Jorge Brauman, liderado por Bragana de
Miranda e coordenado por Isabel Ferrin, foi
realizado em 1997 e contribuiu para promo-
ver o primeiro dilogo sistemtico entre 40
pesquisadores brasileiros e 60 portugueses.
Desse encontro nasceu a SOPCOM (Socie-
dade Portuguesa dos Investigadores da Comu-
nicao) e a LUSOCOM (Federao Lusfona
das Cincias da Comunicao). O Encontro
Lusfono de Cincias da Comunicao tor-
nar-se-ia o evento oficial da comunicao
lusfona, a partir do final da dcada de 1990.
Instituies
Cabe destacar o papel de trs instituies
importantes, agentes do intercmbio acad-
mico no campo da Comunicao Lusfona:
a Sociedade Brasileira de Estudos
Interdisciplinares da Comunicao
(INTERCOM), a Sociedade Portuguesa de
Cincias da Comunicao (SOPCOM) e a Fe-
derao Lusfona de Cincias da Comuni-
cao (LUSOCOM).
Criada em 1977, a INTERCOM passou
a integrar os pesquisadores brasileiros da rea
de Comunicao e a promover o intercmbio
com pesquisadores e instituies estrangei-
ras. Nesse processo de intercmbio ateno
especial foi destinada aos pases latino-
americanos e ibricos, destacando-se Portu-
gal. Disso resultou a divulgao da obra de
autores portugueses. A prpria LUSOCOM
resultado desse processo.
A SOPCOM, criada em 1997, sob o
incentivo da INTERCOM, passou a congre-
gar os pesquisadores portugueses, com o
intuito de conferir maior visibilidade ao
campo acadmico da comunicao lusfona.
A LUSOCOM, criada em 1998, resulta de
iniciativa das duas instituies supracitadas.
Tem como objetivo principal promover o
desenvolvimento de estudos das cincias e
polticas de comunicao no espao lusfono.
Segundo Marques de Melo, em seu texto
j citado, sobre lusofonia miditica,
Se os historiadores e outros estudi-
osos do campo das humanidades j
vinham se preparando para resgatar
o significado poltico-cultural da
efemride, em boa hora a
INTERCOM e a SOPCOM se unem
para dar dimenso miditica ao feito
de Cabral. Sem duvida nenhuma, a
chegada das naves lusitanas, ao lito-
ral baiano, em abril de 1500, contri-
buiu para o florescimento da idade
moderna. Tanto Cabral quanto
Colombo so protagonistas de um
movimento histrico que constitui o
embrio daquilo hoje rotulado de
globalizao. Sua essncia , nada
mais, nada menos, que a europeizao
do mundo.
Do lado brasileiro, cabe destacar a par-
ticipao pioneira do Professor Catedrti-
co Jos Marques de Melo, um acadmico
entusiasta do intercmbio cientfico, desde
sua atuao na Escola de Comunicaes e
Artes da Universidade de So Paulo at seu
trabalho como titular da Ctedra Unesco
de Comunicao para o Desenvolvimento
Regional, em parceria com a Universidade
Metodista de So Paulo, bem sua atuao
na ALAIC (Associao Latino-Americana
de Investigadores de la Comunicacin) e
na Rede de Pesquisa em Folkcomunicao,
que promover neste ano de 2004 a sua
VII Conferncia. Anualmente, em todas as
Confernci as promovi das pel a Rede
(FOLKCOM), desde o ano de 1998, tem
sido privilegiada a relao com pesquisa-
dores de pases ibricos e lusfonos (em
especial Portugal) e latinos. No caso da
part i ci pao nas confernci as Rede
Folkcom, podemos destacar as contribui-
es dos seguintes pesquisadores portugue-
ses: Carlos Nogueira, Jorge Pedro Souza
e Luis Humberto Marcos.
64 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Bibliografia
Barthes, Roland. Mitologias. Rio de
Janeiro: Bertrand Brasil, 1993.
Cristovo, Fernando. A Lngua Portugue-
sa, a Unio Europia, a Lusofonia e a
Interfonia. Lusofonia. Revista da Faculdade
de Letras, n. 21/22, 5 srie, Lisboa: Uni-
versidade de Lisboa. 1996-97, p.7-14.
Ianni, Octavio. Teorias da Globalizao.
Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1997.
Melo, Jos Marques de. Lusofonia
miditica: a cooperao Brasil-Portugal.
Disponibilizado no stio: www.ubista.pt/~co-
mum/melo-marques-lusofonia-midiatica.html.
Nebrija, Antonio de. A Conquista da
Amrica. Lisboa: Gradiva, 1983.
Sousa, Jorge Pedro. Imagens actuais do
Brasil na imprensa portuguesa de grande
circulao. Disponibilizado no stio:
www.bocc.ubi.pt/pag/sousa-jorge-pedro-ima-
gens-brasil.html.
_______________________________
1
Conferncia proferida na Sesso Plenria de
Sntese do VI Lusocom, em 22 de Abril de 2004,
subordinada ao tema Lusofonia e Globalizao.
2
Instituto de Educao Superior de Braslia
(IESB).
3
Texto disponvel no site: www.ubista.ubi.pt
- sem data. Para a redao deste tpico, utiliza-
mos, basicamente, as informaes contidas no
texto do Prof. Jos Marques de Melo - Lusofonia
miditica: as relaes de cooperao entre Brasil
e Portugal.
65 ABERTURA E SESSES PLENRIAS
A democracia digital e o problema
da participao civil na deciso poltica
1
Wilson Gomes
2
O argumento liberal sobre a comunica-
o pblica
O eixo que vincula comunicao de
massas e cidadania j foi objeto de consi-
derao sob diversos aspectos na pesquisa
nas reas de comunicao e cincias sociais.
O modo mais tpico de considerao desta
matria tem consistido em apresentar um ou
vrios dos argumentos liberais tradicionais
sobre o papel da comunicao de massa para
a subsistncia da democracia. O mais tradi-
cional desses argumentos consiste em afir-
mar que o papel democrtico primrio dos
meios e agentes da comunicao de massa
funcionar como co de guarda a vigiar o
Estado, em defesa do interesse pblico ou
do domnio da cidadania, daquilo que neste
paper ser referido como esfera civil.
Este argumento interessante e conserva
parcialmente a sua verdade, mas parece velho
e extenuado. Muitos dos argumentos liberais
tradicionais encontram o seu horizonte mais
completo de sentido apenas num perodo
histrico onde
Os meios consistiam principalmen-
te em publicaes polticas com
pequena circulao e o Estado estava
dominado ainda por uma elite peque-
na de proprietrios de terra. O resul-
tado um legado de velhos ditos que
conservam pouca relao com a re-
alidade contempornea mas que con-
tinuam a ser repetidos acriticamente
como se nada tivesse mudado
(Curran 1991, 82).
Nas cercanias deste argumento constitu-
ram-se muitos outros, que vo desde a idia
tradicional dos meios como tribuna pblica,
passando-se pela j desgastada idia da
funo pedaggica da comunicao de massa,
at a mais recente e interessante proposta do
jornalismo cvico, como possibilidade de re-
cuperao da noo de interesse pblico no
interior da comunicao industrial.
A diversidade e renovao dos meios e
ambientes da comunicao pblica produzi-
ram equivalente variedade e persistncia dos
argumentos que vinculam comunicao de
massa e cidadania. Num primeiro momento,
pareciam repousar no jornalismo todas as
esperanas de garantias do espao da par-
ticipao civil na esfera da deciso poltica.
Todos conhecem o princpio jeffersoniano que
traduz a fase herica do jornalismo como
campeo da esfera civil: se coubesse a mim
a escolha entre um governo sem jornais e
jornais sem governo, no hesitaria um s
momento em preferir este ltimo modelo.
Isso tudo, apoiando-se na premissa maior de
que a base de nosso governo a opinio
do povo e acompanhado pela restrio,
frequentemente esquecida, de que, preferir
jornais a governos pressuporia assegurar que
todo homem recebesse esses jornais e fosse
capaz de l-los.
A substituio do modelo de jornalismo
civil pelo jornalismo de partido, primeiro, e
a sua substituio pelo padro do jornalismo
industrial contemporneo, depois, situado na
convergncia entre as indstrias da cultura,
do entretenimento de massa e da informao,
pe fim a esta perspectiva. Outros meios
representaram outras expectativas, tambm
destinadas ao esgotamento retrico por muitas
e mui variadas razes. Como o rdio, por
exemplo, que esteve no centro da retrica
liberal-democrtica entre os anos 20 e 40 do
sculo passado (Spinelli 2000), ou a expe-
rincia de televiso a cabo, entendida nos
Estados Unidos nos anos 70 como a resti-
tuio comunidade e sociedade civil do
controle pela emisso de informao poltica
(cf. Dahlberg 2001).
Uma variante mais recente do argumento
liberal vem se constituindo ao redor de trs
expresses-chave: internet esfera pblica
democracia. Cunha-se o verbete democra-
66 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
cia digital e formas semelhantes (democra-
cia eletrnica, e-democracy, democracia vir-
tual, ciberdemocracia, dentre outras), ao
redor dos quais se vem formando, nos l-
timos 10, 15 anos, uma volumosa biblio-
grafia interessada basicamente nas novas
prticas e nas possibilidades para a poltica
democrtica que emergem da nova infra-
estrutura tecnolgica eletrnica proporcio-
nada por computadores em rede e por um
sem nmero de dispositivos de comunica-
o e de organizao, armazenamento e
oferta de dados e informaes on-line. Nesta
literatura, discutem-se desde os dispositivos
e iniciativas para a extenso das oportuni-
dades democrticas (governo eletrnico, voto
eletrnico, voto on-line, transparncia digi-
tal do Estado etc.), at novas oportunidades
para a sociedade civil na era digital
(cibermilitncia, formas eletrnicas de co-
municao alternativa, novos movimentos
sociais); das alternativas contemporneas
para o jogo poltico (partidos, eleies e
campanhas no universo digital) at a dis-
cusso sobre regulamentao de acesso e
controle de contedo na internet, passando-
se pelas questes das desigualdades digitais
(excluso digital).
No que tange ao nosso tema, o veio mais
importante consiste na discusso das conse-
quncias que as ferramentas e dispositivos
eletrnicos das redes contemporneas, prin-
cipalmente a internet, comportam para a
implementao de um novo modelo de
democracia capaz de incluir de maneira mais
plena a participao da esfera civil na de-
ciso poltica. A questo em tela sobre se
as novas tecnologias da comunicao podem,
de fato, alterar para melhor as possibilidades
da cidadania nas sociedades contemporne-
as.
Democracia e participao
O pressuposto fundamental da discusso
no ser desenvolvido com a extenso ade-
quada neste artigo, por razes de espao, mas
diz respeito a aspecto delicado da experin-
cia democrtica. Trata-se da participao do
cidado nas democracias liberais de hoje. O
problema bem conhecido: a democracia
liberal constitui-se numa premissa fundamen-
tal, a saber, a idia de soberania popular. Da
premissa, passa-se promessa: a opinio do
povo deve prevalecer na conduo dos
negcios de concernncia comum, nas de-
cises que afetam a coisa pblica. A con-
solidao da experincia democrtica, entre-
tanto, principalmente atravs dos modelos de
democracia representativa, findou por con-
figurar uma esfera da deciso poltica apar-
tada da sociedade ou esfera civil, formada
por agentes em dedicao profissional e
integrantes de corporaes de controle e
distribuio do capital circulante nesta esfera
- os partidos. Constitucionalmente, as duas
esferas precisam interagir apenas no momen-
to da renovao dos mandatos, restringindo-
se o papel dos mandantes civis deciso
sobre quem integrar a esfera que toma as
decises propriamente polticas.
O exame sobre as razes da excessiva
autonomizao da esfera da deciso poltica
e da crescente atrofia das funes da esfera
civil na conduo do Estado, ao lado da
formulao de alternativas, tericas e prti-
cas, para o crescimento dos nveis de par-
ticipao civil nos negcios pblicos, tem se
tornado no tema central e na grande novi-
dade da teoria da democracia nas ltimas
dcadas. Conhecem-se, a partir da, os
modelos de democracia participativa,
strong democracy e, ultimamente, de de-
mocracia deliberativa que se multiplicaram
na virada do sculo. Neste contexto, era
natural que a discusso sobre o ambiente, os
meios e os modos da comunicao pblica
como ferramenta para uma maior presena
da esfera civil na conduo dos negcios
pblicos encontrasse a discusso sobre
modelos de democracia voltados para o
incremento da participao civil. Ademais,
todas as restries apresentadas na literatura
especializada sobre as convices democr-
ticas e a qualidadecivil da comunicao
industrial de massa, somadas aura no-
elitista, no-governamental, no-corporativa
da internet foram razo suficiente para as-
segurar a esta ltima um lugar particular na
discusso sobre democracia e participao
popular.
A vinculao entre democracia e parti-
cipao civil na poltica possui diferentes
nfases, cada uma delas portando consigo um
especfico repertrio de conseqncias te-
ricas e prticas
3
. H a rigor um continuum
67 ABERTURA E SESSES PLENRIAS
que vai crescendo desde graus mais modera-
dos de reivindicaes at formas mais ra-
dicais de defesa da participao popular. Para
ficarmos numa trade didaticamente confor-
tvel, um tipo de participao moderado
aquele representado pelo fortalecimento da
presena da esfera civil na cena poltica,
mediante variadas formas, que vo desde a
formao de um consistente e expandido
debate pblico sobre temas de relevncia
poltica, passando pelas manifestaes da
vontade popular em todas as dimenses da
esfera de visibilidade pblica, at as formas
de organizao popular no-governamental
voltadas reivindicao, mobilizao e
formao da opinio e da vontade pblicas
e presso sobre governos em particular
e a esfera poltica em geral. Uma partici-
pao popular um pouco mais radical que
esta representada pela interveno da
opinio e da vontade civil na deciso poltica
relevante no interior do Estado. Neste caso,
a fronteira, preservada integralmente na
forma anterior, entre sociedade civil e so-
ciedade poltica, entre mandantes e
tomadores de deciso, torna-se mais difusa,
e s funes opinio, demanda de ex-
plicao (o ato dos mandantes a que cor-
responde a prestao de contas dos
mandatrios em regimes republicanos) e
manifestao acrescenta-se interferncia
na deciso poltica. Nos dois modelos,
contudo, a participao civil compatvel
com a alternativa de democracia represen-
tativa, apenas com a reivindicao de au-
tenticao civil da esfera poltica no ape-
nas eleitoral mas no respeito pela disposi-
o e opinio pblicas. Cabe, portanto, um
modelo mais radical de participao popu-
lar, em que a esfera poltica dispensada
e as funes de deciso seriam assumidas
pela esfera civil, como ocorre no iderio da
democracia direta.
Em conformidade com tais modelos, a
discusso sobre internet e democracia
participativa ganha diversos contornos e
comea a formar diferentes tradies. Aos
graus mais moderados
4
de participao de-
mocrtica, corresponde, por exemplo, a maior
parte das discusses sobre internet e parti-
cipao popular a partir do conceito tardio
de esfera pblica. No seu centro se desenha
um modelo de participao poltica do ci-
dado atravs de um debate pblico relevan-
te, constante e influente, onde se formam a
vontade e a opinio pblicas, mas onde
tambm seriam constitudos os insumos
fundamentais para a produo (pela esfera
poltica) de uma deciso legtima sobre os
negcios pblicos.
Para o modelo seguinte, a questo central
da democracia a deciso poltica e o seu
problema principal consiste em como
incrementar os nveis de participao civil
na deciso concernente aos negcios pbli-
cos. Este tipo de compreenso mais co-
mum nas discusses sobre internet e parti-
cipao popular em parte da literatura sobre
democracia deliberativa. A questo aqui no
apenas do debate pblico, mas de como
tornar o sistema e a cultura poltica liberais
mais porosos esfera civil, ao ponto de
possibilitar a sua interferncia na produo
da deciso poltica.
Por fim, a idia de participao da ci-
dadania entendida como ocupao civil da
esfera poltica encontra na internet as pos-
sibilidades tcnicas e ideolgicas da realiza-
o de um ideal de conduo popular e direta
dos negcios pblicos. Esta perspectiva
sustentada basicamente pelas teorias
libertrias da democracia e pela sua verso
anrquico-liberal da internet.
A democracia digital
Em todos os modelos a experincia da
internet vista ao mesmo tempo como
inspirao para formas de participao po-
ltica protagonizada pela esfera civil e como
demonstrao de que h efetivamente formas
e meios para a participao popular na vida
pblica. A democracia digital (e outros
verbetes concorrentes) , neste sentido, um
expediente semntico empregado para a
referncia experincia da internet e de
dispositivos semelhantes voltados para o
incremento das potencialidades de participa-
o civil na conduo dos negcios pblicos.
Podemos buscar sintetizar a discusso
genrica sobre democracia digital, ainda que
de forma apressada, em um conjunto bsico
de asseres.
68 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
1. A democracia digital se apresenta como
uma oportunidade de superar as deficin-
cias do estgio atual da democracia liberal.
Parte-se da percepo de que as institui-
es polticas, os atores e as prticas pol-
ticas nas democracias liberais esto em crise,
sobretudo em funo da ausncia de parti-
cipao poltica dos cidados e da separao
ntida e seca entre a esfera civil e a esfera
poltica. Isso significa, de algum modo, a
crise de um padro simblico da experincia
democrtica que pretende que o cidado, o
povo, a esfera civil, em suma, seja aquele
que governe. Como as democracias repre-
sentativas contemporneas atriburam inte-
gralmente ao colegiado dos representantes
(a esfera poltica) a capacidade de realizar
a deciso poltica sobre os negcios pbli-
cos. Com isso a esfera da poltica se v
cindida completamente entre a esfera civil,
cuja nica funo formar e autorizar a
esfera poltica nas eleies, e a esfera
poltica, cuja funo principal produzir a
deciso poltica na forma de lei e na forma
de decises de governo. H, pois, uma esfera
civil, a cidadania, considerada o corao dos
regimes democrticos mas que autoriza e no
governa, e h por outro lado, uma esfera
poltica cujo nico vnculo constitucional
com a esfera civil de natureza eleitoral.
O modelo de democracia representativa
entra, portanto, em crise.
A alternativa histrica democracia
representativa a democracia direta, vencida
historicamente por inadequada a sociedades
de massa e complexidade do Estado con-
temporneo - que exige profissionalismo (isto
, dedicao exclusiva, formao e compe-
tncia) de quem governa e de quem legisla.
A introduo de uma nova infraestrutura
tecnolgica, entretanto, faz ressurgir forte-
mente as esperanas de modelos alternativos
de democracia, que realize uma terceira via
entre a democracia representativa, que retira
do povo a deciso poltica, e a democracia
direta que a quer inteiramente consignada ao
cidado comum. Estes modelos giram ao
redor da idia de democracia participativa e,
nos ltimos dez anos, na forma da demo-
cracia deliberativa, para a qual a internet
certamente uma inspirao.
2. A democracia digital se apresenta como
uma alternativa para a implantao de uma
nova experincia democrtica fundada
numa nova noo de democracia.
As expresses democracia eletrnica,
ciberdemocracia, democracia digital, e-
democracy referem-se em geral s possibili-
dades de extenso das possibilidades democr-
ticas instauradas pela infra-estrutura tecnolgica
das redes de computadores. Por trs destas
expresses, um conjunto de pressupostos a
respeito da internet e participao civil:
a) A internet permitiria resolver o pro-
blema da participao do pblico na poltica
que afeta as democracias representativas
liberais contemporneas, pois tornaria esta
participao mais fcil, mas gil e mais
conveniente (confortvel, tambm). Isso
particularmente importante em tempos de
sociedade civil desorganizada e desmobilizada
ou de cidadania sem sociedade;
b) A internet permitiria uma relao sem
intermedirios entre a esfera civil e a esfera
poltica, bloqueando as influncias da esfera
econmica e, sobretudo, das indstrias do
entretenimento, da cultura e da informao
de massa, que nesse momento controla o
fluxo da informao poltica;
c) A internet permitiria que a esfera civil
no fosse apenas o consumidor de informao
poltica. Ou impediria que o fluxo da comu-
nicao poltica fosse unidirecional, com um
vetor que normalmente vai da esfera poltica
para a esfera civil. Por fim, a internet repre-
sentaria a possibilidade de que a esfera civil
produza informao poltica para o seu prprio
consumo e para o provimento da sua deciso.
3. O que a democracia digital como expe-
rincia deve assegurar a participao do
pblico nos processos de produo de
deciso poltica (decision-making processes).
H, digamos assim, alguns graus de
participao popular proporcionados pela
infra-estrutura da internet, que parecem
satisfazer diferentes compreenses da demo-
cracia. So os cinco graus de democracia
digital, correspondentes escala de reivindi-
cao dos modelos de democracia
participativa.
69 ABERTURA E SESSES PLENRIAS
O grau mais elementar aquele repre-
sentado pelo acesso do cidado aos servios
pblicos atravs da rede (a cidadania-
delivery). No mesmo nvel est a prestao
de informao por parte do Estado, os
partidos ou os representantes que integram
os colegiados polticos formais. A rigor, a
democracia digital de primeiro grau implan-
ta-se de forma acelerada em toda a parte e
neste momento est mais ou menos estabe-
lecida, em suas dimenses essenciais, na
maior parte dos Estados liberais contempo-
rneos. Servem at mesmo como plataformas
de autopromoo dos governos, que facilmen-
te designam estruturas tecnolgicas destina-
das ao provimento de servios e informaes
pblicas on-line de democracia eletrnica,
cidade-digital, desfrutando ao mesmo tempo
da aura de modernidade e de democracia. No
faltam, naturalmente, iniciativas srias que
tendem a facilitar a vida do cidado no que
respeita quelas iniciativas em que ele era,
a princpio de maneira penosa, forado a lidar
com a burocracia do Estado. Eficincia da
gesto, diminuio de custos da administra-
o pblica, substituio da terrvel burocra-
cia estatal pela nova burocracia digital, torna
a democracia digital de primeiro grau van-
tajosa para os governos e confortvel para
o cidado, na verdade, um cliente ou usu-
rio.
O segundo grau constitudo por um
Estado que consulta os cidados pela rede
para averiguar a sua opinio a respeito de
temas da agenda pblica e at, eventualmen-
te, para a formao da agenda pblica. Numa
democracia digital de segundo grau, a esfera
poltica possui algum nvel de porosidade
opinio pblica e considera o contato direto
com o pblico uma alternativa s sondagens
de opinio. Estados ou administradores
pblicos mais sensveis opinio e von-
tade populares organizam ferramentas
eletrnicas para a discusso pblica de
projetos importantes, freqentemente prove-
nientes do Executivo, e a extenso, incluso
e consistncia do exame e debate pblica vai
depender da sinceridade deliberacionista do
agente pblico, materializada no formato do
dispositivo tecnolgico empregado.
Nestes dois graus mais elementares, o
fluxo de comunicao parte da esfera pol-
tica, obtm o feed-back da esfera civil e
retorna como informao para os agentes da
esfera poltica. So as formas tpicas sinte-
tizadas na frmula G2C, ou from government
to citizen, que vem se popularizando nos
ltimos anos. O vetor vai, naturalmente, do
governo para o cidado. Os graus superiores,
entretanto, supem um fluxo de comunica-
o cuja iniciativa est na esfera civil ou que
produz efeito direto na esfera poltica, en-
tendida como esfera da efetivao da deciso
poltica.
O terceiro grau de democracia digital
representado por um Estado com tal volume
e intensidade na sua prestao de informao
e prestao de contas que, de algum modo,
adquira um alto nvel de transparncia para
o cidado comum. Um Estado cuja esfera
poltica se oriente por um princpio de
publicidade poltica esclarecida. Neste caso,
porm, o estado presta servios, informaes
e contas cidadania, mas no conta com ela
para a produo da deciso poltica. Neste
modelo h um encaixe mais ou menos
adequado entre os fluxos de demanda de
explicaes cuja origem , evidentemente, a
esfera civil e a prestao de contas de um
Estado, em todos os seus poderes, que se
explica aos seus cidados.
O quinto grau, evidentemente, repre-
sentado pelos modelos de democracia direta,
onde a esfera poltica profissional se extin-
guiria porque o pblico mesmo controlaria
a deciso poltica vlida e legtima no in-
terior do Estado. Trata-se do modelo de
democracy plugn play, do voto eletrnico,
preferencialmente on-line, da converso do
cidado no apenas em controlador da esfera
poltica mas em produtor de deciso poltica
sobre os negcios pblicos. O resultado da
implementao de uma democracia digital de
quinto grau seria uma Estado governado por
plebiscito em que esfera poltica no restaria
que as funes de administrao pblica.
Uma democracia digital de quarto grau
corresponderia a determinados modelos de
democracia deliberativa. diferena da
democracia de quinto grau, a democracia
deliberativa combina o modelo de democra-
cia participativa com o modelo de democra-
cia representativa. A esfera poltica se man-
tm, mas o Estado se torna mais poroso
70 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
participao popular, permitindo que o p-
blico no apenas se mantenha informado
sobre a conduo dos negcios pblicos, mais
ainda, permite que possa intervir
deliberativamente na produo da deciso
poltica. A esfera civil, neste caso, no cessa
as suas funes na formao eleitoral da
esfera poltica (nica funo que lhe atribu-
em as constituies liberais contemporne-
as), mas de algum modo teria interveno
na esfera da deciso poltica, fazendo valer
nela o resultado da deliberao pblica. Uma
deliberao pblica que, dentre outras coi-
sas, serve-se dos meios eletrnicos de
interao argumentativa. A democracia digi-
tal deliberativa teria que ser uma democracia
participativa apoiada em dispositivos
eletrnicos que conectam entre si os cida-
dos e que lhes faculta a possibilidade de
intervir na deciso dos negcios pblicos.
Como no se conhece nenhum Estado
com nveis eficientes de implementao dos
graus quatro, cinco e seis, tampouco parece
plausvel se detalhar os aspectos e dimen-
ses envolvidos na produo da deciso
poltica por parte do pblico. Sabe-se que
as possibilidades plebiscitrias da internet j
se provaram eficazes, assim como as ferra-
mentas fundamentais para os fruns pblicos
de toda a natureza. No se sabe, todavia, que
efeitos uma taxa muito intensa de transfe-
rncia da deciso poltica para a esfera civil
por meios eletrnicos produziria sobre a
sociedade poltica no seu formato atual. Nem
como conciliar a deciso civil com uma
gesto do Estado formada por representantes
eleitos. Trata-se, na verdade, de modelos
absolutamente tericos, mas com grande
efeito prtico, sustentando a imaginao de
formas de participao popular na poltica
contempornea e a implementao de projetos
destinados a reformar a qualidade democr-
tica das nossas sociedades.
4. A forma mais democrtica de assegurar
participao na deciso poltica se d atra-
vs de debate e deliberao.
O princpio de soberania popular parece
requerer que o povo participe de processos
abertos e justos de debate e deliberao sobre
os negcios pblicos. O que quer dizer, na
verdade, deliberao, matria mais delica-
da. mais fcil identificar deliberao na
comunicao mediada por computadores,
entendendo-a como debate ou entendendo-
-a como produo de deciso argumentada
e discutida, do que indicar como tal delibe-
rao precisamente produza algum efeito na
produo da deciso poltica que conta no
interior do Estado. A rigor, em parte con-
sidervel dos casos trata-se de uma esfera
pblica no-deliberativa ou simplesmente
daquilo que podemos chamar de conversa-
o civil, quando a reivindicao da demo-
cracia forte seria uma esfera pblica
deliberativa civil.
Outros autores se ocupam basicamente da
deliberao, mas no se preocupam em
mostrar com a deliberao popular na internet
poderia gerar efeitos sobre a esfera dos
decisores polticos. Chegam mesmo a mos-
trar, com muita capacidade, as caractersticas
de uma deliberao adequada, mas no se
preocupam em mostrar se tais caractersticas
se realizariam, por exemplo, nas deliberaes
off-line. D mesmo a impresso que alguns
trabalham com o modelo de uma espcie de
sociedade civil organizada e hiper-engajada
em deliberaes, quando talvez esta demo-
cracia confortvel da internet seja mais
apropriada para uma esfera civil desengajada
e desorganizada.
Das possibilidades e limites da democracia
digital
O que dizer disto tudo? Bem, os graus
mais elementares de democracia digital no
causam problemas tericos, pois mantm as
estruturas atuais e adicionam algumas van-
tagens da internet s prticas polticas de-
mocrticas contemporneas. Tampouco o grau
mais extremo causa um autntico problema,
haja vista que o modelo de democracia direta
dificilmente sustentvel em sede terica,
exceto para os mais radicais libertrios e para
os gurus da internet. Resta examinar os graus
intermedirios inspirados nas idias de es-
fera pblica e democracia deliberativa, na
tentativa de evidenciar suas virtudes e seus
limites.
Antes de tudo as virtudes, a comear pelo
fato real de que para quem tem acesso a um
computador e capital cultural para empreg-
lo no interior do jogo democrtico a internet
71 ABERTURA E SESSES PLENRIAS
um recurso valioso para a participao
poltica. Nesse sentido, igualmente um fato
que a internet oferece numerosos meios para
a expresso poltica e um determinado n-
mero de alternativas que podem influenciar
os agentes da esfera poltica. Por isso mesmo,
tem nos seus dispositivos um repertrio de
instrumentos para que os cidados se tornem
politicamente ativos.
No rol das vantagens polticas da internet
insiste-se com freqncia nas novas possibi-
lidades de expresso de forma que um cida-
do ou um grupo da sociedade civil pode por
este meio alcanar outros cidados diretamente.
O que promoveria uma reestruturao, em
larga escala, dos negcios pblicos e conectaria
governos e cidados. Nesse sentido, a internet
pode desempenhar um papel importante na
realizao da democracia deliberativa, porque
pode assegurar aos interessados em participar
do jogo democrtico dois dos seus requisitos
fundamentais: informao poltica atualizada
e oportunidade de interao. Alm disso, a
interatividade promoveria o uso de plebiscitos
eletrnicos, permitindo sondagens e referen-
dos instantneos e o voto realizado na casa
do eleitor.
D-se tambm o fato de que, com a
internet, adquirir e disseminar informao
poltica on-line tornou-se hoje algo rpido,
fcil, barato e conveniente. Por fim, a in-
formao disponvel na internet
freqentemente desprovida das coaes dos
meios industriais de comunicao, o que
significa que em geral no torcida ou
alterada para servir a interesses particulares,
nem a foras do campo poltico nem
indstria da informao.
Num passo adiante, as perspectivas mais
utpicas, por fim, freqentemente especulam
que uma comunicao poltica mediada pela
internet dever facilitar uma democracia de
base (grassroots) e reunir os povos do mundo
numa comunidade poltica sem fronteiras.
Passada, entretanto, a fase entusiasmada
onde facilmente se deixava passar a idia de
que a internet resolveria todos os problemas
da comunicao poltica, comea-se a des-
tacar as insuficincias dessa infra-estrutura.
Antes de mais nada, porque os pblicos
da idade da internet foram em geral expan-
didos de forma a incluir, por exemplo,
mulheres e diferentes classes sociais. Toda-
via mesmo nas democracias liberais mais
arraigadas temos um sistema social onde o
pblico no importa ou importa muito pouco
na produo da deciso poltica (Papacharissi,
p. 18). Em suma, apesar do fato de a internet
prover espao adicional para a discusso
poltica, ela tambm atingida pelas blin-
dagens anti-pblico do nosso sistema pol-
tico, o que diminui consideravelmente a real
dimenso e o real impacto das suas opinies
on-line ou off-line que sejam.
No resta dvida quanto ao fato de a
internet proporcionar instrumentos e alterna-
tivas de participao poltica civil. Por outro
lado, apenas o acesso internet no garante
e no capaz de assegurar o incremento da
atividade poltica, menos ainda da atividade
poltica argumentativa. Flaming, conflitos,
fragmentao, inconcluso, alm de qualquer
limite racional aparecem como constituindo
a natureza da discusso on-line em qualquer
pesquisa emprica sobre comunicao poltica
por meio da internet. Pesquisas empricas
demonstram ademais que as discusses po-
lticas on-line, embora permitam ampla par-
ticipao, so dominadas por uns poucos, do
mesmo modo que as discusses polticas em
geral. Em suma, apesar das enormes vanta-
gens a contidas, a comunicao on-line no
garante instantaneamente uma esfera de dis-
cusso pblica justa, representativa, relevante,
efetiva e igualitria. Na internet ou fora dela,
livre opinar s opinar. Alm disso, com o
predomnio de democracias digitais de primei-
ro grau, os sites partidrios so em geral meios
de expresso de mo nica e os sites gover-
namentais se constituem como meios de
delivery dos servios pblicos mais do que
formas de acolhimento da opinio do pblico
com efeito sobre os produtores de deciso
poltica. Assim, se por um lado, a internet
permite que eleitores forneam aos polticos
feed-back diretos a questes que eles apre-
sentam, independentemente dos meios indus-
triais de comunicao, por outro lado, no
garantem que este retorno possa eventualmen-
te influenciar a deciso poltica.
Na verdade, pesquisas sugerem que a
esfera poltica virtual de alguma maneira
reflete a poltica tradicional, servindo sim-
plesmente como um espao adicional para
72 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
a expresso da poltica mais do que como
um reformador radical do pensamento e das
estruturas polticas.
Alm disso, nem toda informao pol-
tica na internet democrtica, liberal ou
promove democracia. A mesma possibilida-
de de anonimato que protege a liberdade
poltica contra o controle de governos tir-
nicos e o controle das corporaes, reforo
considervel para contedos e prticas tir-
nicas, racistas, discriminatrias e anti-demo-
crticas na internet. Por fim, a informao
on-line em princpio disponvel para todos
aparelhados para tanto, mas no fcil ter
acesso e gerenciar vastos volumes de infor-
mao. Organizar, identificar e encontrar
informao uma tarefa que requer habi-
lidades e tempo, que muitos no possuem.
Em suma, acesso informao poltica no
nos torna automaticamente cidados mais
informados e mais ativos.
Em outros termos, quem pode ter acesso
a informao on-line, pode gerenci-la e,
eventualmente, pode produzi-la est equipado
com ferramentas adicionais para ser um cida-
do mais ativo e um participante da esfera
pblica. Por outro lado, tecnologias tornam a
participao na esfera poltica mais confortvel
e acessvel, mas no a garantem. Seja porque
a discusso poltica on-line est limitada para
aqueles com acesso a computadores e internet,
seja porque aqueles com acesso internet no
necessariamente buscam discusses polticas,
seja, enfim, porque discusses polticas so
freqentemente dominadas por poucos.
Na verdade, isso s surpreende quem
partilha da crena de que o meio a men-
sagem e de que um conjunto de dispositivos
e oportunidades, per se, transformam men-
talidades e prticas. Os meios, recursos,
ferramentas que constituem a internet so
apenas mais um dos dispositivos sociais da
prtica poltica, ainda novo, ainda pouco
experimentado, ainda em teste. Situa-se num
conjunto j estruturado ao redor de outros
dispositivos institudos e consolidados. O seu
lugar se constituir na tenso com tais dis-
positivos, mas tambm com as formas j
estabelecidas no conjunto deles, isto , com
o sistema e a cultura poltica. Assim, por mais
que a internet oferea inditas oportunidades
de participao na esfera poltica, tais opor-
tunidades sero aproveitadas apenas se hou-
ver uma cultura e um sistema polticos dis-
postos (ou forados) a acolh-los. Contudo,
as circunstncias histricas em que se encon-
tram as democracias liberais contemporneas,
umas menos outras mais, parecem menos
disponveis participao dos cidados nas
suas instncias de produo da deciso po-
ltica do que as nossas convices republica-
nas recomendariam. Por outro lado, as pr-
prias caractersticas da cultura poltica com-
partilhada pelos nossos contemporneas, pa-
recem indicar tudo menos hiper-engajamentos
dos indivduos em programas e posies
polticas, disposio a integrar de modo durvel
formas organizadas da assim chamada soci-
edade civil, interesse em grandes e constantes
participao em debates sisudos sobre temas
severos. Nesse sentido, talvez nem toda a
debilidade de participao poltica contempo-
rnea se explique em termos de dificuldade
de acesso, raridade de meios e escassez de
oportunidades. A abundncia de meios e
chances no formar, per se, uma cultura da
participao poltica. Isso no quer dizer, por
outro lado, que no se deva explorar ao
extremo todas as possibilidades democrticas
que a internet comporta.
_______________________________
1
Conferncia proferida na Abertura do II
Ibrico, em 23 de Abril de 2004, subordinada
ao tema Comunicao e Cidadania.
2
Faculdade de Comunicao, Universidade
Federal da Bahia.
3
Na verdade, trs modelos de democracia
disputam neste momento as alternativas de de-
mocracia representativa: o modelo liberal-indivi-
dualista, que importante para a ideologia-internet
na forma do ciber-libertarianismo; o modelo
comunitarista, que disputava com o modelo libe-
ral clssico o predomnio no ambiente anglossaxo;
o modelo deliberacionista, de origem
habermasiana, que se tornou predominante na
dcada de 90 em ambientes de lngua inglesa.
4
Tome-se com cautela o termo moderado.
A rigor, trata-se do grau menos radical de uma
escala superior. A escala anterior, que aqui se
pretende superar, representado pelos padres
adotados pela democracia representativa liberal,
que faz com que a sociedade poltica detenha o
monoplio da deciso dos negcios pblicos, e
restringe o papel eficaz da sociedade civil sua
dimenso eleitoral. O grau mais moderado nesta
segunda escala, portanto, mais radical que o mais
radical dos padres da escala anterior.
73 ABERTURA E SESSES PLENRIAS
A cidadania como problema
1
Jos A. Bragana de Miranda
2
A cidadania um daqueles conceitos
altamente ambguos, simultaneamente inte-
grando e excedendo a ordem poltica. Como
se entre cidadania e Estado existisse um
conflito, ou ento como se no existissem
cidados altura de uma cidadania radical.
O que implicaria, no mnimo, uma insufi-
cincia na sua fundamentao formal, basi-
camente jurdica. Aqueles que mais falam de
cidadania so os mesmos que criticam uma
e outra vez a sua definio formal, como
pertena a um Estado. Talvez se explique essa
ambiguidade pelo facto, como apontou Judith
Skhlar de que a cidadania tem a sua origem
numa reaco muito especfica contra a
excluso da existncia poltica. Isso cria uma
tenso endmica entre o sujeito e o cida-
do. Historicamente a reivindicao de
cidadania era uma forma de lutar contra a
excluso poltica, e as revolues modernas
mais no fizeram do que dar resposta a esta
injuno. Aquilo que alimentava em profun-
didade a reivindicao de cidadania no
desaparece quando todos so includos no
espao poltica estruturado em torno do
Estado. que nunca so todos, os de outros
pases, os exilados, os emigrantes, no ca-
bem. Mais ainda, como defendia Heiner
Mueller a democracia bem pensada deve-
ria incluir os j mortos e os ainda no
nascidos, e no apenas aqueles que existem.
Frase aparentemente provocatria e quase
incompreensvel, mas que tem um sentido
preciso, que no h muito tempo era ainda
legvel.
Permanece essa tenso, numa certa
invisibilidade. Quer-se outra cidadania para
poder ter aquela por que se lutou historica-
mente, que se consubstancia na formalidade
jurdica de pertena a um dado Estado.
Criticando erroneamente o formalismo pol-
tico, tudo se resumiria em dar-lhe contedo,
social, assistencial, etc. So aqueles que
pretendem levianamente dispensar o direito
que defendem que tudo se resume
positividade do contedo. Desde Marx que
est claro que a pura formalidade convive
demasiado bem com a aceitao do pior, da
injustia ou da violncia. Sabe-se como essa
soluo, dentro do quadro existente, se re-
sume em aperfeio-lo, busca dos melho-
res arranjos possveis, ou ento, para outros,
destruio pura e simples do quadro formal
onde decorre a modernidade poltica, de que
uma revoluo sempre futura seria o opera-
dor.
Mas a modernidade poltica pura re-
voluo contnua, no estando nem no pas-
sado, nem no futuro. Ela incide sobre o
presente, afectando cada um dos actos, por
mnimos que sejam. essa revoluo em per-
manente movimento que alimenta a liber-
dade livre de que falava Rimbaud, que no
se confunde com a escolha entre opes
armadilhadas, mas pela possibilidade de
escolher dentro das escolhas j feitas, contra
elas. Se a cidadania excede a poltica real-
mente existente, porque no cabe nos limites
do Estado, por mais democrtico que seja.
Talvez porque apele a uma poltica que s
existir no momento em que o Estado seja
desnecessrio, seno mesmo nos momentos
terminais em que possa ser abolido, ou esteja
a ser abolido. Aqui e agora, a poltica que
propulsada pela revoluo e por esse acto
terminal de abolio do Estado, afecta im-
perceptivelmente os actos que se deixam
iluminar por ela. Mas tambm emana do
desassossego e da revolta que no podemos
deixar de sentir, uma ou outra vez, num ou
noutro caso. Se existisse sempre, vigoraria
o puro nihilismo. A mesma Shklar afirmou
algures que tudo comea no sentimento de
injustia, na sensao de desagrado e de
tristeza, que repentinamente nos avassala.
Bastaria mudar de atitude, dar um passo e
entrar noutro espao da poltica, mas tam-
bm aqui ocorre como na parbola de Kafka,
em que o suspirante fica porta da Lei, vai
envelhecendo, sem nunca a franquear,
74 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
espera de autorizao, descobrindo-se final-
mente, para nosso desalento, que a porta
esteva sempre aberta e que bastava ter dado
um passo em frente, e entrado.
Tambm o espao expandido da poltica
est por todo o lado, correspondendo cidade
dos homens, onde todos tm lugar, mas em
relao qual a maioria est em exlio. As
nossas cidades so simples arremedos dessa
cidade dos homens, base de toda a cidadania.
Onde encontr-la, se est por todo o lado
e em lugar nenhum? Saiamos de apuros,
dando um passo ao lado, para a literatura.
De Mallarm, por exemplo, vem-nos uma in-
dicao. nas nossas tristes cidades que
est essa outra: La Cit, si je ne mabuse
en mon sens de citoyen, reconstruit un lieu
abstrait, suprieur, nulle part situ, ici sjour
pour lhomme. Como nas estrelas, onde se
podem ler inmeras constelaes, onde uns
vem deuses e outros nada. Mas no se trata
de utopias, tudo se joga na absoluta
materialidade da existncia, enquanto que as
utopias vivem na imaginao e no desejo de
realiz-las. Guiando-nos por Mallarm vemos
a cidade dos homens como uma imagem
outra, um outro aspecto do real. A realidade
mais no do que a fixao de uma
imagem que ocupa todo o olhar, sendo
certo que se olha atravs do que vemos e
que serve de ponte para outra coisa, dife-
rente e a mesma. Na explicao de Mallarm:
Un grand dommage a t caus
lassociation terrestre, sculairement, de lui
indiquer le mirage brutal, la cit, ses
gouvernements, le code autrement que comme
emblmes ou, quant notre tat, ce que des
ncropoles sont au paradis quelles
vaporent: un terre-plein, presque pas vil.
Page, lections, ce nest ici-bas, o semble
sen rsumer lapplication que se passent,
augustement, les formalits dictant un culte
populaire, comme reprsentativesde la Loi,
sise en toute transparence, nudit et
merveille. A estncia do humano exige que
se descubra nas formas construdas do real
a sua natureza alucinatria, simples mira-
gem, no sentido de que so o ponto de mira
do olhar que medusam, de forma a encontrar
outra imagem para a associao dos ho-
mens, a poltica em suma. A sua presena
tanto mais forte quanto tal imagem
transparente, semelhante a um vidro que
est a materialmente, mas invisvel.
Para o poeta trata-se no do real, mas
de uma diminuio deste, pois o real a
matria mais todas as imagens, enquanto que
a realidade deve a sua formatao sub-
traco dessas imagens ocultas, criadas na
histria. Trata-se, na verdade, de uma sub-
traco e no da plenitude da positividade:
Minez ces substractions, quand lobscurit
en offense la perspective, non alignez-y
des lampions, pour voir: il sagit que vos
penses exigent du sol un simulacre. O
presente obscuro mas no por falta de luz,
mas por excesso de visibilidade das formas
que absorvem o olhar, ocupando-o inteira-
mente. Sendo o contrrio da transparncia,
aparece como solo, falso fundamento, e como
terra, aonde a vida sempre retorna, mas que
tem de ser maravilhada para se tornar
aceitvel. Remontando aos fsicos gregos, a
Lucrcio, trata-se para Mallarm de mudar
o aspecto do real, o que se faz propondo-
lhe outros simulacros. Tambm Rothko re-
fere que o propsito da arte em geral
revelar a verdade... criar novos valores para
pr a humanidade frente a frente com um
novo acontecimento, uma nova maravilha.
essa a enorme responsabilidade da arte,
cuja mola oculta acaba por ser a poltica que
rege a cidade dos homens.
Na cidade em que habitamos, nas casas
que a constituem, persiste uma outra. Tam-
bm cada casa , ao mesmo tempo, a casa
dos humanos e aquela onde vive cada um
de ns, e que pode ser bem desumana. Como
as duas podem ser antitticas! As feministas
actuais mostraram bem que na casa real se
lesa a casa dos humanos e fizeram do tlamo
um palco de guerra. Deve-se tenso que
a poltica introduz nas coisas, e na prpria
existncia, que tudo venha duplamente, que
tudo seja dois. Lemos, deste modo a seguinte
tese de Walter Benjamin: Todos os que at
hoje venceram participam do cortejo triun-
fal, em que os dominadores de hoje
espezinham os corpos dos que esto pros-
trados no cho. Os despojos so carregados
no cortejo, como de praxe. Esses despojos
so o que chamamos bens culturais. O
materialista histrico os contempla com
distanciamento. Pois todos os bens culturais
que ele v tm uma origem sobre a qual ele
75 ABERTURA E SESSES PLENRIAS
no pode reflectir sem horror. Devem sua
existncia no somente ao esforo dos gran-
des gnios que os criaram, como servido
annima dos seus contemporneos. Nunca
houve um monumento da cultura que no
fosse tambm um monumento da barbrie.
Parecer inutilmente dramtica esta viso da
histria, como se tudo se resumisse vio-
lncia e derrota. De facto, tambm em cada
coisa temos a memria da luta, o lutar antes
de ter perdido e apesar de se saber que ia
ser perdido, mas tambm a promessa de
felicidade que animava essa luta. A moder-
nidade poltica instaura-se positivamente na
ideia de que possvel comear tudo de zero,
que os actos passados so isso mesmo,
passados, e que os actos futuros sero de-
terminados a partir dos interesses de agora.
Da a sensao de frieza e de indiferena de
todos os actos polticos, rigidamente inscri-
tos num quadro poltico que garante esse
permanente recomeo e a neutralidade da
existncia perante as funestas paixes pas-
sadas ou futuras. A ideia de que cada
monumento um sinal de barbrie con-
traria a positividade das coisas, a sua dis-
ponibilidade para a aco, e isso essencial.
Alis, j a encontrvamos em Helvetius: On
conviendra quil narrive point de barrique
de sucre en Europe qui ne soit teinte de sang
humain. Or quel homme la vue des
malheurs quoccasionnent la culture et
lexportation de cette denre refuserait de
sen priver, et ne renoncerait pas un plaisir
achet par les larmes et la mort de tant de
malheureux ? Dtournons nos regards dun
spectacle si funeste et qui fait tant de honte
et dhorreur lhumanit. Cada coisa, por
inerte que parea est, para quem saiba ver,
pejada de violncia e de sofrimento. Mas
levado ao extremo este argumento, seramos
obrigados a recusar a totalidade da existn-
cia. Em ltima instncia esta posio s se
sustenta atravs da recusa da modernidade
poltica. Na verdade, seria necessrio redividir
esta duplicidade sangrenta, para dar lugar
diviso pura e absoluta que desassossega a
prpria modernidade poltica, e que obriga
alternncia democrtica, tripartio dos
poderes, etc. Podemos dizer, assim, que a
diviso do espao existente, a sua duplicidade
e duplicao, s se funda politicamente, como
interpretao histrica de todo o sofrimento
e das possibilidades de acabar com ele.
Todas as imagens, memrias de luta,
sonhos e iluses de perfeio, so, no
polticos, mas efeitos da arte, onde exclu-
sivamente podem ser apresentados. Da a
necessidade sentida por muitos de fazer a
crtica da esttica, pois se apresenta o espao
outro dos humanos, o faz sempre na parci-
alidade de uma imagem que tende a realizar-
se. A cidadania marca caracterstica daque-
les que actualizam essa diviso, criando esse
duplo espao universal, cuja podemos retraar
desde os tempos mticos, e que est consig-
nada na origem da metafsica, com a diviso
platnica entre fenmenos e ideias eternas,
ou na maneira como o cristianismo medieval
divide o espao mundano do alm. Como
com toda a imagem, sonha-se com a cidade
de Deus na terra e comea-se a constru-la.
Maravilha e horror ao mesmo tempo pois
nada separa radicalmente as catedrais gticas
da inquisio. Seria banal sustentar que a
modernidade, com o seu imanentismo, que-
ria expurgar a existncia das suas
duplicidades, tudo reduzindo pura presen-
a. No livro sobre a comuna de Paris Marx
afirmara que os operrios se tinham lana-
do conquista dos cus, fundindo-o com
a terra. Mas a terra desolada, entregue sua
massiva evidncia, fica s mos dos gestores,
dos normalizadores, dos capitalistas, o seu
sonho passa a ser o pesadelo da eficincia,
a administrao do pouco mais e do pouco
menos. Ser cidado deste mundo imanente
perder-se em torno dos zeros e das vrgulas
do aumento de ordenado. aceitar conviver
com o pior, ficar sozinho com gente ao lado.
Ao ficar-se acachapado sobre o real a cida-
dania confunde-se com o desprezo pelo que
existe ou pela cinismo com que aceite e
melhorado.
_______________________________
1
Conferncia proferida na Sesso Plenria
inaugural do II Ibrico, em 23 de Abril de 2004,
subordinada ao tema Cultura e Cidadania.
2
Faculdade de Cincias Sociais e Humanas
da Universidade Nova de Lisboa.
76 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
77 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
Captulo II
FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
78 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
79 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
Apresentao
Paulo Filipe Monteiro
1
Metamorfoses da imagem, que, desde a
inveno da fotografia, nunca mais foi a
mesma: primeiro imobilizando um smile do
real, depois registando o movimento; de incio
orgulhosa de uma ontologia, de um ter l
estado, que a actual digitalizao descara-
damente subverte quando quer.
Fotografia, cinema e vdeo so reas que
as cincias da comunicao devem estudar,
com duplo ganho. Por um lado, porque
afectam o nosso quotidiano de um modo,
talvez mais do que central, omnipresente e
do qual sabemos menos do que muitas vezes
julgamos que sabemos. Mas tambm, por
outro lado, por ser fundamental que a fo-
tografia, o cinema e o vdeo no vivam
exclusivamente entregues aos respectivos
fazedores, mas que possam ser pensados no
contexto maior da cultura e da comunicao,
que lhes d sentido e ao qual, como agentes
activssimos, eficazes e respeitados por elites
e massas, do novos sentidos.
_______________________________
1
Universidade Nova de Lisboa. Coordenador
da Sesso Temtica de Fotografia, Vdeo e Ci-
nema do VI Lusocom.
80 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
81 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
Apresentao
Eduardo Jorge Esperana
1
Gostaria de fazer a introduo a esta
temtica com aquilo que encontro de mais
comum e frtil de entre os objectos que aqui
se abordam, isto , imagem e representao.
Nesta contemporaneidade de excessos e
tambm de excessos de imagens, elas esto
por a, por todo o lado, e servem para tudo.
Isto no nos deve impedir ou toldar a reflexo
acerca da sua presena pesada, dos seus usos,
do seu estatuto representacional.
Na era da imagem digital, este estatuto
da imagem que, durante sculo e meio de
existncia da fotografia qumica veio a ser
discutido, est cada vez mais problemtico.
A nova tecnologia roubou imagem
maqunica os ltimos indcios de prova e de
representao do objecto representado. Mas
trouxe outras coisas. Trouxe uma infinita
capacidade de criao e uma perenidade
nunca antes conseguida.
O fantasma da representao do real ou
do modo de representar a verdade, como se
poder exprimir pelo senso comum, um
fantasma que nunca afectou sobremaneira
fotgrafos ou criadores de imagens. Afectou
sim, homens de cincia e de Direito,
preocupados com a prova e a representao
fidedigna. A este nvel, a capacidade
representacional da fotografia e do filme fica
reduzida possvel plausibilidade do que
representado e a evidncia torna-se
impossvel.
No entanto, estas novas implicaes,
oferecem ao criador da imagem uma tal
plasticidade que todo um novo quadro de
consideraes estticas a ser chamado
presena desta nova imagem. Este controlo
sobre a totalidade do contedo representa-
cional da nova imagem impe fotografia
como a todas as artes dela derivadas,
necessariamente um novo estatuto de arte
representacional.
Mais interessante, igualmente o facto
de este novo controlo sobre o contedo
representacional da imagem e a sua aparncia,
oferecerem uma nova significncia esttica
por, com ele, poderem aparecer novos
interesses estticos. Mas o que isto a que
chamamos novo interesse esttico?
Jonathan Friday, no seguimento de Roger
Scruton e William King, explica-nos que, para
algo adquirir significncia esttica,
necessrio ser possvel encontrar-lhe um
interesse esttico especfico e distinto. Este
interesse tradicionalmente encontrado no
objecto ou imagem pelo modo como so
representados por si ss for its own
sake, como um fim em si. Assim, para a
fotografia mostrar uma significncia esttica,
necessrio que seja possvel apresentar um
interesse esttico caracterstico das
propriedades representacionais da fotografia.
Tal interesse na fotografia implica uma
ateno orientada para as prprias
propriedades representacionais e no apenas
como o melhor meio disponvel para
satisfazer o desejo de ver os objectos
reproduzidos pela fotografia.. Quando o
interesse de algum numa fotografia passa
apenas pelos objectos nela reproduzidos,
ento o valor da fotografia apenas
funcional. (http://construct.haifa.ac.il/
~ttkach/art2000/articles/as1.htm).
A capacidade indita de controlo sobre
a imagem neste novo mundo da
representao, deve fazer-nos pensar acerca
dos actuais operadores da era virtual e das
mltiplas vias de percepo do real que nos
so oferecidas ou impostas. At certo ponto,
a concluso a que podemos chegar que,
cada vez mais, a imagem construda, constitui
cada vez menos evidncia cartesiana de seja
o que for que ela reproduza, mas sim dos
padres e standards da cultura em que foi
concebida.
_______________________________
1
Universidade de vora. Coordenador da
Sesso Temtica de Fotografia, Vdeo e Cinema
do II Ibrico.
82 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
83 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
O real quando menos se espera
Anabela Moutinho
1
O pretexto para esta minha reflexo so
certos filmes actuais que, como refiro na
sntese enviada para o Congresso, constitu-
em uma espcie de limbo entre fices
realistas e documentrios ficcionados e,
nesse sentido, nos foram a colocar deter-
minadas questes sobre eles, esses filmes, e
sobre o cinema, enquanto tal. A primeira das
quais ser, para mim, se esse limbo de hoje
ser novo e, se no o for, se ser diferente
do de outras pocas.
Historicamente o cinema foi considerado
como no se inscrevendo numa nica matriz,
mas em duas, aquelas que Georges Sadoul
enunciou na sua monumental Histoire de lart
du cinma
2
, a do realismo documentarista dos
irmos Lumire e a da fico fantasista e
mgica de Georges Mlis. Entre cinema-
captao (da realidade externa) e cinema-
interveno (sobre a realidade interna, isto,
flmica), o cinema teria vivido desde o incio
uma dualidade, profcua pelas hesitaes e
indefinies que provocava, mas que obri-
gava a trilhar dois diferentes caminhos. Ora,
o que til realar que nessa suposta
dualidade nesses mesmos Lumire e Mlis
como exemplos as questes foram, pelo
contrrio, colocadas por eles nos seus rigo-
rosos termos: seja na Chegada do Comboio
la Ciotat ou na Viagem Lua
3
, documentrio
e fico foram (e so) extremos em tenso
e contaminao perptuas, pois no h re-
gisto que elida a representao dos actores
presentes na imagem e a criao de reali-
dade, por parte do realizador/autor, atravs
da seleco do ponto de vista e, posterior-
mente aos Lumire, da montagem, nem h
fantasia que possa operar sem o objectificvel
inerente realidade na qual se intervm, pelo
que ambos so captao e interveno.
Assim, cabe perguntar que realidade
permissvel no real cinematogrfico, bem
como se impe questionar que realismo
admissvel na realidade cinematogrfica. Pois
bem, o que tanto Lumire como Mlis
exponenciam o jogo entre iluso e reali-
dade no seio da iluso de realidade que o
cinema e provoca: seja, no caso do pri-
meiro, fazendo-nos crer objectivas e, nesse
sentido, documentais, imagens que foram
manipuladas com a presena de figurantes
ou encenadas pelo operador, seja, no caso
do segundo, fazendo coincidir o mximo de
verosimilhana com o mximo de maravilho-
so num nico plano, concedendo assim re-
alidade exterior a algo que s foi real atravs
do artifcio cinematogrfico.
O que julgo bastante evidente que
ambos supostamente padrinhos de dois
caminhos to diferentes que quase se diriam
paralelos compreenderam e colocaram em
prtica o nico realismo possvel em cinema:
o realismo de cinema, isto , o realismo ci-
nematogrfico. Nem de outra maneira seria
possvel ele ser. Qualquer realismo no
adequao plena realidade; outrossim, ou
meramente do ponto de vista tecnolgico ou
do especialmente artstico, produo de
realidade. Assim, o facto flmico (apelan-
do clebre expresso de Metz), mais do
que cada filme enquanto obra/texto de sig-
nos/cdigos documentais ou ficcionais feita,
a indefinio mesma, a transgresso das
fronteiras, a diluio das diferenas presen-
tes no filme. Objectar-me-o que, por estra-
tgia comercial mas igualmente algumas
vezes por limitao propriamente artstica, o
cinema desde cedo criou ou prolongou
tipos e gneros, a um tempo para ir ao
encontro de pblicos especficos e para ir
contra veleidades criativas ou experimentais
que, baralhando e tornando a dar, dificulta-
vam a tarefa da catalogao, to cara a mentes
preguiosas ou indulgentes, e que nesse
sentido h efectivamente obras vincadamente
ficcionais ou documentais. Mas se no me
cabe aqui questionar se e quando ou quanto
um filme s pertena a um certo tipo ou
gnero, devo salientar que h uma primor-
dial anlise ontolgica na qual todo e qual-
84 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
quer filme se integra, por mais ou menos
arredio que seja a classificaes: realidade
e cinema, quando postos em relao, so
necessariamente comutveis. Ambos so ilu-
so e ambos so reais. Ambos so constru-
o e ambos so factuais. Ambos so etreos
e ambos so concretos. A dualidade
ontolgica entre realidade e cinema na
qual se quis inscrever a tal matriz dicotmica
cinema-captao / cinema-interveno,
documentrio / fico, uma dizendo
respeito ao que a realidade faz com o cinema
e a outra ao que o cinema faz com a re-
alidade, pode ser afinal uma relao
ontolgica, reposta agora em mais precisos
termos: a realidade do cinema enquanto
representao real (o objecto representado
real porque era real no momento em que foi
captado) e enquanto reproduo ilusria
(aquilo que se projecta resulta de uma iluso
ptica e configura em si a iluso presente
na imaterialidade da imagem); a realidade no
cinema enquanto representada ilusria (pe-
las razes inversas, isto , a realidade est
na imagem que a representa mas no a
imagem que a representa) e enquanto
reproduzida real (pelas razes inversas
tambm, isto , torna-se real ao ser projec-
tada, no duplo sentido de pertencer duplamen-
te realidade do cinema e realidade no
cinema). Por outras palavras, esta
reformulao, ao conferir estatuto ontolgico
tanto reproduo e representao da reali-
dade como reproduo e representao da
iluso, o que dizer, tanto realidade quanto
iluso enquanto tais, sublinha o facto de que
em cinema elas no podem ser entendidas
enquanto entidades independentes mas, pelo
contrrio, enquanto entidades inter-dependen-
tes. Realidade do e no cinema so bi-unvocas
e no mera e dualisticamente unvocas
4
.
curioso notar que uma leitura, mesmo
que apressada, da historiografia das teorias
do cinema faz ressaltar que muitas delas
sustentaram e vincaram um dualismo que,
assim sendo, na verdade nunca existiu. Como
se o ser de cada um realidade e cinema
- se espelhasse no seu pensar, mas esse
reflexo no fosse mais do que a perpetuao
at ao infinito de uma falcia inicial, a que
procura defender para o cinema o que se
pensa previamente a ele sobre prticas dele.
A oposio fundada no que a realidade faz
com o cinema ou no que o cinema faz com
a realidade no encontra, verdadeiramente,
grandes possibilidades nem de justificao
nem de legitimao no cinema nem na
Histria dele, exceptuando quando a discus-
so terica se centra nas opes polticas ou
nos panoramas ideolgicos de filmes concre-
tos, isto , quando a discusso deixa de ser
flmica para passar a ser cinematogrfica. E
a torna-se claro que o que as correntes
tericas realistas combatem uma prtica
alienatria dos filmes-fbrica-de-sonhos para
lhes opr um cinema-verdade que todavia,
como sabemos, pode ser necessariamen-
te?... - igualmente to manipulador e, nesse
sentido, fonte de quimeras, quanto o outro.
Todas as maneiras que possamos usar para
caracterizar o filme realista so igualmente
vlidas para caracterizar o filme, digamos,
fantasista: em todos os filmes encontramos
o real, ou certos aspectos dele, ou nos nesses
aspectos do real (como vimos h pouco), em
todos os filmes podemos encontrar o projec-
to do realizador em recolher o mximo
possvel de realidade (qual a diferena a esse
nvel entre The Blair Witch Project de
Miryck e Sanchez e Stromboli, de Rosselini?),
para todos os filmes devemos argumentar com
o realismo ontolgico da fotografia cujas
consequncias a actual imagem digital ainda
no destronou (qualquer filme de Keaton
a esse ttulo to real quanto os Drifters de
John Grierson)
5
. O realismo e convm
sublinhar que em Histria do Cinema no
h o realismo, h sim realismos parece ser,
antes de mais, algo que nega, mais do que
algo que afirma e que se afirma nessa afir-
mao. Nesta definio negativa e neste
impulso negativo que a sua causa (diria
Yuri Lotman, nestapotica da rejeio
6
)
- o filme realista contesta e subverte os filmes
que se assumem como ficcionados, distantes,
enredos fabulatrios, dispositivos inveros-
meis, modelos de vida ideal que, por isso
mesmo, se compreende terem mera utilidade
de divertimento e evaso, ainda hoje to
premente e dominante. Ento a questo, sendo
do foro psicolgico, sociolgico e poltico,
radica numa outra dimenso que o filme
realista a um tempo pressupe e persegue:
a de que o cinema seja a oportunidade de
dar a ver e no s de ver. E porventura reside
85 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
a a sua singularidade: nesta oferta, tantas
vezes crua, de realidade que se oferece e sobre
a qual nada ou muito se manipula (as di-
ferenas cinematogrficas, estticas e flmicas
entre realismos obrigam-nos a contemplar
ambas as hipteses porque ambas foram efec-
tivamente praticadas, vide Rosselini face a
Bresson ou Bresson face a Loach, isto para
no recuar a Stroheim de Greed ou mesmo
a Griffith de The Broken Blossom, que me
perdoem os puristas por incluir estes ltimos),
radica o compromisso tico que a base
de todo o filme realista. Compromisso do re-
alizador com a realidade que d a ver, desta
com o filme e deste com o pblico.
reproduo e representao que acima
foram apresentadas como harmonia bi-
unvoca entre real e ilusrio, o filme realista
acrescenta um gesto que est para alm dela,
o que dizer, acrescenta fazer ao ser.
Isso foi constante em toda a Histria do
Sculo XX como parece estar a ser na deste
incio de Sculo XXI: sempre que h con-
vulso l fora, apetece realismo no cine-
ma, e eis-los que surgem, nas vanguardas de
incio de sec. XX (e no s pela mo de
Eisenstein ou, especialmente, Vertov,
manipuladores mximos de realidades
ideolgicas, em primeira instncia mni-
mas, mas, num mais revolucionrio sentido,
pelos objectivos surrealistas de abraar re-
alidades ideolgicas, em ltima instncia
mximas), ou mesmo nos filmes de
gansgters ou nas obras liberais dos anos 30/
40 em Hollywood (os maus-da-fita e os bons-
da-fita, todos a apelar ao empenhamento
cvico de um espectador brutalizado por
James Cagney morrendo a gritar Made it,
Ma! Top of the world! ou por James Stewart
desmaiando de exausto no Senado
7
), para
no referir os mais bvios exemplos do
realismo italiano do ps-guerra ou, mais tarde,
do free-cinema e do cinma-vrit e do seu
equivalente alm-atlntico americano nos
anos 60 (pelo menos algumas obras de
Cassavetes permitem essa associao, na do
Norte, e todas as de Glauber Rocha, na do
Sul), para rematar com alguns autores que
ainda hoje insistem em engager as suas obras.
Sim, ao dar a ver o filme realista faz
para que outros faam. Pode no o conseguir
(e talvez a resida a razo do maior ou menor
sucesso de filmes e/ou autores realistas e, em
particular, do realismo enquanto tal conso-
ante as fases histricas consideradas e, ainda
mais em particular, do realismo enquanto tal
consoante as fases histricas consideradas
quando estas foram ultrapassadas); toda-
via, tal no inibe o carcter transformador
que o motiva, transformao no tanto sobre
a realidade representada, mas sim sobre o
espectador que a acolhe. Quando acolhe.
Donde, resta-me perguntar o que acolhe,
ou no, o espectador de hoje, nos filmes
realistas que um pouco por todo o mundo
se vo fazendo em tempo de globalizao,
convulso maior porque diferente, com novos
dados e imensos desafios. Isto : se at aqui
estive a pensar na Histria que j foi, agora
o momento de me debruar um pouco sobre
a histria que est a ser.
Se me for permitido generalizar, creio que
h uma diferena, que me parece interessan-
te, entre o realismo de hoje e o de ontem:
a que existe entre o colectivo e o individual,
entre o pblico e o privado. Tal diferena
encontra-se tanto no realizador que expe
como no filme exposto como, por ltimo, no
espectador que fica exposto. A perodos
histricos em que as motivaes e os pro-
psitos eram pblicos e colectivos (s vezes,
at, colectivistas), parece suceder-se uma
poca que, na ausncia (que pessoalmente
creio temporria) de ideologias unificadoras,
est centrada no indivduo.
No que os anteriores momentos colec-
tivos no tivessem sido somas de indivduos
particulares, no que a noo de compromis-
so tico no implique sempre a existncia
de 1 + 1, no que os filmes de hoje, como
os de ontem, no se dirijam antes de mais
conscincia individual do espectador sin-
gular; mas ao nvel da recepo - dada a
multiplicao dos suportes ou meios alter-
nativos de visionar filmes, seja em vdeo ou
dvd ou atravs da internet como ao nvel
da criao - muitas (no todas) das novas
imagens que por a circulam transmitem e
so transmitidas por uma espcie de clausura
viciosa, ou porque se comprazem meramente
em exercitar tecnologias (e nunca a tecnologia
foi de per si alavanca para avanos artsti-
cos, o inverso que verdadeiro) ou porque
se julgam inovadoras quando afinal s o
suporte em que se exercitam novo, no os
esquemas estticos, culturais e polticos dos
86 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
seus (solitrios, pelo menos ao nvel dos seus
efeitos) exerccios -, dizia, ao nvel da re-
cepo como do da criao, o que falta hoje
a noo de partilha ou pertena a um
movimento maior. O Muro caiu e cada um
ficou com o seu tijolo.
Por outro lado, acompanhando e agravan-
do este fenmeno, a globalizao operada
pelos antigos e novos meios de comunicao
ao invs de aumentar a liberdade de pensa-
mento, de escolha e de aco do indivduo,
estreitou-a. Penso no caudal ininterrupto de
informao filtrada, note-se bem que
humanamente impossvel assimilar no seu
conjunto, mas penso igualmente nos meca-
nismos de poder e controlo sobre essa in-
formao e sobre os produtos culturais, latu
sensu, que equivalem, no caso do cinema,
a que a apetncia esteja criada mais para
assistir estreia de uma obra norte-ameri-
cana cuja identidade, pelo menos cinemato-
grfica, pouco poder ter a ver com a nossa,
do que para dispender algum tempo a de-
dicar a nossa ateno e estima s obras que
no nosso e em outros pases se produzam.
Matrix em estreia mundial. O Muro caiu e
cada um ficou sem o seu tijolo.
num panorama destes em que o
indivduo est paradoxalmente isolado num
mundo em que tudo pode ser vivido em
simultneo, em que o indivduo perde co-
ordenadas com o excesso delas, em que o
indivduo se encontra entregue a uma sorte
destinada por um poder a maior parte das
vezes invisvel ou, pelo menos, to gigan-
tesco que surge como imbatvel, em que, em
suma, o indivduo observa no tijolo as suas
potencialidades de construo ou de destrui-
o sem ainda ter a certeza quais delas prefira,
num panorama destes que o realismo em
cinema, hoje, me parece privilegiar os re-
tratos s descries. Como se nessa parti-
cularizao da realidade que se d a ver se
unissem trs vrtices o retratado, quem
retratou e quem v o retrato promovendo
uma construo triangular, mais ou menos
equiltera mas ao menos comum, que, ao
manter a individualidade de todos estabelece
- por isso mesmo e mesmo assim - pontes
de contacto. Como se, ainda, a nica ma-
neira de estabelecer tal contacto fosse atra-
vs do indivduo e da carga universalizante
que ele tem ou pode ter. Como se, afinal,
diluio do indivduo no mundo global
correspondesse, em gesto poltico a um tempo
subversivo e utpico, a afirmao do indi-
vduo como mundo globalizvel.
Tenho que confessar que estas minhas
ltimas reflexes tm por pano de fundo casos
actuais de realismo Jos Luis Gurin em
Espanha, Abbas Kiarostami no Iro e Pedro
Costa em Portugal que no obviam, na-
turalmente, a existncia de outras prticas ou
outras propostas actuais igualmente realis-
tas dados os seus objectivos ticos, mas que
pessoalmente me interessam menos em ter-
mos estticos. a atitude destes realizado-
res, concretizada em pelo menos alguns dos
seus filmes, tanto nos retratos executados
como nas opes cinematogrficas feitas, que
me interessa agora realar brevemente.
Tm algo de comum: seja Gurin e a sua
inveno da narrativa numa realidade forjada
como acontece em Tren de Sombras ou a sua
exposio de narrativas em realidades em
convulso como o caso de En Construccin,
seja Kiarostami e o falso documentrio em
Dez ou a falsa fico em Atravs das Oli-
veiras, seja Costa e a sua imerso em corpos
de um bairro em Ossos ou a sua imploso
em grandes planos de rostos em No Quarto
da Vanda, h uma convico partilhada de
que todos os planos devem ter gente l
dentro
8
, no duplo sentido de serem habita-
dos por gente (e no s por personagens) e
de serem habitados por eles, realizadores, que
impem um ponto de vista sem artifcios. Sem
artifcios, repito: de raiz, pela colocao da
cmara, para observar e assim poder ser
observado; de forma, pela durao dos pla-
nos, para deixar viver e assim ser vivido; de
resultado, pela montagem que privilegia o
corte, fazendo da elipse no uma mera figura
de estilo mas um estilo de vida, carregando
de significado o que no se v por forma a
que o visto ganhe mais sentido. Isto: no h
artifcio no ponto de vista porque ele despo-
jado, aberto, dado e to carente quanto o
da realidade que se filma, e por isso respeita
o ritmo e a pulsao da matria humana de
quem filma e de quem filmado.
Realidade do e no cinema. Bi-unvocas.
Descobrimos agora uma maneira de um certo
realismo actual operar nesta bi-univocidade:
mais do que assumindo-a (o que j de
monta, muitos nem dela se apercebem por
87 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
mais que inevitavelmente a pratiquem), di-
zia, mais do que assumindo-a, vivendo-a.
Sendo vida atravs da utilizao da matria
humana do retratado como do retratista
como matria flmica.
Outro tipo de objeco pressinto em vs
agora: que em qualquer filme a vida est
presente, pelo menos nessa presena ausente
ou ausncia presente a que Christian Metz
j havia feito referncia h tanto tempo, isto
, que tudo num filme respira e pulsa vida,
seja ele qual for e seja ela qual for.
Contudo, o que torna especial este novo
realismo quanto faz repousar no retrato a
sua funo, a sua estratgia e a sua fora.
Funo, estratgia e fora que, paradoxalmen-
te, no so s individuais mas tambm uni-
versais. Como se estes retratos fossem o sinal
destes tempos de isolamento do eu; como se
s a partir da aceitao desse isolamento o
seu estilhaamento fosse desejvel; como se
s com esse isolamento nos percebssemos
como membros, no de um movimento
colectivo maior, mas de um colectivo que
pode ser posto em movimento. No h pontes,
h tneis. Cabe s vidas individuais escav-
los por entre os subterrneos do que teima-
mos em ter em comum. Ir ao encontro das
pessoas, cada uma delas portadora de uma
unidade que transmissvel, cada uma delas
personificao de uma identidade que impor-
ta conhecer, cada uma delas em dilogo
consigo, com o realizador e connosco atra-
vs de um filme e para alm dele. Por mais
que esses retratos possam ser, por
inevitabilidade mesma ou por opo (do
retratado ou do retratista) to ficcionados
quanto reais, to captados na sua sinceridade
como interventivos na sua complexidade, os
filmes em causa so construdos respeitando
um compromisso com o objecto do olhar e
o sujeito do olhar (autor ou espectador) que
passa pela oferta de uma manipulao m-
nima para que assim possa ser interveno
mxima: cinema que se faz para nos pro-
vocar um fazer, que se faz para nos fazer
nesse seu fazer, em que, portanto, o ritmo
da vida nos oferecido na sua durao
especfica, na sua durao lenta, na sua
durao sofrida, na sua durao enigmtica.
E ns com ela. O alm definitivamente aqui.
No por acaso que o tipo de plano pri-
vilegiado por estes autores (pelo menos em
En Construccin, Dez e No Quarto da Vanda)
seja o plano fixo, como se nessa imobilidade
da cmara a vida discorresse melhor, e o
realizador com ela, naquilo que a sua atitude
receptiva ao pulsar que vem de l; e muito
menos por acaso que o tempo dos planos
seja habitualmente longo ou mesmo em
sequncia, retomando o gesto rosselliano de
deixar a vida acontecer na sua durao
contnua. Uma luta contra a descontinuidade
espacial e temporal, que, afinal, so apangio
do especfico cinematogrfico? No, mais do
que isso: uma luta pelo contnuo espacial e
temporal que podem ser apangio de certos
factos flmicos contra outros menos submer-
gidos por preocupaes de construir a favor
das pessoas. Isto : a potica da rejeio
continua, sobrevivncia como sempre foi
face a modelos gastos ou nem por isso to
novos assim, mas agora sulcada nos rostos
individuais. Este cinema, dos poros e das
rugas, o dos poros e das rugas de pessoas
que so ou no so como ns, e nesse ser
ou no ser como ns nos sentimos a ns,
enquanto seres verdadeiramente humanos,
acometidos por angstias polticas e assom-
brados por alternativas cvicas, mas final-
mente tranquilos por saber que a nossa
solido, que toda a solido, partilhvel.
Que a identidade resiste ao anonimato da
globalizao. Que a comunicao possvel
entre lnguas que no se dominam. Que
aquele retrato me ajudou a completar o meu.
Que o meu retrato pode ajudar a completar
o de todos. Que, no fundo, so esses os
tijolos que nos restam. Que, afinal, so eles
que nos facultam a realidade: a, quando
menos se espera.
88 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Bibliografia
Cabrita, Antnio, O trabalho da soli-
do, in Cartaz, Jornal Expresso, 08.11.97.
Liandrat-Guigues, Suzanne (antol.).
Barthlemy Amengual du Ralisme au
Cinma, Paris, Nathan, Col. Rf, s/n, 1997.
Lotman, Yuri, Esttica e Semitica do
Cinema, Lisboa, Editorial Estampa, Col.
Imprensa Universitria, s/n, 1978.
Sadoul, Georges. Histoire de lArt du
Cinma - des origines nos jours, Paris,
Flammarion, 4 edio revista e aumentada,
1955 [1949].
_______________________________
1
Universidade do Algarve.
2
Georges Sadou, Histoire de lArt du Cinma
- des origines nos jours, Paris, Flammarion, 4
edio revista e aumentada, 1955 [1949], pp 19-
31.
3
Para alm de tudo o resto, porque ambos
foram protagonizados por actores ou quem a sua
vez quis fazer.
4
O mesmo raciocnio aplicvel ao interior
do prprio filme quando pensamos no recurso s
trucagens e aos efeitos especiais, que, no caso,
so unicamente outros campos onde esta bi-
univocidade entre real e ilusrio se joga.
5
V. a propsito Suzanne Liandrat-Guigues (antol.).
Barthlemy Amengual du Ralisme au Cinma, Paris,
Nathan, Col. Rf, s/n, 1997, pp 24-26.
6
Yuri Lotman, Esttica e Semitica do Ci-
nema, Lisboa, Editorial Estampa, Col. Imprensa
Universitria, s/n, 1978, p. 41.
7
Respectivamente, em White Heat de Raoul
Walsh (1949) e Mr Smith goes to Washington,
de Frank Capra (1939).
8
Ideia reformulada a partir da seguinte citao
de Pedro Costa a propsito do seu filme Ossos: Para
mim uma questo de princpio, neste filme no
h um plano vazio, isto , um plano sem a presena
humana., in Antnio Cabrita, O trabalho da
solido, Cartaz, Jornal Expresso, 08.11.97, p. 9.
89 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
La identidad de gnero:
aproximacin desde el consumo cinematogrfico
entre los estudiantes de la Universidad del Pais Vasco
1
Casilda de Miguel, Elena Olabarri, Leire Ituarte
2
Dcadas despus de que las tericas
flmicas feministas
3
pusieran sobre el ta-
pete la mediatizacin patriarcal que el cine
ofreca de la mujer y, ante la posibilidad
de que el panorama cinematogrfico haya
podido sufrir notables cambios en relacin
con su consumo y sus estrategias de
represent aci n, buscamos recabar
informacin sobre el valor del cine para
una audiencia joven en una poca en la que
nuestra relacin con la imagen ha variado
tan sustancialmente. Tratamos de explorar,
as mismo, hasta que punto la supuesta
transformacin de los roles de gnero ha
sido asimilada por el discurso cinemato-
grfico que consume esta generacin que
ha crecido con la institucionalizacin ya
consolidada de las proclamas feministas.
Metodologa y descripcin de la muestra
La tcnica de investigacin seleccionada
ha sido la encuesta. Un total de 405 alumnos
de la Universidad del Pas Vasco la
contestaron durante el mes de Mayo de 2001,
siguiendo el mtodo de muestreo por con-
glomerados mediante una estratificacin pro-
porcional por licenciaturas. El nmero de
cuestionarios utilizados, tras un proceso de
depuracin y revisin de su consistencia se
redujo a 379. El error muestral tolerado fue
+ 5,9% con un nivel de confianza del 95.5%
para p= q = 50.
Atendiendo a la variable edad, se trata
de un grupo bastante homogneo: el 86.6%
de los encuestados oscila entre los veinte y
los veinticuatro aos. La presencia por gnero
de alumnos en el aula, en el momento de
realizar la encuesta, fue de un 36.51% chicos
frente a un 64.49% chicas
Con respecto a la disponibilidad eco-
nmi ca no se observan di ferenci as
reseables por gnero salvo una muy sutil
mayor solvencia en los chicos que en las
chicas.
Resultados
1. Consumo cinematogrfico
El primer dato que nos interesa conocer
es el comportamiento de los estudiantes con
respecto a una de las actividades de ocio:
el consumo cinematogrfico.
En funcin de la frecuencia de asistencia
al cine, este colectivo se distribuye del
siguiente modo:
De acuerdo con estos resultados pode-
mos afirmar que el 55.9% acuden al cine
como mnimo una vez al mes lo que sig-
nifica que, en mayor o menor medida,
forman parte del pblico de cine.
Comprobamos adems que los espectadores
que acuden con una alta frecuencia al cine
lase, el ncleo cinfilo (11.2%) es
considerablemente mayor que el que no
acude nunca (0.8%). Ni la variable gnero,
ni el presupuesto real del que disponen estn
relacionados con su nivel de asistencia al
cine.
Considerando la evolucin que, en
relacin con la asistencia al cine, se ha
podido producir en nuestros alumnos a lo
largo de su vida, se observa en la tabla
1- que el inters por el cine parece
desarrollarse en la poca universitaria. Un
periodo marcado no slo por una mayor
libertad en el uso y disfrute del tiempo para
el ocio, sino tambin, por una mayor
inquietud cultural que tiene su reflejo l-
gico en el terreno audiovisual.
a i c n e u c e r F %
e n i c l a a v a v n u N % 8 , 0
o d n a u c n e z e v e D % 3 , 3 4
s e m l a z e v a n u s o n e m l A % 4 , 0 2
s e m l a z e v a n u e d s M % 3 , 4 2
a n a m e s a l a s e c e v s m o a n U % 2 , 1 1
90 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Tabla 1
Epoca de ir ms al cine
l e n e a i c n e u c e r F
l a u t c a o t n e m o m
e d o a c n u N
o d n a u c n e z e v
s m o a n U
s e m l a s e c e v
s m o a n U
a n a m e s a l a s e c e v
a i c n a f n I % 3 , 7 % 4 , 2 % 0 , 0
o t u t i t s n I % 4 , 7 2 % 3 , 5 1 % 4 , 2
d a d i s r e v i n U % 4 , 5 3 % 8 , 8 6 % 8 , 7 8
a i c n e r e f i d y a h o N % 9 , 9 2 % 5 , 3 1 % 8 , 9
s e l a t o T % 0 , 0 0 1 % 0 , 0 0 1 % 0 , 0 0 1
Resulta tambin relevante comprobar que
slo un 19.2% de los encuestados reconoce
la poca de instituto como el periodo en el
que ms iban al cine. Este dato cuestiona
la tesis de aquellos que consideran que son
los ms jvenes los que de forma abrumadora
acuden a las salas
4
. El resultado de nuestra
encuesta coincide, en este sentido, con el
informe de la SGAE (2000)
5
.
2. Factores de influencia
2.1. Actividades de ocio
Ir al cine no parece una actividad prioritaria
en los hbitos de ocio de este sector.
Considerando los resultados de esta
pregunta de respuestas mltiples ver tabla
2 , y en relacin con la frecuencia de
asistencia al cine se observa que la actividad
prioritaria es salir con los amigos. El contacto
con los medios de comunicacin, lase or
msica, ver televisin o vdeos, ir al cine-
ocupa un segundo lugar dentro de sus
preferencias. La actividad ms minoritaria es,
sorpresivamente, la de conectarse a la red.
Otro dato llamativo es la distancia que marcan
los grficos entre la prctica del deporte y
la asistencia al cine.
Tabla 2
Actividades de tiempo libre por gnero
No existen diferencias sustanciales en los
hbitos de ocio, en funcin del gnero. Tanto
los chicos como las chicas comparten como
actividad prioritaria salir con los amigos.
Tampoco existen diferencias en el tiempo que
dedican a estar conectados a la red. Como
ancdota cabe observarse que existe una muy
ligera diferencia que afecta al tiempo que
dedican las chicas a las actividades de ir al
cine, ver televisin, leer, oir msica, frente
al tiempo que los chicos dedican al deporte.
3. Criterios de eleccin de las pelculas
Cuando nuestros estudiantes deciden ir al
cine. Cules son los factores y criterios que
condicionan la eleccin de la pelcula que
van a ver?
Las tres primeras razones que ms
influyen en la decisin de ver una pelcula
son coincidentes (ver grfico 1). En primer
lugar la opinin de los amigos, seguida del
gnero cinematogrfico y la crtica especi-
alizada. Se observa una relacin proporcio-
nal inversa entre la publicidad y la cinefilia.
El grfico muestra que, tambin en el terreno
del consumo cinematogrfico, la publicidad
parece un reclamo bastante efectivo de
persuasin para el pblico indeciso o no fiel.
La incidencia de los premios cinematogr-
ficos muestra ser, a su vez, un reclamo
proporcional al incremento en la asistencia.
Lo mismo sucede con el director, que parece
recabar ms la atencin de los cinfilos que
la de aquellos que van poco al cine.
Resulta llamativo, a primera vista, el
distinto poder de reclamo que tienen el actor
y la actriz protagonistas como criterio de
eleccin. La mayor atencin al reparto
masculino podra deberse a que el 63% de
las personas que han contestado a la encuesta
d a d i v i t c A s a c i h C s o c i h C
s o g i m a n o c r i l a S % 7 , 2 3 % 9 , 2 3
n i s i v e l e t r e V % 4 , 8 1 % 4 , 7 1
d e r a l a e s r a t c e n o C % 9 , 3 % 9 , 3
a c i s m r i o y r e e L % 6 , 2 2 % 7 , 8 1
e n i c l a r I % 9 , 2 1 % 6 , 9
e t r o p e d r e c a H % 4 , 9 % 6 , 7 1
91 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
Grfico 1
Criterios de eleccin de las pelculas
son mujeres, pero tambin podramos encon-
trar otras razones tales como el tradicional
monopolio del protagonismo masculino en la
historia cinematogrfica.
La compaa como factor influyente es,
lgicamente, ms importante en aquellos
sectores que menos asisten al cine.
En lo que a la variante gnero se refiere
tabla 3 las diferencias ms significativas,
an siendo bajas, afectan al director que
parece ser un criterio de eleccin de ms peso
en los chicos frente a la publicidad que
adquiere ms importancia en el caso de las
chicas.
Tabla 3
Criterios de eleccin de las
pelculas por gnero
4. Actores y actrices favoritos
La diversidad de gustos en cuanto a la
preferencia de actores y actrices es notable. Un
total de 130 actores frente a 106 actrices. A la
luz de la tabla 4 resulta significativa la dife-
rencia porcentual entre el actor y la actriz ms
citados y el resto. Otro dato curioso es comprobar
la sustancial diferencia de edad entre los actores
y actrices favoritos y la de los encuestados,
s o i r e t i r C s a c i h C s o c i h C
r o t c e r i D % 2 , 6 % 0 , 1 1
r i e u q a l n o c a i a p m o C % 2 , 6 % 5 , 9
z i r t c A % 0 , 4 % 4 , 6
r o t c A % 9 , 5 % 5 , 7
d a d i c i l b u P % 8 , 2 1 % 9 , 7
s o i m e r P % 8 , 8 % 1 , 6
situndose en la cima de la popularidad actores
que ya han cumplido los sesenta.
Tabla 4
Los actores favoritos
s o c i h C
t r e b o R o r i N e D 2 , 1 4
l A o n i c a P 9 , 4 1
n o s i r r a H d r o F 3 , 2 1
n a e S y r e n n o C 8 , 8
r e i v a J m e d r a B 9 , 7
m o T s k n a H 9 , 7
o d r a u d E a g e i r o N 9 , 7
l e M n o s b i G 1 , 6
k c a J n o s l o h c o N 1 , 6
t n i l C d o o w t s a E 3 , 5
y n o h t n A s n i k p o H 3 , 5
d r a w d E n o t r o N 3 , 5
d a r B t t i P 3 , 5
s a c i h C
t r e b o R o r i N e D 0 , 7 2
d r a h c i R e r e G 5 , 4 1
d a r B t t i P 0 , 3 1
n a e S y r e n n o C 0 , 2 1
n o s i r r a H d r o F 0 , 1 1
r e i v a J m e d r a B 0 , 0 1
o d r a u d E a g e i r o N 0 , 9
y n o h t n A s n i k p o H 0 , 8
l e M n o s b i G 5 , 7
m o T s k n a H 5 , 7
m o T e s i u r C 0 , 7
s a l o h c i N e g a C 0 , 6
e g o r e G e i n o o l C 0 , 6
92 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Se puede sealar, en primer lugar, el alto
grado de coincidencia en la eleccin aunque
el orden porcentual vare. Como caracters-
ticas de los actores destacan su
profesionalidad, la versatilidad, el estilo, el
carcter, el atractivo fsico y la credibilidad.
Si el modelo de referencia para los chicos
es el prototipo de hombre varonil, duro,
activo, con poder, en el caso de las chicas,
se suma a este prototipo, el del hombre ms
sensible ( Richard Gere), vulnerable (Harrison
Ford) y el aadido del atractivo fsico.
Tabla 5
Actrices Favoritas
Con respecto a las actrices tal como
se muestra en la tabla 5 considerando las
diferencias por gnero, observamos que los
chicos citan a un total de 75 actrices frente
a las 77 que citan las chicas. De las actrices
favoritas destacan su profesionalidad, fsico,
simpata, personalidad, sensualidad, atracti-
s o c i h C
a i l u J s t r e b o R 2 , 6 2
e p o l n e P z u r C 6 , 2 1
n a s u S n o d n a r a S 7 , 0 1
e l l e h c i M r e f f i e f P 7 , 0 1
a r d n a S k c o l l u B 7 , 9
e i d o J r e t s o F 8 , 7
a n o n n i W r e d i a R 8 , 6
a n a t i A n j i G z e h c n S 8 , 6
n e m r a C a r u a M 8 , 5
t e i l u J e h c o n i B 8 , 5
n e r u a L l l a c a B 9 , 4
s a c i h C
a i l u J s t r e b o R 4 , 1 5
a r d n a S k c o l l u B 0 , 1 1
n a s u S n o d n a r a S 5 , 0 1
g e M n a y R 8 , 8
e i d o J r e t s o F 3 , 8
l y r e M p e e r t S 3 , 8
n e m r a C a r u a M 3 , 8
a n o n n i W r e d i a R 7 , 7
e p o l n e P z u r C 2 , 7
e l l e h c i M r e f f i e f P 1 , 6
t e i l u J e h c o n i B 5 , 5
vo, belleza, capacidad, humor, sinceridad,
versatilidad. El orden de preferencias de las
chicas muestra una combinacin entre el
modelo idlico de una feminidad como la de
Julia Roberts o Sandra Bullock y el carisma
y la fuerza de una Susan Sarandon o una
Jodie Foster. Parece que Julia Roberts para
las chicas y Robert de Niro para los chicos
se erigen como los modelos actuales de
identificacin de la feminidad y la
masculinidad respectivamente.
La percepcin del grado de erotizacin
en la construccin del cuerpo responde a
la idea de que en el cine actual sigue siendo
general una mayor erotizacin del cuerpo
femenino. No se aprecia el cambio que se
va produciendo en la publicidad, las teleseries
o los filmes para adolescentes donde se puede
observar una erotizacin cada vez mayor del
cuerpo masculino. Quienes consideran que
existe una mayor erotizacin del cuerpo
femenino comparten la idea del mayor
protagonismo del hombre sobre la mujer. Lo
que nos permite observar que se mantiene
el estereotipo clsico: hombre, protagonista,
activo frente a la mujer, secundaria, pasiva,
objeto de deseo. Y quienes consideran que
la erotizacin del cuerpo es la misma, tambin
consideran que tanto unos como otras gozan
del mismo protagonismo.
5. Cine e identidad de gnero
Otra cuestin sin duda significativa para
nuestro anlisis fue la de saber qu es lo que
los encuestados entienden por la denominacin
cine de mujeres.
Observando el grfico 2 no aparecen
diferencias significativas aunque los dos
primeros grupos usuarios ocasionales y
usuarios habituales entienden en mayor
proporcin que el cine de mujer es sinnimo
de cine de amor frente al grupo de los mas
cinfilos que definen el cine de mujeres como
aquel protagonizado por una mujer. Desde
el punto de vista de la construccin de la
identidad sorprende lo conservador de la
respuesta en referencia a su propia realidad
de vida, mantenindose el planteamiento de
los roles convencionales.
Es importante contrastar estos datos con el
resultado de la siguiente pregunta que les for-
mulamos. Qu entiendes por cine de hombres?
93 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
Grfico 2
Definicin de cine de mujeres
Grfico 3
Definicin de cine de hombres
Por medio del grfico 3, vemos que la
definicin de cine de hombres no est di-
rectamente relacionada con la frecuencia de
asistencia al cine. Las dos respuestas
mayoritarias a esta cuestin son, en primer
lugar, definir el cine de hombres como un
cine de accin. Llama la atencin el alto
porcentaje de alumnos que responden con un
No saben / No contestan. Conviene sealar
tambin como dato de inters que el
porcentaje de quienes consideran el cine de
mujeres como aquel dirigido por una mujer
supera al de quienes consideran que el cine
de hombres es el dirigido por un hombre.
El motivo de este contraste puede residir bien
en que socialmente sigue considerndose que
el hombre es la norma a partir de la cual
se construyen los roles de genero y no se
cuestiona, bien en que la direccin femenina
es, todava hoy, excepcional.
Lo mismo sucede con el protagonismo.
El cine de mujeres se identifica ms como
el protagonizado por una mujer mientras que
la asociacin entre el protagonismo mascu-
lino y la denominacin de cine de hombres
parece tener menos adeptos. En general que
el protagonista sea un hombre parece lo
natural y no resulta reseable. Una vez ms
la norma social determina los indicadores de
gnero.
El apartado otros, recoge respuestas
marginales y variadas. Frmulas combina-
das de algunas de las propuestas lanzadas
por nosotros, tales como un cine hecho por
mujeres que cuenta historias de mujeres
protagonizadas por una mujer, hasta otras
que recogen la opinin tanto de que no hay
diferencias reseables como de que se tratara
de un cine que interesa a las mujeres.
Si la realidad es producto de las
interpretaciones que hacemos del
conocimiento diario, podramos pensar, con
respecto al tema de la identidad, que o bien
se desconoce o bien no interesa. La
concepcin que las personas encuestadas
tienen del cine de gnero es muy tipificada
y sin duda indicativa de una escasa conciencia
de los debates actuales de gnero.
94 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Conclusiones
Los datos ms significativos que se
pueden extraer de esta encuesta, a tenor de
lo ya expuesto, son:
Los estudiantes de la U.P.V. son con-
sumidores habituales de cine. Ni la diferen-
cia de gnero ni el presupuesto mensual del
que disponen estn relacionados
objetivamente con el mayor o menor con-
sumo cinematogrfico.
La cinefilia se desarrolla en la poca
universitaria.
No existen diferencias sustanciales en
los hbitos de ocio. Tanto los chicos como
las chicas comparten como actividad
prioritaria salir con los amigos. No se aprecian
diferencias en el tiempo que dedican a estar
conectados a la red pero s un ligera variable
que afecta al tiempo que dedican las chicas
a actividades tales como ir al cine, ver
televisin, leer u or msica frente al que los
chicos emplean en practicar deporte. Estos
resultados parecen evidenciar que el cine no
es la fuente de autoridad dominante en la
construccin de modelos de referencia.
En la decisin de la eleccin de una
pelcula es prioritaria la opinin de los
amigos. Considerar la crtica especializada
como referente no se ajusta a la realidad. El
director parece ser un criterio de eleccin de
ms peso en los chicos frente a la publicidad
que adquiere ms importancia en el caso de
las chicas, aunque la diferencia no es muy
significativa.
La totalidad de los estudiantes
encuestados afirma que lo que busca, cuando
va al cine, es en primer lugar entretenimiento
y en segundo lugar emocin. Con una ligera
diferencia se observa que nuestras estudiantes
se interesan ms por los valores humanos,
la cultura y el conocimiento frente a los
estudiantes que parecen preferir los efectos
especiales y los planteamientos estticos.
En lo que a las preferencias de los
gneros cinematogrficos se refiere no se
detectan diferencias sustanciales entre los
chicos y las chicas. La comedia es el gnero
ms valorado. Slo como ancdota, ya que
la divergencia es mnima se podra sealar
el inters que los chicos muestran por la
ciencia ficcin, el cine de accin y en menor
medida por el cine negro frente al que las
chicas demuestran por el drama y el cine de
terror.
Las preferencias en cuanto a actores y
actrices es tambin indicativa de una
diversidad de gustos notable. Resulta curioso
comprobar la sustancial diferencia de edad
entre los actores y actrices favoritos y la de
los encuestados.
La percepcin del grado de erotizacin
en la construccin del cuerpo responde a la
idea de que en el cine actual sigue siendo
general una mayor erotizacin del cuerpo
femenino.
Quienes consideran que existe una
mayor erotizacin del cuerpo femenino
comparten la idea del mayor protagonismo
del hombre sobre la mujer. Quienes estiman
que la erotizacin del cuerpo es la misma,
tambin opinan que tanto unos como otras
gozan del mismo protagonismo.
Se manifiesta una actitud conservadora
en relacin con la identidad de gnero. La
identificacin del cine de mujeres con el cine
de amor y del cine de hombres con el cine
de accin, refleja un modelo de identidad
definido previamente en la construccin de
gnero.
Conviene sealar que el porcentaje de
quienes identifican el cine de mujeres
como aquel dirigido por una mujer supera
al de quienes estiman que el cine de
hombres es el dirigido por un varn. El mo-
tivo de este contraste puede residir bien en
que socialmente sigue considerndose que el
hombre es la norma a partir de la cual se
construyen los roles de gnero y no se
cuestiona, bien en que la direccin femenina
es todava hoy, excepcional.
Se advierte una despreocupacin tanto
por los debates como por las propuestas
alternativas de creacin en torno a la
representacin de la identidad de gnero.
En definitiva, ni el panorama cinemato-
grfico ni su consumo parecen reflejar al
mismo ritmo los cambios que se han venido
produciendo tanto en la realidad social como
en los debates de gnero. Consideramos una
tarea urgente que la progresiva
institucionalizacin de las proclamas de la
igualdad sean parejas a la introduccin de
los debates de gnero en las propuestas
educativas, polticas y socioculturales que
modelan nuestro imaginario colectivo.
95 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
Bibliografa
Altares G. (2001) Qumica aplicada en
Academia, n 29, invierno, pp 6-18
Butler J. (1990) Gender trouble.
Feminism and the subversion of identity,
London: Routledge.
Foucault M. (1976) Histoire de la
sexualit (vol. l, ll, lll), Paris: Gallimard. Trad.
Cast. (1993) Historia de la sexualidad,
Madrid: Siglo XXl.
Giddens A., (1997) Modernidad e
identidad del yo. El yo y la sociedad en la
poca contempornea, Barcelona: Penn-
sula.
Haskell M. (1973), From reverence to
rape. The tratment of women in the movies,
Chicago: The University of Chicago Press.
Johnston C. (1973), Womens cinema
as counter-cinema. Notes on Womens
ciema SEFT., Glasgow. Reimpreso en Screen
(1991: 24-31)
Kaplan E.A. (1978), Women in film noir,
London: BFI.
Kuhn A., (1982) , Womens pictures:
feminism and cinema, London: Routledge &
Kegan Paul. Trad. Cast. (1991) Cine de
mujeres, feminismo y cine, Madrid: Ctedra.
Lauretis T. de (1984) Alice doesnt:
feminism, semiotics, cinema, London:
MacMillan. Trad. Cast. (1992) Alicia ya no.
Feminismo, semitica, cine, Madrid: Ctedra.
Lauretis T. de, (1987) Technologies of
gender. Essays on theory, film and
fiction,London: MacMillan Press Ltd.
Mulvey L. (1975) Visual pleasure and
narrative cinema en Screen, n 16, Autumn,
pp. 6-68. Trad. Cast. (1988) Placer visual
y cine narrativo en Documentos de trabajo,
Valencia: Fundacin Instituto Shakespeare/
Instituto de Cine y RTV.
Rosen M. (1973), Popcorn venus. Women,
movies and the american dream, New York:
Avon.
VVAA, (2000), Informe SGAE sobre
hbitos de consumo cultural Madrid:
Fundacin Autor/ SGAE.
_______________________________
1
Este estudio constituye una pequea parte
de un proyecto de investigacin financiado por
la Universidad del Pas Vasco 1/UPV-00016.323-
H-13993/2001.
2
Universidad del Pas Vasco.
3
M. Haskell (1973), M. Rosen (1973), C.
Johnston (1973), L. Mulvey (1975), E.A. Kaplan
(1978), entre otras.
4
Tal como seala Altares G. (2001) en
Qumica aplicada en Rev. Academia, n 29,
invierno, pp. 6- 18, al afirmar que en teora los
adolescentes son los reyes del cine en Espaa,
en eso coinciden prcticamente todas las personas
consultadas durante la elaboracin de este
reportaje.
5
VVAA (2000), Informe SGAE sobre hbitos
de consumo cultural, Madrid: Fundacin Autor/
SGAE, p.72 que constata que El ncleo cinfilo
se configura con jvenes menores de 35 aos,
especialmente entre los 21 y los 24 aos.
96 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
97 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
Linhas de fuga na cinematografia brasileira contempornea
Denize Correa Araujo
1
Eu percebia maneiras de ver cuja diver-
sidade me interessava muito mais que os
prprios objetos. (Paul Valry)
Este ensaio pretende, em primeiro lugar,
contextualizar a produo cinematogrfica
contempornea brasileira dentro da estrutura
do rizoma, assim definida por Gilles
Deleuze e Flix Guattari como no arbrea
com raiz unvoca, mas sim mltipla, com
linhas no s de segmentaridade como tam-
bm de desterritorializao e fuga. Para maior
clareza, preparei uma imagem-mapa
cartogrfico do contexto atual. As cores
servem para melhor visualizao. Em verme-
lho citei alguns filmes que seguem a tendn-
cia do momento, ou seja, uma leitura da
problemtica social. Em verde esto as li-
nhas de fuga que, neste momento, apesar de
no to valorizadas, representam uma ten-
tativa de produzir textos mais poticos ou
mesmo mais reflexivos. Em amarelo esto
alguns filmes que no podem ser conside-
rados em nenhuma das duas tendncias
anteriores, mas tm algumas caractersticas
de uma ou outra.
A escolha do rizoma surgiu do prprio
conceito do termo, enquanto representativo
do ecletismo da cinematografia brasileira e,
ao mesmo tempo, da estrutura slida de
linearidades entremeadas por estruturas mais
frgeis, dceis, mas persistentes. Filmes em
vermelho, tais como Cidade de Deus, O
Invasor e Carandiru, mesmo tecnicamen-
te bem finalizados, reforam os esteretipos
da violncia, pobreza e subdesenvolvimento,
que j fazem parte do imaginrio estrangei-
ro, que assim identifica nosso cinema. Os
filmes em amarelo trazem novas leituras, mas
ainda no fazem parte de linhas de fuga no
rizoma. Esto de alguma maneira linkados
s tendncias atuais. Amarelo Manga por
exemplo, retrata e maximiza o submundo,
criando uma esttica do kitsch, que remete
aos filmes de Lina Wertmuller, mas tam-
bm bastante violento. Lisbela e o Prisio-
neiro segue a linha da Rosa Prpura do
Cairo, mas por vezes se torna um pouco
melodramtico e romantizado. O Homem
que Copiava bem feito e traz novo enfoque,
mas apresenta solues simplistas, embora as
mesmas possam ser lidas obliquamente, de
maneira irnica.
No obstante o cinema brasileiro atual
tenha seguido rumos mais definidos dentro
de uma esttica de exportao, outros segmen-
tos, mesmo obscuros e aparentemente sem
grande importncia, subsistem e se alimen-
tam de poucas fontes. So os filmes-arte,
oferecendo seus textos reflexivos contem-
plao e seguindo teimosamente linhas de
fuga como se quisessem pertencer
despertencendo. Dentre estes, selecionei dois
longa-metragens, Durval Discos (Anna
Muylaert, 2002) e Janela da Alma (Joo
Jardim e Walter Carvalho, 2001), que, em
seus caminhos diferenciados, oferecem
momentos de sensibilidade, destinados a um
pblico mais reflexivo e menos comercial.
Sem pretender condenar o cinema mais
comercial brasileiro, que importante e
trouxe o pblico de volta ao produto naci-
onal, nesse ensaio minha inteno enfatizar
o outro lado, que tambm parte dos tantos
brasis que coexistem no imenso cenrio do
pas.
Quando Mikhail Bakhtin descreve um
dialogismo, uma polifonia de vozes dentro
do texto dostoyevskiano, a idia que sempre
98 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
me vem em mente a de um rizoma, no
s pela sua fisicalidade mas por sua filo-
sofia digressiva, sempre escapando ao es-
tanque, ao tradicional, ao monocrdio. Mas
me parece que o rizoma contm mais do
que apenas o lado de fuga, pois oferece
simultaneamente as linearidades, os plats,
evitando maniquesmos e dicotomias ultra-
passadas. Como dizem Deleuze-Guattari, h
o melhor e o pior no rizoma: a batata e a
grama, a erva daninha (Deleuze-Guattari,
2000: 15).
Em Janela da Alma, Wim Wenders diz
que atualmente poucos filmes deixam es-
pao para a imaginao. Parece que a
sucesso verbal e no-verbal deve ser in-
tensa, propositalmente evitando algum tem-
po para a imaginao. Os dois filmes es-
colhidos, por outro lado, nos recompensam
com visuais e dilogos que fazem pensar:
pensar com imagens desfocadas, em Jane-
la da Alma, e pensar com imagens sim-
blicas em Durval Discos, sendo que estas
levam a um segundo lado, que , na ver-
dade, a proposta da diretora Anna Muylaert,
quando explica seu filme, dizendo que
como um dos antigos longplays: tem o lado
A e o B. Enquanto no lado A o roteiro segue
um rumo at bastante previsvel, no lado
B transmite as conseqncias da solido, da
falta de perspectiva e da esperana de uma
nova vida, representada por Kiki, a menina
que surge inesperadamente na vida de
Carmita, a me idosa e Durval, seu filho
solteiro. Simbolicamente podendo se referir
ao ps-modernismo e sua libertao de um
passado incmodo ou prpria existncia
humana, filosoficamente questionada, fazen-
do entrever seus vazios, seus vcuos e seus
temores, Durval Discos vai literalmente
desenhando um quadro pattico e assusta-
dor que termina por revelar as angstias e
fragilidades do ser humano e, especialmen-
te, da velhice e de seu companheiro, um
desconforto pelo que poderia ter sido, pelo
que o futuro reserva, pela insegurana do
presente. Os espaos to confortveis e
esperanosos do lado A se transformam em
pesadelos no lado B. Apesar de prenunci-
ados sutilmente, surpreendem o espectador
com sua fora intensa, exigindo uma toma-
da de posio frente ao questionamento
premente.
O que aproxima os dois filmes, aparen-
temente to diversos, a surpresa que ofe-
recem ao espectador, j to condicionado s
frmulas hollywoodianas, onde o inusitado
parece ser proibido. Ambos os filmes seguem
caminhos rizomticos, passando por
linearidades e linhas de fuga, mas enquanto
Durval Discos nos conduz a um espao
quase surreal, Janela da Alma nos leva a
amplas estradas digressivas, entremeadas por
visuais desfocados e relaxantes, por espaos
em branco, como entrelinhas relevantes, que
constroem uma narrativa paralela, de entra-
das e sadas, e que denominei de potica
do desfocamento em artigo recentemente
escrito (Araujo, 2004: 6).
O tema do olhar parece ser conduzido
aleatoriamente, sem roteiro definido, ora se
referindo deficincia fsica, ora mental,
e por vezes sugerindo que a falta de viso
seria benfica ao forar espao para uma viso
interna, na mente. Saramago comenta que se
Romeu tivesse a acuidade dos olhos do falco,
provavelmente nunca teria se apaixonado por
Julieta, ao ver nela os pequenos detalhes da
pele ou as imperfeies das feies. Wim
Wenders menciona que s com culos con-
segue enquadrar melhor a cena.
99 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
Para Bakhtin, a alteridade a condio
da identidade: os outros constituem
dialogicamente o eu que se transforma
dialogicamente num outro de novos eus.
(Faraco, 1996: 125). Maria Teresa de Assun-
o Freitas complementa: o eu para Bakhtin
s existe a partir do dilogo com outros eus.
O eu precisa de colaborao dos outros para
poder definir-se e ser autor de si mesmo. Uma
nica conscincia no pode dar sentido ao
seu eu (Freitas, 1996: 175). Bakhtin define
trs categorias: o eu para mim (auto-percep-
o), o eu para os outros (como pareo aos
olhos dos outros) e o outro para mim (como
percebo o outro). Alm disso, observa que
posso ver o que o outro no pode (sua prpria
imagem e expresso) e o outro pode ver o
que eu no posso, favorecendo assim uma
complementaridade de vises (Freitas, 1996:
175).
Evgen Bavcar, ao comentar sobre sua
cegueira, lembra que a fotografia sempre
construda com o olhar do outro e muitas
vezes na mente que a imagem se forma.
Agns Varda, por outro lado, d um depo-
imento emocionado sobre as imagens que fez
de seu marido para t-lo mais perto dela aps
a morte, imagens to prximas que nos fazem
sentir o pulsar das veias, os poros se dila-
tando, a tez j marcada pela idade. Ao lado
de depoimentos to reflexivos h outros
irrelevantes, mas que mais uma vez carac-
terizam a estrutura rizomtica, onde a erva
daninha tambm tem seu lugar.
Enquanto Janela da Alma traz imagens
desfocadas que remetem a lugares distantes
e a outras paisagens mentais, Durval Dis-
cos, com suas cores vibrantes e elementos
distintos, produz o mesmo efeito, conduzin-
do o espectador para fora da cena, ajudando-
o a transcender a tela, a criar espaos para
reflexes filosficas, voltando ao filme sem-
pre que no mais conseguir suportar a pres-
so do exterior e saindo do filme tambm
quando este se torna absurdamente pesado.
O tom nostlgico em alguns depoimentos em
Janela da Alma dialoga com as cenas da
loja de Durval, com seus longplays repletos
de memria, de um imaginrio que est se
diluindo frente invaso de CDs. Quando
Rita Lee visita a loja, a emoo redobra e
remete o espectador aos shows da MPB,
era de ouro da msica brasileira. Por atalhos,
pode-se ainda dizer que os ecos desse pas-
sado glorioso convergem tambm nas figu-
ras emblemticas de um Saramago, de um
Manoel de Barros, de um Hermeto Pascoal,
ou de um Wim Wenders que, com seu Paris
Texas levou o cinema alemo a uma
transcendncia filosfica, questionando a
existncia, o relacionamento, a sobrevivn-
cia, temas tambm evocados em Durval
Discos.
Tanto a teoria do dialogismo de Bakhtin
quanto a do rizoma de Deleuze e Guattari
se referem a textos polifnicos e complexos,
com estruturas dinmicas e roteiros inusita-
dos. A diversidade de opinies e enfoques
em Janela da Alma sugere o mosaico de
citaes de Julia Kristeva, quando esta
discorre sobre a intertextualidade em textos
que no se limitam a descrever o bvio, e
onde as interfaces verbais e no-verbais
trabalham em complementaridade, evitando
redundncias, textos onde outras vozes
interagem, concordando, discordando ou
apresentando uma nova verso. Os depo-
imentos do vereador cego Arnaldo Godoy,
apesar de convergir com os do fotgrafo cego
em certos pontos, diferem radicalmente em
outros. Como Bakhtin comenta: Sem enten-
der a nova forma de viso, impossvel
entender corretamente aquilo que pela pri-
meira vez foi percebido e descoberto na vida
com o auxlio dessa forma (Bakhtin, 1981:
36). Ao contrrio disso, a timidez da menina
ao ter que usar culos tambm denota certos
pontos de convergncia com o que Hermeto
100 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Pascoal diz sobre sua deficincia, mas diverge
na maneira de encarar os fatos. Marjit
Rimminen, a cineasta finlandesa de animao,
se surpreendeu quando seus amigos no
notaram sua cirurgia para corrigir sua viso,
provando assim que o problema havia sido
superado e que sua percepo era mais
emocional do que real. Enquanto em sua
infncia havia sido tolhida em seus desejos,
agora pode ser o que quiser, at princesa. Os
fios da marionete, consideramos como rizoma
ou multiplicidade, no remetem vontade
suposta una de um artista ou de um operador,
mas multiplicidade das fibras nervosas que
formam por sua vez uma outra marionete
seguindo outras dimenses conectadas s
primeiras (Deleuze-Guattari: 2000, 16).
Quanto estrutura do rizoma, os dois
textos seguem caminhos diversos. Enquanto
Janela da Alma parece no ter comeo nem
fim, uma sucesso de plats com algumas
linhas de fuga, Durval Discos parece
seguir um grande plat no lado A e uma
imensa linha de fuga no lado B.
Todo rizoma compreende linhas de
segmentaridade segundo as quais ele
estratificado, territorializado, orga-
nizado, significado, atribudo, etc.;
mas compreende tambm linhas de
desterritorializao pelas quais ele
foge sem parar. H ruptura no rizoma
cada vez que linhas segmentares
explodem numa linha de fuga, mas
a linha de fuga faz parte do rizoma.
(Deleuze-Guattari, 2000: 18)
Ambos os textos desterritorializam os
espectadores em algum ponto de sua
trajetria. Em Durval Discos, a
desterritorializao ocorre a partir do momen-
to em que a imprevisibilidade comea a
ganhar espao, desconstruindo imaginrios,
escapando do esperado, levando para um
caminho sem volta. Parece que estamos
beira de um precipcio, com um veculo sem
freio. As cenas se aceleram, os universos
convergem, Kiki em sua inocncia desenha
com sangue, a me de Durval, em sua
insanidade, se recusa a agir racionalmente.
Durval forado a se posicionar, nada mais
ser como antes. O longplay finalmente se
quebra, aps tantos anos resistindo aos fatos.
Janela da Alma tambm
desterritorializa os espectadores, maneira
em que insere visuais inesperados,
desfocados, e depoimentos sem coeso, com
enfoques que levam a uma cartografia
errtica, tal qual um easy rider, incitando
a imaginao, provocando vazios como
estradas sem sada, para logo achar um
atalho, ou outra linha de fuga.
A escolha do corpus a ser analisado nesse
ensaio no privilegiou o gnero
documentrio ou o gnero fico, insinuan-
do que um seja mais potico que outro.
Sendo assim, Janela da Alma um
documentrio e Durval Discos, um filme
de fico. Este mais um ponto de con-
vergncia para esclarecer que ambos os
gneros possuem possibilidades de
transcendncia e reflexo. O que ambos tm
em comum a trajetria inesperada, a sur-
presa ao espectador, a estrutura diferenci-
ada. As divergncias se fazem sentir no
decorrer da edio: enquanto Janela da
Alma incita a imaginao ao apresentar
seus vazios, espao em branco para a ao
do espectador, Durval Discos conduz
suavemente para um final feliz, mas muda
de lado antes desse chegar, para adotar outra
estrada, que choca e agride, dividindo
opinies.
Enquanto filmes como Carandiru, ni-
bus 174 e Cidade de Deus se mantm
limitados a problemas sociais brasileiros,
reforando esteretipos, e chegando quase a
ser filmes-denncia, os dois textos escolhidos
evitam esse caminho, escolhendo elementos
estticos e questionamentos filosficos para
transcender o cotidiano violento, a mimtica
transcrio da violncia e a espetacularizao
do horror.
101 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
Filmografia
Ficha Tcnica do filme Janela da Alma:
documentrio, 73 minutos, Brasil, 2001.
Direo: Joo Jardim e Walter Carvalho
Roteiro: Joo Jardim
Direo de fotografia: Walter Carvalho
Montagem: Karen Harley e Joo Jardim
Distribuio: Copacabana Filmes
Ficha Tcnica do filme Durval Discos:
fico, 96 minutos, 2002
Roteiro: Anna Muylaert
Direo de fotografia: Jacob Solitrenick
Direo de arte: Ana Maria Abreu
Trilha sonora original: Andr Abujamra
Montagem: Vnia Debs
Elenco:
Ary Frana
Etty Fraser
Marisa Orth
Isabela Guasco
Letcia Sabatella
Rita Lee (participao especial)
Bibliografia
Araujo, Denize C. Janela da Alma: por
uma potica do desfocamento. Congresso da
Comps, UMESP, junho de 2004.
Bakhtin, Mikhail. Problemas da potica
de Dostoyevski. Rio de Janeiro, Forense
Universitria, 1981.
Deleuze, Gilles e Flix Guattari. Mil
Plats: capitalismo e esquizofrenia. So
Paulo, Editora 34, 2000.
Faraco, Carlos Alberto. O dialogismo
como chave de uma antropologia filosfica.
In Dilogos com Bakhtin, org. Castro, Faraco
e Tezza. Curitiba, Editora UFPR, 1996, 113-
126.
Freitas, Maria Teresa de Assuno.
Bakhtin e a psicologia. In Dilogos com
Bakhtin, org. Castro, Faraco e Tezza. Curitiba,
Editora UFPR.
Stam, Robert. Bakhtin: da teoria liter-
ria cultura de massa. So Paulo, tica,
1992.
_______________________________
1
Universidade Tuiuti do Paran, Brasil.
102 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
103 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
Formas documentrias da representao do real na fotografia,
no filme documentrio e no reality show televisivo atuais
Fernando Andacht
1
Introduo: o movimento indicial na mdia
contempornea
O texto procura caracterizar um gnero
que abrange diversos formatos muito popu-
lares no mundo, quais sejam: o reality show
televisivo, o documentrio cinematogrfico
e a fotografia jornalstica. Todos se dedicam
representao do real, o que faz pensar
num verdadeiro movimento indicial na mdia.
Penafria (2003a) prope o termo
documentarismo para analisar todo e qual-
quer filme a partir dos componentes do gnero
documentrio clssico (ex. a filmografia de
Grierson). Proponho descrever estes forma-
tos como casos concretos do gnero indicial:
o resultado da hegemonia ou do predomnio
neles da classe de signo que possui um lao
existencial, factual com seu objeto dinmico
o real considerado fora da relao de
representao. O motivo para introduzir o
termo indicial no uma simples mudana
de uma palavra por outra, mas uma de-
corrncia do uso da semitica tridica e
pragmtica de C. S. Peirce (1839-1914) para
a anlise da representao do real na mdia.
Graas s contribuies recentes de pesqui-
sadores do universo lusfono anlise do
registro documentrio no cinema e na tele-
viso, possvel avanar na discusso sobre
uma oposio ontolgica fundamental na
reflexo sobre a mdia hoje: a problemtica
fronteira entre o real e a fico.
2
Na semitica tridica, o termo indicial,
que caracteriza as trs formas de realismo
documentrio no texto, deve ser compreen-
dido como uma das trs classes sgnicas que
resultam da relao entre o signo e o real
a ser representado ou objeto dinmico. Assim,
ndice, cone e smbolo se aliceram nas
relaes de contigidade existencial, de
semelhana e de interpretabilidade geral, res-
pectivamente. No texto, vou me concentrar
no segundo tipo, o ndice, com a ressalva
de que nos formatos considerados se com-
binam em distinto grau os trs tipos de signo
para gerar o significado. Porm, postulo que
o ndice o signo predominante nesses
formatos, o que determina seu efeito de
sentido especfico, de gnero, no pblico.
Mas, como ter certeza de que o gnero
indicial representa o real e, portanto, esta-
belece uma diferena com a fico e com
os outros gneros? Para responder questo
recorro ao dispositivo pragmtico de anlise
do sentido criado por Peirce em 1878.
A mxima pragmtica de Peirce (CP
5.403)
3
define o significado de um conceito
(p. ex. documentrio flmico) como o
conjunto de suas conseqncias prticas.
Por sua vez, elas so as consequncias
experienciveis dos conceitos (Ibri 2000:33),
que apresentarei aqui como todo aquilo que
decorre fenomnicamente dos conceitos, isto
, aquilo que pode ser observado na expe-
rincia (do pblico, do crtico, etc). O acir-
rado debate sobre a autenticidade do
registrado no reality show e no documentrio,
assim como uma forte resistncia social a
olhar um documento fotogrfico que fornece
uma evidncia insuportvel da fragilidade
coletiva, logo aps de um ataque terrorista,
so alguns exemplos de tais experincias. A
pragmtica concebe o significado como o
lado exterior que gera o prprio conceito
(Ibri 2000:34). Tal anlise permite explicar
o vnculo dos formatos da mdia com o real.
Embora existam manipulaes, mentiras e
interferncias de toda classe (montagem,
efeitos especiais, etc), isso no altera o
estatuto indicial do gnero dos formatos
miditicos considerados. No limite, tais al-
teraes determinam a existncia de alguma
falta tica ou esttica no gnero.
Alguns antecedentes analticos recentes
sobre o gnero documentrio
Os trabalhos de Godoy (1999), Penafria
(2003, 2004) e Rial (2003) analisam do ponto
104 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
de vista tecnolgico e semitico o
documentrio, e sua conflituosa relao com
seu assunto distintivo, o real extra-miditico.
Para me posicionar no que diz respeito s
propostas tericas destes autores, apresento
abaixo um resumo de seus argumentos.
Conforme os pesquisadores citados, o
documentrio
a. no consegue transpor o real (Rial 2003);
b. no uma representao conclusiva do
real (Penafria 2003);
c. tem uma diferena de grau e no de
natureza com respeito fico (Penafria 2003)
d. serve para caracterizar todo filme, e mais
ainda no caso dos filmes de autor (p. ex. uma
obra tpica de Almodvar) (Penafria 2004);
e. no cria a realidade mas a descobre
e exibe seus aspectos existenciais, menos do
que sua generalidade (Godoy 1999).
Coincido com o primeiro ponto, que Rial
(2003) postula com respeito transmisso
televisiva do futebol. O dicionrio Aurlio
define o verbo TRANSPOR como o ato de pr
(algo) em lugar diverso daquele em que estava
ou devia estar. Embora seja verdade que no
h tal transposio no gnero indicial, isso
tambm vlido para todos os outros g-
neros. No possvel colocar o mundo tal
qual num filme, num vdeo, nem no papel
Kodak. Todo formato da mdia uma re-
presentao ou signo do real e no uma
transposio. Peirce (CP 5.283) postula que
a percepo direta e mediada a um mesmo
tempo. Como o arco ris, que a manifes-
tao do sol e da gua, toda representao
consiste na convergncia de um sistema
representacional e do real. Portanto, o que
seria, segundo Rial (2003), uma carncia do
documentrio constitui, a priori, a condio
essencial de toda ao sgnica ou semiose.
O signo a manifestao interpretativa de
algum e tambm de algo independente dos
intrpretes, e dos prprios signos.
Vamos agora ao segundo argumento. As
trs relaes do signo com o representado
acima mencionadas so os trs modos b-
sicos de conhecer o mundo. Penafria (2003)
admite a natureza representacional do
documentrio, mas ela objeta que tal repre-
sentao inconclusiva, porque sua reve-
lao parcial. Concordo com tal postulado,
mas trata-se de uma condio de todo signo,
que pela sua natureza uma revelao parcial
e falvel do real. Sob este prisma, cada signo
uma promessa no totalmente cumprida,
ou uma que no pode no fazer novas
promessas. S no longo prazo, postula-se uma
convergncia tendencial entre o objeto din-
mico (o real fora de toda representao) e
a interpretao chamada final. Nem o filme-
Zapruder, que o exemplo considerado pela
autora, nem os inmeros livros escritos nos
ltimos quarenta anos sobre o clebre assas-
sinato de Dallas exaurem a interpretao
desse acontecido. Mas os signos procuram
e, de fato, conseguem revelar aspectos su-
cessivos do real a uma criatura falvel como
o ser humano, e assim a aproximam
verdade. Postular uma tendncia aproxima-
tiva em direo verdade no o mesmo
que negar absolutamente tal possibilidade.
O terceiro ponto refere-se ao postulado
de Penafria (2003a) sobre a diferena de grau
entre o documentrio e a fico. H aqui uma
afinidade com o ponto de vista semitico.
No mundo real no h cones, ndices ou
smbolos puros. Para se manifestar, o ndice
deve incorporar alguma qualidade, i.e., um
cone, e no seu funcionamento, o smbolo
necessita incorporar os outros dois tipos de
signo. No clssico romance de Daniel Defoe,
a pegada de Sexta-feira na areia apresenta
ao nufrago a indicao palpvel da existn-
cia de outra pessoa, junto com a forma de
seu p.
4
Claro que poderia ter sido uma falsa
pista, uma forma natural feita pelo vento na
ilha. Porm, o decisivo neste contexto, con-
forme o propsito de Robinson, o valor
indicial da representao, isso o dominante.
Em 1935, Jakobson props o conceito
formalista de dominante, que definiu como
um dispositivo na hierarquia interna do signo
global constitudo pela obra literria, (e que)
sempre levado ao primeiro plano
(foregrounded).
5
Tal como o elemento focado
da obra de arte assegura sua gestalt ou ordem
total,
6
no que diz respeito ao propsito
sistmico que regula seu uso, cada signo
manifesta a primazia de uma relao sgnica,
conforme Peirce. seu aspecto indicial o que
gera a expectativa do pblico do
documentrio Edifcio Mster (Brasil, 2002,
EM de aqui por diante), que, naturalmente,
inclui na sua complexa gestalt smbolos,
ndices e cones. Se apagssemos a relao
de contiguidade existencial entre as imagens
105 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
e sons do filme e isso que de fato existe,
alm da filmagem, naquele prdio verdadei-
ro e no cinematogrfico de Copacabana no
Rio de Janeiro, onde a ao acontece, essa
obra cinematogrfica mudaria completamen-
te. EM seria mais uma fico encenada na
bela cidade carioca.
7
verdade que tanto na
fico quanto no documentrio h um olhar,
uma viso sobre determinado assunto, se-
gundo Penafria.
8
Mas o dominante indicial
o que determina logicamente o efeito de
sentido primordial do formato considerado,
sem ignorar a influncia dos outros elemen-
tos presentes no filme.
preciso introduzir, porm, uma cautela
analtica na proposta gradualista desta pes-
quisadora na sua verso extrema, qual seja:
todo filme documental.
9
Em princpio,
no h coisa nenhuma que no possua as trs
propriedades categoriais que analisam a
experincia da realidade no modelo semitico
tridico Primeiridade, Segundidade e
Terceiridade (CP 1.525). Baseadas nestas
categorias, as coisas representadas desenvol-
vem relaes icnicas, indiciais e simbli-
cas.
10
Um tpico filme de Almodvar pode
sim documentar, como afirma Penafria,
enquanto ele um ndice do realizador, de
seu estilo. Mas isso no funciona, ipso facto,
como critrio para classific-lo no gnero
documental (ou indicial). Conforme Lefevbre,
seria impossvel fazer o inventrio de todos
os objetos que uma coisa, uma vez
semiotizada, pode chegar a representar.
11
Nesse texto dedicado a analisar uma clebre
pintura de Magritte, Lefebvre prope uma
longa lista de possveis referncias dessa obra
pictrica. Dentre elas s mencionarei duas:
a Blgica e o lugar especfico onde um
visitante encontra-se, num momento dado, no
museu. Mas estes no so ndices
constitutivos daquela obra de arte de Magritte
como obra de arte, porque tais ndices no
revelam seu significado esttico. A falcia da
proposta de considerar documental todo fil-
me, e alguns deles ainda mais documentais
(porque) nos mostram que estamos perante
um filme de um e no de outro autor,
12
decorre de no fazer a distino entre o
suporte material atravs do qual se manifesta
uma representao e seu objeto semitico.
Somente o objeto representado teoricamen-
te relevante para decidir se h uma primazia
do ndice, do cone ou do smbolo num
contexto determinado. O documentrio EM
tem como seu objeto semitico o fato sin-
gular de um encontro concreto com as pessoas
e lugares registrados, segundo as palavras do
realizador Coutinho.
13
O filme a crnica
do aqui e agora, a evidncia audiovisual de
uma resistncia didica entre quem filma e
quem filmado. Isso constitui o aspecto
documental do documentrio, seu sentido
oficial e pblico, o chamado indexing do
filme.
14
Embora seja verdadeiro, o resultado
apontado pela proposta que faz Penafria
(2004) da existncia de um documentarismo
generalizado no parece ser produtivo. Em
princpio, no haveria coisa nenhuma no
mundo que no possa incluir-se nesta ca-
tegoria flmica, o qual esvaziaria este con-
ceito de seu valor heurstico. Se tudo fosse
documental, nada poderia ser definido assim
informativamente. Uma ilustrao da utilida-
de da distino documental/fico encontra-
se num clssico da cinematografia mundial:
o backstage do filme Fanny e Alexander
(Sucia, 1982), de Ingmar Bergman. No
problemtico afirmar que aquele filme, do
qual o documentrio ulterior exibe os bas-
tidores, uma tpica obra do mestre sueco.
Mas isso no converte o filme ficcional num
documentrio do estilo de Bergman. Se fosse
assim, como definir-se-ia o making up de
Bergman, o qual foi exibido quatro anos aps
Fanny e Alexander, com o ttulo Dirio de
uma filmagem (Sucia, 1986)?
O ltimo dos cinco argumentos extra-
do da crtica semitica das posies anti-
realistas, deconstrutivistas e nominalistas
que desenvolve Godoy. Estas concebem a
realidade de um universal apenas como um
signo mental.
15
Do ponto de vista criticado,
o signo flmico uma iluso manipuladora,
um instrumento de dominao burguesa.
16
Concordo com a afirmao de Godoy de que
h uma potencialidade epistemolgica do
documentrio de revelar o real.
17
Claro que
isso no garante que o gnero todo repre-
sente de modo fidedigno os fatos do mundo
e que seja uma ajuda eficaz para compreend-
los. Mas tal cautela vlida para qualquer
signo, em qualquer meio de expresso. S
tenho uma pequena divergncia com respeito
s concluses de Godoy. Alm da presena
106 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
dominante dos fatos representados
indicialmente, que pertencem categoria do
que existe, seja ou no interpretado
(Segundidade), tambm a representao sim-
blica do geral faz parte do gnero indicial.
O aspecto geral e simblico do documentrio
baseia-se especificamente nos ndices.
No caso do EM, os fatos representados
como rastos do encontro constituem sua trama
indicial, mas isso no exclui sua integrao
tridica na representao simblica, o hori-
zonte natural de toda ao sgnica. Uma forma
adequada de exprimir essa noo terica
a que prope o crtico Pereira da Silva,
quando ele aponta que EM tem, de forma
inequvoca, um carter moral, e o define
como um documental com feio de fbula
moral.
18
O efeito de sentido geral com-
patvel, portanto, com o gnero indicial. O
mapeamento do geral (Terceiridade)
procurado pela cincia como seu interesse
especfico, segundo assinala Godoy (1999).
Contudo, o que o documentrio descobre
atravs do predomnio da representao dos
fatos tambm pode contribuir para refletir
sobre eles, como no j referido exemplo do
EM.
O gnero aqui chamado indicial, que
inclui mas no se reduz ao documentrio,
exibe as seguintes caractersticas:
a representao dos fatos da realidade,
que nunca sua transposio literal, porque
aquela no completa, mas se aproxima gra-
dualmente verdade;
a conjuno da determinao dos sig-
nos indiciais e a determinao do mundo
exterior que acontece de modo falvel;
uma diferena de grau ou de dominante
que permite distinguir o gnero indicial da
fico;
a especificidade do efeito de sentido
indicial, observvel nas conseqncias
experienciveis dos formatos miditicos e
baseada no objeto semitico;
o poder de descobrir ou revelar o real,
principalmente mas no de modo exclusivo
nos seus aspectos existenciais.
O index appeal em trs formatos miditicos
diferentes
Numa pesquisa anterior (Andacht 2002,
2003), propus o termo index appeal ou
chamamento indicial para descrever a signi-
ficao do reality show Big Brother Brasil
(BBB, de aqui por diante). A imagem en-
cantadora e irreal das divas, seu irresistvel
sex-appeal, constituiu a principal fonte de
seduo da poca de ouro de Hollywood, um
efeito de tipo icnico, isto , baseado na
relao qualitativa entre o signo e o real. Hoje,
na era da televiso aberta e a cabo,
o prato de resistncia de BBB seu
index-appeal, que se baseia na gera-
o continua de signos cujo propsito
sistmico no o de ser interpreta-
dos, mas o de apontar de modo
compulsivo a seu objeto dinmico.
(Fernando Andacht, Uma aproxima-
o analtica do formato televisual do
reality show Big Brother, Galxia,
2003, p.150)
Peirce compara o efeito especfico do
ndice com a hipnose, por causa do poder
fsico mais do que intelectual que este signo
possui e com o qual afeta nosso corpo:
Achamos agora que, alm dos con-
ceitos gerais (smbolos), duas outras
classes de signos so totalmente in-
dispensveis em todo raciocnio. Uma
dessas classes o ndice [index] que,
como um dedo que aponta, exerce
uma real fora sobre a ateno, como
o poder de um mesmerizador, e a
dirige para um objeto especfico do
sentido. (CP 8.41)
A fotografia de uma casa usada por
Peirce como exemplo de ndice, mas no
pela semelhana na sua aparncia, [porque]
h dez mil outras no campo que so iguais
a esta (CP 5.554). A nica justificao para
afirmar que essa foto um ndice dessa casa,
que o fotgrafo disps o filme de tal modo
que, segundo as leis da ptica, o filme foi
forado a receber uma imagem da casa
(ibid.) Para analizar as representaes do real
aqui consideradas, adoto o pressuposto de que
todo fato luta por abrir-se caminho para sua
existncia (CP 1.432). Portanto, o que o
ndice tem virtualmente que fazer para
indicar seu objeto ... capturar os olhos de
seu intrprete e com fora os levar para o
107 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
objeto significado, tal como acontece no caso
de um golpe na porta, um alarme, um silvo,
um tiro de canho (CP 5.554).
Minha hiptese que nos trs exemplos
escolhidos BBB, EM e a foto do Homem
que Cai os ndices geram um tipo de
conhecimento carnal no espectador como
sua conseqncia prtica, experiencivel. O
consumo esttico desses trs formatos do
gnero indicial envolve um efeito de resis-
tncia que nos faz cientes de nosso prprio
self. O especfico dessas representaes do
real que a experincia baseia-se no efeito
quase tctil gerado pela transpirao
semitica, pelos inmeros rastos dos corpos
filmados e exibidos, ao vivo, em vdeo, em
um documentrio, ou captados numa foto
digital. Nisso precisamente consiste o cha-
mamento indicial. Mesmo que parea con-
tra-intuitivo reunir numa comparao elemen-
tos to diferentes, h uma vantagem terica
em faz-lo. possvel contribuir desse modo
compreenso de uma tendncia cultural
manifestada atravs do consumo de diversos
formatos da mdia com um nico intuito, qual
seja: a procura do contato com o autntico,
com o real associado atualidade mxima.
No chamamento indicial, o real encarna-se
em corpos annimos que agem sem roteiro
frente a cmaras e microfones, ou que passam
impensadamente perante a lente de objetiva
de um jornalista bem situado. Essa presena
se encontra ali para fornecer uma evidncia
existencial, mais do que para falar ou refletir
sobre ela. Proponho considerar que essa classe
de revelao indicial tem se transformado no
Grial da cultura miditica do sculo XXI.
O mais caracterstico do movimento
indicial a salincia de signos que so fatos
e que fornecem um testemunho do mundo,
quer corriqueiro, quer sublime. Na perspec-
tiva evolucionista de Peirce, a ao dos signos
envolve seu contnuo crescimento, a integra-
o do cone e do ndice no smbolo, cons-
tituindo-se ento uma forma mais complexa
potencialmente submetida interpretao. O
smbolo uma lei ou conceito geral atravs
do qual compreendemos e ordenamos nosso
entorno, para nos adaptar melhor a ele, e
poder transmitir esse saber convencional. Ao
longo do tempo, os encontros corporais que
constituem o cerne do gnero indicial ten-
dem a evoluir do conhecimento carnal para
uma experincia reflexiva, conceitual, tal
como acontece em outros gneros. A passa-
gem do efeito hipntico e compulsivo do
ndice para o efeito convencional daquilo que
exige ser interpretado, seria o intuito de um
gnero televisivo popular como Big Brother.
A morte ou limite natural do reality show
seria sua completa convencionalizao. Nis-
so consiste a suspeita de que haja uma atuao
amadora mas que esta seja guiada por um
roteiro segredo. Como uma sombra, tal
suspeita do pblico acompanha o formato da
Endemol desde sua origem.
No caso do documentrio, a desconfian-
a mais o resultado de um ceticismo
intelectual e profissional que uma reao dos
espectadores. Trata-se de uma herana lon-
gnqua do modo nominalista de pensar, o qual
no aceita a manifestao do real atravs de
signos de tipo universal, seja na natureza ou
na vida social. Porm, sem a tendncia que
tm todas as coisas a serem representadas
de algum modo (icnico, indicial ou simb-
lico), a vida na terra no seria possvel. Para
concluir, vou apresentar um interpretante ou
efeito de sentido pblico de cada um dos trs
formatos mencionados.
A rarefao de uma imagem fotogrfica:
a insuportvel viso do Homem que Cai
A cmera digital de Richard Drew cap-
turou s 9hs 42 15 a.m., horrio da costa
leste dos EUA, um indcio que seria pronta
e inexoravelmente banido da mdia de seu
pas. A foto do Homem que Cai virou um
testemunho intolervel pela sua capacidade
de revelar indicialmente a mxima fraqueza
da nao mais poderosa da terra. Logo aps
de ter aparecido na capa de vrios jornais,
no dia 12 de setembro de 2001, a figura
improvvel pela impactante graa e levian-
dade do annimo homem-pssaro do World
Trade Center sofreu um processo de rarefao
indicial semelhante s imagens invisveis das
vtimas norte-americanas da invaso de Iraque
em 2003. Estes corpos retornaram sem glo-
ria, nos atades cobertos pela bandeira e pela
censura oficial.
A silhueta estranha desse homem sem
nome, um dos muitos que pularam ao vazio
do alto da Torre norte do World Trade Center,
na manh do 11 de setembro de 2001, virou
108 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
o signo icnico-indicial de uma vulnerabilidade
extrema que no se queria aceitar, nem sequer
considerar como fazendo parte do real. Jamais
imaginou Richard Drew, o fotgrafo levado pelo
seu olfato profissional bem perto do desastre
daquele dia, que o destino lhe daria uma glria
opaca nessa ocasio. Foi ele mesmo quem, em
1968, focou sua mquina no corpo agnico,
ainda quente do senador Bob Kennedy e
capturou tambm a viso da recm viva lhe
implorando que no pegasse essas fotos. Esta
vez seria a comunidade toda que rejeitaria o
testemunho do horror fornecido pela sua foto-
grafia digital. Quando um jornalista lhe per-
guntou presumida filha do Homem que Cai,
se ela reconhecia seu pai nesse pequeno
retngulo de luz e de uma eloqente realidade,
a moa no duvidou: Esse troo de merda l
no meu pai!.
19
Nem ela nem a opinio
pblica da maior potncia mundial quiseram
cair sob a influncia hipntica do indicial. Um
bom modo de evitar esse efeito mesmerizador
(Peirce) a pura e simples negao. Porm,
o ndice representa algo que resiste interpre-
tao arbitrria e ao voluntrio esquecimento;
ele simplesmente fica e perdura l, como as
coisas do mundo. A nica sada para fugir do
chamamento indicial evitar o brutal e cego
encontro fsico com ele.
A incompletude do gnero documentrio
apontado por Penafria (2003) coincide com
uma constatao do citado escritor Junod
(2003) sobre a mgica e sinistra imagem
digital do suicida assassinado: a elegncia
admirvel do fotografado s existiu naquele
preciso instante das 9hs 42 15 a.m, nos
seguintes momentos, como testemunha o
artigo da revista Esquire, ele perdeu a ele-
gncia plstica, e depois sua vida. Mas no
se pode negar que no encontro singular e
irrepetvel entre o dispositivo ptico que
Richard Drew colocou l, e a viagem
mortfera empreendida por uma das tantas
vtimas desse dia de 2001, o corpo do Homem
que Cai teve, de fato, essa posio espacial,
essa atitude corporal de mximo desafio e
liberdade, antes de seu terrvel fim.
A economia dos ndices: o cuidado do
Outro nas ausncias do encontro
Parece estranho que, numa entrevista,
algum que dedicou sua vida inteira a cuidar
do outro filmado, como o fez o cineasta
brasileiro Eduardo Coutinho, descreva o
documentrio, gnero no qual ele mestre
reconhecido, como um questionamento dessa
objetividade, dessa possibilidade de dar conta
do real.
20
Mas cabe perguntar, se no
houvesse a possibilidade da presena real,
objetiva e incontestvel, do outro filmado,
nesse milagre (218) do encontro que est
no cerne de seus filmes, e se no fosse a
prpria pessoa filmada quem constri o seu
retrato (218), seria verdadeiramente Edif-
cio Mster (EM) um documentrio? Propo-
nho que a resposta correta seja uma nega-
tiva. Procurarei justific-la atravs de trs
exemplos extrados do filme.
21
Dois dos encontros filmados neste
documentrio incluem a meno de uma
preciosa evidncia visual que nunca, porm,
poder ser vista pelo espectador. Num caso,
uma mulher fala perante a cmera, em tom
confessional, sobre sua paixo por si mesma,
por seu aspecto fsico, a qual se manifesta
nos seus retratos espalhados pelas paredes
de sua morada. Noutra conversa filmada, uma
ex-sambista e cantante mulata conta sobre sua
singular experincia profissional no Japo,
quando ela era jovem. Neste caso, uma vez
terminada a filmagem do encontro com ela,
Coutinho descobriu no apartamento uma foto
fantstica na qual ela aparece jovem, gran-
dona, exuberante ao lado de dois japoneses
(219). Porm, ele recusou-se a film-la
depois, simplesmente porque isso teria sido
um ato de interferncia com o registro ori-
ginal do encontro, que no conseguiu filmar
aquela eloquente imagem fotogrfica. Essa
rigorosa economia documental s lhe permi-
te a Coutinho deixar entrar no quadro do filme
a muda e poderosa eloqncia do indicial,
da reao corporal entre o realizador e o outro
filmado, num encontro irrepetvel e
imodificvel. Esse chamamento indicial
circunspeto a homenagem ao outro docu-
mentado, ao testemunho foroso do real
que est na base do gnero, segundo ele
praticado por Eduardo Coutinho.
s duas ausncias ticas no EM, soma-
se uma presena desconfortvel mas neces-
sria circunspeo deste formato indicial:
a fala dura e muito conservadora da empre-
gada espanhola Maria Pia sobre o que ela
acredita que sejam as verdadeiras causas da
109 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
pobreza no Brasil. Na referida entrevista, uma
espcie de backstage verbal do filme,
Coutinho se sente na obrigao de afastar-
se daquela ideologia to oposta sua. Sem
se propor faz-lo, claro, o realizador do EM
vai explicar como o poder mesmerizador do
ndice define este gnero flmico: preciso
se colocar no lugar do outro e, mais que isso,
preciso mostrar o lugar de onde o outro
est falando (225). Eis o paradoxo do gnero
indicial: a subjetividade do criador s pode
servir para preservar e no interferir com a
objetividade da presena do outro, de sua
subjetividade. O documentrio uma rede
que traz de regresso de sua passagem pelas
guas turbulentas do mundo o bom, o ruim,
o admirvel e o duvidoso, tudo o que acon-
teceu no momento do encontro flmico, e que
vai servir para se reconhecer a si prprio no
confronto com o outro.
Se, como afirma Coutinho, frente a esse
real, todo documentrio, no fundo, prec-
rio, incompleto, imperfeito (215), pergunto
qual seria ento a necessidade de se preser-
var do eventual contgio com uma concep-
o do mundo antagnica, com a fala de quem
encarna uma irreconcilivel diferena? Po-
rm este o sentido das palavras do rea-
lizador, quando ele comenta sobre essa ide-
ologia to oposta sua:
No estou ali para dar razo a nin-
gum. Nesse caso, claro que no
estou dizendo que a Maria a esteja,
mas no me cabe julg-la. O que me
cabe , nessa conversa, tentar eviden-
ciar o lugar de onde nasce essa pos-
tura, essa posio do discurso do
outro. (226)
Mais do que um ndice do estilo do autor,
fica evidente que o essencial no
documentrio, seu objeto semitico, so os
ndices do real, disso que o filme conseguiu
representar de modo limitado, como qualquer
outro tipo de signo.
A sobreabundncia indicial do Big Brother
Brasil: a arcimboldiana reiterao do real
Para analisar o indicial no polmico
formato televisivo do BBB, vamos a deixar
falar a seu produtor no Brasil, o Boninho
da Rede Globo, que deu uma entrevista aps
do fim da primeira edio deste reality show:
Playboy: Voc pretende detonar al-
gum na edio, como no caso do
videoclipe da Stella enfiando vrias
vezes o dedo no nariz...
Boninho: Mas a Stella tinha mesmo
a mania do nariz e era impossvel no
brincar com aquilo. ... Se a pessoa
tiver uma mania semelhante e
entrar na casa do BBB, vou deto-
nar, sim. O cara sabe que, se est
l dentro, para isso mesmo.
(Fernando Valeika de Barros, Entre-
vista a Jos Bonifcio de Oliveira,
Boninho, Playboy, 2003, p. 75, grifo
meu, F.A.)
No poderamos achar uma mais perfeita
anttese tica e esttica do laconismo indicial
do documentrio de Coutinho, que esta
descrio brutalmente sincera do efeito de
sentido bsico do reality show mais conhe-
cido do mundo. circunspeo do EM se
contrape o excesso do indicial do BBB. Cada
uma das quatro edies produzidas no Brasil
a partir de 2002 e at 2004, prdiga na
multiplicao de rastos da transpirao
semitica dos participantes deste programa
televisivo. Se o cuidado do outro leva o
realizador de documentrios Eduardo
Coutinho a administrar com extrema prudn-
cia o espao e o tempo de quem filmado,
no caso do BBB trata-se de dilapidar seu
corpo, sua presena, atravs da fragmentao
e da multiplicao infinita de imagens e sons,
at configurar com os ndices assim coletados
uma colagem grotesca, no estilo do pintor
manierista italiano Arcimboldo (1527-1593).
A seleo sgnica e sua montagem procuram
atingir a audincia atravs de uma acumu-
lao de fatos representados, para que estes
produzam uma experincia carnal mais do
que uma reflexo moral, embora isso tam-
bm possa acontecer, e de fato acontea no
pblico fiel de BBB (Andacht 2002).
Uma dvida inevitvel surge neste ponto
da argumentao: ser admissvel incluir no
gnero indicial um formato cujo nome ofi-
cial contm a idia do espetculo (show),
numa desconfortvel e promiscua proximi-
dade da noo de real(ity) que fornece a
110 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
especificidade do gnero? A resposta, po-
rm, deve ser afirmativa. O objeto semitico
do reality show est constitudo por aquilo
que, de fato, est mais prximo do corpo
humano e mais longe da fala: os gestos, os
sorrisos, a raiva, o choro, o suor e a se-
xualidade, todos estes humores e secrees
orgnicos fornecem o material indicial do
BBB. Porque eles moram numa casa dese-
nhada e construda para no perder nem um
ndice dos inmeros gerados nesse estdio-
morada, ainda que os participantes tentem
produzir a melhor imagem de si prprios
para ganhar a recompensa oferecida, estas
pessoas no dispem do espao nem do
tempo mnimo necessrios para ensaiar e
aperfeioar um self convincente, na rea
restrita dos bastidores da interao face a
face, por ex. o dormitrio.
Atravs desse preparo cotidiano, o ser
humano faz de sua humanidade um tranqilo
espetculo, mais persuasivo e admirvel
quanto mais seus aspectos indiciais so
cuidadosamente controlados e selecionados,
at que surja a melhor imagem de si prprio.
Sem dispor dos bastidores da interao social,
do vital backstage no qual arrumar o suor
semitico at que vire invisvel, torna-se
impossvel dissimular as expresses potentes
do corpo. A recompensa que recebe cada noite
o pblico de BBB a viso interminvel do
self supostamente autntico, da verso mo-
derna, tecnolgica da alma. Esta seria aces-
svel atravs dos signos corporais que as
pessoas no conseguem controlar, em circuns-
tncias to adversas para a sobrevivncia do
respeito a si prprio.
Concluso: a arte de atingir o sublime
atravs dos signos mais prximos do
cotidiano
Que significa ento o movimento indicial
na mdia? A anlise pragmtica do significado
dos formatos indiciais considerados mostra que
no uma fabricao industrial de iluses na
mdia contempornea o que leva tantas pessoas
a assistir incansavelmente aos ndices da vida.
O gnero indicial dos mdios audiovisuais
composto pela testemunha viva que emana
como uma transpirao semitica dos corpos
dos outros. No mundo inteiro, o pblico pro-
cura uma experincia comunicacional quase
religiosa atravs dos rastos do mais ntimo,
atravs da observao atenta de uma testemu-
nha fsica e emocional mais do que intelectual.
Algumas das grandes mensagens do mundo,
portanto, se manifestam hoje na mdia no em
palavras, nem em ideologias, mas na represen-
tao das pequenas situaes cotidianas, do
encontro face a face com a vida e com a morte.
No plo oposto, a fico miditica envolve cen-
tralmente a inveno de cones para produzi-
rem smbolos que nos levem de retorno ao
mundo, ao universo indicial, com mais sabe-
doria ou menos amargura. O progressivo cres-
cimento dos ndices miditicos no gnero aqui
analisado fornece os elementos necessrios para
encenar uma odissia cognitiva da sociedade.
As pessoas procurariam no chamamento
indicial, no contato com os signos de existn-
cia, a descoberta da face externa e real do
sentido de suas prprias vidas. Esse conheci-
mento carnal um signo inconfundvel desta
poca.
111 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
Bibliografia
Andacht, Fernando, Big brother te est
mirando. La irresistible atraccin de un reality
show global. In: Raquel, Paiva (org.), tica,
cidadania e imprensa, Rio de Janeiro: Mauad,
2002.
Andacht, Fernando, Uma aproximao
analtica do formato televisual do reality show
Big Brother, Galxia, No. 6, pp. 245-264,
2003.
Carrol, Noel, From reel to real In:
Theorizing the moving image. Cambridge:
Cambridge University Press, 1996.
Figuera, Alexandre et al, O
documentrio como encontro. Entrevista com
o cineasta Eduardo Coutinho, Galxia.
Revista transdisciplinar de Comunicao,
Semitica, Cultura. No. 6, pp. 213-232, 2003.
Godoy, Hlio, Paradigma para Funda-
mentao de uma Teoria Realista do
Documentrio. Em Anais do 8 Encontro
Anual da Associao Nacional de Progra-
mas de Ps-Graduao em Comunicao,
UFMG, Belo Horizonte, 1999.
Ibri, Ivo Assa, As conseqncias de
conseqncias prticas no pragmatismo de
Peirce, Cognitio. No.1, pp. 30-37, 2000.
Junod, Tom, The falling man. Esquire,
Vol. 140, Issue 3, September, 2003, pp. 277-
280.
Lefebvre, Martin, Ceci n est pas une
pipe(rie): bref props sur la smiotique et
lart de magritte, Trabalho apresentado no
7. Congresso Internacional AISV, Mxico,
2003.
Peirce, Charles Sanders, Collected Papers
of C. S. Peirce. C. Hartshorne, P. Weiss, A.
Burks (orgs.), Cambridge, MA: Harvard
University Press, (1931-1958).
Penafria, Manuela, O plano-seqencia
a utopia. O paradigma do filme-Zapruder,
Em Anais do 12 Encontro Anual da Asso-
ciao Nacional de Programas de Ps-
Graduao em Comunicao (Comps),
UFPE, Recife, 2003.
Penafria, Manuela, O documentarismo
do cinema Retirado de http://bocc.ubi.pt/
_listas/tematica. php3?codt=42 em 02/01/
2004.
Pereira da Silva, Humberto, O Edifcio
Master. Revista de Cinema. No. 31 (verso
online) www.uol.com.br/revistadecinema/
ediao31/em_cartaz/critica.shtml, Retirado no
19/09/2003.
Rial, Carmen, Televiso, futebol, e novos
cones planetrios: aliana consagrada nas
copas do mundo. Em Anais do 12 Encon-
tro Anual da Associao Nacional de Pro-
gramas de Ps-Graduao em Comunicao
(Comps), 2003.
Surdulescu, Radu, Form, structure and
structurality in critical theory Retirado de
h t t p : / / www. u n i b u c . r o / e Bo o k s / l l s /
Ra duSur dul e s c u- For mSt r uc t ua l i t y/
Capitolul%20I.htm em 15/02/2004.
Valeika de Barros, Fernando, Entrevis-
ta a Jos Bonifcio de Oliveira, Boninho,
Playboy. Maio, pp. 72-76, 2002.
_______________________________
1
Programa de Ps-Graduao em Cincias da
Comunicao, UNISINOS.
2
Manuela Penafria 2003, 2003a; Rial 2003
e Godoy 1999.
3
Cito a Peirce conforme prtica habitual:
x.xxx remete aos Collected Papers mediante o
volume e o pargrafo dessa edio. Todas as
tradues do texto ingls so de minha autoria.
4
Trata-se de um aspecto qualitativo que lhe
permite imagin-lo, ou seja mais um cone.
5
Radu Surdulescu, Form, structure and
structurality in critical theory. Retirado de http:/
/ www. unibuc.ro/ eBooks/ lls/RaduSurdulescu-
FormStructuality/Capitolul%20I.htm em 15/02/
2004
6
Ibidem.
7
Esse o caso, por exemplo, do notrio filme
de Meirelles Cidade de Deus (Brasil, 2002).
8
Manuela, Penafria, O documentarismo do
cinema. Retirado dehttp://bocc.ubi.pt/_listas/
tematica. php3? codt=42 em 02/01/2004.
9
Manuela, Penafria, O documentarismo do
cinema. Retirado dehttp://bocc.ubi.pt/_listas/
tematica. php3? codt=42 em 02/01/2004.
10
As propriedades possveis de toda experi-
ncia so: mondica, quando algo considerado
em si prprio; didica quando se considera uma
oposio de s dois elementos, e tridica, quando
h uma mediao como acontece na representa-
o, i.e., a combinao de duas coisas numa sntese
mais complexa do que elas.
11
Lefebvre, Martin, Ceci n est pas une
pipe(rie): bref props sur la smiotique et lart
de magritte, Trabalho apresentado no 7. Con-
gresso Internacional AISV, Mxico, 2003.
112 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
12
Manuela, Penafria, O documentarismo do
cinema. Retirado de http://bocc.ubi.pt/_listas/
tematica. php3? codt=42 em 02/01/2004.
13
Alexandre, Figuera et al.,O documentrio
como encontro. Entrevista com o cineasta Eduardo
Coutinho, Galxia. Revista transdisciplinar de
Comunicao, Semitica, Cultura. No. 6, 2003, p.217.
14
Noel, Carroll, From reel to real
In:Theorizing the moving image. Cambridge:
Cambridge University Press, 1996, p. 238.
15
Hlio, Godoy, Paradigma para Fundamen-
tao de uma Teoria Realista do Documentrio.
Em Anais do 8 Encontro Anual da Associao
Nacional de Programas de Ps-Graduao em
Comunicao, UFMG, Belo Horizonte, 1999.
16
Ibid.
17
Ibid.
18
Pereira da Silva, Humberto, O Edifcio
Master. Revista de Cinema. No. 31 (verso
online) www.uol. com.br/revistadecinema/
ediao31/em_cartaz/critica.shtml, Retirado no 19/
09/2003.
19
Tom, Junod, The falling man. Esquire,
Vol. 140, Issue 3, September, 2003, p 277.
20
Alexandre, Figueroa et al., O documentrio
como encontro. Entrevista com o cineasta Eduar-
do Coutinho, Galxia. Revista transdisciplinar
de Comunicao, Semitica, Cultura. No. 6, 2003,
p.215. Todas as citaes seguintes de E. Coutinho
provm desta entrevista sobre o EM, e por isso
s ser indicada a pgina.
21
Quero expresar meu agradecimento dis-
tribuidora Riofilme e ao diretor E. Coutinho por
ter me facilitado uma cpia do EM.
113 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
El registro cinematogrfico: nuevas seales de vida.
Restaurar el silencio es la funcin del objeto
Francisca Bermejo
1
Todo buen relato es, por supuesto,
a la vez un cuadro y una idea; y
mientras ms se funden ambas cosas,
mejor se resuelve el problema.
(Henry James, Guy de Maupassant)
Las imgenes que el mundo nos ofrece
estaban guardadas ya en nuestra memoria
desde el da de nuestro nacimiento, era la
premisa que mantenan los antiguos. As
como Platn tena la idea de que todo
conocimiento era slo recuerdo, Salomn
emiti su concepto de que toda novedad es
slo olvido.
2
De ser esto cierto, entonces
podramos todos reflejarnos de modo alguno
en las multiplicidad de imgenes que nos
rodean, puesto que forman ya parte de quienes
somos: las imgenes que creamos y las que
componemos materialmente, e imgenes de
esas imgenes, esculpidas, en accin,
fotografiadas, impresas, filmadas. Bien por
que descubramos en esas imgenes
circundantes los recuerdos, los momentos de
algn acontecimiento que alguna vez fue
nuestro, o bien por que nos exijan una
reflexin novedosa a travs de las
posibilidades que el lenguaje ofrece, somos
en lo esencial, por tanto, seres hechos de
imgenes, de representaciones. De ah que
las imgenes, como los relatos, nos brindan
informacin. La existencia transcurre en un
continuo despliegue de imgenes captadas por
la vista y que los otros sentidos realzan o
atenan, imgenes cuyo significado, o
presunto significado, vara continuamente,
con lo que se construye un lenguaje hecho
de imgenes traducidas a palabras y de
palabras traducidas a imgenes, a travs del
cual tratamos de captar y comprender nuestra
propia existencia. Las imgenes que
componen nuestro mundo son smbolos,
signos, mensajes, alegoras. Las imgenes,
como las palabras, son la materia de las que
estamos hechos
3
.
Tras este prrafo inicial denotativo de la
importancia de las imgenes en nuestra
cultura, nuestro planteamiento pretende
abordar una de las funciones que a lo largo
del pasado siglo, y en el presente, desempea
el cine, a saber, complementar la funcin
informativa a travs del rescate y recuperacin
de las imgenes y palabras que no tienen
cabida en el resto de los medios
comunicativos contemporneos. Cierto es, el
posmodernismo actual, caracterizado por un
proceso de proliferacin de imgenes y
smbolos en el seno de todo tipo de medios
electrnicos, cuyo consumo adopta una
variedad de formas, determina cuanto menos
reflexionar a propsito de la relacin que se
produce entre el cine, la realidad y la ficcin.
Nos encontramos en una nueva etapa,
propiciada por la transformacin profunda en
la textura de los medios, como reconoce J.
M. Catal, La creciente presencia, por un
lado del vdeo y de la imagen digital, sin
olvidar la televisin, en el mbito
cinematogrfico () hace que nos
enfrentemos a una autntica revolucin
meditica que afecta de forma muy directa
tanto a la produccin como a la esttica del
documental
4
. Hoy en da el cine ya no puede
descubrirnos el mundo, con el desarrollo de
la televisin ha perdido el poder de las
imgenes y la primaca de la informacin.
Estamos bien o mal informados antes que
l, y lo que nos muestra lo hemos visito ya.
Por otro lado, hemos de considerar que la
televisin desafa al cine, invitndole a
replantearse su relacin con el mundo y sus
espectadores. De ah que el lugar del cine,
al contemplar la realidad signifique hoy
encontrar el ngulo exacto que le permite fijar
una mirada necesaria, no una mirada ms,
sino una mirada diferente. Es exactamente
en este planteamiento donde surgen los filmes
objetos de esta reflexin.
Por tanto, la propuesta de esta
comunicacin pretende ser una reflexin
114 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
sobre la pertinencia en los filmes objeto de
estudio, abordados a travs de la funcin de
registro en ellos inscritos, es decir, en la
funcin del realismo en el cine, de la
representacin flmica del cine documental
y del realismo cinematogrfico
5
a travs de
una triple vertiente. En primer lugar, como
una actitud de realizador frente a lo que filma,
de ah que el realismo cinematogrfico sea
contemplado ms por la temtica que plantea
de carcter social que por el estilo con
que los aborda. En segundo lugar, el cine
como un medio de conocimiento, como
instrumento de reflexin, en tanto en cuanto,
se dedica a diseccionar la realidad en lugar
de copiar lo real, a analizarlo para desentraar
sus secretos y mostrar lo que hasta entonces
era invisible. Y, en ltimo lugar, considera
el espacio-lugar asignado al espectador. ste
es, pues, el tercer elemento cuya presencia
indispensable es requerida para que las
pelculas encuentren y adquieran su sentido:
restaurar el silencio. Es una situacin
incmoda, esa coaccin que experimenta
como espectador le obliga a preguntarse por
la actitud que adoptara en la vida real frente
a situaciones cmo sas. Las pelculas
constituyen en s mismas espacios cerrados,
inquietantes, que provocan en ste una
situacin comunicativa de alter- ego.
Tras esas premisas generales del realismo,
aade Monterde, se apunta una actitud que
va mucho ms all de la mera restitucin
visual de la realidad contextualizada, para
introducir aspectos ticos e ideolgicos a los
que tampoco ser ajeno el realismo
cinematogrfico. Y con relacin a este ltimo
reflexionaremos sobre el papel que puede
ocupar las propuestas documentales o, en
sentido ms amplio, el cine que podemos
denominar no-ficcional
6
. El propio autor
mantiene que el documental aparece como
la muestra ms acabada del cine noficcional
por una doble razn: por su capacidad de
desarrollar con mayor libertad el tema, como
por las posibilidades estticas que alcanza y
explicitan su dimensin discursiva.
Evidentemente estas pelculas quedan
subscritas en dichas premisas, ms en la
primera que en la segunda.
7
El condicionamiento que implica la
presencia de una cmara, la colocacin
estratgica o no de sta, el lenguaje, la
discriminacin del contenido y los personajes,
la seleccin de imgenes, la eleccin de la
bando sonora y, sobre todo, la predisposicin
del realizador adulteran la objetividad. An
intentando aproximarse a la verdad el director
no puede atribuirse una mirada imparcial. El
caso ms reciente lo tenemos en La Pelota
Vasca (Espaa, 2003). El realizador relega,
intencionadamente, las posibilidades estticas
del film para potenciar, deliberadamente, todo
el protagonismo a la palabra y, por tanto, a
la temtica abordada.
8
Meden cede, est claro,
haciendo uso de la libertad temtica y
artstica, todo su afn de mostrarse a la
palabra, sin que nadie distraiga al espectador
de lo que se est diciendo en la pantalla. Esta
es la razn, desde el punto de vista
estrictamente cinematogrfico, determinante
de la extremada humildad esttica del
documental, chocante y extrao, en la obra
de un realizador cuya caracterstica est en
la bsqueda de la belleza plstica. Pero en
este documental, la filmacin es quizs como
la de un videoaficionado, plano medio del
entrevistado, cmara prcticamente fija y
algunos paisajes al fondo. Quizs, en algunas
localizaciones, parajes naturales del Pas
Vasco, escenarios donde el realizador sita
a las personas, est el extrao privilegio con
el que el propio realizador pretenda atraerlas,
una a una, haca l. Tal vez, en la
intencionalidad de las localizaciones, est la
premisa de no querer registrar los problemas
en los escenarios reales donde se producen,
con su marca de sufrimiento y espanto, sino
desplazando al entrevistado a los entornos
naturales buscando el efecto contrario: que
toda la tensin humana quede fuera de lugar,
La suma aleatoria de fondos en bosques,
campos, montes y acantilados que ayudan
a retratar la geografa vasca ms primigenia,
calada de sentimientos tan antiguos como
inamovibles, me vino bien para mantener el
ojo de pjaro y as persuadirme de que puedo
ver el odio sin odiarlo.
9
La actitud del realizador frente a lo que
filma, constata otra de las vertientes en las
que se inscribe el realismo de este
documental, es decir, a travs de la temtica
que plantea, de carcter eminentemente social
y, el lugar en el que se sita el mismo.
10
El
predominio del carcter informativo, tal vez
sera ms apropiado decir didctico,
115 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
testimonia, evidentemente, la primaca que
el realizador otorga a declaraciones de los
entrevistados y, a travs de ellas, a los
aspectos que conforman el organigrama
poltico social y humano, de quienes justifican
las razones de lo que estn viviendo. En el
caso de este film, la analoga con la realidad
viene articulada entre las visiones perceptivas
de unos y otros, es decir, el realismo
perceptual.
11
De hecho, el realizador no slo
da ms importancia a las opiniones que a
los acontecimientos en s mismos, sino que
es la pretensin especfica de la pelcula
identificar las bases del conflicto vasco a
travs de la diversidad de opiniones y
sentimientos de unos y otros. Y, a partir de
esa comprensin perceptual, a travs del
dilogo sostenido en una doble vertiente: por
un lado, a travs de una intencionada
simulacin flmica de ste entre las personas
que se citan frente a la cmara y, por otro,
con el espectador para favorecer la aparente
inmediatez cognoscitiva de ste.
Aborda la pelcula las palabras medidas de
quienes son entrevistados, situndose en escena
cmo especialistas y especficamente activos
en el mundo de la poltica, de la sociedad civil
y la opinin pblica.
12
Ntese que sobre alguno
de ellos, el transcurso del tiempo ideolgico
acerca del conflicto vasco presenta una
evolucin a tenor de sus declaraciones y, en
funcin de lo que han vivido en primera persona
y afrontan lo que siente.
El film de Meden es subjetivo,
intencionadamente subjetivo, el mismo busca
situarse en el documental aunque se esconda
entre las declaraciones de unos y otros,
pero su punto de vista es perfectamente
admisible, ejerciendo su derecho a la libertad
de expresin y artstica. De hecho, el espritu
que reclama el documental, quizs la
pretensin real del realizador, es la bsqueda
del dilogo para acabar con la tragedia, la
comunicacin para la comprensin. Dilogo
en el que tambin participa el espectador con
su toma de conciencia.
Restaurar el silencio es la funcin de Hay
motivo
Frente a la falta de luz en la utilizacin
actual promovida desde los medios de
comunicacin, de esa palabra oculta,
balbuceada e inarticulada, mostrada a travs
de una rpida fragmentacin unvoca,
presentada como testimonio de una supuesta
opinin pblica que acaba convirtindose,
actuando por contexto poltico que en los
ltimos aos ha desembocado en el actual
enfrentamiento entre el Gobierno espaol y
la sociedad, intencionadamente contraria a
quien la expresa, las palabras que surgen en
el documental de Meden, resultan quizs ms
tiles. Y sta es la funcin del objeto que
tiene el novedoso documental Hay motivo
13
(Espaa, 2004). Formada por 32 cortometrajes
de unos tres minutos cada uno, la pelcula
hace un recorrido exhaustivo y muy crtico
por diferentes aspectos de la realidad
espaola. La sanidad, la educacin, el precio
de la vivienda, la guerra de Irak, el accidente
del Yak-42, la muerte del reportero Jos
Couso, la soledad de los ancianos, la
inmigracin son alguno de los aspectos sobre
los que se detienen los cortometrajes. Hay
unos, la mayora, que utilizan imgenes de
la realidad, otros realizan relatos de ficcin
con actores conocidos, y otros que van a la
bsqueda de la gente de la calle, miembros
de la sociedad civil, que cuentan frente a la
cmara terribles experiencias. A tal fin, Pedro
Almodvar, realizador de cine que no
participa en la pelcula, manifest,
refirindose a los cineastas participantes:
Estoy orgulloso de ellos, estoy orgulloso de
ser un director espaol. Esta pelcula es un
gesto, una patada a los genitales del partido
que est en el poder. Es una iniciativa
maravillosa, absolutamente necesaria y
legtima. Lo que ms me ha gustado es que
los directores han cogido la realidad y la han
puesto tal cual, mostrando la fuerza
demoledora de imgenes que hemos visto.
14
Con un montaje en el que se proyectan
los cortos uno detrs de otro con el ttulo,
el nombre del realizador y un mismo motivo
un ovillo que se va enredando, la
distribucin de la pelcula se ha realizado
tambin a travs de internet.
15
Aunque resulta
casi imposible evaluar la verdadera
efectividad de la pelcula, lo cierto es que
se ha convertido en todo un fenmeno social,
al margen de su calidad. No slo en la
televisin, especialmente aquellas empresas
televisivas espaolas afines a la oposicin del
antiguo partido en el gobierno, se ha hecho
116 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
eco del manifiesto contra la gestin del
Gobierno. Distintas asociaciones,
universidades y cines espaoles han querido
proyectarlo. Sin embargo, hay motivo para
creer que tiene cierta base documental.
Predomina la opinin sobre la descripcin de
hechos y una porcentaje de ellos un 25%
de ellos son, simplemente cortos de ficcin
con un fondo de mofa o crtica. Pero tambin
hay algo de reflejo sesgado o reverberacin
de la historia reciente del pas en Hay
motivo.
16
De hecho, la finalidad de la pelcula
es llegar al mayor pblico posible, por ello,
adems de las televisiones, los responsables
de este proyecto se centrarn tambin en
canales alternativos. En el planteamiento a
propsito de la reflexin sobre la pertinencia
o no de estas pelculas, debemos hacer
obligada referencia a la pretensin de
participacin o, no del pblico sobre las
temticas que en ellos se abordan y que estn
inscritas tanto en el tratamiento de la accin
enunciativa de la propuesta cinematogrfica
de los documentales,
17
cuyas pretensiones son
promover una proximidad del espectador con
las pelculas, bases de sus dimensiones
discursivas; junto a las propuestas de registros
visuales mediante la introduccin, en las
cintas, de las imgenes reales de los
acontecimientos a propsito de los cuales se
abordan las temticas. Por tanto, una vez
registrada o construida la representacin de
la realidad evidentemente subjetivas a travs
de las opiniones de los entrevistados y de
los especficos montajes de los realizadores
, facilitndonos creer haber accedido a un
cierto conocimiento de las verdades
expuestas, stas slo adquieren sentido
cuando el espectador est en situacin de pre-
conocimiento de la temtica en ellas
abordada. Por tanto, en la funcin de dar
sentido a la realidad se configura el espacio-
lugar que los realizadores atribuyen al
pblico. Y, a su vez, es el elemento necesario,
cuya presencia indispensable es requerida
para que las pelculas encuentren equilibrio
y adquieran su sentido.
Este es el planteamiento que maneja
Andrew Jarecki, director de Capturing the
friedmans (USA, 2003),
18
para quien la
verdad siempre permanece oculta: Siempre
vi como uno de los temas fundamentales de
este film el hecho de que por mucho que
conozcamos a una persona nunca llegaremos
a saberlo todo sobre ella. Por eso prefera
que fueran los espectadores quienes sacaran
sus propias conclusiones.
19
Su direccin es
precisa y aunque nos introduce en las fauces
mismas del horror nunca pierde el respeto
por nadie: victimas, policas y sobre todo la
propia familia tiene su tribuna para explicar
su punto de vista. Es un film cargado de
emociones muy fuertes. La pederastia es
material muy sensible y es muy difcil no
caer en el tremendismo barato. Sin duda muy
pocas veces hemos podido asistir tan de cerca
al ocaso de unos seres humanos a los que
nadie jams quiso darles el beneficio de la
duda.
Sin embargo, en las distintas
documentales objetos de este estudio, los
espacios que construyen sus realizadores al
espectador son espacios cerrados que
contrastan, intencionadamente, frente a los
espacios abiertos en el que se registran a los
entrevistados, son espacios cerrados por la
confrontacin perceptiva entre unos y otros
y, a su vez, por la propia percepcin
ideolgica del espectador, espacios
inquietantes que provocan en ste situaciones
comunicativas de alter-ego permanente. Es
una situacin incmoda, esa coaccin que
experimenta el pblico le obliga a preguntarse
por la actitud que adoptara en su vida real
frente a situaciones como las testimoniadas
en los filmes. El espectador, en su toma de
conciencia, acta como sujeto integrador de
conocimiento, donde se une a l o, se
distancia. Por tanto, su exterioridad es
imposible. Como reclama Monterde, Esa
toma de conciencia ya sugiere entender la
prctica realista desde una perspectiva tica,
social o poltica y conduce a un compromiso
con esa realidad (), abocado desde ah hacia
un eventual deseo de transformacin de la
realidad, resuelta eso s en el imaginario, y
slo operativa desde ah.
20
Quizs los distintos filmes no tienen la
voluntad de convertirse en el retrato de la
sociedad a la que se dirigen con sus
dispositivos cinematogrficos, sino a travs
de las palabras que se hacen or en ellos.
La diversidad de las razones y afectos
registrados, de las situaciones colectivas y,
personales, de alguno de ellos, de la
representatividad de los acontecimientos
117 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
histricos a los que se hace expresa referencia
y, de las imgenes simblicas insertadas en
ellos, nos permite aproximarnos a las
pelculas como si se tratara de una
composicin cinematogrfica de lo que slo
los espectadores podemos, y quizs debamos,
extraer finalmente su significado.
Tal vez estos filmes se presenten bajo el
slogan de hay que recuperar todo lo que nos
es til. En si mismas son una cuestin de
tica. Los realizadores con sus cmara, a
travs de ellas se convierten en recolectores
en busca de personajes, en busca de los
huecos y los surcos, de lo til de la vida;
buscan entre la vida cosas que an tengan
vida ms all de la vida. Pelculas acerca
de encontrar valor all donde otros no ven
nada. Ah est la vida, parecen decir estos
documentales. Recuerdan todos ellos la
urgencia cotidiana por mirar lo que sucede,
por dar sentido a lo que pasa, por tratar de
conectar los hechos entre s buscando darles
sentido; buscando ese otro lado del mundo
que ya no es sino el lado invisible de la
memoria. Al hacer sus pelculas, ellos espigan
aquellas imgenes que otros cineastas nunca
recogieron con sus cmaras. Sin embargo,
quien la mira sabe que tan slo son reflejo
de un misterio que siempre se escapa de los
bordes de la imagen para esconderse en algn
refugio fuera de los encuadres. Entonces
sabemos que su mirada est determinada para
que podamos reconocer que en realidad
filman para atrapar el tiempo del juego, que
no es otro que el tiempo de la vida.
_______________________________
1
Universidad Europea de Madrid.
2
Bacon, Francis, The Essays, ed. John Pitcher,
Harmondsworth, Penguim Books, 1986, p. 25.
3
Ntese, sin embargo, que los relatos existen
en el tiempo y las imgenes en el espacio. A
diferencia de las imgenes, las palabras, los textos
escritos fluyen continuamente ms all del
encuadre de la pgina, los libros no delimitan las
fronteras del texto, el cual nunca llegan a
constituirse por completo como un todo material,
sino slo en compendios; la existencia de stos
reside en su continua corriente de palabras que
les da su unidad y que fluye de principio a fin,
durante el tiempo que dedicamos a su lectura. Las
imgenes, contrariamente, se nos presentan de
manera instantnea, contenidas en su encuadre.
Lo que vemos cuando seguimos las imgenes en
la pantalla, no estn en un estado inmutable. Lo
que vemos en pantalla, son imgenes traducidas
en nuestra propia experiencia. Desgraciadamente,
o por suerte, slo podemos ver aquello para lo
cual contamos ya con imgenes identificables.
Misteriosamente, o bien por ello, ah resida uno
de los elementos prioritarios en la imagen
cinematogrfica como registro, como documento.
4
Vase J. M. Catal y Otros, Imagen, memoria
y fascinacin. Notas sobre el documental en
Espaa. Madrid, Ocho y Medio, 2001, p. 8.
5
Tomamos las consideraciones elaboradas por
Monterde al manifestar, Clarificando el hecho de
que la representacin flmica deriva de ciertas
estrategias semiticas y pragmticas, () que se
centran en tres grandes lneas de accin: efectos
de accin, los efectos de contigidad, de
implicacin y de rechazo. Vase E. Monterde,
Realidad, realismo y documental en el cine
espaol, en Jos M Catal y Otros, Imagen,
memoria y fascinacin. Notas sobre el documental
en Espaa. Madrid, Ocho y Medios, 2001, p. 17.
6
Idem, cit. ant., p.17.
7
Ntese que el documental no puede
disociarse de la manipulacin. La distorsin de
la realidad es evidente, por ejemplo, en las
pelculas de la directora nazi Leni Riefenstahl,
precursora de la manipulacin poltica en el gnero
documental, pura propaganda. Diferente e incluso
vlida es la manipulacin de Flaherty en Nanuk,
el esquimal 1920-1922; la primera pelcula del
llamado gnero documental narra la vida diaria
de una familia de esquimales. Para rodarla, el
director tuvo que construir un igl ms grande
de lo normal y pedir a los esquimales que
cambiaran su horario para adaptarse a las
condiciones del cinematgrafo. En esencia no se
transform la realidad, sin embargo, es permisible
plantearse s grab la cmara al verdadero Nanuk.
Una duda similar despierta la pelcula En
Construccin al cuestionarnos la actitud de los
obreros que aparecen en la pelcula. De hecho,
Guerin, el realizador, reconoce haber acudido a
los trucos de la creacin cinematogrfica para
grabar esas escenas del barrio chino barcelons,
que se disfrutan en la pantalla. El director entiende
el documental como un gnero cinematogrfico
a medio camino entre la ficcin y la realidad.
8
La propuesta cinematogrfica que este
documental atribuye a las diversas opiniones que
registra, describe un tratamiento de la accin
enunciativa verdaderamente sorprendente. La
proximidad y la distancia ideolgicas de quienes
son citados frente a la cmara y ante el micrfono,
junto al rechazo deliberado de una proximidad tal
del pblico con ellas, facilitando el conocimiento
o intentndolo al menos de la razn de unos
y otros, permite advertir pequeos aspectos del
tejido poltico, social y humano en las voces de
118 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
quienes quieren explicar su visin de lo que estn
viviendo, y afrontan lo que sienten, ms que el
anlisis de lo que est sucediendo.
9
Declaraciones del realizador recogidas en el
Press Book de la pelcula, San Sebastin, 2003.
10
El lugar que ocupa Meden,
intencionadamente en el documental, camuflado
en el bosque de las razones de unos y otros
y, el espectador, para registrar, visual y
enunciativamente, la rivalidad entre ellos.
11
La funcin perceptiva del film est inscrita
en la metfora construida a lo largo de ste, y
en su ttulo: La pelota vasca. La piel contra la
piedra. Ese golpe de pelota razones sin
razones- contra el frontn la rabia, la ira, el
odio, la incomprensin, la incomunicacin-, y a
su vez, el juego que representa la tradicin
ancestral vasca; frente a lo que sienten, a las
formas de afrontar lo que sienten, ms que a lo
que se vive: la piel contra la piedra y,
traspasarlo, superarlo a travs de la toma de
conciencia, de la evolucin de las creencias del
dilogo y la educacin de las nuevas generaciones.
12
Ntese que sobre alguno de ellos, el
transcurso del tiempo ideolgico acerca del
conflicto vasco presenta una evolucin a tenor de
sus declaraciones y, en funcin de lo que han
vivido en primera persona y afrontan lo que siente.
13
Un colectivo de 32 personajes de la vida
pblica espaola, directores de cine en su mayora-
han participado en la reciente campaa electoral
con una pelcula que ataca frontalmente al Partido
Pupular; y lo han hecho en un tiempo rcord, con
slo tres semanas de preparacin, lo justo para
llegar a la semana clave a las elecciones e inclinar
el voto de los indecisos hacia el lado opuesto de
la candidatura de dicho partido poltico, que es
la diana de buena parte de los dardos lanzados
por los realizadores del film.
14
Declaraciones ralizadas por Pedro
Almodovar, El Pas, sbado 6 de marzo de 2004.
15
Se puede encontrar la pelcula en las redes
de informacin compartida (P2P) o, de forma ms
sencilla en las pginas web de los peridicos El
Mundo y El Pas. Tambin est colgada en la red
en la direccin www.haymotivo.com.
16
Realizando una seleccin subjetiva de los
cortometrajes que mayor consistencia o
credibilidad documental ofrecen obtendramos que
el del realizador Manuel Gmez Pereira y su
minireportaje sobre el Yak 42; de Fernando
Colomo y la tragicomedia real de un trabajador
que pierde un valioso da de sueldo por la
inauguracin anticipada de un nuevo aeropuerto;
V. Garca Len y su trabajo de la drogadiccin,
un problema social que compete a los gobernantes.
En cualquier caso, hay de todo, hasta el juego
inteligente de Jos Luis Cuerda, que nos devuelve
al personaje de Aznar, presidente actual en
funciones, cuando estaba en la oposicin y de las
promesas que no ha cumplido.
17
Especficamente en La Pelota Vasca. La piel
contra la piedra, de Julio Meden o, en el ganador
del oscar al mejor documental norteamericana
Bowling for Columbine, de Michael Moore. El
realizador plantea una reflexin sobre la cultura
estadounidense de las armas de fuego y sus efectos.
Una apasionante radiografa de ambiente social,
motivos polticos e intereses empresariales. Su
punto de partida: la famosa tragedia de instituto
Columbine, donde le 20 de abril de 1999, 12
alumnos fueron asesinados a sangre fra por dos
de sus compaeros. La tcnica utilizada, la
encuesta sobre el terreno a travs de la
confrontacin directa de testigos y vctimas; su
fuerza, un mtodo de entrevistas infalibles, con
aires de inocencia ero sutilmente inquisidor.
18
Nominada al Oscar en el 2004, ganadora
del Premio del Gran Jurado de Sundance y
aclamada por la crtica internacional, Capturing
the friedmans, es una odisea que est conectada
con la tradicin de la pica americana. Aunque
describe bsicamente hechos que ocurrieron
durante el ltimo cuarto de siglo pasado, su xito
y posterior declive deja al descubierto las
excelencias y miserias de nuestro propio sistema,
que permiti ambas cosas, al destripar las
manipulaciones y mentiras de un sonado caso de
pederastia en Estados Unidos.
19
Declaraciones del director en la rueda de
prensa presentacin de la pelcula.
20
Monterde, J.E., obra cit., p. 21.
119 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
Comic e cinema, uma relao entre iguais?
Gisa Fernandes DOliveira
1
Em janeiro passado, o trabalho final para
a disciplina Limites da Representao da
Imagem deveria ser apresentado na forma de
um seminrio, aberto ao pblico. A cada dia
dois alunos abordariam seus temas de pes-
quisa, sob a luz da argumentao proposta
pelo filsofo francs Michel Foucault em seu
livro As palavras e as Coisas,
2
segundo a
qual a relao entre as representaes e o
que se representa, transforma-se conforme a
configurao do saber em determinada po-
ca. O segundo dia seria reservado ao cinema
e aos comics (nessa ordem). Nos dias an-
teriores apresentao vrios colegas vieram
saber mais detalhes e confirmar presena.
Porm, o que no princpio havia sido motivo
de grande satisfao para mim no passava,
na verdade, de um mal entendido. As pes-
soas queriam sim, assistir ao segundo dia de
seminrios, mas queriam faz-lo por pensa-
rem se tratar de um dia dedicado ao cinema.
Exclusivamente ao cinema. Este pequeno
episdio confirmou uma suspeita surgida logo
no incio da pesquisa: falar de comics lidar
com uma espcie de patinho-feio, uma
linguagem que apesar de no ser descartada
e nem de ter sua existncia ignorada, per-
manece sempre numa posio menos favo-
rvel, um pouco de lado, um tanto quanto
negligenciada por outras linguagens com
caractersticas bastante prximas s suas.
Dentre elas, o cinema. A primeira aproxima-
o que se faz entre cinema e comics a
de que ambas as linguagens trabalham com
imagens, o que implica numa primeira re-
flexo: trabalham da mesma forma? Esta
pergunta, embora aparentemente possa ser
respondida de maneira bvia (as formas so
diferentes uma vez que o cinema lida com
imagens em movimento e os comics com
imagens estticas), ser o ponto de partida
para nossa discusso, dividida para os fins
desta apresentao, em quatro pontos:
1. Como se formam as imagens numa
folha ou numa tela?
2. Cinema arte coletiva x comics arte
individual e o peso da indstria cultural em
cada uma das linguagens.
3. Filme - vira comic - vira filme. Faz
diferena?
4. Afinal, quem representa melhor a
realidade: os comics ou o cinema?
1. Como se formam as imagens numa folha
ou numa tela?
Como dissemos anteriormente, o ponto
de partida para uma discusso que envolva
comics e cinema a maneira como cada uma
dessas linguagens se utiliza deste denomi-
nador comum, a imagem. Enquanto o cine-
ma aprisiona uma imagem em movimento,
congelando-a, para depois, via reproduo
(projeo de um determinado nmero de
fotogramas por minuto) restituir-lhe a din-
mica, os comics criam imagens que buscam,
via recursos grficos, dar a impresso de
movimento. Sobre esta possibilidade de
imprimir movimento a imagens estticas, sem
a interferncia de nenhum recurso externo,
discorre Umberto Eco, a partir da pesquisa
da sociloga francesa Evelin Sullerot com
fotonovelas (dispostas graficamente segundo
o mesmo esquema dos comics, a saber, a
partir de quadros justapostos que observados
seguindo-se uma direo pr-determinada
contam uma histria):
(...) numa pesquisa de opinio feita
sobre a capacidade de memorizao
de uma fotonovela, tornou-se patente
que as leitoras submetidas ao teste re-
cordavam cenas que de fato no
existiam na pgina, mas resultavam
subentendidas pela justaposio de
duas fotografias. Sullerot examina
uma seqncia composta de dois
quadros (peloto de execuo dispa-
rando, condenado cado no cho),
referindo-se aos quais, os sujeitos
120 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
falavam longamente de uma terceira
imagem (condenado enquanto caa).
3
Ou seja, o observador, gera uma imagem
virtual a partir de uma imagem real, con-
ferindo movimento ao todo. A esta capaci-
dade d-se o nome de continuum virtual.
Note-se que a imagem gerada via continuum,
apesar de ser criada no interior da minha
mente (fenmeno individual), ser tambm
coletiva, pois vrios observadores geraro
imagens de igual contedo. Exemplificando
com as imagens citadas por Sullerot: ao
observar a primeira imagem (peloto) e a
terceira (homem cado no cho), nenhum es-
pectador se recordar de uma figura de um
homem comendo, ou danando. O continuum
que cabe, que se encaixa nestas imagens, tem
de ser o do homem enquanto cai. Esta imagem
que no est em lugar nenhum, no entanto,
est em todos que observam a srie. Eco
entender essa previsibilidade como uma
falha comunicativa, uma supresso de
redundncia que em nada altera ou melhora
a capacidade informativa do conjunto. , em
suma, como um telegrama que comunique
(eliminando toda a redundncia) que o Natal
cair no dia 25 de dezembro.
4
Apesar de ter a sua graa, a afirmao
de Eco um tanto quanto injusta, pois reduz
o continuum a uma informao desnecess-
ria (mesmo sem o telegrama, saberamos que
o Natal no cai em outra data, seno no dia
25 de dezembro). O continuum no nos ofe-
rece algo que j sabemos, ao contrrio
possibilita que o sabido, o que se v, gere
uma informao nova, previsvel, sim, mas
no banal nem desprezvel. O continuum em
si no , de fato, responsvel pelo ato
comunicacional completo, mas ele que
permite que esse ato se processe. Em outras
palavras, atravs do continuum que a
histria flui, ele que introjeta movimento
numa srie de imagens estticas.
Enquanto no cinema o continuum dado
por um elemento externo, um projetor, que
pode inclusive alterar a velocidade dos
quadros e que delimita, em ltima instncia,
o tempo da narrativa, nos comics esse
continnum est relacionado ao tempo de
leitura da histria. Um tempo que, embora
aparentemente determinado pelo leitor, pre-
cisa seguir um ritmo, caso contrrio a com-
preenso da narrativa pode ser prejudicada,
pois, ao ler um comic, se tenho interesse em
compreender a histria e no apenas admirar
cada quadro, h um certo limite de tempo
de observao a ser respeitado. No posso
demorar-me, digamos, um dia inteiro apre-
ciando um s enquadramento, sob pena de
no mais entender a histria (a lacuna a ser
preenchida entre o ltimo quadro desta pgina
e o primeiro da prxima vai se tornar cada
vez maior e mais dificultoso seu preenchi-
mento). Esse tempo de leitura o tempo
extrnseco do quadrinho, que no pode ser
definido precisamente, no marcado pelo
tempo da projeo, como o caso do filme
no cinema, porm faz-se sentir perfeitamen-
te, de maneira to concreta quanto o tempo
de projeo de um filme.
Pois bem, at aqui, as diferenas indicam
um caminho comum: ambas trabalham com
imagens que, atravs de estratgias diversas,
passam ao observador, em maior ou menor
grau, a impresso de movimento, mas este
apenas o primeiro passo rumo ao objetivo
maior almejado por ambas as linguagens:
narrar, contar uma histria. Para tanto, o filme
assim como os comics precisam ordenar suas
imagens de um modo bastante especfico. Ve-
jamos primeiramente como isto acontece nos
comics.
Via de regra a leitura da pgina de um
comic acontece segundo os padres ociden-
tais, comeando pela primeira linha no alto
da pgina, da esquerda para a direita. Os seja,
como faramos com qualquer texto escrito em
prosa. Alguns desenhistas, como o recente-
mente falecido italiano Guido Crepax, sobre-
tudo em sua Valentina buscam romper com
essa leitura guiada ao explorarem ao mxi-
mo o uso no-linear do que Cirne (1975,
2000) chama de blocos significacionais: uma
rea da pgina onde a relao entre os quadros
fosse de tal modo expressiva que ela passaria
a determinar a ao significante da narrativa
e, em conseqncia, a da leitura.
5
No entanto, mesmo trabalhos como os de
Crepax, tendem a guiar o olhar numa direo
tradicional. Outras leituras permanecem como
possibilidades em aberto, caminhos alterna-
tivos que o olhar poder traar como num
exerccio complementar.
No cinema, curiosamente, esse ordena-
mento das imagens remete-nos, num primei-
121 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
ro momento, aos comics, uma vez que o
roteiro, antes de ser filmado, ser
esquematizado, representado graficamente por
um story board, no qual cada cena dese-
nhada quadro a quadro, da maneira que
dever aparecer na tela, com os
enquadramentos e movimentos de cmeras
desejados, ou seja, j com a sugesto de como
a leitura dessas imagens dever ser feita. Aps
este estgio embrionrio, durante o qual o
futuro filme j existe, mas apenas enquanto
comic, as cenas do story board, uma vez
filmadas organizam-se em um plano-
seqncia, a unidade mnima significante da
linguagem cinematogrfica
E se o bloco significacional apontava
quase sempre numa direo linear, o plano-
seqncia, por outro lado, pode ser longo,
curto, cheio de cortes, avanar no tempo
cronolgico ou nele retroceder, enfim, uma
infinidade de recursos que desvendam, por
sua vez, uma srie de possibilidades narra-
tivas.
2. Cinema arte coletiva x comics arte
individual
Tambm neste ponto poderemos traar
alguns paralelos entre os comics e o cinema.
O processo de construo de um filme,
da concepo distribuio, envolve quase
que necessariamente
6
a participao de v-
rias pessoas. Os comics, por sua vez, neces-
sitam, basicamente, de um desenhista e lpis
e umas tantas folhas de papel. Desse carter
coletivo do cinema decorre uma
vulnerabilidade muito maior do cinema s leis
da indstria cultural. Que histria ser con-
tada e como e onde, tudo depende muito mais
de recursos e aprovaes de terceiros do que
no caso dos comics, mas estes, apesar de
gozarem de uma maior liberdade, especial-
mente no que diz respeito fase de confec-
o esto igualmente sujeitos a duras regras
de mercado quando se trata da distribuio.
Durante a dcada de 1910 o crescente su-
cesso dos comics junto ao pblico levou
criao, por parte de um executivo do ramo
jornalstico - William Hearst, proprietrio do
New York Journal - do King Feature
Syndicate, que passou a centralizar e con-
trolar a distribuio das histrias. Publicar
tiras significava um nmero maior de jornais
vendidos e, conseqentemente mais patroci-
nadores e mais lucros. Na esteira do King
Feature surgiram, majoritariamente nos
Estados Unidos da Amrica, muitas outras
destas agncias distribuidoras de comics para
jornais e revistas. A partir de uma frmula
simples - a de vender barato para lucrar no
atacado, possvel devido grande quantida-
de da oferta, os syndicates foram, em grande
parte, os responsveis pela runa de vrios
mercados locais. Incapazes de venderem seus
trabalhos para os jornais (uma vez que estes
podiam adquirir comics norte-americanos por
preos consideravelmente mais baixos),
muitos desenhistas abandonaram o ofcio ou
optaram por linhas menos convencionais, que
levariam aos chamados comics alternativos,
nos quais possvel encontrar temas como
sexo, drogas e violncia, tratados com apuro
grfico-visual. Ironicamente, seriam estes
mesmos autores at ento alternativos que
salvariam os syndicates da grande crise na
qual estes se encontravam devido ao desgas-
te do modelo tradicional dos comics. Pode-
mos afirmar, portanto, que desde sua afir-
mao enquanto linguagem os comics esti-
veram ligados idia de uma diverso
popular, de massas. Outra foi a origem do
cinema, como bem podemos perceber no
episdio ocorrido em 1896 - equivale a dizer
apenas um ano aps a primeira apresentao
pblica do cinematgrafo no Grand Caf de
Paris -, quando um funcionrio da Lumire,
ao presenciar um acidente em So
Petersburgo, durante a coroao de Nicolau
II, registra o ocorrido em sua cmera, inau-
gurando uma nova forma de jornalismo.
7
A
febre de aventureiros dispostos a registrar
tudo o que pudessem captar em suas cmeras,
carregadas em trens, bales, em viagens pela
Europa e pela Amrica, aponta igualmente
na direo de uma busca de outras funes
para o cinema, que no apenas o entreteni-
mento. Vale repetir que estamos tratando aqui
dos comics enquanto linguagem estabelecida
e da ser possvel tratar este paralelo com
o cinema, visto que ambos, a partir desta
perspectiva, seriam inventos do final do
sculo XIX. Partindo sempre desta
contemporaneidade, podemos ainda afirmar
que o suporte de cada uma dessas lingua-
gens, ao mesmo tempo em que lhes apro-
xima, uma vez que ambas utilizam-se de
122 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Blocos significacionais (Valentina - G. Crepax)
123 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
inovaes tcnicas tpicas das modernas
sociedades industrias; lhes confere certa
distncia, pois se um comic book, depois de
pronto, j pode ser frudo, um filme precisa
ainda de um tipo de projetor, de um aparato
tcnico que permita a sua reproduo e,
somente ento, sua fruio.
3. Filme - vira comic - vira filme. Faz
diferena?
O que sentimos diante de uma imagem?
Susan Sontag (2003) tenta responder a esta
pergunta, centrando o foco de sua anlise nas
imagens de guerra e atrocidades em geral.
Pelo menos do ponto de vista do que se
admite em pblico, imagens de extermnio
suscitam dor, medo, vergonha, pavor, pni-
co. Sontag vai alm desta primeira impres-
so e, considerando desde pinturas sobre
invases e batalhas at recentes filmes de
guerra, afirma que talvez tambm haja um
tanto de prazer mrbido, xtase, catarse
pessoal envolvida no voyeurismo que exer-
cemos como observadores de uma foto de
guerra. Apesar de sermos permanentemente
bombardeados por elas, desde o despertar at
o final do dia, mesmo sendo impossvel
escapar delas, as imagens ainda nos pren-
dem, nos enlaam e basta pararmos diante
de uma delas, saltando do rpido exerccio
inscrito no verbo olhar, para a contemplao
exigida pelo verbo ver para que minha ao
passiva se desdobre num leque de possibi-
lidades ativas, interpretaes, sensaes que
no so somente geradas pela imagem que
observo, mas atravs da interao entre mim
e a imagem. Voltando ao nosso tema, o que
se constata que essa interao entre ob-
servador e imagem ser, em grande parte,
determinada pelo tipo de imagem que se
observa: se desenhada ou projetada, se a cores
ou em preto-e-branco.
Tomemos como exemplo o que poder-
amos chamar de vai-e-vem entre as lin-
guagens dos comics: filmes baseados em
personagens de comics e, inversamente,
comics que surgem aps um grande sucesso
cinematogrfico. Pois bem, o primeiro caso
gera, via de regra, uma certa polmica. Os
fs dos personagens grficos muitas vezes
no aceitam a transposio de seus heris
para seres de carne e osso e, mesmo quando
um lanamento ansiosamente aguardado,
comentrios cidos costumam suplantar os
elogios. O contrrio, a quadrinizao de um
heri do cinema, acontece de forma muito
discreta. Trata-se, na verdade, quase sempre
de uma personagem de filme de animao,
ou seja, um desenho animado que vira
desenho esttico e segue vivendo suas
aventuras nos comics. possvel ainda que
um personagem de carne e osso torne-se, pri-
meiramente, um desenho para tev e s ento
aparea atravs de outros produtos licenci-
ados, como comics ou lbuns de figurinhas.
No raro acontece um ciclo completo: um
personagem de comics transformado em
filme e, posteriormente, relanado no forma-
to de comics. De qualquer modo, a trans-
posio de um heri do cinema para o papel
d-se de forma tranqila, sem grandes inter-
ferncias da mdia, nem posteriores crticas.
A questo : por que esta diferena? Cer-
tamente estudos de recepo podem indicar
respostas, mas o que podemos inferir atravs
da prpria linguagem? Por exemplo: uma vez
que se trata de um mesmo enredo, seriam
os personagens dos comics e os personagens
criados para cinema os responsveis por esta
diferente recepo?
Sobre a estrutura dos personagens, veja-
mos o que nos diz Umberto Eco. Discorren-
do a respeito dos personagens presentes nos
comics, o autor diferencia as estruturas nar-
rativas dos heris grficos, das que so
prprias dos mitos clssicos e das figuras
religiosas. Um personagem mtico ou reli-
gioso estava ligado a uma narrativa, a qual
descrevia relatos passados, conhecidos de
todos. Ouvir uma narrativa mtica no era
um meio de conhecer novos fatos a respeito
do heri em questo, mais sim de reconhec-
los, de desfrutar mais uma vez daquelas
aventuras. Certamente o sucesso da narrao
dependia em boa parte da capacidade de cada
narrador enriquecer a histria com um n-
mero maior ou menor de detalhes, mais ou
menos atraentes, mas estes complementos no
modificavam a espinha dorsal da histria,
preservando-a em sua estrutura fixa, a qual
no poderia mais ser alterada, nem negada.
J o personagem de histrias em comics, por
sua vez, pertence civilizao do romance
e a uma estrutura narrativa sustentada, no
pela repetio e pelo reconhecimento de fatos
124 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
passados, mas pela busca da novidade, do
que ainda no ocorreu, ou seja, do futuro.
A personagem do mito encarna uma
lei, uma exigncia universal, e deve,
numa certa medida, ser, portanto,
previsvel, no pode reservar-nos
surpresas; a personagem do romance,
pelo contrrio, quer ser gente como
todos ns, e o que lhe poder acon-
tecer to imprevisvel quanto o que
nos poderia acontecer.
8
Walter Benjamin v nessa forma de contar
uma histria, advinda com o romance do
incio da Era Moderna, na verdade o declnio
da narrativa:
(...) o narrador um homem que d
conselhos ao ouvinte. Mas se hoje
dar conselhos comea a soar nos
ouvidos como algo fora de moda, a
culpa da circunstncia de estar di-
minuindo a imediatez da experincia.
Por causa disso no sabemos dar
conselhos nem a ns, nem aos outros.
O conselho de fato menos resposta
a uma pergunta do que uma proposta
que diz respeito a uma continuidade
de uma histria que se desenvolve
agora.(...) O conselho, entretecido na
matria da vida vivida, sabedoria.
A arte de narrar tende para o fim
porque o lado pico da verdade, a
sabedoria, est agonizando.
9
A narrativa, segundo Benjamin, passa a
submeter-se informao, uma nova forma
de comunicao cujo maior valor a novi-
dade e, como o que num momento era
novidade logo se torna ultrapassado, este tipo
de narrativa, ao contrrio do que acontecia
com as narrativas mticas, incapaz de se
desdobrar, de se multiplicar e est fadado a
se esgotar, a se exaurir, a envelhecer. No
entanto, o personagem de comics no pode
ficar mais velho, pelo menos no na velo-
cidade que seus leitores, sob pena de se
descaracterizar e, em ltima anlise, de se
consumir, morrer. Afinal, o que agir,
acumular experincias, colecionar aventuras,
seno sentir a passagem do tempo? A sada
para este impasse trabalhar com duas
instncias de tempo: o tempo extrnseco, o
tempo de fora da narrativa, o tempo de fruio
da histria, sobre o qual j falamos e o tempo
intrnseco, o tempo de dentro da narrativa,
o tempo durante o qual se passa a histria.
Dessa forma, um personagem dos comics
pode mesmo envelhecer (equivale a dizer:
viver aventuras, inserir-se na civilizao da
informao) dentro de uma histria, mas na
pgina seguinte ressurgir novamente jovem,
ou criana, de acordo com o que demandar
a sua caracterizao. E o que acontece com
a personagem do cinema?
Por sua prpria configurao, ou seja, uma
personagem no seriada, cuja histria nos ser
apresentada, desenvolvida e encontrar um
desfecho num perodo pr-determinado de
horas, a personagem do cinema aproxima-
se do personagem clssico, mtico, cuja saga
est traada e no comporta alteraes. E,
no entanto, existem continuaes de filmes,
histrias contadas em vrias partes, perso-
nagens que, primeiramente concebidas como
coadjuvantes, roubam a cena e ganham um
filme inteiro para si
10
, enfim, toda uma gama
de exemplos que se afastam da narrativa
clssica, mtica e se aproximam da narrativa
do romance. Pois bem, isso acontece porque
as personagens de cinema, assim como as
dos comics, transitam por estas duas zonas
de tempo, o que lhes permite uma apropri-
ao de caractersticas narrativas tanto cls-
sicas, quanto prprias da civilizao do
romance, descrita por Eco.
Do que foi dito podemos observar o
trnsito entre as linguagens. No podemos,
contudo, ignorar as diferenas que
efetivamente se manifestam na maneira como
as narrativas se desenvolvem. Ou seja, a
pergunta que figura no ttulo desse tpico s
pode ser respondida da seguinte forma: sim,
faz muita diferena se uma histria contada
via comics ou no cinema. E se a transposio
para a tela grande de aventuras surgidas
primeiramente nos comics no costuma
agradar aos fs mais puristas, isto se deve
em grande parte pelo mal-entendido que
consiste em se esperar ver a mesma coisa
num suporte diferente. Pois a diferena de
suporte, a intermediao de atores, a maneira
como a imagem se forma e se ordena, enfim,
todas as caractersticas aqui descritas nos
levam concluso de que se tratam de dois
125 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
produtos diferentes que, em comum, possu-
em apenas o fato de vislumbrarem o poten-
cial comunicativo de ambas as linguagens.
4. Afinal, quem representa melhor a re-
alidade: os comics ou o cinema?
Convivemos aparentemente de maneira
muito confortvel com a idia de que as
diferentes linguagens visuais so como que
espelhos do real, anteparos nos quais as coisas
do mundo podem projetar-se fidedignamen-
te, oferecendo-se contemplao. Justamen-
te por esse atestado de veracidade conferido
pelo senso-comum s linguagens visuais,
torna-se este um campo frtil e instigante para
aplicarmos a teoria desenvolvida por Michel
Foucault em As Palavras e as Coisas.
11
Como
foi dito, nesta obra o filsofo francs afirma
que a relao entre as representaes e o que
representado, transforma-se conforme a
configurao do saber em determinada poca
(configurao esta denominada pelo autor
episteme). Sendo, pois, uma relao hist-
rica, passvel de sofrer alteraes com a
passagem do tempo, no poder, por defi-
nio, constituir uma verdade absoluta. Somos
levamos a concluir que qualquer represen-
tao, em qualquer linguagem, seja ela vi-
sual, verbal, sonora ou hbrida, como o caso
tanto do cinema quanto dos comics, apre-
senta limites que dizem respeito a sua
prpria historicidade ou, parafraseando
Foucault, episteme dentro da qual esta
representao se insere. Assim sendo, os
espelhos do real perdem sua aura de
infabilidade, diafanamente pairando acima
de qualquer suspeita quando se trata de re-
tratar o real, e ganham um carter concreto,
de algo que pode ser construdo, negociado,
historicizado.
A relao entre os comics e o cinema
no , portanto, uma relao entre iguais,
do ponto de vista semitico, no que diz
respeito s caractersticas especficas de cada
linguagem, porm, se pensarmos em ambas
as linguagens como maneiras de se repre-
sentar o real, encontraremos um ponto de
encontro, uma esfera dentro da qual ocorre
uma relao entre iguais. Ao criarem um
espao prprio, externo ao real, que so
justamente as representaes do real, nem
os comics, nem o cinema nos brindaro com
a totalidade deste. As partes do todo, isto
, as representaes do real que as lingua-
gens desvendam, mesmo se somadas, no
representam o todo. Sempre haver algo que
lhes escapa, um lado de fora, algo que est
alm dos limites da representao. Ainda
assim, so maneiras de nos aproximarmos
desta realidade, lidarmos com ela, trat-la,
reinvent-la.
126 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Bibliografia
Aumont, Jacques. A Imagem. Campi-
nas: Papirus, 1993.
Benjamin, Walter et alli. O Narrador,
in Os Pensadores. So Paulo: Abril Cul-
tural, 1980.
Cirne, Moacy. A Exploso Criativa dos
Quadrinhos. Petrpolis: Editora Vozes,
1970.
_____________. Para Ler os Quadri-
nhos: Da Narrativa Cinematogrfica
Narrativa Quadrinizada. Petrpolis: Editora
Vozes, 1975.
_____________. Histria e Crtica dos
Quadrinhos Brasileiros. Rio de Janeiro:
Editora Europa/FUNARTE, 1990.
_____________. Quadrinhos, Seduo
e Paixo. Petrpolis: Editora Vozes, 2000.
Eco, Umberto. Apocalpticos e Integra-
dos. So Paulo: Perspectiva, 2000.
Foucault, Michel. As Palavras e as
Coisas. So Paulo: Martins Fontes, 1999.
Sontag, Susan. Diante da Dor dos Ou-
tros. So Paulo: Cia das Letras, 2003.
_______________________________
1
Mestranda em Comunicao Social pela
Universidade Federal de Pernambuco.
2
Michel Foucault. As Palavras e as Coisas.
So Paulo: Martins Fontes, 1999.
3
Umberto Eco. Apocalpticos e Integrados.
So Paulo: Perspectiva, 2000, p.147.
4
Idem.
5
Moacy Cirne. Para Ler os Quadrinhos: Da
Narrativa Cinematogrfica Narrativa Quadrinizada.
Petrpolis: Editora Vozes, 1975, pp. 61-62.
6
Aqui compreendida a grande maioria das
produes de cinema, salvo excees sobretudo
na rea de vdeo, que, eventualmente podem ser
criadas e executadas por um nico artista.
7
Fato registrado no livro O Cinema, de
Emmanuelle Toulet (Rio de Janeiro: Objetiva,
2000). Extrato disponvel no stio eletrnico: http:/
/objetiva.com/releases/218-3.htm.
8
Umberto Eco. Op. cit., p. 250, grifo no original.
9
Walter Benjamin. O Narrador, in Os Pen-
sadores. So Paulo: Abril Cultural, 1980, p. 59.
10
A ingnua Cabiria, personagem interpretada
por Giulietta Masina, surge em 1952 no filme Lo
Sceicco Bianco numa nica cena para retornar
como protagonista em 1957, em Le Notti di
Cabiria, ambos dirigidos por Frederico Fellini.
11
Michel Foucault. Op. cit.
127 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
Imagens de som / Sons de Imagem:
Philip Glass versus Godfrey Reggio
Helena Santana
1
e Rosrio Santana
2
I. Introduo
Musicalmente Philip Glass recebe vrias
influncias, nomeadamente da msica popu-
lar americana, das msicas extraeuropeias, do
Jazz e do Rock-and-Roll. Vivendo a uma dada
altura da sua vida na baixa nova-iorquina,
convive com a marginalidade criativa da
poca, recebendo igualmente as suas influ-
ncias. Paris e Nadia Boulanger revelam-se
essenciais na caracterizao e definio da
sua linguagem musical e do seu estilo. com
ela que adquire uma base tcnica slida que
se revelar essencial na definio e quali-
ficao da sua futura produo musical. Glass
estuda ainda com All Rakha e Ravi Shankar
verificando que a msica indiana se baseia
em princpios radicalmente diferentes dos da
msica ocidental
3
. A partir de 1967, e aquando
do seu regresso aos Estados Unidos, simpli-
fica radicalmente a sua escrita, tanto a nvel
meldico, como rtmico, harmnico e tem-
poral. As grandes e elaboradas texturas
contrapontsticas so substitudas por textu-
ras mais simples onde predominam o uns-
sono, o paralelismo e a repetio, que se realiza
(ou no) por desfasamento e utilizando as tc-
nicas da construo (ou desconstruo)
motivica pela adio (ou subtraco) dos
constituintes do objecto sonoro base
4
.
Devido natureza do material sonoro, da
dinmica e do tempo, as obras que tm por
base este processo, resultam num longo
unssono que se desenvolve indefinidamente
no tempo e no espao. Estticas adquirem
uma nova forma de estar e de se desenvolver
constituindo exemplos de um Minimalismo
5
que se revelar, conforme os casos, mais ou
menos radicalista
6
.
II. Msica versus imagem
Segundo afirmaes suas, Philip Glass
compe msica para imagens em movimen-
to. Para ele, teatro, dana, pera e filme so
formas de arte que combinam vrios elemen-
tos de texto, imagem, movimento e som,
elementos presentes em todas as artes
performativas. Realizar uma msica para
filme revela-se, no entanto, diferente da
concepo de uma obra para dana, teatro
ou mesmo da concepo de uma pera. O
filme, fixo, representa uma realidade que
depois de produzida no sofre qualquer
alterao ou variao. As outras artes
performativas, entre as quais a dana, o teatro
ou a pera, no sendo fixas, possuem um
certo grau de variabilidade, presente no
momento da sua criao/interpretao.
Depois de uma passagem pelo mundo da
pera e do teatro musical com as obras
Einstein on the Beach (1975)
7
, Styagraha
(1979)
8
e Akhnaten (1983)
9
, Glass concebe
vrios projectos nomeadamente de msica
para teatro, dana e filme
10
. Focando a nossa
ateno na msica para filme, e a partir dos
anos 80, verificamos que trabalha com vrios
realizadores entre os quais Godfrey Reggio,
Paul Schrader, Errol Morris, Tod Browning,
Joseph Conrad, Peter Greenway ou Martin
Scorcesse. Desta colaborao surge um vasto
conjunto de obras entre as quais:
Koyaanisqatsi (1982; Godfrey Reggio),
Mishima: A life in four chapters (1987; Paul
Schrader) Powaqqatsi (1987; Godfrey
Reggio), The Thin Blue Line (1988; Errol
Morris), Anima Mundi (1992; Godfrey
Reggio), Evidence (1995; Godfrey Reggio),
The Secret Agent (1996; Christopher
Hampton), Kundun (1997; Martin Scorcesse);
Drcula (1999; Tod Browning) ou Kaqoyqatsi
(2002; Godfrey Reggio)
11
.
Da sua colaborao com Godfrey Reggio,
surge um conjunto de cinco filmes:
Koyaanisqatsi, Powaqqatsi, Anima Mundi,
Evidence e Naqoyqatsi
12
, um conjunto de
filmes que prima pela originalidade e qua-
lidade da sua concepo, tanto sonora, como
visual. Analisando os filmes que compem
a trilogia Qatsi concebida ao longo de duas
128 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
dcadas Koyaanisqatsi, Powaqqatsi e
Naqoyqatsi, deparamo-nos com momentos de
grande beleza, tanto pictural, como sonora;
a narrativa visual encontrando o seu paralelo
na sonora. Esta trilogia uma das mais belas
e singulares da histria do cinema de van-
guarda. Sem conter na sua realizao qual-
quer dilogo, ou personagem, possui duas
narrativas, uma visual e outra sonora, que
se complementam interagindo na realizao
de um discurso novo e original. Represen-
tando cada um dos filmes faces de uma
mesma realidade a vida nas suas diversas
formas e a sua destruio por parte do ser
humano, o ser mais destrutivo e violento
face da terra esta trilogia representa um
marco na criao cinematogrfica contempo-
rnea. Concebida ao longo de vinte anos,
contm aspectos, e discursos, que reflectem
princpios de auto-semelhana, elementos
discursivos e tcnicos que se repetem ao
longo das trs obras, dando continuidade a
um discurso que embora diversificado na sua
abordagem, demonstra uma semelhana de
temticas marcada
13
.
Reflectindo sobre a condio do ser
humano e da sua aco no (e sobre o) mundo
que o rodeia, nesta trilogia sons e imagens,
imagens e sons, convergem na realizao de
trs objectos artsticos de uma elevada be-
leza plstica e sonora, contendo em si uma
dimenso artstica raramente conseguida.
O primeiro filme, Koyaanisqatsi, intro-
duz na histria do cinema uma nova con-
cepo visual e sonora. O filme apresenta
duas narrativas fruto de diversos planos,
texturas, ritmos e estratos que se revelam no
som e na imagem. Os movimentos de c-
mara, e os ngulos de filmagem que o
percebem, encontram o seu paralelo na forma
como Glass aborda o material sonoro. A
estratificao do som, e da textura, os pla-
nos, os timbres, os objectos sonoros, con-
tribuindo para um discurso e uma textura de
rara beleza e densidade dramtica, ilustram
e enfatizam o discurso das imagens. A msica,
Minimalista, contribui ainda para a realiza-
o de uma obra de excelncia. Neste filme,
temas e elementos constituintes, surgem em
imagens de rara beleza e sensualidade. Os
espaos fruem-se de forma contnua e diver-
sa mostrando a beleza natural da terra e dos
seus elementos. Progressivamente, o discur-
so transforma-se tornando-se violento, des-
truidor. Esta metamorfose faz-se com, e pelo
homem, seu elemento danificador. Assim, a
beleza de um mundo virgem metamorfoseia-
se numa beleza frentica fruto de uma
sociedade industrializada que se auto-mutila
e auto-destri consumindo a energia, a vi-
talidade, a fora de quem lhe pertence.
Significando na lngua dos ndios Hopi
vida em desequilbrio, Koyaanisqatsi foge
dos cnones mais convencionais sendo um
filme sem discurso verbal, contrapondo cenas,
imagens, sonoridades, ideias e ideais por
vezes dspares. Atravs delas o pblico
convidado a reflectir sobre as vrias imagens
que lhe so propostas. O filme torna-se o
relato da coliso entre dois mundos diferen-
tes.
As diferentes sequncias musicais, uma
srie de variaes sobre um nico tema,
revelam-se sombrias e de uma expressividade
quase romntica que se manifesta na forma
como o compositor descreve os vrios qua-
dros cinematogrficos. O tipo de instrumen-
tao reflecte o ambiente das cenas descritas.
Percebendo o mundo, a nossa forma de viver,
como bela e autntica, o homem vive num
mundo artificial criado custa da natureza
que o alimenta, e que se destri a, pouco,
e pouco
14
.
Mostrando que o homem se encarcerou
num mundo artificial que substitui a natu-
reza da qual nos distanciamos cada vez mais,
e com a qual devamos viver em equilbrio.
Koyaanisqatsi, um objecto que se revela no
tempo e no espao, provoca, assumindo assim
o seu papel enquanto obra de arte. A sua
forma enfatiza a problemtica. Os crescendos
e decrescendos de intensidade contribuindo
na projeco da potica e da poitica fruda.
Powaqqatsi, o segundo filme desta trilogia
compe-se de imagens que reflectem a vida
em contnua transformao. Rodado em
diferentes pases reflecte a vida dos seus
povos, a sua beleza, os seus estilos de vida,
as suas culturas. A transformao dos seus
planos, a estratificao das suas linguagens
d-se mostrando a natureza e a violncia da
vida e da existncia das sociedades no
industrializadas. O preo da industrializao
(ou o preo da no industrializao neste
caso), reflecte-se na existncia dos habitan-
tes deste mundo em contnua transformao.
129 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
O contraponto com as sociedades modernas
e industrializadas faz-se mostrando uma outra
face de uma mesma realidade a vida
humana nas suas diferentes formas; a vida
que se alimenta da prpria vida. O musical
alia-se ao visual, compondo um discurso de
uma elevada beleza artstica.
Powaqqatsi, uma sensao, uma obser-
vao da vida enquanto se transforma,
enfatiza a nossa unidade como comunidade
global pois fixa a diversidade, e a transfor-
mao de diferentes culturas atravs da
introduo progressiva de uma tecnologia que
progride custa do trabalho individual, e
cujos frutos desencadeiam agresses constan-
tes e irreversveis ao mundo ambiente, e
originalidade cultural que tende cada vez mais
para a uniformizao.
Produzido em pases como a ndia, o Egipto,
o Nepal, o Qunia, o Brasil ou o Peru, reflecte
os seus modos de vida, sendo o tema deste
filme, o trabalho. Depois de mostrar algumas
cenas de trabalho manual, Reggio mostra o lado
sujo das cidades habitadas por populaes
desencantadas e inebriadas. O filme, composto
por uma srie de quadros que revelam as formas
de trabalhar, a originalidade das tradies, a
forma como os vrios povos pensam, se re-
lacionam e a sua espiritualidade, revela-se a
celebrao de cada uma das civilizaes que
personifica. Mostra ainda como as diferentes
formas de vida do mundo dito civilizado das
sociedades altamente industrializadas influi
negativamente na sua evoluo.
Em Naqoyqatsi Reggio utiliza a transfor-
mao, com a ajuda das novas tecnologias
de suporte criao, de um conjunto de
imagens preexistentes construindo um discur-
so claro e pleno de significado. A transfor-
mao do modo vivendis e do modo operandis
do ser humano face realidade transpe-se
na forma como o criador concebe a obra de
arte. A msica enfatiza a imagem. Tcnicas
de composio, transformao, variao e
sequenciao do discurso visual reflectem-
se igualmente na concepo do discurso
sonoro. As massas, de maior ou menor
densidade, construdas por espaos de tim-
bres especficos revelam um discurso pictural
reflexo de uma realidade mutante. A meta-
morfose espelha-se na metamorfose da obra
de arte. Imagens, espelho de realidades; sons,
reflexos de uma existncia.
Saliente-se a elevada concepo esttica
das obras frudas. Universos de som e imagem
constroem-se num discurso que celebra a vida
nas suas diversas formas. O homem enquan-
to ser vivo, e o homem enquanto ser de uma
sociedade reflexo do seu imaginrio, tradu-
zem-se em trs objectos artsticos, trs olha-
res do mundo em que existimos. As tcnicas
de estratificao, de rodagem em cmara lenta
(ou rpida), aplicadas tanto imagem, pela
utilizao de dois estratos, de dois elementos
discursivos, como pela modificao da per-
cepo do visual originando uma nova re-
alidade, encontram o seu paralelo no mundo
sonoro atravs da estratificao e densificao
(ou no), do discurso, da acelerao ou
desacelerao discursiva. A sequenciao de
elementos rpidos e lentos, mais ou menos
densos, cria um ritmo visual. Estes ritmos,
repetidos, variados, transformados, provocam
um discurso que reflecte a dinmica
discursiva da obra. As imagens, repetitivas,
hipnticas, reflectem-se em universos sono-
ros tambm eles repetitivos e hipnticos.
Os elementos recorrentes, surgindo
metamorfoseados num momento posterior,
reflectem a sua origem dando continuidade.
As tcnicas de transformao e desfigurao
dos elementos visuais conduzem a novos
elementos visuais que, no entanto, no per-
dem a sua identidade. Musicalmente assis-
timos ao mesmo fenmeno, mesma rea-
lidade. Nestas obras, sonoro e visual con-
fluem para o objecto artstico, no existem
um sem o outro, pois a sua existncia em
separado, mutila-se.
III. Concluso
Embora alguns autores sejam da opinio
que a componente musical no enfatiza os
climas dramticos propostos na obra, somos
da opinio que para alm de os enfatizar est
concebida segundo os mesmos princpios,
tcnicas e ideais criativos. Fruindo o objecto
artstico que se nos apresenta claro e inci-
sivo, verificamos que os excertos que com-
pem a narrativa musical, encerrando todas
as caractersticas tcnicas e estilsticas do
compositor, se revelam de uma intensidade
dramtica bastante elevada, necessitando de
longos espaos de tempo para se desenvol-
ver e fruir.
130 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Visualizando, e analisando, estes filmes,
constatamos que a msica de Glass se revela
contra as correntes dominantes. Diferente, no
enfatiza os climas dramticos propostos pela
narrativa do filme. De curta durao, os
excertos que compem a narrativa musical,
encerram todas as suas caractersticas enquan-
to compositor. A repetio continuada de
breves elementos rtmicos, meldicos e
harmnicos, que se desenvolvem lenta e
gradualmente, atravs de minsculas varia-
es dos seus constituintes, faz progredir o
discurso numa ou outra direco infligindo
por vezes uma modificao profunda na
textura que se realiza de forma, no entanto,
quase imperceptvel a cada novo momento
e quadro narrativo.
A metamorfose lenta das texturas contri-
bui para a alienao e o transe, verificando-
se um ntido paralelismo entre o visual e o
sonoro. Msica e imagem, interagindo de
forma a criar um objecto artstico de um forte
impacto e originalidade, de uma intensa
beleza sonora e visual, transforma universos
de sons em universos de imagens, imagens
de som em sons de imagem.
131 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
Bibliografia
Burton, W. H., Winball, R., Wing, R.
L., Anatomia do Pensamento, s.l., Civiliza-
o Editora, sd.
Oriol, N., Parra, J. M., La expresin
musical en la educacin bsica, Madrid,
Editorial Al puerto, 1979.
Piaget, J., Psicologia e Epistemologia,
Lisboa, Publicaes Dom Quixote 1984.
Porcher, L. (dir.), Vers une pdagogie de
laudio-visuelle, Paris, Bordas Ed., 1975.
_______________________________
1
Departamento de Comunicao e Arte,
Universidade de Aveiro.
2
Escola Superior de Educao, Instituto
Politcnico da Guarda.
3
Glass encontra Ravi Shankar quando trans-
creve, para notao musical tradicional, algumas
seces musicais do filme Chappaqua de Conrad
Rooks. Este encontro ser decisivo na definio
de uma nova linguagem.
4
O processo de adio, ou subtraco, con-
siste na repetio indefinida de um determinado
elemento musical. Quando o elemento alvo de
repetio sofre uma variao atravs da adio,
ou subtraco, de uma altura sonora, este novo
elemento que repetido indefinidamente, e assim
sucessivamente at ao final da obra. A tcnica da
adio empregue pelo compositor em vrias
obras, nomeadamente Strung Out (1967) para
violino solo amplificado, 1+1 (1968), Two Pages
(1968) e Two Pages for Steve Reich (1969) ou
Music with Changing Parts (1970), onde esta
tcnica expande a obra a dimenses inimaginveis,
pois o nmero de repeties efectuadas de cada
um dos elementos no se encontra especificado.
Por consequncia, a durao da obra no
determinada variando entre uma e duas horas. O
acaso presente na sua elaborao no , contudo,
do agrado do compositor que no controla nem
domina totalmente o resultado sonoro.
5
Na Msica Minimal, as estruturas e o
processo de construo da obra devero ser com-
preendidos e assimilados pelo pblico, sendo o
estatismo, a repetio, a contemplao, a suspen-
so temporal, a meditao e a transformao lenta
dessas mesmas estruturas, o mtodo adoptado na
criao e elaborao da obra musical. Estes
processos encontram-se na base de algumas obras,
as mais significativas, de alguns compositores
minimalistas, tanto americanos, como europeus.
6
A repetio de elementos resulta sempre
diferente embora inicialmente, e se no detiver-
mos a nossa ateno no processo proposto, isso
se revele de difcil percepo. Sendo sempre
diferentes, obtemos uma diferenciao da textura
que no , no entanto, aquela a que estamos
habituados. A variao d-se a nveis mais pro-
fundos e subtis do complexo sonoro, como o
caso do dos formantes do som.
7
A obra, com uma durao de cinco horas,
possui uma estrutura em quatro actos. O pblico
livre de entrar e sair da sala ao longo da sua
execuo; o seu colaborador, Robert Wilson. O
libreto consiste num texto contendo um conjunto
de fonemas vrios (nomeadamente nmeros e
silabas), poemas de Knowles, Lucinda Childs e
Samuel Johnson.
8
Nesta obra Glass focaliza a sua ateno na
figura de Gandi. De acordo com a libretista
Constance De Jong, Glass foca o libreto de
Styagraha nos textos de Bhagavad Gita, os
textos clssicos da religio hindu. O libreto re-
sume-se a alguns excertos destes textos, os mais
significativos para o tema e para os autores. Esta
obra revela-se decisiva na mudana de mentali-
dade face pera americana. Devido sua natureza
e tema foi precusora das peras X: The Life and
Times of Malcolm X (1986) de Anthony Davis
e de Nixon in China (1987) de John Adams.
9
Nesta obra Glass focaliza a sua ateno na
figura de um antigo fara egpcio. O seu libreto
comporta vrios excertos de textos originais da
poca em que este viveu. No trabalho de pesquisa
e seleo de textos, Glass teve a ajuda e orien-
tao de Shalom Goldman, historiador da univer-
sidade de Nova Iorque.
10
Assim, compe The Photografer (1982)
inspirado no trabalho do fotgrafo Eadweard
Muybridge, The CIVIL warS (1983) em conjunto
com Robert Wilson, The Juniper Tree (1984) em
colaborao com Robert Moran, Dance (1979)
conjuntamente com Lucinda Childs e Sol LeWitt,
Glass Pieces (1983) com Jerome Robbins, A
Descente into the Maelstrom (1985) em colabo-
rao com Molissa Fenley, e In The Upper Room
(1986) para Twlya Tharp.
11
Philip Glass trabalhar ainda, e de forma
bastante profunda, uma trilogia baseada nos fil-
mes de Jean Cocteau: Orphe (1949), La belle
et la Bte (1946) e Les enfants terribles (1950).
A obra Orphe (1992), para doze instrumentistas
e quatro solistas, bastante clara e transparente.
Musical e textualmente, revela-se bastante subtil,
tanto ao nvel dos coloridos, como dos timbres.
Glass utiliza uma nova concepo de escrita a nvel
vocal que se revela portadora de uma
expressividade rara. Em La Belle et la Bte (1993),
combina a interpretao de msica ao vivo com
a difuso do filme original de Jean Cocteau (depois
de despido dos dilogos e da msica original de
Georges Auric). Glass realizar algumas interpre-
taes ao vivo desta obra, assim como de
132 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Koyaanisqatsi de Godfrey Reggio e Drcula de
Tod Browning.
12
Anima Mundi resulta numa combinatria de
som e imagem elaborada a partir de vrias fo-
tografias do mundo animal e de imagens origi-
nais. A parte musical, concebida por Philip Glass,
baseia-se em ritmos e msica tnicos pouco
explorados e difundidos. Imagem e som preten-
dem refletir a harmonia e diversidade do mundo
animal na sua variedade de espcies, elementos
e sistemas constituintes. Evidence mostra a ali-
enao do ser humano, face ao mundo, provocada
pela visualizao constante, e exaustiva, da te-
leviso e os aspectos psicolgicos deste tipo de
aco. O autor focando a sua ateno no olhar
de uma criana que visualiza o filme Dumbo da
Walt Disney, revela um estado de paralisia mental
tornando-se aos poucos semelhante a um paciente
de um hospital psiquitrico, a um deficiente mental
ou mesmo a um drogado. Reggio pretende mostrar
de que forma a televiso e os meios audiovisuais
manipulam e controlam o ser humano e as con-
sequncias fsicas, psicolgicas e sociais de tal
facto. Evidence retrata em poucos minutos o efeito
provocado pela alta tecnologia, e a aceitao
passiva, por parte do ser humano, de uma situ-
ao que o enfraquece e domina de forma lenta
mas eficaz.
13
Existem elementos visuais e sonoros que
se manifestam nas trs obras embora adquiram
rostos, configuraes e relevos diferentes nos trs
casos. O princpio de auto-semelhana prevalece
associado ao elemento variao, metamorfose.
Estes factos so notrios, tanto a nvel visual, como
sonoro.
14
O mundo globalizante e globalizado em que
vivemos, o mundo da alta tecnologia, impe
cnones de conduta bastante rgidos e estritos que
so seguidos pela maior parte de ns sendo que
o que considerado como original muitas das
vezes no mais do que a proliferao do
standartizado. Criam-se ambientes uniformizados
e artificiais que se encontram em conflito com
o ambiente com o qual devamos viver em perfeita
harmonia.
133 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
Documentrio e a produo da imagem estereoscpica digital
Hlio Augusto Godoy-de-Souza
1
Introduo
O desenvolvimento da atividade
documentria no sculo XX, e sua ampliao
neste incio do sculo XXI, nos apontam
algumas questes referentes aos mtodos de
representao do espao tridimensional que
vm sendo observados nos diferentes tipos
de obras produzidas nestes ltimos 85 anos,
desde a realizao do filme documentrio
Nanook do Norte (Flaherty 1922). Par-
ticularmente instigante o fato da profuso
das obras fotogrficas estereoscpicas pro-
duzidas no final do sculo XIX, que bus-
cavam retratar espaos exticos visualidade
europia daquele perodo. Instigante pois,
apesar de sua disseminao, no foi ainda
considerada como forma pertinente para a
construo de uma visualidade documentria.
Este pretende ser o objetivo ltimo desta
investigao.
Aspectos histricos
Ao final do sculo XIX, houve uma
disseminao das fotografias tridimensionais.
Essas fotografias valeram-se da descoberta
de Charles Wheatstone, que em 1838, cons-
truiu um aparato denominado estereoscpio
que permitia reproduzir desenhos tridimen-
sionais de figuras geomtricas e de objetos.
Assim as fotografias eram comercializadas
em jogos que incluiam aparelhos para sua
visualizao. De acordo com Adams (2001),
o processo de visualizao estereoscpica
constituiu-se em verdadeiro hbito das fam-
lias de classe mdia alta, que se reuniam em
torno da visualizao de fotografias de lu-
gares exticos. Boa parte das fotografias
conhecidas daquele perodo so
estereoscpicas.
Essas fotografias estereoscpicas entraram
em declnio comercial, mas encontraram
aplicaes cientficas na fotogrametria area
e fotointerpretao de imagens de satlite. Na
dcada de 50, as produtoras cinematogrfi-
cas norte-americanas usaram o cinema em
terceira dimenso (3D), durante um curto
perodo, na reconquista do pblico perdido
para a TV. Foram produzidos vrios filmes
tais como House of Wax dirigido por Andre
de Toth em 1953, Creature from the Black
Lagoon dirigido por Jack Arnold em 1954
e Disque M para Matar dirigido por Alfred
Hitchcock em 1954. Outras tentativas sur-
giram posteriormente, tais como o Flesh for
Frankenstein (1973) dirigido por Paul
Morrissey. Deve ser lembrado que atualmente
os cinemas I-Max tambm tm sua verso
3-D, baseada na tecnologia de culos obtu-
radores de cristal lquido.
bom considerar-se que a televiso
estereoscpica, nunca se estruturou economi-
camente, apesar de algumas iniciativas nesse
sentido. Motivos de ordem tcnica devem ser
considerados: a degradao do sinal de vdeo
analgico prejudica a qualidade da imagem,
essencial para uma boa visualizao tridimen-
sional. Havia uma limitao de ordem
tecnolgica que atualmente pode ser supe-
rada.
Com o desenvolvimento da tecnologia de
vdeo digital, as possibilidades de preserva-
o das informaes do sinal de vdeo e as
facilidades de manipulao das imagens,
permitem melhores condies de obteno da
imagem estereoscpica. O desenvolvimento
da tecnologia dos culos e de filtros obtu-
radores de cristal lquido, vem permitir o
surgimento de um novo mtodo de visuali-
zao estereoscpica. Esses culos j so itens
de consumo entre aficcionados e usurios de
computao, envolvidos com desenvolvimen-
to de projetos cientficos e tecnolgicos que
necessitam de visualizao 3D, como o caso
da engenharia aeronutica, automobilstica,
naval e de extrao de petrleo. Mesmo ao
se considerar o mtodo mais simplificado de
visualizao estereoscpica, o anaglfico,
possvel afirmar-se que hoje as condies
134 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
tcnicas so muito mais propcias para uma
nova disseminao da estereoscopia.
Cinematografia estereoscpica
Uma anlise das condies da
estereoscopia nos dias de hoje deve iniciar-
se pelo conhecimento prvio das tecnologias
utilizadas para a produo de estereoscopia
cinematogrfica. Um dos mtodos, o mais
antigo deles, o mtodo anaglfico. Esta
tcnica caracteriza-se por colorizar com uma
cor fsica primria ou complementar, diferen-
te, cada uma das imagens foto-cinematogr-
ficas referentes a cada olho (azul e vermelho,
ou verde e vermelho, ou ainda as complemen-
tares tais como vermelho e ciano, ou amarelo
e azul). Dependendo do mtodo, o espectador,
ao utilizar culos com as lentes coloridas res-
pectivamente pelas cores usadas no processo,
pode separar cada uma das imagens que se
encontram misturadas na imagem projetada na
tela. O mtodo mais moderno o da
estereoscopia por filtragem de luz polari-
zada, tambm conhecido como mtodo de
estereoscopia passiva, que descrito a se-
guir: duas cmeras cinematogrficas sincro-
nizadas montadas o mais proximamente pos-
svel
2
, produzem dois filmes referentes respec-
tivamente, viso do olho esquerdo e do olho
direito. Em uma tela metalizada feita projeo
sincronizada das duas pelculas, usando-se
filtros polarizadores sada das objetivas dos
dois projetores. O espectador assiste ao filme
de culos, com filtros polarizadores iguais aos
daqueles instalados nos projetores. Dessa for-
ma as imagens referentes a cada um dos olhos
so filtradas de modo que cada olho perceba
somente a imagem referente sua lateralidade
especfica. Em sistemas mais aprimorados, um
nico projetor, atravs de uma objetiva espe-
cial anamrfica, projeta uma nica pelcula com
duas imagens lado-a-lado; gerando duas ima-
gens polarizadas sobre tela metalizada (Lipton,
1982: 47). Da mesma forma, culos polariza-
dores so necessrios para a separao de cada
imagem. A metalizao da tela garante a
manuteno do padro de polarizao.
Videografia estereoscpica
O sistema de imagem eletrnica NTSC
(National Television Standard Committee)
produz imagens coloridas na freqncia de
aproximadamente 30 quadros (frames) por
segundo (fps), com uma resoluo aproxi-
mada de 480 linhas horizontais. Em reali-
dade a frequncia de 29,97 fps e alm disso
os quadros no so gravados inteiros sobre
a fita magntica, todavia para fins didticos
utilizaremos a frequncia de 30fps como
sendo o parmetro de uma imagem NTSC
(apenas para facilitar a compreenso). Os
quadros so divididos em dois campos
(fields) de 240 linhas com uma durao de
metade da durao do quadro, aproximada-
mente 1/60s. No processo de exibio da
imagem, o monitor de vdeo apresenta ini-
cialmente as 240 linhas mpares (campo 1)
e posteriormente as 240 linhas pares (campo
2). Este processo de formao de imagem
videogrfica conhecido como vdeo entre-
laado (interlaced vdeo). interessante
salientar que as novas tecnologias digitais
utilizam outros mtodos de produo de
imagens, baseadas no que se convencionou
chamar de vdeo de varredura progressiva
(progressive scan video). Neste caso os
quadros so apresentados inteiros sem a
formao de artefatos de imagem resultantes
do entrelaamento. Esta a forma como
podem ser exibidos filmes na tela do com-
putador, projetores de imagens compu-
tacionais, ou ainda, monitores de televiso
digital.
No que se refere ao vdeo estereoscpico
(Evans, Robinson, Godber & Petty, 1995:
505), um dos mtodos constituido pelo que
se segue: as imagens so produzidas por duas
cmeras de vdeo, os dois sinais de vdeo
so gravados em fitas magnticas diferentes.
Os sinais de vdeo so reproduzidos em
gravadores independentes, ou aparelhos de
DVD (digital video disk), sincronizados, cujas
imagens so exibidas em dois monitores
posicionados obedecendo um ngulo de 90
o
,
equipados com filtros polarizadores. Um
espelho especial, localizado no caminho da
luz emitida pelos monitores, funde as duas
imagens e o espectador assiste ao vdeo com
culos semelhantes aos do cinema
estereoscpico. Os monitores podem ser
substitudos por dois projetores de vdeo
tambm equipados com filtros polarizadores,
e exibidos em uma tela metalizada. Trata-
se apenas da aplicao da esteroscopia
135 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
passiva para o caso do vdeo. possvel ainda
encontrar uma outra variao desse sistema
a partir de um nico projetor ou monitor.
Neste caso as duas imagens so colocadas
juntas em um mesmo quadro, seja na po-
sio acima-abaixo com achatamento das duas
imagens para que possam ocupar a mesma
proporo do quadro de vdeo, ou ainda as
imagens so dispostas lado-a-lado
rotacionadas em 90 graus para que possam
tambm ocupar a proporo do quadro de
vdeo. A projeo feita atravs de jogos
de espelhos ou semi-espelhos, com filtros
polarizadores que redirecionam as imagens
sobrepondo-as uma sobre a outra sobre uma
tela metalizada ou atravs de retroprojeo.
Nestes casos, projetores DLP (digital lighting
processing) ou CRT (cathode ray tube) so
preferveis aos LCD (liquid cristal display)
em funo da prpria construo dos LCDs,
que, em si mesmos, j contm filtros
polarizadores.
No mtodo denominado esteroscopia
ativa, a imagem obtida por sequenciali-
zao dos campos do sinal de vdeo gerado
por duas cmeras, assim, o projetor ou
monitor de vdeo mostra um nico sinal de
vdeo que apresenta, a cada 1/60s (no sis-
tema NTSC), um campo com a imagem
referente viso de cada olho. Como se sabe,
o olho humano no tem capacidade de
discernir dois eventos luminosos consecuti-
vos, ocorridos a intervalos menores que 1/
10 de segundo. por este motivo, que no
cinema, imagens projetadas com durao de
1/24s (menores que 1/10s), so entendidas
como contnuas; ou ainda na televiso,
quadros com a durao de aproximadamente
1/30s so interpretadas como contnuos.
Todavia cada um desses quadros composto
por dois subquadros denominados campos,
com a durao de 1/60s. Desta forma,
possvel simular-se a viso estereoscpica
atravs da exibio para cada olho, de
subquadros/campos com a durao de 1/60s.
Ou seja, a cada 1/30s projetam-se duas
imagens com a durao de 1/60s, uma para
cada olho, referentes sua lateralidade es-
pecfica. Este mtodo de sequencializao
produz um tipo de vdeo estereoscpico que
conhecido por Vdeo Estereoscpico do
tipo Campo-Sequencial. Para sua visualiza-
o necessria a utilizao pelo espectador
de culos obturadores de cristal lquido
(LCD shutter glasses) que so capazes de
permitir a passagem da luz somente das
imagens referentes a cada olho, numa fre-
quncia de 60Hz. Desse modo, o sistema
eletrnico que comanda a obturao da
passagem de luz de cada um dos lados dos
culos abre-se e fecha-se a cada 1/60s,
sincronizando-se com o vdeo que est sendo
exibido, de tal forma que, abertura do lado
esquerdo dos culos corresponda a projeo
do campo referente ao olho esquerdo, e vice-
versa. Este sistema s funciona em monitores
e projetores do tipo CRT.
A tecnologia dos culos obturadores j
utilizada largamente, existindo no mercado
audiovisual/computacional inmeras empre-
sas que os comercializam, tanto conectados
atravs de cabos s placas grficas de vdeo
dos computadores, como avulsos, sincroni-
zados apenas atravs de pulsos de luz
infravermelha, produzida por emissores
conectados entre a placa grfica de vdeo e
o monitor de computadores. Tambm
possvel encontrar-se sistemas semelhantes
que so conectados a aparelhos de DVD.
Alm disso, determinadas salas de exibio
cinematogrfica do formato I-Max, utilizam-
se desses tipos de culos obturadores sin-
cronizados ao projetor cinematogrfico.
possvel considerar-se tambm o m-
todo anaglfico como uma possibilidade de
produo de imagens videogrficas
estereoscpicas. Para isso, procede-se da
mesma forma descrita acima at a criao
de um Video Estereoscpico Campo-
Sequencial. A nica diferena que so
aplicados filtros digitais de cores para cada
lado. Na imagem do lado esquerdo descar-
tam-se os canais Verde e Vermelho da com-
posio do arquivo digital RGB (Vermelho,
Azul e Verde), de modo que reste apenas o
canal vermelho. Da imagem do lado direito
excludo apenas o canal vermelho de modo
que a cor ciano (verde e azul) permanea.
O monitor exibir assim um sinal de vdeo
campo-sequencial cujo campo referente ao
lado esquerdo tenha somente vermelho en-
quanto que o campo referente ao lado direito
tenha somente a cor ciano. A visualizao
feita utilizando-se um culos anaglfico com
as respectivas cores em cada olho. Este
mtodo pode ser denominado como Vdeo
136 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Estereoscpico Anaglfico Campo-
Sequencial. possvel ainda a configurao
de uma imagem videogrfica anaglfica sem
a intermediao do processo campo-
sequencial. Neste caso produzida uma
imagem na qual so misturados os dois canais
de cores: este mtodo denominado como
Vdeo Estereoscpico Anaglfico Progres-
sivo. Este ltimo processo enfrenta proble-
mas de ordem tcnica em funo dos m-
todos de compresso de dados utilizados na
codificao dos arquivos de vdeo nos sis-
temas digitais. O problema que se coloca
o fato de que os processos de compresso
de dados para as imagens progressivas podem
degradar as relaes de cores existentes nas
imagens anaglficas o que destri a
estereoscopia dessas imagens, isso ocorre
tanto no formato de vdeo AVI (arquivo
de vdeo do sistema Microsoft) como no
formato MPEG (Motion Picture Expert
Group), amplamente utilizados nos DVDs.
Assim, o mtodo de produo do Vdeo
Anaglfico Campo-Sequencial parece ser, at
agora, a melhor forma de se tratar o vdeo
estereoscpico para exibio em aparelhos de
TV do tipo CRT. importante ressaltar que
novos aparelhos de vdeo com imagem pro-
gressiva, podem destruir a estereoscopia,
inclusive dos vdeos com imagens campo-
sequenciais. Percebe-se portanto que o de-
senvolvimento tecnolgico pode no contri-
buir totalmente para o desenvolvimento de
uma TV estereoscpica.
Todavia interessante considerar-se a
contemporaneidade do mtodo anaglfico
tendo em vista o recente lanamento cine-
matogrfico dos estdios Disney: Pequenos
Espies 3D (Spy Kids 3D) que dever ser
brevemente lanado em DVD no Brasil. As
informaes disponveis no Grupo Interna-
cional de Discusses sobre Televiso
Estereoscpica (YahooGroups 3DTV), do
conta de que o filme foi produzido eletro-
nicamente para depois ser transferido para
pelcula. Assim considera-se objetivamente
como vivel a utilizao da tecnologia Vdeo
Estereoscpico Anaglfico Campo-
Sequencial, sua adaptao, e a criao de um
conjunto de normas que possam presidir
projetos audiovisuais de baixo custo para a
produo de imagens tridimensionais em
vdeo digital para a produo documentria.
Deve ser considerada ainda a possibili-
dade de utilizao de softwares especficos
para a exibio de vdeos 3D, tais como o
Stereoscopic Player, desenvolvido por Peter
Winner, de modo que a escolha do modo de
visualizao seja feito on-the-fly, ou seja,
a partir de um formato padronizado, como
o lado-a-lado (side-by-side), atravs do
prprio programa pode-se escolher qual a
melhor forma de exibio do material
3
. A
capacidade do sistema computacional respon-
der positivamente, depender de sua capa-
cidade de processamento.
Aspectos psico-fisiolgicos da estereoscopia
A Teoria do Umwelt proposta por Jacob
von Uexkll, apresenta-se como ferramenta
fundamental para a compreenso do processo
de representao do espao observado nas
imagens estereoscpicas. O Umwelt uma
espcie de mapeamento da realidade que a
Natureza, durante o processo evolutivo, per-
mitiu ao ser vivo construir interiormente. A
espcie humana tambm representa a Reali-
dade em seu Umwelt. Os sistemas audiovisuais
podem e devem ser considerados como ex-
panses ou prteses, de seus orgos dos
sentidos, cujas elaboraes sgnicas vm
colaborando para a Dilatao de seu Umwelt
4
.
Desta forma, no de causar estranheza
que a bibliografia tcnica a respeito da
estereoscopia, consultada (Okoshi, 1976;
Lipton, 1982), dedique vrias pginas aos
aspectos referentes percepo da profun-
didade espacial em humanos. De acordo com
os autores citados, os indutores de percepo
de profundidade podem ser classificados em
duas categorias: os fisiolgicos e os psico-
lgicos.
Inicialmente, como aspectos indutores
pertencentes categoria psicolgica, devem
ser considerados:
1) O tamanho relativo das imagens dos
objetos, de modo que os maiores paream
estar mais prximos que os menores;
2) A perspectiva linear, enquanto forma
de representao que ocorre na superfcie da
retina e que em certa medida guarda relao
apropriada com as tcnicas de desenho ar-
tstico, desenvolvidas no quattrocento
5
;
3) A perspectiva area, as imagens dos
objetos tornam-se mais enevoadas com o
137 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
aumento da distncia por causa da difuso
dos raios luminosos;
4) A sobreposio dos objetos, os objetos
opacos mais prximos ocultam os objetos
mais distantes;
5) O sombreamento e as sombras, a
incidncia da luz ao provocar o aparecimen-
to das sombras provoca a evidenciao dos
formatos e dos relevos dos objetos;
6) O gradiente de texturas, trata-se de um
aspecto da perspectiva relacionado aos pa-
dres de textura que tornam-se aparentemen-
te maiores quanto mais prximos; como
exemplo pode ser citada a imagem de uma
parede com tijojos expostos, ou uma rua de
pedras, que se tornam menores, quase im-
perceptveis medida que ficam mais dis-
tantes do observador.
Estes indutores so largamente utilizados,
como forma de representao da profundidade
espacial nas expresses pictricas presentes no
desenho, na pintura, na fotografia, no cinema
e no vdeo. interessante citar que Leonardo
Da Vinci (1982: 257), inclui em seu tratado
de pintura a questo da modificao das cores
dos objetos como mais um indutor da relao
de distncia entre eles e o observador.
Em relao aos indutores da categoria
Fisiolgica, devem ser considerados:
1) A acomodao visual monocular: tra-
ta-se da prpriocepo da tenso muscular
exercida pelo corpo ciliado do globo ocular,
que controla o ajuste da distncia focal do
cristalino atravs da mudana de sua curva-
tura; essa percepo adequa-se apenas para
distncias inferiores a 2 metros de distncia;
2) A paralaxe de movimento monocular,
trata-se da percepo de profundidade quan-
do ocorre deslocamento da posio de ob-
servao dos objetos, permitindo sua visu-
alizao de vrios pontos de vistas; com o
observador em movimento, os objetos mais
prximos parecem mover-se em maior ve-
locidade que os objetos mais distantes; este
indutor amplamente utilizado na cinema-
tografia, atravs dos movimentos de cmera
conhecidos como travelling e grua
6
;
3) A convergncia ocular, trata-se do
ngulo formado pelos eixos de viso ao se
olhar com os dois olhos para um certo ponto
sobre um objeto, so as tenses dos ms-
culos que rotacionam os globos oculares que
enviam essa informao para o crebro;
4) A paralaxe ou disparidade binocular,
trata-se do principal indutor utilizado pela
imagem estereoscpica; quando os olhos
fixam um ponto de um objeto M, os raios
de luz que partem desse ponto, atingem a
retina na fvea central (uma regio da retina
com grande quantidade de clulas
fotosensveis); os dois pontos (m1 e m2) das
fveas centrais das retinas de cada um dos
olhos so correspondentes e a focalizao
daquele ponto projetado pelo objeto sobre a
fvea d indicaes a respeito da convergn-
cia dos olhos; sempre haver correspondn-
cia entre a projeo de pontos sobre a retina,
daqueles objetos (M e P) que estiverem si-
tuados em uma circunferncia determinada
pelo ponto do objeto, e os pontos mdios
das duas pupilas dos olhos observadores (O1
e O2); essa circunferncia denominada de
holptero; as disparidades entre o
posicionamento de pontos projetados sobre
a retina, projetados por objetos situados sobre
(M e P), dentro, e fora (Q) do holptero sero
as indutoras da percepo de profundidade.
No esquema abaixo, a circunferncia S-M-
P-T representa o holptero.
Figura 1 Representao grfica do
holptero (modificada de Okoshi, 1976: 51)
Isto posto, cabe considerar ainda que as
distores relativas da imagem de cada objeto
representado sobre a retina parecem contri-
buir na percepo da profundidade espacial.
Retoma-se aqui a Teoria do Umwelt para a
justificativa do uso da imagem estereoscpica
como forma de representao do espao tri-
dimensional. Ao que tudo indica, essa forma
de representao pictrica, apresenta-se em
138 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
um grau elevado de coerncia com a repre-
sentao do espao no Umwelt humano.
possvel afirmar-se que o aprimoramento
dessa forma de representao permitiria o de-
senvolvimento de atividades de produo de
conhecimento e Dilatao do Umwelt, mais
sofisticadas que as atuais permitidas pelas
imagens bidimensionais.
possvel destacar-se um caso de expe-
rimento publicado a respeito de utilizao de
imagens fotogrficas estereoscpicas para o
ensino de neuroanatomia (Menezes, Cruz,
Castro, Almeida et al, 2002). As tcnicas de
neuroimagem tridimensionais tm sido utili-
zadas como facilitadoras de diagnstico to-
pogrfico, gerando dificuldades para o ensino
de neuroanatomia j que h limitao de acesso
dos estudantes queles equipamentos. As
imagens estereoscpicas, neste caso permitem
um compartilhamento de uma visualizao
tridimensional proporcionada por aqueles
instrumentos, preparando o futuro cirurgio
para a utilizao das imagens em situaes
reais de diagnstico, caracterizando-se portanto
como um compartilhamento de conscincia
7
.
Outros exemplos podem ser citados a
respeito da utilizao das imagens
tridimensionais como forma de compartilha-
mento de conscincia em situaes reais, tais
como visualizaes submarinas em casos de
prospeco petrolfera, de preparao de
projetos em aviao, indstria naval e auto-
mobilstica. A meno da utilizao desse tipo
de imagem em sistemas de sensoriamento
remoto a partir de fotos de satlite ou areas
quase desnecessria para comprovar seu uso
como fonte produtora de conhecimento mais
elaborado a respeito da espacialidade.
Questes audiovisuais: um programa de
investigaes
As questes levantadas apontam para uma
utilizao mais efetiva de imagens
estereoscpicas em atividades de realizao
audiovisual documentria. Para isso faz-se
necessrio um programa para investigao da
representao estereoscpica no documen-
trio. Tal programa caracterizar-se-ia por uma
abordagem transdisciplinar na qual existe a
necessidade de participao de reas como
Fsica, Engenharia, Computao, Psicologia,
Neurocincias, Semitica, Teoria e Prticas
Audiovisuais, dentre outras.
No mbito da especificidade das Prticas
Audiovisuais, podemos citar que seria de
grande importncia a investigao de aspec-
tos como Iluminao, Fotografia e Monta-
gem. H que se considerar ainda que este
programa, a exemplo da Revue
Internationale de Filmologie, na Frana na
dcada de 50, poderia estar contribuindo com
informaes reunidas em torno de alguma
publicao que acolhesse os temas investi-
gados. No fundamental, a questo que se
coloca para a rea especfica do audiovisual
neste programa de investigaes : as pre-
missas da linguagem audiovisual, definidas
para a representao bidimensional devero
funcionar para a representao estereoscpica
? Considerando-se ainda que as mudanas de
ordem tecnolgica que se desenvolveram
atualmente possibilitam maiores experimen-
taes em torno do tema, de se supor que
atualmente as investigaes em torno do
audiovisual estereoscpico seriam muito mais
intensas e desenvolvidas a um custo muito
mais baixo do que h cerca de dez ou vinte
anos atrs.
Naquilo que diz respeito ao documentrio,
questes de ordem temtica colocam-se como
prioritrias. Quais as utilizaes mais ade-
quadas ao documentrio audiovisual que
poderiam ser traduzidas linguagem
audiovisual estereoscpica? Isto possibilita-
ria uma atividade experimental de realizao
audiovisual que permitiria a investigao a
respeito dos condicionantes de linguagem que
se manifestariam nestas realizaes. So
consideradas como campos preferenciais
desta produo documentria as reas de co-
nhecimento nas quais os aspectos fsicos
espaciais colocam-se como fatores limitantes,
tais como: arquitetura, geografia fsica, meio
ambiente, morfologia, anatomia, etc. Ainda
no campo do documentrio, como muito bem
demonstra sua tradio histrica (Winston,
1996:80), este programa poderia fomentar o
aprimoramento tecnolgico na direo da
portabilidade to necessria atividade
documentarista.
Este artigo, encerra-se portanto, com o
sentido claro de apontar rumos para uma
atividade de pesquisa que seja ao mesmo
tempo Prtica e Terica, e que permita o
vislumbramento de novas aplicaes para a
estereoscopia nas atividades audiovisuais
documentrias.
139 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
Bibliografia
Adams, G. O passe de mgica do turis-
mo fantstico: o sistema de viagem
estereoscpica de Underwood & Underwood.
Em http://www.intercom.org.br/papers/xxiv-
ci/np07/NP7ADAMS.pdf, consultado em 17
de fevereiro de 2004.
Da Vinci, L. Tratado de Pintura. Editor
Angel Gonzalez Garcia. Madri, Editora
Nacional, 1982.
Evans, J.P.O.; Robinson, M.; Godber,
S.X.; Petty, R.S. The Development of 3-
D (Stereoscopic) Imaging Systems for
Security Applications, 29th IEEE Intl.
Carnahan Conference, pp. 505-511,
Sanderstead, Surrey, UK, October, 1995,
ISBN 0-7803-2627-X.
Liptin, Lenny. Foundations of the
Stereoscopic Cinema, a study in depth. New
York, Van Nostrand Reinhold Co., 1982.
Godoy-de-Souza, H. A., Documen-trio,
Realidade e Semiose: os sistemas
audiovisuais como fontes de conhecimento.
So Paulo, AnnaBlume, 2002.
Leakey, Richard E. A Evoluo da Hu-
manidade. Traduo Norma Telles. 2 ed. So
Paulo, Melhoramentos, 1982.
Mathias, Harry & Patterson, Richard.
Electronic Cinematography, achieving
photographic control over the video image.
Belmont, Wadsworth, 1985.
Mckay, Herbert. Three-Dimensional
Photography, principles of stereoscopy. New
York, American Photographic Publishing
Company, 1953.
Meneses Murilo Sousa de, CRUZ, Andr
Vieira da, CASTRO, Izara de Almeida et al.
Stereoscopic neuroanatomy: comparative
study between anaglyphic and light
polarization techniques. Arq. Neuro-Psiquiatr.,
Sept. 2002, vol.60, no.3B, p.769-774. ISSN
0004-282X.
Metz, C. A Significao no Cinema. So
Paulo, Editora Perspectiva, 1972.
Okoshi, T. Three-Dimensional Imaging
Techniques. Academic Press, 1976.
Parente, J.I. A Estereoscopia no Bra-
sil 1850-1930. Rio de janeiro, Sextante,
1999.
Uexkll, Jacob von. A stroll through the
worlds of animals and men: A picture book
of invisible worlds. Semiotica 89-4 (1992).
Winston, Brian. Technologies of Seeing,
photography, cinematography and television.
Londres, BFI Publishing, 1996.
_______________________________
1
Universidade Federal de So Carlos / Uni-
versidade Federal de Mato Grosso do Sul Brasil.
2
A proximidade das duas cmeras funda-
mental para a obteno de uma boa imagem
estereoscpica, de acordo com Lipton essa dis-
tncia denominada distncia inter-ocular e mede
aproximadamente 6,5cm para homens e 6,3cm para
as mulheres (Lenny Lipton, Foudations of the
Stereoscopic Cinema, 1982, 60).
3
As formas de visualizao so listadas a
seguir: Monoscopic, Dual Screen Output, NVIDIA
Stereo Driver, StereoBright, Quad Buffered
OpenGL, Side By Side, Over/Under, Row
Interlaced, Column Interlaced, True Anaglyph Red
Blue, True Anaglyph Red Green, Gray
Anaglyph Red Cyan, Gray Anaglyph Yellow
Blue, Half Color Anaglyph Red Cyan, Half Color
Anaglyph Yellow Blue, Color Anaglyph Red
Cyan, Color Anaglyph Yellow Blue. Em http:/
/mitglied.lycos.de/stereo3d/ , consultado em 28/
03/2004.
4
A Dilatao do Umwelt humano (uma
caracterstica evolutiva da espcie) se d atravs
de elaborao sgnica. Os sgnos indiciticos que
mostram diferentes aspectos da realidade, no
observveis pelos transdutores orgnicos que a
espcie humana possui, so por si s insuficientes
para transcender os limites da bolha de universo
subjetivo (Umwelt). Torna-se necessrio o desen-
volvimento de signos muito mais complexos, que
do coerncia aos aspectos da realidade que se
encontram ocultos na forma de dados indiciais do
mundo. Conforme foi discutido em Documen-
trio, Realidade e Semiose (Godoy-de-Souza,
2001: 130), um documentrio uma dessas formas
de complexificao sgnica que pode garantir a
Dilatao do Umwelt.
5
Como j foi destacado em Documentrio,
Realidade e Semiose (Godoy-de-Souza, 2001:
43), a perspectiva central foi um ganho nas formas
de representao espacial; foi a forma que se dis-
seminou pelo planeta (fotografia, cinema e tele-
viso). A representao espacial pela perspectiva
central, simula o espao, no porque mimetiza o
espao, mas sim porque um modelo coerente
com a forma pela qual o Homo sapiens mapeia
o espao em seu Umwelt.
140 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
6
De acordo com Christian Metz, um efeito
estereocintico, cuja importncia para o cinema
foi salientada por Cesare L. Musatti no seu artigo
intitulado Os fenmenos estereocinticos e os
efeitos estereoscpicos do cinema normal, artigo
da Revue International de Filmologie, n29 de
janeiro/maro de 1957. (Metz, 1972: 20).
7
Os sistemas audiovisuais, em particular o
documentrio, vm desempenhando uma impor-
tante funo de construo do conhecimento na
sociedade humana, que anteriormente seria desem-
penhada apenas pela linguagem verbal, de acordo
com Leakey: Talvez o mais penetrante elemento
da linguagem seja que, atravs da comunicao
com os outros, no s a respeito de questes
prticas, mas tambm de sentimentos, desejos e
receios, criada uma conscincia compartilha-
da. (Leakey, 1982: 141).
141 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
A atmosfera como figura flmica
Ins Gil
1
A atmosfera um conceito muitas vezes
utilizado no cinema para definir uma impres-
so especfica que foi expressa durante um
plano ou uma sequncia flmica. O objectivo
aqui defini-la para que funcione como um
conceito operatrio para a anlise flmica.
Depois de determinar o conceito de
atmosfera de uma maneira geral, neces-
srio estudar como que ela funciona no
espao cinematogrfico, isto , qual a sua
dinmica dentro da prpria imagem (muda
e sonora), e como se elabora entre o espec-
tador e o filme. A proposta considerar a
noo de atmosfera como sendo uma
possvel figura flmica. Entende-se por fi-
gura flmica uma forma particular de ex-
presso, neste caso originada no s pela
prpria representao mas sobretudo por
determinados princpios especficos ao cine-
ma (um deles , por exemplo, a complexa
temporalidade da imagem flmica). Neste
sentido, olhar para a atmosfera como sendo
um elemento flmico parece legtimo na
medida em que a sua presena pode enri-
quecer a anlise cinematogrfica. Prope-se,
por ltimo, depois de identificar e perceber
o papel da atmosfera, aplicar os seus prin-
cpios a vrios filmes da histria do cinema.
Quando se vai ao cinema, fala-se frequen-
temente daatmosfera do filme, sem se
saber precisamente o que , uma componen-
te da imagem flmica ou unicamente uma
sensao percebida pelo espectador. Isso
deve-se indeterminao da prpria noo
de atmosfera que quer dizer ao mesmo
tempo tudo e nada e que, no fundo, no
esclarece nada sobre a natureza do filme. No
entanto, uma coisa certa: o cinema cria um
certo de tipo de atmosfera. A questo de
saber o que este espao atmosfrico e quais
so os meios que permitem a sua expresso
num filme.
O objectivo considerar a noo de
atmosfera como sendo um possvel elemen-
to flmico, e mais precisamente, uma figura
flmica. Entende-se por figura flmica uma
forma particular de expresso, neste caso
originada pela prpria representao e criada
por determinados princpios especficos ao
cinema (por exemplo, uma figura flmica
bsica o grande plano). A atmosfera seria
um elemento flmico de corpo inteiro,
identificvel e possvel de analisar.
O que a atmosfera? um sistema de
foras que permite aos elementos do mundo
de se conhecer e de reconhecer a natureza
do seu estado. A atmosfera manifesta-se como
um fenmeno sensvel ou afectivo e rege as
relaes do homem com o seu meio. No
por acaso que os expressionistas alemes
associavam-na noo de Stimmung, que
um tipo de disposio de esprito e de alma
emanante das coisas do mundo. Da tam-
bm ser muitas vezes assemelhada s noes
de clima, ou de ambiente. Existem diferen-
as, por vezes bastantes subtis, que permi-
tem diferenci-las: o clima mais geral que
a atmosfera, ou que o ambiente, e tambm
mais estvel. Fala-se de um clima de terror,
por exemplo, para caracterizar um espao-
tempo determinado. Alm disso, o clima est
em primeiro plano, quer dizer que a sua
presena sempre explcita e fundamental.
O ambiente, tambm geral mas secun-
drio; como um elemento de cenrio porque
no indispensvel para o espao dramtico.
Por exemplo, o som ambiente serve para
preencher o espao da imagem flmica,
oferecendo informaes sobre o espao
sonoro geral da aco, sendo perfeitamente
dispensveis, se fosse necessrio. A atmos-
fera est sempre no primeiro plano, mesmo
quando est pontualmente localizada no
espao. Por exemplo, quando uma pessoa com
imenso charme se exprime no meio de uma
sala cheia de gente sisuda, a atmosfera li-
berta ser logo to forte como o clima geral.
A atmosfera assemelha-se a um sistema
de foras, sensveis ou afectivas, resultando
de um campo energtico, que circula num
142 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
contexto determinado a partir de um corpo
ou de uma situao precisa. Neste sentido,
a atmosfera tem intensidades variadas e tende
em formar-se sem produzir necessariamente
representaes. Sendo um sistema energtico,
ela tem densidades diversas e um dinamis-
mo, mais ou menos, acentuado. Tambm os
animais podem ter uma percepo particular
da atmosfera: quando sentem a morte a
chegar, mostram um sentido desenvolvido
para alm da percepo comum, que na maior
parte das vezes, escapa ao ser humano.
Sentir a morte, tal como sentir o medo,
perceber foras que, neste caso, o animal
associa a um fenmeno determinado
Se o conceito de atmosfera ao mesmo
tempo to explcito mas to difcil de ca-
racterizar, porque a prpria noo tem algo
de fugidio, embora seja muito utilizado na
escrita e na linguagem. Por isso, merece ser
aprofundada. Ludwig Binswanger, na sua
qualidade de psiquiatra, foi um dos primei-
ros a debruar-se sobre a questo, e consi-
derou a atmosfera como um espao, essen-
cialmente subjectivo. De facto, para ele a
atmosfera nasce a partir da realidade afectiva
dos indivduos que a projectam no seu espao,
acabando por caracterizar a sua relao com
o mundo. Mais perto de ns, um outro
psiquiatra, Hubertus Tellenbach, associou a
noo de atmosfera ao gosto (no sentido
da oralidade) que se prolonga ao gosto do
mundo. Os dois autores introduziram uma
srie de propriedades na sua definio da
atmosfera, que permite determinar a noo
com mais rigor e preciso. Por exemplo, o
espao atmosfrico um espao que se
contra ou se dilata segundo as circunstn-
cias. A atmosfera manifesta-se sempre no
exterior, mesmo quando se trata de um
espao-estado interior, como a alegria ou a
morbidez, por exemplo. O espao interior
manifesta-se sempre atravs de uma relao
particular ao mundo exterior.
No que diz respeito arte, a noo de
atmosfera fortssima e embora raramente
identificada e analisada como elemento de
corpo inteiro, a sua presena que se encontra
na maior parte das vezes muda, contagia e
envolve o espectador. Nas pequenas percep-
es de Leibniz ou no visual de George
Didi-Huberman
2
, no se poderia descobrir um
certo tipo de atmosfera? Qualquer um desses
conceitos tem um ponto comum: a capaci-
dade de exprimir o no figurvel, este algo
intangvel e abstracto que no entanto pode
ter uma presena fundamental no espao
representativo de uma imagem. tambm
o que se passa com o espectador de cinema
que ir mergulhar na atmosfera de um filme
durante a sua projeco.
Como funciona a atmosfera? A partir da
metodologia adoptada para perceber melhor
a sua natureza e o seu papel, prope-se
determinar uma pequena taxinomia da atmos-
fera no cinema. Parte-se do princpio que a
atmosfera cinematogrfica divide-se em duas
categorias gerais: a atmosfera espectatorial que
estuda o fenmeno que existe entre o espec-
tador e o filme (que no se limita projeco
mas tambm sua visualizao no ecr de
televiso ou de computador), e a atmosfera
flmica que diz respeito relao entre os
prprios elementos flmicos visuais e sonoros.
A ideia de uma possvel atmosfera espectatorial
baseia-se, em parte, na filmologia que props
analisar os fenmenos psquicos e psicolgi-
cos que acontecem entre o espectador e o filme
projectado e estende-se at ao olhar escpico.
No entanto, o que interessa destacar aqui,
a atmosfera que se exprime, ou que se en-
contra, na representao flmica. bvio que,
para se revelar, esta atmosfera precisa de ser
percebida, mas a sua presena no som e nas
imagens em movimento tem uma certa ex-
presso que no se limita a ser simplesmente
recebida pelo espectador.
Na atmosfera flmica, parte-se do prin-
cpio que existem dois tipos de atmosferas:
a primeira chama-se plstica porque diz
respeito forma da imagem flmica, e aos
elementos que constituem o seu espao
plstico. A segunda, a atmosfera dram-
tica, porque expressa essencialmente a partir
da diegese. Por exemplo, os filmes do
impressionismo francs tm uma atmosfera
plstica muito mais forte do que a atmosfera
dramtica, porque a forma flmica clara-
mente valorizada em relao prpria his-
tria. Os filmes ditos realistas tero ten-
dncia em ter uma atmosfera dramtica mais
importante do que a atmosfera plstica. No
entanto, as duas esto sempre interligadas.
Existem depois outros tipos de atmosferas
que podem ser identificadas num filme: a
atmosfera concreta quando ela material
143 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
(como o nevoeiro, por exemplo) ou criada
pela tcnica para criar efeitos estilsticos ou
dramticos bvios. Por exemplo, a atmosfera
expressionista de O Gabinete do Dr. Caligari
realizado em 1919 por Robert Wiene,
claramente criada pelas linhas oblquas e
deformadas da arquitectura dos cenrios, bem
como os claros-escuros das formas que
produzem uma sensao de Unheimlichkeit
ou de estranheza inquietante na imagem
flmica. Mas no caso de O Vento realizado
por Victor Sjstrm em 1928, a areia e
o vento que so os verdadeiros protagonistas
da atmosfera concreta. a atmosfera exte-
rior constituda de p e de vento que provoca
e acompanha a brutalidade da histria. As
foras da natureza conseguem penetrar no
interior de uma casa, e ao espalhar um caos
material e afectivo, elas provocam a eroso
gradual da conscincia dos seus habitantes.
A atmosfera criada pelo vento claramente
concreta e activa: ela apaga a nitidez dos
contornos e provoca a perda de si prprio.
A segunda atmosfera a atmosfera
abstracta, que tambm se exprime atravs
de um plano ou de uma cena, mas esta at-
mosfera no directemente visvel porque
no est concretamente representada. Por
exemplo, o grande plano uma figura flmica
que transmite uma certa qualidade de sen-
saes e de afectos porque as suas propri-
edades de extrema aproximao do assunto
transformam no s a relao entre os ele-
mentos da prpria imagem, mas vo tambm
permitir ao espectador ter um olhar mais
elaborado sobre as coisas, porque muito perto
delas. Jean Epstein disse que o grande plano
era a alma do cinema e talvez se tenha
referido atmosfera misteriosa e envolvente
que dele se liberta.
Epstein admite tambm que a montagem
faz parte da fotogenia porque uma figura
flmica criada pelas imagens em movimento.
fotogenia cinematogrfica, Epstein associa
a noo de animismo; ele utiliza a frag-
mentao espacial do enquadramento e, como
foi dito mais acima, em particular, o grande
plano, para mostrar que a imagem flmica
tem as suas prprias foras essenciais, o que
a afasta de uma mera representao espelhada
do mundo (Epstein, 1946). Alm de perder
a referncia espacial do assunto, o grande
plano joga sobre dois planos: o primeiro
o da superfcie que preenche o espao da
imagem. O volume das formas tendo sido
suprimido, o assunto parece querer apropri-
ar-se do olhar do espectador ( por isso que
se fala de viso hptica ou tctil na percep-
o do grande plano). Por outro lado, e quase
paradoxalmente, esta superfcie achatada
permite a penetrao do espectador no es-
pao imaterial da imagem atravs da atmos-
fera que se liberta dela.
Basta lembrar-mo-nos do magnfico fil-
me que Carl Dreyer realizou em 1928, A
Paixo de Joana dArc, em que os grandes
planos dos rostos das personagens exprimem
o seu mundo interior, seja de extrema tris-
teza ou de profunda perversidade. Os gran-
des planos de Dreyer acabam por isolar
totalmente o assunto de todo o resto e
parecem extrair a essncia de cada persona-
gem para espalh-la atravs da imagem muda
e em movimento.
O movimento da imagem cinematogrfica
um elemento essencial na expresso de
atmosfera flmica. De facto, como todos sabem
o dinamismo das imagens que faz a
especificidade do cinema, no seu dispositivo
tcnico, mas tambm na sua representao.
tambm graas ao movimento que as imagens
podem manter uma relao rica e complexa
com o som e criar uma atmosfera particular,
a maior parte das vezes abstracta. Um bom
exemplo de atmosfera abstrata, criada ao
mesmo tempo pelo som e pela imagem, o
filme Me e Filho que Alexander Sokurov
realizou em 1997. A msica extradiegtica
funde-se com a imagem anamorfosada e
exprime o alvoroo interior que o filho sente
perante a iminncia da morte da sua me. A
msica prolonga directamente o transtorno
formal da imagem (que pode ser o transtorno
interior do filho), e esta deixa quase de ser
uma imagem figurativa para se tornar abstrata.
uma maneira de mostrar a ductilidade da
atmosfera quando ela exprime o sentido das
coisas.
O que relevante aqui, o facto do
cinema ter os seus prprios meios tcnicos
de expresso de espao e de tempo, que
permitem uma produo de atmosfera espe-
cfica. Ao transformar a representao rea-
lista, Epstein afirmou que a essncia do
cinema era o seu poder de exprimir algo que
transgride a percepo comum do mundo. A
144 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
cmara mostra algo que o olho no v.
neste sentido que a noo de fotogenia se
entrecruza com a de atmosfera. Por isso, a
sua posio parece particularmente pertinen-
te porque est actualizada, mesmo no que
diz respeito nova imagem digital ou vir-
tual. Hoje, continua a ser o movimento da
imagem o primeiro factor de criao de
atmosfera flmica. Depois, esta propriedade
ter caractersticas e intensidades diversas,
segundo o prprio filme. Por exemplo, as at-
mosferas de Matrix so artificiais, geralmen-
te concretas porque resultam de efeitos
especiais fceis e espectaculares. Quase que
se podia falar de atmosfera sensacional,
atmosfera rapidamente percebida, consumida
e desvanecida porque no procura exprimir
este algo que a fotogenia traz ao cinema e
que pode tocar profundamente o espectador,
porque mostra algo que ultrapassa o seu
espao emprico e racional.
Portanto, o que se entende por atmosfera
como figura flmica a atmosfera que se
exprime atravs de uma imagem flmica.
vio que quando se trata de atmosfera abs-
tracta, muito difcil e complexo identific-
la, para defini-la minuciosamente. Por exem-
plo, a atmosfera que se liberta de Noite e
Nevoeiro que Alain Resnais realizou em 1955,
notvel. Este exemplo afasta-nos da teoria
de Jean Epstein que rejeita uma representa-
o realista do mundo, sendo a seu ver
limitativa. No entanto no existem dvidas
que o animismo do cinema est presente e
activo em Noite e Nevoeiro. A criao da sua
atmosfera originada pelo realismo
ontolgico da representao flmica, impli-
cando uma continuidade espacio-temporal es-
tabelecida pela prpria realidade. preciso
no esquecer que Noite e Nevoeiro um filme
sobre o campo de concentrao de Auschwitz,
que alterna as imagens a cores contempo-
rneas da filmagem com as imagens de
arquivo a preto e branco. O que faz deste
filme um filme justo como disse Serge Daney,
em parte, a sua atmosfera insuportvel do
horror inumano que permanece no mesmo
espao em vrios tempos e circunstncias.
Com longos travellings, Alain Resnais arras-
ta a atmosfera de terror, que perdurou e
impregnou o campo de concentrao, de um
plano para outro. O preto-e-branco prolonga-
se na cor e a cor prolonga-se no preto e branco;
as imagens em movimento prolongam as
imagens fixas. A mesma atmosfera atravessa
os vrios espaos e tempos como se fossem
falsos-raccords. Aqui, o cinema exprime uma
atmosfera similar aos rastos diurnos de um
terrvel pesadelo. por isso que Serge Daney
disse, utilizando um conceito de Jean-Louis
Schaeffer, que Noite e Nevoeiro um filme
que olha o espectador
3
, olha porque a atmos-
fera liberta das imagens toca-o na sua mais
profunda intimidade (neste caso, o assunto
universal, no se trata de uma pequena
histria pessoal como diria Deleuze).
tambm o que acontece em A Sombra
do Caador realizado por Charles Laughton
em 1955. Se a atmosfera do filme tem um
lugar to importante na histria do cinema
por causa do seu carcter enigmtico que
acompanha a narrativa alegrica da
intemporalidade do espao interior
4
. De facto,
a atmosfera plstica do filme to forte que
a sua presena tem a mesma importncia do
que a diegese. O trabalho de fotografia a preto
e branco cuja luz alterna entre um claro-escuro
apurado e uma luminosidade buclica, a
montagem atpica de um tempo-sequncia
5
entre duas sequncia narrativas clssicas, o
formalismo estetizante que impede o natura-
lismo de desabrochar sempre que este parece
instalar-se, so factores importantes que con-
tribuem para criar uma atmosfera que pene-
tra no espectador, deixando vestgios de uma
impresso que ultrapassa o exprimvel.
Dizer que o movimento a natureza da
imagem flmica implica necessariamente
pensar a sua temporalidade. O sentido ex-
presso por um plano, uma sequncia ou
mesmo pela integralidade de um filme pode
criar uma atmosfera especfica. Por exemplo,
a reflexo de Deleuze sobre a imagem-tempo
podia servir de base, porque bvio que a
durao mais ou menos longa de um plano
permite ao espectador ficar impregnado, ou
no, pela sua atmosfera. No entanto, existe
uma atmosfera prpria ao tempo, indepen-
dentemente do tempo diegtico. Trata-se
ento de descobrir de que maneira a cons-
truo do tempo flmico consegue produzir
um certo tipo de atmosfera. Sabendo que a
tcnica cinematogrfica permite uma fcil
manipulao temporal (atravs da montagem,
do acelerado ou da cmara lenta, por exem-
plo), fcil identificar os lugares de expres-
145 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
so de atmosfera temporal. Mais difcil
analisar a natureza desta mesma atmosfera
porque, segundo Didi-Huberman, a imagem
um objecto complexo de tempo impuro:
uma extraordinria montagem de tempos
heteregeneos formando anacronismos
6
.
E porque se trata de uma imagem flmica,
estes anacronismos temporais inerentes
imagem tornam-se ainda mais complexos.
Antes de tudo, a imagem flmica, na sua
imaterialidade, funciona como um presente
em constante devir, para utilizar o conceito
deleuziano, como se a imagem fosse uma
imagem-potencial e no auto-suficiente,
porque sempre associada s anteriores e/ou
s seguintes para poder exprimir a sua ver-
dadeira essncia (o movimento). A atmosfera
temporal da imagem flmica torna-se ainda
mais complexa quando o som um elemento
criador de atmosfera. Por exemplo, em
Eraserhead de David Lynch, o barulho es-
tridente que a personagem ouve no espao
da sua cabea no tem nenhuma fonte es-
pecfica, a no ser o seu prprio crebro; por
isso mesmo, estamos em presena de uma
atmosfera abstrata que ultrapassa as refern-
cias espacio-temporais convencionais. A
atmosfera desta cena torna-se intemporal
porque no s exprime aleatoriamente um
lugar do espao interior da personagem, como
a durao da sua manifestao cria uma
espcie de suspenso temporal da narrativa.
A atmosfera temporal de um plano, de
uma cena ou de um filme est ligada ao ritmo
de cada um e da sua prpria montagem. Os
ritmos das formas, dos movimentos e dos sons
relacionam-se entre si e criam sentidos. Neste
sentido, o ritmo assemelha-se ao conflito
eisensteiniano que reconhecia um sentido a
partir dos conflitos representativos.
Em que sentido possvel caracterizar a
atmosfera como sendo uma figura flmica se
ela por natureza abstracta (mesmo quando
a sua origem material) e recusa qualquer
tentativa de figurao? Como foi menciona-
do mais acima, uma figura flmica uma
forma particular de expresso, especfica ao
cinema. A atmosfera flmica uma figura
flmica porque ela criada a partir de outros
elementos flmicos e porque tem um sentido
especfico. No seu artigo De la figure
cinmatographique, Andr Tarkovski nunca
menciona a palavra atmosfera, e no entanto,
ela est implicitamente presente. O cineasta
refere uma srie de propriedades que podem
definir uma figura flmica, e duas delas apli-
cam-se perfeitamente atmosfera. Primeiro, a
atmosfera permite uma relao com o infinito.
De facto, a sua manifestao contenta-se em
ser uma impresso: no tem contornos nem
configurao. por isso mesmo que ela pro-
voca uma sensao de infinito no espao interior
do espectador, por sair dos limites do plano
e por ser intemporal. A segunda propriedade
a indivisibilidade da atmosfera. Ela funciona
como um todo, um sistema de foras sensveis
ou afectivas que percebido como um con-
junto de corpo inteiro; a atmosfera tambm no
um processo mental.
Por ltimo, um exemplo de atmosfera
concreta, e outro de atmosfera passiva. No
filme O Labirinto dos Sonhos que Sogo Ishii
realizou em 1997, a noite e a chuva expri-
mem um espao inseguro. No entanto, ape-
sar de ter uma origem figurativa (a chuva
desenha sombras lquidas nos rostos das
personagens), a prpria atmosfera parece
intangvel. Em Elephant de Gus Van Sant,
a atmosfera abstrata; ela circula de plano
para plano, tal como os estudantes deambulam
pelos corredores do liceu. A sua origem no
tem uma forma especfica porque ela
constituda por todos os elementos da ima-
gem flmica. Nos dois casos, a atmosfera est
claramente presente e a sua presena activa,
quer dizer que o seu sentido tem um valor
fundamental na narrativa.
Para sintetizar este primeiro esboo na
definio de atmosfera flmica, importante
referir que tentar reduzir a atmosfera a um
sistema estvel e fechado seria desnaturar a
sua prpria essncia fugidia. Aplicar a noo
de figura flmica como se, ao serem
sublimadas, as figuras adquirissem um novo
valor expressivo, afastado do seu, original.
Por isso, a noo fica por apurar porque, por
exemplo, ela tem uma manifestao tempo-
ral muito complexa e muito rica, como j
se viu. Tambm preciso ter cuidado em no
confundir atmosfera com efeitos, o que
s vezes no to bvio. No expressionismo
alemo, por exemplo, os dois justapem-se.
O que importante, reconhecer a atmos-
fera como sendo um elemento flmico de corpo
inteiro, e ao torn-la inteligvel, dar-lhe um
espao analtico na teoria cinematogrfica.
146 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Bibliografia
Binswanger, Ludwig, Das Raumproblem
in der Psychopathologie, Ausgewhlte
Werke, Heidelberg, Band III, 1994.
Daney, Serge, O travelling de Kapo, in
Revista de Comunicao e Linguagens, n23,
Lisboa, Edies Cosmos, 1996, pp. 205-221.
Daney, Serge, Devant la recrudescence
des vols de sacs main, Lyon, Alas, 1997.
Didi-Huberman, Georges, Devant
limage, Paris Editions de Minuit, 1990.
Didi-Huberman, Georges, Devant le
temps, Paris, Editions de Minuit, 2000.
Epstein, Jean, LIntelligence dune
machine, Paris, Editions Jacques Melot, 1946.
Tarkovski, Andr, De la figure
cinematographique, Positif, n 249, 1981.
Tellenbach, Hubertus, Geschmack und
Atmosphre, Salzburg, Otto Mller Verlag,
1968.
_______________________________
1
Universidade Lusfona de Humanidades e
Tecnologias.
2
Cf. George Didi-Huberman, Devant limage,
Paris Editions de Minuit, 1990.
3
Cf, Serge Daney, O travelling de Kapo,
in Revista de Comunicao e Linguagens, n23,
Lisboa, Edies Cosmos, 1996, pp. 205-221.
4
Cf. Ins Gil, A Sombra do Caador. Do
Stroryboard Direco de Actores, Lisboa,
Edies Universitrias Lusfonas, 2002.
5
O tempo-sequncia baseia-se no conceito de
imagem-tempo deleuziano e define uma sequncia
narrativa cuja situao ptica e sonora substitui as
situaes sensori-motores enfraquecidas. Num tem-
po-sequncia, a narrativa tem um lugar muito redu-
zido em relao prpria temporalidade da imagem
flmica que vale por si s e que permite, segundo
Deleuze, uma situao ptica pura (e/ou uma situao
sonora pura). Cf. Gilles Deleuze, LImage-Temps,
Paris, Editions de Minuit, 1985, p. 10.
6
Cf. George Didi-Huberman, Devant le temps,
Paris, Editions de Minuit, 2000, p. 16.
147 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
Generacin y utilizacin de tecnologas digitales
e informacionales para el anlisis de la imagen fotogrfica
Jos Aguilar Garca, Fco. Javier Gmez Tarn,
Javier Marzal Felici e Emilio Sez Soro
1
1. Introduccin
La presente comunicacin tiene por objeto
dar a conocer una lnea de investigacin, en
fase de desarrollo, en la que actualmente
estamos trabajando, con el ttulo Nuevas
tecnologas de la comunicacin, lenguaje
hipermedia y alfabetizacin audiovisual. Una
propuesta metodolgica para la produccin
de recursos educativos, implementada por
un grupo de investigadores del rea de
Comunicacin Audiovisual y Publicidad de
la Universidad Jaume I de Castelln
2
.
La propuesta inicial pretenda generar una
serie de materiales didcticos sobre los
recursos expresivos y narrativos en tres tipos
de soportes y lenguajes audiovisuales: la
fotografa, la imagen cinematogrfica y el
lenguaje publicitario. La magnitud del
proyecto nos hizo reformular la acotacin del
objeto de estudio que, en una primera fase,
se circunscribe nicamente al estudio de la
imagen fotogrfica y a la generacin de
recursos educativos, centrados de forma
exclusiva en este soporte comunicativo.
Entre los objetivos que plantea la
investigacin, podemos destacar los
siguientes:
Desarrollar un catlogo de recursos
expresivos y narrativos en el mbito del
lenguaje fotogrfico.
Elaborar una base de datos relacional
de conceptos tericos, nociones tcnicas,
fichas tcnicas y artsticas de los diferentes
textos fotogrficos seleccionados, etc.
Digitalizacin de textos fotogrficos,
grficos, etc., susceptibles de formar parte
de las bases de datos relacionales, mediante
su publicacin en una pgina web de la
Universidad Jaume I.
Pero la principal novedad de la propuesta
consiste en presentar los resultados de la
investigacin en formato hipermedia, con lo
que se consigue integrar diferentes media
(fotografa, texto, sonido) en un nico en-
torno. Ms all del uso del lenguaje
hipermedia como mero receptculo en el que
depositar una amalgama de objetos diversos,
creemos que este marco de representacin
ofrece dos elementos que revolucionan la
relacin con los objetos (los textos fotogr-
ficos) que hasta el momento manejbamos:
la interactividad y la evolucin. Se trata, por
tanto de una base de datos relacional que
permite una permanente actualizacin de
contenidos que, adems, podr consultarse a
travs de Internet a partir de octubre de 2004.
En nuestro criterio, se trata de un interesante
recurso que podr ser empleado en diferen-
tes niveles educativos, desde la enseanza
primaria hasta la universitaria.
Pero un trabajo de estas caractersticas
que, en apariencia, podra parecer orientado
hacia la recogida y acumulacin de
informacin grfica y escrita, implica una
reflexin rigurosa acerca de la naturaleza
de la fotografa y, asimismo, sobre la propia
actividad de anlisis de la imagen.
2. El anlisis histrico de la fotografa
A poco que se profundice en el estudio
de la imagen fotogrfica puede descubrirse
que, a pesar de la escasa bibliografa exis-
tente
3
, no hay un acuerdo entre las diferentes
metodologas de trabajo histricas y tericas.
En este sentido, creemos necesaria una
revisin con profundidad de las
aproximaciones historiogrficas en el estudio
de la fotografa.
Nuestra propuesta metodolgica no con-
siste en la defensa de una historia de la
fotografa, planteada de una forma autnoma
respecto a la historia del arte. En nuestro caso,
parece necesario que el estudio de la
fotografa se despliegue a travs del examen
riguroso de las condiciones de produccin,
de recepcin y del propio estudio de la
materialidad de la obra fotogrfica, una
propuesta que est en el marco de una
148 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
concepcin general de la historia de la imagen.
Esto significa reconocer que el texto fotogr-
fico es una prctica significante, por utilizar
la expresin de Bettetini
4
, en la que confluyen
una serie de estrategias discursivas, una
intencionalidad del autor, un horizonte cultu-
ral de recepcin, unos medios de difusin de
la obra, etc., as como un contexto
socioeconmico y poltico. Esta orientacin
metodolgica, muy extendida hoy en da entre
los historiadores de la imagen desde la pers-
pectiva de la comunicacin, es muy diferente
a los estudios existentes sobre historia de la
fotografa que ms bien se preocupan por
acumular mucha informacin emprica sobre
los autores y el desarrollo de la tecnologa
fotogrfica, y por establecer nexos genricos
y estilsticos con otras obras fotogrficas, sin
salirse estrictamente del medio.
En este sentido, podemos afirmar que
existe una manifiesta incompatibilidad
metodolgica entre la historiografa fotogr-
fica y el marco general de la historia y teora
de la imagen. Nuestra propuesta metodolgica
consiste, por tanto, no en hacer pura
cronologa (acumulacin ms o menos orde-
nada de acontecimientos) o glosa de
descubrimientos, es decir, de las invenciones
tcnicas y sus protagonistas, sino en exami-
nar los modos de representacin que
articulan las diferentes prcticas significantes
que, sin dejar de estar relacionadas con el
acontecimiento y la tcnica, ofrecen un
panorama rico y complejo de la historia de
la fotografa en el marco de una historia
contempornea de las artes visuales, no exenta
de numerosas contradicciones latentes.
Resulta cuanto menos llamativo el hecho
que el primer texto sobre fotografa, escrito
por Daguerre, llevara por ttulo Historique
et description des procds du daguerrotipe;
un texto en el que se expona la tcnica
desarrollada por su inventor, remontndose
a los antecedentes de la fotografa, aunque
desde un punto de vista muy restringido al
lado tcnico que revela una conciencia acer-
ca de la importancia histrica de la fotografa
por parte de sus protagonistas, a quienes no
se les escapaba que esta invencin constitua
un hito en la historia de las representaciones
(Lemagny-Rouill
5
). Esta tendencia de
Daguerre a historiar la fotografa desde una
perspectiva tcnica fue determinante a la hora
de consolidar una tradicin historiogrfica
que, desde el primer momento, seguira dicho
tecnologismo, dejando de lado las
dimensiones sociolgicas y/o estticas
(Lacan; Eder; Stenger; Potonnie
6
).
Frente a las posiciones historiogrficas de
fotohistoriadores, es necesario destacar la
obra de otros historiadores de la fotografa
cuya perspectiva trasciende los lmites de lo
estrictamente fotogrfico como sucede con
los estudios de Gisle Freund
7
, Petr Tausk
8
o Andr Rouill
9
.
El anlisis de Freund, que data de
principios de los setenta, trata de establecer
conexiones entre el medio fotogrfico y el
contexto socilogico y poltico, empezando
su obra con una declaracin de intenciones
en lo que respecta a las relaciones entre las
formas artsticas y la sociedad:
Cada momento histrico presencia el
nacimiento de unos particulares modos
de expresin artstica, que
corresponden al carcter poltico, a las
maneras de pensar y a los gustos de
la poca. El gusto no es una
manifestacin inexplicable de la
naturaleza humana, sino que se forma
en funcin de unas condiciones de
vida muy definidas que caracterizan
la estructura social en cada etapa de
su evolucin
10
.
Por otra parte, Petr Tausk construye una
historia de la fotografa en el siglo XX,
entendiendo que slo a partir de la ltima
dcada comenz a emanciparse del medio
pictrico. Esta obra centra su atencin en la
fotografa como vehculo de creacin arts-
tica, que para Tausk corresponde a un uso
muy restringido del medio. Su anlisis de la
relacin de la fotografa y el arte no est
circunscrito al campo de la pintura, tratando
de establecer relaciones entre el medio fo-
togrfico y las diferentes corrientes artsticas
del arte contemporneo, desde el punto de
vista de lahistoria de las ideas estticas,
intenta ir ms all de la simple relacin
simbitica pintura-fotografa que Stelzer y
Scharf han estudiado monogrficamente.
Finalmente, las aportaciones de Andr
Rouill han tratado de abordar el estudio del
fenmeno o hecho fotogrfico examinando
149 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
su interaccin con el medio socioeconmico
y poltico en la historia contempornea. El
desarrollo de la tcnica fotogrfica, que en
el caso de Tausk es relacionado con la
aparicin de los diferentes estilos fotogrfi-
cos, aqu es contemplado como consecuencia
de un estado de cosas sociopoltico cuya
ideologa determina el avance humanstico y
tambin cientfico-tcnico. La historia de las
ideas y de los hechos sociales y econmicos
no permanece, pues, al margen de la historia
de las formas visuales, y de la fotografa.
La imagen fotogrfica no es analizada como
un simple objeto artstico sino como un hecho
social:
Es importante tomar en serio a la
imagen fotogrfica como un hecho
social y analizar a partir de dos
categoras diferentes pero
complementarias de estudio: por una
parte sintcticas, semnticas y
temticas sobre la propia imagen y
alimentadas por la semitica, por otra
parte sobre las instituciones y las
estructuras socioeconmicas de la
formacin social de la fotografa. El
objetivo ser entonces pensar las par-
ticularidades de una escritura fotogr-
fica determinada como hechos
sociales, es decir, descubrir valores
e intereses sociales en el plano de esta
escritura
11
.
La propuesta de trabajo de Rouill marca,
de este modo, dos direcciones diferenciadas,
pero convergentes, en el estudio histrico de
la fotografa: por una parte, una lnea de
investigacin que se centra en el anlisis de
las condiciones de produccin y recepcin,
que implica el examen de las condiciones eco-
nmicas, sociales, tcnicas y polticas del
contexto histrico en el que cabe situar dichas
imgenes; por otro lado, este estudio debe
ser completado a travs de un anlisis tex-
tual, inmanente, del hecho fotogrfico.
Creemos que la postura metodolgica de
Rouill es muy valiosa para nosotros en la
medida en que se trata de una perspectiva
de estudio de la fotografa muy abierta y
flexible, en definitiva, decididamente
interdisciplinar.
3. El anlisis de la imagen fotogrfica
En efecto, uno de los problemas ms
llamativos de las tradicionales historias de
la fotografa es que se pretende historiar un
objeto - el arte, los medios de masas, la
fotografa, etc.- sobre el que no se ha
reflexionado suficientemente. En este senti-
do, es necesario realizar una aproximacin
a la naturaleza de la imagen fotogrfica,
un enfoque sincrnico que no es excluyente
del discurso histrico diacrnico que, en
realidad, lo presupone.
Es obvio que, por la limitacin de espacio,
no podemos aqu dar cuenta de la complejidad
de posiciones enfrentadas. Baste sealar la
existencia de dos lneas principales de trabajo
en los intentos por dilucidar el concepto de
fotografa: por un lado, lo que denominamos
la definicin ontolgica, una primera lnea
de estudios que centra buen nmero de
trabajos crticos en los que se analiza la
relacin realidad-reproduccin de la
realidad, un debate que llega hasta nuestros
das desde la misma aparicin de la fotografa;
por otra parte, de una segunda orientacin
de estudios sobre fotografa - que ha
caminado paralelamente a la anterior - y que
gira en torno a su carcter de experiencia
fenomenolgica, dando lugar al intento de
construir metalenguajes descriptivos que han
pretendido agotar o prever la significacin
fotogrfica - como ocurre con la perspectiva
semitica -, hasta aproximaciones casi
deconstructivas que han subrayado la
precariedad del arte fotogrfico y los lmites
de una posible definicin.
En la primera lnea de estudios podemos
situar las obras de Bazin, Ledo, Dubois,
Laguillo, Damisch, Bourdieu, Sontag o
Schaeffer
12
. En la segunda orientacin
metodolgica, de corte ms analtico, pode-
mos ubicar los estudios de Barthes, Costa,
Villafae o Zunzunegui
13
. Si bien es cierto
que la mayora de los autores citados se
mueven entre ambas perspectivas de trabajo.
Como seal en su momento Roland
Barthes, la fotografa mantiene una relacin
de analoga con la realidad lo que revela su
especial estatuto: la imagen fotogrfica es
un mensaje sin cdigo:
150 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
En suma, la fotografa [de prensa]
sera la nica estructura de la
informacin que estara exclusivamen-
te constituida y colmada por un
mensaje denotado, que la llenara
por completo; ante una fotografa, el
sentimiento de denotacin o, si se
prefiere, de plenitud analgica, es tan
intenso que la descripcin de una foto
de forma literal es imposible, pues
describir consiste precisamente en
aadir al mensaje denotado un
sustituto o segundo mensaje, extrado
de un cdigo que es la lengua y que
(...) constituye fatalmente una
connotacin respecto al mensaje
analgico de la fotografa...
14
.
El anlisis barthesiano pone de relieve la
imposibilidad de efectuar un estudio de las
unidades significantes del primer mensaje
fotogrfico - nivel denotativo -, ya que esta
denotacin es puramente analgica. Sin
embargo, esto no significa que no pueda
hacerse un anlisis del mensaje connotado,
donde llega a distinguir un plano de la
expresin y un plano del contenido, siguiendo
el planteamiento estructuralista (segn la
formulacin de Hjelmslev que tan buenos
frutos ha dado en el terreno del anlisis
iconogrfico, esencialmente de la imagen
cinematogrfica). De este modo, Barthes
propone los principales planos de anlisis
de la connotacin fotogrfica que se
resumen en seis: trucaje, pose, objetos,
fotogenia, esteticismo y sintaxis. Para
Barthes el cdigo de la connotacin es his-
trico, es decir, cultural.
...sus signos son gestos, actitudes,
expresiones, colores o efectos dota-
dos de ciertos sentidos en virtud de
los usos de una determinada sociedad:
la relacin entre el significante y el
significado, es decir, la significacin
propiamente dicha, sigue siendo, si no
inmotivada, al menos histrica por
entero. As pues, no se puede decir
que el hombre moderno proyecte al
leer la fotografa sentimientos y va-
lores caracterizables o eternos, es
decir, infra- o trans-histricos, a
menos que se deje bien claro que la
significacin en s misma es siempre
el resultado de la elaboracin de una
sociedad y una historia determinadas;
en suma, la significacin es el
movimiento dialctico que resuelve la
contradiccin entre hombre cultural y
hombre natural
15
.
El fuerte desarrollo experimentado por la
investigacin semitica que se propona el
estudio de todos los procesos culturales como
hechos comunicativos (Eco
16
) contagi a
muchos investigadores de un fuerte optimis-
mo en el anlisis del mensaje fotogrfico. Joan
Costa, en un antiguo trabajo
17
que l mismo
criticara con rotundidad tiempo despus
18
, se
propuso hacer una clasificacin exhaustiva de
los signos fotogrficos. Su objetivo era
estudiar la fotografa como proceso de
comunicacin, los elementos que intervienen
y las interrelaciones de estos elementos en la
configuracin del mensaje fotogrfico. Para
Costa, la particularidad de la fotografa no
reside en ser un mecanismo apto para
reproducir la realidad, sino en su capacidad
de producir imgenes icnicas a partir de la
luz y por medios tcnicos sobre un soporte
sensible. Costa llega a inventariar una serie
de signos fotogrficos que engloba en dos
categoras principales: por una parte, los signos
literales (de semejanza con el referente); por
otra, los signos abstractos (no analgicos).
Los signos fotogrficos proceden de la
interrelacin de distintos elementos fsicos y
tcnicos como la luz, el movimiento, la ptica
y el tratamiento en el laboratorio. De este
modo, Costa llega a relacionar un autntico
catlogo de signos abstractos: en primer lugar,
los signos pticos (ejemplos: flou,
desenfoque, fotomontaje, sobreimpresiones,
deformaciones de objetos, repeticiones de
imgenes, etc.); en segundo lugar, los signos
lumnicos (estrellas y formas producidas por
la entrada de luz en el objetivo); en tercer
lugar, los signos cinticos (estelas, barridos,
descomposicin del movimiento, congelados,
oposicin esttico-dinmico, ritmos de lneas,
etc.); finalmente, los signos qumicos
(solarizaciones, imagen negativa, grano,
exclusin de tonos intermedios, modificacin
del color, virados, etc.).
El problema de la propuesta de Joan Costa
es que su clasificacin de los signos foto-
151 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
grficos descansa sobre la idea de la
existencia de un lenguaje fotogrfico espe-
cfico, desvinculado de lo icnico como
concepto general (es notoria la estrecha
relacin de la fotografa con la pintura, con
la imagen cinematogrfica, sus puntos de
contacto con la imagen electrnica en el
campo de la fotografa digital, etc.). Costa
trata de afirmar radicalmente la especificidad
del lenguaje fotogrfico, utilizando el trmi-
no lenguaje no metafricamente sino li-
teralmente, con lo que termina construyendo
una nueva ontologa. Su perspectiva semitica
deja de lado, adems, las consideraciones
histricas sobre la imagen que le podran
servir para fundamentar su discurso, desde
nuestro punto de vista. Finalmente, creemos
que uno de los problemas principales del
estudio de Costa es que su catlogo de signos
abstractos se sirve de criterios a la vez
tcnicos (de produccin) y estticos (de
recepcin), sin llegar a establecer un lmite
entre la materialidad fotogrfica y el carcter
experiencial que implica el hecho fotogr-
fico.
Cabe reconocer el valor de estas
propuestas de trabajo, que inspiran en ltima
instancia nuestra propia perspectiva de
trabajo. Como hemos sealado, nuestra
aproximacin se basa en el anlisis textual
de la fotografa, sin dejar de lado las va-
liosas informaciones que nos ofrece el
conocimiento del autor (datos biogrficos),
del contexto poltico, social y econmico
(enfoque histrico, sociolgico y econmi-
co), del estudio de la evolucin de la
tecnologa (perspectiva tecnolgica) o de las
condiciones de produccin, distribucin y
recepcin de la obra fotogrfica. Este
planteamiento interdisciplinar sirve de
inspiracin para la elaboracin de la base de
datos en la que estamos trabajando.
4. Estructura de la base de datos
Somos conscientes, en primer lugar, de que
la elaboracin de esta base de datos no es ms
que una herramienta de trabajo que puede servir
de ayuda en el campo del anlisis del texto
fotogrfico. Se trata, pues, de un asistente
que no pretende reemplazar la propia actividad
analtica que, por otra parte, no puede consistir
nunca en una serie de fichas e informaciones,
por muy completas que estas sean.
La base de datos ofrece una informacin
detallada de una seleccin de imgenes
fotogrficas (alrededor de 30, en una primera
fase), de las cuales se proporciona las
siguientes informaciones, que van desde lo
particular o concreto a niveles ms
conceptuales y abstractos:
En primer lugar, se ofrecen los datos
contextuales sobre la imagen fotogrfica
como autor, ttulo, nacionalidad del
autor, fecha de realizacin de la fotografa,
gnero, e incluso otros datos sobre la
trayectoria del autor, el momento histrico,
el lugar, el movimiento artstico o fotogrfi-
152 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
co o las condiciones tcnicas en la produccin
fotogrfica, una serie de datos que aportan
informaciones tiles para el anlisis poste-
rior.
La segunda pantalla ofrece informacin
sobre el anlisis del nivel morflogico de la
imagen. Se trata de comenzar con una
descripcin formal de la imagen, tratando de
deducir cual(es) ha sido la(s) Tcnica(s)
empleada(s): parmetros como punto (presen-
cia mayor o menor del grano fotogrfico,
puntos o centros de inters), lnea (rectas,
curvas, oblicuas, etc.), plano (distincin de
planos en la imagen), espacio, escala (tamao
de los personajes PP, PM, PA, PE, etc.), forma
(geometra de las formas en la imagen),
textura, nitidez de la imagen, contraste,
tonalidad (en B/N o Color), caractersticas
de la iluminacin (direcciones de la luz,
natural/artificial, dura/suave, etc.). El conjunto
de aspectos tratados nos permitir sealar si
la imagen es figurativa/abstracta, simple/
compleja, monosmica/polismica, original/
redundante, etc.
La tercera pantalla propone un anlisis
de los principales parmetros que se pueden
seguir en el anlisis del nivel compositivo
o sintctico de la imagen. Entre los elemen-
tos a tratar podemos destacar: perspectiva
(profundidad de campo; en relacin con
nitidez de la imagen; gradientes espaciales),
ritmo (repeticin de elementos morfolgicos,
motivos fotogrficos, etc.), tensin (entre
elementos morfolgicos lnea, planos, co-
lores, texturas, etc.), proporcin (rel. con
escala / formato-encuadre), distribucin de
pesos en la imagen, simetra/asimetra,
centrado/descentrado, equilibrio, orden
icnico, estaticidad/dinamicidad de la imagen,
ley de tercios, recorrido visual. En este punto
de la propuesta, tambin se toma en
consideracin la posibilidad de reflexionar en
torno a la representacin del espacio y el
tiempo fotogrficos. Por lo que respecta al
espacio de la representacin, se contemplan
las nociones de campo/fuera de campo,
abierto/cerrado, interior/exterior, concreto/
abstracto, profundo/plano, habitable/no
habitable por el espectador, puesta en escena.
En lo que se refiere al tiempo de la
representacin, la ficha contempla la inclusin
de conceptos como instantaneidad, duracin,
atemporalidad, tiempo simblico, tiempo
subjetivo y secuencialidad / narratividad de
la imagen.
Finalmente, la ficha analtica sobre la
imagen fotogrfica estudiada se cierra con
el nivel interpretativo, en el que dirigimos
nuestra atencin hacia aspectos como la
articulacin del punto de vista, las relaciones
intertextuales y la valoracin crtica que
suscita esta imagen.
La articulacin del punto de vista se
refiere a cuestiones como punto de vista fsico
(punto del espacio desde donde se fotografa
altura de la vista: picado, contrapicado,
etc.), actitud de los personajes (modelos, mo-
tivos, etc.), calificadores (irona, sarcasmo,
exaltacin, emociones, etc.), transparencia /
sutura / verosimilitud de la puesta en escena,
marcas textuales (enunciador / enunciatario,
presencia del autor y del espectador en la
imagen), miradas de los personajes, etc. La
valoracin crtica de la imagen, de carcter
fundamentalmente subjetiva, contempla la
posibilidad de reconocer la presencia de
oposiciones que se establecen en el interior
del encuadre, la existencia de significados a
los que pueden remitir las formas, colores,
texturas, iluminacin, etc.; las relaciones y
oposiciones intertextuales (relaciones con
otros textos audiovisuales), as como una
interpretacin global del texto fotogrfico, y
una valoracin crtica de la imagen (cuando
proceda).
Debemos insistir en el carcter orientativo
de la propuesta, ya que la cumplimentacin
de los datos de las distintas pantallas depen-
de, en gran medida, del posicionamiento
metodolgico desde el que realizamos la
aproximacin al anlisis de la imagen foto-
grfica. Sera ingenuo por nuestra parte no
reconocer que el investigador siempre
proyecta sobre la imagen una carga impor-
tante de prejuicios y sus propias convicciones,
gustos y preferencias. En este sentido, como
ya lo hemos expresado anteriormente, nos
sentimos en deuda con los planteamientos de
la semitica textual, que tratamos de com-
plementar con la consideracin de otros
aspectos como el estudio de las condiciones
de produccin (instancia autorial; contexto
social, econmico, poltico, cultural y est-
tico), la tecnologa o las condiciones de
recepcin de la imagen fotogrfica (dnde
se exhibe la fotografa, a qu pblico estaba
153 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
dirigida, etc.). En la base de esta
aproximacin se sita la consideracin de la
fotografa como lenguaje, desde un punto de
vista ms operativo que ontolgico, claro est
(Eco; Zunzunegui). No podemos olvidar, sin
embargo, que la actividad analtica es
tambin, en ocasiones, una oportunidad para
desplegar la creatividad de un anlisis, para
aprender a sentir y comprender dnde radica
la fuerza y la capacidad de comunicacin (de
fruicin con el espectador) de la fotografa.
En suma, el anlisis de una imagen fotogr-
fica puede ser asimismo una fuente de placer.
Como investigadores de la comunicacin
con un afn por aplicar el mximo rigor y
honestidad posible a nuestra investigacin
(rigor cientfico, no rigor mortis), ser
necesario explicitar los presupuestos
epistemolgicos de partida en nuestra
propuesta analtica. Es por ello que la base
de datos, en formato de sitio web, debe
incluir un glosario completo en el que se
expliquen cada uno de los conceptos que
aparecen en los diferentes niveles propuestos
para el anlisis. Este particular diccionario
(o idiolecto) que estamos construyendo es,
a su vez, un nuevo metalenguaje que dar
cuenta de las principales fuentes
documentales y estudios cientficos
empleados para el establecimiento de los
diferentes sentidos de los trminos utiliza-
dos. Un glosario que, estamos seguros, no
estar exento de elementos polmicos. En
este sentido, para propiciar el debate y la
discusin cientfica, se ha organizado la
celebracin de un congreso monogrfico que
lleva por ttulo Congreso de Teora y
Tcnica de los Medios Audiovisuales, en
cuya primera edicin el tema elegido es El
anlisis de la imagen fotogrfica, que ha
tenido lugar los das 13, 14 y 15 de octubre
de este mismo ao 2004 en la Facultad de
Ciencias Humanas y Sociales de la
Universidad Jaume I de Castelln
19
. Desde
entonces ya est operativo el sitio web con
la base de datos en soporte hipermedia
(www.analisisfotografia.uji.es) que, espera-
mos, sea examinada (y criticada) con
atencin por los especialistas en la materia.
Hasta este momento han hecho uso de la
pgina (entre el 18 de octubre y el 22 de
noviembre de 2004, unos 50. 000
internautas). El sitio web ofrece adems 900
fotografas con su ficha tcnica cada una,
que sirven de ejemplos, adems de 30
fotografas analizadas siguiendo los 61 items
que propone la metodologa de anlisis.
Queremos finalizar nuestra exposicin
haciendo una constatacin que, a estas al-
turas, puede parecer una obviedad. El intento
de justificacin de la propuesta de trabajo
ha exigido por nuestra parte una revisin de
las diferentes perspectivas de trabajo en la
aproximacin al estudio de la naturaleza de
la imagen fotogrfica. De alguna manera, la
herramienta digital el soporte hipermedia-
ha quedado con nuestras palabras bastante
ensombrecido por la complejidad que encierra
el propio examen del problema conceptual
que supone tratar de dilucidar esta cuestin,
as como el de la naturaleza de la actividad
analtica. Y es que tras una poca en la que
las herramientas de trabajo para el estudio
de la comunicacin han sido ms protago-
nistas incluso que los propios discursos
comunicativos, es momento de comenzar a
utilizar esas nuevas herramientas y no perder
de vista adnde debe dirigirse nuestra
atencin: qu, cmo y porqu comunica la
imagen fotogrfica.
154 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Bibliografa
Barthes, Roland, El mensaje fotogrfi-
co en Lo obvio y lo obtuso. Imgenes, gestos,
voces, Barcelona, Paids, 1992 (1 Edicin
1961).
Barthes, Roland, La cmara lcida. Nota
sobre la fotografa, Barcelona, Paids, 1990.
Bazin, Andr, Ontologa de la imagen
fotogrfica en Qu es el cine?, Madrid,
Rialp, 1990 (1 Edicin: 1966).
Bettetini, Gianfranco, Produccin
significante y puesta en escena, Barcelona,
Gustavo Gili, 1977.
Bourdieu, Pierre, Un art moyen. Essai
sur les usages sociaux de la photographie,
Paris, Minuit, 1965.
Costa, Joan, El lenguaje fotogrfico,
Madrid, Fontanella, 1977.
Costa, Joan, Lexpressivitat de la imatge
fotogrfica. Una aproximaci fenomenolgica
al llenguatge de la fotografia, Barcelona,
Centre dInvestigaci de la Comunicaci de
la Generalitat de Catalunya, 1988.
Damisch, Hubert, Cinq notes pour une
phnomnologie de limage photographique
en LArc (La Photographie), Aix-en-
Provence, 1963.
Dubois, Philippe, El acto fotogrfico. De
la representacin a la recepcin, Barcelona,
Paids, 1986 (1 Edicin: 1983).
Eco, Umberto, El campo semitico en
La estructura ausente, Barcelona, Lumen,
1977.
Eder, Josef Maria, History of
Photography, New York, Dover Publications,
1972 (1 Edicin en alemn, de 1890).
Freund, Gisle, La fotografa como do-
cumento social. Barcelona, Gustavo Gili,
1983 (1 Edicin: 1974).
Laguillo, Manolo, El problema de la
referencialidad en Por qu fotografiar?
Escritos de circunstancias 1982-1994,
Murcia, Ediciones Mestizo, 1995.
Lacan, Ernest, Esquissses
photographiques. A propos de lexposition
universelle et de la guerre dorient, Paris,
Ed. Jean Michel Place, Colection
Resurgences, 1986 (1 Edicin: 1856).
Ledo Andion, Margarita,
Documentalismo fotogrfico contemporneo.
Da inocencia lucidez, Vigo, Edicins Xerais
de Galicia, 1995.
Lemagny, Jean-Claude & Rouille, Andr
(dirs.), Historia de la fotografa, Barcelona,
Martnez Roca, 1988.
Potonniee, Georges, Histoire de la
dcouverte de la photographie, Paris,
Publications Photographiques Paul Montel,
1925.
Rouille, Andr, Pour une histoire sociale
de la photographie de XIX sicle en Les
cahiers de la photographie, n 3, Paris, 1981.
Schaeffer, Jean-Marie,La imagen
precaria. Del dispositivo fotogrfico. Madrid:
Ctedra, 1990 (1 Edicin: 1987).
Sontag, Susan, Sobre la fotografa, Bar-
celona, Edhasa, 1981 (1 Edicin: 1973).
Stenger, Erich, The History of
Photography. Its Relation to Civilization and
Practice, New York, Arno Press, 1979 (1
Edicin: 1939).
Susperregui, Jos Manuel, Fundamentos
de la fotografa, Bilbao, Servicio Editorial
de la Universidad del Pas Vasco, 1988.
TAausk, Petr, Historia de la fotografa
en el siglo XX. De la fotografa artstica al
periodismo grfico, Barcelona, Gustavo Gili,
1978.
Villafae, Justo, Introduccin a la teora
de la imagen, Madrid, Pirmide, 1988.
Villafae, Justo y Minguez, Norberto,
Principios de teora general de la imagen,
Madrid, Pirmide, 1995.
Zunzunegui, Santos, La imagen foto-
grfica en Pensar la imagen, Madrid,
Ctedra y Universidad del Pas Vasco, 1988.
Zunzunegui, Santos, Paisajes de la
forma. Ejercicios de anlisis de la imagen,
Madrid, Ctedra, 1994.
_______________________________
1
Universidad Jaume I. Castelln (Espaa).
2
El presente proyecto de investigacin est
financiado por la Convocatoria de Proyectos de
Investigacin BANCAJA-UJI de la Universidad
Jaume I, cdigo I201-2001, dirigido por el Dr.
Rafael Lpez Lita. Los firmantes de la presente
comunicacin forman parte del Grupo de
Investigacin ITACA-UJI (Investigacin en
Tecnologas Aplicadas a la Comunicacin
Audiovisual), bajo la coordinacin del Dr. Javier
Marzal Felici. El resultado de la investigacin se
155 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
puede consultar en el sitio web
www.analisisfotografia.uji.es, donde se presenta la
totalidad de la investigacin ya concluida.
3
No es que existan pocos libros sobre
fotografa, ya que si contabilizamos los estudios
histricos y los catlogos que se publican en todo
el mundo, se trata de un campo muy prolfico.
Sin embargo, el nmero de ensayos sobre la
naturaleza de la imagen fotogrfica es bastante
reducido, sobre todo si lo comparamos con los
numerosos estudios que existen en los campos de
la teora del cine o de la televisin.
4
Aunque el texto de Bettetini tiene una clara
orientacin semitica, Bettetini se desmarca de la
semitica ms positivista cuando afirma la
necesidad de compatibilizar esta perspectiva con
el anlisis histrico. BETTETINI, Gianfranco,
Produccin significante y puesta en escena,
Barcelona, Gustavo Gili, 1977.
5
LEMAGNY, Jean-Claude & ROUILLE,
Andr (dirs.), Historia de la fotografa, Barce-
lona, Martnez Roca, 1988.
6
LACAN, Ernest, Esquissses photographiques.
A propos de lexposition universelle et de la guerre
dorient, Paris, Ed. Jean Michel Place, Colection
Resurgences, 1986 (1 Edicin: 1856). EDER, Josef
Maria, History of Photography, New York, Dover
Publications, 1972 (1 Edicin en alemn, de 1890).
STENGER, Erich, The History of Photography. Its
Relation to Civilization and Practice, New York,
Arno Press, 1979 (1 Edicin: 1939). POTONNIEE,
Georges, Histoire de la dcouverte de la
photographie, Paris, Publications Photographiques
Paul Montel, 1925.
7
FREUND, Gisle, La fotografa como
documento social. Barcelona, Gustavo Gili, 1983
(1 Edicin: 1974).
8
TAUSK, Petr, Historia de la fotografa en
el siglo XX. De la fotografa artstica al periodismo
grfico, Barcelona, Gustavo Gili, 1978.
9
ROUILLE, Andr, Pour une histoire sociale
de la photographie de XIX sicle en Les cahiers
de la photographie, n 3, Paris, 1981.
10
Freund, p. 7.
11
Rouill, op. cit., p. 35.
12
BAZIN, Andr, Ontologa de la imagen
fotogrfica en Qu es el cine?, Madrid, Rialp,
1990 (1 Edicin: 1966). LEDO ANDION,
Margarita, Documentalismo fotogrfico
contemporneo. Da inocencia lucidez, Vigo,
Edicins Xerais de Galicia, 1995. DUBOIS,
Philippe, El acto fotogrfico. De la
representacin a la recepcin, Barcelona, Paids,
1986 (1 Edicin: 1983). LAGUILLO, Manolo,
El problema de la referencialidad en Por qu
fotografiar? Escritos de circunstancias 1982-
1994, Murcia, Ediciones Mestizo, 1995.
DAMISCH, Hubert, Cinq notes pour une
phnomnologie de limage photographique en
LArc (La Photographie), Aix-en-Provence, 1963.
BOURDIEU, Pierre, Un art moyen. Essai sur
les usages sociaux de la photographie, Paris,
Minuit, 1965. SONTAG, Susan, Sobre la
fotografa, Barcelona, Edhasa, 1981 (1 Edicin:
1973). SCHAEFFER, Jean-Marie, La imagen
precaria. Del dispositivo fotogrfico. Madrid:
Ctedra, 1990 (1 Edicin: 1987).
13
BARTHES, Roland, El mensaje fotogr-
fico en Lo obvio y lo obtuso. Imgenes, gestos,
voces, Barcelona, Paids, 1992 (1 Edicin 1961).
BARTHES, Roland, La cmara lcida. Nota sobre
la fotografa, Barcelona, Paids, 1990. COSTA,
Joan, El lenguaje fotogrfico, Madrid, Fontanella,
1977. COSTA, Joan, Lexpressivitat de la imatge
fotogrfica. Una aproximaci fenomenolgica al
llenguatge de la fotografia, Barcelona, Centre
dInvestigaci de la Comunicaci de la Generalitat
de Catalunya, 1988. VILLAFAE, Justo,
Introduccin a la teora de la imagen, Madrid,
Pirmide, 1988. VILLAFAE, Justo y MINGUEZ,
Norberto, Principios de teora general de la
imagen, Madrid, Pirmide, 1995. ZUNZUNEGUI,
Santos, La imagen fotogrfica en Pensar la
imagen, Madrid, Ctedra y Universidad del Pas
Vasco, 1988.
14
Barthes, op. cit., p. 14.
15
BARTHES, Roland, El mensaje
fotogrfico en Lo obvio y lo obtuso.
Imgenes, gestos, voces, Barcelona, Paids,
1992 (1 Edicin 1961), pp. 23-24.
16
ECO, Umberto, El campo semitico
en La estructura ausente, Barcelona, Lumen,
1977.
17
COSTA, Joan, El lenguaje fotogrfico,
Madrid, Fontanella, 1977.
18
COSTA, Joan, Lexpressivitat de la imatge
fotogrfica. Una aproximaci fenomenolgica al
llenguatge de la fotografia, Barcelona, Centre
dInvestigaci de la Comunicaci de la Generalitat
de Catalunya, 1988.
19
La direccin de la pgina web del congreso
es www.congrefoto.uji.es. Para contactar con la
organizacin del mismo, se ha habilitado la
siguiente direccin de correo electrnico:
congrefoto@uji.es.
156 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
157 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
La fotografa como interfaz cinematogrfico:
importancia de la luz en el discurso cinematogrfico
Jos Manuel Susperregui
1
Las investigaciones sobre cine suelen estar
dirigidos principalmente al anlisis del emisor
y del receptor cinematogrfico,
investigaciones que analizan la obra del
director por un lado y por otro las reacciones
del pblico, producindose un salto para ir
de un extremo al otro de este proceso de
comunicacin.
Sin embargo, la pantalla cinematogrfica
es el interfaz cinematogrfico, el punto de
encuentro a travs del cual se comunican los
extremos antes mencionados, es decir, el
director de la pelcula y su pblico. La
pantalla cinematogrfica est plena de luces
variadas y cambiantes cuya importancia
cultural y artstica destaca Arneheim (1979:
335):
En condiciones culturales especiales
la luz entra en la escena del arte como
agente activo, y slo de nuestra poca
se puede decir que haya engendrado
experimentos artsticos dedicados ex-
clusivamente al juego de la luz
incorporeizada.
Quien llena de contenido la pantalla
cinematogrfica es el director de fotografa
que resuelve tanto los problemas tcnicos
como la interpretacin visual, siguiendo las
pautas marcadas por el director cinematogr-
fico. En la pantalla de cine se materializa
la transmisin de la luz, que es la materia
prima de la visualizacin de la pelcula y
que requiere de un control de la misma para
poder cumplir con el proyecto del director,
a travs del discurso cinematogrfico, que
como dice Charaudeau (2003: 25) todo
discurso sirve para el intercambio comuni-
cativo:
El lugar de construccin del discur-
so es el lugar en el que todo discurso
se configura. El sentido que resulta
de dicha configuracin depende de la
estructuracin particular de esas for-
mas, que debe poder reconocer el
receptor puesto que, de otro modo, el
intercambio comunicativo no se
realizara. As, el sentido es el resul-
tado de una cointencionalidad.
Evidentemente el lugar de configuracin
del discurso cinematogrfico es el estudio o
el escenario natural elegido para el rodaje
de la escena. Charaudeau tambin hace una
referencia a las formas reconocibles,
condicin imprescindible para la
comunicacin, en este caso, cinematogrfica.
Y, precisamente, el director de fotografa es
el que va a dar forma a las ideas contenidas
en el guin a travs de la cmara cinema-
togrfica y de la modelacin de la luz,
elemento principal de la configuracin de la
imagen.
Aplicando el anlisis de Charaudeau sobre
el lugar de construccin del discurso tambin
se puede afirmar que el lugar de lectura del
discurso, en este caso cinematogrfico, es la
sala cinematogrfica a travs del espectador,
cuyo papel lo define Aumont (1992: 95 : 102),
cuando dice:
El papel del espectador es un papel
extremadamente activo: construccin
visual del reconocimiento, activacin
de los esquemas de la rememoracin
y ensamblaje de uno y otra con vistas
a la construccin de una visin
coherente del conjunto de la imagen:
es l quien hace la imagen. La ilusin
slo se producir si produce un efecto
de verosimilitud: dicho de otro modo,
si ofrece una interpretacin plausible
(ms plausible que otras) de la escena
vista.
La naturaleza de la luz
La luz, generalmente, se suele definir
como una energa que tiene una gran
velocidad de transmisin y se le considera
158 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
como perteneciente a la fsica, pero la luz
tambin tiene unas implicaciones culturales
importantes, sobre todo en el arte. Pero lo
que ms nos interesa de la luz es, precisa-
mente, el hecho de que puede ser interpretable
a pesar de que el sol brille por igual. Si la
luz fuera solamente una cuestin fsica
podramos afirmar que todas las pelculas
tienen la misma luz, afirmacin falsa porque
la experiencia nos demuestra que a lo largo
de la historia del cine ha habido una evolucin
en el tratamiento de la luz y en el uso que
se ha hecho de ella para adaptarla a las
exigencias del guin y de los gustos del
director.
El director austriaco Josef Von Sternberg
(1956: 7) que se distingui por la atmsfera
de sus pelculas como consecuencia de una
iluminacin cuidada, entendi perfectamente
la naturaleza de la luz:
Toda luz parte de un punto en el cual
est su mayor brillo y se pierde en
una direccin hasta que pierde toda
su fuerza. El trayecto de los rayos de
este foco central hacia las tinieblas
es la dramtica aventura de la luz. La
oscuridad es misterio y la luz claridad.
La oscuridad tapa, la luz revela (sa-
ber que revelar, que tapar, y en alguna
medida, todo el trabajo del artista
tiende hacia esta frmula). Toda luz
aporta su sombra, y cuando nosotros
vemos una sombra, nosotros sabemos
que debe haber una luz.
La luz en cuanto a su capacidad comu-
nicativa ha sido valorada por varios autores
entre los que cabe destacar Christian Metz
(1973). Este autor diferencia entre la
denotacin y la connotacin de la luz,
atribuyendo el significante de la denotacin
al tipo de pelcula y a los efectos de la
iluminacin, es decir, la mera reproduccin
mecnica de la realidad que est frente a la
cmara, mientras que el significado de la
denotacin es la escena representada; en
cuanto a la connotacin determina que el
estilo del rodaje es su significante.
La valoracin que hace Revault (2003)
es la clasificacin de la naturaleza de luz:
luz denotada y luz connotada. La primera,
la luz denotada es la luz sin codificar, la luz
natural que llega al mundo en estado salvaje,
que se refleja dando imagen al mundo pero
de manera ininteligible y cargada de misterio.
La segunda, la luz connotada es la luz
intervenida y en cierto grado domesticada,
es la luz producida tanto desde el punto de
vista tecnolgico como cultural y, por lo tanto,
es la luz libre que est a disposicin de
cualquiera, pero principalmente del artista.
En el caso que nos ocupa, la luz connotada
es la luz que puede estar bajo el control del
director de fotografa.
Llegados a este punto hay que diferen-
ciar dos conceptos tal y como lo he mani-
festado en otras ocasiones (Susperregui: 2001)
: la luz y la iluminacin. El concepto de la
luz se refiere fundamentalmente a la energa
necesaria para que pueda producirse la
imagen cinematogrfica, y el concepto de la
iluminacin est ligado a todas aquellas
intervenciones que se realizan para que la
luz se ajuste a las necesidades de la pelcula.
Esta diferenciacin entre luz e iluminacin
puede que no sea necesaria cuando el direc-
tor de fotografa hace uso directamente de
la luz natural. En esta circunstancia el di-
rector de fotografa slo tiene la opcin de
espera para que en un momento concreto la
luz natural coincida con la luz deseada para
la pelcula.
Los conceptos de luz denotada y
connotada as como los de luz e iluminacin
explican por qu existen diferencias en los
resultados visuales obtenidos entre los dis-
tintos directores de fotografa, diferencias que
pertenecen mayormente a la luz connotada
por ser ms verstil, ms manipulable y, por
lo tanto, que se presta ms a la interpretacin.
Discurso de la luz
La imagen visual de toda produccin
cinematogrfica depende fundamentalmente
de dos elementos: la cmara y la luz. En
cuanto a la importancia de un elemento en
relacin al otro, se puede considerar que la
cmara es un elemento que mantiene unas
constantes que son importantes como, por
ejemplo, la cadencia de imgenes o velocidad
y la entrada de luz en su interior, dependiendo
de la mayor o menor intensidad luminosa de
la escena, y poco ms. La luz, sin embargo,
da ms juego y ha conocido ms cambios
159 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
durante la historia del cine por lo que el
desarrollo de la fotografa cinematogrfica
est ms ligado a las aportaciones
tecnolgicas de los focos de luz que a la
cmara cinematogrfica en s. En esta
comparacin no se ha incluido a las
emulsiones fotogrficas que merecen un
tratamiento aparte.
La importancia de la luz es total, hasta
el punto de que podemos afirmar que la luz
es el comienzo de todo, no solamente cuando
nos referimos al cine. No en vano el prin-
cipio de la creacin se explica en la Biblia
con la creacin de la luz el primer da de
los siete que Dios tard en crear el mundo
entero.
Para explicar el cine no podemos
olvidarnos de otras experiencias anteriores
como, por ejemplo, el teatro. Las primeras
pelculas consistan en colocar una cmara
delante de un escenario y filmar en un plano
fijo y general, cubriendo el marco del
escenario en su integridad, como describe
Gubern ( 1971 : 54) en relacin a las primeras
pelculas del gran Mlis:
Sus pelculas suelen estar divididas
en cuadros o escenas que, con-
cebidas de acuerdo con los cnones
del arte teatral, hacen progresar la
narracin. De este modo la cmara
tomavistas se limita a ser un aparato
inmvil que reproduce fotogrfica-
mente lo que ocurre sobre el
escenario.
Como ejemplo de esta relacin entre el
teatro y el cine valga la produccin del propio
Mlis sobre el cantante Paulus para la
promocin de un caf-concierto parisino.
Cuando se iba a iniciar el rodaje el cantante
se neg a actuar al aire libre y puso como
condicin el escenario de un teatro para rodar
su actuacin. La eleccin de Mlis de un
espacio abierto para tomar las imgenes del
cantante Paulus estaba condicionada por la
luz, mejor dicho, a la cantidad de luz tan
necesaria para impresionar aquellas primeras
emulsiones tan poco sensibles. Mlis tuvo
que colocar treinta lmparas de arco en el
teatro Robert Houdin, convirtindose tambin
en un pionero de la iluminacin cinemato-
grfica. Pero adems de estos ejemplos
concretos sobre la relacin entre el teatro y
el cine, las influencias del primero sobre el
segundo son ms amplias porque se extienden
a otros elementos importantes presentes en
cualquier pelcula, como son la interpretacin,
la decoracin y la iluminacin, por ejemplo.
Para cuando se invent el cine el teatro
como arte milenario ya tena bastante
experiencia con la luz artificial, es decir, con
la iluminacin. En un principio fueron las
velas, las lmparas de aceite y, ms tarde,
las lmparas de gas las fuentes de luz que
se utilizaron para los escenarios de los te-
atros. La luz elctrica supuso una aportacin
importante para las escenografas teatrales,
creando otro tipo de relacin entre los ac-
tores y los objetos presentes en la decoracin,
y poniendo en entredicho una serie de
convenciones. Pero curiosamente algunas de
las convenciones del teatro fueron adoptadas
por el cine y hoy en da algunas de ellas
se mantienen. En el teatro victoriano, tanto
si la iluminacin era de gas o de electricidad,
las comedias eran brillantes, ms luminosas
que los dramas. El da se escenificaba con
luces clidas y la noche en azul, siguiendo
los parmetros del teatro naturalista, y el
romanticismo se recreaba a media luz, como
en el crepsculo.
Estas convenciones teatrales referidas a
la diferenciacin entre comedia y drama
siguen vigentes en las actuales producciones
cinematogrficas, igualmente la
representacin de la luz en un espacio
envuelto por una luz azul se puede seguir
observando en el cine moderno. El director
de fotografa luso Eduardo Serra (Ettedgui:
1999: 177) as lo manifiesta:
En el mundo de la cinematografa
hay muchas reglas y conocimientos
heredados. Por ejemplo, a m me
ensearon que si se rueda de noche
en exteriores, hay que utilizar una luz
azul desde atrs.
Tambin lo hace el director de fotografa
italiano Vittorio Storaro (Shaefer: 1990 : 195):
Todas las secuencias nocturnas de El
conformista son azules. Por aquel
entonces yo no saba muy bien por
qu escoga precisamente el azul;
160 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
simplemente senta que era lo indi-
cado. Ms tarde comprend el smbo-
lo intelectual que implica el azul.
Cuando estbamos preparando El
ltimo tango en Pars, por primera vez
fui a Pars en invierno y vi todas las
luces encendidas. La luz natural era
tan tenue que la ciudad tena
encendida la luz artificial. El conflicto
entre estas dos energas (natural y ar-
tificial), me dio la idea de las distin-
tas longitudes de onda, las distintas
temperaturas de color que pueden
representarse, los diferentes colores
que pueden darse.
En realidad esta convencin de represen-
tar la noche en clave azul no se sabe muy
bien a que obedece. Vittorio Storaro atribuye
al significado que el psicoanlisis atribuye
al color azul, pero en mi opinin esta
convencin creo que obedece a razones ms
relacionadas con la naturaleza, ms concre-
tamente con el claro de luna que puede
iluminar la noche hasta producir sombras pero
con una luz fra, azul.
El recorrido de la luz: expresionismo, star
system, nouvelle vague
En el transcurso de la historia del cine
se pueden observar los cambios que se han
producido en la luz de las pelculas. Estos
cambios han estado motivados tanto por los
avances tecnolgicos como por motivos
meramente artsticos, es decir, de
representacin. Las pelculas actuales nada
tienen que ver con las primeras experiencias
cinematogrficas de los pioneros que estaban
muy limitados por las emulsiones poco
sensibles y por la inmovilidad de la cmara.
El cine siempre ha dependido de la luz y
esta dependencia la ha ido superando de
diversas formas, bien buscndola en la
naturaleza, bien crendola en el estudio o bien
mezclando ambas luces.
Entre los pioneros norteamericanos caben
destacar los independientes, que huyendo de
la guerra de patentes de Edison buscaron
refugio en California donde Francis Boggs
haba rodado algunos exteriores de su pel-
cula The Count of Montecristo en 1907. La
eleccin de Boggs se deba sobre todo a las
buenas condiciones climticas que
garantizaban el sol prcticamente durante todo
el ao, adems de los recursos paisajsticos.
En la luz est el origen de Hollywood y la
luz natural est muy presente en las primeras
producciones de Hollywood, donde se
construyeron los primeros estudios con techo
de cristal para obtener la energa luminosa.
Estas construcciones traslcidas que en un
principio parecan la solucin al problema
de la luz no tuvieron en cuenta el movimiento
del sol, cuyo efecto inmediato era el cambio
de posicin de este foco natural y, por lo
tanto, la falta de control de la luz. El concepto
de raccord tambin es aplicable a la luz,
porque los planos de una escena tienen que
mantener la direccionalidad de las luces y
de las sombras para que el espectador acepte
con naturalidad las imgenes de la pantalla.
Con estos primeros estudios de techos
traslcidos resultaba difcil mantener el
raccord de luces por lo que fueron equipa-
dos con fuentes de luz artificial, y los techos
cubiertos o pintados de negro. Fue un cam-
bio importante porque supuso volver a
criterios lumnicos ms propios del arte
dramtico.
En Alemania, donde mayor auge conoci
el movimiento expresionista, tanto los arqui-
tectos, pintores, escritores y dramaturgos se
sintieron poderosamente atrados por el cine
y su importancia social. Con el cine se
rompan las distancias entre las elites
vanguardistas y la cultura popular. Como un
clsico de la iluminacin cinematogrfica se
considera la luz del cine expresionista que
tiene un objetivo principal, manifestar su
presencia en vez de ocultarla. En comparacin
con otros estilos de iluminacin ms discre-
tos, donde la luz es un complemento de la
narracin, en el expresionismo la presencia
de la luz es manifiesta y provocadora,
recurriendo a su anttesis, a la sombra, y
generando un dramatismo fcilmente
detectable.
Si bien toda luz puede provocar su
sombra, en funcin de su direccin, sta a
su vez provoca el contraste, entendido este
concepto como la diferencia entre la parte
ms luminosa y ms oscura. En el
expresionismo alemn la relacin entre som-
bra y contraste no es tan directa, en algunos
casos ms bien provocada, para incluir a la
161 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
sombra directamente en la narracin visual.
El icono de la fotografa del cine expresionista
alemn es la sombra de Nosferatu cuando
sube las escaleras antes de entrar en la casa
de Ellen. Esta sombra junto a la de la
barandilla es claramente una metonimia de
la luz, porque tanto Nosferatu como la
barandilla de la escalera se representan con
la proyeccin de sus sombras sobre la pared
difana de la escalera.
Este icono simboliza a la fotografa
expresionista pero de manera exagerada,
porque las sombras tan presentes en estas
pelculas no estn tan acentuadas como en
esta escena de Nosferatu, guardando una
relacin ms directa con el contraste de la
imagen.
La primera pelcula alemana que se
incluye en el movimiento expresionista es El
gabinete del Doctor Caligari de Robert Wiene
y Willy Hameister como director de
fotografa, producida en 1919. En esta pe-
lcula ya se manifiestan algunos rasgos
estticos del expresionismo, donde la
subjetividad est presente tambin a travs
de la imagen en su afn de descubrir la parte
oculta a travs de la realidad distorsionada
por medio de efectos pticos y tambin
lumnicos. Arquitecturas irregulares, decora-
dos pintados, rostros caracterizados con un
fuerte maquillaje e iluminados sobre fondos
oscuros. En esta pelcula la esttica depende
ms de las influencias del teatro, a travs
de los decorados pintados, que de los efectos
producidos por la luz y su sombra.
Nosferatu, Eine Symphonie des Grauens,
conocida de forma abreviada como Nosferatu,
pelcula dirigida en 1922 por Firedrich W.
Murnau y fotografiada por Fritz Arno Wagner
y Gnter Krampf, est basada en la novela
Drcula de Bram Stoker. En esta pelcula
la luz es un elemento fundamental en la
propia historia que narra, por la fotofobia del
vampiro Nosferatu que le impide tener
contacto con la luz natural. En el rtulo final,
en alusin a la luz, se puede leer lo siguiente:
Los rayos victoriosos del sol llenos de vida
disiparon las sombras del pjaro de mal
agero.
En esta pelcula un color primario, unas
veces azul y otras veces en un tono clido,
trata de situar la escena en relacin a la luz,
manifestndose en azul cuando se trata de
una escena nocturna y en tono clido cuando
se trata de un interior. Tambin recurre con
frecuencia al vieteado de la imagen cuando
la cmara toma la perspectiva de alguno de
los actores, es decir, el vieteado es una
alusin directa a la mirada de los actores.
Este recurso potencia los centros de inters
de la imagen en la pantalla.
Si el concepto de expresionismo se uti-
liza para denominar aquellas obras artsticas
en las que predomina el sentimiento sobre
el pensamiento, con el fin de expresar las
emociones, Nosferatu entra dentro de los
cnones del expresionismo. La noche es el
ambiente natural del vampiro, es la vida, y
la luz, por el contrario, es la muerte para
Nosferatu.
La ltima pelcula considerada como
expresionista es Metrpolis del director Fritz
Lang y fotografiada por Karl Freund y
Gnther Rittau, producida en 1926. Se trata
de la adaptacin de la novela de Thea Von
Harbou, esposa del director. Algunos
consideran esta pelcula como la primera obra
cinematogrfica futurista, en tanto que sita
la accin en el ao 2000. Sus exteriores estn
inspirados en Nueva York, ms concretamente
en la arquitectura de Manhattan con sus altos
rascacielos. La virtuosidad de la fotografa
de esta pelcula se debe en muchos casos a
los trucos empleados para construir espacios
inexistentes. Los exteriores urbanos, es decir,
metropolitanos, realmente son dibujos con un
gradiente de tonos desde el negro hasta un
gris medio, adquiriendo una densidad sufi-
ciente para ocultar su textura original. La luz
de los proyectores que iluminan con dina-
mismo las fachadas de los rascacielos, en
realidad, son efectos de animacin realiza-
dos con las tcnicas aprendidas en el viaje
que Lang hizo a Hollywood. Una tcnica
laboriosa pero con unos resultados excelen-
tes.
Las sobreimpresiones fotogrficas que el
propio Lang hizo sobre unos anuncios de nen
en Manhattan tambin fueron una referencia
importante para la esttica de esta pelcula.
Algunas escenas estn fotografiadas con esta
tcnica de exposicin mltiple, es decir, el
mismo trozo de pelcula se expona varias
veces en diferentes tomas, en vez de
superponer varios negativos en el laboratorio
durante el positivado.
162 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Metrpolis representa una sntesis de la
imagen expresionista con una esttica ms
refinada y con una fotografa que reproduce
a los espacios y a los actores con mucho
detalle. La fotografa de Metrpolis no se
limita a registrar la escena sino que, con la
ayuda de Gnther Rittau, se crearon imgenes
inexistentes como el robot mecnico, que fue
el resultado de treinta exposiciones diferen-
tes del mismo negativo. En esta pelcula la
luz tiene una doble funcin, como
reproductora de los actores y escenarios y,
tambin, como creadora de nuevas imgenes
que se revelan despus de una acumulacin
de luces dentro de la cmara oscura.
Contrariamente a la luz expresionista que
iluminaba los espacios y principalmente los
decorados, es decir, sin privilegiar a los
actores, la industria norteamericana y ms
concretamente Hollywood desarroll su
propia iluminacin en funcin de los actores
estrella. El star system, concepto por el que
la industria hollywoodense magnifica a los
actores por encima del director, desarrolla un
sistema de iluminacin que establece una
jerarqua de visualizacin en la pantalla. La
luz marca los centros de atencin en cualquier
representacin, bien sea un cuadro pictrico
o una pantalla cinematogrfica. Esto quiere
decir que sobre todo en el cine, debido a
la oscuridad de la sala, la atencin del
espectador se dirige automticamente hacia
las zonas que tienen ms cantidad de luz,
por lo que la iluminacin puede ser un recurso
para potenciar lo que el director quiere
resaltar. En el star system los actores son el
centro de atencin en base a la iluminacin
como lo manifiesta Revault (2003: 60):
La estrella recibe su propia
iluminacin, brilla en la cumbre de
la pirmide de actores, a su vez
erguida por encima de los cimientos
de los decorados.
Es lo que este autor, en otras palabras,
llama la jerarquizacin de la luz
hollywoodense que resuelve la iluminacin
en funcin de una frmula que se repite en
la mayora de sus producciones. Esta
iluminacin est compuesta por tres tipos de
luces: principal, contraluz y ambiente. La luz
principal es la que est dirigida principal-
mente al actor o actriz principal, que a su
vez se expone a un contraluz para resaltar
el relieve y despegarlo del fondo. La luz
ambiente es la luz genrica que est desti-
nada a iluminar el espacio y los decorados.
La jerarquizacin se establece en funcin
de las intensidades de cada luz, es decir, en
la iluminacin tipo star system los actores
reciben el doble de cantidad de luz que los
decorados por lo que sus rostros siguen
marcando la atencin de los espectadores. La
jerarquizacin tambin requiere en algunos
casos una iluminacin independiente para el
actor, rompiendo la lgica conjunta de la luz
en ese espacio.
Como respuesta a este tipo de iluminacin
condicionada por los intereses productivos ms
que por los artsticos, el incipiente cine europeo
de los aos cincuenta resuelve la iluminacin
con frmulas sencillas y con equipos ligeros,
ms concretamente el movimiento francs
denominado Nouvelle Vague. Este mtodo de
trabajo est muy relacionado con los reporteros
cinematogrficos que utilizan la luz por
necesidad, para poder filmar en lugares con
poca luz, y de manera sencilla.
La Nouvelle Vague es un movimiento que
se posiciona en contra del cinma de qualit
basado en el realismo psicolgico. Franois
Truffaut lidera esta nueva ola
posicionndose a favor de la liberacin del
cine de la literatura. El cine francs era un
cine de guionistas ms que de realizadores
por lo que la Nouvelle Vague hace suyo el
manifiesto de Alexander Astruc de la cmera
stylo que propone convertir el lenguaje ci-
nematogrfico en un lenguaje tan flexible
como el lenguaje escrito.
La luz de la Nouvelle Vague se ha definido
como una luz uniforme, neutra y sin drama,
debido a su aparente sencillez, pero para
Revault (2003 : 70) la luz de la nueva ola
francesa obedece a otros criterios:
Ms que a la mera luz de acuario
a la que se ha querido reducir la luz
de la Nouvelle Vague, lo que la
caracteriza es el rechazo de la
multiplicidad clsica y muy poco
realista de los efectos y, por
consiguiente, de las fuentes, apenas
legitimables y apenas legitimadas
frente a la imagen.
163 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
El director de fotografa ms represen-
tativo de la nueva ola francesa es Raoul
Coutard que estuvo de reportero en la guerra
de Indochina. Esta experiencia profesional le
sirvi para liberar la cmara y agilizar sus
movimientos llevndola al hombro si fuera
necesario, adaptndose con gran naturalidad
a las necesidades del guin. Coutar
acostumbra a trabajar estrechamente con el
equipo, discutiendo los planos y llegando a
un consenso con el director. Para este direc-
tor de fotografa (Ettedgui: 1999: 63) su
trabajo estaba condicionado por lo siguiente:
Los principales ingredientes del cine
Nouvelle Vague son un trabajo de
cmara fluido, espontneo y el uso de
iluminacin rebotada. La movilidad de
la cmara, el impulso del director, las
limitaciones presupuestarias, el poco
tiempo y la baja sensibilidad de la
pelcula imponan la iluminacin
ambiental simple y flexible.
A este director de fotografa se le atribuye
la innovacin de la luz rebotada. Este tipo
de luz consiste en proyectar focos de poca
potencia en los techos blancos de los
escenarios naturales, generalmente aparta-
mentos de paredes blancas, de manera que
las sombras casi desaparecan de la escena.
Esta tcnica, la luz rebotada, no fue
consecuencia de una esttica determinada sino
el resultado de unas condiciones de trabajo
que exiga la adaptacin a las condiciones
de bajo presupuesto de la produccin.
La definicin de la fotografa cinemato-
grfica moderna es difcil porque las influ-
encias y transversalidades del cine, con la
televisin y la publicidad preferentemente,
junto al eclecticismo que imponen los dife-
rentes guiones con sus diferentes
ambientaciones en el trabajo de un director
de fotografa, requiere de cierta perspectiva
para ir destacando las aportaciones ms
importantes de los ltimos aos.
Cuando se les pide la opinin sobre sus
trabajos a los directores de fotografa,
generalmente, suelen coincidir en la necesidad
de adaptacin de su trabajo a las necesidades
del director. No apuestan por la primaca de
sus trabajos en una pelcula porque consideran
que estn al servicio del director. Sirvan como
referencia las siguientes palabras del director
de fotografa Luis Cuadrado (Cuadrado: 1978:
9):
Pienso que en el cine la fotografa
tiene que ser tan realista que el es-
pectador crea que es real, a fin de
luego poder deformarla lo suficiente
para que sirva al drama de la pelcula
sin que el espectador sea consciente
de que est falseada. Se trata de una
fotografa aparentemente realista, pero
expresionizada para darle la mayor
eficacia dramtica.
Conclusiones
Como conclusin principal est la
importancia de la luz en la visualizacin de
toda produccin cinematogrfica. Entre los
dos tipos de luz, denotada y connotada,
siguiendo la clasificacin de Revault, existe
una clara diferencia en cuanto a la
importancia de cada una de ellas, ofreciendo
la luz connotada una mayor capacidad de
intervencin y de interpretacin por parte del
director de fotografa porque puede estar bajo
su control. Esta luz, la luz connotada, es la
que mejor marca las diferencias entre los
distintos estilos de luz que el cine ha conocido
a travs de su evolucin.
164 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Bibliografa
Aumont Jacques. 1992. La imagen.
Barcelona. Editorial Paids.
Cuadrado Luis. 1978. Luis Cuadrado.
AAVV. Melilla. Semana Internacional de Cine.
Charaudeau Patrick. 2003. El discurso
de la informacin. La construccin del espejo
social. Barcelona. Editorial Gedisa.
Ettedgui Petter. 1999. Directores de
Fotografa. Cine. Barcelona. Editorial Ocano.
Gubern Romn. 1971. Historia del cine
Vol. I. Barcelona. Editorial Lumen.
Metz Christian. 1973. Lenguaje y cine.
Barcelona. Editorial Planeta.
Revault dAllones Fabrice. 2003. La luz
en el cine. Madrid. Editorial Ctedra.
Shaefer Denis, Salvato Larri. 1990. Ma-
estros de la luz. Conversaciones con directores
de fotografa. Barcelona. Editorial Plot.
Sternberg Von Josef. 1956. Art. Plus de
Lumire. Revista Cahiers du Cinema n 63
pag. 7.
Susperrregui J. M. 2001. Artic. La
linealidad de la luz: la comunicacin visual
moderna. Revista ZER n 10 pag. 177.
_______________________________
1
Universidad del Pais Vasco.
165 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
O heri solitrio e o heri vilo - Dois paradigmas
de anti-heri, em filmes portugueses de 2003
Leonor Areal
1
1. Introduo
O heri figura protagonista de uma
histria usualmente o pilar principal da
narrativa cinematogrfica e ele que asse-
gura uma determinada perspectiva sobre o
universo diegtico - sendo que, frequentemen-
te, este contexto ficcionado uma mimesis
do mundo real e reflecte moral ou ideolo-
gicamente a sociedade que retrata.
Ao contrrio do modelo de heri cls-
sico, que demonstra o seu carcter ntegro
e benvolo arrostando as adversidades com
que o destino o pe prova, o heri ps-
romntico e moderno assume as suas fraque-
zas e vive em conflito interior e em crise
de relao com o meio social, sendo por isso
designado de anti-heri.
2
Se o primeiro tende
para o ideal, o segundo mais realista e
promove uma reflexo sobre problemas seus
contemporneos.
Nos sete filmes portugueses de 2003, que
aqui so comparados, a relao problemtica
destes heris com a sociedade define-se ora
por uma reaco ensimesmada ou derrotista,
ora pela adopo de modelos de dominao
masculina. So estes dois plos de identi-
dade que aqui analisamos, partindo da de-
finio de cada personagem-heri, para,
atravs dos pontos de vista que elas demons-
tram, inferir modelos de comportamento.
2. O heri vilo
Um primeiro grupo de trs filmes - cujos
heris se afirmam dentro de um paradigma de
violncia - inclui O Delfim, Os Imortais e O
Fascnio, filmes cujas pocas ficcionais se
situam, respectivamente, nos anos 60, 80 e 2000.
2.1. O Delfim, de Fernando Lopes
3
O Delfim, ttulo do filme (e do romance
de Jos Cardoso Pires em que se baseia),
tambm o epteto que designa a personagem
de Tomaz da Palma Bravo, deste modo
enunciado como figura principal da histria.
Na sua caracterizao psicolgica e social,
este heri representa uma mentalidade - uma
ideologia - dita marialva, marcada por uma
atitude de prepotncia a vrios nveis: pela
arrogncia de classe, tpica de aristocratas
rurais habituados a uma relao quase
esclavagista com os seus criados; por um
abuso de poder em relao s mulheres,
particularmente a esposa e as prostitutas; e
pelo uso da fora e da violncia como modo
de afirmao individual. Estes traos, redun-
dantemente expostos no filme, constituem-
se como uma isotopia clara de um certo
fascismo interiorizado, que, na sua distncia
histrica e cultural, se apresenta como um
retrato crtico da sociedade daquele poca.
Ou seja, este heri, embora apresentado pela
voz de um narrador homodiegtico, o escri-
tor seu amigo (circunspecto, no filme, ao
contrrio do que acontece no livro, onde a
sua voz dominante), e caracterizado direc-
tamente atravs das suas prprias palavras,
, apesar deste mtodo de construo da
personagem, visto indirectamente (i.e. atra-
vs dos seus actos) como um heri negativo
repressivo e violento - que, a uma distncia
de cerca de 40 anos, inevitavelmente
julgado luz de outros conceitos morais.
Como que se introduz, ento, no retrato
do heri, essa ciso, que nos permite compre-
ender melhor a sua psicologia, mas rejeit-
la moral e culturalmente? Ao contrrio do
romance, onde a personagem do narrador
sobressaliente e surge como voz principal,
no filme, o narrador-amigo tem como funo
ouvir os comentrios do mundo exterior
acerca da vida social e familiar do heri,
representando assim o ponto de vista do
observador com alguma distncia. Mas no
com o olhar do narrador que somos le-
vados a identificarmo-nos, nem a estratgia
discursiva usada nos conduz a isso: poucas
so as situaes em que o narrador participa
166 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
do universo ntimo do heri, que nos dado
a conhecer na ausncia daquele.
Da anlise do filme, verificamos que a
segunda personagem mais presente ao lado
do heri sua mulher, Maria das Mercs,
que ele trata com desprezo e violncia
psicolgica. E o olhar dela que acaba por
se impor como ponto de vista dominante, mas
silencioso quase - porque poucas so as
palavras por ela proferidas que o denunciam
(a confisso ao padre, uma conversa telef-
nica) - e evidente nas suas aces comple-
mentares (quando o marido est ausente) que
um supra-narrador omnisciente nos faz se-
guir, at intimidade do seu desejo sexual
solitrio. ainda, por contraponto com o
ponto de vista da mulher rejeitada (at no
anseio de maternidade que a atormenta), que
equacionamos as opes do marido, quando
o acompanhamos em viagens nocturnas a
bares de prostituio, ou mesmo quando ele
descobre morto na sua cama o criado que
dormira com sua mulher.
Em sntese, poderemos dizer que o ponto
de vista dominante, inicialmente pertencente
ao heri, sofre uma translao para o da
mulher solitria e mal-amada, cuja infideli-
dade o nosso olhar observa e compreende
com a distncia de outra poca.
2.2. Os Imortais, de Antnio Pedro Vas-
concelos
4
O heri deste filme um inspector de
polcia que, a poucos dias da reforma, se v
envolvido num caso policial, que ele vai tentar
solucionar, motivado por uma competio
silenciosa com o seu detestado sucessor, ou
talvez pelo desejo de resolver um ltimo caso,
ou ainda compelido pela casualidade de haver
pessoas suas conhecidas envolvidas; mas
desresponsabilizado das consequncias legais
da sua investigao. Este quadro motivacional
oferece-nos uma personagem suficientemen-
te complexa para se constituir como heri,
mas tambm uma personagem cheia de con-
tradies, algumas das quais s relevadas aps
uma anlise da estrutura da intriga.
Os Imortais - que do o nome ao filme
e que, por meio da indagao do Comissrio,
se tornam seu tema principal - so um grupo
de antigos combatentes de guerra que peri-
odicamente se juntam para reactivar o sen-
timento de grupo e para planear e praticar
assaltos, sem outra motivao que no a de
dar corpo a uma necessidade de aco que
depois de acabada a guerra colonial deixara
de ter razes para existir. Eles representam
os traumas de uma poca e uma gerao,
historicamente situada ainda na poca a que
se refere O Delfim, mas arrastada como uma
maldio e uma culpa, at duas dcadas mais
tarde. E, embora o tema da guerra apenas
fosse aflorado em O Delfim, no ser errado
encontrar neste paradigma de violncia uma
genealogia directa entre os dois filmes,
confirmada pela prepotncia que, em Os
Imortais, dirigida s figuras femininas,
nomeadamente: a esposa e as prostitutas.
Apenas no estamos j situados na mesma
poca, mas o retrato destas personagens
semelhante e at mais violento na sua ex-
presso: pela coisificao das mulheres, pela
violncia repetidamente exercida sobre elas
e associada a uma dominao sexual, e pela
morte ou assassinato. (Embora a poca seja
outra, o que se nota na presena de outras
tipologias de mulher: as lsbicas e a mulher-
coadjuvante, arqutipo protector do heri
Inspector.)
Neste panorama, precisamos indagar qual
a perspectiva do heri sobre o mundo que
o cerca, j que, envolvido involuntariamente
neste caso, ele que seguimos na sua in-
vestigao. Constatando aqui a sua assimi-
lao do arquimodelo (que tantos livros e
filmes policiais tm alimentado) do detective
cool habituado violncia e apanhado por
acaso na rede de um crime, apercebemo-nos
tambm de que este heri procura para si
uma vida sossegada (com a sua companhei-
ra) e alheia violncia policial mas to
absurdamente alheio, que, no fim de contas,
no fosse ele ter interferido na rede dos
criminosos, no se teriam dado
presumivelmente os crimes que depois su-
cedem. Para anti-heri basta, mas curioso
que esta personagem nunca formule ou sugira
o arrependimento que, no mnimo, uma
interferncia dessas deveria suscitar - que ele
saia com ligeireza de uma sequncia de
crimes que, embora sem inteno, ele desen-
cadeou... De qualquer modo, claro que ele
representa o contraponto (em conjunto com
trs personagens femininas: a namorada, a
filha e a sua amante, tambm esposa do vilo
167 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
da histria) a esse universo de violncia que
aqui tomamos como paradigmtico da nossa
anlise.
Assim, se, como atrs disse, indagarmos
o ponto de vista do heri e a sua presena
na histria, acabamos por constatar que, no
apenas ele chega (obviamente) geralmente
tarde ao local do crime, como que no
atravs dele que nos dado desvendar ou
perceber os actos cometidos. Ou seja, o nosso
ponto de vista sobre os acontecimentos
narrados acompanha s em parte o conhe-
cimento que ele tem dos factos, e focaliza-
se nas aces do grupo dos Imortais, nome-
adamente atravs da personagem Vtor Pra-
tas - que inicia e conclui o relato em narrao
off, aqui mero dispositivo formal mas
sobretudo na de Roberto Alua, que acom-
panhamos detalhadamente e que se salienta
pela ateno que a narrativa lhe confere. Esta
observao leva-nos a identificar nele um
segundo heri desta histria o heri vilo
cujo olhar se torna dominante; e ainda uma
terceira herona-mrtir, Madeleine Durand,
que assassinada pelos Imortais.
A demonstrao frequente de actos de
violncia refora a presena do ponto de vista
deste heri masculino, em relao ao qual
no fcil uma distanciao (fosse ela
reflexiva, espacial, temporal ou outra), pois,
como testemunhas, somos obrigados a par-
ticipar desses actos.
Em sntese, verificamos que a persona-
gem cujo ponto de vista est mais presente
e que assume, na ltima parte, uma voz
de segundo narrador dos factos ocorridos
(atravs da cassete audio que envia ao ins-
pector, explicando o caso que este no soube
desvendar) - a do heri-vilo, agressivo e
machista; que, apesar de tudo, tem a opor-
tunidade de (nos) explicar que os seus actos
so consequncia do condicionamento que
sofreu, como militar, para no sentir com-
paixo, revelando-se assim como a nica
personagem com o privilgio da expresso
de pensamentos ntimos. Aps o que se
suicida, redimindo-se.
2.3. O Fascnio, de Jos Fonseca e Costa
5
O heri deste filme um pacato cida-
do que, ao herdar uma quinta e fascinado
pela evocao dos seus fantasmas de famlia,
acaba por sofrer uma espcie de metamor-
fose de carcter que o leva a cometer brutais
assassinatos. Que o ponto de vista dominante
coincide com o desta personagem evidente,
no facto de acompanharmos sempre as suas
aces e deslocaes. (Ainda que em dois
ou trs momentos, a focalizao incida sobre
outras personagens, estas paralepses so
excepo.) Sendo assim, ser importante, para
percebermos a evoluo da personagem-heri,
analisarmos os seus motivos, expressos ou
sugeridos.
Inicialmente, Lino Ferreira apresentado
como um empresrio em stress e com pro-
blemas conjugais, que afoga as suas mgoas
no usque, sob o olhar complacente do filho
e da mulher. Ao revisitar a quinta que herda
de seu av, onde j no ia h muito tempo,
descobre fotografias e memrias de uma
bisav a assassinada pelo marido ciumento,
que na poca da guerra civil de Espanha (cuja
fronteira atravessa a propriedade) mandara
executar melhor, degolara dezenas de
operrios republicanos. Este crime em larga
escala acaba por intrig-lo obsessivamente e
leva-o a beber solitariamente, para desanu-
viar do pnico, tambm estimulado por
intrusos malvolos que fazem passar-se por
fantasmas, no intuito de o obrigarem a vender
a quinta. E assim o heri caminha suave-
mente para a loucura (mesmo quando j conta
com o apoio familiar de filho e mulher, antes
indiferentes.)
ento que se desencadeiam uma srie
de crimes, cujo mbil nunca chega a ser
esclarecido. Primeiro, assassinada, durante
o sono, a prostituta com quem o heri dormia
(e cuja fisionomia igual da av assas-
sinada). Ao acordar e vendo-a degolada, Lino
perde a cabea e decide encobrir o crime
que no cometera (atirando o cadver ao
poo). Quem o cometeu, no saberemos, mas
na lgica do que antecede, parece ser uma
manobra de intimidao para o fazer aban-
donar a quinta. Depois, procurado por um
amigo da prostituta que est intrigado com
o seu desaparecimento, Lino (assumindo
talvez a culpa de ter encoberto o crime) acaba
por assassinar brutalmente o homem de-
golando-o e atirando de novo ao poo, com
a conivncia incondicional de seu filho, que
lemos como uma atitude de solidariedade
familiar. Na ausncia de qualquer inquirio
168 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
policial (pelo contrrio, h a presena vaga-
mente ameaadora de um inspector de po-
lcia corrupto, possvel cmplice do primeiro
assassinato), o heri safa-se para a Argentina
(na companhia de uma rapariga da quinta)
depois de ter presumivelmente assassinado
a sua esposa, em circunstncias a que no
assistimos nem compreendemos. Da Argen-
tina, j no louco, mas apaixonado, escreve
a seu filho (sucessor da empresa paterna),
que tambm no denuncia qualquer incmo-
do em relao morte da me outro mistrio
por resolver. Em suma, vrios crimes so
cometidos, e no saberemos por que acon-
teceram, quem os executou ou que conse-
quncias tiveram, uma vez que o heri e seu
coadjuvante sucessrio retomam a vida pacata
do dia-a-dia como se nada tivesse aconte-
cido.
Segundo declaraes do autor do filme,
est nele contida uma crtica impunidade
geral dos crimes em Portugal. Mas no esse
o ponto de vista que ressalta da anlise
detalhada da obra, por onde nenhuma forma
de condenao dos actos criminosos ou da
inpcia judicial perpassa. No se trata de
exigir ou esperar que seja enunciado algum
juzo moral (eventualmente redundante, vis-
to que o crime, por definio, crime, e por
isso no precisa de ser moralizado). O que
importa aqui analisar o discurso flmico
em termos do ponto de vista da sua
enunciao.
Como vimos, a narrao segue de perto,
em focalizao externa semi-subjectiva, a
personagem-heri, e faz-nos participar da sua
vivncia (s at ao ponto em que ele desa-
parece e ficamos sem saber quando ou por
que ter matado a esposa). Participamos
tambm integralmente dos crimes, j que
somos obrigados a ver algumas vezes as
gargantas das vtimas a serem degoladas, o
sangue a jorrar, os gritos e as pancadas
tudo com um hiperrealismo que chega a ser
sdico. Esta violncia no sequer mode-
rada por qualquer atitude de repugnncia,
censura, arrependimento ou outra, seja da
parte das personagens ou do ponto de vista
do enunciador. Tudo acontece com a maior
das simplicidades, como se fosse comum
e torna-se comum no filme.
assim que podemos afirmar que h uma
enunciao conivente com a crueldade e a
impunidade destes crimes, que espera de ns
uma aceitao visual e moral do crime,
encarado com banalidade e plena auto-jus-
tificao. (O contrrio do que acontece nos
filmes anteriores, onde os crimes so suge-
ridos, mas no vistos em ferida aberta).
3. O heri solitrio
Um segundo grupo de filmes convoca
heris solitrios que, defendendo-se de um
mundo exterior inspito, optam pelo siln-
cio. Este paradigma de heri passivo o
oposto do outro tipo de heri activo, que reage
agressiva e violentamente contra um mundo
de aparncia pacfica. Diante desta polarida-
de, ser interessante perceber os motivos
conducentes a atitude to diferente.
3.1. Xavier, de Manuel Mozos
6
Xavier cresceu num orfanato e no voltou
a ver a me por impedimento do padrinho,
que mais tarde se mostra arrependido de o
ter feito. No sabemos bem o que sente
Xavier, pois ele no o verbaliza, mas vemos
que se preocupa com a me doente e a visita
em hospcios e lares, encontros em que o
mutismo de ambos parece sinal de grande
dor calada. A somar ao sustento da me, pesa
sobre ele uma pena judicial a pagar por um
assalto (mal sucedido) do qual no parece
ter culpa, o que obriga Xavier a procurar
trabalhos diversos. Rodeado de pequeninos
trapaceiros o patro, o melhor amigo, etc.
- o nosso heri sobrevive corroso do meio,
mantendo-se sempre honesto, trabalhador e
gentil. Protectores no lhe faltam o padri-
nho, a sorridente madre-superiora do conven-
to (onde crescera), os amigos e duas amigas
que, apesar de terem namorados, lhe dirigem
um afecto especial. Mas a sua grande pre-
ocupao a me, cuja indiferena ele
aguenta - at que ela se suicida, despoletando
nele uma reaco analogamente desesperada
(a corrida de automvel alucinada). Decide
ento desaparecer, mudar de terra, e - como
no consegue alistar-se numa legio estran-
geira - arranja trabalho numa bomba de
gasolina, onde, anos mais tarde, encontra-
do pela ex-madre-superiora, entretanto tor-
nada laica, e que, j sem o optimismo de
antigamente, o aconselha a voltar para Lis-
169 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
boa onde ele vai reencontrar os amigos,
excepto Hiplito, seu melhor amigo, entre-
tanto preso.
A narrao da histria acompanha, em
todos as cenas do filme, a personagem
principal e o seu quotidiano, mas sem que
esta opo narrativa se cole demasiado in-
timamente ao heri, j que no existem cenas
em que o protagonista se encontre sozinho;
ele est sempre em relao com os outros.
Esta estratgia de focalizao externa, em-
bora centrada exclusivamente nesta persona-
gem, cria um efeito de identificao com o
ponto de vista de Xavier, mas no nos oferece
um olhar subjectivado sobre a personagem
nem o acesso sua psicologia ntima, sendo
poucas as palavras proferidas em que ele diz
o que pensa ou sente o seu melhor amigo,
alis, acusa-o disso; pelo contrrio, apenas
conhecemos as suas reaces s circunstn-
cias exteriores e os dilogos breves que
mantm com amigos e conhecidos; ou seja,
uma atitude e uma determinada viso do
mundo.
Desta perspectiva, conhecemos um grupo
de jovens ocupando o dia-a-dia em activi-
dades comuns trabalho, caf, festas, pas-
seios, aulas, transportes que se sucedem
com relativa indiferenciao, como um
quotidiano arrastado e povoado de pequenas
resistncias s dificuldades e tristezas da vida
- entre as quais a de Xavier e sua me se
destaca como central. A cumplicidade criada
com o heri permite-nos compreender que
o seu silncio uma forma de calar o
sofrimento e a injustia de que foi vtima
desde criana e que no conseguiu remediar
pelo reatar da relao com seu padrinho e,
depois, com sua me, em insucesso total.
As restantes personagens deambulando na
trama desta histria, os amigos de Xavier,
so tambm mais ou menos rfos: Hiplito,
amigo desde o orfanato, mas cujas circuns-
tncias de vida ignoramos, protege genero-
samente, como quem perfilha, um rapaz
adolescente fugido de casa; contra o seu
desejo, Rosa, a namorada, opta por fazer um
aborto, sem grandes remorsos, mas projec-
tando ao longo do filme uma outra forma
de abandono, que acaba por a aproximar
amorosamente de Xavier; a filha do padri-
nho (pai severo), rf de me a custo acei-
tando a madrasta, tambm abandonada pelo
namorado possessivo mas infiel, e dirige a
Xavier um afecto constante; a madre-supe-
riora do convento, figura maternal e protec-
tora, que, no final, abandona o hbito reli-
gioso para comear uma vida conjugal noutra
terra. Em suma, personagens em trnsito, sem
razes, sem vnculos e sem futuro definido,
espelhos do prprio Xavier.
O filme acaba quase como comeara, com
Xavier janela do comboio apanhando vento
na cara, como um viajante perdido e, no
entanto, esperanoso. A apatia, que nos guiou
na viagem deste filme, explicou-se e nada
mais haver a contar, seno que a vida
prossegue igual, triste mas resignadamente,
sem remdio e sem culpa.
3.2. Quaresma, de Jos lvaro Morais
7
O heri de Quaresma to silencioso
como Xavier, mas no amargurado. O filme
comea com o funeral do av de David, que
por esta razo retorna casa de famlia na
provncia, onde vai reencontrar muitos pa-
rentes, de entre os quais surge, como factor
de perturbao, a figura da prima Ana, cuja
personalidade inquieta e sedutora acaba por
atrair o heri - e se afirma como condutora
da narrativa, ocupando um papel de verda-
deira protagonista da histria, ao lado da qual
David apenas um apaixonado passivo,
atravs de cujos olhos nos interessamos por
esta figura feminina excntrica e pulsional.
O olhar silencioso de David que a
cmara acompanha preferencialmente pouco
nos explica da sua relao com o mundo dos
outros o de Ana, marido, pai e amigos -
cujo clima emocional contrasta com a apa-
rente calma e estabilidade da vida familiar
e profissional de David (uma mulher e uma
filha a quem se mostra dedicado, um curso
que o leva Dinamarca). Esse silncio uma
forma de receptividade e a expresso de uma
paixo subterrnea por Ana, que ele apoia
incondicionalmente, recebendo-a at, na sua
casa na Dinamarca, para ajudar a que ela cure
a depresso.
Mas o silncio que rodeia David ainda
o silncio de Ana e de todas as demais
personagens, que quase nada exprimem do
que sentem, nem mesmo quando se d um
homicdio (acidental ou no, no o sabere-
mos, pois que no ser verbalizado por
170 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
nenhuma personagem - seno pelo choro ou
pelo silncio pesado); silncio que preen-
chido pela sugesto da ventania e o som da
msica.
Quando Ana se acolhe em casa de David,
sua mulher e filha, na Dinamarca, procuran-
do sada para a sua angstia crescente, no
sabemos se isso tem relao directa com o
crime referido, ou se apenas consequncia
de um alheamento do mundo social que a
personagem j trazia, e que a levara a ser
internada, como referem os familiares em
conversa. De tal modo o silncio e a solido
cercam as personagens desta histria como
uma penitncia que justificar o ttulo de
Quaresma que podemos dizer ser esse o
seu tema: a expiao resignada dos pecados
(para sermos fiis semntica religiosa).
Apesar do tom muito emocional que toda a
aco desenvolve, David mantm-se sereno
e seguro, apenas cedendo na ateno cari-
nhosa que dirige a Ana e que sua mulher
ressente, mas ele no confirma.
Na verdade, a nica personagem que
consegue quebrar esse silncio (fnebre,
diramos, j que se arrasta desde o funeral
da primeira cena) Ana, com as suas ati-
tudes exaltadas que irrompem como um
desequilbrio tresloucado no meio das outras
personagens, caladas, reprimidas (penitentes)
mas em relao a Ana condescendentes. Mas,
na segunda parte da histria (aps a morte
do primo) Ana como que se assume agente
de uma expiao que agora a sua e no
voltar a comunicar com os outros no seu
modo exuberante, refugiando-se isolada jun-
to ao mar, cujas ondas lembram o rudo do
vento e adensam a solido deste filme.
Em suma, encontramos uma oposio
entre o universo que David representa (e que
o de toda a famlia), aparentemente sereno
mas reprimido nas suas expresses, e a
reaco desmesurada de Ana que surge como
uma fuga angustiada a esse mundo, e dirigida
ao refgio nas foras da natureza as
paisagens, o vento, o silncio csmico.
3.3. O Rapaz do Trapzio Voador, de
Fernando Matos Silva
8
Tambm aqui a morte o dispositivo
narrativo que enceta o filme: Adriano, 33
anos, enforca-se no trapzio do circo insta-
lado no largo da aldeia. A populao, atnita,
tece conjecturas sobre a personagem do heri,
cuja alma (ainda presa ao corpo) comenta
em voz off a situao e nos faz reviver (em
flashback) a sua histria pessoal. Como a
GNR no aparece para retirar o corpo, a
situao torna-se cada vez mais chocante e
revelam-se os vrios conflitos entre os al-
deos a discriminao dos ciganos, ou a
iminncia de serem cercados pelas guas da
barragem em construo, por exemplo
dramas colectivos que o heri incorporara
profundamente como uma desadaptao
realidade e um alheamento ostensivo dos
demais (usando permanentemente ausculta-
dores, principalmente nas horas de trabalho
no caf).
Ao revivermos cenas do passado de
Adriano, ficamos a conhecer o conflito que
tinha com o pai, homem autoritrio e vio-
lento, exigindo do filho que o seguisse como
agricultor, e recusando a evidncia de que
a era da agricultura acabara e que as guas
cobririam a maior parte das terras de cultivo.
o fim de todo este mundo que Adriano
no consegue suportar, refugiando-se junto
do rio na companhia da namorada cmplice,
a quem ele diz que no se pode viver com
um homem que traz o suicdio na lapela.
que j sua me se suicidara, e depois o
pai morrera de colapso, numa encenao de
teimosia a que assistimos, e culpabilizando
Adriano por isso.
A desgraa familiar, a falta de perspec-
tivas de futuro, o cerco das guas, a difi-
culdade de fugir dali, o impasse do quoti-
diano todas estas razes o levam ao sui-
cdio. atravs das palavras e recordaes
do heri ou do seu amigo-protector, o dono
do caf, ou ainda pelas conversas do povo
e da famlia, que vamos conhecendo as
respostas para este facto que metaforica-
mente representa todo o desespero daquela
populao, actualizado atravs da persona-
gem mais sensvel e vulnervel.
A predominncia da narrao na primeira
pessoa do heri introduz uma focalizao
interior que nos permite descobrir as moti-
vaes do seu suicdio. Mas a coexistncia
de outros pontos de vista (em focalizao
mltipla) os pensamentos em voz off de
Z Lopes, o amigo, o conhecimento da
intimidade de Lisete, a namorada, e de
171 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
Conceio, a tia, a verbalizao dos proble-
mas colectivos pela populao transformam
aquela histria individual num drama colec-
tivo, que resposta a uma realidade em
mutao, num espao e tempo actuais
(Alentejo, incio do sculo XXI), e diagns-
tico de uma ruptura com o passado e de uma
ausncia de perspectivas para o futuro.
Acaba por ser Lisete, forasteira na aldeia,
quem tem a coragem de subir ao trapzio
para tirar Adriano da forca e - num acto de
herosmo - libertar a alma do morto e
revelar uma fora de esprito e uma vontade
de vida que vm substituir o malogro do
heri.
3.4. Ns, de Cludia Tomaz
9
Ns, como sugere o ttulo, apresenta-nos
um heri colectivo: um homem e uma mulher,
que se encontram para tentar vencer a so-
lido enorme que sentem. Francisco, acaba-
do de sair da priso, arranja trabalho nas obras
e pe um anncio na internet, pedindo uma
mulher apenas para conversar. Mas, numa
contradio aparente, rejeita conversar com
a rapariga da penso onde se alojou e que
se mostra muito solcita.
ngela tem um quotidiano solitrio e
raramente se encontra com o marido que
trabalha de noite e chega a casa pouco antes
dela se levantar. A nica companhia que lhe
conhecemos uma colega de trabalho fala-
dora e alegre que contrasta com a sua timi-
dez. esta inibio que ela quer ultrapassar
quando decide responder ao anncio de
Francisco, numa longa carta em que verbaliza
os seus motivos e personalidade (que j com-
preendramos visualmente).
Encontram-se ento, mas quase nada tm
para dizer um ao outro. Os seus passeios
arrastam-se num encanto mudo e expectante,
mas cujas motivaes no sero as declara-
das. que, do nosso ponto de vista privi-
legiado de espectadores, conhecemos tambm
as nsias da solido fsica que ambos sentem
e resolvem de modo diferente: Francisco com
uma prostituta e frequentando uma discoteca
de strip-tease invulgar, e ngela masturban-
do-se ao lado do marido adormecido.
No entanto, ngela, presa da sua fide-
lidade conjugal, surpreende-se com a impa-
cincia de Francisco, que quer encontrar-se
com ela noite ou beij-la ou saber os seus
sentimentos por ele. Combinam uma sada
nocturna, na qual ngela, insegura, se faz
acompanhar por Maria, a amiga extrovertida
e calorosa, que rapidamente conquista a
ateno de Francisco; enquanto estes danam
divertidos, ngela, sentindo-se excluda ou
ultrapassada pela amiga, acaba por ir para
a cama com um desconhecido. No dia se-
guinte no responde aos telefonemas de
Francisco, nem esclarece a zanga muda com
a amiga.
Depois do acto impensado daquela noite,
ngela decide atrever-se mais e procura
Maria na tal discoteca onde esta tambm faz
strip-tease catrtico. A seduzida a en-
tregar-se ao prazer dos infernos e, numa
mutao radical de personalidade, entra
mascarada na arena para participar numa
dana sexual violenta, onde Francisco,
frequentador habitual, a reconhece, chocado.
Ele espera-a porta e f-la ceder a ir para
a cama com ele, num encontro forado em
que tm sexo com desprazer. ngela sair
triste, depois de dizer que talvez devessem
conversar, numa expectativa daquilo que
nunca conseguiram concretizar e que, se
presume, no faro nem esclarecero.
Com poucos dilogos, este filme um
caso de narrativa construda com base no que
visualmente mostrado mais do que pelo que
dito; o que ainda reforado pelo facto
de as verbalizaes das personagens no
concordarem com os seus prprios actos,
evidenciando as suas contradies internas.
Essa constatao, que a nossa de espec-
tadores, -nos facilitada por um ponto de vista
centrado, alternadamente, numa e noutra
personagem.
Neste filme, o silncio revela-se como
uma espcie de priso, de onde as persona-
gens no conseguem fugir, porque no sa-
bem ou no conseguem comunicar com os
outros. E a forma que encontram para o fazer
atravs de um sucedneo de discoteca
urbana, onde se vazam os fantasmas dessa
solido, e onde se acentua e reafirma a mesma
solido. O significado plural de Ns pode
ainda ser ampliado a uma condio social
contempornea, que a escolha dos cenrios
urbanos pe em evidncia.
172 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
4. Concluso
As semelhanas, a nvel da definio das
personagens protagonistas destes sete filmes,
permitem-nos observar uma prevalncia de
dois modelos de comportamento e dois tipos
de anti-heri: o que entra em conflito com
o mundo exterior e o pretende aniquilar; e
o que entra em conflito consigo mesmo, at
sua prpria anulao.
No primeiro caso, so os fantasmas
pessoais (o peso do passado, dos traumas,
etc.) que originam uma resposta de violn-
cia, at morte dos outros e depois de si.
Aqui a vingana que guia a aco.
A solido, factor primordial no segundo
caso, tem como consequncia o silncio,
sintoma da incapacidade para resolver pro-
blemas e encarar a vida. H uma viso
derrotista do cerco do mundo.
No primeiro grupo de filmes, o heri
masculino, e os papis complementares ten-
dem a ser de mulheres dominadas, no apenas
na intriga, mas tambm do ponto de vista
da enunciao
10
. No segundo grupo, ao
contrrio, ainda que o protagonista declarado
seja masculino, h uma translao, em ter-
mos de identificao e conhecimento, para
outras personagens todas elas femininas
cujo ponto de vista se torna dominante.
Apenas Ns apresenta um heri duplo,
homem e mulher, que se equiparam perfei-
tamente, no sentimento de solido e no ponto
de vista da narrao.
Partindo da anlise das personagens
protagonistas e dos pontos de vista revelados
pelo narrador/enunciador
11
em cada histria,
encontrei dois modelos que se revelam como
representaes do mundo real, em termos de
atitudes e valores. O primeiro modelo do
heri macho e violento - bastante estere-
otipado, alis. O segundo, o do heri soli-
trio, aparece-nos com variaes, mas apre-
senta duas caractersticas comuns, nestes
filmes: o silncio da personagem e o seu
desajuste profundo ao mundo.
interessante frisar como, em quase todos
estes casos, o presumido protagonista nem
sempre o heri, j que o ponto de vista
predominante ou assumido o de outra
personagem aquela que assim podemos
chamar de autntico protagonista. Por outro
lado, essa escolha derivada demonstra im-
plicitamente o ponto de vista do enunciador
12
/ autor aquele que ele prefere ou com o
qual ele se identifica.
A existncia de duas tipologias de pro-
tagonistas - o heri vilo, macho dominador,
e o heri solitrio, ensimesmado e derrotista
- pe em evidncia modelos opostos de
representao de atitudes e valores. Os pri-
meiros heris esto contra o mundo; nos
segundos o mundo que est contra eles
13
.
Uns agridem, violam, matam e esfolam. Os
outros sofrem e calam, geralmente resigna-
dos. Mas no coexistem os dois modelos, ou
seja, no so uns que sofrem porque os outros
os matam. Estes heris pertencem a univer-
sos totalmente diferentes, que correspondem
a mundos ideolgicos muito diferentes.
Se alm da anlise dos pontos de vista
(narrador, personagens e enunciador) presen-
tes, a partir da qual podemos fazer uma
interpretao ideolgica diferenciada de cada
filme, observarmos os modos/estilos de
enunciao presentes em cada um destes
filmes, descobrimos ainda quo diferentes so
as opes estticas dos seus autores/realiza-
dores, em cada um destes dois paradigmas
flmicos.
Os filmes com protagonista silencioso
apresentam uma narrativa construda de forma
mais visual e formalmente trabalhada. O
ponto de vista da enunciao opta por uma
focalizao subjectivada (interna ou externa),
ou seja, centrada na personagem
14
.
Nos filmes de heri-vilo, a narrativa
sustenta-se mais no dilogo, usa recursos
estilsticos mais convencionais, e h a ten-
dncia para o apagamento das marcas de
enunciao, coincidindo com um ponto de
vista aparentemente neutro (focalizao
zero
15
), que representa uma estratgia de
cinema de massas, traduzida em personagens
estereotipados.
Esta coincidncia de tipologia de heri,
ponto de vista dominante e opes estticas,
claramente acantonadas em dois campos
opostos, comprova, assim, uma diviso ide-
olgica mais profunda, que, afinal, j era
quase evidente mas com duas excepes
importantes: O Delfim e Ns, que se tornam
objectos de ateno especial neste conjunto.
Em O Delfim, o ponto de vista do re-
alizador, inicialmente associado ao protago-
nista dominador, identifica-se depois com o
173 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
do dominado. Assim, este filme consegue
fazer a sntese das duas tendncias
verificadas, e no apenas a nvel do conflito
de personagens e da focalizao, mas igual-
mente em termos estticos.
Em Ns, temos dois heris, um mascu-
lino, outro feminino, bastante equivalentes em
importncia e presena, simtricos na sua
solido, que superam, sob forma de outra
sntese, a dicotomia de gnero e poder que
atravessa este conjunto de filmes
16
. Tambm
formalmente, este filme anuncia um salto para
outra concepo esttica.
Esta correlao, aqui apenas entrevista,
entre personagens e referentes sociais, de um
lado, e aspectos de elaborao esttico-formal,
do outro, que se associam entre si ideologi-
camente, abre perspectivas para um campo de
anlise que me interessa vir a desenvolver.
Uma tal anlise ideolgica, embora pre-
tenda tambm relevar (sintomaticamente)
aspectos de ideologia subentendidos ou
subconscientes, centra-se na inteno do
autor, tendo como premissa que o realizador
se assume como enunciador o narrador
putativo e tem uma voz intencional e a
responsabilidade final sobre os pontos de vista
veiculados no filme, presuno que tpica
do cinema de autor, regime que em Por-
tugal (ainda) vigora.
Assim, afasta-se relativamente dos estu-
dos de recepo que fazem uma leitura
ideolgica mais ampla, sistemtica e alargada
a modelos sociais e processos de identifica-
o do pblico com as personagens. Aqui,
pelo contrrio, interessa-me mais encarar a
personagem como uma imagem de identifi-
cao do realizador, uma projeco sua.
174 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Bibliografia
Gardies, Andr (1993), Le Rcit
Filmique. Paris: Hachette.
Glaudes, Pierre e Reuter, Ives (1998), Le
Personnage, Paris: PUF.
Reis, Carlos e Lopes, Ana Cristina M.
(2000), Dicionrio de Narratologia, Coimbra:
Almedina.
Stam, Robert et alli (1992), New
Vocabularies in Film Semiotics, London/NY;
Routledge.
_______________________________
1
Doutoranda em Cincias da Comunicao
/ Cinema na FCSH-UNL.
2
As designaes convencionadas de heri
e anti-heri aplicam-se s personagens prota-
gonistas de uma narrativa, que polarizam em torno
das suas aces as restantes personagens. O
estatuto de anti-heri estabelece-se a partir de uma
desmistificao do heri (...) normalmente
traduzida em termos de desqualificao. (Carlos
Reis e Ana Cristina M. Lopes, Dicionrio de
Narratologia, Coimbra, Almedina, 2000, p. 35).
3
Co-produo Madragoa Filmes, Gemini
Films, RTP - Radioteleviso Portuguesa. Portu-
gal, 2001, cor, 35mm, 83'.
4
Co-Produo Animatgrafo II, Samsa Films
(Luxembourg), Dan Films. Portugal, 2003, cor,
35mm, 112'.
5
Co-Produo Madragoa Filmes, Gemini
Films, Tornasol Films. Portugal, 2003, cor, 35mm,
107'.
6
Produo Suma Filmes. Portugal, 2003, cor,
35mm, 95.
7
Co-produo Madragoa Filmes, Gemini
Films, RTP - Radioteleviso Portuguesa. Portu-
gal, 2003, cor, 35mm, 95'.
8
Co-produo Take 2000, Trafico de Ideas,
RTP - Radioteleviso Portuguesa. Portugal/
Espanha, 2002, cor, 35mm, 90'.
9
Co-produo Madragoa Filmes, Gemini
Films, RTP - Radioteleviso Portuguesa. Portu-
gal/Frana, 2003, cor, 35mm, 99'
10
A expresso ponto de vista uso-a como
equivalente a focalizao. Optei, nesta anlise,
por no aplicar a terminologia desenvolvida espe-
cificamente para o cinema - que define
ocularizao ou monstrao (Franois Jost,
Andr Gaudreault) como formas de mostrar (dar
a ver) a aco - porque esse nvel de definio
se aplica a aspectos mais concretos e pormeno-
rizados do que aqueles que neste exerccio com-
parativo me propus observar.
11
Enunciador uma espcie de narrador
extradiegtico e de autor implicado (Casetti 1986
citado por Robert Stam et alli, New Vocabularies
in Film Semiotics, London/NY, Routledge, 1992,
p. 110).
12
O enunciador, o responsvel pela
enunciao/narrao (cf. Genette), tambm um
sub-narrador de primeira instncia (Andr
Gardies, Le Rcit Filmique, Paris, Hachette, 1993,
p.21), que no coincide com o narrador diegtico
(caso exista), mas com o narrador que d voz (e
no cinema, imagem e aco tambm) narrativa.
13
Estes heris, construdos em cada filme
atravs de isotopias (reiterao de elementos se-
mnticos idnticos), formam, curiosamente, uma
famlia entre eles (alis, duas), constituindo-se como
que uma isotopia intertextual um paradigma, um
modelo, um esteretipo.
14
Outro conceito operativo interessante o de
polarizao, que se articula com o de monstrao
e que abrange o conjunto maior de dados
informacionais (rudo, msica, palavras, texto, etc.)
em funo de trs plos de conhecimento do filme:
personagem, espectador, enunciador. (Andr
Gardies, Le Rcit Filmique, Paris, Hachette, 1993,
p. 107). Tambm neste aspecto decidi no entrar
em pormenores, que levariam a largas compara-
es.
15
O termo focalizao zero (Genette)
equivale a focalizao omnisciente, designao
que tambm utilizo. A anlise da focalizao pode
ser microscpica ou macroscpica: debru-
ando-se sobre a narrativa integral, ela preocupar-
se- sobretudo com as focalizaes dominantes
(...), susceptveis de ilustrarem vectores ideol-
gicos significativos. (Carlos Reis e Ana Cristina
M. Lopes, Dicionrio de Narratologia, Coimbra,
Almedina, 2000, p. 167).
16
Importa lembrar que este conjunto de fil-
mes surge constitudo como uma espcie de estrato
cronolgico (filmes de 2003), cujas continuidades
temporais e espaciais no esto equacionadas, mas
permitiriam fazer um bom teste a este exerccio
analtico. Quantos mais filmes deste ano (num total
de 21) revelam ou no semelhanas com estes?
Que outros filmes antecedentes encaixam temtica
e formalmente nestes paradigmas?
175 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
A percepo cromtica na imagem fotogrfica em
preto-e branco: uma anlise em nove eventos de cor
Luciana Martha Silveira
1
A cor participa de diversas formas na
percepo do nosso mundo fsico visual. Ao
mesmo tempo, a percepo visual construda
durante toda a vida de um indivduo (Gibson,
1974), sendo a cor uma das principais ca-
ractersticas agregadas aos objetos percebi-
dos, juntamente com o cheiro, o rudo, a
forma, o gosto, etc.
Por outro lado, atribumos culturalmente
a uma imagem em preto-e-branco (p/b) o
sentido de uma imagem incolor, isto , que
no desperta a percepo cromtica. Longe
de serem imagens sem cor, as imagens em
p/b fazem parte do mundo fsico visual como
chaves na construo perceptiva cromtica
de cada indivduo, fazendo explodir cores
subjetivas e particulares.
As discusses em torno da imagem
fotogrfica em p/b, geralmente, se voltam aos
impactos tecnolgicos na produo da ima-
gem, a comparao com a pintura, a inter-
ferncia do fotgrafo e do dispositivo no
processo de captura da imagem, no se
detendo na sua interpretao visual crom-
tica. Por outro lado, a teoria da cor uma
teoria interdisciplinar, que pode ser aplicada
em inmeras situaes, prevendo os mlti-
plos aspectos da percepo visual cromtica.
A correlao entre estes dois arcabouos
tericos proporcionou a formulao de nove
eventos de cor.
A partir da complexidade da percepo
visual cromtica, podem ser descritas e ana-
lisadas situaes nas quais a percepo cro-
mtica acontece na imagem fotogrfica em
p/b (Silveira, 2002). Essas situaes so de-
nominadas eventos de cor, que so aconte-
cimentos perceptivos cromticos, flagrados no
mbito da percepo visual geral de uma
imagem fotogrfica em p/b.
Para que identifiquemos um evento de
cor, devemos reconhecer um estmulo a
partir da imagem fotogrfica em p/b, capaz
de provocar uma poss vel respost a
perceptiva cromtica no observador. Pode-
mos identificar perceptivamente, por exem-
plo, objetos cu, montanhas com neve,
rvores, folhagens e lago, atravs dos
contrastes entre o branco, o preto e os
cinzas e suas diferenas de luminosidades,
que possivelmente vo gerar respostas
cromticas para estes mesmos objetos.
Outros objetos tambm podem ser reconhe-
cidos, tais como os que remetem a relaes
temporais ou at reas extensas uniforme-
mente preenchidas.
As respostas cromticas a esses estmu-
los podero se dar de muitas maneiras. Para
que fossem minimamente mensuradas, fo-
ram tratadas de duas maneiras principais:
considerando o branco, o preto e os cinzas
da imagem fotogrfica to cores quanto o
vermelho, o verde ou o amarelo, e atravs
da complementao cromtica, quando o
branco, o preto e os cinzas da imagem so
tradues de outras cores e por isso es-
timulam a produo de um intervalo cro-
mtico (paleta).
Os eventos de cor so subjetivos e
abstratos, de difcil acesso objetivo para
descries e anlises, porm, eles podem
ser delimitados atravs de exemplificaes
de estmulos e respostas no mbito da per-
cepo cromtica, tornando-se suficiente-
mente pontuais.
Cabe destacar que as paletas percebi-
das nos eventos so construdas num
composto inconsciente, parte coletivo, parte
individual, como mostra a teoria perceptiva
de James J. Gibson (1974).
Cada um dos nove eventos de cor
diferenciado atravs do tipo de estmulo
vindo da prpria imagem e o tipo de res-
posta simulada. Mesmo separados em es-
tmulos e respostas diferenciados entre si,
os eventos de cor no possuem limites
visveis, ou seja, um objeto reconhecido
numa imagem fotogrfica em p/b pode ser
estmulo para mais de um evento simul-
taneamente.
176 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
1. Quando o branco, o preto e os cinzas
so cores
Considerando a percepo cromtica da
imagem fotogrfica em p/b em dois momen-
tos, neste item trataremos do primeiro deles
que est relacionado sensao cromtica,
ou seja, s impresses cromticas fsicas da
imagem. A primeira impresso ou sensao
cromtica depende da conceitualizao do
branco, do preto e dos cinzas e suas funes
na gerao de significados, a partir das
imagens.
Tradicionalmente, atravs dos conceitos
formadores da teoria da cor, principalmente
em relao aos aspectos fsicos, o branco,
o preto e os cinzas no so considerados cores
como as outras do espectro [Lozano, 1978],
pois consideram que seja cor somente
aquela que possui o que se chama matiz
2
.
Por esta definio, todas as cores do espec-
tro, exceto o branco, o preto e os cinzas,
possuem matiz definida, e so por isso
denominadas cores.
A definio de cor fundamentada na
presena ou no de um matiz, estanque e
especfica, no permitindo a interao com
outras vises como, por exemplo, a dos
pintores. O branco, neste caso, deve ser
considerado como uma reunio criativa de
vrios matizes e no como uma simples
somatria de partes. O preto, por sua vez,
no uma simples absoro de todos os
matizes, e sim tambm uma reunio com-
plexa de partes. Neste contexto, podemos
considerar branco e preto como possuidores
de matizes, inclusive os cinzas intermedi-
rios. Escritos histricos mostram que desde
h muitos sculos os pintores e os profis-
sionais que lidavam diretamente com a fa-
bricao e utilizao dos pigmentos e tintas
j tinham o branco, o preto e os cinzas no
mesmo nvel das outras cores distribudas em
suas paletas. Leonardo da Vinci por exem-
plo, argumentava que o branco, preto e cinzas
tambm faziam parte da paleta dos pintores.
Circulando pelos ateliers, os escritos de
Leonardo ditavam a metodologia do pintar,
onde o branco, o preto e os cinzas eram to
cores como todas as outras (Carreira, 2000).
Por outro lado, pensando sob aspectos
fisiolgicos da teoria da cor, segundo Pedrosa
(1982), os cones pticos, responsveis pela
viso da cor, percebem o branco e o preto
atravs dos mesmos parmetros pelos quais
percebem as outras cores. Os outros receptores
visuais chamados bastonetes percebem apenas
a ausncia ou a presena da fonte de luz. Isto
quer dizer que, fisiologicamente, o branco, o
preto e os cinzas so percebidos exatamente
nos mesmos processos pelos quais so perce-
bidos o vermelho, o azul ou o amarelo.
Outro aspecto da teoria da cor relacio-
nado ao status do branco, preto e cinzas so
os slidos de cor, que mostram o branco e
o preto como parmetros importantes em sua
construo (Caivano, 1995). A maioria das
tentativas de organizar as cores num modelo
topolgico pela colorimetria, parte de um eixo
principal, onde se localizam o preto e o
branco.
Atravs da viso dinmica da cor, pode-
mos definir o branco, o preto e os cinzas
como cores, no mesmo status que o verme-
lho, o verde ou o azul. Contradizendo a viso
padronizada da teoria da cor, consideraremos
a partir de agora que a fotografia em p/b pode
ser analisada nos mesmos parmetros
perceptivos da fotografia em cores.
Os trs primeiros eventos de cor sero
apresentados a seguir fundamentando-se na
viso dinmica da cor, ou seja, considerando
o branco, o preto e os cinzas como cores.
No mbito deste conceito, cada evento de
cor apresentar suas peculiaridades.
1.1 Primeiro evento de cor: contrastes e
texturas
O primeiro evento de cor a percepo
de elementos componentes da imagem foto-
grfica em p/b, atravs do grau de contraste
entre o branco, o preto e os cinzas, gerando
a percepo da textura, que por sua vez
colaboram na percepo do material, do
tamanho e da estrutura dos objetos retrata-
dos, entre outros.
Algumas cores so construdas alm da
sensibilizao fisiolgica dos cones (Lozano,
1978). Assim acontece com a percepo da
cor metlica, da cor transparente, da cor
translcida, etc., que so percebidas em
interao com a percepo de texturas, atra-
vs dos contrastes.
A percepo dos contrastes podem levar
ao reconhecimento de objetos diversos, de
177 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
pessoas, de clima, de texturas, da
luminosidade, entre outros componentes. A
semntica da cena ser associada
sistemicamente a um certo critrio de coe-
rncia, determinado a partir da noo das
diferenas entre os contrastes.
Apenas com os recursos cromticos do
branco, do preto e dos cinzas e atravs dos
contrastes entre eles, torna-se evidente a
estrutura da forma, gerando significado ra-
pidamente. Podemos, inclusive, perceber
diferentes texturas metlicas, onde percebe-
se o mesmo material (metal) com diferen-
ciaes (mais escuro, mais claro, velho, novo,
desgastado, relevos, opacidade, brilho, etc.)
detectadas tambm apenas pelos contrastes
entre o branco, o preto e os cinzas dessas
imagens, ou ainda a transparncia, resultan-
do na percepo de objetos transparentes
como o vidro.
A percepo da textura do objeto de uma
imagem fotogrfica construda atravs da
influncia mtua entre valores, que temos
denominado aqui de contrastes. Consegue-
se, ento, perceber outras caractersticas
fsicas de um objeto, tais como, a fragili-
dade, a transparncia ou o brilho.
1.2 Segundo evento de cor: mutaes
cromticas em preto-e-branco
O segundo evento de cor fundamenta-se
no conceito das mutaes cromticas, que
ocorrem na relao entre as cores branco, preto
e cinzas das imagens fotogrficas em p/b.
Os fenmenos das mutaes cromticas
so manifestaes das cores fisiolgicas, que
acontecem devido aos contrastes simultne-
os, sucessivos ou mistos, isto , fenmenos
onde fisiologicamente h alteraes das cores
na presena de outras (Pedrosa, 1982). No
caso do segundo evento de cor, ser eviden-
ciada a diversidade de cinzas que aparecem
devido aos contrastes entre o preto, o branco
e os outros cinzas fixados na imagem.
No segundo evento de cor chamamos as
cores preto, branco e cinzas - fixadas fisico-
quimicamente na imagem - cores indutoras,
e a diversidade dos cinzas que aparecem
devido aos contrastes entre as cores indutoras,
cores induzidas (Bouma, 1971).
Segundo a definio de mutao crom-
tica (Pedrosa, 1982), saturando-se a retina
com uma cor indutora, a sua cor comple-
mentar influencia a percepo de todas as
outras cores para onde se dirige o olhar e
assim sucessivamente. No caso de uma
imagem com cores sem a presena de matizes,
mas somente de valores, as cores indutoras
provocam outras cores que tambm apresen-
tam somente variao de valor e no de matiz.
A definio do fenmeno da mutao
cromtica passa pela relao entre as cores
e o efeito provocado na percepo visual
humana, principalmente atravs dos contras-
tes entre elas. No caso da imagem fotogr-
fica em p/b podemos perceber este fenme-
no, principalmente devido aos fortes contras-
tes entre essas cores, provocando o apare-
cimento de uma vasta gama de cinzas.
1.3 Terceiro evento de cor: cor inexistente
O terceiro evento de cor fundamentado
na teoria da cor inexistente, a qual trata das
cores que aparecem fisicamente, baseadas na
relatividade de absoro e reflexo, pela
matria, dos raios luminosos (Lozano, 1978).
As reas brancas, pretas e cinzas da
imagem fotogrfica em p/b servem como
anteparo para a exploso de cores resultantes
da reflexo e/ou absoro de parte da luz
incidente. Isso acontece porque nenhum corpo
absorve ou reflete totalmente os raios lumi-
nosos. Para percebermos brancos e pretos
perfeitos, os raios da fonte luminosa inciden-
te deveriam ser totalmente refletidos (no caso
do branco) ou totalmente absorvidos (no caso
do preto). Porm, no processo de absoro
ou reflexo, h sempre a perda de raios,
alterando o resultado perceptivo do branco,
do preto e dos cinzas.
Comeamos a entender amplamente o
fenmeno da cor inexistente com a teoria da
viso cromtica de Thomas Young, que
descobriu trs receptores fisiolgicos para o
azul, o vermelho e o verde, que quando so
estimulados ao mesmo tempo provocam a
sensao do branco e quando no so esti-
mulados, provocam a sensao do preto
(Pedrosa, 1982). Sabemos hoje que estes
receptores so chamados cones e que nunca
podem ser estimulados totalmente e ao mesmo
tempo e nem ser totalmente no estimulados
ao mesmo tempo, pois no h no mundo fsico
brancos e pretos que consigam tal estimulao
178 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
perfeita. Por isso, sempre h resduos de cor
neste processo e extremamente difcil, seno
impossvel, percebermos brancos, pretos ou
cinzas perfeitos no mundo fsico real.
As imagens fotogrficas em p/b so
anteparos perfeitos da cor inexistente e
conseqentemente deste terceiro evento de
cor. Plenas de reas brancas, pretas e cinzas,
apresentam uma exploso de cores a partir
dos resduos de raios luminosos incidentes,
os quais, por sua vez, provocam reaes em
cadeia, criando ainda mais cores induzidas
por contrastes.
2. Quando o branco, o preto e os cinzas
so mais do que cores
Trataremos aqui de outro momento na
percepo cromtica, onde o branco, o preto
e os cinzas que compem as cenas, alm de
serem vistos como cores eles mesmos, tam-
bm podem ser vistos como tradues de
outras cores. Na imagem fotogrfica em p/
b, as tradues cromticas so percebidas
atravs do reconhecimento do objeto e da
comparao (em nvel inconsciente) da pri-
meira percepo visual com a interpretao
anterior deste objeto a partir da memria
pessoal. Quando, atravs da comparao,
percebe-se a falta da cor, acontece o que
chamaremos aqui complementao cromtica.
Delimitamos o conceito de complemen-
tao cromtica como o ato perceptivo vi-
sual individual, subjetivo, parte consciente e
parte inconsciente, de complementar croma-
ticamente objetos reconhecidos em quaisquer
imagens fotogrficas em p/b. Ele acontece
porque no processo de percepo cromtica
h a comparao entre os objetos reconhe-
cidos nos vrios tipos de imagens em p/b
e objetos guardados na memria, a partir do
vasto conjunto imagtico adquirido no ato
interpretativo de ver. Os objetos esto
alocados na memria juntamente com todos
os seus parmetros perceptveis. Quando a
falta de um deles detectada (no caso, a cor),
acontece a sua complementao.
O que nos interessa neste trabalho o
ato da complementao cromtica dos objetos
reconhecidos na imagem em p/b e no a cor
escolhida (mesmo que inconscientemente)
para esta. Sabemos que todos os indivduos
so diferentes em respeito a correlacionar
objetos e significados cromticos, assimila-
dos como particularidades ou como subje-
tividades.
A cor no pode ser percebida isoladamen-
te, de forma desvinculada dos outros par-
metros perceptivos dos objetos alocados na
memria (cheiro, tamanho, textura, som,
gosto, etc.). Ela um elemento apreendido
durante toda a vida de um indivduo e no
h o caminho de volta. A teoria perceptiva
de Gibson (1974) explica a percepo como
um composto apreendido, impossibilitando a
percepo das caractersticas isoladas dos
objetos. Segundo ele, apreendemos na me-
mria, atravs da percepo visual, a inter-
pretao dos objetos que nos rodeiam, sem-
pre num composto de informaes integra-
das, que so parte do repertrio ao mesmo
tempo individual e coletivo, por ser tambm
dependentes, alm disso, de fatores culturais.
Pela teoria perceptiva de Gibson (1974),
aprendemos a ver os objetos com sua
respectiva caracterstica cromtica, entre
outras, e por isso fica impossvel separ-lo
de sua cor. A simples ao fsica da luz dentro
dos olhos pode apenas proporcionar cores,
mas no os objetos coloridos, que so com-
postos de sensaes e produtos da capaci-
dade visual e mental chamada percepo.
A complementao cromtica depende da
interao entre a cor e as outras caracters-
ticas formadoras dos objetos em nossa
memria, os chamados significados agrega-
dos. Os integrantes do mundo visual, assim
como as cores, as texturas, as formas e bordas
tm significados que no se separam de suas
qualidades espaciais concretas, isto , os
objetos esto agregados a seus atributos.
No nvel da percepo, ao reconhecermos
um objeto, por exemplo, numa imagem
fotogrfica em p/b, a falta da caracterstica
cor percebida. Embora a cor no esteja
presente fisicamente, a percepo agrega s
outras caractersticas do mesmo objeto seus
atributos cromticos. Sendo assim, quando
reconhecemos um objeto numa imagem
fotogrfica em p/b, este ser complementado
cromaticamente, segundo a determinao de
um intervalo cromtico, a partir da compa-
rao inconsciente entre objetos.
O reconhecimento do objeto e a delimi-
tao de um intervalo de cor correspondente
a ele so elementos obtidos atravs de suges-
179 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
tes que se encontram na prpria imagem.
Podemos mapear essas sugestes utilizando-
nos dos parmetros de anlise da cor de
Munsell. De acordo com Munsell (Caivano,
1995), uma cor constituda por trs vari-
veis de anlise: matiz, valor e croma. Dadas
estas trs variveis de anlise, define-se um
intervalo de cor. Retomando suas definies:
Matiz a caracterstica que diferencia uma
cor da outra: o azul do amarelo, o azul do
vermelho, etc.; Valor o grau de claridade
ou de obscuridade contido numa cor; Croma
a qualidade de saturao de cada cor que
indica seu grau de pureza.
As trs variveis de anlise de Munsell
esto presentes na prpria imagem fotogr-
fica em p/b e, a partir da sua juno, temos
a indicao de um intervalo cromtico de-
terminado (paleta) para a ocorrncia da
complementao cromtica.
A varivel matiz dada pela forma do
objeto, sugerida pelos contrastes entre o
branco, o preto e os cinzas da imagem. A
forma determina um tipo especfico de objeto,
que remete interpretao a partir da me-
mria e consequentemente ao seu significa-
do cromtico agregado. O matiz est ligado
aos objetos na memria de cada indivduo
de forma pessoal e diferenciada.
A qualidade da cor (valor e croma) dada
pela luminosidade dos cinzas alocados em
cada objeto da imagem, que remetem ao grau
de claridade, obscuridade e saturao.
2.1 Quarto evento de cor: paleta fixa
Diferenciamos um evento de cor atravs
do tipo de estmulo, do tipo de resposta e
a complementao cromtica que se forma
a partir da juno dos dois anteriores. Es-
pecificando as variveis de anlise cromtica
no quarto evento de cor, elas se originam
do reconhecimento de objetos, na imagem,
que sugerem um matiz nico. A
complementao cromtica no mbito deste
evento acontecer dentro do intervalo cro-
mtico restrito a um nico matiz, variando
porm, apenas na luminosidade (valor) e na
saturao (croma).
Os objetos fixos so, por exemplo, objetos
institucionais, tais como placas de trnsito,
semforos, com os quais temos contato
exaustivo no cotidiano. Tambm podemos
chamar objetos fixos certos tipos especficos
de roupas e acessrios, ou ainda os objetos
construdos cromaticamente pela propagan-
da, como as cores agregadas aos produtos
de grandes marcas. So ainda objetos fixos,
partes do corpo humano, como pele, cabelo,
olhos, sangue, etc. Quando este tipo de objeto
reconhecido numa imagem fotogrfica em
p/b, a falta da cor percebida e o compa-
ramos inconscientemente interpretao
anterior deste objeto, a partir da memria
pessoal. O matiz sugerido na comparao ser
nico e a complementao cromtica a partir
dele ter variaes apenas nos eixos da
luminosidade (valor) ou saturao (croma),
de acordo com o que sugerido na prpria
imagem.
A paleta para a complementao crom-
tica do objeto fixo se d na juno das
informaes contidas nas variveis de an-
lise cromtica sugeridas na imagem. Para
a definio de cada paleta, so apontados
primeiramente os objetos fixos da imagem
e, posteriormente, as correspondentes vari-
veis de anlise cromtica de Munsell que
eles sugerem. Identificando estes parmetros,
formaliza-se uma paleta para a complemen-
tao cromtica dos objetos fixos.
2.2 Quinto evento de cor: paleta cnica
O quinto evento de cor fundamenta-se na
complementao cromtica de objetos reco-
nhecidos na imagem fotogrfica em p/b, com
um intervalo cromtico finito (paleta), defi-
nido atravs das variveis de anlise crom-
tica de Munsell, sugeridas pela prpria
imagem. O matiz dado pelo objeto reco-
nhecido na imagem, que no caso da paleta
cnica, chamaremos objeto cnico. Tais
objetos so, por exemplo, cu, mar, folha-
gens, montanhas, nuvens, lagos, rios, cacho-
eiras, prdios, monumentos, areia da praia,
paredes, assoalhos, etc.
Quando o objeto cnico reconhecido na
imagem uma folhagem por exemplo, cujo
aspecto formal e a comparao com a in-
terpretao anterior deste objeto, a partir da
memria pessoal, determinam matizes em
diferentes tonalidades de verde vizinhas no
crculo cromtico, h a composio de um
intervalo finito para a sua complementao
cromtica. Os verdes para uma folhagem
180 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
variam muito em vrios aspectos. Os verdes
da Amaznia so muito diferentes dos ver-
des da Patagnia, de modo que a percepo
do objeto cnico folhagem devolve mati-
zes diversos para as diversas culturas.
Atravs da localizao das trs variveis
de anlise cromtica no slido de Munsell,
vemos a formao da paleta para a
complementao cromtica do objeto cnico
folhagem, identificado o valor e o croma
com muita variao, interferindo diretamente
na construo da paleta cnica para este
objeto.
2.3 Sexto evento de cor: paleta temporal
O objeto que reconhecido na imagem
fotogrfica em p/b no sexto evento de cor
traz componentes cromticos temporais agre-
gados, isto , a paleta de cores para sua
complementao cromtica formada a partir
de matizes relacionados poca em que
localizamos tal objeto.
Objetos com caractersticas cromticas
temporais so guardados na memria, jun-
tamente com a paleta relacionada sua poca.
Esta paleta formada perceptivelmente,
atravs de imagens resgatadas ou forjadas do
passado, em filmes, televiso, fotografias,
artes plsticas, cor da moda, maquiagem, etc
(Walch & Hope, 1995).
Chamamos o estmulo vindo da imagem
em p/b no sexto evento de cor de objeto
temporal. Eles apontam para um intervalo
cromtico relacionado paleta de determi-
nada poca, o que faz o matiz dependente
da ligao especfica a uma caracterstica
temporal. So exemplos deste tipo de objeto:
roupas, sapatos, acessrios e maquiagem da
moda, carros, vestimentas de crianas,
eletrodomsticos, talheres, pratos, cafeteiras.
O valor, o croma e o matiz esto rela-
cionados paleta da mesma poca determi-
nada. Sendo assim, a complementao cro-
mtica no mbito do sexto evento de cor
acontecer dentro de um intervalo cromtico
restrito a uma determinada paleta represen-
tativa da poca pela qual o objeto temporal
esteja ligado.
A cor uma caracterstica marcante de
cada poca e, por isso, est guardada na
memria juntamente com o objeto temporal.
O reconhecimento do objeto temporal traz
consigo uma paleta de matizes especficas,
guardada na memria juntamente com outras
caractersticas. As variveis: matiz, valor e
croma sugeridas na imagem fotogrfica em
p/b se identificam com as vrias tonalidades
das paletas representativas de cada poca.
2.4. Stimo evento de cor: paleta move-
dia
A paleta movedia diz respeito ao ato da
percepo cromtica a partir do reconheci-
mento de objetos chamados movedios. Estes
objetos no possuem formas familiares,
convencionais e no remetem a algum sig-
nificado cromtico guardado na memria. Ao
contrrio dos outros eventos, onde o
disparador do processo (estmulo) de per-
cepo cromtica o reconhecimento de um
determinado objeto e a comparao com a
imagem guardada anteriormente na mem-
ria, no stimo evento de cor h o reconhe-
cimento de um objeto que no possui sig-
nificado cromtico especfico agregado ou
ainda no se reconhece um contexto para ele.
Haver ento a comparao entre a
luminosidade (valor) dada pela imagem e a
luminosidade de cada cor alocadas na me-
mria.
A paleta movedia uma espcie de
coringa dos eventos de cor. Todas as vezes
que no se consegue encaixar o reconheci-
mento de um objeto nas categorias determi-
nadas para os outros eventos, recorre-se ao
procedimento de complementao cromtica
atravs da comparao entre luminosidades.
No stimo evento de cor, a construo
da paleta para a complementao cromtica
do objeto movedio se dar ento na asso-
ciao dos cinzas da imagem, que so, na
verdade, sugestes de luminosidades, com o
coeficiente de claridade de cada cor-pigmen-
to. A maior ou menor luminosidade das cores
perceptvel pela retina e o coeficiente de
claridade passa a ser um significado agre-
gado. Por isso tambm esto alocados na
memria juntamente com as cores.
Numa imagem fotogrfica em p/b pode-
se fazer uma associao de luminosidades
entre a varivel de anlise cromtica valor
(dada pela imagem) e a luminosidade de cada
cor-pigmento alocada na memria. Essa
luminosidade corresponde varivel de
181 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
anlise cromtica de Munsell valor. A partir
da, haver a comparao entre a
luminosidade dada pelo valor sugerido pelo
objeto movedio e a luminosidade das cores
na memria. Desta comparao temos a
segunda e a terceira variveis de anlise cro-
mtica, matiz e croma, possibilitando
assim a formao da paleta para a
complementao deste objeto movedio.
2.5. Oitavo evento de cor: contraste simul-
tneo
O oitavo e nono eventos de cor so os
efeitos do estmulo fisiolgico subjetivo, a
partir da complementao cromtica das
imagens fotogrficas em p/b. Este tipo de
estmulo gerado a partir de uma excitao
subjetiva, ou seja, a cor aparece a partir de
processos ocorridos na prpria retina ou no
crebro.
A prpria complementao cromtica, por
sua vez, pode tambm ser considerada como
uma excitao subjetiva percepo crom-
tica. O processo de complementar uma
imagem fotogrfica em p/b atravs do reco-
nhecimento de objetos e comparao com as
suas respectivas interpretaes anteriores
um tipo de excitao subjetiva percepo
cromtica, formando a paleta de cada ima-
gem. Esta paleta , por sua vez, um tipo de
estmulo fisiolgico subjetivo para a ocor-
rncia dos contrastes simultneos, onde
fundamentam-se o oitavo e o nono eventos
de cor. O oitavo evento de cor so os
contrastes simultneos que ocorrem numa
imagem fotogrfica em p/b a partir da paleta
formada para o processo de complementao
cromtica do objeto.
Porm, os contrastes simultneos que
ocorrem neste evento no se do por est-
mulo objetivo, quer dizer, no h a resposta
fisiolgica da retina em relao a uma sa-
turao. No caso do oitavo e nono eventos
de cor, os efeitos da saturao da retina
tambm so objetos guardados na memria
anteriormente, num composto com a cor
indutora, e aparecem juntamente com a
complementao cromtica do objeto reco-
nhecido na imagem.
Michel-Eugne Chevreul (Pedrosa, 1982)
definiu o contraste simultneo das cores como
sendo o fenmeno que se registra ao obser-
varmos cores diferentes por recproca influ-
ncia. Mais especificamente, cores comple-
mentares aparecem no entorno da forma que
guarda a cor pela qual a retina saturada.
Este fenmeno acontece tambm a partir de
estmulo subjetivo. A memria, ao ser
acionada na construo de paletas para a
complementao cromtica, estimula a retina
e provoca o fenmeno dos contrastes simul-
tneos. O oitavo evento de cor a ocorrncia
do fenmeno do contraste simultneo das
cores por estmulo subjetivo, a partir dos
objetos reconhecidos e complementados
cromaticamente nas imagens fotogrficas em
p/b.
3.6. Nono evento de cor: contraste suces-
sivo e misto
O nono evento de cor so os contrastes
sucessivos e mistos que ocorrem a partir de
uma imagem fotogrfica em p/b, onde ocor-
reu a formao da paleta para o processo de
complementao cromtica do objeto.
Michel-Eugne Chevreul definiu o con-
traste sucessivo e misto das cores como sendo
os fenmenos percebidos a partir da satura-
o dos olhos pela cor de um objeto durante
algum tempo e, deslocando-se em seguida
para um anteparo, no qual aparece ento a
imagem do objeto na sua cor complementar
(Pedrosa, 1982).
Os fenmenos do contraste sucessivo e
misto acontecem tambm a partir de estmu-
lo subjetivo. Como vimos no oitavo evento
de cor, a memria, ao ser acionada na
construo de paletas para a complementao
cromtica, estimula a retina e provoca o
fenmeno dos contrastes simultneos. A partir
da, onde h o deslocamento do olhar, ocorre
o fenmeno do contraste sucessivo. O con-
traste misto acontece quando este desvio do
olhar se dirige para um anteparo previamen-
te colorido.
O nono evento de cor a ocorrncia dos
fenmenos dos contrastes sucessivo e misto
das cores por estmulo subjetivo, a partir dos
objetos reconhecidos e complementados
cromaticamente nas imagens fotogrficas em
p/b. Este evento depende anteriormente da
ocorrncia do oitavo evento de cor, que por
sua vez, depende primeiramente da ocorrn-
cia da complementao cromtica.
182 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
3. Consideraes finais
Este trabalho visou demonstrar que exis-
te percepo cromtica nas imagens fotogr-
ficas em preto-e-branco. Utilizamos resulta-
dos intermedirios vindos da correlao de
conceitos da teoria da cor (branco, preto e
cinzas so cores e a existncia da
complementao cromtica) para fundamen-
tarmos a presena de nove fenmenos de
percepo cromtica nas imagens em preto-
e-branco.
A evoluo dos estudos no mbito da
teoria da cor aponta para uma interao
perceptiva complexa, considerando a relao
que os indivduos mantm com a cor no
como pura observao, mas principalmente
como um ato criativo.
O conceito de que a cor no pode ser
percebida de forma isolada do objeto
(Gibson,1974), nos levou a concluir que
existe a complementao cromtica dos
objetos que reconhecemos numa imagem
fotogrfica em preto-e-branco, no sentido de,
perceptivelmente, no conseguirmos isol-lo
da sua cor.
Quando uma fotografia em p/b obser-
vada, as texturas e formas dos objetos tor-
nam-se chaves perceptivas para a memria
da sua cor. Entendendo o processo de
complementao cromtica, podemos concluir
tambm que as cores complementadas na
imagem so mais luminosas do que as cores
do mundo fsico real, pois se tratam de cores
de contraste.
Este trabalho envolveu um estudo sobre
a dilatao dos limites da percepo crom-
tica humana, que se d tambm no domnio
do psicolgico, do cultural e do social. Neste
sentido, os eventos de cor so elementos
fundadores de um novo modo de perceber
as imagens fotogrficas em p/b, envolvendo
mais a complexidade da percepo do que
a simples sensao cromtica. Temos agora
que considerar a imagem fotogrfica atra-
vessada por diversos atos de percepo
cromtica (os eventos de cor), que interagem
simultaneamente. Por isso, a observao de
uma imagem fotogrfica em preto-e-branco
deve ser considerada como criativa e nica.
Atravs deste trabalho, podemos concluir
que a imagem fotogrfica em p/b deve ser
considerada alm do simples rtulo de
imagem sem cor. A complexidade da
percepo visual cromtica do ser humano
atravessa a simples considerao da falta da
cor numa imagem fotogrfica em preto-e-
branco e mostra as possibilidades da
complementao cromtica dos seus objetos,
quando reconhecidos e comparados s infor-
maes anteriormente retidas na memria. A
cor no pertence fisicamente ao objeto, mas
pertence perceptivamente e culturalmente a
este objeto. Por isso, ao reconhecermos um
objeto numa imagem fotogrfica em preto-
e-branco, vamos complement-lo com a cor
perceptiva e cultural, a partir da sua presena
fsica.
183 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
Bibliografia
Bouma, P. J. Physical Aspects of Colour.
Londres: MacMillan, 1971.
Caivano, J. L. Sistemas de Ordem del
Color. Buenos Aires: UBA, 1995.
Carreira, E. Os Escritos de Leonardo da
Vinci sobre a Arte da Pintura, S. Paulo:
Imprensa Oficial do Estado, 2000.
Gibson, J. J. Perception of the Visual
World. Connecticut: Greenwood Pr.
Publishers, 1974.
Lozano, R. D. El Color y su Medicin.
Buenos Aires: Editorial Amricalle, S. R. L., 1978.
Pedrosa, I. Da Cor a Cor Inexistente.
Braslia: UnB, 1982.
Silveira, L. M. A Percepo da Cor na
Imagem Fotogrfica em Preto-e-Branco.
Tese de doutorado, So Paulo: PUC-SP,
2002.
Walch, M.; Hope, A. Living Colors: the
definitive guide to color palettes through the
ages. Canada: Chronicle Books, 1995.
_______________________________
1
Centro Federal de Educao Tecnolgica do
Paran, CEFET-PR, Brasil.
2
Segundo Lozano [1978], matiz a carac-
terstica que diferencia uma cor da outra. Fisi-
camente, corresponde ao comprimento de onda
de cada uma das cores do espectro.
184 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
185 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
O filme documentrio em debate:
John Grierson e o movimento documentarista britnico
Manuela Penafria
1
Documentary is a clumsy description,
but let it stand. (John Grierson, First
Principles of documentary, 1932-34)
Este texto foi construdo tendo em conta
a nossa experincia pessoal enquanto espec-
tadores de cinema. Corremos o risco de esta
ser apenas uma abordagem limitada. Mas, este
risco pode, tambm, ser uma vantagem, pois
tratando-se de uma experincia pessoal
podemos partilh-la e discuti-la.
O visionamento de filmes, sejam eles
documentrio, fico, animao, experimen-
tal ou outra, lanam sobre ns uma pertur-
bao: surpreendem-nos pela sua semelhan-
a com o mundo em que vivemos e o
enquadramento, composio e articulao
entre as imagens faz parte de um outro
mundo, o mundo do cinema. Entendemos pois
que o cinema no uma janela aberta para
o mundo. Esta posio no tanto um
descrdito sobre as imagens, mas uma sus-
peita saudvel que no impede as ligaes
possveis entre esses dois mundos.
O filme documentrio o objecto de
estudo que nos ocupa. Ao longo deste texto
no pretendemos discutir as suas diferentes
definies, nem propor nenhuma nova de-
finio. Pretendemos provar que propor uma
definio para o filme documentrio pens-
lo enquanto gnero e esta classificao de
gnero uma abordagem que necessrio
ultrapassar. Assim, a questo essencial que
nos preocupa o modo como podemos pensar
o filme documentrio. Que lugar ocupa no
cinema? Ou, onde o podemos colocar dentro
do vasto conjunto de filmes e de diferentes
concepes de cinema? Entendemos que o
documentrio no tanto um gnero, mas
mais um projecto de cinema. Os filmes que
se designam de documentrio contero em
si um projecto de cinema que permite pens-
los em relao aos restantes filmes e em
relao ao mundo em que vivemos.
Na edio de 8 de Fevereiro de 1926 de
The New York Sun, John Grierson (1898-
1972), fundador do movimento documen-
tarista britnico dos anos 30, publicou um
texto sobre o filme Moana (1926), de Robert
Flaherty intitulado Flarhetys Poetic Moana.
Foi neste texto que, pela primeira vez, usou
o termo documentrio:
Of course Moana, being a visual
account of events in the daily life of
a Polynesian youth and his family, has
documentary value. (Grierson,
1926:25)
Esse valor documental resulta da relao
que a imagem estabelece com o que tem
existncia fora dela. Documentrio aqui
usado enquanto adjectivo, s mais tarde, foi
utilizado enquanto nome.
2
Logo a seguir
Grierson escreve:
But that, I believe, is secondary to
its value as a soft breath from a sunlit
island washed by a marvelous sea as
warm as the balmy air.Moana is first
of all beautiful as nature is beautiful.
() And, therefore, I think Moana
achieves greatness primarily through
its poetic feeling for natural elements.
(ibid.)
Para Grierson, Moana no apenas um
registo ou uma descrio da vida de uma
famlia polinsia. Esse seu valor documen-
tal ou (dizemos ns) o valor fotogrfico
secundrio em relao sua potica, sua
capacidade em transmitir a beleza e harmo-
nia da relao que o homem estabelece com
a natureza circundante. Essa sua capacidade
s possvel pelo manuseamento das tc-
nicas cinematogrficas:
Moana, which was photographed
over a period of some twenty months,
186 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
reveals a far greater mastery of ci-
nema technique than Mr. Flahertys
previous photoplay, Nanook of the
North. In the first place, it follows
a better natural outline that of
Moanas daily pursuits, which
culminate in the tattooing episode,
and, in the second, its camera angle,
its composition, the design of almost
every scene, are superb. The new
panchromatic film used gives tonal
values, lights and shadings that have
never been equaled. (ibid.:26)
Em 1922, data do filme Nanook, o es-
quim, Flaherty tinha j ido muito para alm
da mera descrio de modos de vida ou
apresentao de hbitos estranhos, que eram
as marcas dos filmes de viagem. Ao
contrrio destes, Flaherty coloca a nfase em
quem filmado mostrando que o Eu no
assim to diferente do Outro, ainda que
esse Outro viva num local distante e quase
inacessvel. O Outro apresentado na sua
condio condio humana, condio que
a mesma do Eu.
Ainda a propsito de Moana escreve
Grierson:
And if we regard the tatooing as a
cruel procedure to which the
Polynesians subject their young men
before they may take their place
beside manhood let us reflect that
perhaps it summons a bravery that is
healthful for the race. (ibid.:26)
A capacidade fotogrfica do medium ,
pois, para Grierson secundria, o que facil-
mente se percebe se tivermos em conta o
trabalho que desenvolveu nas diferentes Film
Units.
3
Grierson colocou a esttica ao ser-
vio de uma educao nacional, o seu in-
teresse era o papel que o cinema podia de-
sempenhar na sociedade:
It is worth recalling that the British
documentary group began not so much
in affection for film per se as in
affection for national education. If I
am to be counted as the founder and
leader of the movement, its origins
certainly lay in sociological rather than
aesthetic aims. (Grierson, 1937:207).
Em entrevista a Ian Aitken, Basil Wright
(1907-1987) um dos realizadores da Es-
cola de Grierson - deixa clara a ideia de que
esttica e educao so partes interligadas nos
filmes que faziam:
... I dont quite understand the
distinction you are making between
aesthetics and didactic films. A film
must be made well in order to tell
a story or express a message, and I
think that the aesthetic and educational
parts of the documentaries are
integrated. Some of the documentary
films were more aesthetic than others,
but I dont accept the distinction you
are trying to make. (Ian
Aitken,1998:246)
Para Grierson, ao contrrio de Flaherty,
o documentrio deve abordar os problemas
sociais e econmicos e a soluo para esses
mesmos problemas. Embora admirador de
Flaherty, Grierson questiona os seus filmes
por no apresentarem solues para os pro-
blemas dos povos que filma. Grierson en-
controu no documentrio princpios que lhe
permitiram explor-lo como instrumento de
utilidade pblica.
No texto First principles of documentary,
a partir de onde se tornou famosa a definio
de documentrio como o tratamento criativo
da realidade
4
pode ler-se:
First Principles. (1) We believe that
the cinemas capacity for getting
around, for observing and selecting
from life itself, can be exploited in
a new and vital art form. The studio
films largely ignore this possibility of
opening up the screen on the real
world. They photograph acted stories
against artificial backgrounds.
Documentary would photograph the
living scene and the living story. (2)
We believe that the original (or native)
actor, and the original (or native)
scene, are better guides to a screen
interpretation of the modern world.
187 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
They give cinema a greater fund of
material. They give it power over a
million and one images. They give it
power of interpretation over more
complex and astonishing happenings
in the real world than the studio mind
can conjure or the studio mechanician
recreate. (3) We believe that the
materials and the stories thus taken
from the raw can be finer (more real
in the philosophic sense) than the
acted article. Spontaneous gesture has
a special value on the screen. Cinema
has a sensational capacity for
enhancing the movement which
tradition has formed or time worn
smooth. Its arbitrary rectangle
specially reveals movement; it gives
it maximum pattern in space and time.
Add to this that documentary can
achieve an intimacy of knowledge and
effect impossible to the shimsham
mechanics of the studio, and the lily-
fingered interpretations of the
metropolitan actors. (). (Grierson,
1932:146-7).
O documentrio assume-se no apenas
como uma arte nova, mas, tambm, vital. A
capacidade do cinema em se movimentar e
fazer seleces a partir da prpria vida tem
sido esquecida pelos estdios; interpretar o
mundo atravs do ecr s poder ser feito
a partir dos gestos do actor original ou nativo
e, finalmente, as histrias desta arte nova,
denominada documentrio, so mais reais que
as representadas e criadas em estdio, pelo
que assumem um valor especial e
insubstituvel, intimamente ligadas que esto
com o conhecimento e capazes de provoca-
rem um efeito que as histrias dos estdios
nunca podero atingir. Em suma, Grierson
enfatisa a capacidade do documentrio em
captar a vida mas, o que mais ressalta desses
seus princpios a tnica colocada na ca-
pacidade do documentrio agir sobre a so-
ciedade, de ser um instrumento ao servio
de ideais, no caso, de educao nacional numa
Gr-Bretanha em recuperao e transforma-
o. Para que o documentrio se assuma
verdadeiramente como a melhor forma de
interpelar o mundo, Grierson defende que um
cineasta no pode dedicar-se simultaneamen-
te ao documentrio e ao filme de estdio:
() the young director cannot, in nature,
go documentary and go studio both.
(Grierson,1932:147) E, como j vimos acima
(com Basil Wright), o documentarista tem a
possibilidade semelhana dos filmes de
estdio (de fico) de exercer um trabalho
criativo, ainda que ligado a um tom didc-
tico.
Drifters (1929), que julgamos ser o nico
filme realizado e montado por Grierson - a
partir dessa data foi sempre produtor - tem
como tema a pesca do arenque no Mar do
Norte. Uma pequena vila em Shetlands o
local de onde as suas personagens partem para
a pesca. No podemos dizer que se trata de
um filme apenas sobre os pescadores, o seu
trabalho , tambm, um filme sobre o mar.
Neste filme que podemos dividir em 3 partes
(ou sequncias): partida para o mar; pesca
e tempestade no mar; regresso e venda do
peixe, a maior parte dos seus planos so
grandes planos ou planos aproximados, esta
intimididade com o trabalho dos pescadores
(apenas alguns planos de rosto surgem em
todo o filme, em especial quando se apro-
xima a tempestade e na venda de peixe) no
serve apenas para mostrar as dificuldades e
a dureza da pescaria, consegue colocar o
trabalho enquanto valor maior desses homens.
Depois de lanarem as redes, cai a noite. O
que em muitos filmes seria a simples pas-
sagem da noite para o dia, aqui, enquanto
os pescadores descansam, vemos o que se
passa debaixo de gua. Os peixes-co e
congros rondam as redes para caar outros
peixes. Ao longo desta cena, Grierson d
especial destaque s redes, o recurso a um
plano anterior sintomtico: superfcie da
gua a rede tem um comprimento que se
confunde com o prprio horizonte, as redes
sero pois quase infinitas, pelo que se ga-
rante boa pescaria, para alm disso fomos
informados anteriormente que foram lanadas
ao mar 2 milhas de rede. A sobreposio de
imagens um recurso que se destaca. Logo
no incio, ao sobrepor planos das mquinas
do navio com o homem que lana carvo
na fornalha, interligados com planos do navio
a avanar em direco ao mar alto, fica claro
que o esforo e a determinao (e o uso da
maquinaria, da industrializao) conseguem
romper a fora do mar. Num outro momento,
188 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
quase no final do filme tocante a
sobreposio das ondas do mar com as
pessoas que circulam no Porto de Yarmouth
para comprar peixe. Apesar da fora das
ondas, o mercado de venda de peixe faz a
sua funo enviando a mercadoria para o resto
do mundo. Uma montagem a vrios ritmos
(planos mais longos no incio e planos de
menor durao no momento da tempestade;
muito em consonncia com o ritmo da
montagem sovitica dos anos 20) e inter-
ttulos
5
que informam sobre a pesca em curso
salientando os principais momentos desse
trabalho ou pormenores relacionados com a
pesca (por exemplo, aps o inter-ttulo 12
- nota de rodap 4 - surge um plano em que
a linha da rede balana superfcie da gua
serpenteando o seu caminho em direco ao
horizonte), no podero deixar o espectador
indiferente. O espectador guiado pelas
imagens e, em especial, pelos inter-ttulos,
desde uma pequena vila at ao resto do
mundo. O trabalho de uma pequena vila, a
pesca de arenque, colocada numa posio
de superioridade ficando implcitos os bene-
fcios de ser produtora e o resto do mundo
necessitar dessa sua produo.
A partir desse seu filme, Grierson defendeu
duplamente o documentrio: enquanto produ-
tor e impulsionador do chamado movimento
documentarista britnico e atravs de textos
em que proclamava as potencialidades do
documentrio. Com estas duas frentes, Grierson
criou um conjunto de pressupostos estveis.
Ainda assim, este movimento teve o mrito de
no ter promovido um certo desleixo esttico
para da reclamar uma maior proximidade com
a realidade.
O conjunto de normas estticas (no caso,
nos filmes deste movimento o uso da voz
off ou voice over um dos recursos
marcantes) tem uma ligao directa com o
modo como cada autor entende a funo das
suas obras
6
. O movimento documentarista
britnico pretendia registar o presente e no
o passado e dirigir-se directamente ao espec-
tador. A Escola de Grierson sentia que a
histria estava a acontecer aqui e agora e
os seus filmes faziam parte da situao social,
econmica, cultural e poltica da poca.
Por outro lado, as caractersticas que
Grierson exaltou em Flaherty, no seu texto
Flahertys PoeticMoana: a conscincia
artstica (a man with artistic conscience)
e intenso sentimento potico (and an intense
poetic feeling) so, de algum modo, as
caractersticas que Grierson refere como
necessrias para o documentarista, num dos
seus textos mais citados: First principles of
documentary (Grierson, 1932) O documen-
tarista no deve limitar-se ao registo da vida
das pessoas, ele responsvel pela diferena
entre os filmes de actualidade (e outras
formas que utilizam o registo in loco), e o
filme documentrio, este ser um filme
superior. Os outros filmes so apenas um
relato de acontecimentos; ao documentrio
(e documentarista) compete ser mais que isso,
compete-lhe fazer um tratamento criativo da
realidade, o que em Grierson o mesmo
que construir um filme apresentando deter-
minado problema e a soluo governamental
para esse mesmo problema. Se necessrio,
esse tratamento criativo inclui a re-cons-
truo
7
de determinado acontecimento, uma
vez que estava em causa um ideal maior de
educao nacional.
Em Grierson a preocupao esttica ia a
par da funo social e pedaggica dos fil-
mes. A nfase colocada na instrumentalidade
dos filmes cujas temticas so os problemas
scio-econmicos da Gr-Bretanha dos anos
30, assenta numa esttica em que predomina
a voz off e, de um ponto de vista narrativo,
a estrutura do problem-moment (cada um
dos problemas socio-econmicos apresen-
tado como apenas um momento de dificul-
dade que ser superado pela interveno
governamental permitindo que a Gr-
Bretanha regresse ao seu glorioso caminho
em direco ao pleno desenvolvimento).
O movimento documentarista britnico
um movimento coerente e consistente nas
suas propostas onde a ideia de documentrio
inseparvel da de gnero. A teoria de
gneros inclui nas suas definies aspectos
temticos, narrativos e estticos. O projecto
de Grierson no descurou nenhuma dessas
virtudes. A obrigatoriedade em repetir-se
o garante da sobrevivncia de um gnero.
E foi neste ponto que Grierson mais incidiu
o seu trabalho, promovendo a produo de
documentrios. E essa produo no podia
ser feita sem a definio do gnero que coloca
cineastas e espectadores num territrio di-
ferente do restante cinema.
189 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
Grierson teve a capacidade de estabilizar
um conjunto de pressupostos de produo,
conseguiu financiamento regular para essa
produo o que levou, inevitavelmente,
constituio de uma comunidade de espec-
tadores que reconhecem e, ao mesmo tempo,
garantem a sobrevivncia (a manuteno) dos
filmes. Toda esta organizao permite con-
siderar este perodo como a constituio do
documentrio enquanto gnero e um perodo
marcante na histria do filme documentrio.
Genre, palavra francesa que significa
categoria, um termo utilizado para uma
classificao (muito eficaz) que facilita a
produo, distribuio e exibio de filmes.
8
Na teoria de gneros, impera mais a perma-
nncia de determinados pressupostos que o
carcter nico dos filmes e o estilo exemplar
do seu autor.
9
Francesco Casetti refere un
acuerdo de fondo que une quem realiza um
filme e quem o contempla, o primeiro utiliza
formas comunicativas estabelecidas e, o se-
gundo, um sistema prprio de expectativas.
(Cf. Casetti,1993: 304).
A constituio de qualquer gnero
(como em Grierson) mais autoritria que
libertadora, pois implica que os filmes par-
tilhem caractersticas:
Pegar num genre com o Western,
analis-lo e listar as suas caracters-
ticas supor que temos de isolar o
conjunto de filmes que so Westerns.
Mas eles s podem ser isolados com
base nas caractersticas principais
que s podem ser descobertas a partir
dos prprios filmes depois de terem
sido isolados. Isto , estamos apanha-
dos num crculo que exige primeiro
que os filmes sejam isolados, para o
que necessrio um critrio, mas por
sua vez supe-se que o critrio deve
emergir das caractersticas comuns dos
filmes estabelecidos empiricamente.
Este dilema emprico tem duas
solues. Uma classificar os filmes
segundo critrios escolhidos a priori
dependendo das finalidades crticas.
Isto leva de novo posio anterior
em que o genre especial redundan-
te. A segunda apoiar-se num con-
senso cultural comum sobre aquilo
que constitui um Western e depois
analis-lo detalhadamente. Esta lti-
ma sem dvida a raiz da maioria
das utilizaes de genre. esta uti-
lizao que leva, por exemplo, noo
de convenes num genre. () falar
de Westerns (definies arbitrrias
parte) apelar a um conjunto comum
de significados na nossa cultura.
(Andrew Tudor, 1973:142/143).
No mnimo, para preservar a sanidade
mental necessrio ultrapassar o crculo
referido no texto, ou dito de outro modo,
ultrapassar o ciclo vicioso; ciclo esse que
implica pensar o cinema separado por g-
neros. Embora os gneros no sejam um
registo absolutamente estvel, se deixarmos
de lado essa concepo podemos encontrar
para o documentrio um outro lugar dentro
do cinema, liberto das amarras de pressupos-
tos a seguir e de ideias dependentes de
financiamento. A concepo de gnero traz
consigo excluses. Uma informao relevan-
te -nos dada na entrevista de Ian Aitken a
Basil Wright quando este ltimo se refere a
Alberto Cavalcanti (1897-1982) - que rea-
lizou filmes na GPO Film Unit. Cavalcanti
tinha um entendimento com Grierson, no
mnimo, conturbado, em especial no que dizia
respeito ao desenvolvimento do documen-
trio:
B.W. Cavalcanti believed that the
documentary should become more
integrated into feature film, so that the
distinction between the two became
less clear cut. But I dont think that
Grierson really understood feature
films, and so he argued the two should
remain quite separate. (Ian Aitken,
1998:252)
A separao que Grierson prope
coerente com as suas ideias. Embora reco-
nhecesse que o termo documentrio pudesse
abarcar diferentes filmes
10
, Grierson prefere
separar, o que implica pensar em termos de
gneros. Estabilizar uma praxis foi o maior
contributo de Grierson com a evidente van-
tagem de, tambm, estabilizar uma comuni-
dade de espectadores.
11
Em Claiming the real (1995) Brian
Winston critica severamente Grierson e a sua
190 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Escola. Entende que necessrio abandonar
de vez a herana griersoniana que apenas
contribuiu para que o documentrio fosse con-
siderado um filme srio com responsabilida-
des sociais na educao de todos; em resu-
mo, filmes aborrecidos que ningum est
interessado em ver. data da sua publicao
(e talvez ainda hoje) o livro de Winston foi
uma lufada de ar fresco no estudo do
documentrio.
Da nossa parte, entendemos que a abor-
dagem de Grierson permite-nos concluir que
procurar ou divulgar uma definio para o
filme documentrio ou estabilizar-lhe pressu-
postos implica entend-lo como um gnero,
implica que perante a diversidade temtica,
esttica, narrativa (ou no-narrativa) se pro-
curem traos comuns que o demarquem da
restante produo de imagens em movimento.
Michael Renov (1993) considera a ten-
tativa do documentrio em representar a
realidade altamente improvvel, se no
mesmo invivel, Renov entende o
documentrio como uma fico. Por seu lado,
a definio griersoniana de documentrio
(tratamento criativo da realidade) con-
siderada por Carl R. Plantinga (1997) dema-
siado alargada - Plantinga prefere o termo
no-fico; e considerada por Nol Carroll
(1997) demasiado restrita, por no incluir
registos como, por exemplo, o famoso
videotape of the Rodney King beating
12
.
O trabalho destes autores que aqui no
aprofundamos, mantm a postura de uma
procura da sua definio, o que implica
separar, incluir ou excluir registos.
Em entrevista, no filme Cinema verit,
Defining the moment, de Peter Wintonick
(1999), Jean Rouch (1917-2004), disse ter
visto pela primeira vez Nanook, o esquim
quando tinha 5 ou 6 anos de idade e per-
guntou ao seu pai se era verdade, o pai
respondeu-lhe que sim, mas que tinha sido
representado diante de uma cmara. Desde
esse dia, percebeu a diferena entre
documentrio e fico. Jean Rouch, entre um
registo e outro escolheu os dois (como j
firmou em entrevista). Dito de outro modo,
escolheu o cinema.
Hlio Godoy, no seu livro Documentrio,
Realidade e Semiose: os sistemas
audiovisuais como fontes de conhecimento
(2002) recusa o discurso deconstrutivista
(que defende a impossibilidade do
documentrio ser um instrumento de conhe-
cimento da realidade) e constri uma fun-
damentao para uma teoria realista do
documentrio. A Semitica de Peirce, a Teoria
do Umwelt de Jacob von Uexkll e a Teoria
da amostragem, no mbito da Teoria Mate-
mtica da Comunicao de Shannon e Weaver
so a sua base de apoio para defender que
o documentrio contribui para o conheci-
mento da realidade, principalmente por
abordar a Realidade atravs da existncia
concreta das coisas no mundo. Este livro
inspira-nos a definir melhor e com clareza
a seguinte questo: h a possibilidade de uma
teoria realista do cinema construda a partir
do filme documentrio?
13
H cada vez mais produo de filmes
onde as convenes de gnero se misturam
o que remete o trabalho cientfico sobre o
filme documentrio, para uma outra questo
que no a sua definio. Definir o objecto
de estudo que se est a trabalhar o primeiro
passo de uma investigao
14
, mas a inves-
tigao tambm se faz colocando outras
questes. A constante interferncia entre
fico e documentrio, contrria ao desen-
volvimento pretendido por Grierson, levanta
outra questo, no menos importante que a
sua definio, a saber, que lugar ocupa o
documentrio no cinema? Documentrio e
fico tm a mesma natureza, ambos so
cinema, entre eles poder haver uma dife-
rena de grau. O estudo sobre o filme
documentrio necessita de uma abordagem
que esclarea melhor a posio/lugar que
ocupa no cinema, para a partir da fazermos
investigao especfica sobre determinados
filmes ou movimentos, que existem um pouco
por todo o mundo e para os quais o registo
da realidade o registo in loco um
elemento aglutinador e absolutamente essen-
cial.
O que pretendemos , ento, ir alm de
uma histria do impacto e utilidade social
do cinema griersoniana; interrogar o cinema
a partir do filme documentrio de modo a
procurar se no respostas, indicaes que nos
permitam transcender o registo de gnero.
Os filmes que ultrapassam o registo de
gnero so filmes que nos mostram que o
documentrio no um gnero, um pro-
jecto de cinema. Entrar no cinema pela mo
191 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
do documentrio, tendo em conta que este
to cinema como a fico e tendo, tambm,
em conta que o espectador reserva-se o direito
de lhe exigir um compromisso com a rea-
lidade, ento poderemos pensar na possibi-
lidade de, a partir do filme documentrio,
ser possvel uma teoria realista para o ci-
nema que seja capaz de dar conta do uni-
verso flmico. A primeira ou uma das pri-
meiras tarefas para verificar essa hiptese ser
discutir aprofundadamente e com rigor as
ligaes entre as teorias realistas do cinema
de Kracauer e Bazin e o documentrio. Assim,
o tema em questo a relao mundo-ci-
nema.
O filme que imediatamente chama a
ateno a respeito desta questo e que en-
quanto espectadores nos interroga sobre as
relaes complexas entre o cinema e o nosso
mundo O homem da cmara de filmar
(1929) de Dziga Vertov:
Man with the movie camera is the
only documentary film I know that
is an explanation of a theory. (Jay
Ruby, 2000:xi)
Para Vertov no s o contedo, mas a
organizao e o ritmo das imagens projectadas
no ecr podem constituir uma genuna viso
cinematogrfica da realidade
15
; ou seja, o
mundo mostrado no ecr ser mais que um
mero documento fotogrfico. Petric diz que
este filme representa uma brilhante transpo-
sio cinematogrfica dos factos da vida
(life facts) por dar prioridade
expressividade esttica sobre o registo foto-
grfico da realidade; ainda que tenha carac-
tersticas formais evidentes, cada plano per
se visto como a vida tal qual (life-as-
it-is). Para Vertov, o objectivo mais impor-
tante do filme documentrio seria unir o
autntico com o abstracto. (Cf. Petric,
1996:271/2). Ainda para Vertov, o cineasta
tem como funo revelar a verdadeira rea-
lidade. Essa realidade encontra-se nos planos
e s atravs de um uso criativo da linguagem
cinematogrfica, mesmo no momento de
registar, possvel revelar a verdadeira
realidade. Por um lado, Vertov no pretendia
interferir na realidade a registar (de prefe-
rncia as pessoas no deviam aperceber-se
que estavam a ser filmadas) e o cineasta (o
kinok, para usar o termo de Vertov) devia
ter presente a estrutura de todo o filme sempre
que registava um plano; por outro lado, a
relao entre os planos a diversos nveis
absolutamente necessria para que a realida-
de seja revelada. Em O homem da cmara
de filmar, inspirado no Construtivismo que
no separa forma de contedo (a forma
tambm contedo), a autenticidade ontolgica
de cada plano no comprometida. Como
consequncia, os filmes causam impacto no
espectador, afectando a percepo convenci-
onal que tm do mundo.
16
O cinema permite-nos aceder a aspectos
da realidade aos quais no teramos acesso
sem a cmara de filmar. Um dos ltimos
planos de O homem da cmara de filmar
mostra uma multido e acima dessa multido
encontram-se duas cmaras de filmar, uma
delas com o operador de cmara. Este plano
exemplar por tornar clara a ideia de que
a cmara de filmar faz parte do nosso mundo,
mas ao mesmo tempo tem a capacidade de
o transcender. Permite-nos ver mais e me-
lhor.
H uma realidade flmica e uma reali-
dade mais real, se assim a podemos chamar.
O cinema no tem a capacidade de nos dar
a ver o nosso mundo tal qual, mas de um
modo que s o cinema, com a sua capaci-
dade de enquadrar, compor, interligar, o pode
fazer.
Duas alternativas: 1) todo o filme um
documentrio todo e qualquer filme do-
cumenta algo; 2) todo o filme uma fico
por ser uma representao e no a prpria
realidade, por representar ideias e por todos
os filmes partilharem dos mesmos recursos
cinematogrficos.
Uma posio mais equilibrada e (talvez)
mais ajustada seria considerar que todo o
filme , ao mesmo tempo, fico e
documentrio. Mas, isso implicaria ter bem
claras as definies de fico e de
documentrio, o que no possvel.
Definimos assim a nossa posio: fico
e documentrio so formas de documen-
tarismo, um filme no um documentrio,
mas possui um carcter documental. Em
alguns filmes esse grau de carcter docu-
mental menos problemticos que noutros.
Deixamos o termo documentrio para os
movimentos flmicos que assumem que este
192 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
mesmo termo o ideal para design-los, h
que compreender o porqu e de que modos
o utilizam. O carcter documental que en-
tendemos que todos os filmes possuem re-
sulta da nossa certeza de que todo o filme
uma construo de pessoas cultural, social
e politicamente situadas. Por isso, o
documentrio no ocupa um lugar especfico
dentro do cinema. Est presente, em diferen-
tes graus, em todo o cinema.
Um termo que j utilizmos, o de
documentarismo, reala as variaes de
maior ou menor proximidade, entre o que
vemos no cinema e no mundo. Enquanto
teoria, o documentarismo s poder afirmar-
se se for capaz de compreender o cinema
a partir do filme documentrio, dando conta
da sua natureza cinematogrfica e das va-
riaes que os espectadores experimentam ao
visionar filmes como En construccin (2000),
do espanhol Jos Lus Guern ou, no caso
portugus, filmes paradigmticos como Jai-
me (1974) de Antnio Reis e Trs-os-Montes
(1976) de Antnio Reis e Margarida Cordei-
ro, ou ainda o filme Histrias selvagens
(1978) de Antnio Campos.
H filmes que no so problemticos
quanto a designarem-se de documentrios,
mas outros, impelem-nos a pens-los como
mais que um gnero, so um projecto de
cinema. O projecto de cinema dos filmes ser
documentar algo, so modos de ser no mundo.
193 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
Bibliografia
Aitken, Ian (ed.) (1990) Film and Reform,
John Grierson and the Documentary Film
Movement, London and New York,
Routledge.
___ (1998) The documentary film
movement, An anthology, Edinburgh
University Press.
Carrol, Nol (1997) Fiction, non-fiction
and the film of pressumptive assertion: A
conceptual analysis in Richard Allen and
Murray Smith, Film Theory and Philosophy,
Clarendon Press, Oxford, pp.173-202.
Casetti, Francesco (1993) Teoras del
cine, Col. Signo e imagen, n 37, Madrid,
Ed. Catedra, 1994.
Corner, John (1996) The art of record,
a critical introduction to documentary,
Manchester and New York, Manchester
University Press.
Flaherty, Robert (1922) How I filmed
Nanook of the North, in Worlds Work,
October, pp. 632-640.
Godoy, Hlio (2002) Documentrio, Re-
alidade e Semiose: os sistemas audiovisuais
como fontes de conhecimento, So Paulo,
AnnaBlume, FAPESP.
Grierson, John,(1926) Flarhetys
PoeticMoana, The New York Sun, 8 de Fev.
In Lewis Jacobs (ed.) The documentary
tradition, 2
nd
ed., New York, London, W.W.
Norton & Company, 1979, pp.25-6, (1 ed.
1971).
____(1932) First Principles of
documentary in Forsyth Hardy (ed.)
Grierson on documentary, Revised Edition,
Berkeley and Los Angeles, University of
California Press, (1966), pp.145-156 .
(Nota: Este artigo foi originalmente
publicado em 3 partes na Revista Cinema
Quarterly, nos nmeros de Winter 1932;
Spring 1933 e Spring 1934)
____(1937) The course of realism in
Forsyth Hardy (ed.) Grierson on
documentary, Revised Edition, Berkeley and
Los Angeles, University of California Press,
(1966), pp.199-211.
Plantinga, Carl R. (1997)Rhetoric and
representation in nonficiton film, Cambridge
University Press.
Petric, Vlada (1987) Constructivism in
film, The man with the movie camera a
cinematic analysis, Cambridge University
Press.
____(1996) Vertovs cinematic
transposition of reality in Beyond documents,
Essays on nonfiction film, Ed. Charles Warren
foreword by Stanley Cavell, Wesleyan
University Press, pp.271-294.
Renov, Michael (ed.) (1993) Theorizing
Documentary, New York and London,
Routledge.
Ruby, Jay (2000) Picturing culture,
Explorations of Film & Anthropology, The
University of Chicago Press.
Sussex, Elisabeth (1975) The rise and fall
of british documentary: The story of the film
movement founded by John Frierson,
Berkeley, University of California Press.
Tudor, Andrew (1973) Teorias do cine-
ma, Col. Arte & Comunicao, n 27, Lis-
boa, Edies 70, 1985.
Winston, Brian (1995) Claiming the Real.
The Documentary Film Revisited, London,
BFI British Film Institute Publishing.
_______________________________
1
Universidade da Beira Interior.
2
Nas palavras do prprio Grierson: When
I used the term documentary of Bob Flahertys
Moana, I was merely using it as an adjective.
Then I got to using it as a noun: the
documentary; this is documentary. The word
documentary became associated with my talking
about this kind of film, and with me and a lot
of people round me. (in Elisabeth Sussex,
1975:3).
3
A EMB-Empire Marketing Board Film Unit,
de 1927 a 1933; GPO-General Post Office Film
Unit, de 1933 a 1936. Em 1936 Grierson fundou
o Film Centre que realizava e produzia filmes para
patrocinadores. A partir de 1939 Grierson foi para
o Canad onde se tornou Film commissioner da
recm criada National Film Board of Canada e
a partir de 1946 foi Head of Information na
UNESCO. (Fonte: Ian Aitken, Film and reform,
John Grierson and the documentary film
movement, Routledge, 1990).
4
Nesse texto, Grierson no diz claramente
que o documentrio o tratamento criativo da
realidade. O que de mais aproximado encontr-
mos foi: beyond the newsmen and the ma-
gazine men and the lectures (comic or interesting
or exciting or only rhetorical) one begins to wander
into the world of documentary proper, into the
only world in which documentary can hope to
194 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
achieve the ordinary virtues of an art. Here we
pass from the plain (or fancy) descriptions of
natural material, to arrangements, rearrangements,
and creative shapings of it.(Grierson, 1932:146).
5
Por no serem demasiado longos, a seguir
transcrevemos todos os inter-ttulos do filme
Drifters. Apenas uma nota, entre os dois primei-
ros inter-ttulos no existem imagens a separ-los.
1) The herring fishing has changed. Its story was
once an idyll of brown sails and village harbours
its story is now an epic of steam and steel.;
2) Fishermen still have their houses in the old
villages But they go for each season to the labour
of a modern industry.; 3) Out past the head land
to open water and the North sea; 4) The log-
line tells the miles; 5) Far to seaward swim
the herring shoals.; 6) The skipper keeps a look-
out forappearances.; 7) While down below
(nota: planos de preparao de comida na cave
do barco); 8) Forty miles by the log and dark
patches of water mark the shoals below; 9) There
are two miles of nets to cast and work goeson
into evening.;10) Then an extra float for the
end of the line;11) And the mizzen is set for
the night; 12) With the ship made fast to the
end of the line the nets go drifting through the
darkness.; 13) Dog fish and conger the
destroyers of the deep gather for the killing.;
14) One man keeps the watch.; 15) In and out
work the dog fish.; 16) Dawn breaks with heavy
swell over land and sea. 17) Out in the waste
of waters the men are called to the labour of
hauling.; 18) The storm gathers the labour
becomes heavier still.; 19) Despite the winchs
help every foot has to be fought for.; 20) More
steam for the straining winch.21) A hundred and
fifty crans a thousand herring to the cran. After
eight hours labour the hauling is done.; 22) The
rolling ship turns her head for harbour. 23) The
full speed through a head-sea for the earliest
possible market.; 24) One sea in the hold and
a catch is ruined; 25) On the quayside the
auctioneerss bell calls the buyers together.; 26)
In quick succession the ships ride through.; 27)
The heaviest laden come last of all.;28) And
the sound of the sea and the people of the sea
are lost in the chatter and chaffer of a market
for the world.; 29) So to the ends of the earth
goes the harvest of the sea.
6
No possvel construir um sistema es-
ttico num vazio. No mnimo, um conjunto de
normas estticas tem uma relao qualquer com
a forma como o seu autor concebe o seu mundo,
a sua vida social e o papel desempenhado pelo
cinema neste contexto mais alargado. (Andrew
Tudor, 1973:66).
7
Re-construo um termo utilizado para
designar o registo de um acontecimento em estdio
quando, por qualquer motivo, a cmara de filmar
no o captou no momento em que ocorreu.
8
Estudos sobre gneros: E. Buscombe, The
ideia of genre in the american cinema in Screen,
vol. 11, n2, 1970; C. MacArthur, Underworld
USA, London, Secker and Warburg, 1972; Robert
Altman, Film/Genre, London, BFI, 1999; Barry
K. Grant (Ed.), Film genre, Theory and Criticism,
Metuchen, Scarecrow Press, 1977; Barry K. Grant
(Ed.), Film genre reader, Austin, Texas, University
of Texas University Press, 1896; idem, Film genre
reader II, 1995; T. Grodal, Moving pictures: a
new theory of genres, feelings and cognition,
Oxford, Clarendon Press, 1997; T. Schatz,
Hollywood genres, NY, Random House, 1981;
Pam Cook, Genre in The cinema book, London,
BFI, 1985, Steve Neale, Genre, London, BFI,
1980; idem, Questions of genre in Screen vol.31,
n1, 1990.
9
O termo gnero adequa-se, mais facilmen-
te, ao cinema clssico. A indstria cinematogr-
fica para ser rentvel, necessita de dividir clara-
mente as suas fases e especificar tarefas de
produo, distribuio e exibio. Cada uma delas
permite a rentabilidade de um conjunto de filmes,
desde que os mesmos obedeam a um conjunto
de leis temticas e formais. Economizar meios
e tornar a comunicao eficaz pelo recurso aos
clichs so as ideias subjacentes a este modo de
fazer cinema. A repetio dessas leis permite
estabelecer entre a produo e a recepo laos
seguros.
10
Documentary is a clumsy description, but
let it stand. () From shimmmying exoticism it
has gone on to include dramatic films like Moana,
Earth and Turksib. And in time it will include
other kinds as different in form and intention from
Moana, as Moana was from Voyage au
Congo.(Grierson, 1932-34, p.145)
11
Em geral, o contributo de Grierson visto
como uma pgina negra na histria do filme
documentrio. (ver, por exemplo, o livro de Brian
Winston, 1995) Se Grierson deixou uma pesada
herana ao documentrio por imediatamente o
remeter para a confuso entre documentrio e
reportagem, lanando o documentrio para a
televiso e no para as salas de cinema, propostas
posteriores, como os movimentos de cinema
directo, tambm o colocam numa posio pouco
confortvel. O cinema directo prometeu o que
impossvel cumprir: apresentar a realidade tal
qual. Entendemos que esta abordagem remete
para o voyeurismo. O espectador estimulado a
olhar o Outro (apresentado no ecr) como um
agente de aces estranhas que dificilmente
compreende. Sem envolvimento no h compre-
enso. A observao que tem como base: faam
de conta que no estamos aqui a filmar
meramente voyeurista.
195 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
12
Registo em vdeo de Rodney King a ser
violentamente espancado pela polcia de Los
Angeles, Maro de 1991.
13
Embora no de modo to explicto esta
questo j foi por ns abordada no texto: O
documentarismo do cinema. O livro de Hlio
Godoy ajudou-nos a clarific-la. Da nossa parte
interessa-nos trabalhar as teorias especificamente
cinematogrficas.
14
A questo da definio do filme
documentrio e sua identidade j foi por ns
trabalhada em O filme documentrio. Histria,
Identidade, Tecnologia, Edies Cosmos, 1999.
15
Percebe-se o porqu da constestao aos
filmes de Vertov, em especial Trs canes para
Lenine (1934), que representa mais a esperana
do povo por uma vida melhor que Lenine en-
quanto homem ou poltico. Este filme potico
ia contra o Realismo Socialista que defendia a
subordinao da forma ao contedo. (Cf. Petric,
1996).
16
...Vertov strove to observe both the
Film-Truth (the ontological authenticity of
the shot) and the Film-Eye (the montage
st r uct ur e of t he associ at ed shot s) . By
accomplishing this, he made The man with the
movie camera able to function on both levels,
presenting reality as it is, and generating,
through the kinesthesia, a new vision of the
world. (Petric, 1996:293).
196 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
197 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
Fronteiras Imprecisas: o documentrio antropolgico entre
a explorao do extico e a representao do outro
Mrcius Freire
1
A histria do cinema conta que o primei-
ro filme antropolgico foi realizado antes
mesmo de o cinematgrafo dos irmos
Lumire fazer sua primeira projeo pblica.
Com efeito, tal filmagem ocorreu quando,
na primavera de 1895, Flix-Louis Regnault
se serviu de uma cmera cronofotogrfica de
E. J. Marey e registrou uma mulher wolof
fabricando objetos em argila na Exposition
Ethnographique de lAfrique Occidentale em
Paris. Mas, assim como a Histria reserva
a qualquer evento do passado verses dife-
rentes segundo o ponto de vista daquele que
o reconstitui, alguns atribuem a T.A. Edison
o privilgio de ter registrado as primeiras
imagens em movimento de cunho antropo-
lgico. Trata-se de Indian war council e Sioux
ghost dance, fitas kinetoscpicas realizadas
em 1894, logo, um ano antes da experincia
de Regnault. Na verdade, tais imagens, que
constituem os primeiros vestgios animados
dos ndios Sioux, foram gravadas em est-
dio, mais precisamente na Black Maria.
2
Trata-se, portanto, de uma reconstituio em
que os sujeitos observados representam seu
prprio papel. Para tanto foi construdo um
cenrio reproduzindo, de maneira bastante
tosca, o habitat natural dos Sioux.
Temos ento, nas duas experincias ra-
pidamente aqui expostas, a de Marey e a de
Edison, os dois elementos ou, melhor, os dois
procedimentos que vo caracterizar a cons-
truo de um filme documentrio: o registro
do real ao vivo, e a reconstituio desse
real de maneira assumida ou dissimulada. No
primeiro caso temos que, imediatamente aps
o registro de Marey e a quase simultnea
apresentao do cinematgrafo ao grande
pblico, os cinegrafistas Lumire esquadri-
nharam os quatro cantos do mundo com suas
cmeras de tal maneira que, na virada do
sculo, a maioria dos povos, sobretudo
aqueles sob dominao das potncias euro-
pias, havia sido filmada.
3
A frica foi, desde
sempre, a grande fornecedora de matria
prima para esses shows de exotismo, a tal
ponto que nos ltimos anos do sculo XIX
a profuso de atualidades Lumire retra-
tando a vida e os costumes dos povos das
antigas colnias francesas era tamanha que
deu origem a um gnero chamado de exotica.
Tais produes esto na raiz de um outro
gnero que mais tarde seria denominado de
documentrio.
No caso de Edison estava aberta, com as
duas fitas citadas
4
, uma vertente bastante
prolfica do filme de no-fico e que viria
a ser aprimorada em algumas de suas rea-
lizaes seguintes: a explorao dos aspectos
exticos e pouco familiares de culturas no
ocidentais e das imagens mais mrbidas e
mais salazes de qualquer cultura, mesmo a
ocidental. Foi nesse esprito que, em 1901
ele realizou Execution of Czolgosz with
Panorama of Auburn Prison (1901) onde
cenas representadas foram misturadas com
cenas reais, e, em 1903 An execution by
hanging e Electrocuting an elephant, mos-
trando cenas reais de situaes em que a
morte era a vedete.
Esses filmes atraam enormemente o
pblico que no costumava questionar a
veracidade daquilo que lhe era mostrado.
Segundo Erick Barnow
5
,
Num perodo em que as atualidades
da semana foram durante muito tem-
po ilustradas com gravuras em ma-
deira anunciando a partir de imagens
registradas in situ, no era muito pro-
vvel que houvesse preocupao com
relao ao que realmente significava
reconstituio. O pblico estava
acostumado que as imagens de not-
cias tivessem uma incerta e remota
ligao com os acontecimentos e no
pensava muito a respeito de quo
verdadeira era essa ligao.
Reconstituies e fraudes faziam um
incrvel sucesso. Memorveis sequn-
198 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
cias autnticas foram feitas do
terremoto que sacudiu So Francisco
em 1906, mas outro tipo de imagens
do evento, inventadas em table-tops
ou com miniaturas, eram igualmente
aplaudidas. Diversas erupes vulc-
nicas foram fraudadas com enorme
sucesso, como uma produo da
Biograph de 1905 intitulada Eruption
of Mount Vesuvius. As produtoras de
cinema no queriam ignorar as cats-
trofes ou outros acontecimentos dig-
nos de manchete apenas porque seus
cinegrafistas no tinham acesso a eles;
empresas especializadas resolviam o
problema. Nesse sentido, o produtor
ingls James Williamson realizou
Attack on a Chinese Mission Station
no seu prprio quintal, e algumas
cenas da guerra dos Boer num campo
de golfe. A neve de Long Island e
New Jersey forneceu o cenrio para
produes como Battle of the Yalu
(1904), da Biograph, e para um filme
concorrente de Edison, Skirmish
Between Russian and Japanese
Advance Guards. Neste ltimo, vemos
soldados surgirem e desaparecerem
diante de uma cmera imvel, enquan-
to muitos caem no combate. Para
ajudar a audincia a identificar os
contendores, russos eram vestidos de
branco e japoneses em cores escuras.
A aceitao desse tipo de produto pro-
vavelmente desencorajou iniciativas
mais autnticas pelo menos entre
alguns concorrentes.
A explorao do extico e do incomum
faz parte, portanto, da prpria histria do
cinema e, mais especificamente, da histria
do filme documentrio. Mas, e quanto ao
filme antropolgico ou documentrio antro-
polgico, quais so seus vnculos com o
exotismo e sua eventual falsificao?
sabido que a antropologia nasceu da
curiosidade dos ocidentais, notadamente dos
europeus, em relao s culturas diferentes
das suas. A observao dessas culturas, a
busca de seu deciframento e os relatos a que
davam origem constituram, desde sempre,
o procedimento antropolgico. Com o nasci-
mento da disciplina, o outro, o no ocidental,
o diferente, seu corpo, paramentado ou
desnudo, sua terra, seu habitat, suas crenas,
seus hbitos sexuais e gastronmicos... pas-
saram a ser observados e interpretados de
forma sistemtica. Nunca demais lembrar
que o aparecimento dessa especialidade das
cincias do homem se deu numa poca
segunda metade do sculo XIX - que viu
nascer, tambm, o mais efetivo instrumento
de registro visual deste mesmo outro na
plenitude de seus movimentos: o
cinematgrafo. Em que pese essa feliz co-
incidncia e as evidentes potencialidades dela
decorrentes, os caminhos percorridos pelos
dois recm-nascidos nem sempre convergi-
ram para o mesmo alvo. Inmeras vezes eles
se cruzaram, um reencontrando o outro ao
sabor de suas prprias prticas. O cinema
registrando a aventura humana naquilo que
passou a ser chamado de filme documen-
trio, ou reconstituindo-a no filme de fic-
o, e a antropologia servindo-se, de quando
em vez, desses registros para ilustrar ou
edulcorar a rigidez de suas exposies.
6
Isso
porque muitos dos filmes a que nos referi-
mos acima podem ser considerados como de
valor antropolgicos, mas no efetivamente
antropolgicos. A indefinio quanto ao que
vem a ser um filme antropolgico perdu-
rou at os idos de 1948 quando Andr Leroi-
Gourhan,
7
considerando, na ocasio, que
...parece haver uma certa confuso entre o
filme etnolgico e o filme de viagem ...,
sugeriu que
Trs tipos de filmes podem ser con-
siderados como etnolgicos (...): O
Filme de pesquisa, que apenas um
meio de registro cientfico entre
outros. O Filme documentrio pbli-
co ou filme de exotismo, que uma
forma do filme de viagem, e aquilo
que (chama) de filme de ambiente,
rodado sem inteno cientfica, mas
que adquire valor etnolgico pela
exportao, como uma intriga senti-
mental em ambiente chins ou um
bom filme de gangsters nova-
iorquinos tornam-se pinturas de cos-
tumes curiosos quando se muda de
continente.
199 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
No difcil perceber que, para Leroi-
Gourhan, o carter etnolgico de um filme
est mais na utilizao que dele vai ser feita
que nos propsitos que animaram seu rea-
lizador. Excetuando-se o filme de pesquisa
que tem como objetivo intrnseco o registro
cientfico, podemos, a rigor, considerar qual-
quer filme como potencialmente etnolgico,
pois praticamente todos, de alguma maneira,
podem enquadrar-se naquela categoria que ele
define como filme de ambiente.
Mas, o que nos interessa aqui a
explicitao, a partir de uma das primeiras
classificaes dos filmes sobre o homem, feita
por um antroplogo, das relaes ambguas
do filme de viagem, do filme de exotismo
com o filme antropolgico. E, como vimos,
tais relaes fincam suas razes na origem
mesma do cinema.
Do exploitation ao antropolgico
Conforme expusemos no incio desta
apresentao, o flerte do cinema com o
bizarro e o extico j est indiscutivelmente
presente nos filmes de Edison e dos Irmos
Lumire. Essas experincias so os ances-
trais de toda uma gama de documentrios que
ficou conhecida pelo epteto de exploitation
ou termo ainda mais sugestivo
shockumentaries. Dentre esses, a linhagem
de maior sucesso e o verdadeiro cone do
gnero , sem sombra de dvida a srie
Mondo Cane, cuja primeira semente germina
em 1962. Seu sucesso foi tamanho que criou
um epteto com o qual foram identificadas
todas as suas emulaes: Filmes Mondo.
Dirigido por Gualtiero Jacopeti e Franco
Prosperi, Mondo Cane construdo na forma
de um longo relato de viagem em que os
costumes mais bizarros, mais distantes dos
padres ocidentais so mostrados sem
qualquer tipo de pudor. No primeiro filme
da srie a frica , ainda e ainda, o cenrio
das maiores atrocidades cometidas contra ani-
mais. Porcos so mortos a pauladas sem
qualquer razo aparente, hipoptamos rece-
bem dezenas e dezenas de lanas atiradas de
uma pequena distncia; mas a sia tambm
tem a oferecer seu quinho de barbrie.
chocante a sequncia em que, ao sinal de
uma salva de tiros, vacas so decapitadas com
um s golpe por um soldado zeloso de um
pas no identificado. Mondo Cane 2 vai mais
longe que seu predecessor e acrescenta
mostrao incessante de animais sendo
mortos, a imolao de um monge budista que
se deixar queimar em sinal de protesto.
Segundo Vivian Sobchack
8
trata-se, na ver-
dade, de uma bem versosmil reconstruo
da real morte do mrtir Quang Duc, ocorrida
em 1963. Ainda que encenada, a sequncia
considerada a primeira morte de um in-
divduo nos documentrios de explorao,
tendo sido difundida na poca como um
genuno espetculo de morte. O que em nada
invalida, no sentido de que, em sua repre-
sentao documentria, essa morte
vivenciada aparentemente como uma visua-
lizao do real.
Em 1966 Jacopetti e Prosperi avanam
mais um pouco na exibio de violncia e
da crueldade com Africa Addio. Desta vez
a frica a nica estrela a brilhar diante
das objetivas da dupla de documentaristas.
O filme se queria um testemunho das trans-
formaes por que passava o continente
africano no incio dos anos sessenta. Dentre
essas, o processo de libertao do Qunia das
amarras do colonialismo britnico e os es-
tgios finais do terrorismo Mau-Mau, a
sangrenta guerra civil no Congo, o genocdio
dos Watusi em Ruanda e a revolta contra os
portugueses em Angola. Apesar de afirmar
que correu risco de vida e que sua entrada
no continente africano tinha como nico
objetivo uma expedio flmica, a dupla
chegou a ser processada, acusada de ter
encorajado morte e fuzilamentos visto com
toda sua crueza no filme por mercenrios.
Isso nos leva a duvidar da veracidade dos
fatos apresentados e as circunstncias em que
foram filmados. Alm do fuzilamento, so
incontveis as sequncias de morte de ani-
mais. Desta vez elefantes, hipoptamos,
antlopes so sacrificados aparentemente
apenas para o prazer de seus algozes.
A estrutura narrativa desses filmes se
aproxima daquela do documentrio clssico.
A sucesso de imagens vai sendo costura-
da por uma voz fora de campo que interliga
episdios muitas vezes sem qualquer cone-
xo entre si. Essa voz over vai expondo e
questionando, dentro de uma perspectiva
ideolgica nitidamente reacionria e
etnocntrica, uma variedade de eventos
200 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
exticos e/ou chocantes filmados ao redor do
mundo. Cria-se uma espcie de relato de
viagem sensacionalista no qual o motivo
principal enfatizar um comportamento
cultural no familiar ao espectador, eviden-
ciando as diferenas, buscando sempre ul-
trapassar os limites que levam do extico ao
visualmente insuportvel. Podemos, assim,
considerar os filmes mondos como um brao
dos documentrios e um cruzamento destes
com o show de variedades, por apelarem ao
fascnio pelo incomum inerente ao ser hu-
mano.
9
Assim como os primeiros filmes de
Edison e dos irmos Lumire guardavam
similitudes, tanto na sua fatura quanto nos
seus objetivos, com os documentrios antro-
polgicos, o mesmo se pode dizer da relao
destes ltimos com documentrios realizados
para o grande pblico. Quem afirma isso
Jean Rouch em seu artigo La camra et les
hommes.
10
Para esse pioneiro do estudo do
homem atravs das imagens animadas
a maioria dos filmes antropolgicos
realizados nos ltimos anos, se apre-
senta sempre sob a forma de um pro-
duto de difuso normal: crditos, msica
de acompanhamento, montagem sofis-
ticada, comentrio tipo grande pblico,
durao, etc. Na maior parte das vezes
consegue-se com isso um produto h-
brido que no satisfaz nem ao rigor ci-
entfico nem arte cinematogrfica. (...)
O resultado um aumento considervel
do custo de produo desses filmes que
torna ainda mais amarga a ausncia
quase total de sua veiculao, sobretu-
do quando o mercado cinematogrfico
permanece bastante aberto a um certo
tipo de documentrio sensacionalista
do estilo Mondo cane.
Existiriam portanto, segundo Rouch, trs
tipos de documentrios voltados para a
observao dos homens e de suas peripcias:
a) o documentrio grande pblico, b) o
documentrio sensacionalista ou de explo-
rao e, c) o documentrio de cunho cien-
tfico. O que queremos demonstrar aqui que,
em boa parte dos grandes clssicos do filme
antropolgico encontramos uma conjuno
desse trs estilos.
Tomemos como exemplo The Hunters,
realizado em 1958 por John Marshall. O filme
se prope mostrar as aventuras de um grupo
de caadores bushmen do deserto Kalahari
em uma caada. Segundo John Collier Jr.
11
,
de domnio pblico a querela entre
Marshall e Robert Gardner, montador
do filme, a respeito do formato que
este ltimo imprimiu montagem
final concedendo demasiada importn-
cia a episdios que pudessem chocar
a sensibilidade ocidental para efeitos
dramticos. Cita, como exemplo, a
cena em que o caador chefe encon-
tra um arbusto com ninhos cheios de
filhotes e comea a destruir os ninhos
e a matar os filhotes. A voz over
explica que ele vai levar os filhotes
para casa e fazer uma sopa para seus
filhos. Trata-se visualmente de uma
longa cena sem qualquer valor
etnogrfico claro, mas ela cria um
choque cultural que pode obscurecer
os olhos ocidentais para outras sen-
sibilidades e refinamentos desse abo-
rgenes caadores.
O abate da girafa no final do filme no
deixa de lembrar algumas cenas de Mondo
Cane ou de Africa Addio. Sob o efeito do
veneno que lhe fora inoculado atravs de uma
flechada no dia anterior, o enorme animal,
j enfraquecido, deixa que os caadores se
aproximem e comecem a desferir mais
flechadas sobre seu imenso corpo. Seus
movimentos ao receber cada golpe deixam
clara sua incapacidade de reagir aos objetos
que lhe traspassam a pele. Por fim, j sem
foras, ela cai. Comea ento a retirada da
pele, o lento esquartejamento... Isolada do
resto do filme essa seqncia poderia fazer
parte de um filme mondo.
The Hunters um bom exemplo daquilo
que J. Rouch chama de produto hbrido.
Fica evidenciada na montagem de R. Gardner
sua sucumbncia tentao de ressaltar o
valor esttico do filme em detrimento de seu
valor cientfico.
O mesmo Robert Gardner realizou, em
1963, um outro clssico do filme antropo-
lgico, Dead Birds. Filmado na Nova Guin,
esse filme retrata o dia-a-dia da vida dos Dani
201 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
atravs do quotidiano de trs personagens:
um homem, uma mulher e um menino. O
homem ocupa uma funo das mais impor-
tantes que a de controlar, a partir de uma
torre de vigilncia, a fronteira que separa sua
tribo de uma outra com a qual mantm
relaes pouco amistosas. Enquanto no est
na torre, tece cuidadosamente longas faixas
ornadas de conchas que sero usadas nos
rituais fnebres. A mulher trabalha no cam-
po, arando e colhendo tubrculos. No pode
tecer como o homem, pois no possui al-
gumas falanges das mos. Estas so cortadas
quando da morte de um parente prximo. O
menino pastoreia seus porcos nos campos que
circundam a aldeia. As peripcias desses trs
indivduos vo constituir o fio condutor
atravs do qual Gardner penetra a cultura
Dani.
Um aspecto dessa cultura, no entanto,
extrado do todo e vai pontuar a narrativa
e criar a estrutura dramtica do filme: a
relao dos sujeitos observados com a morte.
Logo aps os crditos somos colocadas diante
de imagens de pssaros e a voz over explica
que, de acordo com o mito da criao dos
Dani estes tiveram de escolher entre ser como
as cobras, trocar de pele e viver para sempre,
ou ser como os pssaros e morrer. Eles
escolheram ser como os pssaros e por isso
devem enfrentar a morte. Todo o filme
construdo como se esta estivesse espreita,
pronta para assomar na aldeia.
Sobre isso o diretor declarou:
Eu vi os Dani, emplumados e vibran-
tes, homens e mulheres, como que
desfrutando o destino de todos os
homens e mulheres. Eles vestiram suas
vidas com plumagem, mas, como
todos ns, enfrentam a morte como
certa. O objetivo do filme tentar
dizer algo a respeito de como todos
ns humanos enfrentamos nosso des-
tino animal.
12
Gardner filmou com uma cmera Arriflex
a bateria, sem som sincronizado. Assim como
havia feito com The Hunters, foi na mon-
tagem que as imagens captadas se transfor-
maram em narrativa dramtica. Graas
estrutura clssica do filme de fico, com
montagem paralela, enorme variedade de
ngulos e enquadramentos (manipulados na
montagem) e uma voz over onipresente e
onisciente, o espectador levado pelo brao
ao interior da sociedade Dani. Ele no tem
nem o tempo nem a ocasio de refletir sobre
aquilo que lhe posto diante dos olhos. O
comentrio tudo explica, mesmo os pensa-
mentos dos sujeitos observados. Quando
Laka, a mulher, vai ao campo colher suas
batatas, a voz de Deus explica que o
trabalho duro, o sol escaldante, mas que
ela fica feliz em poder encontrar as amigas
e conversar um pouco. Quanto o menino
observa a faina dos adultos essa mesma voz
interpreta seus pensamentos e diz que ele est
a imaginar que, quando crescer, tambm
estar se dedicando quelas tarefas.
As imagens privilegiam, pelo uso de
grandes planos e longas seqncias, os tem-
pos fortes da manifestao observada. Tal
o caso da morte dos porcos do menino para
o ritual fnebre. O porquinho seguro por
um dos homens da aldeia enquanto o chefe,
distante apenas alguns centmetros do ani-
mal, dispara uma flecha em direo ao seu
ventre. O porco solto no terreiro, corre,
estrebucha, sangra at perder as foras. A
cmera acompanha tudo com insistncia e
corta apenas para mostrar o menino que chora
a morte de seu animal.
Toda estrutura de Dead Birds est cal-
cada nesse jogo de momentos de suspense
e momentos fortes. O suspense maior diz
respeito ameaa de invaso da outra tribo.
essa expectativa que, como um leitmotiv,
permeia a narrativa. Finalmente, depois de
ter preparado longamente o espectador, te-
mos a batalha. Mais do que uma ao vi-
olenta, esta ltima quase um jogo, um jogo
perigoso em que alguns poucos so
efetivamente feridos. Aqui, mais uma vez os
grandes planos exploram os ferimentos, a
retirada das pontas de lana dos corpos, o
arfar dos feridos.
O que distingue as cenas acima descritas
daquelas anteriormente expostas dos filmes
considerados de explorao? O que diferen-
cia um filme indexado como antropolgi-
co de um documentrio de viagem ou de
um drama cultural. Para o j citado John
Collier Jr.
13
202 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Eles (os filmes antropolgicos) so
orientados para a pesquisa autntica,
esta deve ser sua mais importante
caracterstica. Podemos definir filme
etnogrfico a partir dessa descrio,
porque ela separa claramente registros
culturais de narrativas dramticas ou
artsticas. Filmes etnogrficos popu-
lares realizados com todos os refina-
mentos da indstria tendem ao entre-
tenimento da audincia sobre povos
exticos, mas deve ser reiterado que
estas epopias culturais tm
freqentemente pouco valor na sala
de aula.
Ser que The Hunters ou Dead Birds
preenchem esses requisitos? No estamos
to seguros! E, pelo que podemos deduzir
de tudo que precede, a fronteira que os separa
dos seus congneres menos credenciados aca-
demicamente est bastante desfocada.
203 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
Bibliografia
Barnow, Erik, Documentary. A history of
non-fiction film, New York, Oxford Press,
1993, p. 25.
Collier Jr., John. The future of
ethnographic film, in: Jack R. Rollwagen
(org), Anthropological filmmaking,
Philadelphia: Harwood Academic Publishers,
1988, p. 87.
Gardner, Robert, On the making
ofDeath Birds, in: Karl Heider (Ed.),The
Dani of West Irian. Andover, Mass., Warner
Modular Publications, 1972, p. 35.
Jourdan, Pierre L.-, Cinma. Premier
contact-premier regard, Marseille, Muses de
Marseille, 1992, p. 27, 28.
Leroi-Gourhan, Andr, Cinma et
sciences humaines. Le film ethnologique
existe-t-til?, in: Revue de gographie
humaine et dethnologie, n. 3, Paris, 1948,
p. 42-50.
Rouch, Jean, La camra et les hommes,
in: Claudine de France (org), Pour une
anthropologie visuelle, Paris, Mouton diteur,
1979, p. 60.
Sobchack, Vivian. Inscrevendo o espao
tico : dez proposies sobre morte, represen-
tao e documentrio, in: Quaterly Review
of Film Studies, vol. 9, fall/1984, p. 15.
_______________________________
1
Departamento de Cinema da Universidade
Estadual de Campinas-UNICAMP/So Paulo-
Brasil.
2
A cmera de Edison, o Kinetoscpio, s
era capaz de captar imagens em condies espe-
ciais de iluminao. Consequentemente, tudo era
filmado em estdio e, para isso, foram construdas
em West Orange, um subrbio nova-iorquino,
instalaes apropriadas que receberam o nome de
Black Maria.
3
Os operadores Lumire tinham como prin-
cipal palavra de ordem abrir suas objetivas para
o mundo.
4
Pierre L.-Jourdan, em seu livro Cinma.
Premier contact-premier regard, Marseille, Muses
de Marseille, 1992, p. 27-28, afirma que longe
de representar uma autntica-dana-sioux-sada-
da-noite-dos-tempos, esse primeiro documento
testemunha um choque de dois universos cultu-
rais e de seus efeitos e, sob esse aspecto, trata-
se realmente de um documento antropolgico.
Esses dois documentos, encenados em estdio,
foram rodados em 24 de setembro de 1894, dia
de filmagem de um produto particularmente
adaptado ao mercado dos Kinetoscpios: o
espetculo de Buffalo Bill. Desde 1883 essa
distrao consistia em uma turn, com exibies
em praas pblicas, chamada de Wild West Rocky
Mountain and Prairie Exhibition que se tornou
Buffalo Bills Wild West Show. Naquele ms
de setembro, o celbre William Frederick Cody,
Buffalo Bill, que se apresentava no Ambrose Park
no Brooklyn, foi convidado a West Orange e l
compareceu com toda sua trupe a carter. W.K.L.
Dickson se serve de um Kinetgrafo para registrar
Bufalo Bill fazendo uma demonstrao de tiro e
decidiu aproveitar a presena dos Sioux da trupe
para filmar Indian War Council e Sioux Ghost
Dance! (...) Esses primeiros documentos so
portanto uma verdadeira reconstituio feita por
ndios verdadeiros de falsas-verdadeiras danas
Sioux... O espetculo ao ar livre, ser filmado
alguns anos depois pelos operadores de Edison
quando estes passam a contar com equipamentos
adequados.
5
Erick Barnow, Documentary. A history of
non-fiction film, New York, Oxford Press, 1993,
p. 25.
6
Em que pese o fato da primeira experincia
antropolgica a efetivamente se servir do
cinematgrafo na pesquisa de campo datar de
1898, apenas trs anos aps a inveno deste
ltimo. Trata-se da expedio da Universidade de
Cambridge, organizada por Alfred Cort Haddon
ao Estreito de Torres, situado entre a Austrlia
e a Nova Guin.
7
Andr Leroi-Gourhan, Cinma et sciences
humaines. Le film ethnologique existe-t-til?, in:
Revue de gographie humaine et dethnologie, n.
3, Paris, 1948, p. 42-50.
8
Vivian Sobchack, Inscrevendo o espao
tico : dez proposies sobre morte, representa-
o e documentrio, in: Quaterly Review of Film
Studies, vol. 9, fall/1984, p. 15.
9
As consideraes aqui expostas sobre os
filmes Mondo Cane e Affrica Addio so tribut-
rias do trabalho no publicado de Lcio F. R.
Piedade O estigma da morte no documentrio.
10
Jean Rouch, La camra et les hommes,
in: Claudine de France (org), Pour une
anthropologie visuelle, Paris, Mouton diteur,
1979, p. 60.
11
John Collier Jr., The future of ethnographic
film, in: Jack R. Rollwagen (org), Anthropological
filmmaking, Philadelphia, Harwood Academic
Publishers, 1988, p. 87.
12
Robert Gardner, "On the making of Death
Birds", in: Karl Heider (Ed.), The Dani of West
Irian, Andover, Mass., Warner Modular
Publications, 1972, p. 35.
13
Op. Cit. p. 87.
204 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
205 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
Entre cine e foto: Un sorriso a cmara
Margarita Ledo Andin
1
Dispmomos a tratar un xesto social,
o sorriso, en canto expresin para e cara o
outro, como seduccin mediada pola cmara
que non lle cmpre resposta imediata. Imos
tratar iso que tanto encandilou a Barthes, o
aceno, ou o que Bresson tanto procurou e
que chamou modelo. molo tratar como
parte da cultura da imaxe tcnica, mis al
da sa hipercodificacin na pose, na frase
controlada e sometida a regras. molo tratar
como materia pro-flmica no cadro dun tipo
de cinema que se constre xustos nos inter-
valos nos que se funden o real, o apparatus,
o autor e un ns identitario que nos re-
presenta e fai que poidamos
recoecrmonos en figura de espectador.
Dispmonos a tratar do sorriso nun filme
inacabado, con leituras mltiplas, con
variacins canto ao nome de seu
Compostela, Finis Terrae, Galicia...- no que
adoito se localiza o inicio dun cinema galego
e tamn a escolla dun cineasta que tal se
define en tempos da xeracin republicana
(1931-1936): Carlos Velo.
Coma todo o cinema que leva canda s
unha marca de orixe, unha sinatura especial,
o cinema en Galicia, ou nos oito minutos
recuperados dunha pelcula que se deu en
chamar Galicia, parte do novo por facer (a
idea) e do novo como resultado do
coecemento (a tcnica) para a construcin
da imaxe de Galiza en tanto suxeito social
con espectativas, con posibilidades de
mudanza, nunha obra destinada pantalla,
ao pblico, cidadana e que tempos
anmalos chega sa proxeccin nica no
cadro dun evento que se realiza aln, en Pars,
co gallo de reclamar apoios para a Rep-
blica espaola en guerra.
Despois, o filme desaparece. O pblico
de seu, o destinatario no que pensou o seu
autor, endexamais o poder ver. E pasados
os anos recupranse apenas 8 minutos que
servirn para transformar a Velo e a este
fragmento nun cine con valor patrimonial.
A imaxe tcnica e a expresin do mdium
representa unha poca que forzou, entre outras
escollas, a do cine do real fronte do ficcional,
a do cinema de estudo fronte do esceario
natural. Carlos Velo optou polo documental
dende dentro da tradicin realista, dende a
herdanza da fotografa fronte da herdanza do
teatro, por mantermos os termos das discusins
e dos textos do perodo fundacional.
A foto e as marcas da cultura da foto
no cine documental ten que ver coa tradicin
realista, si, mais ten que ver de maneira
singular co que cada poca e os autores en
cadansa poca na mellor das advertencias
brechtianas entenden por realismo. A foto
e as marcas da foto no cine lvannos polas
propostas artsticas que parten e van cara
xente que come reclamou Jean Vigo , cara
a confrontacin dunha sociedade consigo, e
a relacin do real, do material pro-flmico,
coa cmara, co dispositivo. O interese en
poer dentro do mesmo plano foto e cine
ter que ver, tamn, aqu e agora, coa
reivindicacin do cinema como herdeiro da
foto na mellor da imprecacins dun Jean
Luc Godard pero, singularmente, coa ca-
pacidade seminal desta idea para movementos
que definiron os cinemas chamados nacio-
nais: fronte do cine comercial, distante da
poltica de autores, diferente a respeito de
Europa, as posicins de diferentes manifes-
tos sesentistas Cara un Tercer Cine, Por
un cine Imperfecto, etc.- teen na base non
s a identidade co seu prprio tempo como
a actitude e o legado de determinados au-
tores que os precederon. Os minutos con-
servados do filme Galicia-Finis Terrae de
Carlos Velo hannos servir para analisar e
avaliar como primeiro acto criativo da visin,
en calquera caso e tamn para a imaxe de
natureza tcnica, a ollada para o exterior.
De part de le Roi et monsieur le
Lieutenant gnrale de police,
messieurs et dames, vous tes avertis
206 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
quil est arriv depuis peu en cette
ville un animal nomm Rhinocros.
Il fut pris en Afrique dans la province
de la Bnou en 1741 par un capitaine
marinier, lequel capitaine le fut
transporter de Douala par mer en
Hollande. (...) Ce monstre este de
couleur musc. Il a une corne place
sur le nez, laquelle corne lui sert
se dfendre. Il court avec une lgret
tonnante. Il sait nager...
2
Poida que calquera de ns, habitante
dunha das cidades europeas de referencia
meiado o setecentos e a partires da descricin
exhaustiva dos pasquns que nos convocan
para o xamais visto, pasaramos recoecer
unha forma novedosa no noso entorno que
se lle apn o nome de Rinoceronte. E deste
modo entre outros modos, entrementres a
mostra pblica se vai instalando na cultura
coti, monos preparando para mudar a crenza
pola proba visbel e palpbel. At que a proba
chega a ser reproducbel e cdenos o paso
para que fixemos, harmonicemos,
organicemos o real polo medio de
procedementos tecnogrficos, con
procedementos que soerguen o valor da sa
aparencia deica situala na categora de ver-
dade e ate facernos confundir o Rinoceron-
te coa foto en calidade de duplo do Rino-
ceronte e coa foto en movemento como a
mis perfecta representacin da sa lizgaira
carreira.
E se dende o anuncio oral da chegada
do xamais visto fmonos achegando visi-
bilidade, e se coa ilusin de movemento, co
enxenio ao servizo de agachar os trucos para
conseguir un efecto coma de verdade nos
fomos situando en canto a terra pasaba
varias veces na poca do audiovisual, a
comn dos noventa, por razns tecnolxicas
tanto coma ideolxicas entramos poamos
que coa Primeira Guerra do Golfo , no
audiovirtual. Ao igual ca o Rinoceronte, a
foto e o filme deveen arqueoloxa e canda
foto e filme devn arqueoloxa o real. Un
real que a ficando marxe das imaxes que
ateigaban as vas de circulacin, cando non
esvando tras as convencins do estilo do-
cumental por mor de colaborar na construcin
de falsos. Por iso o noso interese en visitar
a foto e o cinema documental como parte
do discurso realista e dende autores do
perodo fundacional, tal e como avantamos
ao inicio do texto.
Porque o documental fotogrfico e cine-
matogrfico, mis al de ser catalogado -
dende a visin dominante como esa imaxe
do pobre e para pobres na que aletexa a fin
da Modernidade e do Humanismo laico que
se desenvolvera dende o Renacemento, tira
do principio reprodutivo un lugar de seu na
prctica das Luces a propsito do
coecemento de ns mesmos, e porque
formou parte da posta en imaxe de todo un
sculo, o vinte, abrindo a nosa intelixencia
para a alteridade e a igualdade, adoito
considerado un activo poltico. E abof que
o foi al cando o sorriso a cmara anda era
un material pro-flmico.
Na sa Histoire(s) du Cinma o Jean-Luc
Godard vai repeter unha vez tras doutra
herdanza da fotografa ?, si ; herdanza da
fotografa ?, si ; herdanza da fotografa ?, si ;
unha sobreafirmacin que nos advirte dunha
creba, na prctica e na cultura, entre cine
e foto, entre imaxes que se foron isolando
unha da outra como signo, como arte, como
obra, como expresin e como comunicacin.
Porque ao igual que os pares imaxinario-
realidade ou beleza e verdade, cine e
fotografa formaron parte do mesmo territorio
de fronteira, o da imaxe analxica que iden-
tificamos a traverso da cmara; foto e ci-
nema configuraron unha pasaxe certa que
entrelaza a tcnica co real e mais co autoral;
cine e foto puxeron en relacin un obxecto
novo, a sa intervencin en non poucas
mudanzas culturais e un suxeito encol do que
se incorpora o tempo e o paso do tempo;
foto e cine fabricaron o duplo e a sa
percepcin como construcin; cine e foto
foron un resultado e un operador da Moder-
nidade e do seu canto transparencia, a ollar.
Existen, tamn, das figuras que
manteen na sa man en vango a memoria
da terra que pasa: a persoa que olla, a
espectadora da foto ou do cine do real e a
que se mantn no fra de campo para escoller
o que vai entrar en campo. Dende aquela
exhibicin de apenas 52 segundos que apre-
senta a empresa familiar Lumire para o
pblico que acude ao Grande Caf sabemos
dun cinema maneira fotogrfica, tal e
como o adxetivou Henri Langlois, que entra
207 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
no sculo coa angueira de definir regras de
seu a partires da sa diferencia constitutiva:
a mquina. Asi, as relacins foto-cinema, que
se manifestan nas primeiras dcadas do vinte
en propostas como a candid camera e en
autores tan de culto coma Paul Strand ou Jean
Vigo, en fendas como a fotomontaxe e en
creadores como Rodchenko ou Dziga Vertov,
en experiencias como a Nova Obxectividade
e en dinamizadores como Franz Roh ou,
finalmente, na especificidade do
documentario social como meto das pol-
ticas pblicas progresistas, na Europa da
Fronte Popular ou na norteamerica reformis-
ta, par da actitude autoral a prol da iden-
tidade co seu tempo coma o tempo da cultura
industrial, da teima en aprofundar na capa-
cidade expresiva do medium, da cinefilia
como misin que conduz a animar cineclubes,
editar, discutir e axitar, a poca d paso s
teoras e canda elas s posicins que parten
do carcter e ascensin dunha nova arte,
o filme, para elaborar un modo de pensar
o cinema en canto produto para as masas,
para un pblico en presente, un pblico que
se identifica co cine e que deber ser edu-
cado para ver cine. a posicin de Bela
Balzs.
3
Teora en desenvolvemento entrementres
observa e avala o seu obxecto, Balzs tenta
localizar aquelas constantes do que el pr-
prio alcumara de nova arte arredando o que
chama teatro filmado ou o simples rexistro
de eventos das posibilidades tcnicas de
fotografar esceas dende diferentes ngulos e
escalas, incorporando o traballo expresivo do
cineasta en que se fai visbel no intre no que
se proxecta para o espectador e mete dentro
do filme o espectador. Nun dos seus epgrafes
Bela Balzs fala da realidade no canto da
verdade en el refrese a algo tan
inequvocamente cinematogrfico coma o
Close up, apndolle non s a sa incidencia
no modo de actuar, simplificndoo, se non
no gusto do pblico que comeza a preferir
o obxectivo, as faces e as voces sobrias, a
xente da ra entroques de actores
profesionais:
After the first world war and the
hysterical emotional fantasies of
expressionism, a documentary, dry,
anti-romantic and anti-emotional style
was the fashion in the film as in the
other arts.
A mostra na que imos pescudar a
materializacin da poca que vimos de
caracterizar e a sa actualizacin na posguerra
nos prxima por cultura e por pertenza. A
maior abondamento, os estudosos non s
consideran a Carlos Velo o pai do
documentalismo espaol (Rom Gubern) se
non quen fixo o primeiro documental
galeguista, Galicia-Finis Terrae, no 1936.
Ollar para o exterior sabndose, ao tem-
po, parte dese exterior constite a cerna do
cinematgrafo como arte de masas e como
activo na construcin da cidadana. O
cinematgrafo como cultura republicana e
como inclusin na tradicin patrimonial das
sociedades devn unha angueira para aquela
poca na que un galego de Cartelle, no agro
do sul ourensn, devalando cara a raia, devn
o grande animador do documental no Estado
espaol. O primeiro encrrego, dende o
Ministerio de Agricultura, La ciudad y el
campo, no 1934.
Producto da segunda repblica espaola,
4
estudante de biolxicas, activista no cine-
clube da Federacin Universitaria Escolar,
FUE, o seu perfil vai parello ao de outros
autores que deciden que o cinema expresa
un modo de creacin diferente e
contemporneo no que coinciden o disposi-
tivo, o motivo, o ponto de vista e a posta
en relacin da obra final, da pantalla, co
pblico. Da imaxe cun espectador xeral.
O real observbel, tanto na ciencia como
nas artes, o seu territorio de escolla, o
primeiro chanzo do acto de intervencin que
dende a sa formacin sistmica aplicar a
esculcar fotograma a fotograma o filme
que o conduz para a realizacin: Acorazado
Potemkin. No seu cuarto de estudante Carlos
Velo repasa unha e outra vez a pelcula-
insgnia dunha nova cinematografa para
descubrir o misterio do seu ritmo, do modo
no que os materiais adequiren sentido, a
estratexia Eisenstein amplando as
posibilidades de linguaxe do medium mentres
a sa orixe cultural e social o conducen a
Flaherty ou a Dovjenko coma os seus au-
tores-modelo. Fbula, cmara, montaxe, re-
alismo, a bagaxe que leva canda s cara
a escolla do social coma o n organizador
208 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
dos seus filmes na Repblica espaola (1931-
1936) e ser no marco da mostra realizada
en Pars en solidariedade coa Repblica,
cando o pblico que contempla o Gernika
acceda exhibicin nica dun filme, Galicia-
Finis Terrae, do que anos despois apenas se
recuperarn os poucos minutos que funcionan
a xeito de compendio da andaina fundacional
de Carlos Velo.
Cineasta de vocacin didctica, os seus
filmes acompaan nas ss a proxeccin de
historias populares como Morena Clara, de
Florin Rey, mentres a sa cabeza
construtivista e o seu corazn neorrealista
valernlle para utilizar os medios a bordo en
cada seu entorno e dende o interior de cada
seu entorno, que se pecha con Yebala-
Romancero Marroqu, en Marrocos, 1937,
camuflado como axudante de direccin na
equipa alemana que realiza este filme de
propaganda franquista, e que reabre no
Mxico, cun actor non profesional e cunha
historia de vida e de morte, con Luis Procuna,
en Torero, 1956. Porque o mis singular de
Carlos Velo tal vez sexa esta capacidade de
adaptacin biogrfica con cada fase histri-
ca: cine institucional e didctico durante a
Repblica; preparador de cineastas para o que
ser o ICAIC en Cuba co seu cine-camin;
militante nacionalista no exilio que non arreda
p da sa idea de regresar a Galiza, xa coa
Autonoma, anos oitenta, para aplicar as ideas
centrais que defendera en Buenos Aires no
cincuenta e seis e en calidade de delegado
do Padroado de Cultura Galega de Mxico
no I Congreso da Emigracin.
Pola sa prctica flmica, Carlos Velo
o documentalista deses suxeitos colectivos
nos que o proceso sustite ao evento, nos
que o Close up aln dunha figura fotogrfica
e na procura de sobriedade na interpretacin,
leva canda s ao espectador para dentro do
cadro. A sa presentacin como cineasta
o devandito encrrego do Ministerio de
Agricultura, La ciudad y el campo, unha
pelcula exemplar a propsito da idea de
cidadana en tanto aprendizaxe dun modo
novo de entender a producin e o reparto
de bens, que se contina no filme
Almadrabas, realizado con financiamento
comercial, e cuxo tema, a pesca e a conserva
do atn, concle o ciclo de cinema instru-
tivo. A linguaxe cinematogrfica de Griffith;
a voz unha sorte de refrexo condicioado e
automtico que non se diferencia da pulsin
que a imaxe vai trasladando tal unha cadea de
montaxe, e na banda sonora msica culta de
autor local Sainz de La Maza e estilo
atemporal: Shumann. No paso que segue d
o chouto para o cine puro, para a abstraccin
sen terra na que fincar, para Infinitos, 1935,
pelcula da que non se ten topado rasto
material no que a pegada vertoviana non est
no tema se nn no modo de utilizacin do
dispositivo para facer un percurso cara o mis
ignoto, as cosmogonas, multiplicando na
msica de Halfter, o seu compositor de cabe-
ceira na Repblica e tamn no seu perodo
mexicano mis fecundo , o encontro entre
imaxe e son como universo dunha nova arte.
E na fin: Galicia, premiada en 1937 na
Exposicin Internacional de Pars. A cmara
como constitutiva e como constatacin da sa
capacidade para ver mis al, para traernos
a solpresa dende o prximo, dende o xa
coecido, como elemento que se transforma
en espectculo, que devn nese algo que atrae
a nosa atitude contemplativa porque incor-
pora a incerteza nas nosas espectativas. A sa
confianza na cmara, en descubrir a ollada
a cmara, iso que tanto desexaba Vertov; o
seu sentido da posta en escea e da direccin
das personaxes, personaxes que se representan
a s prprias para a cmara as mazadoras
do lio e as segadoras de Cartelle, por
exemplo; a gestalt, a forma no espazo como
sincdoque e como harmonizadora do ritmo
e da relacin entre planos; o contrapicado
que enfatiza o retrato; o movemento
panormico do ollo da cmara viaxando pola
descripcin da paisaxe habitada en
sobreimpresins que fan coexistir a xeografa
humana coa voz do narrador; o que se pode
facer cun suxeito invisbel, o campesiado
galego dos anos trinta, fica nos escasos
minutos conservados de Galicia, un filme que
ben podera entrar nunha antoloxa desa
relacin primixenia do real co cineasta, do
real metaforizndose nunha imaxe que ,
tamn, unha producin, dicir, un resultado
diferente dos elementos que participan da sa
composicin:
Cando esa campesia olla para Velo
e sorr est escrebendo a historia do
cinema. Cando Velo quen de acoller
209 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
o seu riso, a risco de rachar co
protocolo obxectivista, est facendo
cine. Cando sorrimos diante desa
irrupcin do imprevisto encol o dis-
positivo, como espectadores estamos
entrando no cine.
5
O respeto polo medio dende a cultura
fotogrfica , tamn, ontolxicamente, o
respeto polo seu obxecto, dicir, pola re-
alidade e pola relacin coa realidade dende
a distancia xusta. s veces a traverso de
convencins coma o retrato que, lonxe de
estandarizar, van e configuran un modelo
duplo de representacin para ese dous, muller/
home que en Velo vai ser unha sorte de verso
e reverso irreconcilibel. Faire la photo,
o encadre ascendente e enftico, a imaxe
esttica como para permanecer, como un
souvenir, a masculina. A secuencia en
tempo real, a ollada demorada, o plano xeral
e a figura metida na terra, fiminina. O Velo
reprodutor dos valores antergos est na pose;
o Velo como artista civil est na fotoxenia.
O Velo da axit-prop, entroques, est nas
esceas, nos tableaux. E nas esceas do
comn, a onde somos suxeitos colectivos,
n e mltiplo, onde o virtuosismo do cine-
asta reaparece guiando cada movemento da
cmara
6
, establecendo o ritmo interno e o
contrapunto con planos construidos coma
unha gestalt, nos que a fabricacin dunha
certa imaxe ten o valor dunha icona, dunha
figura flmica na que o todo tamn se re-
presenta e onde confle o tempo do filme
co vivido polas personaxes, polo autor e polo
espectador, e dicir, por ns. Se as for, estamos
no cinema.
Na fin, a atmsfera. Construda dende o
medium, dende a expresividade que permete
o medium. A sensacin que experimentamos
ao entraar o riso. O abraio dun obxecto pobre
convertido nunha escultura cintica que se
insere nos ceos. A beleza a harmona
que vai pousando nesas variacins do pr-
ximo, nesa verdade de cada material. Que
foi un dos eslogans con que se nos anunciou
a boa nova.
A reaparicin de Velo no exilio mexi-
cano ser, outravolta, como cineasta de alento
didctico e sovitico que traballa entre
o coarenta e seis e ate o cincoenta e n no
meto dos noticiarios, ou que elabora, no
1954, as cpsulas de Cine-Verdad, unha sorte
de prefabricado de tres minutos, con imaxes
de documentario e publicidade, e que com-
bina cunha tentativa inacabada de cinema
moderno, Mxico mo, con Cesare Zavattini
no guin.
No 1956 Velo presenta a sa proposta para
establecer en Buenos Aires unha base para
un cine galego educativo, documental e
informativo. Tres niveis funcionais coa fina-
lidade de pular por un cinema militante tras
os pasos do de correspondencia que se
desenvolvera nos anos trinta entre a
emigracin e os seus lugares de orixe,
aqueloutro cinema de encrrego, de particu-
lar a particular, que atravesa o atlntico e
que pago, por exemplo, pola agrupacin
bonaerense Sociedad progresista Hijos de
Fornelos y Anexos para ver as imaxes da
inauguracin do local do sindicato agrcola.
Un cinema de encrrego ao que Jos Gil,
o iniciador da industria do filme en Galicia,
trata coma obra cinematogrfica que arestora
o nico rexistro da bandeira republicana
na Galiza que, como sabemos, nen tivo tempo
para se enfrontar ao golpe fascista, sendo
pasto dunha das razzias represivas mis
cruentas da Pennsula. Os asasinatos,
violacins e expoliacins; as fuxidas ao
monte; a permanencia do corpo de guerrilla
galaico-leonesa en toda a dcada dos
coarenta; a sada de tres mil refuxiados
galegos cara Francia que non se acolleron
oferta de retorno, ou esa vintena de cativos
que se engaden aos nenos de Asturias e de
Euskadi para entrar nos barcos que os liberan
da guerra cara territorios amigos, son parte
dos sinais e dos efectos da represin
franquista encol esa Galiza que se expresa
como personaxe colectiva na derradeira
producin de Carlos Velo.
7
Aos cen anos do Banquete de Conxo,
o xantar de irmandade que no 1856 xuntara
a intelectuais e operarios opoentes para ficar
na historia como smbolo da anomeada
segunda xeracin galeguista, Buenos Aires
celebra o Primeiro Congreso da Emigracin
Galega no que Carlos Velo, vice-presidente
do Padroado da Cultura Galega en Mxico,
presenta unha ponencia co ttulo Proposta
de creacin do Centro Cinematogrfico
Galego. Nela revelar a sa crenza no
cinema como el instrumento ms poderoso
210 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
de nuestro tiempo para la intercomunicacin
entre los hombres y la propaganda del
progreso. Como programa, a proposta de
Velo artllase arredor das catro ponlas da
industria cinematogrfica: Producin, Merca
e Intercambio, Distribucin e Exhibicin para
os tres xneros citados educativo, docu-
mental e informativo aln de contemplar
as posibilidades dunNoticiero Galego
mensual que establezca su propia red de
exhibiciones en Amrica y Espaa y sus
sistemas de intercambios con otros noticieros
mundiales ao p da organizacin de Gru-
pos de Cineaccin Rural, que llevarn a las
aldeas y caseros de Galicia el mensaje
cultural del cinematgrafo.
8
Na disposicin
Novena (Transitoria) Velo propnlle ao
Congreso que inmediatamente ordene la
filmacin en 35 mm., blanco y negro de los
eventos del mismo. A filmacin, hoxe
depositada no CGAI Centro Galego das
Artes da Imaxe , tamn a derradeira imago
dunha emigracin e un exilio militantes.
Por vontade e por casualidade Carlos
Velos un arquetipo republicano, que vive
o cinema como instrucin pblica e para quen
a vocacin de seu devala para o neorrealismo
e para o filme didctico entrementres tece
unha sorte de simbiose da cmara, a
personaxe e tamn o espectador. Un dos seus
documentais do perodo final, dos setenta,
Universidad Comprometida, coa visita de
Allende Universidade de Puebla, podera
utilizarse como proba das aplicacins da
montaxe dentro do directo. a mesma
frmula que anda podemos rastrexar nos seus
primeiros filmes, cunha persoaxe-modelo,
un suxeito colectivo e mis a sa implicacin
ben no sistema produtivo, ben na sociedade,
e cunha cmara que segue a personaxe.
Realizacin de honra nos tempos do
neorrealismo e prototipo da sa influencia
na creacin de cinematografas nacionais
tamn en Latinoamrica, o seu filme Torero,
a pelcula que recebe en Cannes o Premio
do Xurado, restaura ese dobro rexistro da
imaxe como fbula, como documento e como
historia melodramtica.
Se no noso interese est localizarmos os
alicerces dunha particular andamiaxe que
soergue o cinema nacional-popular nos anos
sesenta-setenta, un manifesto coma o que se
publica na Universidade Autnoma de Mxi-
co, encol a Constitucin del Comit de
Cineastas de Amrica Latina
9
, cando afirma
que o autntico cine latinoamericano e ser
aquel que contriba ao desenvolvemento e
fortalecemento da cultura nacional e sirva de
instrumento de loita e resistencia, ten ancoraxes
moito mis atris e dende diversos territorios
polticos e culturais que van puntuando as
aportacins singulares de cineastas,
movementos e filmes.
as que xunguindo ideacin e
realizacin; promovendo escearios estbeis
para a formacin e mais a divulgacin,
establecendo frmulas novedosas para facer
pelculas; entrando mal ca ben en canles
especiais de distribucin (por exemplo nas
redes de Arte y Ensayo, se referimos o caso
espaol), nomes coma os de Fernando Birri,
Cine y subdesarrollo, ou o texto sempre
citado de Solanas y Getino Hacia un Tercer
Cine, desde Argentina; A esttica da Fome
ou Abaixo co populismo de Glauber Rocha;
Garca Espinosa e o seu manifesto Por un
cine imperfecto; Jorge Sanjins con Pro-
blemas de fondo y contenido en el cine
revolucionario, foron acompaados por fi-
guras como as de Carlos Velo e foron
conscentes da importancia de drense a
coecer mundo adiante xusto no seu mo-
mento. De modo sintomtice estes textos
estn, arestora, reaparecendo en todas as
compilacins sobre Teora do Filme.
10
Cuba e Latinoamrica, nova paisaxe para
Carlos Velo, traen tamn para dentro do
segundo e decisivo perodo de asentamento
do documental a constatacin de que posbel
un cinema con recursos escasos, cos medios
mis a man, dende cineastas de non
profesionais, e para facer pelculas que, ao
mesmo tempo, sexan exemplo dun proceso
de toma de conciencia e da sa transferencia
tanto cara a teora como cara a atitude flmica.
O retorno da suxetividade para a accin
poltica faise a traverso da funcin central
que se lle apn cultura, por estaren con-
vencidos, como expresaron Birri ou Sanjins,
que o imperialismo no s controla as fontes
da riqueza se non que trata de enxoitar as
fontes da imaxinacin. A identidade entre
cinema e mis nacin como dialctica cri-
ativa, na procura da sa prpria tradicin
211 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
expresiva, como programa de cine concreto
e como decraracin de amor entre o binomio
cmara-realidade, pobo e autor, ten os ecos
daquelas mesmas angueiras que construu a
xeracin do cinema que se define a partires
da foto e co realismo como categora his-
trica: o tempo en presente, o secularismo
como filosofa, a inclusin como cidadana.
Os efectos mis ca as convencins do re-
alismo, como pensamento nodal. Bertolt
Brecht ao fondo.
O termo que unifica o esceario novo da
representacin ser, precisamente, o de anti-
imperialismo. O mapa de relacins e as
experiencias varan de situacin a situacin,
segundo a rbore xenealgica de candasa
cinematografa e, sobremaneira, do vai e vn
cronolxico da represin en cada pas. A
ideologa pasa a se nutrir, aqun e aln, dos
tericos da diferencia, de Franz Fanon, de
Memmi, amn das decraracins dos co-
mits de cineastas. En calqueira caso, e pola
primeira vez existen pelculas de
Latinoamrica que amosan como son os
pases latinoamericanos portas adentro, pa-
ses nos que por forza se tn que viver,
reflexiona Chanan, na presentacin do pro-
grama do oitenta e tres no National Film
Theatre londinense, e ao facelo as contina
e vir dende o seu prprio pas ate ns,
aprndennos a pensar outravolta sobre os
pases de ac, os territorios do capitalismo
corporativo trasnacional que, por suposto,
inclen as major cinematogrficas.
11
Clan-
destinos y alternativos, como proclamar nos
anos de chumbo, 1977, o Comit de Cine-
astas Latinoamericanos, o referente nacional
como origo, para autores e espectadores, crea
un meto de entendemento que en moi cativas
ocasins conseguir se exteriorizar coma
nest4e momento.
Un esgo unificador a poltica, e ben
ao lonxe onde a vegadas se albiscan as
custinss estticas, ou a pesquisa e o debate
encol definicins, segundo a sa funcin e
o seu modo de producin, que arredan a arte
de masas da arte popular. Outro esgo comn
o choque frontal cos modelos do cinema
comercial. Neste senso xa antolxica a
posicin de Garca Espinosa sobre un cine
imperfecto consonte cunha nova orde eco-
nmica e cultural, ao por en custin aquela
angueira que merodea pola cachola do domi-
nado e pola que anceia, algn da, ter todo o
que ten o cidadn dos pases mis desenro-
lados. Pero o escritor e cineasta cubano foi
absolutamente craro: a meirande parte da
humanidade non imos chegar endexamais a ese
nivel de consumo, porn veleiqu onde radica
a sa aportacin cualitativa a cultura dnos
novos modos de sentir e de disfrutar, modos
diferentes dos modos do consumo irracional.
esta a base do cine imperfecto. Non se
someter aos estndares, nen tcnicos sequer,
do dito cinema comercial.
Zavattini traducido e recibido en Cuba,
Carlos Velo colaborando co ICAIC, os ci-
neastas militantes de SLON a elite da
Nouvelle Vague e non s sostendo proxectos
en Cuba, Ivens en Cuba, os americanos
opoentes en Cuba, os latinoamericanos
resistentes exilados, como Fernando Birri, en
Cuba,
La Batalla de Chile, editada en Cuba.
Cuba e a normalizacin do documentario
como longametraxe. Cuba e a co-producin:
Histria do Brasil. Cuba, e a producin dun
filme no 1948 sobre os dirixentes comunis-
tas galegos Seoane e Gaioso que regresaran
clandestinamente para organizar a guerrilla
e que son asasinados en Corua.
12
Ao longo do sculo vinte,
sobranceiramente a partires da sa segunda
mitade a imaxe xusto iso do que fico
excluda, resntese Barthes a traverso das sas
innmeras citas de cabeceira, nos beizos e
nas verbas de Phdre (Racine): Vno,
pxenme corada, empalidecn ao miralo...
Unha sorte de pretrito perfecto, pola sa vez
reconstrucin e actualidade, que abstrae e trae
o tempo, que abstrae e trae para sempre a
lembranza por iso a sa comparanza coa
fotografa e non a representacin dun
acontecemento. Quizais tamn por iso que
a foto e mis o pretrito perfecto estean tan
perto da seduccin
13
. Cecais porque o espec-
tador, o lector, o observante, saiba que o seu
papel o de atopar ese lugar, ese azar, esa
situacin esvada, ese determinado xeito de
sere ese minuto que fai tempo xa que pasou
[e no que] hoxe se acobilla o futuro. Con
esta idea seminal do inacabbel Walter
Benjamin rindo homaxe labrega que lle
sorru ao Carlos Velo cineasta, seductor e
militante nos confns da Terra. Oito minutos
nos que hoxe se acobilla o futuro.
212 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Bibliografa
Balzs, Bela, Theory of Film, Londres,
Dennis Dobson Ltd, 1952.
Barthes, Roland, Fragments dun
discours amoureux, Pars, Seuil, 1977.
Chanan, Michael, Twenty-five Years of
The New Latin American Cinema, Londres,
BFI, 1983.
Fernndez, Miguel Anxo, Carlos Velo,
vida e exilio, Vigo, A Nosa Terra, 2000.
Ledo Andin, Margarita, Del Cine-Ojo
a Dogma95. Paseo por el amor y la muerte
del cinematgrafo documental, Barcelona,
Paids, 2004.
Materia de
Galicia in La Galicia Moderna, catlogo
exposicin, Centro Galego de Arte
Contempornea, CGAC, Santiago de
Compostela, 2004.
Miller, Toby e Stam, Robert, Film and
Theory, Oxford, Blackwell, 1999.
_______________________________
1
Universidade de Santiago de Compostela,
USC, Departamento de Ciencias da Comunicacin.
2
Pasqun repartido por Royal de Luxe no
transcurso da sa performance pasa-ras Le
Rinhocros, Arles, Francia, RIP, 1997.
3
Bela Balzs, Theory of the Film, Londres,
Dennis Dobson Ltd., 1952.
4
Para textos de Velo vxase Actas do I
Congreso da Emigracin Galega, Buenos Aires,
1956 e Vieiros, Mxico, 1958. Sobre Velo, Miguel
Anxo Fernndez, Carlos Velo: vida e exilio, Vigo,
A Nosa Terra, 2000 e Fernando Redondo, Carlos
Velo e o cine didctico na segunda repblica, (TD),
Facultade de Ciencias da Comunicacin, Univer-
sidade de Santiago de Compostela, 2001.
5
Vxase Margarita Ledo Andin, Del Cine-
Ojo a Dogma95. Paseo por el amor y la muerte
del cinematgrafo documental, Barcelona, Paids,
2004.
6
En Fbulas de lo visible (Acantilado,
Barcelona, 2003), ngel Quintana fai un percor-
rido magnfico tanto polos aspectos formativos
do rexistro como polos autores que dende os
primordios e arestora insisten no cinema como
medio materialista e como insignia da cultura laica
(Arheim, Cavell, por exemplo).
7
Datos recollidos da intervencin do profesor
Enrique Lister co gallo do I Congreso da
emigracin e o exlio galego en Francia, orga-
nizado polo Centre dEtudes Galiciennes-
Universit Paris III, Pars, Instituto Cervantes-
Colegio de Espaa, 25-27 de marzo de 2004.
8
Primeiro Congreso da Emigracin Galega,
documentacin, crnicas, Buenos Aires, 1956.
9
Hojas de Cine: Testimonios y documentos
del Nuevo Cine Latinoamericano, Mxico, UAM,
1988.
10
Vxase Film and Theory, segundo volumen
da triloga de Toby Miller y Robert Stam.
11
Michael Chanan, /Twenty five years of
latina,merican cinema /, Londres, Channel 4/BFI,
1983.
12
Exhibido por Vctor Santidrin no I
Congreso sobre a emigracin e o exilio galego
en Francia, Centre dtudes Galiciennes,
Universit Paris III, Pars, Instituto Cervantes-
Colegio de Espaa, 25-27 de marzo de 2004.
13
Roland Barthes, Fragments dun discours
amoureux, Pars, Seuil, 1977.
213 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
Lgrimas para o Real a inscrio da piedade
atravs de documentrios melodramticos
Mariana Baltar
1
Introduo
Desde a inveno da instncia
documentria como forma narrativa de trans-
misso de um saber organizador do mundo
que elementos de seduo so amplamente
utilizados. Seduo para que o espectador
corrobore o argumento transmitido pela obra
como a verdade das coisas do mundo. , e
a teoria cinematogrfica j tratou de mostrar,
esse elemento de seduo que instaura o
estatuto de verdade para a realidade trans-
mitida pela obra classificada como
documentrio.
Partiremos dessa afirmao como fato,
bem sabemos que poderamos ampliar a
reflexo, mas aqui, neste artigo, as metas so
outras. A idia de seduo coloca em questo
as incorporaes das estratgias da fico no
domnio do documentrio; algo sem dvida
presente ao longo da histria do gnero. Mas
preciso ressaltar a incorporao cada vez
mais freqente, pelo menos no universo do
documentrio brasileiro, das estratgias me-
lodramticas. Mais que qualquer outro ele-
mento da fico, o melodrama que vem
conduzindo o nvel de identificao entre
espectador e personagens do documentrio.
A idia de Melodrama
2
, tal como utili-
zada aqui, est vinculada ao uso de cdigos
de uma determinada narrativa cinematogr-
fica que inscrevem um dilogo com o p-
blico na ordem da identificao sentimental,
pois est relacionado com tratamentos nar-
rativos de temas caros ao universo da vida
privada, ao mundo das paixes; de um
sentimentalismo que se contrape ao padro
racionalista-naturalista. Universo esttico e
temtico que enraizada em formas narra-
tivas literrias e teatrais tributrias dos
folhetins e, no universo teatral, com gestuais
exagerados e onde a msica sublinha, comen-
ta ou antecipa a ao
3
.
Com o rdio e o cinema, o melodrama
se fixa a partir de uma esttica lacrimosa,
da emoo e da sensao de suspense.
preciso reconhecer, colocando em perspec-
tiva a historicidade dos usos dos elementos
da linguagem, que tal abordagem da com-
paixo e do medo foram expressas de maneira
to fortemente marcada que acabaram por
constituir uma gramtica do melodrama.
Vinculando, por exemplo, a utilizao de
certos tipos de trilha sonora associada
aproximao do quadro nos rostos dos per-
sonagens, como indicativo de inscrio da
interioridade e marcando, com isso, uma
estratgia de identificao sentimental.
De maneira anloga, podemos pensar em
usos de linguagem que estabelecem uma gra-
mtica documentria; tais como o plano mdio
como marca realista, a locuo em voz over,
o uso de entrevistas e o olhar que encara a cmera
como as marcas da representao do real. So
formas de articular o filme que carregam con-
sigo amemria de seus usos, vinculando-se
a um modelo de tratamento esttico. Uma voz
over, por exemplo, nem sempre usada no
domnio do documentrio, mas certamente ela
, em primeira instncia, identificada com um
sentido de explicao da realidade prprio a tal
domnio, numa relao de comprovao com as
imagens a ela vinculadas. Essa ordem de iden-
tificao importante pois demarca, na lingua-
gem, uma historicidade que influencia no pro-
cesso de significao do filme.
sob essa perspectiva da historicidade
que colocamos em correlao Melodrama e
Documentrio. primeira vista, parece in-
coerente; j que o domnio do documentrio
carrega em si o peso de uma autoridade
socialmente imputada aos filmes, que tem a
ver com a expectativa darepresentao do
real; ou seja, o que autoriza os filmes clas-
sificados como documentrios em ser um
discurso sobre e do real. Nesse sentido, a
conexo melodrama e documentrio seria
improvvel se pensarmos exclusivamente na
relao de oposio entre o sentimentalismo
encampado pelo melodrama e a racionalidade
abarcada pela autoridade do domnio do-
cumental.
214 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Porm, preciso lembrar que o
documentrio, embora tenha ligaes ntimas
com o mundo do no-ficional como um todo
(universo da utilizao cientfica das imagens
cinematogrficas desde o final do sculo XIX;
esse sim, radicalmente atrelado ao naturalis-
mo racionalista), como gnero cinematogr-
fico fundado com base na capacidade de
estabelecer vnculos de identificao com o
pblico para fins de mobilizao. O tal
elemento da seduo a que me refiro na
abertura do artigo. E nesse sentido, tribu-
trio da narrativa clssica ficcional.
Quando o cientista poltico ingls John
Grierson cunhou o termo documentrio
e institucionalizou o gnero, o fez para marcar
uma contraposio de tratamento da realida-
de frente racionalidade naturalista do
domnio no-ficcional vigente ento, no final
dos anos 20. Essa contraposio era justa-
mente a juno com o clssico-narrativo (no
qual se insere o melodrama) e por isso Robert
Flaherty, com seus filmes Nanook e Moana,
foi o modelo a ser exaltado e seguido.
A idia de Grierson era propor um tipo
de cinema que carregasse a autoridade
racionalista junto com os efeitos sentimen-
tais funcionando como um educador das
massas, eficiente exatamente por seu poten-
cial atrativo. Adjetivos como didticos
passam a fazer sentido para o documentrio
a partir dessa proposta, que ser a fundadora
da uma tradio ainda hoje respaldada.
Acreditamos que o uso do melodrama se
faa especialmente em documentrios ampa-
rados na construo de personagens e his-
trias de vida individuais, pois torna-se
necessrio estabelecer uma relao mais
intensa entre o pblico e os indivduos que
figuram como personagens desses filmes.
preciso, num modelo de documentrio
que se quer afastar da articulao tradicional
(amparada em figuras generalizadas, em
grandes temas explicados numa argumenta-
o de base sociolgica), inscrever este tipo
diverso de identificao mais pessoal entre
obra e espectador.
Esse tipo de documentrio de persona-
gens comea a ter mais relevncia a partir
dos anos 80, configurando-se como tendn-
cia a partir dos anos 90. E no por acaso,
mas por mudanas importantes no contexto
poltico do mundo e do Brasil. A segunda
metade dos anos 80 marca um certo
desmantelamento da mobilizao poltica
tradicional e uma queda da influncia das
teorias de esquerda no pensamento, e pr-
tica, intelectual e artstica. O vocabulrio
sociolgico de inspirao marxista, que in-
clui termos como engajamento e classe,
parecem, nesse panorama, meio anacrnicos.
No contexto brasileiro ainda mais
presente essa alterao, pois cinema no Brasil
sempre foi intimamente relacionado
atividade poltica. A figura do cineasta era
no contexto de modernizao (em especial
a partir dos anos 60) fundida com a figura
do intelectual. Da segunda metade dos anos
80 em diante, essa correlao vai
gradativamente se dissolvendo em funo de
mudanas no panorama poltico.
Desmantelamento dos movimentos sociais
depois de anos de ditadura militar e, espe-
cialmente, os macabros frutos que a peda-
gogia do autoritarismo deixou como
ensinamento podem ser os responsveis por
uma certa exausto do pensamento de esquer-
da e da arte engajada.
A crescente tendncia no domnio do
documentrio da produo de obras que
queiram se afastar do modelo sociolgico
e de imperativo revolucionrio e poltico dos
anos anteriores um sintoma desse cenrio.
O nvel de identificao ser, portanto,
conduzido de uma maneira a ser mais pes-
soal que coletivo.
Nessa perspectiva, sentimentos de como-
o, alegria (a instaurao do riso, por
exemplo) e/ou piedade podem vir tona. Com
relao os documentrios que tematizam a
regio Nordeste, a inscrio da piedade fi-
gura como o elemento mais comum, recu-
perando o tratamento tradicional do tema
pelos discursos que produziram o Nordeste
como unidade reconhecvel simblica e
politicamente. esse sentimento de piedade
que ajuda a formular a equao simblica
que iguala, e condena, a regio e os nordes-
tinos idia de atraso e pobreza.
Nordeste como inveno vinculada Pi-
edade
Nordeste no uma mera delimitao de
espao geogrfico. uma regio que vem
sendo pensada e estruturada a partir de
215 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
delimitaes mais simblicas do que propri-
amente fsicas ou naturais. H um processo
dinmico de embates que reuniu, para o
Nordeste, uma histria comum e o transfor-
mou num objeto, uma unidade organizada em
um contexto scio-histrico em que figura,
no Brasil, os debates da identidade nacional.
a partir dos anos 20, e mais precisamente
dos anos 30, que se inicia essa organizao
do imaginrio regional, e conseqente pro-
cesso de identificao regional, pois era
preciso estabelecer as diferenas para melhor
amparar, ou para se lutar contra, o projeto
nacional modernizador.
As lutas polticas no contexto da urba-
nizao e industrializao, da oligarquia
cafeeira e da decadente oligarquia do acar,
e de uma incipiente burguesia industrial
colocaram em cena intelectuais, cronistas,
literatos, polticos e artistas num movimento
de pensar o Brasil. Todos articulados para
demarcar as foras e os papis polticos de
um pas que iniciava a tentativa de deixar
para trs a estrutura rural. nesse contexto
que os embates vo se dar em torno de
dicotomias muito importantes na poca, tais
como rural X urbano e arcaico X moderno.
Vindos de variadas maneiras (visual,
literria, musical, cientfica, jornalstica), tais
discursos instituiro certo imaginrio que vai
sendo (re)trabalhado desde ento, mas que
acabou por fixar para o Nordeste um dado
sentido de pobreza e sofrimento, porm
recheado de uma festividade pueril. A forma
como esse imaginrio ganha corpo varia
ideologicamente, passando da denncia po-
ltica das causas da misria ou chegando ao
casusmo personalista, indicando ora
mobilizao e questionamento social, ora
posicionamentos conservadores.
Era disseminada uma prtica de descri-
o das misrias, dos horrores, especialmen-
te vinculados seca. Descries que do a
tnica na composio de um imaginrio
sofredor para o espao do serto e do norte.
Essa mesma tnica de sofrimento e de
pedinte vai atravessar, e perdurar, para o
imaginrio do Nordeste.
A descrio das misrias e horrores
do flagelo tenta compor a imagem
de uma regio abandonada, margina-
lizada pelos poderes pblicos. (...) S,
pois, com crise desses paradigmas
naturalistas, com a emergncia de um
novo olhar em relao ao espao (...)
vai ser possvel a inveno do Nor-
deste como reelaborao das imagens
e enunciados que construram o an-
tigo Norte.
4
a produo de um novo olhar
regionalista no incio dos anos 20 que or-
ganiza o Nordeste como unidade, diferenci-
ando-o levemente, enquanto espao simb-
lico, do Norte/Serto, produzido antes a partir
de pressupostos naturalistas. O tema do
sofrimento, do serto smbolo e da questo
de uma certa inferioridade em relao ao sul
(que tambm ser, nesse novo contexto,
dividido em regies, e onde aparece o
sudeste) permanecem compondo o imagin-
rio tradicionalista sobre o Nordeste, inclu-
sive recuperando as prticas discursivas de
descries dos flagelos. fundamental co-
locar essa separao em regies dentro de
uma perspectiva de mudana maior no
paradigma do pensamento sobre o pas.
O antigo regionalismo considerava as
diferenas entre os espaos do pas como um
reflexo imediato da natureza, do meio e da
raa. O novo regionalismo ver nas dife-
renas entre as regies o somatrio do que
compe a nao. Nesse sentido, ser impor-
tante realizar todo um inventrio (descritivo
e explicativo) dos elementos e manifestaes
caractersticos de cada regio o que ser
realizado no mbito das crnicas e da im-
prensa, dos discursos literrios e das artes
visuais.
Entre os anos 20 e 40, abundantes so
as notas de viagens desbravadoras ao Nor-
deste que alimentam jornais como Estado de
So Paulo. Em meio ao furor modernista,
antropofgico e nacional-popular, vai-se
organizando uma nao que se constri a
partir da oposio entre o regionalismo
paulista
5
(do cosmopolitismo, da modernida-
de urbana) e um regionalismo nordestino (da
valorizao do medieval, do rural, do tradi-
cional), cada um proclamando sua superio-
ridade em relao ao outro.
Esta tenso gera uma curiosidade pelo
pitoresco e o Nordeste configurava-se
exatamente como esse pitoresco. possvel
atestar tal afirmao com o tremendo suces-
216 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
so de espetculos como o de Cornlio Pires
no Teatro Fnix em 1926, Brasil Pitoresco
Viagem de Cornlio Pires ao Norte do
Brasil: feito para que o pblico risse das
coisas pitorescas, exticas, esquisitas, rid-
culas, dos irmos do Norte.
6
O pitoresco produz os esteretipos do
risvel ainda hoje presente no imaginrio
sobre o nordestino. Nesse contexto, o riso
- sobretudo com relao ao universo de uma
fala e cotidiano rural - vir junto com a
descrio dos flagelos, ligados, ambos, pela
rede da simplicidade e do atraso. Pelo menos
do ponto de vista de um regionalismo
paulista, preocupado em disseminar uma
srie de discursos sobre a regio.
Por outro lado, aparece uma certa
exaltao s tradies rurais, atravs de um
discurso de descoberta e de valorizao, que
estabelece um contraponto modernizao
da vida urbana. Essa exaltao se d a partir
do movimento chamado de Regionalista,
iniciado em Recife, por volta de 1926, que
tem no socilogo Gilberto Freyre o principal
expoente. Esse nordeste tradicional que
exaltado pelo movimento regionalista nordes-
tino acaba por respaldar, tambm, a unio
de foras oligrquicas pela reivindicao em
favor da manuteno de um grupo poltico
em decadncia os representantes da em-
presa aucareira.
A reflexo e as pesquisas sobre o Nor-
deste de Freyre, desde a colnia at o imprio,
conferiram para o espao uma histria e
memria comum o que efetivamente o
transformou em regio. Por sua j influncia
no pensamento intelectual, Freyre agregou
correligionrios na causa regional (desde pelo
menos 1925, quando publicou no Dirio de
Pernambuco o Livro do Nordeste) e convo-
cou a reunio do Congresso Regionalista do
Recife, em 1926. No manifesto, escrito por
Freyre, ficam claras as idias do movimento:
H dois ou trs anos que se esboa nesta
velha metrpole regional que o Recife um
movimento de reabilitao de valores regi-
onais e tradicionais desta parte do Brasil.
7
As pesquisas e prticas discursivas
encampadas no contexto do movimento
regionalista seja na literatura (Mrio Sette,
por exemplo), seja nas artes plsticas (Ccero
Dias ou Lula Cardoso Ayres) produziram
um verdadeiro mapeamento da tradio. O
pensamento de Freyre e de outros tradi-
cionalistas do movimento regionalista ope
o Nordeste ao Sudeste na mesma chave que
opem o rural ao urbano. O Nordeste o
espao do arcaico pois esta foi a sociedade
criada pela empresa aucareira e do algodo.
Que fundou tambm uma tradio de fortes
laos familiares e personalistas e que pre-
cisam ser resgatados, segundo estas formu-
laes.
Fica perceptvel, assim, como o discurso
desse movimento pde ser apropriado para
a defesa das relaes paternalistas de uma
elite temerosa frente s mudanas do projeto
modernizador. So essas apropriaes que
fixam o imaginrio tradicionalista sobre o
Nordeste como ligado tradio rural e
paternalista (a despeito de algumas vozes
dissonantes no movimento regionalista mais
ligadas denncia social). O trao paternalista
se reflete, at os dias de hoje, numa poltica
assistencialista, em que o sentimento da
piedade ser a fora motriz (pois ir motivar
a ajuda, e no o direito cidadania).
A migrao tambm vai surgir como tema
vinculado ao Nordeste pela relao de opo-
sio entre rural e urbano, que ganha fora
com o crescente fluxo de mudanas de
nordestinos para o sudeste a partir da Pri-
meira Guerra Mundial. Mas sua
tematizao, e a fixao do sentido para
os fluxos migratrios que liga alteridade e
pobreza, se dar apenas a partir da msica
de Luiz Gonzaga difundida pelas rdios nos
anos 40. Novamente, a poltica paternalista,
a memria dos sofrimentos, a saudade dos
valores da tradio familiar sero a tnica
expressa nas letras dessas msicas.
A imagem do migrante ser quase sem-
pre a do rural que se desloca para a cidade,
e no se ajusta. Os meios de comunicao,
mais notadamente o rdio, tiveram papel
primordial pois eram pea chave dentro do
projeto desenvolvimentista a partir do Esta-
do Novo e dos anos 40. Eram veculos de
integrao nacional e at certo ponto, a
prpria migrao era uma prtica estimula-
da. Porm, quando se associa migrao a
Nordeste (a despeito de outros fluxos migra-
trios, internos e externos, importantes),
velhos conceitos vinculados ao imaginrio do
atraso que cerca a regio voltam tona.
217 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
apenas a partir da segunda metade dos
anos 40 que a fixao do espao da tradio
(e com ele certa nostalgia) vai ser modifi-
cada. A influncia de teorias marxistas no
pensamento social e artstico do pas que
j se iniciava em meados dos anos 30, mas
que ter fora mesmo a partir de 45, com
o fim do Estado Novo traz outras pers-
pectivas para os sentidos conferidos s re-
gies e para a construo da identidade
nacional.
Os temas do Nordeste tradicionalista
continuam a vigorar, mas so acrescidos de
um cunho de denncia social, devido ao
imperativo da utopia da revoluo. nesse
contexto que aparece a poesia social de Joo
Cabral de Melo Neto; a pintura de Portinari
e de Di Cavalcante e, no pensamento social,
a obra de Josu de Castro
8
.
Pensar o pas passa a ser tarefa da classe
mdia intelectual influenciada pelos discur-
sos de esquerda, tentando estabelecer uma
aliana com o povo na luta contra o capi-
talismo e o imperialismo. imprescindvel
lembrar o contexto de redefinio das foras,
e modelos ideolgicos, internacionais a partir
do final da Segunda Guerra.
A revoluo seria, para essa sociedade
civil (Partido Comunista, UNE, CPC, Sin-
dicatos...) que chamava para si a responsa-
bilidade pela definio da nao a partir de
uma noo de nacionalismo um pouco di-
ferente daquela dos anos 30 (da formao
nacional-popular). Uma arte da realidade li-
bertaria o povo da opresso. O Nordeste era
visto como o povo oprimido por excelncia
a marginalizao causada pela migrao,
o serto das misrias, e a cultura popular,
com suas riquezas como sendo a arma da
resistncia. Contudo, mesmo atravessados
pela viso trans-figuradora da utopia de
revoluo, os discursos continuam vincula-
dos, de alguma maneira, aos temas tradici-
onais: o mundo das relaes familiares e
rurais, da devoo e de uma autntica
cultura do povo em oposio ao que agora
nomeado como o desenvolvimento desmedi-
do do capitalismo cosmopolita.
Por um estranho, e inusitado, caminho,
revolucionrios de 60 e tradicionalistas de
30 se encontram reforando, mesmo que por
vias diferentes, o imaginrio construdo a
partir dos anos 20 (vinculado imagem de
sofredor, miservel e pedinte, e do pitoresco
e pueril): vindo ao encontro, em grande
parte, da imagem de espao-vtima, esfoliado,
espao de carncia construdo pelo discurso
de suas oligarquias.
9
O discurso revolucionrio no foi
efetivamente capaz de trans-figurar o ima-
ginrio tradicionalista porque tambm no
transformou as relaes de produo. A
revoluo no aconteceu e a mudana nos
sentidos institucionalizados (que remetem a
segregao e desigualdade) no se confirmou
como rupturas no imaginrio.
Melodrama em Passageiros para reafirmar
o imaginrio nordestino
Passageiros foi produzido pela
VideoFilmes para integrar a srie 6 HIS-
TRIAS BRASILEIRAS, veiculada no
canal de TV por assinatura GNT, canal que
faz sua publicidade como um canal quase que
especializado em documentrios. Realizado
em vdeo, Passageiros foi dirigido, em 2000,
por Izabel Jaguaribe e Dorrit Harazim e alm
das exibies no canal, integrou tambm uma
mostra paralela no Festival Tudo Verdade
de 2001.
Toda a tentativa de Passageiros a de
colocar os espectadores no lugar dos sujeitos
migrantes, e transpor uma sensao do sa-
crifcio como sendo o sentimento comum a
todos. Para tanto, estratgias melodramticas
so encampadas ao longo do filme, que acaba
assim, por inscrever uma permanncia com
relao ao tratamento tradicionalmente esta-
belecido na ordem do imaginrio social, que
associa migrao ao assistencialismo e a
sentimentos de piedade, escondendo portan-
to conflitos e tenses sociais e polticas.
A migrao neste documentrio suposta-
mente ganha contornos contemporneos. A
figura do migrante no se confunde mais,
como h alguns anos, com a figura do
retirante. Os movimentos migratrios so mo-
vimentos sazonais como informa, alis, a
voz over em uma das sequncias iniciais do
filme. Porm, retirantes como no passado ou
passageiros como no presente, a figura do
migrante ser ainda relacionado com a pi-
edade, pois a mesma poltica
assistencialista que acaba por se interpor na
narrativa. Nesse sentido, as estratgias
218 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
melodramticas sero amplamente usadas, de
uma maneira a inscrever o nvel de identi-
ficao necessrio instaurao da piedade.
A insero do melodrama est dividida
ao longo do filme a partir do que chamei
de digresses sentimentais - sequncias que
interrompem a narrativa central para fixar,
melodramaticamente, pequenos dramas e
histrias paralelas; provocando, ainda mais,
a sensao de identificao com o universo
do migrante.
A tnica principal do tratamento da
migrao em todo o filme uma ruptura com
o tratamento do tipo sociolgico realizado
pelos documentrios dos anos 60, em filmes
como Viramundo (Geraldo Sarno, 1965), por
exemplo. Se l, o afeto e o indivduo eram,
de certa maneira, apagados em funo de um
imperativo poltico-social por conta das
condies histricas de produo, aqui
questionamento de ordem mais poltica que
acaba sendo esquecido em funo de uma
identificao sentimental conduzida de ma-
neira tal que se deixa sobressair um tipo muito
especfico de poltica: a poltica
assistencialista.
Diversos personagens circulam em Pas-
sageiros, todos circunscritos por um perso-
nagem central cuja viagem de volta ao Piau
ser acompanhada pelo filme. Marcelo
natural de Pedro II (no por acaso a mesma
cidade que aparece na abertura do filme,
quando acompanhamos a leitura de uma carta
de um pai migrante a seus filhos). Essas
coincidncias so estratgias que remon-
tam narrativa clssica ficcional, onde cada
elemento do filme (do roteiro, aos objetos
de cena, aos nomes prprios) ter uma
importncia no desenrolar da trama. im-
portante lembrar, ento, que o melodrama
cinematogrfico vinculado consolidao
do clssico-narrativo.
A principal inscrio do melodrama se
faz no que chamo de digresso sentimental.
So ao todo 5 inseres desse nvel espa-
lhadas ao longo dos 57 minutos de filme.
Aqui exponho, com mais ateno, aquela que
considero exemplar, e acontece por volta dos
39 minutos, sendo anunciada pelo som ins-
trumental da msica A Vida do Viajante, de
Luiz Gonzaga, em que um dos versos da letra,
bastante conhecida, diz minha vida andar
por esse pas.
Um plano mais aberto onde se v um
homem e uma bicicleta circulando pela
cidade. A cmera acompanha seu movimento
at a chegada na porta de uma casa. A trilha
sonora muda radicalmente para algo mais
lento, uma composio de violo cello e o
que parece soar como uma flauta doce.
importante ressaltar a esse ponto o papel
condutor da trilha musical, inspirando uma
mudana de clima. a marca da moldura
melodramtica que j est em uso.
O homem bate palma num porto para
entregar uma carta. Nesse momento, a cmera
faz um plano de detalhe na carta e nas mos
da senhora que a recebe. Oh meu deus,
balbucia a personagem. O som do piano entra
na trilha e a cmera faz um ligeiro movi-
mento para frente, agora em plano mdio,
nos colocando dentro da casa. Novamente,
corte para detalhe da carta e das mos da
personagem, que j est sentada. Ela abre a
carta num plano que continua muito apro-
ximado acompanhando e ressaltando o
movimento de suas mos. Essas inscries
de planos de detalhes so recursos que
carregam a memria do clssico-narrativo
ficcional e, mais especificamente, do melo-
drama. Pois ressalta o objeto aqui no caso
a carta - inscrevendo um sentimento de
expectativa, elevando sua importncia. Fica-
mos espera do que essa carta representa,
mas somos levados a sentir, pela trilha sonora
que pontua a ao, que se trata de algo da
ordem da emoo.
Corte para plano mdio da personagem
lendo a carta, uma cena muito rpida que
estabelece apenas uma ponte para o quadro
seguinte, o seu rosto em detalhe a nos narrar
a situao da priso do filho. Toda a fala
ser pontuada pela trilha instrumental onde
o som do piano o mais forte. Ao final da
narrao, ela suspira profundamente. quan-
do se d um corte rpido e seco para um
primeirssimo plano do remetente da carta.
Onde lemos: Vai com deus carta junto com
o endereo da priso. A cmera ressalta ainda
mais a informao ao fazer um pequeno
movimento para frente (um travelling) fechan-
do na palavra Penitenciria I.
A me inicia a leitura da carta, uma srie
de mame, eu te amo, repetidos um a um
pela personagem cujo rosto, que chora, est
enquadrado em primeiro plano. Uma lgrima
219 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
escorre e quando ela desaparece no nosso
campo de viso o momento para o corte.
Plano mdio que enquadra a personagem
sentada para ento fazer um novo corte para
um plano de detalhe de carta, onde se v,
dessa vez, o lado do destinatrio. Fuso para
o plano geral da penitenciria em So Paulo,
enquanto ouvimos a personagem ler: Ma-
me, fique com deus...
Veremos ainda quatro planos fixos e rpidos
da penitenciria plano mdio do corredor,
detalhe da chave fechando a cela e das grades
em contra-luz. o fim da seqncia. A msica,
que no desapareceu nem por um minuto, faz
um leve agudo anunciando, e conduzindo, a fuso
com cenas de estrada noite.
Voltamos, aps essa digresso, para dentro
do nibus, onde veremos, novamente, como
um ciclo que se fecha, pessoas dormindo. A
msica da sequncia anterior some dando
lugar a alguns rudos ambientes e logo depois
a outro trecho (instrumental) da msica de
Luiz Gonzaga. Toda a atuao da msica
muito exuberante, pontuando sempre a se-
quncia, conduzindo as expectativas emoci-
onais. Essa conduo pelo exagero uma das
marcas do melodrama flmico, bem como a
alternncia especificamente arquitetada, de
planos mdios e planos de detalhe.
um dilogo direto que se estabelece,
nessa e em outras sequncias que irrompem
Passageiros sem serem retomadas (que
chamo de digresses sentimentais), com a
memria do melodrama cinematogrfico.
Passageiros termina com uma sucesso
de vrios retratos de migrantes, em So Paulo
e no Nordeste, que dizem seus nomes e seu
estado de origem. Uma estratgia de frag-
mentao dos personagens e, ao mesmo
tempo, de instaurao de uma unidade nar-
rativa j utilizada no incio do filme. uma
seqncia que reafirma o trecho da narrao
de uma carta que lida ao longo da seqncia,
cujas imagens conferem uma autoridade e
existncia de realidade ao contedo dessa
carta. So Paulo muito grande e eu sou
um s. Embora muitos, somos todos, os
migrantes, um s. E So Paulo, esse mundo
moderno, pleno de possibilidades, continua
muito grande.
220 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Bibliografia
Albuquerque Jr., Durval Muniz. A in-
veno do Nordeste e outras artes. Recife,
FJN/Ed. Massangana, So Paulo, Cortez,
1999.
Da-Rin, Silvio. Espelho Partido. Tradi-
o e Transformao do Documentrio
Cinematogrfico. Dissertao de Mestrado,
Escola de Comunicao/UFRJ, 1995.
Freyre, Gilberto. Manifesto Regionalista.
7 Edio rev. e aum. Recife, FUNDAJ, Ed.
Massangana, 1996).
Jacobs, Lewis (org.). The Documentary
Tradition. Nova Iorque, W. W. Norton, 1979.
Leal, Wills. O Nordeste no cinema. Joo
Pessoa, Editora Universitria/Funape/UFPb,
1982.
Lovell, Alan and Hillier, Jim. Studies in
Documentary. London, Secker and Warburg,
1972.
Meyer, Marlyse. Folhetim: uma histria.
So Paulo, Companhia das Letras, 1996.
Nichols, Bill. Representing Reality.
Bloomington, Indianapolis, Indiana
University Press, 1991.
__________. Ideology and the Image.
Social representation in the cinema e other
media. Bloomington, Indianapolis, Indiana
University Press, 1981.
Oroz, Silvia. Melodrama o cinema de
lgrimas da Amrica Latina. Rio de Janeiro,
Rio Fundo Editora, 1992.
Renov, Michael (org.). Theorizing
Documentary. Nova Iorque, Routledge, 1993.
Tolentino, Clia Aparecida Ferreira. O
rural no cinema brasileiro. So Paulo: Ed.
Unesp, 2001.
Xavier, Ismail. O cinema brasileiro
moderno. So Paulo, Paz e Terra, 2001.
__________. O olhar e a cena. Melodra-
ma, Hollywood, Cinema Novo, Nelson
Rodrigues. So Paulo, Cosac e Naify, 2003.
_______________________________
1
Doutoranda do Programa de Ps-graduao
em Comunicao/UFF.
2
Reconheo a existncia de uma diferena
fundamental de papel poltico entre o melodrama
de razes teatrais e literrias e o melodrama tal
como se configurou no universo do cinema, e ainda
dentro do cinema, do melodrama familiar para o
melodrama latino-americano. Mas aqui, atenho-
me ao melodrama flmico familiar e a seu sentido
de normatizao de uma sociabilidade burguesa
na instituio de um universo privado (indivduo,
plano emocional) em oposio ao pblico.
3
Oroz, 1992.
4
Albuquerque Jr., 1999:59/62.
5
Claro que no apenas So Paulo que
participa desse regionalismo vinculado aos dis-
cursos urbanos e de modernizao. Mas tal
movimento ficou fixado mesmo segundo a no-
meao de regionalismo paulista.
6
Albuquerque Jr., 1999:45.
7
Freyre, 1996:47.
8
Ainda nos anos 30, algumas vozes
dissonantes realizavam certa denncia poltica,
no por acaso, so artistas ligados ao Partido
Comunista, como Graciliano Ramos e Jorge
Amado. No entanto, so dissonantes porque o
pensamento artstico e intelectual da poca era
marcado pela definio e conhecimento dos sig-
nos de brasilidade, e no exatamente pela denn-
cia da construo desses elementos.
9
Albuquerque Jr., 1999:193.
221 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
O Picaresco e as Hipteses de Heteronimia
no Cinema de Joo Csar Monteiro
Mrio Jorge Torres
1
A primeira curta-metragem de Joo Csar
Monteiro, Sophia de Mello Breyner Andresen
(1969), contm j elementos matriciais de
toda a sua obra: a clareza e rigor com que
se filma o Sul, um Algarve de luz e de fices
solares, apontam j para a narratividade mtica
de Flor do Mar (1986), em que o cineasta
encena a misteriosa histria de um marinhei-
ro, reminiscente do drama exttico de
Fernando Pessoa. Flor do Mar encerra,
alis, uma importante trilogia de revisita s
razes de uma portugalidade essencial, que
se iniciara com Veredas (1977) e se prolon-
gara em Silvestre (1981), desdobrando-se
ainda em trs preciosas raridades, as curtas
realizadas para a televiso sobre contos
tradicionais (1978), destacando-se pela sua
qualidade e interesse contextualizante para
Silvestre, pela violncia potica e pelo uso
da mistura de exteriores com cenrios pin-
tados e cavalos de carto: O Amor das Trs
Roms, A Me e Os Soldados, com o pri-
meiro a marcar a estreia de Pedro Hestnes,
muito jovem, ao lado de Margarida Gil, o
rosto de Veredas. No ltimo, antecipava-se
mesmo j um dos gags fulcrais de As Bodas
de Deus: o aparecimento de uma inusitada
riqueza, um inexplicvel tesouro.
Em Veredas, fabricado (trata-se da ter-
minologia escolhida para o genrico) por Joo
Csar Monteiro, com um complexo arti-
fcio onrico que nos confrontamos: um
percurso peripattico pelo pas real do ps-
25 de Abril, contaminado por uma viso do
sagrado, que encenava uma ideia
abstractizada do conto oral e cruzava a cultura
popular com a cultura erudita: por um lado,
uma verso, compilada por Jos Gomes
Ferreira e Carlos de Oliveira (este ltimo
sempre uma presena obsessiva no universo
cesariano), da Histria de Branca-Flor, com
um visual pseudo-etnogrfico, que se socor-
ria de belas imagens dos caretos
transmontanos, por exemplo; por outro, uma
hiertica representao de As Eumnides de
squilo com um coro popular de mondadeiras
e a presena teatral e imponente de Manuela
de Freitas, uma deusa com os espigueiros,
ao fundo, por templos do imaginrio popu-
lar. A tragdia grega contaminava o olhar
sobre os campos e sobre os tempos contur-
bados de uma questionao da nacionalidade
e das suas perplexidades.
Na banda sonora, aparecia uma mescla
de cantos tradicionais com a 7 de Bruckner
e a polifonia, tambm sobre textos belssimos
de Maria Velho da Costa, das vozes do
prprio autor, de Margarida Gil, a compa-
nheira e a actriz, condutora da peregrinao,
e de Helena Domingos (vinda da primeira
fico, Quem Espera por Sapatos de Defun-
to) com a sua dico silabada e transparente.
Sempre procura de uma potica prpria,
algures entre o irrisrio e o sublime, traava-
se uma rede de vasos comunicantes, que vai
estender-se, alis, a toda a obra do cineasta:
os duplos e desdobramentos de personagens
e de vozes comeam a instituir-se em regra
de uma fico nica, espraiada por diversas
variaes sobre os mesmos temas. A herana
do surrealismo e do abjeccionismo filtrava
uma multiplicidade de discursos coesos, mas
dispersos, abrangentes, mas interessados
numa viso complexa da cultura.
O segundo tomo da trilogia desta
portugalidade convulsa e ancestral surge com
Silvestre (1981), sofrendo nas condies de
produo uma alterao que vai depois
constituir imagem de marca do cineasta: inicia
as filmagens em exteriores, para regressar
artificialidade do estdio (entre a miniatura
medieval e os cenrios de teatro pobre) e das
projeces frontais, fantasmagoricamente
transfiguradas pela cmara mgica de Accio
de Almeida. A Histria encena-se com a
desvergonha da sua teatralidade exposta,
nunca aspirando a reconstruir um real de
contornos naturalistas, facilmente consumvel
como representao do mundo: o filme
asume-se como fingimento e desconstri-se
222 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
perante o espectador. E, no entanto, o es-
quema ficcional cita, de forma curiosa e
inesperada, um grande filme mal amado da
Hollywood dos tempos ureos, Sylvia Scarlet
(1935), de George Cukor, clssico de um
cinema que podia ainda criar um sistema de
reconhecimento e verosimilhana com um
real a extravasar para fora do ecr, aquilo
que Walter Benjamin designou por ingenui-
dade representativa: O filme s pode asse-
gurar a iluso em segundo grau, depois de
se ter procedido montagem das sequncias.
[...] Despojada de tudo o que a aparelhagem
lhe acrescentou, a realidade torna-se aqui a
mais artificial de todas, e, no mundo da
tcnica, a captao da realidade enquanto tal
no passa de uma ingenuidade
2
.
Maria de Medeiros, na sua fulgurante
estreia cinematogrfica, dobra o travesti de
Katherine Hepburn de Slvia para Silvestre
no contexto de um drama medieval, apro-
veitamento da dimenso fantstica do
mrchen, ou, falta de melhor designao
genolgica portuguesa, do conto de fadas
(sem fadas). Revisitando a beleza de uma
lngua portuguesa arcaizante, do registo
medieval ao mais puro da conservao do
conto tradicional, Silvestre coloca, entre
outras, questes interessantes sobre a sua
inscrio na tradio de uma certa moder-
nidade, no que concerne o uso do cenrio
histrico, enquanto bvio cenrio Lancelot
du Lac (1974) de Robert Bresson, Perceval,
le Galois (1978), de ric Rohmer, ou
Jeanne, la Pucelle (1994), de Jacques
Rivette.
Flor do Mar (1986), com msica de
Bach em fundo, o filme mais-que-perfeito do
cineasta, fecha este ciclo, na medida em que
se insere na visita s luminosidades de um
Sul geogrfico e mtico e lhe adiciona o j
referido marinheiro, de pessoana memria,
que conta a sua histria, como o Sindbad
do imaginrio de uma das crianas do filme.
E, numa das cenas do filme, numa esplanada,
em que o primeiro plano se ocupa das fi-
guras de fico, aparece o autor em retrato
de famlia, com a mulher e o filho, ele que
j dera voz ao Lvio de Quem Espera por
Sapatos de Defunto (Lus Miguel Cintra
recorda em entrevista, agora publicada na
recente edio em DVD, que no pudera, por
ter ido para Inglaterra, fazer a ps-sincro-
nizao, e fala da personagem como de um
duplo de Joo Csar), e assumira por diver-
sas vezes a voz-off de narrador ou fora o rei
do banquete final de Silvestre.
E precisamente a Quem Espera por
Sapatos de Defunto Morre Descalo (1970),
retrato da nossa apagada e vil tristeza, com
uma mxima que poderia antepor-se a toda
a filmografia de Joo Csar (Este pas,
senhores, um poo onde se cai, um cu donde
se no sai.) que voltamos para esboar essa
outra rima interna com a obra pessoana, a
tal criao de uma primeira hiptese de
heteronimia. Na sua famosa carta a Adolfo
Casais Monteiro, sobre a gnese dos
heternimos, Fernando Pessoa declara: Des-
de que me conheo como sendo aquilo a que
chamo eu, me lembro de precisar mentalmen-
te, em figura, movimentos, carcter e his-
tria, vrias figuras irreais que eram para mim
to visveis e minhas como as coisas daquilo
a que chamamos, porventura abusivamente,
a vida real
3
. Ora, no pas onde caem baratas
do tecto, Csar Monteiro, a braos com os
seus prprios fantasmas de um Portugal
salazarento e acabrunhado, comea a criar
os seus alter-egos e escreve uma pequena
fbula que ilustra o provrbio do ttulo,
destinada a um filme de sketches (nunca
concludo), moda da nouvelle vague, com
a mxima de Godard (o cinema uma vi-
garice), a presidir funo. Tudo a rimar
com tudo.
Lvio tem, pois, o rosto e o corpo de Lus
Miguel Cintra e a voz inconfundvel do autor
apropriando-se parcialmente da personagem
para nela se projectar e desdobrar: se o
documentrio sobre Sophia (e bem assim o
posterior Flor do Mar) aponta, como vimos,
para O Marinheiro de Pessoa, o segundo
filme, Quem Espera por Sapatos de Defunto,
explora inesperadas representaes semi-
autobiogrficas.
De Fragmentos de um Filme-Esmola
(1972), a segunda fico, fica a introduo
da figura essencial de Manuela de Freitas (j
a recitar squilo, como em Veredas) e uma
primeira abordagem ao cinema como espao
de inveno cerimonial, para acabar de vez
com a ideia da famlia. Arremedo de cine-
ma-verdade, apresenta o Portugal do imedi-
ato ps-25 de Abril, com montagem de cenas
do Nosferatu de Murnau, incluindo a que vai
223 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
ser recriada em Recordaes da Casa Ama-
rela. Questiona-se a questo da Democracia,
com a pergunta colocada ao marinheiro
americano (de novo a figurao do marinhei-
ro), e introduzem-se, como motivo, a pros-
tituta, figura com ecos futuros evidentes na
obra de Joo Csar.
Estavam, pois, lanados os dados para a
suprema transformao: Joo Csar dava
corpo a Joo de Deus, personagem fora (e
dentro) dele, e As Recordaes da Casa
Amarela (1989) entrava no imaginrio dos
portugueses, mais por via do publicitrio spot
televisivo (o tantas vezes citado: adorei,
adorei, adorei), que por conhecimento, de
facto, de uma das obras mais coerentes e ricas
do Portugal de depois de Pessoa, numa
espcie de refraco, encenada para melhor
complexificar o eu. ainda em Pessoa que
encontramos, em fragmento, a formulao
para tal refraco: Sinto-me mltiplo. Sou
como um quarto com inmeros espelhos
fantsticos que torcem para reflexes falsas
uma nica anterior realidade que no est em
nenhuma e est em todas.
4
No entanto, em Joo Csar, acentuava-se,
sobretudo, a grande ruptura a caminho da
deriso, do acentuar de um sublime
abjeccionismo, que misturava Schubert e Quim
Barreiros; ressuscitava-se, na cena do hosp-
cio, o Lvio de Quem Espera por Sapatos...
e terminava-se com uma magnfica citao do
Nosferatu de Murnau. Comdia urbana do
desencanto de se ser portugus, negro como
Cline, de quem se usam excertos, e sacrlego
como Junqueiro de quem se l o melro de
A Velhice do Padre Eterno, rompe com tudo
o que est para trs, mas permite uma ligao,
ainda no explorada (como bem sugere Joo
Bnard num dos depoimentos, agora acess-
veis por via do DVD) com os contos tradi-
cionais da primeira trilogia.
Visto hoje, avulta como a obra-prima
absoluta, que desencadeia o mpeto final: os
dois tomos seguintes da trilogia, cada vez
menos negros, porque mais irrisrios e
demenciais. A Comdia de Deus (1995), com
a coleco de plos pbicos e o aparente
aburguesamento da personagem, acentua o
carcter de divertimento da auto-exposio,
ou auto-imolao, como lhe chama Fernando
Lopes - ainda e sempre a contribuio
videogrfica da integral em DVD. As Bodas
de Deus (1998) j funciona num registo
completamente surreal, que, como defende
Vtor Silva Tavares, se dever estender a toda
a sua obra flmica, e no s. O carcter onrico
da visita ao convento ou do achado da
herana remetem-nos para a dimenso ale-
atria que j encontrvamos no tratamento
do imaginrio popular em filmes como
Veredas ou Silvestre, sendo na trilogia, apesar
de algumas fragilidades, a grande ponte para
a desejvel leitura de conjunto.
Muito curioso se torna o facto de a trilogia
de Joo de Deus, para sempre o seu ex-libris
criativo, ter aparecido intercalada de filmes
intervalares, mais frgeis do ponto de vista
narrativo, como pausas para uma indolncia
essencial para o avano: O ltimo Mergulho
Esboo de Filme (1992) transforma uma
encomenda num exerccio sobre a liberdade
de filmar, sem programa nem rigor; esta
espcie de autocomplacncia, de elogio da
preguia e da loucura, como se a alienao,
que espreita toda a obra para se perfilar como
centro, a partir de Recordaes, ganhasse
foros de programa. O passeio pela Lisboa
dos Santos Populares cita, ainda, em filigrana
e em desconstruo, o imaginrio das com-
dias populares lisboetas dos anos 30 e 40,
num tempo em que os ptios das cantigas
j no fariam qualquer sentido. Depois,
irrompe com violncia provocatria em Le
Bassin de J.W. (1997), o mais indefensvel
(o mais negro) e o mais inclassificvel dos
retratos da (des)graa de ser portugus. Visto
em contexto, o strindberguiano, Le Bassin,
visita aos Infernos do eu descontnuo, ganha
novas linhas de fora pela radicalidade de
um olhar contraditrio, no corao da con-
tradio, exposto com inaudita coragem.
Mas regressemos a Recordaes de uma
Casa Amarela, o objecto central deste breve
estudo, apresentado no genrico com o
sugestivo subttulo de uma comdia lusita-
na: tudo comea desencadeado por uma
legenda, Na minha terra, chamavam casa
amarela casa onde guardavam os presos.
Por vezes, quando brincvamos na rua, ns,
crianas, lancvamos olhares furtivos para as
grades escuras silenciosas das janelas altas
e, com o corao apertado, balbucivamos:
Coitadinhos....
Depois sempre com o ecr em negro,
aparece a voz off do autor-protagonista (Aqui
224 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
estamos mais uma vez sozinhos. Tudo isto
to lento. To pesado. To triste), esbo-
ando o carcter metonmico da fico, para
logo, fazendo raccord com o genrico e com
um longo travelling sobre Lisboa, a partir
do rio, mencionar o ataque nocturno dos
percevejos, identificados mais tarde no di-
cionrio e citados de Maakovski como
punaesis normalis. E, a par com esta des-
crio sbia, elementos da irriso, caracte-
rizao da pobreza: Esforava-me por no
fazer bulir um pentelho... ou O ardor nos
tomates s comeou mais tarde, pela ma-
nh....
A definio da personagem, entre o
pattico da progressiva depauperao e a
ferida dignidade que o uso da sonata de
Schubert sublinha, ganha contornos no di-
logo com a dona da penso, D. Violeta (a
emblemtica Manuela de Freitas), que fala
da casa no como de uma casa velha, in-
festada pelos percevejos, mas de uma casa
barroca, j filmada pela televiso.
A matriz para este universo picaresco
(barroco ou pr-barroco) encontramo-la na
literatura espanhola iniciada com Lazarillo
de Tormes (1554), alternativa s novelas
pastoris e aos romances de cavalaria: o seu
tom realista e satrico, introduzindo um
imaginrio urbano de mendigos e marginais,
como heris ou anti-heris da fico, serve-
nos maravilha para caracterizar a perso-
nagem de Joo de Deus.
Lemos no posfcio de Francisco J.
Sanchez e Nicholas Spadaccini, a The
Picaresque Tradition and Displacement,
intitulado Revisiting the Picaresque in
Postmodern Times: An analysis of
picaresque literature cannot be separated from
[...] the question of social marginality. [The]
meaning of this type of literature lies in the
description of the picaros interaction with
the urban world []. It may be said that
the picaro now replaces the Knight errant
as a mediator of knowledge as his wanderings
in an urban setting give the reader access
to a variety of experiences that [] represent
differing degrees of social interactions
undertaken in pursuit of some of the symbols
of wealth.
5
Assim se poderiam integrar no sub-gnero
picaresco as deambulaes de Joo de Deus,
por uma velha Lisboa de cheiros e sabores,
guiadas por um aleatrio fragmentado em
episdios vrios, trazendo lia a proble-
mtica da honra e do estatuto social: [El]
tema del hambre, de la indigencia y la lucha
por la vida, sino alrededor de la respetabilidad
externa, que se funda en el traje, el tren de
vida y la calidad social heredada, ya que el
pcaro es la negacin viva de esta honra
externa.
6
Tal noo de honra recuperada explica-
ria, por exemplo a subida na escala social
operada na passagem para A Comdia de
Deus, com Joo de Deus, agora aburguesado,
gerindo uma gelataria e na descoberta e
dissipao de uma fortuna encontrada, por
via do acaso, em As Bodas de Deus, terceiro
e ltimo volume da trilogia.
Uma vez instalado nesta dimenso pcara
que daria sentido interveno satrica, j
anteriormente esboada, Joo Csar Monteiro
confere ao seu mundo ficcional uma espes-
sura que jamais abandonar. Para alm da
trilogia de Joo de Deus, haver ainda uma
explorao lateral do fenmeno heteronmico
no entretanto abandonado e sarcstico, Joo
Raposo do Audiovisual de Conserva Aca-
bada (1989)
7
, reflexo televisiva sobre a voga
do audiovisual, como designao, e sobre os
ridculos da indstria pessoana, patente em
efgie na esttua sentada do poeta, junto
Brasileira do Chiado.
Terminada a segunda trilogia e instituda
a dimenso picaresca, regressa-se primeira
trilogia com outra acutilncia: Branca de
Neve (2000) constitui o conto de fadas
possvel, aps a viagem aos infernos e
loucura de Joo de Deus e de Joo Csar,
apesar de Joo de Deus, no strindbergiano
Le Bassin. O equvoco que a obra ao negro
gerou numa crtica cega e numa opinio
pblica, que continuava a consumir o mito,
sem lhe conhecer a obra, fez de uma paci-
ficao pelo literrio (Walser como alter-ego
impossvel e matriz para a paixo da escrita)
a provocao mxima, que nunca pretendeu
ser. No se tratava de uma instalao, como
se sugeriu, mas da filmagem rigorosa e
apaixonada da palavra dita. Todos os
inquisidores deste mundo encontraram pre-
texto (errado) para a irradicao do gnio.
Felizmente, no o conseguiram e na obra
final, Vai e Vem (2003), que o pblico
inacreditavelmente ignorou, temos a noo
225 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
de que, embora estejamos perante a grande
sntese, tambm o filme-testamento, tudo se
nos revela como uma apario, um renovado
gosto de filmar, a procura de outro olhar, de
uma alegria de fixar o real (nunca se filmou
assim um autocarro como lugar de encontro
e de partilha), com a fractura indizvel que
j estava presente em Sophia, o opus 1.
O paraltico do olho do cineasta prope,
assim, uma derradeira auto-representao, no
que poderamos considerar, usando, ainda e
sempre, a obra de Pessoa como modelo, um
semi-heternimo, o de Joo Vuvu que
revisita e fecha a obra flmica com remis-
ses para Joo de Deus (na sua obsesso
pelas ninfetas, por exemplo), agora inves-
tido de uma pulso de morte mais forte do
que as vidas mltiplas em que se desdo-
brara, imperfeitamente, no ecr. Alcanada
a honra final do artista, numa dignidade
conquistada custa de todos os irrisrios,
Joo Vuvu e no Joo de Deus; e no
Joo Csar Monteiro, figura unificadora
e fragmentada de toda a sua obra.
226 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Bibliografia
Bataillon, Marcel, Pcaros y Picaresca:
La Pcara Justina, trad. Francisco R. Vadillo,
Madrid, Taurus, 1969.
Benjamin, Walter, A Obra de Arte na
Era da sua Reproduo Tcnica, inEstticas
do Cinema, org. e trad. de Eduardo Geada,
Lisboa, Publicaes Dom Quixote, 1985, pp.
15-49.
Pessoa, Fernando, Carta sobre a Gnese
dos Heternimos, inPginas de Doutrina
Esttica, org. Jorge de Sena (2 ed.), Lisboa,
Editorial Inqurito, s.d., pp. 193-206.
Pessoa, Fernando, Pginas ntimas e de
Auto-Interpretao, org. Georg Rudolf Lind
e Jacinto do Prado Coelho, Lisboa, s.d..
Sanchez, Francisco J. e Nicholas
Spadaccini, Revisiting the Picaresque in
Postmodern Times, in Giancarlo Maiorino,
ed., The Picaresque. Tradition and
Displacement Minneapolis, London,
University of Minnesota Press, 1966.335.
_______________________________
1
Universidade de Lisboa.
2
Walter Benjamin, A Obra de Arte na Era
da sua Reproduo Tcnica, in Estticas do
Cinema, org. e trad. de Eduardo Geada, Lisboa,
Publicaes Dom Quixote, 1985, p. 31.
3
Fernando Pessoa, Carta sobre a Gnese dos
Heternimos, in Pginas de Doutrina Esttica,
org. Jorge de Sena (2 ed.), Lisboa, Editorial
Inqurito, s.d., p. 199.
4
Fernando Pessoa, Pginas ntimas e de Auto-
Interpretao, org. Georg Rudolf Lind e Jacinto
do Prado Coelho, Lisboa, s.d., p. 93.
5
In Giancarlo Maiorino, ed., The Picaresque
Tradition and Displacement, Minneapolis, London,
University of Minnesota Press, 1966, pp.296-297.
6
Marcel Bataillon, Pcaros y Picaresca: La
Pcara Justina, trad. Francisco R. Vadillo, Madrid,
Taurus, 1969, pp. 215-216.
7
bvio jogo pardico de palavras e conceitos
com o filme de Joo Botelho, Conversa Acabada,
sobre as complexas relaes poticas e
epistologrficas entre Fernando Pessoa e Mrio
de S-Carneiro.
227 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
Em defesa de uma ecologia para o cinema portugus
(ou questes levantadas pelo desaparecimento de um ecossistema)
Nuno Anbal Figueiredo
1
Ns samos de um pas sem imagem.
A imagem do pas que temos muito
construda pelo cinema. H a cons-
cincia, em qualquer cineasta portu-
gus, que o cinema foi uma escola
para muita gente e foi tambm uma
maneira de fixar um pas que estava
a deslocar-se a uma velocidade
inacreditvel. Eu acho que isso est
filmado, acho que o cinema portugu-
s fixou esse deslocamento. E foi
capaz de filmar muita coisa ao mes-
mo tempo: um pas muito longnquo
no tempo, na Histria, etc.. Era tudo
isto e, simultaneamente, um pas
muito contemporneo.
Joo Mrio Grilo in
Nmero Magazine n 18
O ponto de partida para este texto en-
cerra uma inquietao prvia ao problema:
que imagem do pas o cinema portugus nos
deixou? Isto , saber, ao fim e ao cabo, qual
teria sido a imagem de Portugal sem uma
ideia de uma cinematografia nacional, um
imaginrio comum que coube ao cinema
portugus, depois e a par de outras artes ou
expresses, (re)criar ou perpetuar?
Dizemos prvia, porque subjacente a esta
ideia est uma espcie de empenhamento
poltico que integrou h pouco menos de meio
sculo uma boa parte dos nossos cineastas
(e os, de longe, mais bem sucedidos, dentro
e fora). Este engagement no foi fruto de
uma mera reaco face pauprrima produ-
o cinematogrfica anterior ao advento do
Cinema Novo (inaugurada pela gerao de
60 e a que os anos-Gulbenkian deram
continuidade), nem situao poltica e social
do pas condicionada por dcadas de dita-
dura. Alis, a pugna efectuada por esta
terceira gerao de realizadores (a seguir
dos pioneiros modernistas, com Leito de
Barros, Brum do Canto, Chianca de Garcia
ou Antnio Lopes Ribeiro, e da dcada de
50, a mais negra do cinema portugus, da
qual apenas se retm a obra de Manuel de
Guimares) em detrimento do putrefacto
cinema nacional do Antigo Regime no foi
s maior, como bem mais fcil de levar a
termo do que a operada em Frana pela
Nouvelle Vague. Ou seja, independentemen-
te da sua conscincia plena ou no, desde
essa viragem histrica, a principal preocu-
pao poltica deste corpus de autores foi a
da salvaguarda do direito existncia de um
cinema de razes profundamente nacionais,
em cujo paradigma encontravam no s a obra
singular, at ento escassa, de Manoel de
Oliveira, como a do quase invisvel Antnio
Campos. Uns, os seus detractores, denunci-
aro os limites artesanais e a subsidiada
situao de dependncia; outros, os seus
apologistas, reclamaro por uma autonomia
artstica, afirmando uma identidade prpria
a defender.
Toda a produo a partir dos anos 60
ficar marcada por esta ciso entre a ape-
lidada vertente cinema de autor do nosso
melhor cinema e a tmida apetncia pela
criao de uma indstria cinematogrfica
nacional, tendo como modelos ou a mtica
idade de ouro associada comdia popular
ou outro qualquer importado. O primeiro
sustentado pelo enorme equvoco (que ainda
hoje persiste) de que houve nos idos do
Estado Novo um cinema de sucesso e de
grande impacto pblico. Para alm da
teatralidade dos mtodos e do profundo
desfasamento com o cinema feito l fora
(mesmo o de propaganda), esta evidncia
assenta, afinal, numa produo escassa em
sucessos. Entre o primeiro filme (A Cano
de Lisboa), de 1933, e o ltimo do gnero
(O Costa de frica), de 1954, apenas nove
comdias ajudam a perpetuar um mito,
servindo para encobrir tanto o facto de que
nem os filmes citados foram poca grandes
xitos de bilheteira, ao contrrio do que s
vezes se pretende fazer crer, como a oposi-
228 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
o de alguns a uma tentativa sria de fazer
um cinema moderno em Portugal.
Quando falamos desta componente pol-
tica do cinema portugus, referimo-nos, so-
bretudo, preocupao e ao mpeto que soube
unir sensibilidades to diversas num mesmo
apelo: o esforo pela afirmao de algo
inexistente at data e pela manuteno, a
partir da, dessa identidade precria, cons-
tantemente merc de usurpaes impostas
por modelos importados, fossem eles do
cinema norte-americano, primeiro, agora e
sempre, ou televisivos, mais recentemente.
No que diz respeito hegemonia do sistema
e da linguagem ditada por Hollywood, que
perpassa a generalidade das cinematografias,
este modelo tem servido no s para subtrair
ao nosso cinema, como a qualquer outro, o
direito a uma paisagem prpria e a todos os
mundos possveis que se criam sua ima-
gem. Ou seja, trata-se da contaminao por
parte de um imaginrio preciso, delimitado
e modelado de outros que j existiam antes
da inveno do cinema e que lutam por
sobreviver colonizao massiva do cinema
norte-americano. No se trata, pois, de
patriotismo ou de proteccionismo cultural,
mas de salvaguardar um patrimnio que
o direito a um imaginrio identitrio. Sobre-
tudo quando pensamos nas especificidades
culturais de que as diversas cinematografias
nacionais (mesmo que pulverizadas por
inmeras e diversas vises pessoais) mais no
so do que um ponto numa linha de con-
tinuidade que engloba outras vises noutras
artes.
J a invaso televisiva surge,
conjunturalmente, depois do aparecimento, no
incio dos anos 90, dos canais privados e ,
desde logo, enquadrada pelas sucessivas leis
que adequaram o cinema a uma lei geral do
audiovisual. A televiso no s tem coloni-
zado toda a paisagem portuguesa, at porque
tem uma velocidade de produo que o
cinema no consegue acompanhar, como
afeioou o espectador aos seus modelos
narrativos, a uma linguagem sem distino
formal, espcie de esttica industrial no seu
grau zero, onde esto definidos a priori
os contedos e as suas aparentes ou supostas
diferenas. Na sua aparncia incua, subjaz
uma estratgia de dominao que uniformiza
todas as imagens em circulao, reciclando
toda a memria da arte neste reino do campo
nico. O resultado que se pretende impor
um hbrido, o telefilme, aquilo que o crtico
e terico Serge Daney vaticinou em 1982 para
o cinema e a televiso, um velho casal cada
vez mais parecido
2
.
Que risco existe, ento, para uma cine-
matografia to frgil como a portuguesa e
para toda a viso heterognea do mundo, a
submisso a modelos reducionistas, sejam
estes produzidos e distribudos por uma
cinematografia como a norte-americana,
sejam condicionados pela realidade imposta
pela televiso? Que espao haver, depois da
nova lei do cinema, para a pretensa eco-
logia que, no entender de Joo Mrio Grilo,
contribuiu para a especificidade do cinema
portugus?
Numa entrevista concedida Nmero
Magazine, este cineasta e investigador con-
sidera que o perodo que vai desde o advento
do Cinema Novo at ao final dos anos 80
marcado por uma experincia colectiva
singular, que foi capaz de preservar no interior
do cinema feito em Portugal uma certa
ecologia
3
. Esse ambiente especfico ter
sido determinado mais por condies de
produo do que por factores culturais. De
facto, o movimento iniciado nos anos 60 foi
no s precursor de uma ideia para uma
cinematografia de razes nacionais (sublinhe-
se, de uma ideia primeira de cinema), como
ter registado o nascimento, em simultneo,
de toda uma gerao de realizadores e tc-
nicos que far o cinema portugus nas pr-
ximas dcadas, mesmo entre avanos e
recuos. Os Verdes Anos (1963) , neste caso,
paradigmtico, uma vez que se trata da obra
de estreia de um realizador (Paulo Rocha),
mas tambm de um produtor, de novos
tcnicos e actores. Nos crditos de Os Verdes
Anos, Belarmino (Fernando Lopes, 1964) e
Domingo Tarde (Antnio de Macedo, 1965),
vemos os nomes de Fernando Matos Silva,
Elso Roque ou Accio de Almeida, o que
demonstra a existncia de um corpo uni-
ficado nos filmes produzidos por Antnio
da Cunha Telles. , alis, esse o argumento
corolrio dos que defendem a tese de que
Os Verdes Anos e no Dom Roberto (1962),
de Ernesto de Sousa, ou Pssaros de Asas
Cortadas (1963), de Artur Ramos, o filme
inaugural e fiel depositrio do termo novo:
229 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
No s o filme se inseria numa es-
tratgia de produo que visava a
continuidade (um produtor, Cunha
Telles, rene sua volta os cineastas
disponveis disponibilidade fsica e
terica, entenda-se e so eles Paulo
Rocha, Fernando Lopes, Fonseca e
Costa e Antnio Macedo), como
igualmente essa produo se dotara
previamente de quadros tcnicos for-
mados pelo 1 Curso de Cinema do
Estdio Universitrio de Cinema Ex-
perimental, onde Cunha Telles era
tambm elemento capital e donde, no
domnio da fotografia, do som e da
montagem sairiam as figuras dominan-
tes em todo o cinema portugus que
se segue a Os Verdes Anos
4
.
Para um grupo nascido para o cinema
sensivelmente na mesma altura, esta coeso
e solidariedade eram sentidas e transmitidas
quer dentro do prprio set, entre cineastas
e equipas, quer fora (basta verificar o rela-
trio O Ofcio do Cinema em Portugal,
sado da I Semana do Cinema Novo Portu-
gus, em 1967, no Porto, assinado por vinte
cineastas e dirigido Fundao Calouste
Gulbenkian e a cooperativa que da nasce trs
anos depois). Teria sido inevitvel que este
corpus a que Paulo Rocha chamou a escola
portuguesa, designao defendida por tan-
tos outros depois dele, afirmasse um novo
cinema ao impor uma ruptura esttica-ide-
olgica com o cinema anterior. Esta
(re)inveno nasce sem prejuzo do cinema
tradicional portugus, j morto, como
afirma Antnio Roma Torres [1972:15], mas
em resposta ao ridculo cinematogrfico que
at ento imperava, tanto em termos quali-
tativos como quantitativos. talvez por isso
que durante uma dcada surja a indefinio
sobre qual a tendncia esttica predominante
do movimento e, consequentemente, qual a
fase (e face) inauguradora, fazendo coabitar
lado a lado obras, filmes e correntes apa-
rentemente contraditrios para o desejo de
um grupo unificado em termos estticos.
O mesmo Roma Torres [idem:29-30]
avana, em 1971, trs tendncias como
hiptese de sistematizao: em primeiro lugar,
iniciado com Dom Roberto e tendo o prprio
Ernesto de Sousa, Alfredo Tropa e Paulo
Rocha (?) como exemplos, um cinema de
contornos neo-realistas, semelhana do
italiano do ps-2 Guerra Mundial, mas menos
influenciado por este cinema do que pela
corrente literria portuguesa; em segundo,
um cinema existencialista mais influen-
ciado pela confirmao da Nouvelle Vague
e pela evoluo esttica de cineastas como
Antonioni, com uma linguagem mais ela-
borada, mais simblica, abrindo-se progres-
sivamente parbola poltica, integrando
Antnio Macedo, Cunha Telles, Fonseca e
Costa e Antnio-Pedro Vasconcelos; e, final-
mente, atravs de Manoel de Oliveira e
Fernando Lopes, um cinema de ruptura
projectado j a partir de Belarmino e de O
Acto da Primavera (1962), uma linha docu-
mental que se construa em fico recusando
a aparncia naturalista, evidenciando uma
montagem de contrastes.
At para quem hoje considere totalmente
descabidos alguns dos exemplos citados,
nomeadamente Paulo Rocha, a diviso pro-
posta permite retirar duas ilaes, sem pre-
juzo de estas se revelarem anacrnicas.
Fazendo jus ao esforo tambm terico
(mesmo que de algum modo inglrio) de
ligao do cinema portugus, pela primeira
vez na sua histria, com as tendncias
mundiais, duas das correntes reflectem pelo
menos o entrecruzar da produo portuguesa
com a experincia cinematogrfica estrangei-
ra. Nota-se no discurso volta de ambas a
vontade expressa de adquirir, para alm da
interna, uma legitimidade que advm das
influncias de correntes contemporneas. Esse
reconhecimento, alis, comea pelos contac-
tos mantidos por alguns dos cineastas por-
tugueses com autores estrangeiros (P. Rocha
foi assistente de Jean Renoir em Le Caporal
Epingl e Fonseca e Costa de Antonioni em
LEclisse), mas tambm com a aceitao e
os prmios que os primeiros filmes granje-
aram em festivais um pouco por toda a
Europa (A Promessa, de Antnio Macedo,
1972, foi o primeiro filme portugus selec-
cionado em Cannes).
O que dizer ento do peso da tradio
nesse esforo de legitimao? Sero herana
de uma mesma filiao oliveiriana os laivos
de neo-realismo de E. Sousa ou A. Tropa,
sem a toada ruralista de Brum do Canto ou
Manuel Guimares, e as primeiras incurses
230 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
vanguardistas (o cartaz de Os Verdes Anos
anunciava A Nova Vaga chegou a Portu-
gal)? Para baralhar, no s Aniki-Bb
(1942) era a nica fico at data de
Oliveira, como M. Guimares tinha sido seu
assistente de realizao nesse que j foi
considerado o filme precursor do neo-realis-
mo. Essa fuga a uma universalidade (tenta-
tiva de legitimao a partir de dentro) capaz
de perverter a identidade desse corpus mais
evidente, por isso, nessa terceira tendncia
avanada por Roma Torres, uma vez que ela
parece escapar melhor a uma qualquer cor-
respondncia directa com o que influenciaria
fora (naquela que a segunda das ilaes
possveis) e porque, alm do mais, tem
Oliveira como garante de autenticidade.
verdade a sua influncia ou a possvel acei-
tao de uma mesma paternidade esttica em
ambas as tendncias anteriores, mas Oliveira
no est, nem nunca esteve, no neo-realismo
e, muito menos, na Nouvelle Vague. A in-
veno da tradio operada no cinema
moderno portugus faz-se em torno da obra
de Oliveira mesmo que a desfiliao se d
em breve e que aquilo que correspondeu ao
forte esprito de solidariedade, digamos ar-
tstica, da gerao fundadora d lugar so-
lido (sentimento com que o mesmo P.
Rocha definir esse estdio) e sua ciso
definitiva a partir da polmica em torno de
Amor de Perdio, em 1978.
No entanto, as condies de produo
mantiveram-se praticamente inalteradas du-
rante as dcadas de 70 e 80. Mesmo quem,
em defesa de um outro cinema portugus,
promovia a desvinculao a essa escola
portuguesa do Cinema Novo, no deixava
de construir uma ideia presa a um conceito
de identidade resultado de uma tripla von-
tade (inveno artstica, resistncia norma-
lizao industrial e interrogao sobre a
questo nacional portuguesa)
5
. Se a ltima
essencial e exclusivamente para debater a
nvel temtico, as duas primeiras foram desde
sempre consideradas os factores que mais
contriburam para a criao de uma cinema-
tografia justamente considerada uma das mais
felizes do mundo. Nesta regio demarcada
de produo cinematogrfica, conforme a
metfora de Antnio-Pedro Vasconcelos
6
(curiosamente, uma das vozes que mais vezes
reclamou por uma indstria nacional de
cinema), subsistia, pelo menos at h pouco
tempo, o predomnio da figura do realizador
face ao produtor.
A dcada de 90 viu serem produzidas dez
longas metragens de fico, em mdia, por
ano. Esses cerca de 100 filmes reflectem,
mesmo que alguns irregularmente, a viso
de perto de 60 realizadores diferentes. S que,
pese embora os cineastas portugueses se
mantenham fora do espartilho comercial, as
condies de produo alteraram-se radical-
mente. As equipas de filmagens so agora
compostas por tcnicos que trabalham no
cinema apenas episodicamente, estando, na
maior parte do tempo, ocupados a fazer
televiso, o que acaba por mold-las a um
outro modo de produo. A esta eroso
progressiva daquele que bem podia ser
considerado o mbito familiar do cinema
feito em Portugal, h que acrescentar a cada
vez maior contradio entre o modelo e a
realidade nacional, at porque um filme
sempre fruto de uma colaborao tcnica e
artstica que poucos cineastas controlam
cabalmente. Se um filme tambm um
reflexo directo do seu prprio processo de
produo, essa uma realidade ainda mais
premente no caso singular (para no dizer
artesanal) portugus. A experincia que o
condiciona define-o em grande medida,
assunto sobre o qual nos debruaremos mais
adiante, em jeito de concluso, relativamente
experincia de Pedro Costa em No Quarto
da Vanda (2000), mas que serve tambm para
aquelas que consideramos serem as razes
para a especificidade do imaginrio cinema-
togrfico portugus consolidado a partir do
Cinema Novo.
Se atentmos nas razes que possibilita-
ram em termos de condies de produo a
existncia de um habitat preservado para os
cineastas portugueses e para a sua ideia
de cinema portugus, no podemos deixar,
ainda, de referir o papel que os factores
culturais desempenharam nessa preservao
e quais as suas consequncias.
Primeiro, necessrio verificar que os
cineastas portugueses que, mais ou menos
timidamente, tentaram uma aproximao com
o cinema feito fora de portas encontraram-
se, durante dcadas, confinados ao gnero
documentrio, muito por fora das circuns-
tncias polticas e econmicas. situao
231 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
precria vivida por Oliveira durante os seus
22 anos de interregno ficcional, entre Aniki-
Bb e Acto da Primavera (aceitando que
se trata de uma fico), contrapem-se os
sinais de esperana augurados por uma nova
gerao (F. Lopes, A. Macedo, P. Rocha)
iniciada com trabalhos que de alguma forma
revelam uma faceta documental, demarcan-
do-se claramente do pendor nacionalista do
filme histrico e moralista da comdia po-
pular, poca j pouco prdiga na crtica
de costumes e mais glorificadora de vedetas
nacionais do desporto, da tourada e do
canonetismo.
Da que no haja volta a dar: o melhor
cinema portugus at aos anos 60 nele que
tem o seu terreno, mas no a sua justifica-
o, encarado essencialmente enquanto pre-
texto para ensaio e a maior parte das vezes
desabafo perante a conjuntura do pas. A
tradio no-realista do (moderno) cinema
portugus surge, em primeiro lugar e para-
doxalmente, em virtude da impossibilidade
de uma fico assumida, de uma sublimao
do real patente quer no gnero documentrio,
quer na influncia neo-realista exercida sobre
a pouca fico aproveitvel anterior aos anos
60. Na maioria desses filmes, a procura de
uma realidade portuguesa, ora surge subter-
raneamente, ora intencional, mas nunca
explcita. A excepo uma e chama-se
Antnio Campos. Roma Torres refere pre-
cisamente esse contraponto, citando o di-
logo mantido entre o autor de Vilarinho das
Furnas (1971) e Oliveira, a propsito do
despojamento de A. Campos nesse filme, ao
contrrio do exemplo dado por Acto da
Primavera
7
. Tudo o resto vive dessa impu-
reza que uns clamaro como sendo a es-
sncia do cinema portugus, outros a
consequncia exacta de uma verdadeira
primeira articulao com as vanguardas ci-
nematogrficas mundiais da poca (refira-se
a influncia de Dreyer, nomeadamente de
Gertrud, na fico oliveiriana ou as
desconstrues de Straub, um dos cineastas
mais referidos por mais do que uma gerao
de realizadores portugueses) e outros, ainda,
prova determinstica de uma limitao
ficcional: cinematogrfica e cultural.
Essa impureza tanto do documentrio,
como da fico. Muito do melhor cinema
portugus revela uma mesma dificuldade
gentica para com as convenes prprias de
um cinema de cariz naturalista. Uns acusam-
no de inabilidade narrativa, outros de uma
propenso cultural para a poesia em detri-
mento da prosa. Em jeito de prova, subli-
nhamos duas constataes que parecem re-
ceber unanimidade. Frequentemente tentada,
a filmagem de histrias muito pouco portu-
guesas tem dado origem a filmes hbridos,
cujo desconcerto resulta da tentativa de
transcrio de um imaginrio importado
atravs de um modelo que nunca se destaca
da esttica estandardizada para TV. Tambm
a escassa ligao do cinema portugus com
a literatura romanesca no pode ser explicada
apenas pela difcil adaptabilidade da maior
parte das nossas obras literrias, mas sobre-
tudo pelo pouco interesse que tais sempre
suscitaram nos nossos cineastas, sendo Oli-
veira a enorme e honrosa excepo.
Cinematografia essencialmente poesia ou
marcadamente pintura
8
, como sugere Joo
Bnard da Costa em Cinema Portugus?
(documentrio-entrevista de Manuel Mozos
ao director da Cinemateca Portuguesa, em
1996), nela prevalece um olhar intenso,
excessivo, sobre a realidade que retrata,
revelando a sua dupla natureza. volta
dessa metafsica, dessa tentativa de dar uma
conscincia realidade e no de subordina-
o do real a uma intriga ou conflito dra-
mtico, que se tece o discurso de Bnard da
Costa, mas tambm de Jos Manuel Costa
ou J. Mrio Grilo
9
. Ao contrrio do cinema
norte-americano, cinema da iluso por
excelncia, o cinema portugus tem-se per-
filado como um cinema da no-iluso
10
,
avesso habitual cauo que a fico exige,
porta aberta a todo e qualquer escapismo.
Tambm no que diz respeito s determi-
naes culturais, algo mudou no panorama
portugus, pelo menos na ltima dcada e
meia. Por um lado, tem havido uma incor-
porao excessiva de outros imaginrios
naquele que est preenchido cinematografi-
camente desde os anos 60. A regio de Trs-
os-Montes, espcie de territrio mtico para
o cinema portugus, de A. Campos a Antnio
Reis, passando esporadicamente por Olivei-
ra, j no serve de cenrio para o retrato
metafrico de um pas isolado, encarcerado
na sua experincia presente, e mitolgico,
enquanto sntese anacrnica das suas razes
232 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
geogrficas e culturais, nem tem tido subs-
tituto altura, agora que a paisagem est
definitivamente filmada pela televiso. Se h
um filme que representa o toque de finados
O Movimento das Coisas (1985), de
Manuela Serra, documentrio acerca de um
mundo prestes a desaparecer. Por outro lado,
emerge uma nova gerao de realizadores cuja
obra, no renegando o cinema passado,
aparenta alguma desfiliao, sobretudo a
qualquer ideia de escola portuguesa. Portu-
gal pode no constituir aqui uma excepo.
Se tm cado em desuso as teorias cinema-
togrficas que do primazia s questes
nacionais, no isso tambm fruto dos
condicionalismos poltico-econmicos da
situao de predomnio da indstria cultural
norte-americana? O facto que, falta de
uma preocupao deliberada (mais ou menos
evidente) de dizer algo sobre o pas ou acerca
do seu imaginrio mtico, social ou at
poltico, tem sido o documentrio e no a
fico a dar os melhores exemplos de toma-
da em mos dessa misso de pensar o pas
e a sua histria: A Dama de Chandor
(Catarina Mouro, 1998), Outro Pas (Srgio
Trfaut, 1999) ou Natal de 71 (Margarida
Cardoso, 2000). Com o aparecimento, pela
primeira vez, de um movimento
assumidamente documentarista em Portugal,
terminam, enfim, as barreiras psicolgicas que
toldavam as geraes mais velhas de uma
relao mais directa com o real. Curiosamen-
te, na exacta proporo inversa em que vo
escasseando os exemplos dessa impureza
ficcional ou documentarista que tantos e to
singulares filmes legou o cinema portugus.
Vimos como um corpus de autores
emergiu nos anos 60, perseguindo uma
ideia de e para o cinema portugus,
(re)inventando uma tradio (in)existente e
(re)criando um imaginrio identitrio comum,
determinado e preservado pelas condies de
produo especficas que esta gerao funda-
dora encontrou e pelas especificidades cul-
turais herdadas de trs. Esta ecologia v-
se agora ameaada com a normalizao
industrial que se avizinha devido cada vez
maior presso do pblico e adequao
progressiva do cinema a uma lei geral do
audiovisual que o empurra para fora do
territrio da arte.
Paradoxalmente, mais uma vez no
interior desta linha de tradio que aqui se
exps, e no de qualquer modelo importado,
que encontraremos a melhor prova de sobre-
vivncia e internacionalizao dada pelo
cinema portugus nos ltimos anos. No
Quarto da Vanda , at por razes
profilcticas, um exemplo a reter de resis-
tncia a essa normalizao industrial, impon-
do uma salutar convivncia com as novas
tecnologias, ao mesmo tempo que se inscre-
ve numa crtica acrrima s actuais condi-
es de produo em cinema. No debate que
se seguiu projeco do filme em Serpa,
em 2000, por ocasio do Seminrio Interna-
cional sobre Cinema Documental Docs
Kingdom, Pedro Costa referiu-se a esse
mesmo mal estar quando interpelado por
Thierry Lounas acerca da hiptese sugerida
pelo crtico do Cahiers du Cinma de que
o realizador estaria a reagir contra as coisas
que so do funcionamento bsico da fico
e da produo de fico:
Eu comeo a ter um desgosto enor-
me com a maneira de fazer filmes.
Acho que uma coisa to violenta,
cega, surda e muda... a equipa, o
catering, os horrios, as folhas de
trabalho...
11
No Quarto da Vanda insurge-se contra
tudo isso, barricando-se numa outra forma
de produo, mais livre do que o esquema
pesado da indstria, que impede mais do que
ajuda, que inviabiliza mais do que facilita.
A par destes condicionalismos surgem uma
poltica e uma economia de cinema que,
aliadas a uma tica, transformam este filme
num objecto seminal na histria do cinema
portugus e no contexto do cinema contem-
porneo.
Crucial para a nossa tese essa espcie
de armadilha realista, tanto pelo gnero
documentrio como pelo tema, que P. Costa
foi capaz de montar. Acerca dela, Thierry
Lounas fala de uma total ausncia de sin-
tomas do real
12
. Emmanuel Burdeau, tam-
bm do Cahiers, no mesmo debate, prefere
conciliar a ausncia da violncia habitual do
documentrio, uma vez que no h nenhum
efeito de real, com a ausncia da violncia
da composio inerente a grande parte das
233 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
fices e, por isso, o situa nesse cruzamen-
to
13
; e no esquece o papel que as condies
de produo desempenharam no potenciar
deste resultado:
Do que eu gosto no filme, o que o
torna novo, que talvez pela primeira
vez temos a impresso de que este
filme pde ser feito de duas maneiras
a priori completamente opostas: a pri-
meira forma seria a observao, a
pacincia, filmar muito de uma forma
repetida e continuada. Gosto muito
quando o Pedro diz que apanhava o
autocarro para ir l todos os dias, da
forma menos artstica possvel, menos
premeditada no sentido em que a
premeditao de tal forma repetida,
que se torna rotina e nos pe ao nvel
do retrato absoluto. A segunda manei-
ra seria na montagem, pois ao utili-
zarmos o mtodo totalmente oposto j
no estamos no nvel do retrato mas
sim no da construo levada ao ex-
tremo. Vemos que h muito trabalho:
manipulao do som, falsos campos /
contracampos que no podem ter sido
feitos ao mesmo tempo, pois s havia
uma cmara e penso que o Pedro no
poderia ter interrompido as conversas
para o fazer. Se h qualquer coisa de
novo aqui, no levar ao extremo
o mtodo do que se chama o realismo
e levar ao extremo o mtodo do ci-
nema de montagem.
14
O filme de P. Costa tambm invulgar
porque revela um realizador portugus que,
comeado na fico, faz o percurso inverso
daquela que tinha sido a norma da gerao
fundadora. No para proceder, como ento,
a qualquer lgica de substituio at porque,
como afirmou j vrias vezes, a maioria dos
documentrios, o documentrio puro, no lhe
interessa , mas antes para prosseguir naque-
la que a caracterstica do melhor cinema
portugus e que No Quarto da Vanda faz por
preservar. Vamos ver at quando.
234 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Bibliografia
AAVV, Os Debates Docs Kingdom
2000, AporDOC, 2002.
Costa, Joo Bnard da, Histrias do
Cinema Snteses da Cultura Portuguesa,
Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
1991.
Grilo, Joo Mrio e Monteiro, Paulo
Filipe (org.), O Que o Cinema? Revista
de Comunicao e Linguagens, n23, Lisboa,
Edies Cosmos, 1996.
Matos-Cruz, Jos de, O Cais do Olhar,
Lisboa, Cinemateca Portuguesa-Museu do
Cinema, 1999.
Pina, Lus de, Histria do Cinema
Portugus, Lisboa, Europa-Amrica, 1987.
Torres, Antnio Roma, Cinema Portugu-
s, Ano Gulbenkian, Porto, Soares Martins,
1972.
Turigliatto, Roberto (coord.), Amore di
Perdizione, Storie di Cinema Portoghese
1970-1999, Turim, Lindau, 1999.
_______________________________
1
Universidade Autnoma de Lisboa.
2
Cf. Serge Daney, Como Todos os Velhos
Casais, Cinema e Televiso Acabaram Por Ficar
Parecidos, in O Que o Cinema? Revista de
Comunicao e Linguagens, n23, Lisboa, Edi-
es Cosmos, 1996, pp.223-228.
3
Cf. Joo Mrio Grilo in Nmero Magazine,
n 18.
4
M. S. Fonseca in folha policopiada da
Cinemateca Portuguesa distribuda aquando da
exibio do filme Os Verdes Anos.
5
Denis Lvy, Introduo in LArt du Cinma
(especial Manoel de Oliveira), Agosto de 1998.
6
Cit. in J. Bnard da Costa, Histrias do
Cinema Snteses da Cultura Portuguesa, Lisboa,
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1991, p.184.
7
Cf. A. Roma Torres, ob. cit., pp.44-45.
8
Acerca desta dupla ligao, apetece ainda
revisitar Noronha da Costa, para quem o ci-
nema era antes de mais a perpetuao da pro-
messa Romntica de transformao do espao
cenogrfico em espao-ecr. Segundo o pintor, a
arte da pintura teria tido os seus rarssimos
momentos altos em Portugal na representao de
uma imagem errante, indefinvel. A poesia, de
Cames a Pessoa, seria por isso uma consequncia
exacta dessa imagem inencontrvel (Cf. cat-
logo da exposio Noronha da Costa Revisitado,
comissariada por Nuno Faria e Miguel
Wandschneider).
9
Cf. J. B. da Costa no documentrio Cinema
Portugus?, de Manuel Mozos; J. M. Costa in
R. Turigliato (coord.), Amore di Perdizione, Storie
di Cinema Portoghese 1970-1999, Turim, Lindau,
1999; e J. M. Grilo na citada entrevista a Nmero
Magazine, n 18.
10
Cf. J. M. Grilo na citada entrevista a Nmero
Magazine, n 18.
11
Pedro Costa in Os Debates Docs Kingdom
2000, AporDOC, 2002, p.80.
12
Thierry Lounas in Os Debates Docs
Kingdom 2000, AporDOC, 2002, p.75.
13
Emmanuel Burdeau in Os Debates Docs
Kingdom 2000, AporDOC, 2002, p.76.
14
Idem, p.94.
235 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
Cmara Clara, um dilogo com Barthes
Osvaldo L. dos Santos Lima
1
No livro A Cmara Clara, Roland Barthes
tece conceitos teis para qualquer pesquisa-
dor que se envolva com o universo das
imagens fotogrficas. Nesta derradeira obra
Barthes estabelece uma relao entre a cmera
clara, onde a imagem para ser reproduzida
necessita da mo do homem, e a cmera
obscura que produz uma imagem ligada ao
referente atravs de sua emanao luminosa.
O texto se constri entre a escrita aca-
dmica, precisa e analtica, e a literria,
emocional e metafrica. Desta forma qual-
quer tentativa de anlise se v amarrada por
esses dois plos, que ora nos afastam de um
pensamento analtico e ora nos aproximam
de suas proposies conceituais. Entretanto,
o carter emocional da escrita somente
aprofunda seu teor cientfico pois aproxima
o leitor da essncia da imagem fotogrfica.
Barthes, logo no incio de seu texto, nos
antecipa as dificuldades metodolgicas enfren-
tadas por quem deseja analisar a fotografia.
Quem podia guiar-me? Desde o pri-
meiro passo, o da classificao (
preciso classificar, realizar amostra-
gens, caso se queira constituir um
corpus) a fotografia se esquiva.
2
Por conseguinte Barthes se projeta como
mediador, como medida do saber fotogrfi-
co, como atesta: Decidi ento tomar como
guia de minha nova anlise a atrao que
eu sentia por certas fotos. Pois pelo menos
dessa atrao eu estava certo.
3
Para ento assinalar as trs prticas
ligadas fotografia: fazer, suportar e olhar.
O fazer representado pelo Operator. O olhar
representado pelo Spectator, posio assumi-
da pelo autor. O suportar se referindo ao
Spectrum e ao referente e sua condio
inevitvel de retorno do morto.
Ao se posicionar como Spectator para
anlise, Barthes se afasta da Foto-segundo-
o-fotgrafo.
No entanto, dessa emoo (ou dessa
essncia) eu no podia falar, na me-
dida que nunca a conheci; no podia
unir-me coorte daqueles (os mais
numerosos) que tratam da Foto-segun-
do-o-fotgrafo.
4
Contudo, o corte metodolgico que o
coloca na posio de spectator, parece no
ser capaz de afast-lo da emoo do operator
que , durante o livro, diversas vezes ima-
ginada.
Eu podia supor que a emoo do
Operator (e portanto a essncia da Fo-
tografia-segundo-o-Fotgrafo) tinha
alguma relao com o pequeno ori-
fcio (estnopo) pelo qual ele olha,
limita, enquadra e coloca em perspec-
tiva o que ele quer captar (surpre-
ender)
5
Barthes funde, na sua idia de estnopo,
dois orficios distintos: o visor enquadra-
mento e o pequeno orifcio responsvel
pela indicialidade da imagem fotogrfica:
A moldura se tornou o primeiro
filtro de acesso ao universo exterior
e janela metafrica ao ligar o mundo
interno ao externo, o interoceptivo ao
exteroceptivo, o operator ao
spectator numa dinmica de relaes
latentes do aparelho e agora realiza-
das pela vontade e obra humana. O
fascnio inicial que se detinha no
orifcio de entrada dos raios lumi-
nosos, janela responsvel pela con-
tigidade fsica do referente, foi
migrando para uma outra janela na
fotografia contempornea. Do orif-
cio, que d conta da representao
figurativa do referente, passa-se
moldura, que representa o poder
daquele que opera o aparelho
6
236 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Punctum e Studium
Barthes afirma sobre o punctum: O
punctum de uma foto esse acaso que, nela,
me punge (mas tambm me mortifica, me
fere).
7
O punctum no est relacionado com as
intenes do fotgrafo, com a cultura do
operator, com sua viso do mundo. Ele
depende do spectator se sentir ferido, pungido
por determinada imagem. Ao contrrio do
studium que uma espcie de educao, de
saber que permite encontrar, para Barthes,
o operator e suas intenes.
o studium, que no quer dizer, pelo
menos de imediato, estudo, mas a apli-
cao a uma coisa, o gosto por al-
gum, uma espcie de investimento
geral, ardoroso, verdade, mas sem
acuidade particular.
8
Segundo Barthes o punctum se subdivide
em: forma e intensidade. O primeiro d conta
do detalhe da imagem que ir feri-lo. Esse
detalhe est na imagem e pode vir a ser uma
gola, um colar, uma pedra onde a sua con-
dio dentro do quadro remeta a um extra
campo, um campo cego.
9
O punctum ,
portanto, um extracampo sutil, como se a
imagem lanasse o desejo para alm daquilo
que ela d a ver.
10
No que concerne a intensidade o punctum
que, no o detalhe, mas sim o tempo e
sua nfase dilaceradora do noema (isso-
foi)
11
, sua representao pura. Nem todas as
imagens nos oferecem um punctum. Algu-
mas permanecem inertes ao olhar provocan-
do-nos apenas um interesse geral, um
studium.
Porm, no avesso do processo, encontra-
mos a figura do operator e a necessidade de
relativizar o conceito de punctum. Parece-
me obrigatrio faz-lo neste momento atra-
vs da anlise do processo fotogrfico.
Se quisermos compreender o que
constitui a originalidade da imagem
fotogrfica, devemos obrigatoriamen-
te ver o processo bem mais do que
o produto e isso num sentido exten-
sivo: devemos encarregar-nos no ape-
nas, no nvel mais elementar, das mo-
dalidades tcnicas de constituio da
imagem (a impresso luminosa), mas
igualmente, por uma extenso progres-
siva, do conjunto dos dados que
definem, em todos os nveis, a rela-
o desta com sua situao
referencial, tanto no momento da pro-
duo (relao com o referente e com
o sujeito-operador: o gesto do olhar
sobre o objeto: momento da toma-
da) quanto no da recepo ( relao
com o sujeito-espectador: o gesto do
olhar sobre o signo: momento da
retomada da surpresa ou do equ-
voco).
12
O operator, ao fotografar, corta o fluxo
natural da vida transformando a forma do que
era ntegro em parcial e o tempo que era
contnuo em fragmento. Seu espao
topolgico determina sua mirada sendo ele
o tanto de real enquanto corpo que define
parte do golpe que est pronto a desferir. Seu
corpo apia o aparelho que o permite se
lanar ao imaginrio. A lmina do obturador
e o estrangulamento do diafragma cortam a
realidade em pequenas fatias. A foto apa-
rece desta maneira, no sentido forte, como
uma fatia, nica e singular de espao-tempo,
literalmente cortada ao vivo.
13
O ato fotogrfico, no exato instante da
tomada, aprisiona, dentro do mecanismo da
cmera obscura, um tempo inatual. O apa-
relho coleciona pequenas lminas de passa-
do, subtradas de um espao pleno. bvia
violncia constitui a tomada.
Cada objetivo, cada tomada ine-
lutavelmente uma machadada (golpe
de machado) que retm um plano do
real e exclui, rejeita, renega a
ambincia. Sem sombra de dvida,
toda a violncia (e a predao) do ato
fotogrfico procede essencialmente
desse gesto do cut.
14
Porm, a enunciao fotogrfica fruto
de uma deciso do operator. Seu dedo de-
termina o momento exato da machadada e,
portanto, do crime que ter como prova
irrefutvel a imagem revelada.
237 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
SIRS, I have received Act II, Scene
II of LActe Photographique, wich
you were kind enough to send me.
I am deeply moved, and feel I must
tell you how sensitive I am to your
devotion to the action of our great
masturbatory finger on the shutter
connected to the subversive agent that
is our visual organ (see the dioptric
of Descartess Discourse on
Method).
15
Ao fugir da latncia, pela acelerao
qumica ou pela emanao luminosa do pixel,
o corpo bidimensional da fotografia vem
tona expondo o operator e seu crime
passional. Impossvel no relacionar este
instante ao momento decisivo
16
Bressoniano
e a fora do punctum. Supe Barthes, ao
relativizar sua posio de spectator, ser a
emoo do operator o poder de supreender,
atravs do estnopo, sua presa. Esta suposta
emoo no seria a equivalente ao punctum
spectator? No seria ela a ferida que leva
o operator a eleger um instante em detrimen-
to de outro e acionar sua guilhotina, apri-
sionando na latncia da cmera obscura, mais
uma fatia de tempo-espao? A fotografia ,
para o operator, o desejo de aprisionar a ferida
e de reter na prata ou na eletrnica do pixel,
o detalhe que lhe pungiu quando na visu-
alizao da cena atravs de seu visor
pequeno simulacro da imagem. No haveria,
dessa forma, imagem criada pelo ato foto-
grfico sem a manifestao de um punctum
operator.
17
A condio para a existncia da
imagem a ferida que, no momento da
tomada, o operator cauteriza na prata. Com
o punctum, no mais o intelecto que fala,
o corpo que age e que reage.
18
Para o operator, o punctum a essncia
do ato, o detalhe que lhe confere verdadeira
paternidade.
O punctum operator a inscrio sobre
a superfcie do material, to bem denomi-
nado de sensvel, de um inconsciente ma-
nifesto. Ao fotografar o fotgrafo age como
uma retro-cmera. H uma referencialidade
externa, uma imagem que ir aderir ao seu
sensvel quando, este positivo (referencial)
encontrar, atravs da tica-qumica, seu
equivalente negativo.
19
E isso ainda mais porque tudo ocor-
re de fato na interioridade do pensa-
mento do sujeito. Afinal, se a mem-
ria uma atividade psquica que
encontra na fotografia seu equivalen-
te tecnolgico moderno, evidente-
mente, no outro sentido, que a me-
tfora nos interessa, como uma inver-
so positivo/negativo: a fotografia
tanto um fenmeno psquico quanto
uma atividade tica-qumica.
20
O fotgrafo expe, atravs da fotografia
como aparelho psquico, sua imagem invisvel,
o que lhe foi inscrito na memria psquica e
que agora explode pelo confronto com a cena.
Sempre haver uma espcie de
latncia no positivo mais afirmado,
a virtualidade de algo que foi perdido
(ou transformado) no percurso. Nesse
sentido, a foto sempre ser assombra-
da. Sempre ser, em (boa) parte, uma
imagem mental.
21
Ainda sobre o punctum
A esse segundo elemento que vem
contrariar o studium chamarei ento
punctum; pois punctum tambm pi-
cada, pequeno buraco, pequena man-
cha, pequeno corte e tambm lance
de dados.
22
Interessante observar esta primeira apa-
rio do termo punctum no A Cmara
Clara. Ao determinar que o punctum um
pequeno buraco irresistvel lembrar que a
emoo do operator est ligado a outro
pequeno orifcio, desta vez real, o visor e
sua capacidade construtora da imagem.
Parece tambm existir uma analogia, na
ordem do operator, para a subdiviso do
punctum spectator em forma
23
e intensidade.
O visor limita, enquadra, e ao faz-lo se torna
pequeno simulacro da imagem por onde o
fotgrafo tambm recorta e isola o elemento
punctual que o fere. Este detalhe remete o
fotgrafo para um campo cego (inconscien-
te) que se manifesta pelo ato da tomada. O
segundo punctum, ligado ao noema isso-foi,
atua para o operator atravs de sua imagem
238 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
mental, de sua memria psquica. Pois se
verdade que tudo se inscreve na memria
psquica, o que volta do passado
24
, em parte,
o que compe a tomada da foto, o isso-
foi para o operator.
Pequenas consideraes sobre o corte
fotogrfico
A engenharia de algumas cmeras propor-
cionam ao fotgrafo uma viso alm do corte
cego de uma mono-reflex. So cmeras dessa
natureza as famosas Leicas da srie M que
Bresson
25
usou durante toda a sua carreira.
Nesses aparelhos, ao se olhar pelo visor, se
v mais do que apenas o quadro que ir
constituir a imagem. V-se tambm o extra-
quadro, ou seja, as adjacncias da cena, apenas
separada por pequenas guias que servem ao
operator como fronteira entre o registro e o
no-registro. Sendo assim, at o derradeiro
instante da tomada, a imagem pode ser al-
terada levando-se em considerao o que se
apresentava para alm da cercadura do registro.
Este tipo de aparelho trabalha com um inte-
ressante conceito: um extra-quadro de registro
que , ao mesmo tempo, parte do visvel.
Poderiamos supor que, em muitas fotografias
do mestre Henri Cartier-Bresson, exista um
momento decisivo alheio ao registro mas
pertencente ao tempo
26
deflagrador do dis-
paro. Um punctum operator que determinasse
o exato instante do disparo mas no fosse
petrificado por ele.
For me the camera is a sketch book,
an instrument of intuition and
spontaneity, the master of the instant
which, in visual terms, questions and
decides simultaneously. In order to
give a meaning to the world, one
has to feel oneself involved in what
one frames through the viewfinder.
27
Em um encontro de fotgrafos, na Bienal
Internacional de Fotografia Cidade de
Curitiba, recordo-me de Sebastio Salgado
afirmar que, em seus famosos ensaios do-
cumentais
28
, expe apenas um segundo sobre
o tema retratado. Reside nesta afirmao uma
verdade matemtica que sempre me incomo-
dou. Um livro desse autor tem centenas de
imagens. Suas exposies so gigantescas.
Porm, se calcularmos que em mdia cada
tomada seja da ordem de 1/250 de exposi-
o, estaramos ento, de fato, restritos a
observar apenas um segundo de cada um de
seus grandes ensaios. A dimenso temporal
nfima de cada exposio capaz de revelar
toda uma narrativa sobre temticas
indubitavelmente complexas. O instante
decisivo Bressoniano parece agir aqui em
consonncia ao que at agora denominamos
punctum operator, se que as desemelhanas
entre um e outro permitem classific-los como
diferentes.
Tangncia punctual
O punctum , ao meu ver, um forte elo
entre operator e spectator. Sua manifestao
dupla e relativizada aproxima importantes
partes do fazer fotogrfico. O spectator ao
observar uma foto, onde testemunhe um
punctum, determina, de certa maneira, um
novo quadro a fim de isolar o que lhe punge.
Ao cercar o que lhe fere ele subverte o
enquadramento original e, dessa maneira, o
spectator se lana aventura do operador.
O punctum spectator um eco do ins-
tante indicial, puro e decisivo que caracte-
riza o punctum operator. Entretanto, em cada
tomada existe, para o fotgrafo, uma cicatriz
obrigatria e necessria; e para o spectator,
em cada fotografia, uma facultativa e latente
ferida. De qualquer modo, parecem compar-
tilhar a mesma dor.
239 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
Bibliografia
Barthes, Roland. A cmara clara: nota
sobre a fotografia. Rio de Janeiro, Nova
Fronteira, 1984.
Bresson, Henri Cartier. The minds eye:
writings on photography and photographers.
New York, Aperture, 1999.
Caetano, Kati; Lima, Osvaldo. A ques-
to do referente em alguns fotgrafos con-
temporneos. Significao Revista brasi-
leira de semitica. So Paulo, Annablume,
n.20, 2003.
Dubois, Philippe. O ato fotogrfico e
outros ensaios. Campinas, Papirus, 1994.
Samain, Etienne.(Org) O fotogrfico. So
Paulo: Hucitec, 1998.
_______________________________
1
Universidade Federal do Paran.
2
Roland Barthes, A cmara clara: nota sobre
a fotografia, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1984,
p.12.
3
Roland Barthes, A cmara clara: nota sobre
a fotografia, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1984,
p.35.
4
Roland Barthes, A cmara clara: nota sobre
a fotografia, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1984,
p.21, grifo nosso.
5
Roland Barthes, A cmara clara: nota sobre
a fotografia, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1984,
p.21.
6
Kati Caetano; Osvaldo Lima, Significao
Revista brasileira de semitica, So Paulo,
Annablume, 2003, n. 20, p. 137.
7
Roland Barthes, A cmara clara: nota sobre
a fotografia, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1984,
p.46.
8
Roland Barthes, A cmara clara: nota sobre
a fotografia, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1984,
p.45.
9
Este efeito se d ao nvel do discurso e pode
ser caracterizado pelos estudos de Hjelmslev.
10
Roland Barthes, A cmara clara: nota sobre
a fotografia, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1984,
p.35.
11
O isso-foi a representao de um tempo
vivido (do sentido) e no de um tempo crono-
lgico, linear, fsico e emprico.
12
Philippe Dubois, O ato fotogrfico e outros
ensaios, Campinas, Papirus, 1994, p.66.
13
Philippe Dubois, O ato fotogrfico e outros
ensaios, Campinas, Papirus, 1994, p.161.
14
Philippe Dubois, O ato fotogrfico e outros
ensaios, Campinas, Papirus, 1994, p.178.
15
Henri Cartier-Bresson, The minds eye:
writings on photography and photographers, New
York, Aperture, 1999, p. 105.
16
Alm da relao entre o momento deci-
sivo e o dedo masturbatrio, verdadeiro rgo
do fotgrafo e revelador de seu prazer solitrio.
17
Relativizao conceitual que visa dar conta
da emoo e de sua significao, para o operator,
quando do ato de tomada da fotografia.
18
Etienne Samain (Org), O fotogrfico, So
Paulo, Hucitec, 1998, p.130.
19
Esta dupla face negativo-positivo
(interioridade-exterioridade) trabalha aqui no sen-
tido de oposio e de contigidade fsica.
20
Philippe Dubois, O ato fotogrfico e outros
ensaios, Campinas, Papirus, 1994, p.316.
21
Philippe Dubois, O ato fotogrfico e outros
ensaios, Campinas, Papirus, 1994, p.326.
22
Roland Barthes, A cmara clara: nota sobre
a fotografia, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1984,
p.46.
23
Forma no sentido de seleo e combinao,
por meio de unidades figurativas.
24
No sentido de tempo vivido (memorial) e
no de passado cronolgico.
25
Henri Cartier-Bresson somente fotografava
com Leicas municiadas com objetiva normal (50
mm).
26
Intensidade emocional, pontual do disparo.
27
Henri Cartier-Bresson, The minds eye:
writings on photography and photographers, New
York, Aperture, 1999, p. 15.
28
Trabalhadores e xodos para citar apenas
dois.
240 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
241 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
Desterritorializao e exilio no cinema de Walter Salles Junior
Regina Glria Nunes Andrade
1
Essa comunicao est baseada numa
pesquisa sobre a filmografia do cineasta
brasileiro Walter Salles Junior. Aprofundamos
a metodologia que vimos utilizando nos
estudos de filmes e propomos um novo tema
que faz fronteira entre a Psicologia e os
Estudos da Cultura. Comeamos nosso es-
tudo, com cinco filmes do cineasta de longa-
metragem, todos muito bem premiados, e com
vasto repertrio de vdeo cassetes, distribu-
dos em quase todas das filmotecas do Brasil
e tambm em Portugal.
A filmografia de Walter Salles Junior
revela uma espcie de afirmao da con-
dio subjetiva no cinema brasileiro e no
das condies socioeconmicas de um de-
terminado grupo ou classe social. As angs-
tias dos personagens se refletem nas dificul-
dades da realizao de seus prprios desejos.
As personagens so tratadas com suas con-
dies psicolgicas e subjetivas.
No filme Terra Estrangeira (1995) o
personagem Paco, depende dos desejos de
sua me, Alex, aguarda os desejos de Miguel
e Igor em frases agnicas. Revelando-se como
verdadeiras personagens glauberianas, grita:
o fim do mundo (...), a memria foi-se
embora.
Estas expresses provocam um estudo
interpretativo de argumentos psicanalticos
Por esta razo tambm concentramos nosso
estudo seguindo a obra do cineasta, no
conjunto de sua produo esttico-subjetiva.
Sua filmografia em longa metragem ex-
tensa, comeando com A Grande arte (1991),
Terra Estrangeira (1995), Central do Brasil
(1998), O primeiro dia (1999) e Abril despe-
daado (2001), sendo que nesta apresenta-
o fragmentamos : Terra estrangeira (1995)
e Central do Brasil (1998) e por fim Dirio
de motocicleta (2004).
Encontramos nos filmes a diferena,
diversidades/semelhanas, em cada obra. A
partir da especificidade de cada filme encon-
traremos a personalidade do conjunto. O
objetivo primeiro ser identificar na obra do
cineasta contedos e significantes pregnantes
tais como o tema da desterritorializao e
do exlio e conseqentemente do desam-
paro, da angstia e do desejo em suas
manifestaes de tempo-espao e regio
nao em apenas dois exemplos:
Na filmografia de Walter Salles Junior
escolhemos especialmente os filmes Terra
Estrangeira (1995) e Central do Brasil
(1998). A percepo do diretor conside-
rada como paradigmtica do imaginrio social
da contemporaneidade e se sustenta numa
produo significativa, de linguagem contem-
pornea que oferece uma nova percepo das
questes culturais at ento no abordadas
na filmografia brasileira.
Breve informao sobre o cinema de
Walter Salles Junior
O diretor Walter Moreira Salles Junior
nasceu em 1956, no Rio de Janeiro. Os temas
centrais das obras de fico e dos
documentrios dirigidos por ele so o exlio,
a errncia e a busca de identidade. Outros
contedos so observados em sua obra, tais
como a globalizao a viso no tempo-es-
pao e as construes de distncia e o
desamparo presente em todos os temas tra-
tados pelo diretor. Jovem ainda e dono de
um brilhante trabalho e talento, todos os seus
filmes foram premiados. A seguir apresen-
taremos uma viso rpida de sua produo
cinematogrfica.
Dcada de 80:
Sua consistente filmografia iniciada com
filmes de curta-metragem, com o
documentrio Japo, Uma viagem no tempo
Kurosawa, Pintor de imagens (1986), em que
o cineasta foi o diretor e o roteirista do
trabalho. No ano seguinte dirigiu e fez o
roteiro de Krajcberg-O Poeta dos Vestgios
(1987). Durante esta dcada o diretor ainda
242 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
trabalhou na montagem de China, O Imprio
do Centro (1987). Encerrando essa fase de
experincia de direo e roteiro, dirige Chico
ou O Pas da delicadeza Perdida (1987).
Dcada de 90.
Na dcada de noventa surgem os primei-
ros filmes de longa-metragem, que daro
consistncia sua obra, e sobre os quais
enfocaremos nossa proposta de pesquisa.
difcil dizer que so os filmes mais impor-
tantes de sua carreira porque o cineasta
muito jovem e tem uma produo muito
intensa. Ele inicia a dcada com um filme
que no foi muito notado, A grande arte
(1991), cujo roteiro baseado no livro
homnimo de Rubem Fonseca
Terra Estrangeira (1995), co-dirigido com
Daniela Thomas o primeiro longa metragem
do cineasta e recebeu, entre outros o Grande
Prmio do Pblico da Reunions
Internattionales de Cinema Paris; no Fes-
tival de Bergamo, recebeu o prmio de melhor
filme do ano, tendo sido selecionado para
vrios outros festivais. Neste filme podemos
observar a sensibilidade do diretor por certas
divises subjetivas entre nacionalidade,
regionalidade, angstia de imigrao e limi-
taes locais. Trata-se de um trabalho pene-
trante e de carter reflexivo, a partir de temas
universais.
Logo depois vem Central do Brasil (1998)
em que so apresentados conflitos entre
geraes e de angstia subjetiva frente ao
desamparo da perda dos pais, o anonimato das
grandes cidades, e as dificuldades relacionais
de idade. Este filme de uma sensibilidade
gritante, foi indicado para vrios prmios tendo
recebido um total de cinquenta e cinco pr-
mios internacionais inclusive o do Festival de
Berlim 1998, o Globo de Ouro e o de Melhor
filme estrangeiro da BAFTA (British Academy
of Film, Television).
Para fechar o sculo passado, Walter
Salles foi convidado para participar de um
projeto de realizao de pequenos filmes para
a televiso, tendo apresentado o longa-
metragem para a TV Meia-Noite / O Primei-
ro Dia (1999) co-dirigido tambm com
Daniela Thomas. Foi um filme que passou
durante apenas uma semana nos circuitos
brasileiros, mesmo assim em algumas capi-
tais. O tema, bastante atual, talvez muito
mobilizante, recebeu certa censura. O filme
conta o destino de Joo (Luiz Carlos Vas-
concelos), encarcerado num presdio do Rio
de Janeiro, e o de Maria (Fernanda Torres),
isolada em seu apartamento. No dia 31 de
dezembro de 1999 Joo foge da priso. No
mesmo momento, Maria vaga pelas ruas da
cidade, desamparada e abandonada pelo
marido. Joo perseguido nos becos e favelas
de Copacabana. Comea a contagem regres-
siva da virada do ano. Estouram os primeiros
fogos de artifcio. Sem nenhuma perspectiva,
Maria sobe para o telhado de seu prdio, o
mesmo lugar em que Joo busca se esconder.
E nesse espao, entre o cu e a terra, na
utopia de uma nica noite, que a cidade
partida se abraa e o milagre se produz. At
a chegada do primeiro dia.
Salles tambm produziu outros filmes, de
longa-metragem de jovens cineastas brasilei-
ros em seus primeiros trabalhos de realiza-
dores, como Madame Sat (Karim Ainouz),
Cidade de Deus (Ktia Lund e Fernando
Meirelles), Onde a terra caba (Srgio
Machado), todos com temas mais ou menos
semelhantes ao que lhe inquieta, e todos
reconhecidamente bem realizados e bem
premiados. Talvez seja um indicativo de uma
certa liderana na rea da filmografia naci-
onal.
Novo milnio 2000.
Abril despedaado (2001), inspirado no
romance homnimo de Ismail Kandar. Uma
histria longnqua, quando em 1910, um
jovem de 20 anos passa a receber apoio do
pai para se vingar da morte de seu irmo
mais velho, assassinado por uma famlia rival.
O elenco do filme de jovens atores, entre
eles Rodrigo Santoro e Luiz Carlos Vascon-
celos. O tema deste filme se relaciona com
arqutipos muito antigos da vingana, da luta
pelo sangue ou mesmo dos vnculos que nos
unem a todos. At este momento so estes
os filmes produzidos pelo cineasta Walter
Salles Junior. Mas isto no impede novos
filmes sejam dirigidos e venham a ser ane-
xados na pesquisa, que pretende analisar toda
a produo deste diretor.
Finalmente Dirio de Motocicleta (2004)
que relata uma viagem de Che Guevara,
associando o nome do cineasta definitivamen-
te ao gnero subjetivo onde alguns temas
243 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
persistem e insistem como os do conflito
subjetivo e da angstia.
A desterritorializao
A sociedade contempornea apresenta um
ritmo acelerado de vida em que tomadas de
decises muito complexas so exigidas a
partir das inmeras mudanas tecnolgicas,
polticas, econmicas, sociais, culturais e que
afetam inclusive a esfera ntima dos relaci-
onamentos. A transformao do planeta numa
aldeia global impe-nos uma srie de acon-
tecimentos que so expostos e absorvidos
quase que ao mesmo tempo que esto acon-
tecendo em qualquer lugar. No existe mais
fronteiras geogrficas. Em contrapartida,
os indivduos no mais pertencem e se
identificam apenas com o seu lugar de
origem. A evoluo tecnolgica trs uma nova
realidade em que possvel a comunicao
sem fronteiras, uma diminuio das distn-
cias, uma identificao dos sujeitos com
culturas que eles escolhem pertencer e uma
alterao nas concepes de tempo e espao.
As referncias de espao sempre nos
situaram perante nossos costumes, tradies,
rituais, gostos, formas de entender e se
relacionar no mundo e nos ajudam a enten-
der o que somos. Hoje se apresentam novas
representaes de espao e consequentemen-
te do tempo. A facilidade e a rapidez de acesso
e troca de informaes muda qualitativamen-
te a noo de tempo e espao e tornar-se
essencial rever estes conceitos para que
consigamos nos situar melhor na complexa
rede de relaes sociais em que nos encon-
tramos e em nossos modos de subjetivao.
Como diz Homi Bhabha,
...encontramo-nos no momento de
trnsito em que espao e tempo se cru-
zam para produzir figuras complexas
de diferena e identidade, passado e
presente, interior e exterior, incluso
e excluso. Isso por que h uma
sensao de desorientao....
2
Bhabha evidentemente enxerga em sua
hiptese, a ps-modernidade enquanto espa-
o hbrido e hibridizante, vive ou sobrevive,
com a noo de eu angustiado, criticamen-
te situado numa fronteira de um eu que
no moderno , nem ps-moderno. Podemos
observar que atualmente, encontramos a partir
desses novos conceitos outra forma de iden-
tificar o mundo. A contemporaneidade refle-
te essa sensao de falta de orientao a partir
do momento que em perdemos nossas refe-
rncias estruturais. A cada instante podemos
mudar nossos conceitos a forma de entender
o que acontece ao nosso redor. A velocidade
em que tudo acontece faz com que a mu-
dana de nossa rotina sejam visualizadas e
sentidas como um desequilbrio que nos causa
muita insegurana. H uma necessidade da
plasticidade, de flexibilidade do individuo,
pois ele deve se modelar constantemente para
acompanhar esse ritmo e atender a uma
sociedade que faz inmeras exigncias de
excelncia, de felicidade contnua e de su-
cesso.
Segundo o gegrafo David Harvey, a
experincia mutante do espao e do tempo
tem por referncia condies materiais e
sociais.
A aniquilao do espao por meio
do tempo modificou de modo radical
o conjunto de mercadorias que entra
na reproduo diria... A implicao
geral de que, por meio da experi-
ncia de tudo comida, hbitos
culinrios, msica, televiso,
espetculos e cinema , hoje pos-
svel vivenciar a geografia do mundo
vicariante, como sendo um simula-
cro.
3
Acreditamos ser de extrema importncia
refletir como esses aspectos influem no nosso
comportamento, assim como na construo
da nossa subjetividade. O conceito de
desterritorializao escolhido nesse artigo
como uma categoria terica que nos possi-
bilita essa reflexo nos traz a sensao de
um mundo cada vez mais comprimido. As
fronteiras ficam sem funo. As pessoas
sentem-se sem territrio delimitado, continua-
mente vivendo suas experincias em diferen-
tes contextos tendo necessidade de criar novas
formas de subjetividade para se adaptarem
s exigncias de cada espao que se encon-
tram.
244 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Observamos que a criao de novas
formas de subjetividade geram muita angs-
tia. H um grande desconforto oriundo do
contnuo conflito em arriscar se expressar de
forma autntica e, em contrapartida, a ne-
cessidade de ser aceito e admirado social-
mente. Alm da angstia vivida pelos jovens
em escolher como se expressar existe tam-
bm a sensao embaraosa de se colocar
em palavras, gestos e aes num no-lugar,
ou seja, falar e agir com metforas e expres-
ses de uma determinada cultura num outro
espao em que esta subjetividade no encon-
tra ressonncia e nem dilogo.
De acordo com Marc Aug:
os no-lugares so tanto as instala-
es necessrias para a circulao ace-
lerada de pessoas e bens... como os
prprios meios de transporte ou os
grandes centros comerciais, ou tam-
bm os campos de trnsito prolonga-
do onde se estacionavam os refugi-
ados do planeta.
4
A complexidade da vida cotidiana parece
ter minimizado o espao e o tempo que, em
geral, esses jovens estudados neste artigo
dedicam a confrontar questes que os per-
turbam em suas relaes interpessoais. As
discusses entre seus pares parecem tornar-
se superficiais refletindo a busca da con-
firmao de premissas pessoais, havendo
pouco espao para ouvir o que diferente.
A diferena gera angstia que os remete ao
limite e represso, castrao.
Na primeira teoria de angstia de Freud
(1916) h uma estreita ligao entre angstia
e excesso de sexualidade que se modifica no
texto Inibio, Sintoma e Angstia (1926).
Freud prope um movimento sincrnico: ao
mesmo tempo em que os motivos da angs-
tia se concentram sobre o signo da castrao,
opera-se uma re-inverso radical do dentro
e do fora. No mais o recalque que produz
angstia, mas a angstia que produz o
recalque. Outro lugar de comunicao huma-
na na atualidade que desperta novas formas
de sociabilidade promovendo descobertas,
prazeres, iluses, encontros, desencontros
podendo tambm gerar conflitos e angstias
a virtualidade conferida atravs dos sites
de relacionamento. Nesses espaos vazios
(no-lugares) onde o indivduo no tem a
princpio referencial nenhum da pessoa com
quem interage, pode assumir o risco da
interao face a face a qualquer momento, fato
que depender do interesse mtuo. Quando
isso no ocorre o sujeito pode sofrer o
incmodo de sua comunicao ser interrom-
pida pelo desinteresse do outro. Uma forma
de uma leitura sobre a desteritorializao seria
a anlise do exlio tratada em dois filmes.
O exlio e a ferida narcisica.
A negociao entre o amor de si
(narcisismo) e o amor ao outro (alteridade)
se enuncia no campo das relaes parentais.
Da se d a constituio do sujeito como
extenso dessa relao e produz a cadeia
significante que lhe determina como sujeito.
No campo do Outro, pulso caberia se fazer
presente no psiquismo, em seu aspecto se-
xual a se cumpre a funo de procriao e
o sujeito se submete descontinuidade.
Segundo Freud essa pulso no encontra
meios de se fazer situar como macho ou
fmea no psiquismo.
Assim que a Psicanlise aponta o mito
de dipo Rei como prottipo do pagamento
que o sujeito humano deve fazer no plano
simblico. Freud diz que dipo sela seu
destino, no quando escapa previso do
orculo, que diz que ele mataria o pai e se
casaria com a me. Muito menos quando
foge, acreditando estar fugindo de seu des-
tino, at mesmo porque nessa fuga que,
acidentalmente, mata o pai, sem saber e, ao
tomar conhecimento, cega a si prprio. O que
Freud pretende, a partir do contedo desse
mito, apresentar os elementos tericos sobre
a constituio do sujeito que se refere ao
enigma que funda a sexualidade humana,
distinta da sexualidade dos animais.
Longe de ser um dogma, a Psicanlise
no se encerra em Freud foi inaugurada por
ele a partir do conceito do inconsciente e
da em diante tem desenvolvido vrios
postulados. Esse referencial terico que
prope o dipo como centro da personali-
dade pretende se suficiente para explicitar as
questes acerca da construo da identida-
de do sujeito que aponta para o enigma que
funda a sexualidade humana. Mas estas
colocaes so tericas.
245 FOTOGRAFIA, VDEO E CINEMA
Na filmografia de Walter Salles Junior
especialmente nos filmes Terra Estrangeira
(1995) e Central do Brasil (1998) , podemos
considerar como tema a saga dos persona-
gens que vo busca do pai, em busca de
si mesmo, ou ao encontro de seu destino
mesmo que se percam, abram mo de seu
territrio conhecido.
Ao articular o conceito de desamparo, ao
Complexo de dipo e ao narcisismo no
podemos deixar de lado o conceito de fe-
minilidade, relativo ao ertico. Birman (1999)
afirma que o desamparo encontra uma forma
positiva quando se relaciona feminilidade,
sendo o masoquismo a forma negativa do
desamparo. Tal elaborao terica favorece
o equvoco de se identificar o feminino ao
masoquismo. No entanto, o que se elabora
a possibilidade de erotizao pela via do
masoquismo e no da ao propriamente dita,
havendo a um percurso masculino e femi-
nino. No filme Central do Brasil (1998) Dora
(Fernanda Montenegro) fala de uma sensu-
alidade protetora, de uma substituta da me
que aponta para a admirao que tem de si,
e de sua capacidade em expressar sua ge-
nerosidade.
O desamparo do sujeito baseado em sua
real incompletude. Para a psicanlise estas
alternativas estaro sobre-determinadas a
partir da vivencia do dipo. Nos estudos
atuais as diversas configuraes da famlia
e as condies territoriais, revelam outras
situaes presentes nos temas dos filmes tais
como a comunidade, as alteridades e mesmo
a solidificao de um lao de amor com um
outro como proposto em Terra Estrangeira
(1995).
Dessas mltiplas implicaes resulta o
processo de desterritorializao, acentuando
e generalizando outras e novas oportunida-
des de ser, agir, sentir, pensar, sonhar e
imaginar. Revelam-se condies desconheci-
das no mbito da sociedade global; ampli-
am-se e generalizam-se outras e novas con-
dies de realizao das diversidades, sin-
gularidades, universalidades; indivduos,
grupos, classes sociais e todos os outros
setores da sociedade adquirem distintas
possibilidades de se desenvolverem e se ex-
pressarem em mltiplas perspectivas.
O desenraizamento to presente neste
momento de inicio de sculo acompanha a
formao e o funcionamento da sociedade
global, permitindo situar os indivduos em
diferentes lugares e distintas condies scio
culturais, diante de novas, desconhecidas e
surpreendentes formas e frmulas de viver.
Ao considerar conceitos como estranho,
estrangeiro, local, vivncia na ps-moderni-
dade estamos tratando de identidade cultural.
Este conceito que cada vez mais tem sido
aprofundado nos remete origem do que se
busca na cultura. Em 2002 em um congresso
em Barcelona sobre cultura, pincharam pela
cidade a seguinte frase: originalidade
origem. Apesar de ser uma definio
tautolgica, evocar a origem evocar a
identidade, de preferncia cultural. Voltando
ao autor Homi. K. Bhabha, cuja proposta de
trabalho se baseia no fato de que a identi-
dade no fixa, mas se constri e se es-
trutura a partir de relaes sociais de um
outro h uma possibilidade de emergir
desta difuso geogrfica meio perdida e des-
conhecida novos modelos de identidade que
atendam s angstias atuais.
Concluso
Esse texto foi trabalhado atravs do
processo interpretativo de filmes que
constam da filmografia de Walter Salles
Junior. Ao associar os temas percebe-se que
o diretor produz um texto imagtico que
aponta para as questes atuais e que esto
sob o foco dos pesquisadores. Cada um deles
revela identificadores ficcionais de subjeti-
vidade que so muito semelhantes s
vivncias atuais.
Apesar de semelhanas e estranhezas as
trocas simblicas e imaginrias nos filmes
de cineasta podero servir como indicadores
de vrias questes sobretudo da subjetivida-
de mas nunca como resultados definitivos
de concluses fixas.
246 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Bibliografia
Andrade, R. Personalidade e cultura:
construes do imaginrio, Editora Revan,
Rio de Janeiro, 2003.
Aug, M. Los no lugares. Espacios del
anonimato: una antropologia de la
sobrenormalidad Barcelona: Gedisa,1996.
Baudrillard, J. Lesprit du terrorism.
Paris, Galile, 2002.
BAUMAN, Zygmunt. Globalizao: as
conseqncias humanas. Rio de Janeiro:
Zahar, 1999.
Bhabha, H. K. O Local da cultura. Belo
Horizonte: UFMG, 1998.
Boia, L. Pour une histoire de
limaginaire. Paris: Socit d dition Les
Belles Letres, 1998.
Freud, S. Obras completas. Rio de Ja-
neiro: Imago, c1969. Primeira edio standard
brasileira das Obras completas, do original
em ingls, publicado em 1907.
Giddens, A. Transformaes da Intimida-
de: Sexualidade, amor e erotismo nas socieda-
des modernas. 2. ed. Traduo de Rosa Maria
Perez. Oeiras, Portugal: Celta, 1996. 142 p.
Hall, S. Identidade Cultural. So Paulo:
Fundao da Amrica Latina, 1997.
Harvey, D. Condio ps-moderna uma
pesquisa sobre as origens da mudana
cultural. So Paulo: Loyola,2002.
Jameson, F. Sobre os estudos de cultura.
Novos Estudos. CEBRAP, So Paulo, n 39, 1994.
Muniz Sodr, A C. Reinventando a
cultura: a comunicao e seus produtos.
Petrpolis, RJ: Vozes. 1996.
Pissara, J. E. Nova Ordem dos media e
identidades sociais. In COMPOS 9, 2000,
Porto Alegre. Grupo de Trabalho: Comuni-
cao e Sociabilidade. Anais... Porto Alegre:
URGS, 2000.
Rodrigues, A. D. Comuni cao e
cultura: a experincia cultural na era da
informao. 2. ed. Lisboa: Presena,
1999.
Filmografia
Terra Estrangeira (1995) Diretor:
Walter Salles Junior, Co-dirigido com Daniela
Thomas.
Central do Brasil (1998) Diretor Walter
Salles Jnior.
_______________________________
1
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ).
2
Hommi Bhabha O Local da cultura. Belo
Horizonte, UFMG, 1998, p. 19.
3
David Harvey. Condio ps-moderna uma
pesquisa sobre as origens da mudana cultural.
So Paulo, Loyola, 2002, p.270,271.
4
Marc Aug, Los no lugares. Espacios Del
anonimato: una antropologa de la sobrenormalidad.
Barcelona, Gedisa, 1996, p. 40-41.
247 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Captulo III
NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
248 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
249 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Apresentao
scar Mealha
1
Intrito
Vale sempre a pena parar para reflectir
sobre a essncia de um problema que apon-
tamos como recorrente, neste caso, com o
uso dos computadores no contexto das nossas
reas profissionais e cientficas, e contribuir
para a identificao do mesmo. Chegar desta
forma ao contributo possvel, que cada um
pode dar atravs de solues, caminhos ou
estratgias que possam levar a um progresso
mais adequado realidade do ser humano,
em concreto e neste cenrio, no tocante ao
uso pessoal das novas tecnologias no dia-a-
dia.
O espao proporcionado com esta con-
ferncia e os contributos obtidos so um bom
exemplo do que cada um de ns est, e pode
continuar a fazer para que o futuro seja
diferente. Considerem estas prximas seces
como mais um contributo de matriz atenta
e crtica, fundamentado na preocupao de
se esclarecer o complexo e ambguo visando
a sistematizao de conhecimento, porventura
novo.
Os contextos e as tecnologias
As novas tecnologias criam novos con-
textos ou os contextos potenciam o apare-
cimento de novas tecnologias e consequen-
temente, as suas novas linguagens? Existe a
expectativa natural de que novas tecnologias
inseridas num dado contexto contribuem para
a sua evoluo (Neves, 1998) num quadro
de funcionamento mais eficiente (admitindo
que o contexto em causa , e manter-se-,
eficaz no seu propsito ou misso) e even-
tualmente garantindo maior satisfao a quem
o integra.
Efectivamente as tecnologias deveriam
inserir-se numa estratgia de adequao aos
objectivos e misses dos contextos que as
integram, perspectivando com isso um con-
texto mais rico na sua essncia, mais efici-
ente na sua actuao e igualmente eficaz na
sua misso (ISO-9421)(Shneiderman,
1997)(Nielsen, 1993). Infelizmente nem
sempre isto que acontece. Em finais do
perodo de guerra fria, Licklider j advogava
(Licklider et al., 1968) as potencialidades do
computador como dispositivo de mediao
comunicao inter-pessoal. Contudo, pas-
sadas vrias dcadas, e escravo do progresso
galopante que se continua a registar na rea
da computao, muito continua por fazer.
Associado ao vector de desenvolvimento
e aplicao do domnio computacional, fe-
lizmente que existem nichos exemplares de
sucesso com nveis elevadssimos de satis-
fao em contexto de uso. Faa-se a anlise
da evoluo que os computadores tm so-
frido na rea dos tradicionalmente designa-
dos videojogos, concretamente o que hoje se
designa por consola de jogos interactivos. Em
formato secretria (desktop) ou em formato
porttil a evoluo foi significativa porque
o contexto de uso esteve sempre bem de-
finido contemplando um determinado
pblico-alvo e com objectivos bem deline-
ados. O resultado desta evoluo correspon-
de a um dispositivo para fins exclusivamente
ldicos, e do ponto de vista ergonmico,
adequado a um pblico bastante vasto. No
fundo, consequncia de um grande investi-
mento em design de produto, em conformi-
dade com o seu contexto de uso. A poltica
de estabilidade da plataforma tecnolgica e
melhoramento progressivo dos ttulos dispo-
nveis, tambm tem contribudo para o ex-
celente desempenho em termos da ergonomia
do interface humano-computador e funcio-
nalidade de cada produto. Resumindo, uma
nova tecnologia, vrios gneros, vrias lin-
guagens, um quadro de estabilidade e satis-
fao, um caso de sucesso promissor.
Retomando o enquadramento do compu-
tador pessoal, existe considervel investimen-
to ao nvel das aplicaes individuais, espe-
cificamente aliado a estratgias de integra-
250 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
o ou correlao de tecnologias e/ou ser-
vios, mas com diminuta preocupao em
transformar o esforo em produto final
encapsulado e ergonomicamente correcto. No
fundo, conceptualizar e considerar o utilizador
ou pblico final no processo de evoluo da
tecnologia. Continua-se a preferir a soluo
de adequao ao quadro de integrao e
utilizao generalista nas plataformas
computacionais, nomeadamente no vulgar-
mente denominado, computador pessoal (de
secretria ou porttil) numa matriz em tudo
muito idntica que foi proposta com os
primeiros produtos comerciais (Williams,
1983, 1984).
Compreende-se que, se por um lado e
desta forma a equao de sustentabilidade do
progresso, nesta vertente, est temporariamen-
te garantida, por outro, perdem-se a todos
os minutos que passam, utilizadores que
desesperam e desacreditam que um compu-
tador de uso pessoal possa constituir, ou vir
a constituir, um instrumento de trabalho, de
facto, eficiente e verstil. Ben Shneiderman
num dos seus ltimos registos, (Shneiderman,
2002) refere as necessidades prementes no
domnio da mediao tecnolgica para as
reas da sade e da educao, mesmo a uma
escala global, para a intermediao com os
centros de conhecimento e excelncia.
Num plano mais geral, Donald Norman
(Norman,1988) tambm h muito que alerta
para um dfice de atitude crtica no cenrio
mais abrangente das tecnologias de utiliza-
o pessoal e domstica. Com um apelo ao
design universal, alerta para as questes mais
bvias relacionadas com as tecnologias do
quotidiano, desde o puxador da porta at
interface e funcionalidade do micro-ondas,
videogravador, telemvel, etc.
Artefactos que se apresentam paradoxal-
mente como bastante modernos e por vezes,
bastante ineficientes e pouco intuitivos, re-
velando uma grande desadequao tarefa
para o qual foram concebidos, e exigindo do
utilizador uma taxa de esforo cognitivo e
motor, por vezes, descabido.
Novos paradigmas, novas linguagens
Na verdade, como que ocorrem? Que
atitudes e princpios que podem orientar
o exerccio de concepo de novos paradigmas
e porventura, novas linguagens para a interface,
funcionalidade e interveno das novas tecno-
logias nas quais se comece por construir com
a definio da natureza da equipa de trabalho,
transdisciplinar. Outro factor relevante refere-
se caracterizao correcta do pblico alvo,
ou do utilizador final, em sintonia com os
objectivos ao qual o instrumento tecnolgico
poder responder. A convergncia de todo este
processo deve conduzir-nos a um conjunto de
paradigmas, metforas e linguagens, nomeada-
mente a visual, sonora e de interaco, ade-
quadas ao contexto, social, cultural e/ou pro-
fissional em causa.
A ttulo de exemplo, que caractersticas
que poderia ter uma consola computacional
em rede para a rea do jornalismo? Por outras
palavras, que instrumento de trabalho
computacional que qualquer jornalista
gostaria de ter no seu gabinete, biblioteca ou
secretria de trabalho? A resposta concentra-
se numa mquina que ao ser ligada apresen-
taria uma interface grfica assente em
paradigmas visuais que traduziriam a neces-
sidade de um jornalista. Uma imagem que
representaria as opes de interaco para as
funes habituais de um profissional desta
rea. Desta forma estaramos perante uma
proposta de interface unificadora de aplica-
es e suas correlaes. Vejamos algumas das
funcionalidades que poderia apresentar:
i) O resultado de uma pesquisa, a vrios
repositrios de informao nacionais e in-
ternacionais, construdo de forma a inte-
grar a notcia/informao em conformidade
com o tema ou contexto de pesquisa. O
prprio universo de pesquisa ser
prioritariamente condicionado aos repositrios
de rea profissional, pr-definidos pelo
utilizador ou j legitimados e pr-estabele-
cidos por associaes competentes.
ii) O editor disponvel foi construdo
especificamente a pensar nas necessidades de
edio de um jornalista. D prioridade
construo da notcia, ao seu valor informa-
tivo e/ou semntico, considerando parme-
tros multimdia (texto, imagem fixa e ima-
gem dinmica) e remete para processos semi-
automticos, a tarefa de converso para os
mdia de distribuio (revista, jornal, web,
rdio, televiso, etc).
iii) Os servios de comunicao sncronos
e assncronos encontram-se formatados e
251 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
inseridos nos locais apropriados da interface
e articulados com as aplicaes activas de
trabalho. No se devem constituir por uma
aplicao por cada tipologia de comunicao
que se necessita. O que acontece habitual-
mente existir uma aplicao para cada uma
das seguintes necessidades:
- mensagens instantneas (com informa-
o de presena de destinatrio)
- correio electrnico (e mailinglists)
- frum (na web e outros atravs de
aplicaes especficas, ex. news)
- chat (texto, voz, vdeo)
- SMS
iv) O repositrio de informao digital
local (a mediateca pessoal de cada jornalista)
est concebido para:
- integrar automaticamente todos os tra-
balhos produzidos pelo utilizador ou por
outros (obtido atravs de pesquisa e neces-
srio para referncia)
- a consulta e referncia ao material que
consta do repositrio eficaz e em muitos
aspectos deve estar automatizada e susten-
tada em metforas visuais adequadas rea/
tema de forma a melhorar a eficincia
- a preservao do contedo digital
(backup) deve ser peridico, semi-autom-
tico e com redundncia, valendo-se de dis-
positivos complementares de armazenamento
ou ligaes a outras consolas (amigas ou
institucionais para efeitos de segurana f-
sica).
Este exerccio conceptual de correlaciona-
mento de computador pessoal com necessi-
dades de um jornalista com o intuito de
chegar consola de jornalismo exemplifica,
resumidamente, numa primeira instncia, que
a equipa de concepo deve ter caracters-
ticas transdisciplinares, ou seja, qualquer um
dos elementos que integra a equipa de
concepo e desenvolvimento de um instru-
mento de mediao desta natureza, compre-
ende ou est sensvel:
- s necessidades profissionais do jornalista
- aos objectivos e tarefas do seu dia-a-dia
- sua linguagem
- ao seu modus operandi
em suma, conceptualizam, implementam e
avaliam um instrumento de mediao
tecnolgico, em conformidade com os ob-
jectivos e contexto de necessidade diria de
um profissional de jornalismo.
Continuando com este alinhamento de
exerccio possvel referir outros sectores
de investigao que trabalham segundo uma
matriz de interveno transdisciplinar e to-
dos eles, obrigatoriamente geradores de novos
paradigmas e consequentemente de novas
linguagens.
i) Comunidades educativas on-line
Um bom exemplo a educao dis-
tncia, em comunidade no presencial, com
enquadramento local ou mesmo nacional
(Ramos et al., 2002) (existem registos de
actividade numa abrangncia internacional).
O aspecto interessante a conjugao, e
carcter de complementaridade, que acaba por
assumir com o tradicional paradigma
presencial j preestabelecido.
Acredita-se que um sistema deste gnero
proporciona, entre outras coisas e, para
determinados subsistemas de ensino, uma
maior aproximao e cumplicidade entre os
agentes que constituem a comunidade edu-
cativa, estudante professor famlia.
ii) TV Interactiva
Neste sector sublinho o trabalho de Ferraz
(Ferraz et al., 2001) que promove a TV
interactiva como um instrumento que poder
potenciar laos sociais, num contexto no
presencial, em torno da oferta televisiva cada
vez mais segmentada. Um cenrio que se
perspectiva hoje num universo de partilha e
convvio, porventura, global. Um dos aspec-
tos relevantes desta tese que inverte as
tendncias que apontam para um maior iso-
lamento do telespectador.
Outro factor interessante que se tem
perfilado, associado ao conceito de TV
interactiva, o da transposio de algumas
decises de rgie, nomeadamente o exerccio
de realizao, para o contexto de cada
utilizador. Transfere para o telespectador o
poder de ver de uma forma diferente, ver
de uma forma personalizada. Mantm-se a
passividade do ver sem intervir, mas ganha
o controlo do como ver.
Outra das alteraes neste domnio, que
se prospectiva como extremamente revolu-
cionria, a da redefinio do paradigma de
formatao de contedos televisivos.
Particularmente interessante quando se
passar a tomar em considerao as possibi-
lidades de interaco e influncia/participa-
o directa do telespectador no produto
252 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
televisivo (passaria a agente activo do sis-
tema).
iii) Teletrabalho
A abordagem do teletrabalho obriga,
necessariamente, redefinio do paradigma
de trabalho e/ou contributo socioeconmico
de cada cidado. Proporciona por um lado,
a aproximao do seu contexto pessoal/fami-
liar e/ou domstico e por outro, obriga a uma
redefinio do modelo de trabalho e
consequente segmentao e transposio do
quadro de responsabilidades para cada fun-
cionrio da organizao ou teletrabalhador. O
modelo de instrumento de intermediao para
o teletrabalhador proposto por Almeida
(Almeida, 2000) exemplifica o grau de
optimizao que se consegue na definio de
novos paradigmas e novas linguagens para esta
rea. Fica no entanto por demonstrar se, o
tempo que se ganha devido ao aumento de
eficincia que se advoga com este paradigma,
ser para trabalhar mais ou para investir em
qualidade de vida pessoal e familiar.
iv) Jogo interactivo multimdia
Conforme j foi referido previamente, o
jogo interactivo em computador (e em rede)
exemplifica bem uma das reas de interven-
o pessoal e domstica onde a evoluo do
computador continua a registar o seu melhor
desempenho. Neste momento registam-se
experincias de correlao de gneros sem
prejuzo para o desempenho, contemplando
contudo, novas linguagens associadas a novos
cenrios imagticos e sonoros.
v) Telemedicina
O diagnstico distncia equacionado
pela telemedicina (Sousa Pereira et al., 1999),
a partir de centros de conhecimento ou
excelncia clnica, representa uma das acti-
vidades exemplificativa do que as novas
tecnologias podem fazer pela qualidade de
vida em zonas interiores ou inacessveis.
Vislumbra-se uma tecnologia capaz de
resolver o problema de concentrao de
competncias clnicas muito especializadas
nos plos urbanos centrais. Atravs do posto
de telemedicina o especialista passar a servir
em rede as solicitaes de elaborao ou
esclarecimento de um diagnstico complexo
ou ambguo. Na sua essncia, os objectivos
do corpo clnico mantm-se pois continua a
prestar um servio de sade pblica.
A forma como administra esse servio
muda; muda o paradigma e consequentemente
a linguagem de interaco entre especialistas
e porventura, entre mdico e paciente.
...Consideraes finais
Revestidos de um cepticismo cientfico
saudvel resta-nos, de facto, continuar a
avaliar o impacto dos instrumentos que temos
hoje, aqueles com o qual trabalhamos e que
nos tocam, os ideais, a esses, deixemos que
o sonho os domine.
Espero ter deixado um estmulo para que
se continue a questionar se os instrumentos
tecnolgicos que se instalam nas nossas
ecologias profissionais e domsticas, corres-
pondem objectivamente ao que
perspectivamos e, naturalmente, se o fazem
em conformidade com um quadro de desem-
penho e satisfao que se deseja, sempre,
eficiente e eficaz.
253 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Bibliografia
Abreu, J., Almeida, P., Branco, V., 2002,
2BeOn - Interactive television supporting
interpersonal communication. In: Jorge, J.
A., et al (eds.): Multimedia 2001, Springer.
Computer Science EG - Proceedings of
the 2001 Eurographics Multimedia Workshop,
Manchester, September 2001 - Springer-
Verlag/Wien, ISBN: 3-211-83769-8.
Almeida, P., Mealha, ., 2000,
Conceptualising a Telework Environment,
The Fifth International Workshop on
Telework, 2000 and Beyond Teleworking and
the Future of (tele)work?, 28 August - 1
September 2000, Stockholm, Sweden.
ISO 9241 url:http://www.iso.org/iso/en/
ISOOnline.frontpage [consultado em: 28 Fev.
2004]
Licklider, J.C.R., and Robert W. Taylor,
R.W., April 1968, The Computer as a
Communication Device, Science
&Technology, pgs 21-31.
Neves A. L., and Dias de Figueiredo, A.,
September 1998, Modeling a Web-based
Educational Environment, Euroconference 98:
New Technologies for Higher Education, (pp
135-140), University of Aveiro, Aveiro, Por-
tugal, url: http://student.dei.uc.pt/~analu/pdf/
modeling.pdf [consultado em: 01 Abr. 2004].
Nielsen, J., 1993, Usability Engineering,
AP Professional, Boston, XIV, 362 p.
Norman, D.A., 1988, The Design of
Everyday Things, New York: Doubleday
Currency.
Ramos, F., Caixinha, H. e Santos, I.,
2002, Factores de Sucesso e Insucesso na
Utilizao das TIC no Ensino Superior - A
Experincia da Universidade de Aveiro. In
Internet e Educao a Distncia, Othon
Jambeiro, Fernando Ramos (organizadores),
EDUFBA, ISBN: 852-320-283-5, pp. 185-
194, Salvador da Bahia.
Shneiderman, B., July 1997, Designing
the User Interface: Strategies for Effective
Human-Computer Interaction, Addison-
Wesley Pub Co; 3rd edition, ISBN:
0201694972, pp 638.
Shneiderman, B., 2002, Leonardos
Laptop: human needs and the new computing
technologies, The MIT Press, ISBN: 0-262-
69299-6, pp 269.
Sousa Pereira, Antnio, Ribeiro, Rui
Graa Rocha, Rafael, Jos Alberto, 1999,
Telemedicina e Imagem Mdica Dinmica
In Avances en Informtica Biomdica.
Alejandro Pazos Sierra; Antnio Santos del
Riego; Bernardino Arcay Varela; Julin
Dorado de la Calle ed. Corua, Espanha,
ISBN: 84-95322-84-6. Capt. 3, p. 69-88.
Williams, G., February 1983, The Lisa
Computer System Apple designs a new
kind of machine, BYTE Publications Inc.,
pgs 33-50.
Williams, G., February 1984, The Apple
Macintosh Computer - mouse-window-
desktop technology arrives for under $2500,
BYTE Publications Inc., pgs 30-54.
_______________________________
1
Universidade de Aveiro. Coordenador da
Sesso Temtica de Novas Tecnologias, Novas
Linguagens no II Ibrico.
254 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
255 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Apresentao
Graa Rocha Simes
1
Est-se claramente a pensar em Tecno-
logias da Informao e da Comunicao (TIC)
e, nomeadamente, nas que se desenvolvem
em torno do computador e das redes de com-
putadores (em particular da Internet). Estas
tecnologias tm sessenta anos. Esto, no
entanto, em cima da nossa secretria, em uso
corrente, h cerca de vinte e no caso da
Internet s desde meados dos anos noventa.
Por isso, novas. Est-se tambm a procu-
rar circunscrever e qualificar o segundo termo
do binmio em ttulo.
Quando em 1960 Licklider escreveu
Man-Computer Symbiosis, um dos textos
mais marcantes para a cincia e engenharia
computacional e, especificamente, para a
evoluo das interfaces ser humano-compu-
tador, identificou a dissemelhana bsica entre
as linguagens humana e computacional como
um dos mais srios obstculos a uma ver-
dadeira colaborao (em tempo real) entre
seres humanos e computadores. De ento para
c, muitas tm sido as solues encontradas
para contornar esta diferena e adaptar os
computadores s linguagens humanas. Entre-
tanto, com a convivncia computacional ns,
os no especialistas em computadores, no
s nos temos tambm vindo a adaptar,
como temos contribudo para esse esforo de
aproximao. Uma das formas de descrever
o objecto da temtica Novas Tecnologias,
Novas Linguagens ser precisamente acen-
tuar ser a interaco entre ser humano e com-
putador e as suas interfaces, no seu sentido
mais amplo, o locus de formao e desen-
volvimento de convenes, elementos e
formas que se constituem em novas lgicas
e dinmicas de expresso e conhecimento
humanos, como acentua recentemente
Manovich e como, numa outra perspectiva,
se l na colectnea de Peter Thomas. Esta
formulao permitir, porventura, diferenci-
ar este tema de outros para os quais as TIC
pela sua ubiquidade nas actividades humanas
so tambm preocupao central e de que
o excelente reader de Lievrouw e Livingstone
d conta.
De momento, evitamos redues exces-
sivas no que toca ao objecto em causa e res-
pectivas formas de abordagem, enfrentando
seguramente escolhos tericos e
metodolgicos inevitveis a tal postura, mas
acompanhando Chesher quando afirma que
o melhor trabalho neste campo
multidisciplinar, interdisciplinar e
transdisciplinar.
A investigao em Novas Tecnologias,
Novas Linguagens, alguns diro Novos
Media (sem que exista actualmente consen-
so em relao a este atributo de novo, como
a leitura de Whats New about New Media
regista) procura entender, agora como sem-
pre, as mediaes tecnolgicas nos modos
de trocar informao e, tal como se afir-
mava em nota de abertura temtica Co-
municao e Novas Tecnologias em Con-
gresso anterior, v e antecipa mltiplos e
fluidos objectos de investigao, servindo-
se de antigos, mas tendo necessariamente
de convocar novos olhares, teorias, mode-
los e metforas. No entanto, podemos ler
na passagem de uma denominao a outra
uma aproximao a um objecto mais pre-
ciso, cujos contornos apenas ligeiramente
se propuseram acima, facto que nos parece
indiscutivelmente sinal, se no de maturi-
dade, de maturao nos caminhos da inves-
tigao.
256 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Bibliografia
Chesher, Chris (2001) What is New
Media Research. First published in Hugh
Brown, Geert Lovink, Helen Merrick, Ned
Rossiter, David Teh, Michele Willson (eds),
Politics of a Digital Present: An Inventory
of Australian Net Culture, Criticism and
Theory, Melbourne: Fibreculture Publications.
(http://mdcm.arts.nsw.edu.au/homepage/staff/
Chesher/WhatisNMR.html).
Licklider, J.C.R. (1960) Man-Computer
Symbiosis. IRE Transactions on Human
Factors in Electronics, volume HFE-1, Pages
4-11, March. (http://memex.org/licklider.pdf,
ltimo acesso em 26.3.2004).
Lievrouw, Leah A. and Livingstone,
Sonia (eds) (2002), The Handbook of New
Media. London: Sage Publications. pp.1-
15.
Manovich, Lev (2001) The Language of
New Media. Cambridge (MA): The MIT Press.
Manovich, Lev (2003) New Media from
Borges to HTML, in: N. Wardrip-Fruin and
N. Monfort (eds). The New Media Reader.
Cambridge, MA: MIT Press. pp.13-25. (http:/
/ w w w . m a n o v i c h . n e t / D O C S /
manovich_new_media.doc).
Thomas, Peter J. (1995) The Social and
Interactional Dimensions of Human-
Computer Interfaces. NY: Cambridge
University Press.
Whats New About New Media? (1999)
Special Themed Section of New Media &
Society, 1(1):10-82.
_______________________________
1
Universidade Nova de Lisboa. Coordenado-
ra da Sesso Temtica de Novas Tecnologias,
Novas Linguagens do II Ibrico.
257 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Refrescando a memria arquivo e gesto da informao
Alberto S
1
Introduo
Nos ltimos anos, a comunidade cient-
fica tem-se debruado sobre a problemtica
do arquivo e gesto da informao, consci-
ente da fragilidade dos meios de suporte
informativo tradicionais e da necessidade de
adoptar estratgias no presente para salva-
guarda da informao no futuro. O cepticis-
mo instalou-se. Questionaram-se a
vulnerabilidade e a longevidade dos suportes
do registo informativo, diagnosticou-se a
dependncia dos processos digitais de arqui-
vo de dados face aos programas (software)
geradores, percepcionou-se a obsolescncia
do equipamento tecnolgico (hardware) res-
ponsvel pela leitura da cadeia de bits e pela
sobrevivncia do cdigo de linguagem ine-
rente (Hedstrom, s.d.; Rothenberg, 1999b).
Desde sempre foi preocupao do Homem
a ideia de arquivar, guardar e preservar,
mantendo, ainda que inconscientemente nos
primrdios da Humanidade, uma perspectiva
de transmisso enquanto herana. Guardar
agora para mostrar amanh, perpetuando
significados, vivendo-o em funo de um
futuro incerto. Foi desde que o Homem tomou
conscincia de si prprio e do que o rodeava
que procurou registar na pedra as formas do
seu imaginrio por meio das pinturas ou
gravuras. Registava informaes, construin-
do memrias que ainda hoje servem de
narrativas de um espao e de um tempo
concretos, como o caso da arte paleoltica.
Significava eternizar algo que era importan-
te, construindo mitos acerca da natureza que
o envolvia.
Uma dificuldade sempre sentida foi a da
natureza da informao a transmitir. A de
carcter fsico, aquela que existe por si,
facilita o acto de preservar e arquivar, dado
o seu perfil material - um edifcio, uma
esttua, uma construo, os documentos
escritos, os mapas, as pinturas. Neste sen-
tido, surgiram os arquivos como guardies
do passado e as bibliotecas como deposit-
rios de um saber acumulado que o Homem
foi produzindo na forma escrita. Contudo, o
desenvolvimento tecnolgico ocorrido sobre-
tudo em meados do sculo passado trouxe
uma nova concepo de informao e de
conhecimento.
Os processos de transformao da infor-
mao analgica em formato digital reduzi-
ram a panplia de dados sensoriais expres-
so encadeada de zeros e de uns. Deste
modo se constitui um outro tipo de infor-
mao, de carcter no-fsico, virtual,
entendvel pela mquina.
Se, no passado, a consulta da informao
pressupunha um suporte fsico em papel -
e a prpria informao era constantemente
reiventada por novas e sucessivas interpre-
taes de forma a produzir conhecimento, no
presente, novas questes se levantam: como
registar a informao expressa por cdigo
binrio; como guardar e preservar documen-
tos do tipo e-mail, pginas web, bases de
dados, ou mesmo telefonemas e vdeos em
formato digital. Ou seja, a questo de fundo
a de se saber como guardar os bits que
constituem a informao.
Os tradicionais depositrios do saber da
Humanidade, as bibliotecas e os arquivos,
ganharam a companhia de outra entidade
armazenadora de informao: o disco-duro,
sem dvida o suporte fsico (hardware) que
viabiliza o arquivo, gesto, organizao e
posterior processamento de todos os dados
armazenados. Esta tendncia foi reveladora
de uma nova atitude, a do recurso s novas
tecnologias da informao e da comunica-
o, aproximando-se da noo da Biblioteca
de Babel, de Jorge Luis Borges, ilimitada no
seu acervo, contendo todos os livros poss-
veis.
Sem qualquer paralelo em alguma poca
histrica, a sociedade actual lida diariamente
com uma constante produo de informao.
Num passado no muito remoto, o suporte
258 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
tradicional de informao o livro - trazia
inerente a sua conservao. O acto de pu-
blicao a isso obrigava. Este procedimen-
to consistia na realizao de um conjunto de
etapas de validao da informao: os
momentos do revisor, do corrector e do editor.
Os custos deste percurso exigiam o seu
posterior arquivo e conservao, expressos
na existncia de um Depsito Legal que
garantisse a sua sobrevivncia.
Actualmente, os processos tecnolgicos
permitem saltar directamente da etapa da
redaco para a publicao, sem passar pelos
processos intermedirios de validao da
informao. No existe um arquivo central
oficial, um organismo que funcione como
Depsito Legal, mas antes vrios e distintos
processos de arquivo, sem, contudo, haver
a orientar qualquer actividade reguladora
precisamente, um dos motivos para o suces-
so da web. Porque o suporte de registo
voltil, as formas de preservao da infor-
mao passam pelo armazenamento em vrios
espaos. Um escala global: a Internet,
exposta aos radares dos motores de pes-
quisa. Outro escala local: o disco-duro do
sistema, operando por processos de dissemi-
nao realizados em suporte magntico ou
na forma ptica de cd-rom e dvd.
Na verdade, a Internet permite ao cida-
do annimo tornar-se facilmente um editor,
que produz os seus prprios escritos e os
publica num qualquer site, gratuitamente
disponvel mas residente em parte geogra-
ficamente incerta e irrelevante. Os baixos
custos associados publicao online per-
mitiram a denominada democratizao da
informao.
Existo, logo, armazeno
Se o presente j se vai registando na
forma de cdigo binrio, a tendncia para
a digitalizao de tudo aquilo que constitui
o passado vem aumentando, fazendo passar
pelo crivo ptico todo o tipo de documentos
existentes em formato no-digital: livros e
obras de referncia, peridicos, jornais,
manuscritos, cartografia, entre outros, forman-
do autnticas bibliotecas virtuais.
Algumas iniciativas tm correspondido a
grandes projectos nacionais
2
, fazendo apelo
necessidade de proteger o patrimnio,
enquanto herana cultural, para as geraes
do presente e do futuro.
Outras propostas tm em vista fins de
natureza militar, fazendo dos computadores
uma ferramenta muito mais eficaz em situ-
aes de guerra
3
, pela alimentao de gi-
gantescas bases de dados com informaes
individuais, esperando-se, com isso, elaborar
padres de comportamento e percursos de
vida dos criminosos.
Tambm o meio acadmico e universi-
trio tm apresentado propostas de coleces
digitais para armazenamento, preservao e
divulgao da propriedade intelectual da
comunidade cientfica, com a tnica assente
num modelo menos centralizado e mais
distribudo da comunicao: os repositrios
institucionais
4
. O conjunto das ferramentas
informticas utilizadas permite ultrapassar o
problema complexo da integrao dos dife-
rentes processos de depsito, to necessrios
eficincia de um sistema multidisciplinar,
recorrendo ao uso de tecnologias open source,
que facilitam a exposio da informao na
Internet, conjuntamente com os seus
metadados
5
. Os repositrios esto definidos
por polticas de acesso restritas de modo a
controlar cada aco do processo, prevendo
a existncia dos submitters, dos reviewers,
dos metadata editors, entre outros. De modo
a ser possvel encontrar um recurso depo-
sitado, crucial que as citaes permaneam
vlidas por longos perodos de tempo, recor-
rendo-se criao de identificadores persis-
tentes para cada item o Uniform Resource
Identifier (URI)
6
.
A ideia de tudo arquivar pode tambm
pertencer ao domnio do individual
7
, alcan-
ando-se verdadeiros projectos de vida di-
gital, perpetuando a memria de toda uma
existncia. A crescente digitalizao do
quotidiano moderno tem a vantagem de
permitir guardar a informao sobre o nosso
dia-a-dia de uma maneira fcil e barata:
mensagens de correio electrnico, fotos e
vdeos pessoais, documentos textuais, clcu-
lo da economia domstica, mas tambm todo
o registo das nossas aces efectuadas no
contexto econmico-social. Por exemplo, os
movimentos bancrios, os registos de comu-
nicao mvel, o registo do dentista, as
escolhas no clube de vdeo, ente tantos outros
exemplos.
259 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Em busca do paradigma lingustico
A cultura do computador criou novos
sistemas cognitivos diferentes daqueles a que
estvamos habituados. Numa sociedade em
constante mutao, onde todo o conhecimen-
to fluido e dinmico, a informao
assimilada instantaneamente e o pensamento
que a acompanha espartilhado e fragmenta-
do: a acelerao tecnolgica e social sbita
sem preparao pode na verdade levar
desintegrao (). Os nossos computadores
esto a acelerar as nossas respostas psico-
lgicas e os nossos tempos de reaco muito
mais do que fizeram os avies, os comboios
e os automveis (Kerckhove, 1997b, pgs.
118-119).
Um ponto sensvel o da questo da
compatibilidade das linguagens. Tal motiva
o estado de dvida acerca da capacidade de
interpretao das geraes futuras sobre os
processos de informao desenvolvidos na
actualidade.
A velocidade frentica das sociedades
actuais levou renovao das interfaces e
das linguagens da programao, o que im-
plica criar processos no s de descodificao,
mas tambm da manuteno dos cdigos
lingusticos.
A compatibilidade da informao exige
a preservao do cdigo que a formula. A
comunidade cientfica deu conta de que as
vantagens que promoveram a tendncia
generalizada para a digitalizao camuflavam
problemas s geraes vindouras
(Rothenberg, 1999b). Ningum duvida dos
benefcios da digitalizao documental por
razes de preservao, facilidade de
armazenamento, processo de cpia, reduo
de custos e reutilizao em novas e mais
avanadas ferramentas informticas: o novo
torna possvel uma utilizao mais especfica
daquilo que j existe (Luhmann, 1992,
p.153).
No entanto, j menos perceptveis - e aqui
reside o problema -, so as relaes de
dependncia estabelecidas durante o proces-
so de digitalizao: a codificao s
interpretvel pelo programa gerador, que, por
sua vez, depende do sistema operativo que
o acolheu e que, em conjunto, todos depen-
dem do equipamento que os executou
(Rothenberg, 2001).
possvel agrupar os problemas em dois
conjuntos: um primeiro diz respeito pre-
servao e revitalizao dos antigos docu-
mentos (Arqueologia Digital); um outro, de
teor profilctico, diz respeito adopo, na
actualidade, de um conjunto de procedimen-
tos para que, no futuro, no se tenha ainda
que resolver aquilo que hoje se tenta solu-
cionar (McCray, 2001).
Da panplia de solues encontradas,
nenhuma parece satisfazer plenamente todas
as condicionantes em jogo, visto a comuni-
dade cientfica ter desenvolvido vrias estra-
tgias de preservao digital, com resultados
satisfatrios em situaes concretas, mas sem
atingir um nvel de eficcia tal que seja capaz
de responder em absoluto ao problema
(Hedstrom, s.d.).
Estes procedimentos podem passar pela
adopo de estratgias singulares ou, quando
muito, mistas, que incluem a impresso dos
documentos digitais em suporte fsico, a
uniformizao dos procedimentos de
codificao, a criao de um espao
museolgico de computadores com vista
recriao de ambientes informticos extintos,
a converso/migrao dos formatos digitais
como forma de sustentabilidade e, finalmen-
te, a emulao dos dados conjuntamente com
o programa que originalmente os criou
(Rothenberg, 1999a; Lorie, 2001).
Tarefa nada fcil por depender de vrias
variveis, desde aquelas de carcter tcnico
at s organizacionais, passando pelos com-
portamentos sociais. Em conjunto, pretendem
evitar o designado pela improbabilidade da
comunicao (Luhmann, 1992, p. 42), as-
segurando processos de compreenso em
funo de um contexto prprio, de forma a
aceder aos receptores, obtendo resultados
comunicativos desejados.
A questo da compatibilidade, da migra-
o e da emulao tem, por isso, enorme
relevncia no contexto da preservao da
memria digital, assumindo particular des-
taque a sobrevivncia do cdigo lingustico
enquanto factor de evoluo.
Um exemplo recorrentemente citado o
da Pedra da Roseta e o seu contributo para
a interpretao da escrita ideogrfica egp-
cia. Neste caso, a preservao do conheci-
mento foi possvel pela recolha e recupera-
o do cdigo lingustico, atravs da compa-
260 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
rao entre a escrita hieroglfica antiga, o
grego e a escrita egpcia coeva.
Outro exemplo, que nos mais prximo,
aponta precisamente para as dificuldades que
as geraes sucessivas encontram na trans-
misso dos cdigos de linguagem, e tal diz
respeito reforma arquivstica que D. Manuel
empreendeu (e que foi continuado depois com
D. Joo III), a qual ficou conhecida pelo nome
de Leitura Nova
8
: sabemdo o passado
hordenariam milhor o presente.
Tratou-se de uma medida reformadora e
organizacional da Torre do Tombo ( altura,
Real Arquivo, no castelo de S. Jorge, em
Lisboa). Na prtica, resultou na cpia, no
sculo XVI, de documentos dispersos, quer
de chancelarias rgias, quer das Gavetas,
de milhares de cartas que, altura, parece-
ram de interesse histrico perpetuar com o
intuito de facilitar a sua leitura. Muitos desses
cdices encontravam-se j quase ilegveis e
incapazes de decifrar, para uma mdia de
funcionrios. Em suma, eram escritas com
sculos de distncia. A inteno era a de
agilizar a burocracia j que, quando algum
pedia uma cpia de um documento (certi-
do), tal revelava-se extremamente moroso,
pois poucos sabiam j ler escritos a sculos
de distncia. Assim, procedeu-se transcri-
o de muitos documentos, agora classifica-
dos e arrumados com novos critrios.
O grande problema colocou-se na defi-
cincia de muitas transcries, cujos erros
foram causados pela ignorncia de alguns
copistas. Em princpio, tratava-se apenas de
copiar, pelo que a estrutura da lngua
deveria manter-se medieva. No entanto, o que
se verificou, em grande parte, foi o acres-
centar de fenmenos lingusticos introduzi-
dos pelos diversos copistas, com nveis de
cultura e erudio muito dspares
9
.
Tal como o referenciado hoje em dia, ainda
que com menores implicaes, tambm h
quinhentos anos atrs se colocou a problem-
tica da migrao dos paradigmas lingusticos.
Escapar ao naufrgio
A to propalada avalanche informativa
proporcionada pela Internet forou
consciencializao de que era preciso fazer
algo para evitar o soterramento no turbilho
informativo.
primeira vista, o progresso tecnolgico
verificado nas unidades de armazenamento
no parece aliviar esse afogamento. A inds-
tria do sector, recorrendo nanotecnologia,
tem procurado formas capazes de condensar
maior informao em espaos mais compac-
tos com vista ao incremento da capacidade
das unidades. No entanto, estudos
laboratoriais apontam para uma nova concep-
o de armazenamento mediante a utilizao
do tomo como elemento de representao,
atingindo-se o estdio quantum
10
, capaz de
guardar o bit um milho de vezes mais
densamente do que aquele actualmente pre-
sente num vulgar cd-rom (Bennewitz et alii,
2002).
Todo este progresso convida a um certo
laxismo no utilizador: a perspectiva infindvel
de espao em disco parece tornar irresistvel
a tendncia para tudo armazenar, sem olhar
a meios, numa terrvel obssesso pelo dis-
co-duro. Armazenamos, porque podemos. E
se cada vez mais pudermos, mais querere-
mos armazenar. J no so apenas documen-
tos em texto, mas toda uma variedade pro-
dutiva, de caractersticas e pesos (em bits)
diferentes: mensagens de correio electrnico,
fotos digitais, registos de vdeo, comentrios
em weblogs e/ou fruns, entre outros. A
limpeza do disco torna-se uma tarefa cada
vez menos recorrente, porque o limiar do
espao insuficiente se encontra distante.
Nesta perspectiva, h o perigo de muitos
dos registos carem no esquecimento, camu-
flados por entre desmultiplicaes de pastas
de arquivo. A j referida proliferao infor-
mativa faz com que o tempo da assimilao
do saber se esgote rapidamente. Dado existir
um hiato temporal entre a capacidade huma-
na de assimilao informativa e o caudal de
informaes que desagua por vrios meios
no quotidiano social, verifica-se a tendncia
para arquivar tudo o que se encontra e o que
se pensa ser, posteriormente, objecto de
interesse: na dvida, armazenamos!, remeten-
do a validao crtica do conhecimento para
um a posteriori.
Estamos, pois, em presena de dois
universos muito amplos, o do armazenamento
e o da pesquisa. Nesse sentido, a preservao
digital no se resume tarefa de armazenar,
a uma musealizao passiva e esttica. Ao
facilitismo proporcionado pelo desenvolvi-
261 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
mento tecnolgico referido (maior capacida-
de a menor custo), deve contrapor-se uma
lgica inteligente de organizao e de gesto
dinmica da informao.
Tal mostra-se sobretudo premente quan-
do fazemos da Internet o campo de recolha
de informao. Quem, por certo, j experi-
mentou arquivar informao com base em
pesquisas na Internet no se ter deparado
tanto com a exiguidade do espao em disco
(cada vez se compra mais por menor pre-
o
11
), mas antes com um problema de ori-
entao entre as centenas de ficheiros arqui-
vados. Quem j no ter experimentado uma
sensao mista de surpresa e de apreenso,
ao encontrar algum ficheiro importante es-
condido numa pasta recndita?
A soluo imediata a da elaborao de
bases de dados sobre a informao arquiva-
da. Mas, se optarmos por uma abordagem
mais profissional - logo, mais intensa mas
tambm mais eficaz e exigente -, esta tarefa
parece insolvel.
Para a descrio dos recursos arquivados
tem-se procurado recorrer ao uso de
metadados, que consistem, basicamente, na
formulao de dados sobre os dados. A ideia
a de desenvolver uma forma eficaz de
descrever os recursos electrnicos, algo j
incontornvel no ambiente catico da
Internet, ao qual os sistemas de indexao
e de recuperao da informao tradicionais
no permitem alcanar nveis satisfatrios
(Baptista, e Machado, 2001).
A aplicao de metadados tem sido
experimentada no campo dos media, concre-
tamente no domnio da informao noticiosa
digital
12
, onde se tem procurado estabelecer
um conjunto padronizado de metadados de
modo a fornecer uma plataforma comum para
a anlise dos artigos noticiosos em formato
digital, produzidos por agentes noticiosos
online (Yaginuma et alii, 2003). Este sistema
parte de duas premissas fundamentais em
torno do ficheiro-base: por um lado, que ele
contenha o texto propriamente dito (a not-
cia), e, por outro, que ele inclua na sua
cdigo-estrutura os metadados - estes, para
alm de descreverem a notcia, permitiro que
sobre eles se aplique tratamento informtico
adequado atravs da tecnologia de descrio
dos metadados extrados. Tanto num como
em outro caso, so vrias as abordagens ex-
perimentais possveis, pelo que daqui resulta
que as prprias solues tentadas carecem do
antdoto que pretendem anular: a padroniza-
o, to essencial para a utilizao eficaz dos
metadados
13
.
Ora, apesar da progressiva converso das
agncias noticiosas online a esta tecnologia,
o processo ainda se encontra em fase expe-
rimental, o que significa que apenas uma
pequena parte das notcias estaro prepara-
das para suportar estes procedimentos. Da
que os projectos de investigao que incidam
sobre recolha da informao pela Internet
enfrentem algumas dificuldades no
manuseamento dos dados que dificilmente so
ultrapassveis o processo de classificao
da notcia tem que ser feito no momento,
sem excepo.
Partindo deste campo de recolha, e par-
tilhando de muitas das dificuldades descri-
tas, o Projecto Mediascpio
14
pretende estu-
dar a comunicao e os media, designada-
mente aqueles publicados em agncias e
jornais impressos e electrnicos, nacionais e
estrangeiros. Esses textos podem estender-se
a gneros diversos: notcias breves e desen-
volvidas, entrevistas, reportagens, dossiers,
textos opinativos (editoriais, colunas, anli-
ses, opinies, cartas).
A ideia da base de dados, neste caso,
surgiu de uma constatao e de uma neces-
sidade: constatao, porque, ao reunir os
materiais informativos para elaborar o regis-
to dos eventos do campo da comunicao e
dos media, verificava-se a existncia de
documentos relevantes para a memria sobre
o campo; necessidade, porque, para promo-
ver as leituras sectoriais e globais, essa
documentao mostrava-se essencial.
Ao todo, esto compulsados cerca de 6600
registos, compreendidos entre incios de 2000
e finais de 2003. A provenincia das fontes
advm, em cerca de 85%, de jornais impres-
sos, sendo o restante dividido entre revistas
e panfletos, em formato online, quando
possvel, ou atravs da verso papel, recor-
rendo-se digitalizao por scanner, em
complemento.
As actividades no mbito do projecto so,
assim, escalonadas em duas fases: uma
primeira, a da produo digital da informa-
o recolhida, e uma segunda, a da catalo-
gao desses registos.
262 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
At ao momento, o projecto tem sido,
igualmente, um laboratrio de anlise e
testagem ao desafio da criao de instrumen-
tos eficientes de gesto e pesquisa da infor-
mao. A soluo a adoptar ainda aguarda
pela estabilizao das ferramentas de extrac-
o e descrio dos metadados.
Concluso
O desgnio tecnolgico, em muito expli-
cado pela clebre Lei de Moore, teve o dom
de aproximar povos e culturas, impulsionando
a comunicao e a partilha de informao
multimdia. A maior capacidade informtica
da decorrente potencializou a rapidez e a
largura de banda da transmisso de dados. Ao
mesmo tempo, vai aumentando, de forma
espectacular, a capacidade de armazenamento
digital e descobrindo formas mais eficazes na
compresso dos dados que contribui para a
reduo do tamanho ocupado, em bits. Como
consequncia, a produo e a transmisso da
informao ficou facilitada: produo de
websites institucionais e privados, mensagens
de e-mail, weblogs, contedos digitais mul-
timdia diversos (fotos, vdeo, animaes).
Parece, ainda que algo paradoxalmente,
que a sociedade tecnologicamente desenvol-
vida criou um monstro: como gerir a
avalanche informativa crescente e evitar o
soterramento? Simultaneamente, como con-
ferir utilidade ao oceano de dados?
A aproximao que se d entre o sujeito
e o conhecimento informtico processa-se por
moldes diferentes dos tradicionais, que re-
metiam para a relao com os livros: este
novo salto na forma de adquirir e transmitir
informaes () certamente trar modifica-
es s demais formas tradicionais orais
e escritas de se lidar com o saber (Kenski,
1999, p. 173).
A ideia da World Wide Web, de Tim
Berners-Lee e dos seus colegas do CERN,
era a de integrar todos os contedos de
qualquer servidor em qualquer parte do
mundo com outro computador online. O
caminho para alcanar esta convergncia
o da digitalizao de todos os contedos, mas
cuidando na promoo da interconectividade
entre todas as redes e a humanizao do
software e do hardware, atendendo aos efeitos
escala globalizante dos satlites. Na opi-
nio de Kerckhove, tal pressupunha uma
nova ecologia das redes, baseada na
interactividade, na hipertextualidade e na
conectividade (Kerckhove, 1997a). Mas, a
estas, h que assegurar o objectivo da
interoperabilidade entre os sistemas, melho-
rando pela adopo da indexao e da
interconexo, condio imprescindvel para
o carcter funcional dos arquivos: uma
memria est morta se no for catalogada,
disponvel, transmissvel, criticada e eventu-
almente reinterpretada (Hoog, 2003, p. 173).
Antes mesmo da questo do que con-
servar e do que transmitir, preciso encon-
trar formas comuns de preservao da infor-
mao j existente: a histria da memria
deve ser tambm a histria dos seus supor-
tes (Hoog, 2003, p. 170).
Ser, de facto, possvel, construir-se uma
memria a partir ciberespao? Alguns entra-
ves esto diagnosticados: a obsolescncia dos
suportes de registo informativo, do cdigo
lingustico e do seu respectivo equipamento;
o carcter voltil e imaterial dos contedos;
a perenidade dos links que inter-relacionam
a informao na rede. Em conjunto, concor-
rem para a urgncia de, no presente, promo-
ver processos de produzir informao digital
que j incluam na estrutura-cdigo a forma
de interpretao um dna digital. A van-
tagem a da capacidade de proporcionar
imediato armazenamento, indexao e cata-
logao, atravs de programas estandardi-
zados apropriados. As ferramentas
informticas devem corresponder s carac-
tersticas da open-source, de modo a ser
concretizvel o objectivo da interopera-
bilidade com outros sistemas, permitindo,
assim, a ampla disponibilizao dos fichei-
ros atravs da web, por meio de um sistema
de procura e recuperao da informao.
De um ponto de vista do interesse individual
ou colectivo, todo o arquivo patrimnio. A
tecnologia assim o vai permitindo, e permitir
cada vez melhor. No nos cabe, agentes do
presente, decidir o que sobre ns devero saber,
no futuro. Da mesma maneira que um arque-
logo exulta quando v num artefacto um
sobrevivente da amnsia do tempo.
Refrescando a memria, porque a era
tecnolgica se esfora por permitir aos supor-
tes do conhecimento a durabilidade e trans-
misso infinitas, sem degradao nem perdas.
263 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Bibliografia
Baptista, Ana Alice e Machado, Altamiro
Barbosa, Um gato preto num quarto escuro:
falando sobre metadados, Revista de
Biblioteconomia de Braslia, vol. 25, n 1,
2001, URI: http://hdl.handle.net/1822/380.
Bennewitz, R et alii, Atomic scale
memory at a silicon surface, Nanotechnology
vol. 13, n 4, 2002, pgs. 499-502.
Hedstrom, Margaret. Mass storage and
long-term preservation, disponvel em http:/
/www.uky.edu/~kiernan/DL/hedstrom.html
(20.Abril.2004).
Hoog, Emmanuel, Tout garder? Les
dilemmes de la mmoire lge mdiatique,
Le dbat, n 125 (maio-agosto 2003), Paris,
Ed. Gallimard, 2003, pgs. 168-189.
Kenski, Vani Moreira, Memria e co-
nhecimento na era tecnolgica, Revista de
Comunicao e Linguagens, 25-26, Lisboa,
Ed. Cosmos, 1999, pgs. 165-175.
Kerckhove, Derrick de, Connected
intelligence. The arrival of the web society,
Toronto, Somerville House Books Limited,
1997a.
Kerckhove, Derrick de, A pele da cul-
tura (uma investigao sobre a nova reali-
dade electrnica), Lisboa, Relgio dgua
Editores, 1997b.
Lorie, Raymond A., Long Term
Preservation of Digital Information,
Proceedings of the first ACM/IEEE-CS Joint
Conference on Digital Libraries, Roanoke,
Virginia, New York, 2001, ACM-Press, p.
346-352, disponvel em: http://doi.acm.org/
10.1145/379437.379726.
Luhmann, Niklas, A improbabilidade da
comunicao, Lisboa, Vega, 1992.
McCray, Alexa T.; Gallagher, Marie E.,
Principles for digital library development,
Communications of the ACM, Vol. 44, No.
5, May, 2001.
Nunes, Eduardo Borges, Abreviaturas
paleogrficas portuguesas, Lisboa, Faculda-
de de Letras, 1981.
Oliveira Marques, A. H., Leitura nova,
Joel Serro (dir.), Dicionrio de Histria de
Portugal, vol. III, Porto, Livraria
Figueirinhas, 1971, pgs. 475-476.
Rothenberg, Jeff, Avoiding
Technological Quicksand: Finding a Viable
Technical Foundation for Digital
Preservation, 1999a, pdf, disponvel em:
http://www.clir.org/pubs/reports/rothenberg/
pub77.pdf.
Rothenberg, Jeff, Ensuring the
Longevity of Digital Information, Scientific
American, 42-47, 1999b, disponvel em: http:/
/www.clir.org/pubs/archives/ensuring.pdf.
Rothenberg, Jeff. Digital Information
Lasts Forever - Or Five Years, Whichever
Comes First, disponvel em http://
www.amibusiness.com/dps/rothenberg-
arma.pdf (20.Abril.2004).
Santos, Maria Jos Azevedo, Da
visigtica carolina. A escrita em Portugal
de 882 a 1172 (aspectos tcnicos e cultu-
rais), Dissertao de doutoramento em His-
tria, Universidade de Coimbra, 1988.
Yaginuma, Tomoko et alii,
Implementation of Metadata for OmniPaper
RDF Prototype, International Symposium on
Digital Libraries and Knowledge
Communities in Networked Information
Society 2004 (DLKC04), University of
Tsukuba - Japan, 2004, disponvel em: http:/
/canada.esat.kuleuven.ac.be/omnipaper/
downloads/WP7_DLKC04Paper_1.0.pdf.
Yaginuma, Tomoko et alii, Metadata
elements for digital news resource
description, Congresso Luso-Moambicano
de Engenharia, 3 Informtica e tecno-
logias da informao, Maputo, 2003, p.
1317-1326; URI: http://hdl.handle.net/1822/
279.
_______________________________
1
Departamento de Cincias da Comunicao,
Universidade do Minho.
2
Servem apenas de referncia, para alm de
tantos outros exemplos, os projectos pioneiros
Electronic Publication Pilot Project da Biblioteca
Nacional do Canad, iniciado em 1994, e o
equivalente australiano Pandora, a partir de Junho
de 1994, e o congnere sueco Kulturarw, a partir
de 1996. De igual meno, o projecto Gallica
(Biblioteca digital da Bibliothque Nationale de
France), a Library of Congress (parte integrante
do projecto American Memory, dirigido pelo
Congresso Americano), e, entre ns, a BNDigital
(projecto lanado pela Biblioteca Nacional (Lis-
boa).
3
Tal o caso do entretanto suspenso Projecto
Lifelog, da responsabilidade da Agncia Nacional
de Defesa Americana (DARPA) [http://
www.darpa.mil/ipto/Programs/lifelog/index.htm].
264 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
4
Entre outros exemplos, o RepositoriUM,
repositrio institucional da Universidade do
Minho, organizado por comunidades cientficas,
armazena, preserva, divulga e d acesso pro-
duo intelectual desta universidade em formato
digital [http://repositorium.sdum.uminho.pt].
5
Cf. o protocolo Open Archives Initiative
Protocol for Metadata Harvesting [http://
www.openarchives.org].
6
Como o sistema desenvolvido pela
Corporation for National Research Initiatives
[http://www.handle.net]
7
Cite-se, da Microsoft, o MyLifeBits [http:/
/research.microsoft.com/barc/MediaPresence/
MyLifeBits.aspx] baseada na viso pioneira de
Vannevar Bush, que, em 1945, antecipava a
possibilidade de se criar um dispositivo capaz de
tudo ciberizar, isto , registar todos os elemen-
tos da vida de uma pessoa. Eram ideias visio-
nrias, integradas num projecto pessoal denomi-
nado Memex, que consistia num aparelho com
o qual um indivduo guardaria todos os seus livros,
registos, comunicaes, numa forma mecnica,
pelo que tudo poderia ser consultado com extre-
ma rapidez e flexibilidade. [http://
www.theatlantic.com/unbound/flashbks/computer/
bushf.htm].
8
A Leitura Nova consiste na reescrita de um
conjunto dos documentos legais e administrativos
portugueses, copiados por ordem do rei D. Manuel
I entre 1504 e 1552 em letra vigente na poca
de sua transcrio, com o intuito de facilitar sua
leitura e evitar a sua perda (Oliveira Marques,
1971).
9
Ainda no mesmo mbito, e em jeito de
complemento, refira-se que muitas e graves
imprecises foram tomadas na traduo do X
(xis aspado). Este numeral, que deriva do XL,
com valor igual a 40, como sabido, foi muito
utilizado na Pennsula Ibrica at ao sc. XIV,
mas nos sculos XV e XVI foi-se tornando raro
ao ponto de muitos escribas o ignorarem e, por
isso, o copiarem mal, com o valor 10 (X romano),
levando a erros de transcrio (Santos, 1988). Em
contrapartida, nos sculos XV e mesmo XVI era
muito vulgar o R com valor de 40, que era uma
deturpao do x aspado (Nunes, 1981).
10
Cf. Quantum Information, IBM Almaden
Research Center [http://www.almaden.ibm.com/st/
quantum_information/qio/index.shtml].
11
data, os 300 Gb. do novo Ultrastar
10K300 da Hitachi converteu-se no disco-duro
com maior capacidade no mercado comercial
[http://www.hitachi.com/New/cnews/E/2003/
0106e/].
12
Uma iniciativa da Information Society
Technologies o projecto Omnipaper (Smart Access
to European Newspapers) [http://
canada.esat.kuleuven.ac.be/omnipaper/] pretende
investigar formas de promover o acesso a diferentes
tipos de fontes de informao distribuda, permitin-
do aos utilizadores um acesso estruturado, perso-
nalizado e multilingue a todo o conjunto de artigos
de notcias (Yaginuma et alii, 2004).
13
Por exemplo, o Dublin Core Metadata
Elements Set e o Resource Description Framework
(RDF), ambas recomendadas por organismos
amplamente reconhecidos a nvel mundial, tanto
pela comunidade cientfica, como pela comuni-
dade empresarial (a DCMI Dublin Core
Metadata Iniciative, no primeiro caso, e a World
Wide Web Consortium, no outro). Igualmente se
referenciam outros formatos estandardizados de
notcias, o NITF (News Industry Text Format) e
o NewsML, implementados pela International
Press Telecommunications Council (IPTC), e o
XMLNews, desenvolvido pelo XMLNews.org
(Yaginuma et alii, 2004).
14
Estudo da Reconfigurao do Campo da
Comunicao e dos Media em Portugal (Ncleo
de Estudos de Comunicao e Sociedade da
Universidade do Minho), projecto apoiado pela
FCT (POCTI/COM/41888/2001) http://
www.necs.ics.uminho.pt.
265 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Comunicao Organizacional
impacto da adopo de um Sistema Workflow
Anabela Sarmento
1
1. Introduo
Num contexto caracterizado por rpi-
das e constantes mudanas, onde o conhe-
cimento e a sua gesto adquirem uma
importncia cada vez maior e decisiva para
a competitividade das organizaes, assis-
te-se adopo e implementao, por vezes
desenfreada e pouco reflectida, de sistemas
de informao, na expectativa de que estes
resolvam alguns dos problemas fundamen-
tais com que a organizao se depara. No
entanto, quando um gestor adopta uma
tecnologia, normalmente tende a focar-se
apenas nos aspectos tcnicos e nas funes
suportados por essa tecnologia. No se
procura compreender de que forma as nor-
mas e os comportamentos sociais determi-
nam o modo como essas tecnologias so
utilizadas. Esta incompreenso pode tomar
dimenses mais graves quando se trata de
tecnologias com caractersticas capazes de
influenciar a forma como os agentes co-
municam e interagem.
De entre as opes disponveis no
mercado, destacamos os sistemas workflow.
Eles encerram potencial para provocar
alteraes a nvel dos domnios da gesto
dos processos, nomeadamente da coorde-
nao e controlo dos processos, da cola-
borao e da comunicao, da gesto do
conhecimento e da produtividade. Nesta
comunicao vamo-nos centrar na comu-
nicao.
Aps uma breve descrio das princi-
pais caractersticas e potencialidades dos
sistemas workflow, bem como de alguns as-
pectos relacionados com a comunicao
mediada por computador, apresentamos um
estudo de caso onde se identificam os
impactos ocorridos nos diversos domnios
organizacionais, em particular na comuni-
cao, bem como os fact ores que
potenciaram ou inibiram tais mudanas.
2. Sistemas Workflow definio e carac-
terizao das suas potencialidades
Os sistemas workflow podem ser defini-
dos como sendo um software de gesto,
computorizado e proactivo, que gere o fluxo
de trabalho entre os participantes, de acordo
com procedimentos pr-definidos, que cons-
tituem as tarefas
2
. Estes sistemas permitem
coordenar os participantes e os recursos de
informao envolvidos. Esta coordenao
procura que a transferncia de tarefas entre
os participantes se realize de acordo com uma
sequncia pr-definida, assegurando que todos
os intervenientes realizam as actividades
requeridas e que, quando necessrio, execu-
tam outras aces. O foco destes sistemas
est na forma como o trabalho evolui e no
na informao.
A classificao mais comum de sistemas
workflow a que distingue trs categorias:
(1) Sistemas Ad hoc; (2) Sistemas Adminis-
trativos; (3) Sistemas de Produo (Transac-
o). Os sistemas workflow de produo
ajudam a suportar as regras do processo pr-
definido, executando-as de uma forma muito
rgida e rigorosa. Este tipo de sistemas
adequado para o suporte de misses crticas
dos processos de negcio, onde nada pode
falhar e tudo deve ser executado de acordo
com os modelos de processos pr-definidos.
No outro extremo surgem os sistemas
workflow colaborativos, cujo enfoque no
tanto o processo em si, mas sim a partilha
de informao entre os actores envolvidos
no processo, permitindo que estes trabalhem
em conjunto. Este tipo de sistemas pode ser
aplicado em reas de negcio como o de-
senho de engenharia ou de arquitectura, a
criao e aprovao de documentos, entre
outras. A categoria Administrativa envolve,
essencialmente, os processos administrativos,
como por exemplo ordens de compra, rela-
trios de qualidade, relatrios de despesas,
entre outros.
266 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Em termos gerais, reconhecido por
diferentes autores
3
que o sistema workflow
uma tecnologia capaz de ajudar uma or-
ganizao a melhorar a coordenao, a
comunicao e a colaborao entre os seus
elementos, bem como o conhecimento orga-
nizacional. Ao nvel da coordenao, as
caractersticas deste sistema permitem desem-
penhar a gesto das tarefas ao longo de um
processo de negcio, entregando o trabalho
pessoa certa, no momento exacto
4
. Isto
contribui para o processamento e gesto da
informao uma vez que, em cada momento,
existe uma interpretao da informao
enviada para cada unidade, com um baixo
nvel de incerteza e equvoco. O facto destes
sistemas pressuporem a existncia de regras
pr-definidas e a alocao de recursos e
pessoas para a execuo de determinada
tarefa, contribui para a diminuio de
ambiguidades e uma maior qualidade na
tomada de deciso da decorrente.
Nonaka e Takeuchi
5
referem que a reu-
nio de pessoas com experincia e conhe-
cimentos diferentes uma das condies
necessrias criao de conhecimento. Esta
ideia secundada por Davenport e Prusak
6
que afirmam que o conhecimento gerado
pelas relaes que se estabelecem nas redes
informais e auto-organizadas, as quais po-
dem ser formalizadas com o tempo. Afirmam
ainda que a transferncia efectiva do conhe-
cimento se d atravs da comunicao,
processo vital para o sucesso da organizao.
As caractersticas dos sistemas workflow
conferem-lhes um estatuto de ferramenta de
comunicao, com capacidade de suportar
encontros ou trabalho cooperativo sem cons-
trangimentos de tempo e de espao
7
. A
possibilidade de alargamento da rede de
contactos permite a criao de redes para
trocas de experincia e de conhecimento,
envolvendo um nmero mais elevado de
indivduos permitindo, deste modo, uma
partilha mais rica de informao. Estes sis-
temas facilitam, igualmente, a ligao entre
unidades dentro da mesma organizao e at
entre organizaes distintas, contribuindo para
o alargamento da autonomia das unidades
organizacionais e para a eliminao das
ilhas dentro da organizao
8
, suportando a
partilha de informao.
Estes sistemas tambm possibilitam o
armazenamento de informao e a constitui-
o de repositrios de informao sob a forma
de nmeros, de factos e de regras, bem como
conhecimento tcito, experincias, anedotas,
incidentes crticos, artefactos e detalhes sobre
decises estratgicas.
Relativamente ao conhecimento, o con-
tributo destes sistemas revela-se atravs da
necessidade de se explicitar conhecimento at
ento detido por cada um dos indivduos na
organizao (conhecimento tcito). O facto
destes sistemas serem baseados em proces-
sos previamente analisados e aos quais se
associam regras claras, explcitas e comuns
para todos, pressupe a optimizao dos
recursos existentes (mquinas e homens), um
acesso mais facilitado informao (passa
a estar disponvel atravs dos meios electr-
nicos, centralizada, e no em documento de
suporte em papel) e a reconstituio do
historial dos processos, contribuindo para uma
melhor gesto do conhecimento organizaci-
onal.
3. Comunicao mediada por computador
A comunicao mediada por computador
(CMC) refere-se a toda e qualquer interaco
que seja gerada e transmitida com o uso de
tecnologia. Alguns dos tipos de meios que
cabem dentro desta designao so a Internet,
o Internet Relay Chat (IRC), o Multiple User
Dungeons (MUDs), os newsgroups, as con-
ferncias electrnicas, e o correio electrni-
co, para citar apenas alguns.
A CMC distingue-se da comunicao face
a face (FAF) pelo facto de ser uma comu-
nicao assncrona, no existirem chaves
visuais e contextuais para descodificar a
mensagem, existir a possibilidade de gravar,
guardar e encaminhar as mensagens, haver
um aumento do nvel de formalidade e a
comunicao ter um carcter annimo, entre
outros aspectos.
O carcter assncrono da comunicao
significa que emissor e receptor no neces-
sitam de estar envolvidos simultaneamente
na comunicao. Esta pode ser feita de acordo
com as convenincias dos intervenientes, con-
tribuindo para a eliminao dos obstculos
relacionados com factores humanos (p. ex.,
267 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
o emissor j no precisa de se certificar de
que o receptor est disponvel para receber
a mensagem no momento exacto da sua trans-
misso). Esta caracterstica d tempo ao
receptor para pensar, o que pode ser benfico
para a qualidade das suas respostas
9
.
A ausncia de chaves sociais e contextuais
outra das caractersticas da CMC. Uma vez
que no existem expresses faciais, entoa-
o, gestos, aparncia fsica e adornos, pode
ser mais difcil interpretar afirmaes e
responder de acordo do que na comunicao
FAF. A ausncia de elementos no verbais
dificulta o conhecer melhor o interlocutor e,
consequentemente, direccionar um dilogo
para aspectos mais pessoais. Da mesma
forma, possvel prestar-se menos ateno
ao interlocutor porque o foco da ateno do
emissor pode estar a ser canalizado para
outros elementos do contexto. Mesmo quan-
do os participantes esto absorvidos na CMC,
h uma maior tendncia para se deixarem
levar por impulsos, ou para se centrarem nas
suas preocupaes, uma vez que no existem
chaves visuais para lhes indicar o que o
mais apropriado para responder naquela
situao. Tais circunstncias podem conduzir
a relacionamentos mais impessoais, sendo
mais difcil criar um ambiente ntimo ou de
confiana
10
. Lucas
11
acrescenta que na CMC,
o emissor pode ter menos conscincia do
estatuto do receptor, o que lhe d um maior
conforto e vontade na emisso de ms
notcias. Estes efeitos podem ser mais vis-
veis, sobretudo no incio de uma relao
12
.
Quando as interaces se prolongam ao longo
do tempo, observou-se que os aspectos
impessoais desaparecem medida que os
intervenientes trocam mensagens. Parece que
os grupos que comunicam atravs de com-
putador, apesar dos obstculos iniciais, aca-
bam por ultrapassar estes problemas e de-
senvolver relaes positivas, se tiverem tem-
po para isso.
A receptividade e confiana que existe
entre os participantes condicionam, igualmen-
te, o nvel de formalidade que vai existir na
comunicao. A sua influncia verifica-se na
composio do texto, no nmero de erros
permitidos, na pontuao, entre outros aspec-
tos. Quando a confiana grande a
informalidade maior; h uma maior acei-
tao das deficincias atrs enunciadas. Por
exemplo, as normas da comunicao escrita
das mensagens de negcios veiculadas por
correio electrnico tornaram-se menos exi-
gentes, sendo frequentes as mensagens com
pargrafos pobres, frases incompletas e erros
ortogrficos. O efeito destes erros diferente
consoante o receptor da mensagem seja
novato ou experiente, este ltimo desculpan-
do mais facilmente tais erros
13
. A mesma
aceitao de erros acontece para os que
escrevem numa segunda lngua, o que pode
levar a uma facilitao da comunicao de
negcios a nvel internacional. O contrrio
tambm se verifica, isto , quanto mais formal
for a comunicao, menor a aceitao dos
problemas de linguagem.
Nestas consideraes igualmente impor-
tante ter em conta o nmero de mensagens
trocadas. Isto porque, medida que se vo
trocando mensagens, aumentam as relaes
pessoais entre os participantes. Tal acontece
porque eles vo-se conhecendo melhor, vo-
se sentindo mais confortveis uns com os
outros e comeam a trocar ideias sobre outros
interesses que descobrem terem em comum.
Saliente-se que, independentemente do meio
utilizado, no incio de qualquer relao, a
comunicao ser sempre mais formal e
impessoal.
Um outro efeito da CMC nos negcios
relaciona-se com o facto das comunicaes
serem mais orientadas tarefa. Quer isto dizer
que na CMC os participantes tm mais
tendncia a irem direitos ao assunto. Apesar
deste foco na tarefa, mais difcil chegar
a consenso porque no existem chaves vi-
suais e contextuais s quais os intervenientes
possam aderir e porque os possveis lderes
existentes tm mais dificuldade em liderar
as discusses.
A CMC ajuda a ultrapassar o problema
do nmero de ligaes entre os vrios
intervenientes no processo, uma vez que a
mensagem j no necessita de atravessar uma
srie de filtros antes de chegar ao destina-
trio, conferindo uma maior qualidade
informao nela contida. A mensagem che-
ga, tambm, ao seu destinatrio de forma mais
rpida.
De uma maneira geral, a literatura refere
que este meio facilita as comunicaes
organizacionais, tornando-as mais rpidas e
mais eficientes. A informao chega a mais
268 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
funcionrios e o meio seleccionado na busca
de informao sobre um determinado assun-
to.
A comunicao informal tambm pode
sofrer alteraes. A rapidez e a acessibilida-
de permitem que a transmisso da mensagem
se faa de uma forma mais simples e em
tempo real. Frequentemente, a utilizao do
correio electrnico permite a resoluo de
problemas que de outra forma levariam mais
tempo a resolver.
Os sistemas permitem a ligao intra e
inter organizaes, abrindo as portas para a
ligao entre pessoas, bens e ideias, clientes
e fornecedores (e at concorrentes) de forma
a criar e distribuir novos produtos e servios
sem limitaes de fronteiras organizacionais
tradicionais, e onde cada empresa contribui
com as suas competncias chave, com o que
de melhor faz, durando, tal rede, enquanto
a oportunidade lucrativa, podendo desen-
volver locais de trabalho virtuais
14
.
Tendo em conta o que se foi relatando
ao longo dos ltimos pargrafos parece
razovel assumir que a comunicao pode ser
mais ou menos pessoal dependendo da
natureza da conversa, dos participantes, e do
tempo envolvido. Apesar das mudanas
operadas no mbito da comunicao empre-
sarial apontarem para um caminho positivo,
preciso ter em conta que a tecnologia per
se nada faz.
4. Estudo de caso
Nas seces seguintes apresenta-se um
estudo de caso de uma empresa onde ocorreu
a implementao de um sistema workflow.
Depois de uma breve apresentao da orga-
nizao, descreve-se a metodologia utilizada
para a recolha e anlise dos dados. Segue-
se a apresentao e discusso dos resultados.
4.1. Caracterizao da organizao
A empresa Beta pertence a uma sub-
holding que actua no sector da INDSTRIA,
de uma das mais importantes empresas
portuguesas industriais de produtos em
madeira. O seu objectivo produzir produtos
qumicos que depois so utilizados nas res-
tantes empresas do grupo que se dedicam a
actividades industriais e comerciais relacio-
nadas com a produo de laminados deco-
rativos.
A empresa Beta est organizada numa
estrutura matricial. Este tipo de estrutura
combina a estrutura funcional e divisionada,
que se cruzam e exercem funes comple-
mentares
15
. Por um lado facilita a distribui-
o de poder e o despoletar de novos pro-
jectos e, por outro lado, pode conduzir a
conflitos de responsabilidade, pois funciona
como duas estruturas hierrquicas
entrelaadas. Nesta empresa, os servios
administrativos so partilhados por vrias
fbricas. Assim, por exemplo, o departamen-
to de Recursos Humanos no tem apenas de
gerir os recursos humanos da empresa Beta,
tendo de faz-lo para as restantes empresas
da sub-holding INDUSTRIA. Tal situao
pode revelar-se problemtica uma vez que
as fbricas esto geograficamente distribu-
das, algumas das quais no estrangeiro. Para
gerir todas as fbricas (distribudas por 10
pases), os gestores viajam bastante pelo que
a gesto dos fluxos do trabalho dirio e a
comunicao podem apresentar problemas.
O quadro seguinte apresenta uma sntese
das principais caractersticas desta organizao.
Os motivos que levaram implementao
do sistema workflow prendem-se, sobretudo,
com o facto das fbricas desta sub holding
estarem distribudas geograficamente por 10
pases. Mesmo em Portugal, elas no esto
localizadas em apenas um local, o que sig-
nifica que necessrio assegurar que o fluxo
dos processos no pra por falta de uma
assinatura de um superior hierrquico.
O primeiro processo onde se implementou
o sistema, em 1988, foi o de seleco e
recrutamento de pessoal. A sua escolha
ocorreu devido ao facto de no ser um
processo crucial, pelo que se algo corresse
mal, no teria implicaes para o negcio
central da empresa. As expectativas relativas
ao projecto eram (1) uniformizar, optimizar
e aumentar a velocidade dos fluxos de tra-
balho e do processo de negcio; (2) reduzir
o volume de papel em circulao e a sua
manipulao; (3) assegurar a confidencia-
lidade da informao; (4) melhorar a recolha
e gesto da informao para cada pedido
relativo ao processo; (5) registar a informa-
o e disponibiliz-la para todas as activi-
dades que dela necessitassem.
269 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Esta implementao servia, igualmente,
propsitos de aprendizagem que seriam uti-
lizados, mais tarde, na implementao de
sistemas semelhantes, noutros processos.
Seguiram-se o processo de certificao da
qualidade, o processo de pedido de autori-
zao de viagem, o processo de preveno
e correco de situaes na fbrica e o
processo de pedidos de ausncia e trabalho
suplementar.
O sistema workflow utilizado foi o Lotus
Notes que tinha a vantagem de j ser an-
teriormente utilizado na empresa, pelo que
os encargos financeiros seriam mnimos. Os
aspectos mais relevantes que contriburam
para a adopo do sistema workflow nesta
organizao foram:
A existncia do Lotus Notes na empre-
sa, no sendo necessrio comprar a aplica-
o;
Os recursos humanos seria um es-
tagirio a desenvolver a aplicao;
O trabalho por turnos o que significa
que, no mximo, esto em simultneo na
fbrica 15 funcionrios. Esta situao facilita
o perodo de formao e reduz o nmero de
computadores necessrios para operar;
A empresa estava a passar pelo proces-
so de certificao da qualidade os proces-
sos estavam a ser analisados e redesenhados,
o que facilitou a anlise para a implementao
do sistema workflow.
4.2. Metodologia para recolha de informa-
o
A recolha de dados foi feita entre Maio
de 2001 e Novembro de 2001. Utilizaram-
se a anlise documental e a entrevista como
instrumentos principais de recolha de dados.
Foram recolhidos diversos documentos so-
bre a empresa e sobre os processos onde o
sistema workflow j havia sido implementado.
Realizaram-se seis entrevistas que abrange-
ram desde a Directora de Recursos Huma-
nos, a Directora de Produo, a responsvel
pelo Departamento de Informtica, um res-
ponsvel da fbrica e dois elementos
s o t c e p s A
s i a r u t u r t s E
s o t c e p s A
s o c i g l o n c e T
s o t c e p s A
s o c i t l o P
s o t c e p s A
s o n a m u H
s o t c e p s A
s i a r u t l u C
; l a i c i r t a m a r u t u r t s E
s a d o a z i l i t U
e d s a i g o l o n c e t
a r a p o a m r o f n i
; r a c i n u m o c
s o t i u c r i c e s i a n a c s O
o s o a c i n u m o c e d
. o d i n i f e d m e b e s o r a l c
s a s a d o t m e C P
; s e c e s
; C P 1 m t s e f e h C
m e a d a e s a b t e n a r t n I
; b e W
; t e n r e t n I o s s e c A
s u t o L o m a z i l i t U
; s e t o N
e r b o s o t n e m i c e h n o C
m u r e v l o v n e s e d o m o c
e w o l f k r o w a m e t s i s
. r a t n e m e l p m i o o m o c
o d o a z i l a r t n e c s e D
s o s a m r e d o p
m a t i s s e c e n s o t c e j o r p
o l e p o a v o r p a e d
e d o h l e s n o C
; o a r t s i n i m d A
e d s a v i t a i c i n I
m e d o p a n a d u m
s o r d a u q s o d r i t r a p
. s o i d m r e t n i
s a p i u q e m e t s i x e o N
; s i a m r o f
s o d e t r a p e d n a r G
m o c s o i r n o i c n u f
l a i c i n i o a m r o f
; a d a v e l e
s a o s s e P
e t n e m e t n e r a p a
o m o c s a t i e f s i t a s
; a s e r p m e a n o h l a b a r t
5 2 , s o i r n o i c n u f 0 4
e a c i r b f a n s i a u q s o d
5 1 s e t n a t s e r s o
o a o d n e c n e t r e p
o v i t a r t s i n i m d a r o t c e s
, e t n e m l a u g i , o d n i r e g (
s e t n a t s e r s a
a d s a s e r p m e
; ) A I R T S U D N I
s o n r u t r o p o h l a b a r T
5 1 e d s i a m o n
m e s o i r n o i c n u f
a n o e n t l u m i s
; a s e r p m e
e d s e d a d i e d a i d M
; s o n a 0 3
a m i n m o a c i f i l a u Q
a c i r b f a n r a r t n e a r a p
e d n a r G . o n a 2 1
s o i r n o i c n u f s o d e t r a p
r a d u t s e a u o u n i t n o c
a o d u l c n o c o d n e t
; a r u t a i c n e c i l
s n u g l a H
4 o m o c s o i r n o i c n u f
o n a 6 e
s o d e t r a p r o i a M
e b a s s o i r n o i c n u f
s o r a z i l i t u
. s e r o d a t u p m o c
a m o c o a p u c o e r P
; e d a d i l a u q
a r v a l a p a i l m a F
; e v a h c
e d o a z i l a e R
o a s i a i c o s s e d a d i v i t c a
; o n a o d o g n o l
r e d l o d a i c n t r o p m I
a d r o d a d n u f (
e u q ) o a z i n a g r o
l i f r e p m u m t e d
s o d o t n u j o c i t m s i r a c
; s o i r n o i c n u f
e d o a c i f i t r e C m e T
. e d a d i l a u Q
270 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
operacionais. A durao mdia das entrevis-
tas foi de cerca de 60 minutos. Foram todas
gravadas e totalmente transcritas. A anlise
dos dados foi feita recorrendo a mtodos
qualitativos
16
.
5. Apresentao e discusso dos resultados
A tabela seguinte lista as mudanas
verificadas aps a implementao do sistema
workflow em todos os processos j referidos.
A primeira coluna representa os domnios de
mudana e a segunda coluna a alterao pro-
priamente dita.
No que diz respeito aos domnios par-
ticulares da comunicao e colaborao
vemos que o sistema workflow encarado
de duas formas distintas: (1) para uns o
sistema facilita o acesso ao interlocutor. O
emissor no depende de aspectos temporais
e geogrficos para contactar o seu receptor,
sendo um aspecto positivo da aplicao; (2)
para outros, a aplicao distancia a relao
e o contacto entre emissor e receptor, reve-
lando um aspecto negativo da aplicao.
Antes da implementao do sistema, e
dada a frequncia com que alguns Directores
se deslocam no pas e no estrangeiro, havia
alguma dificuldade em conseguir dar anda-
mento a determinadas tarefas que requeriam
as assinaturas desses funcionrios. Nessa
altura era frequente o processo parar, aguar-
dando o regresso do Director para assinar o
documento. A implementao do sistema e a
possibilidade de assinar electronicamente o
documento a partir de qualquer ponto do globo
veio obviar as dificuldades referidas e a ace-
lerar o andamento dos processos. Por exemplo,
no processo de pedido de autorizao de
viagem, foi referido pelos entrevistados que o
sistema veio possibilitar uma comunicao mais
rpida e sem distoro da informao nela
contida, alm de que o processo e as respon-
sabilidades dos funcionrios na realizao de
cada tarefa ficaram mais transparentes.
Um outro aspecto mencionado pelos
funcionrios como sendo uma vantagem da
utilizao do sistema o registo dos eventos
e dos contedos, o que constitui uma segu-
rana em caso de dvida. Alm disso, o
sistema permite saber se a mensagem che-
gou ao seu destinatrio.
Apesar das vantagens atrs enunciadas,
a utilizao do sistema workflow, e segundo
a perspectiva de alguns funcionrios, encerra
inconvenientes. Antes da implementao do
sistema, os funcionrios deslocavam-se na
fbrica para entregarem os documentos re-
lativos aos processos acima j referidos. Nesta
deslocao e contacto pessoal com o
interlocutor aproveitavam para conversar e
trocar opinies e ideias sobre diversos assun-
s o s s e c o r P
) o c i n r t c e l e a l e p a p e d ( o s s e c o r p o d e t r o p u s o n a n a d u M
e d a i r t e r c e s a d r i t r a p a s a d a z i l a e r r e s a m a r a s s a p s a f e r a t s a s a d o T
a m e r a c o l s e d e s e d e d a d i s s e c e n s i a m m t o n s e t s E . o i r n o i c n u f a d a c
o t n e m u c o d m u r a g e r t n e a r a p o t n e m a t r a p e d o r t u o
e d s a i p c r i u b i r t s i d e r i m i r p m i . g . e ( s a f e r a t s a m u g l a e d o a n i m i l E
) s o t n e m u c o d
e t n e r a p s n a r t s i a m e s - u o n r o t o s s e c o r P
o a n e d r o o C
s o s s e c o r p s o d o d a t s e o r e b a s e s e d e d a d i l i b i s s o P
s o s s e c o r p s o d o t s e g a d o a t i l i c a F
s o s s e c o r p s o d o a z i n o r d a P
s o t n e v e e d o t s i g e R
s o t n e v e s o d l a u d i v i d n i o a t e r p r e t n i a d o i u n i m i D
o s i v r e p u s a d o a t i l i c a F
e d a d i v i t u d o r P
) a r e p s e e d e o u c e x e e d ( s o p m e t s o d o u d e R
l e p a p e d o a n i m i l E
s e t n a d n u d e r s a f e r a t e d o a n i m i l E
o t n e m i c e h n o C
s o d a d e d s e s a b e d o t n e m i v l o v n e s e D
e s a n r e t n i s e t n i f e d r i t r a p a s a d a t n e m i l a o s s o d a d e d s e s a b s A
s a n r e t x e
a c i n r t c e l e l a n o i c a z i n a g r o a i r m e m a m u e d o t n e m i v l o v n e s e D
o d r o c a e d ( s o i r n o i c n u f s o s o d o t a r a p l e v n o p s i d t s e a i r m e m a t s E
) e d a d i l a i c n e d i f n o c e d s i e v n m o c
a d a z i l a u t c a e r p m e s t s e e l e v z i l a u t c a e t n e m l i c a f a i r m e m a t s E
o a m r o f n i r i a r t x e e d e d a d i l i b i s s o P
s o d i v l o v n e s o s s e c o r p s o s o d o t e d e t e l p m o c s i a m o t n e m i c e h n o C
a s o r o g i r s i a m o a m r o f n I
271 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
tos, profissionais ou particulares. A utiliza-
o do sistema workflow veio acabar com
esta interaco face a face que foi substituda
por uma comunicao electrnica e impes-
soal, alm de que os assuntos tratados ver-
sam agora, apenas, aspectos de trabalho.
O quadro seguinte sintetiza os aspectos
que se acabaram de descrever relativamente
ao domnio da comunicao.
Aps a identificao das alteraes ocor-
ridas fruto da implementao do sistema
workflow, procurou perceber-se de que for-
ma as caractersticas da organizao
condicionaram, inibindo ou potenciando, tais
alteraes. Os factores organizacionais envol-
vidos foram: estruturais, polticos, humanos,
tecnolgicos e culturais.
Factores estruturais
No foi fcil, para alguns funcionrios
da fbrica, comearem a utilizar o sistema
em particular porque as tarefas a realizar com
a nova aplicao so espordicas (por exem-
plo, o pedido de autorizao de viagem ou
o pedido de alterao de turno). Para o
funcionrio tornava-se difcil recordar os
passos exactos necessrios para iniciar a
aplicao. Tal implicava um abrandamento
no ritmo de realizao das tarefas com recurso
ao sistema. Para alm disso, alguns funci-
onrios no gostavam do facto da aplicao
poder controlar os seus passos e registar todos
os eventos. Sentiam como se estivessem a
ser vigiados e o seu desempenho profissional
medido. Paralelamente, a comunicao for-
mal mediada por computador pode levar a
uma m interpretao do contedo das
mensagens uma vez que estas so apenas
escritas no havendo outros mecanismos
disponveis para clarificao do que se pre-
tende dizer.
O facto de se ter seleccionado como
primeiro processo a ser alvo da
implementao deste tipo de sistema um
processo simples, neutro e no vital para o
negcio pode ter contribudo para uma melhor
aceitao da mudana. Um outro aspecto que
pode ter tido algum impacto no resultado
parece ter sido o facto da implementao ter
sido realizada por cima dos procedimentos
j existentes. Os fluxos de trabalho continu-
aram na mesma forma, apenas se alterando
o acesso informao (agora passa a estar
disponvel de acordo com nveis de seguran-
a). Os formulrios electrnicos so tambm
semelhantes aos em papel. Finalmente refi-
ra-se o facto dos funcionrios sentirem que
o seu superior hierrquico estava sempre aces-
svel mesmo durante a sua ausncia da fbrica
pode ter contribudo para uma melhor acei-
tao do novo sistema.
Factores polticos
Alguns funcionrios resistiram utiliza-
o do sistema preferindo o processo com
o suporte em papel. Sentiam-se mais impor-
tantes quando tinham que entregar o docu-
mento em papel aos seus superiores. Agora,
uma vez que a comunicao mediada por
computador, sentem-se mais distantes do
centro de deciso. No entanto, o facto de
terem disponvel mais informao (sobre eles
e sobre os colegas) ajudou, de alguma forma,
a ultrapassarem os obstculos sentidos. O
facto dos estilos de trabalhos terem sido
uniformizados e ter-se minimizado as pos-
sibilidades de interpretao individual, con-
ferindo uma maior transparncia e sentido de
justia s situaes, tambm contribuiu para
uma melhor aceitao do sistema.
Factores humanos
Um outro obstculo diz respeito ao
conhecimento que os funcionrios tm para
utilizarem o sistema informtico. Apesar da
maior parte ter uma boa formao inicial, h
no entanto alguns que a no tm. O que se
observou foi que as pessoas com uma es-
colaridade menor manifestavam uma maior
dificuldade na utilizao do sistema e no
reconhecimento das suas potencialidades, ao
o a c i n u m o C
o a r o b a l o C e
s i a u d i v i d n i s o t c a t n o c s o d o a r u d e o r e m n o n o i u n i m i D
r a c i n u m o c a r a p s o c i n r t c e l e s o i e m e d o s U
o a p s e e o p m e t e d s a r i e r r a b e d o a n i m i l E
s i a u d i v i d n i s e a l e r s a d o z u j e r P
s i e v s s e c a s i a m r a t s e a m a r a s s a p s o i r n o i c n u f s o d s n u g l A
272 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
contrrio dos operadores com uma escola-
ridade mais elevada. A formao recebida
para utilizarem o sistema tambm foi alvo
de crticas. Os funcionrios referiram que esta
havia sido reduzida, muito terica e espo-
rdica. Eles referem que era necessrio te-
rem tido mais prtica de forma a melhor
memorizarem os procedimentos. Para aque-
les funcionrios que no utilizam o compu-
tador para realizarem as suas tarefas dirias,
torna-se muito complicado faz-los compre-
ender a utilidade e as vantagens da utilizao
do novo sistema. Alguns dos entrevistados
referiram, igualmente, que o facto da utili-
zao do computador tornar as relaes mais
impessoais e distantes, servia como desculpa
para evitarem utiliz-lo.
No entanto, verificou-se que aqueles
funcionrios que j utilizavam o computador
nas suas tarefas dirias aceitaram mais fa-
cilmente o novo sistema. O mesmo se pas-
sou com os funcionrios mais novos. Parece
que as pessoas novas lidam melhor com a
mudana do que as que tm mais idade. Estas
ltimas, como executaram as tarefas ao longo
dos anos sempre da mesma forma, tm mais
dificuldade em se aperceberem de que exis-
tem outras maneiras de as realizar, e mesmo
at de as aceitar.
Da mesma forma, as caractersticas da
personalidade tambm parecem influir no
sucesso da utilizao do sistema. H funci-
onrios curiosos e que querem explorar a
aplicao, como tambm h quem o no
pretenda fazer. E tal situao depende mais
das caractersticas individuais do funcion-
rios, da sua personalidade, do que propria-
mente de outros aspectos relacionados com
a tecnologias ou com a organizao.
Factores tecnolgicos
Relativamente aos factores tecnolgicos,
constatou-se que o equipamento existente
pode constituir um obstculo caso seja
obsoleto ou no tenha capacidade suficiente.
Para alm disso, algumas das tarefas demo-
ram, mais tempo agora a realizar (por exem-
plo, o funcionrio tem de ligar o computa-
dor, introduzir o seu login e password, abrir
algumas janelas antes de aceder ao documento
electrnico); alguns operadores no reconhe-
cem vantagem alguma no uso do computa-
dor para realizar essas tarefas, pelo que
resistem.
No entanto, procurou-se ter algum cui-
dado com o desenho da interface grfica
fazendo com que esta fosse a mais simples
e intuitiva possvel e que no fosse preciso
decorar comandos ou nomenclaturas.
Factores culturais
A introduo do sistema workflow criou
alguma nostalgia no seio das pessoas mais
velhas. Alguns dos entrevistados referiram
que tinham saudades dos velhos tempos
uma vez que antigamente sentiam-se mais
prximos uns dos outros, o que no acontece
agora. O computador torna as relaes mais
distantes e impessoais.
Contudo, o facto de se sentir uma pre-
ocupao com a gesto do conhecimento, de
se considerar a informao como um valor
acrescentado e de se considerar as mensa-
gens electrnicas como prova, contribui para
ultrapassar algumas das resistncias mu-
dana. Acresce ainda o facto da formao
dos recursos humanos ser uma prioridade e
de existirem estmulos partilha do conhe-
cimento. Para alm disso, o sistema workflow
permitiu uma uniformizao da terminologia
do trabalho, pelo que os processos e a lin-
guagem utilizada deixam de ser produto da
vontade de cada um, para ser superior a todos.
6. Concluses
Procurou-se, neste artigo, descrever um caso
ilustrativo da adopo de uma determinada
tecnologia e das consequncias que da podem
advir para a comunicao organizacional. A
identificao dos aspectos organizacionais que
inibiram ou potenciaram a mudana e a acei-
tao do novo sistema foram, tambm, alvo
das nossas preocupaes. Frequentemente, a
adopo de sistemas de informao tem apenas
por base as suas potencialidades e caracters-
ticas tecnolgicas, no se levando em consi-
derao os factores humanos e o seu impacto
nas relaes interpessoais. So, no entanto, as
pessoas que os vo utilizar pelo que devem
ser envolvidos no processo de mudana desde
o incio, explicitando os seus receios e dialo-
gando sobre as melhores prticas para a re-
alizao da mudana.
273 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Bibliografia
Cardoso, L., Gesto Estratgica das
Organizaes ao encontro do 3 milnio.
Lisboa: Verbo, 1997.
Davenport, T. e Prusak, L., Working
Knowledge: How organizations manage what
they know. Boston: Harvard Business School
Press, 1998.
Dietrich, R; Grear, J; Ruth, A., How
Real is Communication in the Virtual World
of Cyberspace?, 1998, http://
miavx1.muohio.edu/~psybersite/cyberspace/
cmcreal/index.htmlx, acedido 26 Maro 2004.
Igbaria, M. e Tan, M., The Virtual
Workplace, Idea Group Publishing, 1998.
Khoshafian, S. e Buckiewicz, M.,
Introduction to Groupware, Workflow and
Workgroup Computing, New York: John
Wiley & Sons, Inc, 1995.
Lucas, W., Effects of e-mail on the
organization, European Management
Journal, 16(1), 1998, p. 18-30.
Miles, M. e Huberman, M., Qualitative
Data Analysis. London: SAGE, 1994.
Nonaka, I. e Takeuchi, H., The
Knowledge Creating Company: How
Japanese companies create the dynamic of
innovation. New York: Oxford University
Press, 1995.
Plesums, C., Introduction to Workflow,
in Fischer, L. (Ed.). Workflow Handbook
2002, 19-38, http://www.wfmc.org/
information/introduction_to_workflow02.pdf,
2002, acedido 26 Maro 2004.
Sarmento, A., Impacto dos Sistemas
Colaborativos nas Organizaes: Estudo de
Casos de Adopo e Utilizao de Sistemas
Workflow. Tese de doutoramento. Braga:
Universidade do Minho, 2002.
WfMC, Introduction to the Workflow
Management Coalition, http://www.wfmc.org/
about.htm, 2003, acedido 26 Maro 2004.
_______________________________
1
ISCAP / IPP, S. Mamede Infesta; Centro
Algoritmi, Universidade do Minho, Guimares.
2
WfMC, Introduction to the Workflow
Management Coalition, em URL: http://
www.wfmc.org/about.htm, 2003, acedido a 26
Maro 2004.
3
C. Plesums, Introduction to Workflow, in
Fischer, L. (Ed.). Workflow Handbook 2002, http:/
/ w w w . w f m c . o r g / i n f o r m a t i o n /
introduction_to_workflow02.pdf, 2002, acedido a
26 Maro 2004, pg 19-38. Anabela Sarmento,
Impacto dos Sistemas Colaborativos nas Orga-
nizaes: Estudo de Casos de Adopo e Utili-
zao de Sistemas Workflow, Tese de
Doutoramento. Braga: Universidade do Minho,
2002.
4
Anabela Sarmento, op. cit.
5
I. Nonaka, e H. Takeuchi, The Knowledge
Creating Company: How Japanese companies
create the dynamic of innovation, New York:
Oxford University Press, 1995.
6
T. Davenport, e L. Prusak, Working
Knowledge: How organizations manage what they
know, Boston: Harvard Business School Press,
1998.
7
Anabela Sarmento, op. cit.
8
Anabela Sarmento, op. cit.
9
S. Khoshafian, e M. Buckiewicz, Introduction
to Groupware, Workflow and Workgroup Computing,
New York: John Wiley & Sons, Inc., 1995.
10
R. Dietrich; J. Grear; A. Ruth, How Real
is Communication in the Virtual World of
Cyberspace?, http://miavx1.muohio.edu/
~psybersite/cyberspace/cmcreal/index.htmlx, ace-
dido a 26 Maro 2004, 1998.
11
W. Lucas, Effects of e-mail on the
organization, European Management Journal, 16
(1), 1998, p. 18-30.
12
R. Dietrich; J. Grear; A. Ruth, op. cit.
13
W. Lucas, op. cit.
14
M. Igbaria, e M. Tan, The Virtual Workplace,
Hershey: Idea Group Publishing, 1998.
15
L. Cardoso, Gesto Estratgica das Orga-
nizaes ao encontro do 3 milnio, Lisboa:
Verbo, 1997.
16
M. Miles, e M. Huberman, Qualitative Data
Analysis, London: SAGE, 1994.
274 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
275 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Novos media: inaugurao de novas formas de sociabilidade
Ana Sofia Andr Bentes Marcelo
1
Computer-mediated communication
(CMC), it seems, will do by way of
electronic pathways what cement
roads were unable to do, namely,
connect us rather than atomize us, put
us at the controls of a vehicle and
yet not detach us from the rest of the
world (Jones, 1998: 3).
Com a ligao s redes telemticas e a
edificao de um novo universo
comunicacional (segundo uma lgica
reticular), a viso que o Homem tem de si
e do mundo que o rodeia nunca mais ser
a mesma. A criao de comunidades desig-
nadas virtuais (on-line communities), cons-
titudas na sua maioria por pessoas que no
se conhecem fora da rede, inaugura novas
formas de sociabilidade. Estas formaes
sociais, tambm designadas por
cybersocieties (Jones, 1998: XII), so
definidas por Holtzman (1997: 32) como
communities not of common location, but
of common interest, webs of human
relationships linked in cyberspace.
Os indivduos, denominados netizens
(Jones, 1998), cibernautas ou seres digi-
tais, membros das comunidades virtuais que
habitam o ciberespao, constroem as suas
identidades num contexto comunicacional que
gera uma teia de novas sociabilidades.
Thompson (1998: 57) afirma que ...senti-
mos que pertenecemos a grupos y comuni-
dades que se han constituido, en parte, a
travs de los media, no que o autor designa
por sociabilidade meditica. At h alguns
anos atrs, os seus membros eram cientistas,
acadmicos e, nas palavras de Hamman
(1999: 4), hobbysts, netheads, and
technophiles. Nos dias de hoje, verificamos
que os indivduos que as integram so pessoas
comuns, que se ligam rede no intuito de
desenvolverem com mais facilidade as suas
tarefas do dia a dia, como seja, por exemplo,
comunicar ou procurar informao, pois,
segundo Robertson, an area being
revolutionized by computer technology is
personal communication (1998: 163).
Para algumas pessoas, utilizar os servi-
os que a Internet lhes oferece tornou-se
quase to simples como utilizar o telefone.
As comunidades on-line so constitudas por
pessoas reais, que estabelecem relaes reais
e que encontram nos dispositivos tecnolgicos
da Era Digital a possibilidade de fazerem
juntas muito mais coisas reais do que com
o telefone (Kerckhove, 1999: 68). As
motivaes das pessoas que integram as co-
munidades virtuais passam pela procura de
informao muito diversa e pela vontade de
comunicar, via Internet, com pessoas que j
conhecem fora da rede, ou com pessoas que
ainda no conhecem e com as quais procu-
ram estabelecer relaes da mais diversa
ndole. A Internet , no entender de Holtzman
(1997: 31), a window into social space.
A questo que se coloca neste momento,
e para a qual ainda no existe resposta, foi
formulada por Lyon (1995: 1) da seguinte
forma: are social relationships themselves
changing as they become more electronically
mediated?.
A chamada comunidade virtual no
apenas um nmero imenso de
pessoas envolvidas numa actividade
comum, mais ou menos directamente,
mais ou menos constantemente.
tambm uma presena imediata e
contingente em tempo real, como um
trabalho activo do esprito
(Kerckhove, 1999: 68).
Negroponte (1995) foi o primeiro pen-
sador a reflectir sobre a noo de comuni-
dade, resultante da ligao Internet. Numa
anlise retrospectiva, a existncia de comu-
nidades virtuais remonta ao incio da histria
da Internet. Os primeiros utilizadores deste
novo medium, cientistas/acadmicos, utiliza-
276 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
vam a rede para trocarem informaes sobre
os projectos em que estavam envolvidos. A
comunicao era estabelecida atravs de e-
mail, newsgroups ou FTP-servers. A mais
famosa comunidade virtual do incio da
histria da Internet designou-se THE WELL
(Whole Earth LectronicLink) e foi criada
em 1985, em So Francisco, pelos ecologis-
tas do Whole Earth Catalogue. Inicialmente,
esta comunidade era constituda por indiv-
duos que se conheciam fora da rede e que
utilizavam a Internet como um meio adici-
onal para trocarem informaes.
As novas comunidades, designadas como
virtuais ou tribos cibernticas, que encon-
traram emTHE WELLo seu primeiro
modelo, foram definidas por Laurel (1990)
como the vibrant new villages of activity
within the larger cultures of computing (apud
Ramos, Do espao pblico de Habermas ao
novo espao pblico na era da revoluo
informativa, p. 143). Mas comecemos por
definir o conceito de virtual.
De acordo com Lvy (1999),
etimologicamente, virtual tem a sua origem
no baixo latim virtualis, derivado do
substantivo comum, do latim vulgar, virtus,
que significa fora, potncia. Para se com-
preender este conceito, Lvy apela aos
ensinamentos da filosofia escolstica, segun-
do a qual virtual es aquello que existe en
potencia pero no en acto (1999: 17). A
imagem da rvore e da semente permite-lhe
clarificar esta noo, j que, segundo ele, a
rvore est virtualmente presente na semen-
te. Consciente de que o virtual se est a tornar
numa das categorias mais importantes da
cultura contempornea, Miranda (1996) tam-
bm procurou explicar este termo, para quem
virtual o espao do imaginrio (determi-
nado metafisicamente, mas tambm teologi-
camente ou politicamente) onde se institu-
am, ou se construam, as possibilidades (p.
1). Tendo por base o esquema aristotlico da
dynamis/energeia, que articula potencialida-
de e actualizao, o virtual corresponderia
potencialidade, pois, segundo este autor de
entre vrias possibilidades apenas uma era
realizada em cada momento (idem, ibidem).
A palavra virtual surge nos estudos sobre o
impacto dos novos media, em oposio a real.
Segundo Lvy (1999), o uso corrente do
conceito de real pressupe uma realizao
material, tangvel, em oposio ao virtual que
expressa a ausncia pura e simples da exis-
tncia. Consideramos pertinente retirar im-
portncia excessiva nfase dada por alguns
autores virtualidade das novas comunida-
des, na medida em que os seus habitantes
definem-nas como comunidades reais.
Por sua vez, Kerckhove (1999: 67) faz
referncia Virtual Polis, de Carl Loeffler,
como sendo a edificao de um ambiente
virtual, descrito como um apartamento
virtual, concebido pessoalmente, equipado
com um guarda-roupa virtual, integrado em
gavetas virtuais e comprado num centro
comercial virtual, ao lado de um parque de
diverses virtual, num bairro virtual. Como
afirma Kerckhove (idem, ibidem), em
ambientes deste gnero, tudo de facto
virtual, com a excepo de que as pessoas
que se encontram nele soreais.
Rheingold (1996), autor da obra Comu-
nidade Virtual, define comunidades virtuais
como grupos de pessoas que se interligam entre
si atravs de uma complexa rede informtica
(que obedece a uma estrutura rizomtica, na
qual no se identifica um princpio nem um
fim), e no por intermdio de laos circuns-
critos aos limites de um espao fsico. As novas
comunidades resultantes das redes de compu-
tadores podem ser caracterizadas como sendo
descentralizadoras, informais, eclticas e com
uma forte componente auto-governvel, sem
a necessidade de regulaes exteriores...
(Ramos, 1998: 149).
Rheingold (1996) caracteriza desta forma
a emergncia de um tipo de comunidade, na
qual a troca de informaes entre os sujeitos
mediada pelos dispositivos informticos,
criando-se um novo sentido do conceito de
comunidade. Segundo ele, podemos identi-
ficar nas comunidades virtuais algumas das
caractersticas das comunidades tradicionais,
ainda que a interaco seja mediada e no
seja, portanto, possvel estabelecer uma
relao face a face. A interaco entre os
membros desta comunidade transferida de
um espao fsico para um outro espao
concebido pelas novas tecnologias, um es-
pao sem uma referncia estvel, o que
conduz, na opinio de Lvy (1999), re-
inveno de uma cultura nmada.
As relaes sociais estabelecidas entre os
indivduos sofrem profundas modificaes.
277 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Atravs da ligao Internet, podemos
comunicar com indivduos que no conhe-
cemos e partilhar interesses comuns, estabe-
lecendo, assim, novas formas de relaes
sociais. Santos (1998) refere mesmo a exis-
tncia de cidades virtuais, na medida em que
cidade real, fsica, tangvel, os homens
pretendem sobrepor uma outra, virtual, in-
tangvel... (1998: 88). Cardoso (1998),
referncia obrigatria quando nos propomos
analisar, em toda a sua dimenso, estas novas
formas de sociabilidade, define comunidade
virtual como um grupo social no sujeito
a padres de dimenso especficos, em cuja
base de formao se encontra a partilha de
interesses comuns, de tipo social, profissi-
onal, ocupacional ou religioso no qual no
se procura apenas informao, mas tambm
pertena, apoio e afirmao (p.115).
No podemos deixar de referir a opinio
divergente de Jensen (1990), ao considerar que
traditional life was marked by face-to-face,
intimate relationships among friends, while
modern life is characterized by distant,
impersonal contact among strangers.
Communities are defined as shared, close, and
intimate, while societies are defined as
separate, distanced, and anonymous (apud
Jones, Information, Internet, and Community:
Notes Toward an Understanding of
Community in the Information Age, p. 13).
Apesar de opinies como esta ltima, se
compararmos o conceito de comunidade
tradicional com o conceito de comunidade
virtual (tambm designada por on-line
community ou network community), verifica-
mos que, a exemplo da comunidade tradi-
cional, estamos perante um grupo de pessoas
que estabelecem entre si laos sociais, cuja
interaco se circunscreve a um determinado
espao, ainda que no fsico, mas que no
deixa, apesar disso, de ser um espao de-
limitado, s que por bits. Rosa (1996) outro
entusiasta defensor da existncia de comu-
nidades virtuais, pois, no seu entender, a
Internet (e, subsequentemente, o espao
ciberntico) representa a possibilidade de
constituio de uma Comunidade, funcionan-
do de modo quase completamente acentrado
(1996: 48).
Segundo Rheingold (1996), a interaco
estabelecida entre os indivduos escala
global, possibilitada pelas novas tecnologias
da informao, d um novo sentido palavra
comunidade. O aparecimento das comunida-
des virtuais surge, assim, inserido num novo
contexto social. Atravs dos novos disposi-
tivos computacionais, podemos estabelecer
contacto com uma srie de indivduos,
motivados apenas pela vontade de os conhe-
cer, a exemplo dos meios de comunicao
tradicionais, como o telefone que, segundo
Wellman, have enabled people to maintain
active relationships over long distances with
friends and relatives (apud Hamman,
Computer Networks Linking Network
Communities: A Study of the Effects of
Computer Network Use Upon Pre-existing
Communities, p. 8).
Por intermdio destas novas tecnologias,
os processos comunicativos articulam-se e
do visibilidade ao funcionamento das novas
formas de sociabilidade. A exemplo das
comunidades tradicionais, nas comunidades
virtuais os indivduos interagem, com a
finalidade de fazerem quase tudo o que fazem
directamente. A nica diferena, bvia, que
a interaco nas comunidades virtuais se faz,
exclusivamente, por mediao do computa-
dor. Comunica-se com aqueles que partilham
as mesmas afinidades, os mesmos gostos, os
mesmos interesses, com a nica finalidade
de interagir com eles.
No caso das relaes estabelecidas com
indivduos que conhecemos fora da rede,
essas relaes so reforadas atravs do
contacto estabelecido on-line, pois, como
afirma Hamman (1999: 1), when we use
CMC to communicate with members of our
pre-existing social networks, our time spent
online may be beneficial to the solidarity of
these groups. As novas tecnologias trans-
formam-se em mais um instrumento, ao
dispor de todos os membros das comunida-
des tradicionais, para comunicarem, no co-
locando, assim, em perigo a prpria existn-
cia desta comunidade. Nas palavras de
Hamman (idem, p. 10), communities con-
tinue to exist but are supported through a
number of technologies including the printed
word, transportation, and new
communications technologies. Computer
mediated communication is just one of the
many technologies used by people within
existing communities to communicate, and
thus to maintain those community ties over
278 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
distance, apesar das barreiras, aparentemente
inultrapassveis, do tempo e do espao.
Com base nas definies (ainda que
dspares) sobre o conceito de comunidade,
constatamos que ele evoluiu, permitindo
caracterizar os agrupamentos sociais que se
formam no ciberespao (ainda que encerrem
relaes sociais classificadas por alguns
tericos como instveis, espordicas e
efmeras) como genunos. Nas comunidades
virtuais desenvolve-se, a exemplo das tradi-
cionais, um sentimento de pertena entre os
elementos que as compem. Este sentimento
constitui nelas uma das caractersticas mais
importantes, seno a mais importante. No
entender de Rosa (1996), a nova comunidade
que emerge no espao ciberntico edifica-
se a partir do sentimento de pertena a uma
mesma Comunidade que, sempre segundo a
EFF, muitos dos utilizadores da rede pos-
suem (fala-se em us, we, etc). A partir
desse sentimento, poder-se- edificar uma
Sociedade cujo cimento (aquilo que liga
os mltiplos ns da rede) a Informao
(1996: 49).
As novas tecnologias permitem fundar
comunidades reais, propiciadas pela existn-
cia de interactividade entre os sujeitos, mas
virtuais, na medida em que, nesta interaco,
os sujeitos no assumem uma presena fsica
tangvel. Questionamo-nos, agora, sobre se
a natureza da interaco mediada pelo com-
putador diferente da interaco face a
face, pelo simples facto de termos maior
facilidade em nos desligarmos desta ltima,
sem grandes consequncias para os sujeitos.
Lyon (1995) considera que o incremento das
relaes sociais indirectas ou mediadas, no
implica que as relaes sociais directas
tenham sido suplantadas. Nas palavras do
autor (1995: 1), direct social relations did
not disappear. Rather, they were
compartmentalized in the so-called private
sphere of the domestical, familiar household.
Lyon (idem, p. 2) considera ainda que
remote and virtual relations are still
articulated with the material world of acess
to resources and bodily co-presence. Os
novos espaos sociais tornam possvel o
encontro face a face entre os sujeitos, mas
sob uma nova perspectiva de encontro e
face a face.
O grande interesse do ciberespao reside
no vitalismo social que ele permite (BBS,
Muds, IRC, newsgroups, e-mails), j que
constitui um espao propiciador da dinmica
social. As redes telemticas geram, inclusive,
novos espaos de encontro na comunidade
tradicional (ex: cibercafs). Sendo assim, as
formas de sociabilidade contemporneas en-
contram na tecnologia um potencializador, um
catalisador, um instrumento de conexo, o que
contraria, em ltima instncia, a passividade
da lgica da Escola de Frankfurt.
De facto, os indivduos ligam-se uns aos
outros num espao reticular (ciberespao),
que surge como a actualizao de alguns dos
locais de interaco por excelncia nas
comunidades tradicionais. Segundo Santos
(1998: 95), o modelo comunicacional no
o do contacto aleatrio numa multido
annima, mas aproxima-se ao grupo de
companheiros que conversam no caf do
bairro. Este espao o local escolhido pelos
cibernautas, para comunicarem uns com os
outros e acederem, desta forma, a informa-
o muito diversa, que lhes chega a uma
velocidade estonteante e proveniente de todas
as partes do mundo. Segundo Nora (1997:
110), cest une vrit qui fait lunanimit
parmi les entrepreneurs du cybermonde, cest
bien que les usagers ne recherchent pas tant
des informations utiles que le plaisir de la
camaraderie, voire le frisson de la rencontre.
um espao de pesquisa de informao, mas
acima de tudo de encontro e de partilha.
Como afirma Woolley (1992: 125), ...
everyone has equal acess to the network, and
everyone is free to communicate with as few
or as many people as they like.
Na sequncia desta reflexo, parece
oportuno fazer uma breve referncia cu-
riosa analogia que Silva (1999: 9) estabelece
entre os novos media (suportes de conheci-
mento e do estabelecimento de relaes entre
os sujeitos) e a biblioteca, o laboratrio e
a praa pblica, locais de interaco privi-
legiados na comunidade tradicional: com
a biblioteca (extraco de informao, lei-
tura, reanlise, comentrios, etc.); com um
laboratrio (ligado ideia de descobertas,
reencontros, trocas de informao etc.) e com
a Praa Pblica (comunidade, dilogo, in-
terveno poltica etc).
279 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Rheingold (1996: 224) afirma que a
maior parte do conhecimento sobre a comu-
nicao humana, reunido pelos cientistas e
acadmicos, envolve a presena fsica poten-
cial ou efectiva, ambas irrelevantes na IRC.
Neste sentido, Ramos (1998) considera a
Internet uma estrutura que permite expandir
a noo de lugar pblico, visto que, no lugar
electrnico, constitumo-nos como membros
de uma comunidade planetria cuja locali-
zao, em termos fsicos, inexistente visto
ser feita em bits, no Ciberespao (1998:
154). No mbito deste novo universo
comunicacional, os indivduos ...so livres
de fazer experincias com formas diferentes
de comunicao e auto-representao
(Rheingold, 1996: 224). Apesar de no
partilharem o mesmo espao fsico e da
interaco ser, por conseguinte, mediada;
apesar do anonimato e da natureza efmera
das respectivas comunicaes... (idem, p.
221), estabelecem entre si laos de afinidade
que resultam em relaes slidas, como, por
exemplo, as de amizade (algumas das quais
culminam em matrimnio), contribuindo, de
qualquer modo, para a consolidao de uma
comunidade de pleno direito. Verifica-se que
a forma de interaco mediada pelo dispo-
sitivos tecnolgicos informticos, coexiste
com formas de interaco face a face,
complementando-a quando os indivduos se
conhecem fora da rede. Existem inmeros
exemplos de comunidades virtuais, cujos
membros residem na mesma cidade o que lhes
permite o estabelecimento de relaes face a
face, reunindo-se fora da rede, em locais que
j consagraram como ponto de encontro.
Segundo Rheingold (1996), outro aspec-
to interessante nas comunidades virtuais
reside no facto de o processo de formao
de laos de afinidade social sofrer uma
espcie de inverso. Por exemplo, na forma
tradicional de estabelecer laos de afinidade,
procuramos seleccionar as pessoas entre os
nossos vizinhos, colegas de trabalho, conhe-
cidos, etc., e, s depois, trocamos informa-
es e procuramos descobrir se os seus
interesses so idnticos aos nossos. Com a
ligao s redes telemticas, o processo
inverte-se: seleccionamos de imediato um
grupo de pessoas que, de antemo, j sabe-
mos que partilham os nossos interesses
(atravs, por exemplo, dos newsgroups).
Confrontados com o crescente aumento
do nmero de membros das comunidades
virtuais e com a intensidade das relaes que
estabelecem (alguns chegam a estar ligados
mais de 6 ou 7 horas por dia; outros toda
a noite), h investigadores sociais que jus-
tificam este comportamento como sintoma de
um fenmeno comum nas sociedades con-
temporneas: o fenmeno do isolamento
social, isto , a solido. Segundo um estudo
(HomeNet Study), desenvolvido pela Carnegie
Melon University (referido por Hamman,
1999), um nmero significativo de
utilizadores da Internet e dos servios on-
line constitudo por indivduos que procu-
ram, atravs da sua ligao rede, escapar
ao isolamento social das suas vivncias off-
line. Cria-se, assim, um esteretipo do
utilizador da Internet, como um indivduo
solitrio que apenas estabelece amizades
cibernticas. Alguns tericos, como Hamman
(1999), questionam este esteretipo j que,
segundo ele, muitos utilizam a rede no intuito
de reforar relaes existentes com famili-
ares e amigos do universo off-line.
Estamos convencidos de que, para
quantos, por qualquer razo, se encontram
isolados socialmente, a Internet pode ser um
instrumento de combate ao seu isolamento.
Nora (1997) concluiu que um nmero sig-
nificativo de deficientes fsicos encontrou na
Internet um espao no qual resgataram uma
sociabilidade perdida ou, como ainda afir-
mou esta jornalista do Nouvel Observateur,
certaines catgories de personnes a retrouv
une forme de sociabilit qui leur tait in-
terdite (1997: 424): nas relaes que esta-
belecem on-line, as suas deficincias fsicas
no so visveis. Neste sentido, Warf (2000:
58) considera que as novas tecnologias, ao
permitirem o anonimato, allow us to escape
the parts of our identities associated with our
bodies. In cyberspace, people become more
than their bodies, for electronic extensibility
allows them to live in the minds of others
at great distances from their physical selves.
Segundo Papert (1997), os
ciberutpicos acreditam que a Era Digital
vai fornecer a oportunidade de uma vida
melhor para os grupos sociais mais
desfavorecidos, como os deficientes. Alguns
exemplos dos benefcios da tecnologia, na
melhoria das condies de vida destes lti-
280 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
mos, consubstanciam-se, segundo Robertson
(1998: 167), na utilizao dos seguintes
dispositivos/instrumentos: voice recognition
and speech generation technology can be of
enormous benefit to the blind as well as to
the illiterate, and e-mail opens many of the
capabilities of telephone communication to
the deaf. Quadriplegics can use detectors
based on eye and mouth movements for
communication. Silva (1999: 3) considera
que a ligao s redes telemticas parece re-
criar a comunicao onde ela parece estar
moribunda, ou seja, a nvel interpessoal e
a nvel da gerao de laos sociais,
potenciadores do surgimento do sentimento
de comunidade.
A ligao Internet transformou-se,
assim, num instrumento de enorme utilidade,
mais que no seja, como forma de combater
a solido de muitas pessoas que encontra-
ram, no novo espao - o ciberespao - um
local onde podem afirmar a sua dignidade
como seres humanos e que se manifesta nas
relaes que estabelecem na rede.
Um exemplo bem sucedido da correcta
utilizao das novas tecnologias da informa-
o, ao servio do bem-estar dos deficientes,
resulta de um projecto denominado Teleaula,
presente!, da responsabilidade do Centro de
Avaliao em Novas Tecnologias da Infor-
mao e Comunicao (CANTIC), do Mi-
nistrio da Educao. Este projecto foi
desenvolvido atravs de um protocolo esta-
belecido entre o referido Ministrio, a
empresa Portugal Telecom (Programa Aladim
RDIS para clientes com deficincia) e o
Hospital D Estefnia, em Lisboa (Wong &
Ferreira, 5 Abril 1999).
O projecto consiste num sistema de
videoconferncia que permite a diversos
jovens, com deficincia motora profunda ou
doena crnica (internados no referido
Hospital), assistirem s aulas e interagirem
com os seus colegas de Escola. A tecnologia
que concretizou esta experincia resume-se
ligao de dois computadores em tempo
real: um situado no Hospital e outro na
Escola. A experincia, pioneira em Portugal,
uma forma de combater o isolamento destas
crianas que, devido s doenas de que
padecem, passam vrios meses internadas
num Hospital, perdendo toda a motivao em
prosseguirem os seus estudos, isoladas que
esto do meio escolar.
Os complexos sistemas tecnolgicos da
Era Digital operam um redimensionamento
da esfera social, a partir da instaurao de
nveis de interaco nunca antes possveis de
atingir. Inaugura-se o que Ramos (1998)
apelidou de uma nova geometria da comu-
nicao. Apelamos sabedoria de Lvy
quando refere que uma alterao tcnica
ipso facto uma modificao do colectivo
cognitivo, implica novas analogias e clas-
sificaes, novos mundos prticos, sociais e
cognitivos (1994: 185).
A ligao s redes telemticas um meio
atravs do qual se podem desenvolver novas
formas de sociabilidade, no mbito das
comunidades virtuais recentemente criadas;
o interface, espcie de comutadores entre
o mundo real, onde o sujeito permanece, e
o mundo virtual (Couchot, 1999: 25), o
computador, dispositivo requerido para dar
vazo ao carcter dialgico das novas for-
mas de comunicar. Atravs dos diversos
produtos apresentados na rede, como, por
exemplo, o vdeo texto e o real chat, o
indivduo pode estabelecer relaes sociais,
com diversas pessoas, em tempo real sem
sair de sua casa.
Estas relaes sociais so estabelecidas
em funo de interesses comuns, partilhados
por quantos navegam na rede. Desta for-
ma, recuperou-se uma sociabilidade perdida,
na medida em que a azfama do dia-a-dia
no permite que as pessoas se encontrem nos
espaos de sociabilidade tradicionais (igre-
jas, cafs, jardins, ...). Esta sociabilidade ,
ento, realizada no ciberespao; a vivncia
em comunidade realiza-se num outro espao
que no o fsico, mas que amplia e alarga
as relaes sociais: o virtual complementa
o real ou, como afirma Nora (1997: 81), loin
de se substituer la ralit, le cybermonde
la prolonge et linterpntre.
281 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Bibliografia
Cardoso, G. (1998). Para uma Sociolo-
gia do Ciberespao: Comunidades Virtuais
em Portugus. Oeiras: Celta Editora.
Couchot, E. (1999). Tecnologias da
simulao: um sujeito aparelhado. In J.
B. de Miranda (Org.), Real vs. Virtual. Lisboa:
Edies Cosmos, 23-29.
Hamman, R. (1999). Computer Networks
Linking Network Communities: A Study of
the Effects of Computer Network Use Upon
Pre-existing Communities,<http://
www.cybersoc.com/mphil> (11 Dezembro
1999).
Holtzman, J. (1997). Digital Mosaics
The Aesthetics of CYBERSPACE. New York:
SIMON & SCHUSTER Inc..
Jones, S. (1998). Information, Internet,
and Community: Notes Toward an
Understanding of Community in the
Information Age. In S. Jones (Ed.),
CYBERSOCIETY 2.0 Revisiting Computer-
Mediated Communication and Community.
California: SAGE Publications, Inc, 1-34.
Kerckhove, D. (1999). Arte na rede e
comunidades virtuais. In J. B. de Miranda
(Org.), Real vs. Virtual. Lisboa: Edies
Cosmos, 61-68.
Lvy, P. (1994). As Tecnologias da In-
teligncia O Futuro do Pensamento na Era
Informtica. Lisboa: Instituto Piaget.
Lvy, P. (1999). Qu es lo virtual? Bar-
celona: Ediciones Paids Ibrica, S. A.
LYON, D. (1995). Cyberespace Sociality
and Virtual Selves: Change and Critique,
<http://www.tees.ac.uk/tcs/socandvirt.html>
(30 Agosto 1999).
Miranda, J. (1996). O Controle do Vir-
tual, <Jbm_ensaio2.html> em www.ubi.pt,
(14 Novembro 1998).
Negroponte, N. (1995). Ser Digital.
Editorial Caminho.
Nora, D. (1997). Les conqurants du
cybermonde. Saint-Amand (France): ditions
Gallimard.
Papert, S. (1997). A Famlia em Rede
Ultrapassando a barreira digital entre
geraes. Lisboa: Relgio Dgua Editores.
Ramos, P. (1998). Do espao pblico de
Habermas ao novo espao pblico na era
da revoluo informativa. Dissertao apre-
sentada para obter o Grau de Mestre em
Cincias da Comunicao. Covilh.
Rheingold, H. (1996). A Comunidade
Virtual. Lisboa: Gradiva,1 Edio.
Robertson, D. (1998). The New
Renaissance Computers and the Next Level
of Civilization. Oxford: Oxford University Press.
Rosa, A. (1996). Cincia, Tecnologia e
Ideologia Social. Lisboa: Edies Universi-
trias Lusfonas, 1 Edio.
Santos, R. (1998). Os Novos Media e o
Espao Pblico. Lisboa: Gradiva Publica-
es, Lda.
Silva, L. J. (1999). Comunicao: A
Internet a gerao de um novo espao an-
tropolgico, <http://bocc.ubi.pt/pag/silva-
lidia-oliveira-Internet-espacoantropologico.
html> (4 Novembro 1999).
Thompson, J. (1998). Los media y la
modernidad una teora de los medios de
comunicacin. Barcelona: Ediciones Paids
Ibrica, S.A.
Warf, B. (2000). Compromising
positions: the body in cyberspace. In J.
Wheeler, Y. Aoyama, B. Warf (Ed.) Cities
in the Telecommunications Age The
Fracturing of Geographies. New York:
Routledge, 54-68.
Wong, B. & Ferreira, R. (5 Abril 1999).
Ensino atravs de videoconferncia chega
a perto de 30 crianas em Lisboa Nuno
vai Escola num ecr. Jornal Pblico.
N3306, p. 18.
Wooley, B. (1992). Virtual Worlds - A
Journey inHype and Hyperreality. Oxford:
Ed. Blackwell, 1 Edio.
_______________________________
1
Universidade da Beira Interior / LabCom,
Instituto Politcnico de Castelo Branco.
282 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
283 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Cidade, tecnologia e interfaces.
Anlise de interfaces de portais governamentais brasileiros.
Uma proposta metodolgica
Andr Lemos,
1
Jos Mamede,
2
Rodrigo Nbrega,
3
Silvado Pereira,
4
Luize Meirelles
5
Introduo
possvel perceber uma crescente inte-
grao das novas tecnologias de informao
e comunicao com a cidade, trazendo
mudanas para o espao urbano e
potencializando o fluxo de informaes e de
pessoas (Lemos, 2003). Dentre as iniciati-
vas atuais para a implementao de interfaces
entre as cidades e as novas Tecnologias de
Informao e Comunicao (TICs) esto os
projetos denominados de cibercidades ou
cidades digitais
6
.
A importncia da interface nos web sites
de prefeituras e estados digitais brasileiros
reside no papel que esta normalmente desem-
penha nos ambientes digitais (Johnson, 2001).
Quando a busca de informao, a comuni-
cao e a execuo de tarefas so o foco
principal de um web site (Ribeiro, 2003), a
interface o nico meio de interao pos-
svel. Nos web sites dos estados e prefei-
turas, este papel torna-se ainda mais crtico
em funo dos recursos disponibilizados
serem direcionados para uma audincia com
distintos nveis de literacia e condies de
acesso. Com um carter preliminar e
exploratrio, discute-se aqui como anali-
sada a interface do portal do governo de uma
localidade e proposto um modelo de
avaliao que seja aplicvel aos stios ofi-
ciais dos estados e municpios brasileiros
7
.
Avaliao de sites da Administrao P-
blica: alguns exemplos
Nos ltimos anos, alguns estudos tm sido
conduzidos na anlise de web sites de es-
tados e prefeituras, nomeadamente na veri-
ficao dos seus contedos e servios. Em
conferncia recente, os pesquisadores Jos
Pinho e Luiz Akutsu apresentaram os resul-
tados de um ano de pesquisa sobre a pre-
sena dos governos estaduais e municipais
brasileiros na Internet
8
. Dentre as concluses
a que chegaram, aos portais oficiais faltam
interatividade com os cidados e prestao
de contas, tanto de gastos quanto de projetos
e investimentos. Prevalece a oferta de infor-
maes gerais sobre cada rgo e algumas
facilidades no pagamento de tributos. Em
estudo semelhante, publicado em 2002, a
Federao das Indstrias do Estado do Rio
de Janeiro - FIRJAN chegou a resultados
semelhantes. O estudo Desburocratizao
Eletrnica nos Estados Brasileiros, que
avaliou os Web sites de 26 estados e do
Distrito Federal, relatou um cenrio em que
os portais governamentais parecem ser
construdos com base nos organogramas dos
governos e no nas necessidades dos cida-
dos. Essa constatao justifica-se pelo fato
de que nenhum dos portais avaliados encon-
tra-se no estgio integrativo de implantao
do governo eletrnico
9
. curioso que se
compararmos estes resultados com os encon-
trados em pases com melhores indicadores
de desenvolvimento scio-tecnolgico, como
Portugal, encontraremos os mesmos diagns-
ticos
10
.
Aspectos metodolgicos
As questes que motivam as avaliaes
de interfaces partem de uma abordagem que
toma como referencial a perspectiva do
usurio dos espaos on-line de uma cidade
ou estado. O portal pode ser encontrado
facilmente? Pode ser usado em qualquer
plataforma ou sistema operacional? Permite
a execuo de tarefas, como buscar infor-
maes ou realizar transaes, de forma
rpida? Oferece ajuda em caso de erros?
Trata-se, em resumo, de questionar de que
forma a interface destes espaos media aquilo
que por ele disponibilizado (Quadros, 2002).
Tal questionamento passa, necessariamente,
pela noo de interface e pelo mtodo de
avaliao baseada na Web (Web-based
survey).
284 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Por avaliao de interface baseada na
Web, entende-se, resumidamente, qualquer
mtodo de anlise crtica que objetive a
observao de dados empricos em Web sites
a partir de um modelo de verificao pre-
viamente formulado. Em geral, empregam-
se mtodos de inspeo que caracterizam-se
pela no participao direta dos usurios
finais do sistema no processo de verificao.
Os avaliadores se baseiam em regras, reco-
mendaes, princpios e/ou conceitos pr-
estabelecidos (Melchior, 1996) para identi-
ficar, por observao direta, os problemas da
interface de um Web site. A avaliao da
interface de um Web site recupera mtodos
de inspeo fundamentados nas investigaes
da HCI Human-Computer Interaction
(Sears, 2000). Este o caso, por exemplo,
do mtodo de inspeo de usabilidade
formal. Tradicionalmente aplicado na iden-
tificao de defeitos no cdigo de programas
informticos, esse mtodo atualmente uti-
lizado na identificao de erros na formatao
HTML da interface Web ou nos aplicativos
que suportam as suas funcionalidades. Se-
guindo o mesmo princpio de adaptao, o
mtodo de inspeo baseada em padres,
aplicado na verificao de conformidade de
um sistema interativo s regras ou recomen-
daes de organismos internacionais,
adotado no ambiente Web quando se verifica
se um Web site est de acordo com as normas
de acessibilidade do W3C.
Modelo de avaliao: categorias e critri-
os
Com base nas metodologias de anlise
dos estudos da HCI adaptadas para a Web,
foi elaborado um modelo de avaliao com
questes a serem verificadas nos portais dos
estados e municpios brasileiros. Para a con-
cepo desse roteiro de anlise levou-se em
conta critrios centrais para o bom funcio-
namento de um portal governamental, agru-
pados em quatro categorias de avaliao.
1. Acessibilidade
A primeira categoria diz respeito ao nvel
de acessibilidade, que contempla s condi-
es do primeiro contato do usurio com o
portal, e, por isso, rene critrios que ve-
rificam a sua visibilidade na WWW, a
compatibilidade com plataformas de acesso,
as facilidades para cidados com necessida-
des especiais e a abertura para cidados de
lngua estrangeira. Em relao ao critrio de
visibilidade, pretende-se verificar a presena
dos portais nos principais mecanismos de
busca da Web brasileira
11
, constatando se estes
mecanismos incluem, entre as suas primeiras
ocorrncias, a URL correspondente ao Web
site da cidade procurada. A boa colocao
na classificao de um motor de busca
garante, do lado do usurio, a rpida iden-
tificao do link para o portal entre o grande
nmero de endereos oferecidos em resposta
busca
12
.
2. Otimizao
J a segunda categoria est relacionada
otimizao, e tem como critrio nico a
avaliao o tempo de carregamento da p-
gina principal do portal. O parmetro desta
medio baseia-se no padro de 56 Kbps, por
este corresponder velocidade mxima dos
modems domsticos, atualmente utilizados
pela maior parcela dos usurios da Internet
brasileira
13
. A otimizao importante para
possibilitar um rpido carregamento do portal
solicitado por usurios que no dispem de
banda larga. De acordo com pesquisas
empricas do Hewlett-Packard Laboratories
Palo Alto, a tolerncia da espera pelo
carregamento de pginas na Web encontra-
se entre os 5 e 10 segundos (Bathi et al, 2000:
6). O atraso no carregamento da pgina
implica uma percepo negativa dos conte-
dos e servios oferecidos pelo portal.
3. Navegabilidade
Esta categoria abrange critrios e indi-
cadores que esto relacionados mobilidade
do usurio no interior do portal. Navegar,
no jargo telemtico, significa mover-se de
tela em tela, ou de pgina em pgina, por
meio da ativao de hiperlinks. A navegao
considerada uma das principais fontes de
problemas de usabilidade na Web. Parte destes
problemas, de acordo com Alison J. Head,
esto associados ao design de sites em geral,
fazendo pouco uso de sinalizaes que
deveriam comunicar ao usurio onde ele se
285 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
encontra e para onde pode ir num dado
momento da navegao (Head, 1999: 109).
4. Tratamento de erros
Por fim, a ltima categoria corresponde
ao tratamento de erros, que aponta para a
preocupao do governo em sanar problemas
funcionais no portal e garantir sua total
operacionalizao. Pode-se identificar este
quesito nos portais atravs da disponibiliza-
o de um canal de comunicao (de pre-
ferncia e-mail ou chat) com o webmaster
ou se apresentada uma pgina que auxilie
o usurio caso um link esteja inativo. O portal
apresentando links inativos demonstra pro-
blemas de funcionalidade, ou seja, se o site
funcional e se h um cuidado de manter
essa funcionalidade j que links inativos
significam a ausncia de um trabalho mais
cuidadoso de manuteno.
Avaliao piloto da interface de portais
governamentais das Cidades e Estados do
Brasil
Nesta fase de testes do modelo de ava-
liao o roteiro foi aplicado durante o ms
de setembro de 2003, em portais governa-
mentais de trs capitais do Brasil: Rio de
Janeiro (www.rio.rj.gov.br), So Paulo
(www.prefeitura.sp.gov.br) e Porto Alegre
(www.portoalegre.rs.gov.br) e um estado, o
Estado de So Paulo. Essa seleo foi ba-
seada numa pesquisa anterior, que dava conta
dos tipos de contedo disponibilizados pelos
portais
14
. Sendo que essas trs capitais se
destacaram pela variedade de informaes e
servios prestados, bem como pelo nvel
destes contedos. Como esta ainda uma fase
de validao das categorias e critrios deste
modelo, os resultados a seguir apresentados
no esto quantificados, somente havendo a
possibilidade de serem descritos.
1. Acessibilidade
Os resultados recolhidos na verificao
desta categoria revelam que a maioria dos
portais avaliados apresenta problemas em
relao sua visibilidade na Web. Quando
efetuada a pesquisa do nome da cidade ou
estado, apenas o site de Porto Alegre aparece
entre as 10 primeiras ocorrncias em todos
os quatro motores de busca. Enquanto as
ligaes para os portais dos estados do Rio
de Janeiro e de So Paulo obtm presenas
positivas somente no Google, o da cidade
de So Paulo no includo em nenhum dos
buscadores. Constata-se, neste caso, a neces-
sidade de reviso dos metadados embutidos
nas pginas dos portais, de modo a melhorar
suas classificaes e fazendo com que o
cidado tenha mais facilidade na localizao
do portal na Internet. Em compensao, todas
as pginas avaliadas nos quatro portais go-
vernamentais mostraram-se plenamente
operacionais nos sistemas e navegadores em-
pregados neste estudo. Em nenhum dos
portais foi verificada qualquer alterao na
interface que impedisse o acesso s suas
sees principais. O cidado que conseguir
encontrar o endereo do portal estar habi-
litado a acessar suas informaes indepen-
dente de estar utilizando uma plataforma
especfica. O mesmo no ocorre em relao
s facilidades para cidados com necessi-
dades especiais. A cidade de So Paulo
a nica cujo portal demonstra preocupao
com este grupo de usurios, disponibilizando
na home page um link para informaes sobre
as peculiaridades do design universal. No
entanto, mesmo este portal no rene as
condies para possibilitar o mais elementar
nvel de acesso especificado pelo W3C Web
Content Accessibility Guidelines. Nenhum
dos quatro portais obteve aprovao neste
critrio, confirmando uma tendncia j cons-
tatada em outros estudos do gnero
15
. Do
mesmo modo, os cidados estrangeiros que
no dominam a lngua portuguesa esto
excludos do acesso aos portais analisados,
exceto ao site do Estado de So Paulo, o
nico que disponibiliza contedos em ingls
e espanhol.
2. Otimizao
Os portais analisados no mostraram-se
otimizados para as condies de acesso da
maioria dos cidados brasileiros. Todos
apresentam um tempo de carregamento
superior aos 10 segundos em modems com
velocidade de 56kbps. No caso do site
municipal de Porto Alegre, o tempo de
resposta para a total funcionalidade da home
286 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
page de 48.83 segundos. A baixa
performance nesta categoria deve-se ao
excesso de objetos presentes nas pginas
principais, sejam eles texto, imagem ou
cdigos de programao, demonstrando uma
falta de critrio na priorizao das informa-
es que so oferecidas ao usurio no seu
primeiro contato com o portal.
3. Navegabilidade
Na verificao do primeiro critrio desta
categoria, constatou-se que nenhum dos
portais utiliza uma pgina de abertura
precedente a home page. A inexistncia deste
recurso atesta a predominncia de uma boa
prtica de design. Ao optar pelo direcionando
do cidado diretamente para a pgina prin-
cipal do portal, sem ret-lo com mensagens
introdutrias ou propaganda no solicitada,
elimina-se etapas desnecessrias de navega-
o, diminuindo o tempo de conexo e
encurtando o caminho entre o usurio e o
servio por ele desejado. No entanto, todos
os portais apresentam problemas em relao
a algum dos indicadores de contexto e lo-
calizao. As interfaces das cidades de So
Paulo e Porto Alegre no mantm inalterado
o menu de navegao global nas pginas
internas, exigindo do usurio um esforo
adicional na percepo da arquitetura do site
16
.
No entanto, no caso do site da cidade de So
Paulo, deve-se reconhecer o esforo de
padronizao aplicado interface desta ci-
dade, sendo que na maioria das suas reas
o cidado tem sempre disposio o menu
de navegao principal, exceto em algumas
sees como, por exemplo, naquela dedicada
Cidadania. Nesta seo, ao optar por in-
formaes sobre os Telecentros, defronta-
do, sem aviso prvio, com um novo espao,
onde a uniformidade da interface anterior
abandonada.
Os portais das cidades de So Paulo e
Porto Alegre tambm no oferecem ao usu-
rio uma sinalizao adequada da sua loca-
lizao quando nas pginas internas do site.
Na avaliao deste critrio no foi verificada
a utilizao de qualquer recurso que comu-
nique a posio em relao a home page e
a seo na qual o usurio se encontra.
Entretanto, vale ressaltar o esforo do site
da cidade de So Paulo de utilizar, pelo menos
na primeira pgina de cada seo, um in-
dicador de localizao (barra de sequncia
de links em hipertexto). O mesmo problema
foi diagnosticado no portal da cidade do Rio
de Janeiro, sendo que apenas o do Estado
de So Paulo preocupa-se em indicar todo
o percurso desde a pgina principal. Por sua
vez, o nico portal a orientar o usurio
sinalizando-o com o nome das pginas in-
ternas na barra de ttulos do navegador
o da cidade de So Paulo. Em todos os demais
sites esta informao negligenciada. Na
maioria dos casos, a barra de ttulos do
navegador permanece intitulada com o nome
genrico do portal. O caso mais grave
protagonizado pelo site de Porto Alegre, onde
h pginas, como a do Oramento
Participativo, que sequer apresentam ttulo,
mostrando apenas a URL do arquivo. Esta
deficincia reflete diretamente na forma como
as pginas so registradas nos bookmarks do
usurio, dificultando a sua identificao em
futuras consultas. Por isso, embora todos os
portais permitam o registro das pginas
internas nos bookmarks, notadamente pelo
fato de nenhum deles utilizar frames na
interface, apenas o da cidade de So Paulo
garante uma correta identificao destas
pginas.
No ltimo grupo de questes acerca da
navegabilidade, constatam-se significantes
limitaes na oferta de ferramentas de apoio
mobilidade. O nico ponto positivo veri-
ficado que todos os portais, com a exceo
apenas do de Porto Alegre, apresentam um
campo de motor de busca na home page.
Entretanto, este recurso s mantido nas
pginas internas dos sites dos estados do Rio
de Janeiro e So Paulo, sendo que neste
ltimo, o campo substitudo por um link,
o que reduz a sua eficincia mas no a anula
de todo. Aprofundando mais a verificao da
qualidade do servio de busca oferecido, nota-
se que nenhum dos portais disponibiliza
recursos de busca avanada ou instrues
para a pesquisa. No que se refere presena
de mapa do site, o portal do estado do Rio
de Janeiro o nico a disponibilizar link para
este tipo de navegao remota, tanto na home
page quanto nas primeiras pginas das sees
internas.
287 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
4. Tratamento de erros
Por fim, a verificao dos critrios
implicados nesta ltima categoria de avali-
ao mostra que em pelo menos dois portais,
cidades de Porto Alegre e So Paulo, foram
encontrados links inativos (404 error: page
not found). Entretanto, mesmo nos sites que
no apresentaram links inativos, no est
implementada qualquer interface que auxilie
o usurio caso este tipo de erro venha a
ocorrer. Em todos os sites, a pgina de
resposta a links inativos obtida nos nossos
testes apresenta informaes genricas em
ingls
17
, inteis no auxlio navegao em
portais governamentais brasileiros. Por outro
lado, com a exceo do portal de Porto
Alegre, todos os demais disponibilizam um
canal de comunicao para o cidado, tanto
na home page quanto nas pginas internas.
Concluso
Os resultados apresentados neste estudo
apontam uma significativa deficincia nas
interfaces dos portais avaliados. Dos 23
critrios verificados em todas as categorias
de anlise, cada site individualmente s
conseguiu aprovao em 12 deles. Coinci-
dentemente, este foi o ndice alcanado pelos
dois portais de So Paulo e pelo do Estado
do Rio de Janeiro. Porto Alegre apresentou
a mais baixa performance, com aprovao
em apenas seis critrios. Ainda que seja
considerada uma margem de erro, devido
a refinamentos necessrios metodologia e
aos indicadores deste estudo, pode-se con-
cluir que as interfaces aqui analisadas
apresentam srias barreiras para o seu uso
por parte dos cidados em geral, e mais
especificamente para aqueles com necessi-
dades especiais.
Se o papel da interface possibilitar, de
forma amigvel, a utilizao dos servios
e informaes dos portais governamentais, os
estados e prefeituras ainda tm um longo
caminho a percorrer na soluo dos proble-
mas aqui relatados. Contudo, embora os
resultados globais no tenham sido positivos,
so encorajadores e demonstram o grande
esforo dos governos locais no domnio das
Tecnologias da Informao e da Comunica-
o. Em ltima instncia, espera-se que este
estudo seja mais um contributo para a
melhoria da interface dos portais estaduais
e municipais brasileiros.
288 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Bibliografia
Akutsu, L.; Gomes de Pinho, A., Go-
verno, Accountability e Sociedade da Infor-
mao no Brasil: uma investigao prelimi-
nar, Publicado no XXV Encontro da Associ-
ao Nacional de Programas de Ps-Gradu-
ao em Administrao - ENANPAD 2001.
Bathi, N. et al, Integrating user-perceived
quality into web server design, Proceedings
of the 9th International World-Wide Web
Conference, p. 1-16, Elsevier, May 2000.
Besselaar, P.; Melis, I.; Beckers, D.,
Digital cities: organization, content, and use,
In: ISHIDA, T.; ISBISTER, C. (eds.), Di-
gital cities: experiences, technologies and
future perspectives, Berlin, Springer, 2000,
p. 18-32.
Campos, R. (Coord.) et al,
Desburocratizao eletrnica nos estados
brasileiros, Rio de Janeiro, FIRJAN/IEL,
2002, [On-line] Disponvel na Internet via
WWW: http://www.firjan.org.br/downloads/
Desburocrat_estados.pdf (acessado em
12.05.2003).
Cruz, S. et al, Desburocratizao
eletrnica nos municpios do Estado do Rio
de Janeiro, Rio de Janeiro, FIRJAN/IEL,
2002, [On-line] Disponvel na Internet via
WWW: http://www.firjan.org.br/downloads/
DesburocratizacaoEletronica_b.pdf. (acessado
em 12.05.2003)
EISERBERG, J., Poltica, democratizao
e cidadania na Internet, Cincia hoje, vol.
29, n 169, Maro de 2001, p. 6-10.
Ferguson, M., Estratgias de governo
eletrnico: o cenrio internacional em desen-
volvimento, In: EISENBERG, J.; CEPIK, M.
(orgs), Internet e Poltica. Teoria e prtica
da democracia eletrnica, Belo Horizonte,
Editora UFMG, 2002.
Hague, B.N.; Loaden, B.D., Digital
Democracy: discourse and decision making
in the information age, Routledge, 1999.
Head, A., Design wise: a guide for
evaluating the interface design of information
resources, New York, Independent Publisher
Group, 1999.
Johnson, S., Cultura da Interface: como
o computador transforma nossa maneira de
criar e comunicar, Rio de Janeiro, Jorge
Zahar Ed., 2001.
Lemos, A. Cibercidades, In: LEMOS, A.;
PALACIOS, M. (orgs.), As janelas do
ciberespao, Porto Alegre, Sulina, 2001, p.
9-38.
Lemos, A.; Cunha Filho, P., Olhares
sobre a Cibercultura. Porto Alegre, Sulina,
2003.
Lemos, A., Cibercultura. Tecnologia e
Vida Social na Cultura Contempornea, Porto
Alegre, Sulina, 2002.
Lvy, P., Cibercultura. So Paulo, Ed. 34,
1999.
Mcgovern, G. et al, The web content style
guide: an essential reference for online
writers, editors and managers. New Jersey,
Prentice Hall, 2001.
Melchior, E. et al, Usability Study:
handbook for practical usability engineering
in IE projects, Brussels-Luxembourg, ECSC-
EC-EAEC, 1996.
Norman, D., The psychology of everyday
things, New York, Basic Books, 1988.
Quadros, F., Usabilidade: a primeira fron-
teira do eGov. Cmara-e.Net: Cmara Bra-
sileira de Comrcio Eletrnico, 1.09.2003,
[On-line] Disponvel na Internet via WWW:
h t t p : / / w w w . c a m a r a - e . n e t /
interna.asp?tipo=1&valor=1887 (acessado em
10.11.2003).
Raskin, J., The human interface: new
directions for designing interactive systems,
Addison-Wesley, 2000.
Ribeiro, N., A internet na comunicao
municipal - a rede como suporte ao Governo
Electrnico Local: consideraes gerais,
Paper apresentado no Workshop Cidades e
Regies Digitais: impacto na cidade e nas
pessoas, Universidade Fernando Pessoa,
Porto, Junho de 2003.
Santos, L.; Amaral, L., A presena das
cmaras municipais portuguesas na Internet,
Laboratrio de Estudo e Desenvolvimento da
Sociedade da Informao/Universidade do
Minho, 2000, [On-line] Disponvel na Internet
via WWW: http://www2.dsi.uminho.pt/gavea/
downloads/camaras2000.pdf (acessado em
25.04.2003).
Santos, L.; Amaral, L., O e-Government
local em Portugal - estudo da presena das
cmaras municipais portuguesas na Internet
em 2002, Laboratrio de Estudo e Desen-
volvimento da Sociedade da Informao/Uni-
289 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
versidade do Minho/Cadernos Inter.face,
2003, [On-line] Disponvel na Internet via
WWW: http://www2.dsi.uminho.pt/gavea/
downloads/EstCam2002-v3.pdf (acessado em
06.10.2003).
Sears, A., Introduction: empirical studies
of WWW Usability, International Journal of
Human-Computer Interaction, 12 (2), 2000,
p. 167-171.
Shneiderman, B., Designing the user
interface, Reading, MA, Addison-Wesley,
1998.
Tsagarousianou, R. et al, Cyberdemo-
cracy: technology, cities and civic networks,
Londres, Routledge, 1998.
_______________________________
1
Professor, Universidade Federal da Bahia
(Brasil).
2
Professor, Universidade Federal da Bahia
(Brasil); Estudante de Doutoramento, Universida-
de de Aveiro.
3
Estudante de Doutoramento, Universidade
Federal da Bahia (Brasil).
4
Estudante de Mestrado, Universidade Fede-
ral da Bahia (Brasil).
5
Estudante de Graduao, Universidade
Federal da Bahia (Brasil).
6
Tendo em vista as potencialidades que a Internet
pode trazer para a dinmica do espao urbano, a
pesquisa Cibercidades est sendo realizada atra-
vs, dentre outras aes, de um mapeamento dos
sites oficiais dos estados e capitais do Brasil, com
a finalidade de identificar qual o nvel de desen-
volvimento dos portais governamentais no pas aos
nveis de contedo e interface. Esse artigo trata da
questo das interfaces em portais de governos locais
do Brasil.
7
Veja matriz de anlise em anexo.
8
Palestra apresentada no IX Colquio Inter-
nacional de Anlise das Organizaes e Gesto
Estratgica, Salvador, Bahia, Brasil, 2003. A
pesquisa referida faz parte de um projeto de
monitoramento dos web sites das administraes
estadual e municipal, iniciada em 1999 (ver
Akutsu; Gomes de Pinho, 2001).
9
De acordo com o estudo, os
estgiosinformativo, interativo e transacional so
anteriores ao integrativo (Campos et al, 2002: 10).
10
Neste pas, o Observatrio do Mercado das
Tecnologias e Sistemas de Informao avaliou, em 2000,
a presena das cmaras municipais na Internet e concluiu
que enquanto 97% disponibilizam informaes gen-
ricas do municpio, apenas 23% oferecem informao
especfica sobre a prpria prefeitura. O quadro se agrava
em relao aos servios interativos ou transacionais,
com apenas 2% das cmaras a incorpor-los aos seus
Web sites. Considerando todos os fatores da avaliao,
contedos, servios e interface, o estudo revela que
apenas 6% dos portais so excelentes e 20%, bons
(Santos e Amaral, 2000). Embora os portais tenham
alcanado resultados mais positivos na segunda ava-
liao, realizada em 2003, a oferta de servios per-
manece com ndices baixos, referindo a apenas 7%
do contedo disponibilizado, e nenhum dos web sites
atingiu ainda o mais elevado patamar de maturidade
(Santos e Amaral, 2003: 69-72).
11
Este estudo abrange o buscador nacional
do UOL (http;//www.radar.uol.com) e a verso
brasileira do Yahoo! (http://www.yahoo.com.br) e
do Google (http://www.google.br).
12
O nvel de visibilidade de uma URL nos
motores de busca depende da qualidade dos
metadados inseridos nas pginas do web site. Os
metadados so palavras-chave embutidas no
cdigo HTML de uma pgina que garantem a sua
correta indexao pelos mecanismos automticos
de catalogao da World Wide Web (sobre o
assunto, ver McGovern et al; 2001).
13
De acordo com a 13
a
. Pesquisa Internet POP
do IBOPE Mdia, em 2002, 88% dos domiclios
utilizava linha comum de telefone como forma
de acesso Internet (http://www.ibope.com.br/).
14
A pesquisa est em andamento na fase de
anlise dos dados. Ver GPC, em http://
www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/cibercidades.
15
Ver os estudos desenvolvidos pela FIRJAN-
Federao das Indstrias do Estado do Rio de
Janeiro (Campos et al, 2002; Cruz et al, 2002).
16
Os portais dos Estados de So Paulo e Rio
de Janeiro no apresentaram problemas neste
critrio de avaliao.
17
Este tipo de pgina normalmente encontra-
se pr-configurada na instalao dos Web servers
utilizados pelas prefeituras e estados.
290 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
ANEXO
Modelo para avaliao da Interface de web sites
da Administrao Pblica Local - Brasil (verso simplificada)
e d a d i l i b i s s e c A . I
o d a t n e s e r p a e t i s o s o g o l t a c e a c s u b e d s e r o t o m s i a u q m E . 1
? s a i c n r r o c o s a r i e m i r p 0 1 s a e r t n e
s o d o T
e l g o o G
l i s a r B ! o o h a Y
L O U r a d a R
m u h n e N
e t i s o n o i t i d E e m o H P X s w o d n i W o d s e r o d a g e v a n s i a u q m E . 1 . 2
? l a n o i c a r e p o
m u h n e N
x . 6 r e r o l p x E t e n r e t n I
x . 7 r o t a g i v a N e p a c s t e N
s o b m A
? l a n o i c a r e p o e t i s o X S O c a M o d s e r o d a g e v a n s i a u q m E . 2 . 2
m u h n e N
x . 5 r e r o l p x E t e n r e t n I
x . 7 r o t a g i v a N e p a c s t e N
s o b m A
? l a n o i c a r e p o e t i s o x u n i L o d s e r o d a g e v a n s i a u q m E . 3 . 2
m u h n e N
x . 1 a l l i z o M
x . 7 r o t a g i v a N e p a c s t e N
s o b m A
e d a d i l i b i s s e c a e d o l o b m s o a z i l i b i n o p s i d e t i s o d l a p i c n i r p a n i g p A . 3
s a e r b o s a v i t a c i l p x e a n i g p a m u a d a i c o s s a a j e s l a u q o a
? l a s r e v i n u o s s e c a o d s a c i t s r e t c a r a c
m i S
o N
s a m o c l a p i c n i r p a n i g p a d e d a d i m r o f n o c e d l e v n o l a u Q . 4
? C 3 W o d 0 . 1 s e n i l e d i u G y t i l i b i s s e c c A t n e t n o C b e W o d s e z i r t e r i d
m u h n e N
A l e v N
A A l e v N
A A A l e v N
o d a c i f i r e v o N
? a r i e g n a r t s e a u g n l m e o s r e v a z i l i b i n o p s i d e t i s O . 1 . 5
m i S
o N
? s a u g n l s i a u q m e , o v i t a m r i f a o s a c m E . 2 . 5
s l g n I
l o h n a p s E
s a r t u O
o a z i m i t O . I I
a r a p l a p i c n i r p a n i g p a d o t n e m a g e r r a c e d o d a m i t s e o p m e t o l a u Q . 1
? s b K 6 5 a s e x e n o c
. g e s 0 1 a r o i r e f n I
. g e s 0 2 e 0 1 e r t n E
. g e s 0 2 a r o i r e p u S
o d a c i f i r e v o N
291 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
e d a d i l i b a g e v a N . I I I
a e d e c e r p e u q a r u t r e b a e d a n i g p a m u a t n e s e r p a e t i s b e w O . 1
? l a p i c n i r p a n i g p
m i S
o N
a m u g l a e c e r e f o a r u t r e b a e d a n i g p a , o v i t a m r i f a o s a c m E . 1 . 1
? o p o r o p o a g e v a n e d e d a d i l i b i s s o p
m i S
o N
e d o s r u c e r m u g l a a h n e t n o c a r u t r e b a e d a n i g p a o s a C . 2 . 1
a a r a p o t e r i d r i u g e s e d e a l - g e r r a c o n e d o p o a h , o a m i n a
? l a p i c n i r p a n i g p
m i S
o N
m e o d i t n a m e g a p e m o h a d l a p i c n i r p o a g e v a n e d u n e m O . 2
? s a n r e t n i s a n i g p s a s a d o t
m i S
o N
o a g e v a n e d u n e m o a o a l e r m e , o i r u s u o d o i s o p A . 3
? s a n r e t n i s a n i g p s a s a d o t m e a d a c i d n i , l a p i c n i r p
m i S
o N
u n e m o d o e s a d a c e d a n i g p a r i e m i r p a e e g a p e m o h A . 4
e d a r r a b a n s a d a e m o n e t n e m a c i f i c e p s e e s - m a r t n o c n e l a p i c n i r p
? r o d a g e v a n o d s o l u t t
m i S
P H a s a n e p A
o N
s a d a t n e c s e r c a r e s m e d o p s i e v n o 3 e o 2 e d s a n r e t n i s a n i g p s A . 5
? s k r a m k o o b s o a
m i S
o N
? s e m a r f a z i l i t u e c a f r e t n i a , o v i t a g e n o s a c m E . 1 . 5
m i S
o N
a n i g p a n a c s u b e d r o t o m a r a p o p m a c a z i l i b i n o p s i d e t i s O . 6
? l a p i c n i r p
m i S
o N
a r i e m i r p a n a c s u b e d r o t o m a r a p o p m a c a z i l i b i n o p s i d e t i s O . 1 . 6
? l a p i c n i r p u n e m o d s e e s s a s a d o t e d a n i g p
m i S
o N
? a d a n a v a a c s u b e d s o s r u c e r a z i l i b i n o p s i d e t i s O . 2 . 6
m i S
o N
? a s i u q s e p a a r a p s e u r t s n i H . 3 . 6
m i S
o N
? l a p i c n i r p a n i g p a n e t i s o d a p a m o a r a p k n i l H . 7
m i S
o N
s a s a d o t e d a n i g p a r i e m i r p a n e t i s o d a p a m o a r a p k n i l H . 1 . 7
? l a p i c n i r p u n e m o d s e e s
m i S
o N
s o r r e e d o t n e m a t a r T . V I
? ) s r o r r e 4 0 4 ( s o v i t a n i s k n i l a t n e s e r p a e t i s O . 1
m i S
o N
o d a c i f i r e v o N
a a c i d n i e u q a n i g p a n e t n a v e l e r o a m r o f n i a m u g l a H . 2
? ) s r o r r e 4 0 4 ( s o v i u q r a e d a i c n t s i x e n i
m i S
o N
e d o s a c o a r a p o t a t n o c , l a p i c n i r p a n i g p a n , o d i c e r e f o . 3
? e t i s o n s i a n o i c n u f s a m e l b o r p m e r e r r o c o
m i S
o N
o s a c o a r a p o t a t n o c , s a n r e t n i s a n i g p s a s a d o t m e , o d i c e r e f o . 1 . 3
? e t i s o n s i a n o i c n u f s a m e l b o r p m e r e r r o c o e d
m i S
o N
292 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
293 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
La figura del comunicador digital en la era de la
Sociedad de la Informacin: Contexto y retos de futuro
Beatriz Correyero Ruiz
1
Cabe al periodista asumir el papel
que el enciclopedista trazara para s
mismo en los albores de la
Modernidad; ms que el desarrollo de
las ciencias se trata de la seleccin,
organizacin y transmisin de una
informacin ms o menos general
accesible para todos y a todos
dirigida. - Tocqueville. La
Democracia en Amrica
El desarrollo de la Sociedad de la
Informacin ha supuesto una renovacin de
todos los rdenes de la vida actual empezando
por las relaciones sociales y continuando por
las prcticas econmicas y empresariales, los
medios de comunicacin, la educacin, la
salud, el ocio y el entretenimiento.
Lo peculiar de esta nueva sociedad
emergente es precisamente el carcter
ilimitado que en ella tiene el acceso a los
recursos informativos
2
. Sus protagonistas son
las Tecnologas de la Informacin y las
Comunicaciones (TIC), y entre ellas,
especialmente Internet, un sistema de
informacin automatizado e interactivo
dotado de un gran potencial comunicativo que
abre un abanico ilimitado de oportunidades
de acceso a la informacin y a la cultura.
Por otra parte, los elementos
fundamentales que configuran esta nueva
sociedad de la informacin, cuya
denominacin fue acuada en los aos sesenta
por Daniel Bell y otros socilogos y
economistas, son los usuarios, las
infraestructuras, los contenidos y el entorno
3
.
Hay quien da un paso ms y afirma que
el mundo en el que vivimos est inmerso en
una nueva etapa de transicin: el paso de una
Sociedad de la Informacin a una Sociedad
del Conocimiento en la cual la comunicacin
es el nexo que favorece la relacin entre los
individuos y el conocimiento es el vector
estratgico para generar valor agregado a la
informacin y potenciar la inteligencia
humana
4
. En la Sociedad del Conocimiento
la informacin adquiere su valor en la medida
que es contextualizada por un individuo y
utilizada como un conocimiento aplicado a
las tomas de decisiones y la solucin de
problemas de su vida cotidiana
5
.
Lo cierto es que en el marco de este nuevo
orden social auspiciado por una revolucin
tecnolgica sin precedentes podemos
observar a la consolidacin de un nuevo
paradigma comunicacional de carcter
segmentado e interactivo cuya mxima
expresin es la creacin de comunidades con
rasgos de fuerte dependencia cultural y social
y la aparicin de nuevos espacios para la
pluralidad, la diversidad, el intercambio
multicultural y la participacin ciudadana a
escala global. Es decir, gracias a la nuevas
tecnologas la comunicacin tiende a
democratizarse y va dejando poco a poco de
ser monopolio de unas empresas dedicadas
tradicionalmente al sector, puesto que se
convierte en un canal de comunicacin accesible
a todo aquel que disponga de un ordenador
y una conexin telefnica o elctrica.
Sin embargo, la adaptacin de los
ciudadanos al nuevo entorno comunicativo,
propiciado sobre todo por Internet, ha sido
lenta y, en mi opinin, es todava un proceso
abierto en el cual estamos inmersos. A ello
estn contribuyendo varios motivos:
1. La limitacin al acceso a la tecnologa
en muchos lugares del mundo bien por
motivaciones econmicas, o bien por el
excesivo temor de algunos gobiernos al
desarrollo de estas nuevas formas de
comunicacin que son prcticamente
incontrolables.
2. El analfabetismo tecnolgico de gran
parte de la poblacin mundial. Especialmente
en el segmento mayor de 40 aos. En este
apartado habra que sealar tambin las la
falta de conocimiento y manejo de las TIC.
3. La desinformacin. En un mundo en
el que la informacin es vital para ser
294 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
competitivo se da la incongruencia de que
existen ciudadanos que continan
desinformados por varias razones entre los
que podramos citar:
a) El exceso de fuentes de informacin
indiscriminadas que la tecnologa pone a
nuestro alcance.
b) La escasez de tiempo para procesar
la informacin y transformarla en
conocimiento.
c) La carencia de verdaderos profesio-
nales de la comunicacin que sean capaces
de discriminar, estructurar y organizar la
informacin de manera que sta satisfaga las
necesidades cognitivas de los usuarios.
Vamos a centrarnos concretamente en dos
aspectos clave: las limitaciones al acceso
tecnolgico y la figura del profesional de la
comunicacin en el marco de una Sociedad
de la Informacin paradjicamente
desinformada.
Limitaciones al acceso tecnolgico
Se da la circunstancia de que en China,
segundo pas del mundo en nmero de
usuarios de Internet, el desarrollo de la Red
de Redes se ve como una amenaza al frreo
control ideolgico del Gobierno. Por este
motivo, las autoridades del pas han bloqueado
el acceso a determinadas pginas, entre las
que cabe citar medios de comunicacin como
la BBC, el Wall Street Journal incluso el
buscador Google ha sufrido algn que otro
bloqueo temporal , adems se han cerrado
pginas web colectivas y personales as como
determinados foros de debate, e incluso se
ha prohibido la apertura de cibercafs cerca
de las escuelas primarias y secundarios del
pas bajo el pretexto de preservar la salud
mental de sus 329 millones de menores de
edad
6
.
Algo similar suceda en el Irak de la
postguerra, donde estaba vetado el acceso a
las pginas relacionadas con Israel, la poltica
estadounidense o la educacin en otros pases.
Los 57 cibercafs de titularidad pblica de
la poca de Sadam Husein se han convertido
hoy en centenares gracias a la iniciativa
privada. Sin embargo las conexiones siguen
siendo difciles, lentas y caras
7
.
Pongamos otro ejemplo. Las telecomuni-
caciones en Cuba son las menos desarrolladas
de Amrica Latina y el Caribe. Los 11
millones de habitantes de la isla no tienen
acceso a telfonos mviles, algo de lo que
el Gobierno culpa al embargo impuesto desde
hace ms de cuatro dcadas por EE.UU. Para
demostrar, sin embargo, que desde el poder
se quiere solventar esta situacin las
autoridades cubanas afirmaron el mes pasado
que este ao distribuiran hasta 300.000
mviles. Juzguen ustedes mismos...
Y todo esto sin hablar de los pases al
tercer mundo que se encuentra a aos luz
de una conexin a Internet como la
conocemos en las sociedades occidentales.
Obviamente las diferencias entre los que
tienen acceso a la tecnologa y los que an
estn lejos, existe. Expresmoslo en cifras:
El 70% de los usuarios de Internet vive en
los 24 pases ms ricos, aunque stos slo
cobijan al 16% de la poblacin mundial. La
brecha digital existe pero ser mucho menor
dentro de unos aos, cuando se haya
implantado la moderna tecnologa que permite
acceder a Internet, telefona y vdeo a travs
de la red elctrica. Este sistema abrir la
posibilidad de ampliar la sociedad de la
informacin tanto a zonas rurales como a
pases subdesarrollados en los que el coste
de acceso por telfono sera impensable, pero
donde ya llega la red elctrica, por lo que
los usuarios podrn acceder a la banda ancha
y utilizar el telfono a travs de cualquier
enchufe de su vivienda.
8
Sin duda existen iniciativas para tratar de
generalizar el uso de las tecnologas en todo
el mundo y lograr poner en marcha la aldea
global macluhiana en la que cualquier
individuo en cualquier lugar podra consultar
y confrontar las informaciones sin ms
limitaciones que las idiomticas. Una de ellas
ha sido promovida por la Organizacin de
Naciones Unidas (ONU). Se trata de la
organizacin de una Cumbre Mundial sobre
la Sociedad de la Informacin que se
desarrolla en dos fases. La primera de ellas
tuvo lugar en Ginebra acogida por el
Gobierno de Suiza, del 10 al 12 de diciembre
de 2003. En sta se abord toda una gama
de temas relacionados con la sociedad de la
informacin y se adoptaron una Declaracin
de Principios y un Plan de Accin en los
cuales se manifiesta el compromiso comn
de construir una sociedad de la informacin
295 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
centrada en la persona, incluyente y orientada
al desarrollo en la que todos puedan crear,
consultar, utilizar y compartir la informacin
y el conocimiento, para que las personas, las
comunidades y los pueblos puedan desarrollar
su pleno potencial en la promocin de su
desarrollo sostenible y mejorar su calidad de
vida [...]. La segunda fase tendr lugar en
Tnez del 16 a 18 de noviembre de 2005.
La propuesta de la ONU: Conseguir la
implantacin de las TIC en todo el mundo
para 2015 es todo un reto y, tal vez, una
de las proposiciones ms igualitaristas y
globalizadoras que se hayan hecho en los
ltimos tiempos. Sin embargo, algo parece
preocupar a esta organizacin internacional.
Algo que choca con la vocacin liberalizadora
de Internet se pueden poner controles al
trfico de informacin en la Red? En este
sentido el pasado mes de marzo la ONU
organiz un foro para debatir la
gobernabilidad de Internet explicando la
necesidad de equilibrar la legitimidad y la
transparencia con la innovacin y la
creatividad.
9
La reglamentacin de Internet tardar
algn tiempo, aunque es un proceso que, a
pesar de ir en contra de la vocacin liberadora
de la Red, se va acelerando paulatinamente.
Por otra parte, dada la multiplicidad de
conexiones y la facilidad con que uno se hace
emisor los reguladores lo tienen francamente
difcil.
Sin duda las tecnologas entre ellas
la web actan como mecanismos de
refuerzo y de extensin de ideas que se
transmiten socialmente a nivel informal y de
persona a persona en un espacio global
10
.
En este sentido, podemos afirmar que hay
consecuencias funestas y otras libertarias.
Pongamos dos ejemplos ilustrativos centrados
en la actualidad. La Red es mucho ms que
un instrumento informativo porque permite
hacer circular tambin bulos, rumores,
campaas de propaganda y comunicaciones
de todo tipo a lo largo y ancho del planeta.
La herramienta est ah pero el uso que se
hace de ella puede ser positivo o nocivo,
depende de los individuos. Se ha comprobado
que Internet se ha convertido en un
instrumento muy til para los terroristas.
Segn las ltimas noticias la amenaza a
Espaa como posible objetivo de los
extremistas islmicos circulaba ya en varias
pginas en la Red mucho antes del 11-M.
Pero tambin Internet es un canal de
comunicacin solidaria. El pasado mes de
marzo se cre el portal
www.quienmeayudo.com con el objetivo de
facilitar la toma de contacto entre las vctimas
de los atentados en Madrid y las personas
que acudieron en su ayuda.
Lo mismo podramos decir de otros
vehculos de comunicacin como los
telfonos mviles. A travs de esos aparatos
de uso comn se activaron los detonadores
del fatdico atentado que cost la vida a 190
personas en Madrid. Asimismo, el xito
fulgurante de las movilizaciones convocadas
va Internet y a travs de mensajes cortos
de telefona mvil (flashmob) alcanz en
Espaa el rango de fenmeno social durante
los llamados cuatro das que cambiaron
Espaa (del 11-M al 14-M)
11
. Como bien
indica Jos Luis Orihuela, Profesor de la
Facultad de Comunicacin de la Universidad
de Navarra, la lectura positiva de lo sucedido
estos das de conmocin en Espaa es que
la sociedad civil se ha apropiado de la
tecnologa para comunicar, convocar y
movilizar muchsimo ms de lo que lo hacen
los partidos polticos, las empresas o las
instituciones; lo peligroso es que el anonimato
de Internet facilita la difusin de rumores y
convierte esta herramienta en una tecnologa
que, en vez de liberarnos, nos somete a los
nuevos medios supuestamente independientes.
stos pueden envenenarnos al difundir su
informacin rpida y sin filtros. Su influencia
es inversamente proporcional a la informacin
veraz que ofrecen los medios tradicionales.
12
La figura del comunicador digital
En este contexto en el que la tecnologa
permite a cualquier usuario de la misma
participar de forma activa o pasiva en los
procesos comunicativos hay quien pronostica
que en cinco aos cada internauta tendr su
propio portal a travs del cual podr enviar
y recibir toda clase de contenidos
13
, en el
que la sociedad demanda una mayor cantidad
de informacin, servida de forma ms rpida,
por ms medios y con ms opciones, los
profesionales de la comunicacin, debemos
reflexionar sobre el papel que nos
296 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
corresponde desempear en la era de la
Sociedad de la Informacin
14
.
En este sentido se expresa el Profesor de
la Universidad Complutense de Madrid, Jos
Luis Dader, al afirmar que la proliferacin
de informadores y comentaristas virtuales
espontneos no puede llevarnos a engao
respecto a la necesidad en una democracia
madura de un servicio de informacin de
actualidad amplio, contrastado, clarificador
y riguroso respecto a los asuntos de mxima
trascendencia para la vida pblica de las
comunidades. Tales condiciones slo puede
garantizarlas un periodismo de calidad y
sometido a una exigente criba de
profesionalidad, que sin negar e incluso
aplaudiendo el derecho a la libertad de
expresin de cuantos quieran contribuir con
su granito de arena electrnica, suministre ms
all de ese primer nivel de libertad, un
consumado ejercicio de informacin selecta
tanto en el plano de la descripcin de hechos,
como del anlisis y el contraste de opiniones,
con el que facilitar en las mejores condiciones
de reflexin y suministro de datos, el ejercicio
de la deliberacin democrtica
15
.
Internet no slo ha cambiado los modos
de acceso a la informacin por los usuarios,
el modelo de comunicacin tradicional, la
economa mundial y las empresas de
comunicacin, sino tambin el perfil del
comunicador
16
. Surgen multitud de
interrogantes al respecto: qu nuevos modelos
informativos ha impuesto la Red?; hasta qu
punto las tecnologas de la informacin
condicionan la presentacin y la propia
esencia de la informacin?; qu cambios se
estn imponiendo en la propia profesin del
profesional de la comunicacin?
En este sentido, y como bien apuntan
Jaime Alonso y Lourdes Martnez, hoy en
da ya no es merecedor en exclusiva del
apelativo de comunicador digital el
periodista que trabaja en los diarios y medios
de informacin digitales, sino todo aquel
individuo cuya labor se encuentra
estrechamente ligada, de una u otra manera,
al tratamiento de la informacin y la
comunicacin en red. Entre las labores que
puede desempear un comunicador digital
estos autores sealas las siguientes
17
:
- Producir informaciones utilizando las
herramientas propias de la tecnologa digital
(hipertextualidad, multimedialidad, inter-
actividad, etc.)
- Estructurar y organizar la informa-
cin (labor llevada a cabo por las personas
que trabajan en los buscadores y directorios
as como por las encargadas de filtrar la
informacin que llega a la empresa facilitando
nicamente la que es relevante para sta)
- Crear y gestionar los flujos de
comunicacin en las entornos de
comunicacin compartidos por varios
usuarios (por ejemplo dentro de las
comunidades virtuales)
- Crear y gestionar servicios. En cuanto
que el comunicador hace uso de la tecnologa
que le permite conocer las necesidades de
los usuarios ya sean stas comerciales, de
entretenimiento y de otra ndole y
satisfacerlas.
En mi opinin, para lograr una total
eficiencia comunicativa, es decir que el
mensaje llegue y sea correctamente
decodificado por el receptor final de cualquier
actividad relacionada con la comunicacin
digital, perteneciente o no al sector de los
medios de comunicacin, sta deber ser
realizada por profesionales de comunicacin,
es decir, por aquellos individuos que gozan
de la cualificacin necesaria para el
desempeo de la funcin de buscar, analizar,
elaborar y transmitir contenidos que agreguen
valor aadido a la informacin bruta y
codificar los mensajes para adaptarlos a las
peculiaridades comunicativas que posee el
medio digital.
Ahora bien, para hacer frente este reto
se impone la necesidad de un reciclaje
profesional que capacite a los comunicadores
del entorno digital para asumir las nuevas
rutinas profesionales que imponen la
tecnologa digital
18
y que influyen en la
manera de contar las cosas, esto es, de
comunicar.
En virtud de todo lo expuesto
anteriormente defiendo la necesidad de
devolver al profesional de la comunicacin
su funcin informativa en el marco de la
moderna Sociedad de la Informacin; puesto
que las fuentes son hoy en da accesibles a
cualquiera, esta figura profesional de la
comunicacin tendr el cometido de dar las
claves de contextualizacin de las
informaciones convirtindose en un autntico
297 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
gestor de informacin y de conocimientos ms
que un transmisor de contenidos. Esta es su
gran aportacin a la Sociedad de la
Informacin.
Lo que hoy puede parecer una utopa ser
posible siempre y cuando las empresas tomen
conciencia de los beneficios que les va a
reportar un profesional en cuanto a eficiencia
comunicacional; cuando los periodistas se
preocupen de adquirir las destrezas necesarias
y asuman la responsabilidad social de lo que
publican; y cuando las Facultades encargadas
de formar a estos nuevos profesionales
adecuen sus planes de estudio para ofrecer
a los futuros profesionales los conocimientos
necesarios para acceder al entorno digital
capacitndoles en el conocer y dominar las
herramientas de la comunicacin digital -
multimedialidad, hipertextualidad, instan-
taneidad, interactividad y universalidad
19
y
ser hbiles a la hora de seleccionar los hechos
relevantes, jerarquizar, profundizar y
contextualizar la informacin.
Frente a esta postura, que tal vez pueda
ser tachada de excesivamente optimista existe
otra radicalmente pesimista que vaticina que
la profesin como tal est en vas de
extincin. Entre los principales defensores
de esta corriente se encuentran el Catedrtico
Jos Luis Martnez Albertos o el Director de
Le Monde Diplomatique Ignacio Ramonet.
Entre sus las causas de la desaparicin de
los profesionales del periodismo estos autores
sealan, respectivamente, la falta de tica a
la hora de presentar la realidad
20
y la tirana
de la comunicacin sobre la esfera de la
informacin que, al pasar de ser un bien
escaso a abundante, deja de tener valor en
s misma para convertirse en una mercanca
de manera que lo que da valor a la
informacin es la cantidad de personas
susceptibles de interesarse por ella, pero este
factor no tiene nada que ver con la verdad.
21
En este sentido, debo hacer una llamada
a la reflexin del lector. Bajo mi punto de
vista esa verdad a la que hace referencia
Ramonet ser precisamente uno de los pilares
que apoyan mi tesis de que la comunicacin
digital debe dejarse en manos de los
autnticos profesionales puesto que
comunicacin es tambin asumir la
responsabilidad de aquello que se difunde.
La deontologa profesional ser pues un valor
aadido en alza en una sociedad en la que
nadamos en una superabundancia informativa
descontrolada y, en muchos casos basada ms
en la especulacin y la rumorologa que en
el verdadero conocimiento. Lo que distinguir
al comunicador digital de sus compaeros de
otros medios sern los mtodos, las tcnicas,
y las herramientas pero nunca los objetivos:
la informacin veraz, rigurosa y honesta al
servicio exclusivo de la sociedad.
Conclusiones
- Internet ha creado una necesidad de
comunicacin y de interaccin con la
informacin de enormes proporciones; sin
embargo la excesiva cantidad y redundancia
de informacin amenaza con entorpecer los
flujos comunicativos generando situaciones
de incomunicacin, desinformacin o
intoxicacin informativa;
- Gestionar y organizar de forma
estructurada los contenidos y los flujos
comunicativos en la Red para evitar las
situaciones descritas anteriormente pasa a
convertirse en la principal tarea del comunicador
digital, un profesional cualificado y capacitado
especialmente para establecer procesos
comunicativos utilizando las nuevas
posibilidades que brinda la comunicacin
digital, esto es: conjugando los tres parmetros
vertebrales que le dan forma: la tecnologa, la
informacin y la comunicacin.
298 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Bibliografa
Abram, S., Posicionamiento de los
profesionales que trabajan en las bibliotecas
especializadas en la post-era de la
informacin en Revista de Tecnologas de
la Informacin n4. Ao I. Maracaibo-
Venezuela, Biblio Service C:A, 1999.
Alonso J. y Martnez, L.: Medios
interactivos: caracterizacin y contenidos, en
Daz Noci, J. y Salaverra, R. (Coords.),
Manual de redaccin ciberperiodstica.
Barcelona, Ariel, 2003.
Beckett, C. et al., Desconstruyendo la
identidad del homo-digitalis. En Revista
Comunicacin n 109. Caracas-Venezuela,
Centro Gumilla, 2000.
Calmon, R., Arancelar los contenidos
de los diarios digitales es un camino de ida
en Blanco, D., en Clarn.com, nmero 2775,
de 6 de noviembre de 2003, en la direccin:
[http://old.clarin.com/diario/2003/11/06/t-
654102.htm]
Dader, J. L: Los cinco jinetes
apocalpticos del periodismo espaol actual
en Sala de prensa (www.saladeprensa.org) n
65 Marzo 2004. Ao VI. Vol. 3.
Fernndez Morales, I., Sociedad de la
Informacin e Internet en Pareja, Vctor
Manuel (Coord.), Gua de Internet para
periodistas. Madrid, Consejo Superior de
Investigaciones Cientficas (CSIC), 2003.
Garca De Madariaga, J. M., El
periodista profesional ante la interactividad
digital Comunicacin presentada en el V
Congreso de Periodismo Digital celebrado en
Huesca entre los das 15 y 16 de enero de
2004.
En [http://www.congresoperiodismo.com/
actualidad/noticia.asp?idNoticia=15].
Martnez Albertos, J. L., El Ocaso del
Periodismo, Barcelona, CIMS, 1997.
Negroponte, N., El mundo digital,
Barcelona, Ediciones B (4Ed.), 1999.
Pineda Alczar, Migdalia, El papel de
Internet como un nuevo medio de
comunicacin social en la era digital.
En [http://www.webjornalismo.com/
sections.php?op=viewarticle&artid=62],
2003.
Ramonet, I., La tirana de la
Comunicacin, Madrid, Debate, 2001.
_______________________________
1
Universidad Catlica San Antonio (UCAM)
- Murcia (Espaa).
2
Isabel Fernndez Morales, Sociedad de la
Informacin e Internet en Vctor Manuel Pareja
(Coord.), Gua de Internet para periodistas,
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones
Cientficas (CSIC), 2003, p. 13.
3
bid.
4
Migdalia Pineda Alczar, El papel de Internet
como un nuevo medio de comunicacin social en
la era digital,
[ h t t p : / / www. we b j o r n a l i s mo . c o m/
sections.php?op=viewarticle&artid=62], 2003.
5
S. Abram, Posicionamiento de los
profesionales que trabajan en las bibliotecas
especializadas en la post-era de la informacin,
Revista de Tecnologas de la Informacin n4. Ao
I., Maracaibo-Venezuela, Biblio Service C.A., 1999.
6
En China existen ms de 80 millones de
personas que se conectan a Internet. Estados
Unidos es el primer pas del mundo en nmero
de usuarios (150 millones). Vase la siguiente
noticia: China prohbe abrir cibercafs cerca de
las escuelas para proteger a los jvenes en
IBLNEWS (25/03/2004) [http://iblnews.com/news/
print.php3?id=103913]. En este texto se indica
adems que segn Amnista Internacional China
ha incrementado en un 60% el nmero de
detenciones de cibernautas en los ltimos dos aos.
7
Una hora de conexin cuesta 2.000 dinares
(algo ms de un dlar). Segn una noticia
publicada en Libertad Digital (02/12/04) El uso
de Internet, ahora sin censura, se dispara en el
Irak de la posguerra [http://
www. l i b e r t a d d i g i t a l . c o m/ . / n o t i c i a s /
noticia_1275770873.html] el ciudadano que quiera
conectarse a Internet hoy en da tiene tres
posibilidades: acudir a un cibercaf, aprovechar
las dos horas de conexin gratuitas ofrecidas por
el Ministerio de Informacin de 4 a 6 de la
madrugada o comprar un acceso en el Ministerio
(50 horas por 28 dlares) que por motivos de
saturacin slo se pueden usar a partir de la
medianoche y hasta las 6 de la maana.
8
La red elctrica es una red global que llega
a los lugares ms remotos que podamos imaginar.
Se estima que 3.000 millones de hogares del
mundo tienen acceso a la red telefnica, frente
a los 8.000 millones de hogares que cuentan con
red elctrica. Op. cit. Empresa valenciana disea
un chip para la transmisin de Internet por la luz
en:
[ h t t p : / / i b l n e w s . c o m / n e w s /
noticia.php3?id=94664&PHPSESSID=
ccb22627160e051d45f 0daae689ce9bf ]
[Consulta: 11/12/2003].
9
Vase [http://www2.cronica.com.mx/
nota.php?idc=116960]
299 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
10
C. Beckett et al., Desconstruyendo la
identidad del homo-digitalis, Revista
Comunicacin n 109, Caracas-Venezuela, Centro
Gumilla. 2000, p. 59.
11
El sbado 13 de marzo, jornada de reflexin
anterior a las elecciones generales el tratamiento
de la informacin sobre el 11-M se conjug con
las nuevas tecnologas para sacar a la calle a miles
de personas. En 24 horas se dieron la vuelta los
sondeos electorales y de las urnas sali un
Presidente del Gobierno que unos das antes vea
incierta su victoria. Vase el artculo Psalo en
La Razn digital de 26/03/2004 [http://
www.larazon.es/ediciones/anteriores/2004-03-24/
noticias/noti_rep03.htm]
12
bid.
13
As lo ha declarado, por ejemplo Tom Hogan,
Director General de Vignette, una de las empresas
lderes en el mercado de gestin de contenidos en
Internet que soporta los portales y aplicaciones web
de ms de 1.600 empresas e instituciones -entre
ellas Telefnica, Vodafone y Amena.
14
Es muy interesante el trabajo realizado por
un equipo de profesores de la Facultad de Ciencias
Sociales y de la Comunicacin de la Universidad
Catlica San Antonio de Murcia (UCAM) en el
que tambin ha colaborado el Profesor Jerome
Aumente, Director del Journalism Research
Institute (JRI). Se trata del PROYECTO DE
INVESTIGACIN PMAFI-PI-07/1C/01
Transformaciones e innovaciones en las
estrategias, protocolos y perfiles profesionales de
la comunicacin en los nuevos entornos
tecnolgicos, cuyos resultados se publicarn en
breve en un libro titulado El comunicador digital.
Un avance del mismo puede consultarse en http:/
/cibersociedad.rediris.es/congreso/g24.htm.
15
Jose Luis, Dader, Los cinco jinetes
apocalpticos del periodismo espaol actual, Sala
de prensa [http://www.saladeprensa.org] n 65,
Marzo 2004, Ao VI, Vol. 3.
16
Nicholas Negroponte (1999:32) afirmaba ya
en 1995 que Ser digital supondr la aparicin
de un contenido totalmente nuevo. Surgirn nuevos
profesionales, inditos modelos econmicos e
industriales locales de proveedores de informacin
y entretenimiento.
17
Jaime Alonso y Lourdes Martnez, Medios
interactivos: caracterizacin y contenidos, en Javier
Daz Noci, y Ramn S (Coords.), Manual de
redaccin ciberperiodstica. Barcelona: Ariel,
2003, p. 281.
18
En este sentido el periodismo digital tiene
por delante un gran reto: desarrollar un lenguaje
apropiado para el nuevo soporte en el que
convergen texto, audio, imgenes fijas y en
movimiento y bases de datos y adaptado a un
nuevo modelo de comunicacin en la que el
receptor (usuario) decide qu contenido quiere
recibir, cmo y cundo lo quiere.
19
Jaime Alonso y Lourdes Ortiz, Op. cit., p.
264.
20
Jos Luis Martnez Albertos, El Ocaso del
Periodismo. Barcelona, CIMS, 1997.
21
Ignacio Ramonet, La tirana de la
Comunicacin. Madrid, Debate, 2001.
300 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
301 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
A Base de Dados como Formato no Jornalismo Digital
Elias Machado
1
Apresentao
No livro The Language of new media,
o professor da Universidade da Califrnia,
em San Diego, Lev Manovich apresenta cinco
princpios-chave para identificar as novas
mdias: 1) Representao numrica todos
objetos no campo das novas mdias, criados
em computador ou convertidos de fontes
analgicas, so digitalizados; 2) Modularidade
Um objeto das novas mdias apresenta uma
mesma estrutura em diferentes escalas; 3)
Automao A codificao numrica e a
estrutura modular permitem a automao de
muitas operaes na criao, manipulao e
acesso; 4) Variabilidade Um objeto das
novas mdias no um estrutura fixada no
tempo, mas pode existir em diferentes, po-
tencialmente infinitas verses e 5)
Transcodificao todos os objetos das novas
mdias podem ser traduzidos para outros
formatos (MANOVICH, 2001:27/48).
Mais do que leis absolutas obedecidas por
todos os objetos definidos como novas mdias,
Maonovich considera que estes cinco prin-
cpios devem ser tomados como sinalizadores
das tendncias gerais subjacentes cultura
da computadorizao. Neste trabalho preten-
demos utilizar o princpio da transcodificao
para discutir as particularidades da Base de
Dados, originalmente uma tecnologia para or-
ganizao e acesso a dados, como forma
cultural com estatuto prprio no jornalismo
digital. A partir da aplicao deste princpio
defendemos a hiptese de que no jornalismo
digital a Base de Dados, como uma forma
cultural tpica da sociedade das redes, assu-
me ao menos trs funes: 1) de formato para
a estruturao da informao, 2) de suporte
para modelos de narrativa multimdia e 3)
de memria dos contedos publicados.
1. A Base de dados como forma cultural
Talvez a definio mais simples de Base
de Dados seja a de uma coleo de dados
ou informaes relacionadas entre si, que
representam aspectos de um conjunto de
objetos com significado prprio e que de-
sejamos armazenar para uso futuro (GUIMA-
RES,2003:19). Bases de Dados podem ser
muito simples ou muito complexas, tudo
depende do conjunto de aplicaes que se
deseja fazer sobre os dados. Uma Base de
Dados simples poderia reunir a relao dos
bens de uma determinada pessoa fsica. Bases
de Dados complexas, como as utilizadas pelas
organizaes jornalsticas, que nos interes-
sam neste trabalho envolvem muitos tipos
diferentes de dados interdependentes e inter-
relacionados. Como devem permitir uma
busca e recuperao rpidas, os dados arma-
zenados em Bases de Dados complexas so
tudo menos uma simples coleo de itens.
Diferentes tipos de Bases de Dados
hierrquicas, redes, relacionais e objeto-ori-
entados operam com modelos distintos de
organizao dos dados MANOVICH,
2001:219). Os registros em Bases de Dados
hierrquicas, por exemplo, so organizados
segundo a estrutura clssica da rvore en-
quanto que Bases de Dados orientadas para
objetos so estruturas complexas, chamadas
objetos, organizadas em classes hierrquicas
que podem herdar propriedades de classes
mais altas de uma determinada cadeia. Para
os usurios as colees de itens
disponibilizadas na forma de Bases de Dados
possibilitam uma diversidade de operaes
como ver, navegar, buscar ou armazenar
informaes. De igual modo que a narrativa
literria ou cinematogrfica um plano
arquitetnico na Modernidade, a Base de
dados emerge como a forma cultural tpica
para estruturar as informaes sobre o mundo/
realidade na cultura dos computadores.
At meados dos anos 90 do sculo
passado uma Base de Dados era um conjunto
de dados alfanumricos (cadeias de caracte-
res e valores numricos). Hoje, uma Base de
Dados costuma armazenar textos, imagens,
grficos e objetos multimdia (som e vdeo),
302 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
aumentando muito as propores das neces-
sidades de armazenamento e a complexidade
dos processos de recuperao e
processamento dos dados. A principal dife-
rena existente entre as Bases de Dados
modernas e classificao mais antiga de
coleo de arquivos suportados pelo sistema
operacional reside na possibilidade de rela-
cionamento dos dados entre si. Por mais
complexa que seja uma coleo de arquivos
no reflete o inter-relacionamento que existe
entre os dados nem as regras de consistncia
que explicitam estes inter-relacionamentos
(GUIMARES, 2003:20).
Chamadas entre os especialistas de regras
de negcio, tais regras podem, em alguns
casos, ser simples como, por exemplo, reque-
rer que a Lista das fontes que fazem parte
dos contatos do Editor de Esportes esteja
contida na Lista Global de fontes mantida pela
Intranet da organizao jornalstica e na Lista
de Fontes preferenciais do Editor Chefe. Em
outros casos, as regras podem ser mais com-
plexas, quando envolvem relacionamentos
entre fontes, reprteres de distintas editorias,
editores, colunistas, colaboradores e cronistas,
por exemplo, refletindo formas complexas e
especficas de gesto da informao e de
relaes entre diversos profissionais envolvi-
dos no processo de produo de contedos
em uma organizao jornalstica.
Ao contrrio das antigas colees de
arquivos em que as informaes so colo-
cadas uma a uma, uma Base de Dados
relacional possui uma caracterstica, a
atomicidade, que estabelece a dependncia
de que certas operaes sobre os dados devem
ser feitas de forma conjunta e indivisvel para
preservar a consistncia do sistema, mesmo
na presena de falhas no equipamento ou na
comunicao com a base de dados (GUIMA-
RES,2002:21). Por exemplo, a partir de um
terminal remoto um reprter atualiza os
resultados da rodada do campeonato nacio-
nal de futebol. Seria inaceitvel que, aps
a atualizao do resultado de um determi-
nado jogo, uma falha na comunicao ou no
sistema impedisse uma atualizao autom-
tica dos demais dados do sistema envolven-
do os times ou mesmo os atletas relaciona-
dos com o dado alterado antes.
O funcionamento de uma Base de Dados
de uma organizao jornalstica que opera nas
redes digitais requer o acesso simultneo ou
concorrente por vrios usurios, cujas ope-
raes podem interagir, gerando inconsistn-
cias. Por exemplo, dois investidores, base-
ados em notcias em tempo real, descobrem
que seria um bom investimento comprar todos
os estoques de soja e autorizam seus agentes
a compr-los. Como somente um deles pode
concluir a ao, quanto antes a informao
sobre a compra e, se possvel, quem com-
prou, chegar aos demais agentes do merca-
do, mais rapidamente estes atores podero
se preparar para as conseqncias desta
transao. Em situaes como estas somente
o controle automtico da concorrncia, que
impede a continuidade de aes contradit-
rias, to logo um dado seja computado pelo
sistema, pode garantir que o jornalismo
acompanhe o ritmo deste tipo de transaes,
sem correr o risco de divulgar informaes
inconsistentes. No sculo passado, quando da
vinculao das transaes na Bolsa de
Mercadorias s informaes difundidas pelas
redes de telgrafo eliminou as diferenas entre
diferentes praas financeiras, para manter o
controle do mercado remoto, a Bolsa de Nova
York decidiu estabelecer uma diferena de
30 segundos em relao ao fechamento da
Bolsa de Boston.
Um lapso de tempo a uma s vez es-
sencial para o processamento quase que
totalmente mecnico das informaes e
necessrio para que se especulasse, compran-
do ou vendendo uma mercadoria que poderia
sequer estar mais disponvel. Neste comeo
de novo milnio, em que o tempo entre o
fechamento das transaes e sua divulgao
pode ser de somente 15 segundos, mais que
nunca, a reduo das inconsistncias na
produo das informaes jornalsticas em
tempo real fica atrelada ao desenvolvimento
de bancos de dados capazes de fornecer de
forma automtica os resultados destas mo-
vimentaes dos agentes econmicos aos
jornalistas.
Quando um raio X instantneo da situ-
ao aparece como uma exigncia prvia para
uma interveno inteligente em um sistema
de aes complexas e interligadas, talvez um
dos requisitos mais elementares de uma Base
de Dados que serve a uma organizao
jornalstica seja a disponibilizao confivel
e ininterrupta das informaes aos usurios.
303 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
A Base de Dados deve ser segura o sufici-
ente para, em caso de falta de energia ou
de uma falha operacional, ativar de forma
automtica dispositivos de segurana capa-
zes de colocar em funcionamento servidores
de reserva, garantindo a alimentao cont-
nua de informaes que possibilita a inter-
veno dos atores sociais nos diversos sis-
temas econmicos, polticos ou sociais. Se
o dispositivo de segurana for insuficiente,
a Base de Dados jornalstica deixa de cum-
prir com a funo de retroalimentar o sis-
tema, o que pode comprometer a
racionalidade de todas as aes.
At aqui vimos as especificidades das Bases
de Dados e as suas possveis aplicaes como
uma forma cultural que estrutura os sistemas
de produo de contedos das organizaes
jornalsticas. A compreenso das empresas
jornalsticas enquanto organizaes complexas
que obedecem etapas previamente programveis
exige a aproximao das teorias do jornalismo
da cincia da computao. No prximo tpico
veremos como a computadorizao da cultura
provoca a gradual reformulao das prticas
comunicacionais, que passam a adotar concei-
tos e lgicas oriundas do reino dos computa-
dores.
2. Base de Dados como suporte para
narrativas
Naturalmente, nem todas as organizaes
jornalsticas esto estruturadas como sistemas
de Bases de Dados complexas. Seja do ponto
de vista da gesto das informaes, seja do
ponto de vista do armazenamento e recupe-
rao dos dados e, sobretudo, como um
suporte para novos modelos de estruturao
de narrativas. Uma situao que antes de ser
surpreendente chega a ser corriqueira na
histria dos meios de comunicao, como
relata Gosciola:
A arte de contar histrias uma qua-
lidade por vezes deixada em segundo
plano quando uma nova tcnica ou
uma nova tecnologia surge. No co-
meo do cinema, as histrias eram
muito mais simples e rudimentares at
se comparadas s histrias apresen-
tadas pela literatura da mesma poca
(GOSCIOLA, 2003:19).
Coube ao russo Lev Manovich o
pioneirismo na demonstrao de como os
trabalhos de multimdia so compatveis com
a forma cultural das Bases de Dados como
modelo para a estruturao dos contedos
apresentados. Para fins didticos, no livro The
Language of new media, Manovich opta por,
no primeiro momento, contrapor as formas
culturais da Narrativa e da Base de Dados.
Somente ao final do captulo que trata deste
tpico especfico, Manovich defende a com-
patibilidade entre a noo do Banco de Dados
com uma forma de estruturao de informa-
es e como um suporte para novos modelos
de narrativa multimdia. Para Manovich os
jogos de vdeo, por exemplo, so experimen-
tados pelos usurios como narrativas enquanto
que uma variedade de produtos de CD-
ROMs a Stios Web o so como Bases de
Dados:
Thus, in contrast to a CD-ROM and
Web database, which always appear
arbitrary because the user knows
additional material could have been
added without modifying the logic, in
a game, from the users point view,
all the elements are motivated (i.e.,
their presence is justified)
(MANOVICH, 2001:220).
Como se trata de uma lista seqencial de
elementos separados (blocos de textos, ima-
gens, vdeo clips e links), uma pgina web
encarna uma lgica similar a dos Bancos de
Dados. A natureza aberta da Web a trans-
forma em um meio incompleto e em per-
manente crescimento. (MONOVICH,
2001:221). Na comparao preliminar que faz
entre as duas formas culturais, Manovich
caracteriza a Base de Dados como uma lista
desordenada de itens, enquanto que a Nar-
rativa aparece definida como uma trajetria
de causa e efeito entre eventos, aparentemen-
te, desordenados. Se levssemos ao p da letra
a concluso que Manovich extrai desta dis-
tino parece que haveria pouco espao para
o desenvolvimento de nossa hiptese de Base
de Dados pode servir como suporte para o
desenvolvimento de narrativas multimdia:
...database and narrative are natural enemies.
Competing for the same territory of human
culture, each claims an exclusive right to
304 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
make meaning out of the world
(MANOVICH, 2001:225). Mas, logo adian-
te, o prprio Manovich inverte por completo
a situao, quando assume que, por detrs
das aparncias, todos os novos meios so
Bases de Dados:
In general, creating a work in new
media can be understood as the
construction of an interface to a
database. In the simplest case, the
interface simply provides access to the
underlying database (MANOVICH,
2001:226).
Na era dos computadores, defende
Manovich, a Base de Dados acaba se tor-
nando a forma cultural que estrutura todo o
processo criativo, considerando que um objeto
da nova mdia consiste de uma ou mais
interfaces a uma Base de Dados de material
multimdia. Quando caracteriza a Base de
dados como a forma cultural que permite
quase que todo o processo criativo na era
dos computadores, Manovich percebe que
mais interessante que contrapor Narrativa a
Base de Dados, para a exata compreenso
dos processos culturais em curso, talvez seja
mais conveniente redefinir o conceito cls-
sico de Narrativa:
The user of a narrative is traversing
a database, following links between
its records as established by the
databases creator. An interactive
narrative (which can be also called a
hypernarrative in an analogy with
hypertext) can then be understood as
the sum of multiple trajectories
through a database.
A partir desta nova definio proposta por
Manovich, antes da Base de Dados aparecer
como o responsvel pelo epitfio da Narra-
tiva clssica, ao contrrio, o carter
multifactico desta forma cultural, permite
que a Narrativa linear convencional seja
incorporada como uma das possveis
trajetrias escolhidas pelo usurio dentro de
uma hipernarrativa. Mas, justo pelo fato do
Banco de Dados como forma cultural apre-
sentar um carter multifactico, que torna
pouco recomendvel operar tanto com o
conceito clssico de Narrativa quanto com
o de Banco de Dados, pode-se incorrer no
equvoco de considerar uma sequncia de
registros arbitrrios de uma Base de Dados
como uma Narrativa. Nada menos aconse-
lhvel. Como sabemos, para receber a eti-
queta de Narrativa um objeto cultural deve
satisfazer uma srie de critrios como ter um
narrador, ao menos um ator, e uma histria
com uma seqncia de eventos causados e
experimentados pelo ator.
Na verdade, por mais que o carter
multifactico da Base de Dados possa au-
torizar pensar o contrrio, na cultura dos
computadores, mesmo que compatveis um
com o outro, Narrativa e Base de Dados
mantm cada um seu prprio status:
In new media, the database supports
a variety de cultural forms that range
from direct translation (i.e., a database
stays a database) to a form whose
logic is the opposite of the logic of
the material form itself narrative.
More precisely, a database can support
narrative, but there is nothing in the
logic of the medium itself that would
foster its generation (MANOVICH,
2001:228).
Logo, como acentua Manovich, nada
menos surpreendente do que a relevncia
alcanada pelas Bases de Dados no territrio
das novas mdias. No pargrafo final deste
tpico Manovich apresenta uma pergunta: por
que a narrativa todavia existe nas novas
mdias? A soluo do enigma, cremos, tenha
sido colocada pelo prprio Manovich: sim-
plesmente porque a Base de Dados pode
servir de suporte para o desenvolvimento de
diferentes modelos de Narrativa multimdia.
Mas, se apesar da compatibilidade com a
Narrativa nada nesta forma cultural promove
a sua gerao espontnea, como podemos
constatar pelo escasso uso destes recursos no
caso que mais nos interessa neste estudo, as
organizaes jornalsticas, o que deveria ser
feito para melhor aproveitar as
potencialidades das Bases de Dados como
suporte para criativos modelos de narrativa
multilinear e multimdia?
Em primeiro lugar, deveramos ter claro,
como aconselha Roland De Wolk, que contar
305 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
uma histria multimdia diferente de tudo
o que se faz nos meios convencionais porque
a histria construda de diversas maneiras
e considera diferentes pontos de vista (De
WOLK, 2001:126). Em segundo lugar, de-
veramos compreender que, afora os compo-
nentes econmicos, culturais ou polticos, a
plena utilizao das Bases de Dados como
espao para novos modelos de narrativa
depende, ao menos, de dois fatores: 1) do
desenvolvimento de programas de autorao
compatveis com as necessidades das orga-
nizaes jornalsticas e 2) da capacitao de
profissionais para contar de forma apropri-
ada s reportagens publicadas.
3. A Base de Dados como memria no
jornalismo digital
Se gravar e arquivar o nosso passado
parece uma obsesso para a lgica da cultura
e da tcnica contemporneas, impregnando
no somente o processo coletivo, mas a vida
cotidiana, os modos de pensar e as convic-
es pessoais, por que to poucas organiza-
es jornalsticas esto estruturadas na forma
de Bases de Dados complexas? Um fato mais
estranho quando se sabe que desde os anos
1980 a Base de Dados funciona como es-
trutura para armazenar notcias no
organograma das organizaes jornalsticas.
Um servio a mais que oferecia aos usurios
externos textos memorizados, artigos do
prprio jornal ou de outras fontes. O The New
York Times Information Bank, por exemplo,
reunia um total de trs milhes de documen-
tos na metade dos anos 80 (COLOMBO,
1991:26).
Ora, talvez tenhamos que voltar a dis-
tino feita entre mnm e anmnsis por
Aristteles no De Memria et Reminiscentia
para compreender os motivos da falta de
potencializao das organizaes jornalsticas
na forma de Bases de Dados. Para Aristteles
a primeira faculdade consiste na simples
conservao do passado, enquanto que a
segunda possibilita a sua ativao
(COLOMBO, 1991:17). At aqui a vocao
para a memria que permeia a cultura e a
evoluo tecnolgica ao conceber o arqui-
vamento jornalstico como conservao do
passado favoreceu que o arquivo ocupasse
uma funo marginal no organograma das
empresas. Uma opo que talvez seja uma
possvel consequncia do senso comum das
redaes que defende que o jornalismo deve
cuidar da cobertura do presente, cabendo o
tratamento da memria social Histria. Nada
mais equivocado, como veremos ao longo
deste tpico.
No mundo das redes digitais a memria
antes de refletir um passado morto, apresenta
parmetros para aumentar o coeficiente de
previso no fluxo ininterrupto de circulao
de notcias:
O cenrio emergente da cultura das
redes exige que cada organizao jor-
nalstica assuma a funo de articular
um sistema orgnico de saberes, aban-
donando a metfora do arquivo como
um depsito de registros do passado,
uma fonte auxiliar de pistas para re-
portagens e um guia para o trabalho dos
jornalistas, (MACHADO, 2002:54).
Para cumprir com a nova funo toda
organizao jornalstica deve adotar a forma
de uma Base de Dados complexa, que sirva,
como vimos, de estrutura para a organizao
das informaes, de suporte para composi-
o de narrativas multimdia e, acima de tudo,
permita a atualizao constante da memria
armazenada.
Neste caso, deveramos inverter o pos-
tulado aristotlico que privilegia a mnm,
centralizando o processo de preservao do
passado na correta impresso da memria,
para recuperar a funo da anmnsis, en-
carregada de ativar o passado de acordo com
as demandas do presente. Enquanto persistir
a tradio mnemotcnica fundada pela ret-
rica a lgica do arquivamento nas organiza-
es jornalsticas, incluindo as digitais, es-
tar vinculada capacidade de armazenar os
dados corretamente, ficando a atualizao da
memria em plano secundrio. O ato de
recuperar a informao no nada alm de
uma consequncia direta que pe em ao
mais a vontade do que a competncia do
usurio (COLOMBO, 1991:33). Ao usurio
cabe eleger numa tela o conjunto de selees
possveis para aceder de forma remota aos
dados disponibilizados, sem possibilidade de
colaborar para incrementar a complexidade
da Base de Dados.
306 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
A manuteno da lgica arquivstica nas
organizaes jornalsticas digitais contraria as
caractersticas da memria no ciberespao
porque mantm um processo individual e
centralizado de produo. Em contrapartida,
Palacios (2002:22) considera que a memria
no jornalismo digital seja ao mesmo tempo
mltipla, instantnea e cumulativa. Se esti-
vesse estruturada como um Banco de Dados
a organizao jornalstica poderia incorporar
tanto os usurios no sistema de produo
quanto reutilizar de forma instantnea os
fundos documentais armazenados. Como o
atual modelo de utilizao da memria
desconsidera as lgicas estruturantes do
ciberespao, os arquivos das organizaes
jornalsticas so relegados a uma situao
marginal na economia produtiva das empre-
sas, seja no processo de produo dos con-
tedos, seja como espao para testar formas
diferenciadas de captao de recursos.
O formato padro do arquivo jornalstico,
concebido como um apndice da organiza-
o, ordena o passado como um retrato fixo
e imvel no tempo, enquanto que a verda-
deira fora do passado, como diz Pedro Nava,
vem da multiplicidade e da simultaneidade
como so organizadas as lembranas para
atender as demandas do presente. As recor-
daes, sempre contraditrias, vo e vem
segundo as solicitaes da realidade atual,
sempre efmera e em constante negociao
seja com o passado, seja com o futuro
(NAVA, 2000:213). Quando organiza o sis-
tema de produo de forma independente da
memria armazenada, fica difcil para a
empresa jornalstica cumprir com sua funo
de estabelecer uma mediao entre passado
e futuro, dando ao usurio a sensao de que,
por viver em um presente contnuo, pode
controlar o futuro (GOMIS, 1991:33).
A plena incorporao pelas organizaes
jornalsticas da lgica dos Bancos de Dados
depende da utilizao casada das funes de
modelo de estruturao da informao, es-
pao para criao de narrativas e lugar para
ativao da memria. Como um simples
arquivo do contedo das publicaes passa-
das, mesmo que organizada na forma de uma
Base de Dados, uma empresa jornalstica
continua oferecendo ao usurio um conjunto
de itens isolados, como resultado de buscas
pr-estabelecidas por palavras-chave ou por
datas, por exemplo. Para que o princpio da
transcodificao seja aplicvel ao jornalismo
digital, a Base de Dados deve servir tanto
como um espao para a experimentao de
formas diferenciadas de narrativa multimdia,
quanto como uma fonte de atualizao do
presente vivido luz da memria armaze-
nada.
O primeiro requisito para constituir uma
esttica prpria para as organizaes
jornalsticas nas redes digitais passa por
perceber que nas novas mdias os elementos
constitutivos da narrativa so formatados
como Bases de Dados. Mais que lamentar
que, at agora, a Base de Dados, tenha
contado to pouco como estrutura fundadora
das diversas relaes estabelecidas dentro das
organizaes jornalsticas, deveramos iden-
tificar as verdadeiras causas deste
descompasso. Afinal, se nossa hiptese es-
tiver certa, o futuro das organizaes
jornalsticas nas redes, permanece condici-
onado a capacidade que teremos de traduzir
as habilidades potencializadas pelos Bancos
de Dados para automaticamente armazenar,
classificar, indexar, conectar, buscar e recu-
perar vastas quantidades de dados em tipos
criativos de narrar o passado imediato como
se fosse um presente projetado em direo
ao futuro (GOMIS,1991:32).
A estruturao dos modelos de produo
de contedos jornalsticos como Bases de
Dados representa um esforo para adaptar as
organizaes jornalsticas as caractersticas
dos sistemas de memorizao contempor-
neos. Na atualidade, a transferncia da res-
ponsabilidade de arquivar o passado para os
grandes sistemas sociais de memria como
as organizaes jornalsticas revela uma
progressiva exteriorizao das lembranas in-
dividuais e sociais. Uma exteriorizao, ao
menos se consideramos os modelos de ar-
quivamento nas organizaes jornalsticas,
contraditria: de um lado, considera-se que
o individuo deveria confiar cada vez menos
na capacidade pessoal de rememorao dos
fatos porque se encontra no centro de um
sistema de redes informativas, enquanto, de
outro, nos sistemas sociais de memorizao,
incluindo os jornalsticos, cabe ao usurio,
como bem define Colombo, atuar como
coadjuvante no direito de usufruir de um
passado morto (COLOMBO, 1991:119).
307 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Bibliografia
Brody, Florian. The mdium is the
memory. In: LUNENFELD, Peter
(Org.)The digital dialetic, Cambridge, MIT
Press, 1999, pp. 130-149.
Carey, James. Communication as culture.
Essays on media and society, London,
Routledge, 1992.
Colombo, Fausto. Os arquivos imperfei-
tos, So Paulo, Perspectiva, 1991.
Emery, Henry Crosby. Speculation on the
stock and produce exchanges of the United States,
AMS Press, New York,1968, 1a ed. 1896.
Fidalgo, Antonio. Sintaxe e semntica das
notcias on-line: para um jornalismo assente em
base de dados, Recife, XII Congresso Anual da
Comps, GT de Jornalismo. 2003.
Gomis, Lorenzo. Teoria del periodismo.
Como se hace el presente, Barcelona, Paids,
1991.
Gosciola, Vicente. Roteiro para as novas
mdias, So Paulo, Senac, 2003.
Guimares, Clio. Fundamentos de Ban-
cos de Dados. Modelagem, projeto e lingua-
gem SQL. Campinas, Editora da Unicamp,
2003.
Manovich, Lev. The language of new
media. Cambridge. MIT. 2001.
Machado, Elias. O jornal digital como
epicentro das redes de circulao de notci-
as. In: Pauta Geral revista de jornalismo
n 4, Ano 9, Salvador, Calandra, 2002. pp.
51-68.
Machado, Elias. Modelos narrativos no
jornalismo digital baiano. In: Pauta Geral
revista de jornalismo n 5, Ano 10, Sal-
vador, Calandra, 2003, pp. 105-119.
Nava, Pedro. Balo cativo. So Paulo,
Ateli Editorial/Editora Giordano, 2000.
Palacios, Marcos. Ruptura, continuida-
de e potencializao no jornalismo on-line:
o lugar da memria In: MACHADO, Elias
e PALACIOS, Marcos (Orgs.) Modelos de
jornalismo digital, Salvador, Calandra, 2003.
pp. 13-36.
_______________________________
1
Universidade Federal da Bahia.
308 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
309 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Linguagens da informao digital:
reflexes conceituais e uma proposta de sistematizao
Elizabeth Saad Corra
1
Nobody knows for sure how the new
interactive media will develop or how
they might shape the messages they
deliver. We must make guesses about
today, experiment with the new
technology, and try to understand
how people will relate to it. But as
we do, we have to be very sure about
our purposes. The medium may affect
the message, but the message comes
first. Just as with the use of marketing
techniques, we have to know what we
want to say before deciding upon the
best means of getting the message
through to the people we want to move
by it. - Jack Fuller, jornalista.
1. Apresentao
Desde o advento da World Wide Web
comercial, nos idos de 1992/93 e um pouco
mais tarde no Brasil, um dos aspectos mais
discutidos tem sido a configurao de uma
linguagem informativa que explorasse os
recursos tecnolgicos inovadores trazidos
pelos meios digitais a hipermdia, e que
tambm preservasse as caractersticas ineren-
tes a cada especialidade miditica, a exem-
plo do jornalismo, da publicidade e dos meios
audiovisuais.
Nossas pesquisas, tambm iniciadas nos
idos de 1992, inicialmente buscavam o en-
tendimento desta inovao tecnolgica e o
processo de sua absoro e utilizao pelas
empresas informativas
2
e, conseqentemen-
te, sua estratgia de viabilizao empresarial
e consolidao como nova mdia para as
empresas informativas
3
. O prprio processo
de pesquisa demonstrou, na medida em que
acompanhvamos as criaes, os modismos
e o desenvolvimento da informao nos meios
digitais, de que o trabalho de pesquisa
bastante aprofundado no campo da criao
de uma linguagem e definio de possibi-
lidades narrativas para a informao na web
assumia o lugar central para que as discus-
ses acerca da consolidao (ou no) de uma
nova mdia prosseguissem de forma sistem-
tica e acadmica.
Por fim, ressaltamos que a configurao
desta comunicao tambm resulta das con-
tribuies de outras pesquisas relacionadas
e integradas ao nosso tema central a lin-
guagem digital desenvolvidas pelos ps-
graduandos do Ncleo de Jornalismo, Mer-
cado e Tecnologia da ECA-USP.
2. Conceitos, recortes e delimitaes
A expresso linguagens da informao
digital que inclumos no prprio ttulo deste
trabalho desencadeia, por si s, uma srie de
linhas de pensamento e campos do conheci-
mento que se entrecruzam para buscar uma
uniformizao do entendimento da expresso,
como a Teoria da Comunicao, a Semiologia,
a Arquitetura, a Informtica, as Cincias da
Informao e a Esttica, entre outras.
Evidentemente que tal amplitude foge aos
propsitos de uma comunicao para um
simpsio e, portanto, optamos por delimitar
e recortar os aspectos levantados, de forma
a que pudssemos apresentar coerncia em
nossas anlises.
2.1. As mltiplas vises da Linguagem
O primeiro recorte necessrio refere-se ao
conceito de Linguagem, com as devidas
precaues de no enveredarmos longamente
para o campo dos estudos semiticos, sem
qualquer vinculao aos meios digitais, um
de nossos objetos de investigao. Optamos
aqui pela simplificao e pela objetividade.
O professor Teixeira Coelho, da ECA-USP,
nos apresenta uma importante correlao entre
lingstica e linguagem:
A teoria lingustica, cujo objeto de
anlise a linguagem que no deve
310 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
ser entendida como simples sistema
de sinalizao mas como matriz do
comportamento e do pensamento
humanos tem por objetivo a formu-
lao de um modelo de descrio
desse instrumento atravs do qual o
homem enforma seus atos, vontades,
sentimentos, emoes e projetos. Apre-
sentando-se assim a linguagem como
um dos fundamentos das sociedades
humanas, no era difcil prever que
a teoria lingstica acabaria por ser
solicitada a prestar conta do que
ocorria em outros campos gerados e
sustentados por aquela matriz funda-
mental: o campo da arte, da
arquitetura, do cinema e do teatro,
da psicanlise, da sociologia e ou-
tras reas. E mesmo sem convite ela
acabaria, simplesmente, invadindo
esses domnios. (TEIXEIRA COE-
LHO, 2001: 15-16)
Numa reviso mais ampla entre os di-
ferentes pesquisadores do tema, a exemplo
de SANTAELLA, 2001; CRYSTAl, 2002;
MURRAY, 1997; CHAPARRO, 2001;
PAVLIK, 2001; BOUGNOUX, 1995; COS-
TA, 2000 e CHOMKY, 1998, pudemos
restringir um pouco mais as relaes exis-
tentes entre linguagens e novas mdias e, mais
adiante neste texto, o jornalismo inserido
nesse contexto.
A grande maioria dos autores localiza a
linguagem num sistema de eixos ou ainda
de matrizes de pensamento. Todas estas
formas de conceituao inserem a linguagem
em relaes intrnsecas com a prpria lngua,
com mensagens e contedos e, alguns ou-
tros, com as formas e os meios de recepo,
os contextos culturais e as variveis
tecnolgicas.
HJELMSLEV (apud TEIXEIRA
COELLHO, 2001: 35 a 40) apresenta cinco
traos sem os quais no se pode falar na
existncia de uma linguagem: os dois eixos
o texto e a lngua; os dois planos de
expresso e de contedo; as relaes entre
expresso e contedo; as relaes entre
unidades lingsticas e a no-conformidade.
J a professora Lcia Santaella, numa
vertente peirceana, desenvolve a hiptese de
que apenas trs tipos de linguagem visual,
verbal e sonora constituem-se nas trs
matrizes de linguagem e pensamento:
a partir das quais se originam todos
os tipos de linguagens e processos
sgnicos que os seres humanos ao
longo de toda sua histria, foram
capazes de produzir. A grande vari-
edade e a multiplicidade crescente de
todas as formas de linguagem (lite-
ratura, msica, teatro, desenho, pin-
tura, gravura, escultura, arquitetura,
etc.) esto aliceradas em no mais
que trs matrizes. No obstante a
variedade de suportes, meios, canais
(foto, cinema, televiso, vdeo, jornal,
rdio, etc.) em que as linguagens se
materializam e so veiculadas, no
obstante as diferenas especficas que
elas adquirem em cada um dos di-
ferentes meios, subjacentes a essa va-
riedade e a essas diferenas esto to-
s e apenas em trs matrizes.
(SANTAELLA, 2001: 20)
J nos focando mais diretamente no
jornalismo, seus signos no campo da lingua-
gem pertencem predominantemente lingua-
gem verbal, aonde inserem-se o texto e a
escrita. Os sistemas sgnicos imagticos e
sonoros, apesar de no predominantes, pas-
sam a ganhar espao quando recursos
tecnolgicos funcionam como facilitadores da
linguagem.
Atravs de CHAPARRO podemos situar
um pouco melhor o jornalismo no campo das
cincias da linguagem:
mais no jornalismo do que em outros
campos da linguagem escrita, a cla-
reza vai alm das questes de estilo
e das capacidades do talento indivi-
dual de quem escreve. Jornalismo
texto de consumo rpido, imediato,
nos circuitos sociais. E carrega con-
sigo as subjetividades e complexida-
des de um processo interlocutrio
muito amplo e complicado. Uma
notcia, mais ainda uma reportagem,
produto da intervenincia interes-
sada de mltiplos sujeitos, alguns
deles partcipes dos fatos, outros,
intrpretes dos fatos. Nos prprios
311 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
limites das redaes, vrios jornalis-
tas atuam no percurso da notcia
nem sempre harmoniosamente. A
questo da clareza est, pois, condi-
cionada pela complicao das
interaes. (CHAPARRO, 2001: 195)
As referncias aqui citadas nos interpem
dois condicionantes na relao linguagem e
jornalismo: 1) a complexidade decorrente do
processo interlocutrio, aonde uma sucesso
de variveis e variantes vai ocorrendo ao
longo da construo da informao jornals-
tica; 2) a utilizao de recursos de estrutura
narrativa que so prprios do jornalismo,
como a recorrncia a algumas estratgias
narrativas para seu discurso referencial
4
.
Caminhando para as chamadas linguagens
digitais vemos que a maioria dos conceitos
em literatura apresentam a linguagem a uma
relao interdependente entre informao,
computador e redes de transmisso de dados.
Surgem a partir disto os termos multimdia,
hipertexto e hipermdia, que se incorporam
e, muitas vezes se misturam, ao que preten-
demos conceituar como linguagem digital.
Sabemos que ainda no existe consenso
sobre estes trs termos multimdia,
hipertexto e hipermdia. neste momento que
surgem misturas, redundncias e/ou novos
conceitos entre mdia e suporte, entre infor-
mao e comunicao, entre autoria e
interao, entre outras possibilidades.
Santaella destaca que ps digitalizao, a
transmisso da informao digital indepen-
dente do meio de transporte (fio do telefone,
onda de rdio, satlite de televiso, cabo)
(SANTAELLA, 2001:24). Assim, o termo
hiper incorpora-se construo da lingua-
gem digital, uma vez que se reporta a es-
truturas complexas alineares da informao.
Finalizando esta breve reviso dos aspectos
de linguagem apresentamos a viso de
CRYSTAL que defende, com a disseminao
da internet, o conceito de language variety:
um sistema de expresso lingstica
cujo uso regido por fatores
situacionais. [...] medida em que
se desenvolve uma lingstica para a
internet, sero necessrios modelos
cada vez mais sofisticados para
abarcar todas os elementos das va-
riaes encontradas. [...] Neste livro,
optei por uma aproximao inicial,
utilizando o termo variety sem quais-
quer outras correlaes situacionais
vinculadas linguagem. Algumas
vezes, irei utilizar gneros inseridos
na variedade. Na literatura internet
essa terminologia modifica-se bastan-
te conforme as diferentes situaes de
internet, com por exemplo, ambien-
te, espaos interativos e espaos
virtuais. (CRYSTAL, 2001: 6)
2.2. Expressividade informativa nos meios
digitais
O segundo recorte refere-se ao campo da
informao jornalstica disponibilizado nos
meios digitais e, especialmente, na web.
Apesar das recentes e importantes pesquisas
sobre o uso da web como espao para
narrativas ficcionais e tambm visuais, que
nos fornecem interessantes insights sobre a
configurao de uma linguagem digital, a
informao jornalstica nosso foco acad-
mico primordial.
Desde os primrdios e tambm num
processo de similaridade e repetio do
ocorrido com as demais mdias especial-
mente a exemplo do rdio para a televiso
se pergunta como as informaes deveriam
se expressar no meio digital, mantendo suas
caractersticas de base conceitual e, ao mesmo
tempo, aproveitando os diferenciais exclusi-
vos das NIC Novas Tecnologias de Infor-
mao e Comunicao
5
.
Como destacamos no item anterior, o
jornalismo nos meios digitais defronta-se com
os condicionantes de complexidade dos
agentes de interlocuo e a caracterizao de
um novo estilo narrativo. Novamente, esta-
mos diante de duas temticas extensas e que
ultrapassam os propsitos deste trabalho.
Apenas destacamos a condicionante narrati-
va estamos nos referenciando construo
de um estilo de linguagem verbal, sonora ou
visual. Se pensarmos na linguagem digital,
podemos pressupor que seu estilo narrativo
deveria integrar as trs matrizes de lingua-
gem atravs da utilizao dos recursos
tecnolgicos chamados por Santaella de
hiper o hipertexto e a hipermdia. Se-
gundo exposio da professora Cristina Costa,
312 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
as narrativas so maneiras de expres-
sar e realizar nossa temporalidade, tor-
nando-a to objetiva quanto a certeza
de nossa finitude e transitoriedade. So
metforas constitutivas de ordenao,
de ritmos e seqncias seriais e cau-
sais. E se no so capazes de criar re-
almente uma durao, criam ao menos
uma iluso de durao. Assim, as es-
truturas narrativas so formas de es-
tabelecer modulaes e duraes,
arquitetando a temporalidade humana.
(COSTA, Cristina, 2000: 41)
Verificamos, portanto, que o aspecto
temporalidade elemento constituinte fun-
damental para a estruturao de narrativas
que se utilizam da linguagem digital. Em
assim sendo, ao pensarmos na informao
jornalstica expressada em linguagem nos
meios digitais, h que se considerar as
variveis tempo e tambm lugar (ou espao)
como integrantes diferenciais.
Em extensa pesquisa realizada por Cristina
Costa na ECA-USP (2002), embora focada nas
narrativas ficcionais na web e suas possibili-
dades de interlocuo e interveno dos usu-
rios, a professora identifica duas variveis
importantes: a primeira o tempo narrativo
vinculado ao fato/tema, geralmente preservado
na interlocuo e interao com o usurio como
forma de orientao e preservao do discurso;
a segunda varivel o espao/cenrio narra-
tivos que proporcionam um sentido de lugar
e localizao dos protagonistas dos fatos.
Tais resultados de pesquisa, acrescidos de
autores que tambm tratam extensivamente
do tema, a exemplo de Manuel Castells
(socilogo), Milton Santos (gegrafo),
William Mitchell (arquiteto) humanistas que
tm em comum a preocupao com o ho-
mem numa sociedade em mutao nos
colocam uma segunda pressuposio para a
sistematizao de uma linguagem digital
voltada s informaes jornalsticas: as
variveis de tempo e espao como qualita-
tivas neste processo de sistematizao.
Mundo digital e sociedade da informao
vm atrelados percepo coletiva de um
mundo onde tudo muda muito rpido, uma
sociedade em que as relaes se estabelecem
sem a necessidade da presena fsica, em que
a eliminao das distncias parece ser nor-
ma. Em outra pesquisa desenvolvida por esta
autora verificamos que:
Tempo e espao perdem seus par-
metros fsicos de medio e passam
a funcionar no tempo e no lugar de
cada um de das respectivas interfaces
conectadas por uma rede de sinais
eltricos. Compreender estas diferen-
as pode parecer abstrato para es-
trategistas e publishers de mdias
digitais preocupados com sua renta-
bilidade, mas d sentido noo de
levar a informao na hora certa,
no lugar apropriado e do modo que
o usurio quer. [...] O sistema tc-
nico atual dominado pelo transpor-
te de informaes entre computado-
res que, por sua vez, possuem a
capacidade de controlar tempo e uni-
formizar as mensagens. O estado da
tcnica atual permite no s a
unicidades dos tempos, mas principal-
mente a convergncia dos momentos,
no importando o estado fsico e
concreto de pessoas e lugares. A
possibilidade de deslocamento sem
sair do lugar, de estar no fato, opinar
sobre ele e trocar experincias sem
sequer sair diante da tela de um
computador reposiciona a informao
digital. Estaramos diante de um novo
espao? (SAAD, 2003: 234-236)
Resumindo, a estruturao de estilos
narrativos para o jornalismo, utilizando-se da
linguagem digital (embora ainda no total-
mente conceituada e configurada), passa pelos
aspectos da complexidade, da utilizao dos
recursos hiper e de uma adequao de
temporalidades e espcialidades. Tudo isso,
sem deixar de lado os preceitos fundamen-
tais dos valores-notcia e da tica jornals-
tica. Fechando com mais outras variveis, a
exemplo das vinculadas aos aspectos de
viabilizao econmico-financeira e comer-
cial da narrativa jornalstica na web: susten-
tabilidade, lucratividade e oportunidade.
3. A prxis da narrativa jornalstica na web
Se considerarmos os primeiros sites in-
formativos na World Wide Web, no Brasil
313 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
e tambm no exterior, vimos surgir, desapa-
recer e ressurgir uma srie de propostas
narrativas nos meios digitais de comunica-
o que, se olhadas em conjunto ou tambm
como um processo evolutivo, ainda no se
constituem numa prxis consolidada para a
informao digital.
Tomando por base o ambiente das
redaes jornalsticas brasileiras que possu-
am/possuem produtos ou servios na web,
poderamos descrever um processo de on-
das sucessivas:
a) a disputa inter-sites sobre a prioridade
de veiculao da informao, s vezes por
diferena de segundos: qual site deu pri-
meiro?; b) a normatizao de notcia em
textos curtos e sucessivos como forma de criar
para os usurios sensaes de atualidade e
tempo real; c) o conseqente empilhamento
da sucesso do fluxo noticioso; d) a trans-
posio pura e simples da informao
construda para narrativas em meios impres-
sos para o meio digital; a utilizao do recurso
enquetes como ferramenta de
interatividade na relao usurio site; e)
um processo de repetio das narrativas
verbais nas propostas de incluso de links
sonoros e/ou de imagens (fotos, vdeos), na
inteno de incrementar a narrativa com re-
cursos multimdia; f) a febre do linkalism
6
criando hiperlinks vinculados publicidade
e no ao contedo editorial; o atual predo-
mnio dos sistemas-robs de insero de
notcias compradas em fluxos ou pacotes das
grandes agncias noticiosas globais; g) uma
perigosa tendncia em substituir narrativas
no lineares e navigacionais por verses em
formato PDF de contedos de suportes tra-
dicionais.
Destacamos, primeiramente, o aspecto dos
ritmos de publicao de informaes notici-
osas. Adriana Garcia Martinez, em sua dis-
sertao de mestrado, na qual descreve o
processo de constituio da narrativa jorna-
lstica no Portal IG, afirma:
como vimos, dos ritmos possveis de
publicao pela internet, o que pa-
rece ter sido mais utilizado pelos
portais brasileiros o do tempo
urgente. Muito rapidamente percebeu-
se no Brasil que atualizao constan-
te sinnimo de audincia. Ao defi-
nirem seus projetos editoriais, esses
portais criaram um compromisso com
a atualizao permanente, uma abor-
dagem conectada a uma idia que
define o meio como difusor de infor-
mao, mais do que formador de
opinio. [...] em redaes que funci-
onam 24 horas, 7 dias pode semana,
a periodicidade passou a se confundir
com instantaneidade. (MARTINEZ,
2003: 99)
Um segundo aspecto a ser discutido como
prxis narrativa do jornalismo na internet
brasileiro o surgimento do jornalista
empacotador, e aqui a pesquisa desenvol-
vida pela professora Pollyana Ferrari Teixeira,
que avaliou os portais UOL, Globo.com e
Terra, constatou que,
o caminho percorrido pela notcia,
desde o seu surgimento na reunio de
pauta, ou mesmo no momento em que
o reprter ou o editor acessamos oa
sites das agncias de notcias, at a
sua publicao na internet demora,
muitas vezes dez minutos. Por isso,
no jargo jornalstico empacotar a
notcia significa editar um material
que j est praticamente pronto.
(TEIXEIRA, 2002: 92)
O predomnio dos softwares ou siste-
mas publicadores tambm surge como uma
prxis j bastante comum. Tais sistemas
ultrapassam a condio de publicadores de
fluxos. Eles permitem uma pr-programao
para a publicao de contedos, automati-
zando rotinas em horrios de menor audi-
ncia, madrugadas e finais de semana; alm
de algumas verses possurem caractersticas
de agentes buscadores para rastrear os fluxos
das agncias noticiosas atravs de palavras-
chave.
Ainda nesta etapa de levantamento de
questes, a professora Maria Regina Cardeal
desenvolveu para sua tese de doutoramento
uma metodologia que combina aspectos
qualitativos e quantitativos para verificar a
presena (em termos de importncia edi-
torial) e a freqncia do fluxo noticioso
nos portais brasileiros, levando-se em
considerao as dificuldades de acesso ao
314 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
texto noticioso que, por conta da arquitetura
de multiplicao de links adotada por todos
os portais, acaba fixando o usurio na leitura
das manchetes da lista atualizada minuto a
minuto (ver Quadro 1, pgina seguinte).
Referindo-nos aos aspectos qualitativos
desse quadro, a pesquisadora definiu as seguin-
tes variveis, com base na anlise do dis-
curso: globalizao da notcia, cujo critrio
foi o foco territorial de abrangncia temtica
global ou local; caractersticas do noticirio
valor do contedo, predominncia temtica,
design do portal; e a relao notcia-tecnologia,
critrio voltado para a explorao da hipermdia
(ver Quadro 2, pgina seguinte).
Mais um recorte de anlise foi desenvol-
vido na mesma pesquisa conduzida pela
professora Pollyana: a prtica da usabilidade
7
como forma de estimular o acesso a notcias
nos portais por ela selecionados. Tenta-se,
aqui, estabelecer a relao entre contedo
e usabilidade atravs do cruzamento das
seguintes variveis: acesso s homepages nos
horrios de maior audincia; pblico-tipo;
oferta de contedos informativos.
A pesquisadora levantou uma amostragem
de 75 telas das homepages dos portais Terra,
UOL e Globo.com, na proporo de 25 telas
por marca, avaliando os espaos reservados
cobertura jornalstica, ao comrcio eletrnico,
bate-papo, comunidades, etc. Algumas de suas
concluses foram bastante significativas:
a) a grade de atualizao das primeiras
pginas dos portais assemelha-se muito com
as grades de programao de televiso; b)
os portais analisados apresentam um conjun-
to de contedos-ncora: ferramenta de
busca, bate-papo, canais de contedos
temticos, comrcio eletrnico, comunidades,
discos virtuais, e-mail, esportes, hospedagem
de pginas pessoais, jogos, tempo e notcias;
c) a informao textual preencheu quase a
totalidade das telas com resoluo 800x600
pixels; quase sempre as chamadas noticiosas
e as fotos nas primeiras pginas dos trs
portais so as mesmas ao longo dos diferen-
tes picos de audincia; d) de forma fixa ou
intermitente portais apresentam atraes
multimdia na homepage; as ofertas de in-
formao ficam expostas numa espcie de
metfora do hipermercado: o que exposto
na altura dos olhos pelas gndolas so as marcas
que interessam ser vendidas mais rapidamen-
te. No o caso das notcias nos portais.
Segundo as concluses das pesquisas de
TEIXEIRA, as informaes temticas e a
prestao de servios so as molas propulsoras
dos trs portais analisados. Quantitativamente,
atravs das pginas acessadas e registradas, foi
possvel constatar que 99% do dia-a-dia destas
redaes concentra-se em informaes e pres-
tao de servios, e apenas 1% para o tradi-
cional fazer jornalstico.
Esta breve amostragem de resultados j nos
aponta para um cenrio de no sistematizao
das atividades de uma redao estruturada para
os meios digitais que, em ltima instncia,
o locus do desenvolvimento da narrativa di-
gital. Tal cenrio nos d sustentao para apontar
dois pontos-chave: a necessidade de transfor-
mao do perfil profissional; e os aspectos de
estratgia de empreendimentos informativos
que, por conta de decises de investimento e
modelo de negcios.
Pelo lado da transformao do perfil
profissional, a pesquisa de MARTINEZ
sugere como possveis reposicionamentos: a
absoro do conceito de media literacy
8
,
cunhado por KELLNER (2001); uma
consequente transio do papel de filtrador
da realidade para um novo e desconhecido
papel de agregador.
Pelo lado do custo-benefcio do
determinismo tecnolgico que a pesquisa re-
centemente publicada desta autora prope
empresa informativa e seus profissionais ain-
da esto em gestao as tarefas de criao de
fortes vnculos com os usurios do mundo
digital. um processo de re-aprender a
reutilizar sua prpria produo de informao,
aproveitar todo os materiais de captao, a
armazenar o que antes era jogado fora se no
publicado, a potencializar com recursos
tecnolgicos o que antes era esttico, a com-
preender a informao como um conjunto re-
organizvel de dados, imagens e sons que pode
ser estruturado (atravs de narrativas espec-
ficas) adequadamente para qualquer mdia,
incluindo as tradicionais. (SAAD, 2003: 78)
4. Reflexes e algumas propostas
Podemos sugerir, a partir destas primeiras
pesquisas que os caminhos para reformular o
315 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
L O U O D A T S E M O C . O B O L G
s a i c t o n e d l a t o T
s a d a c i l b u p
a r o h / 0 6 e d a c r e c 2 8 5
e d a c r e c 5 5 1
a r o h / 6 4 , 6
0 9 1
s a d a c i f i t n e d i s a i c t o N
e t n e m a v i s u l c x e o m o c
s a i c n g a e d s e t n o f e d
s i a n o i c a n r e t n i
e P F A m o c , 3 6 1
a n a r e d i l a n s r e t u e R
o n o l u c e v O
a o l u t t o n a c i f i t n e d i
a i c t o n a d a i c n d e c o r p
o n o l u c e v O
a o l u t t o n a c i f i t n e d i
a i c t o n a d a i c n d e c o r p
s i e v c i f i t n e d i s a i c t o N
s e t n o f e d o m o c
a m e s s a n r e t x e
o t i d r c o d o a c i l b u p
9 9 1 9 1 7 5
e d s a i c t o n m e o c o F
) 1 ( s e t r o p s e
6 6 1 1 2 6
s a i c t o n m e o c o F
) 1 ( l i s a r B o e r b o s
2 1 2 8 0 9 2 1
s a i c t o n m e o c o F
) 1 ( s i a b o l g
4 0 2 6 2 5 5
) 2 ( a i m o n o c E m e o c o F 0 8 1 5 3 8 7
a c i t l o P m e o c o F 3 6 1 5
5 0 2 ; 3 0 2 ; 9 9 1 : 3 0 0 2 , L A E D R A C : e t n o F
m o c , a i r p r p o u d o r p e d m b m a t o m o c o n u o s a d a c i f i t n e d i s a n r e t x e s e t n o f e d o t n a t s e t n e i n e v o r p s a i c t o N ) 1 (
) m e g a t n o c a n e d a d i c i l p u d ( s a i r o g e t a c s a e r t n e s o c i t m e t s o t n e m a z u r c
o c o f m o c , a i r p r p o u d o r p e d m b m a t o m o c o n u o s a d a c i f i t n e d i s a n r e t x e s e t n o f e d o t n a t s e t n e i n e v o r p s a i c t o N ) 2 (
o v i s u l c x e
o t c e p s A
o v i t a t i l a u q
s e s u l c n o c s a r i e m i r P
o a z i l a b o l G
a i c t o n a d
s a d a z i l a b o l g s a i c t o n s a d o i n m o d e r p : L O U
s i a c o l s a i c t o n s a d o i n m o d e r p : o b o l G
s i a c o l s a i c t o n s a d a i c n r e d n o p e r p e t n e r a p a : o d a t s E
s i a n o i c a n r e t n i s a i c n g a s a d s e u d a r t e d o v i s n e t n i o s U
s a c i t s r e t c a r a C
o i r i c i t o n o d
o a z i e n e g o m o h a i c n d n e T
o d a c r e m e d r o l a v m o c s a i c t o n a r a p a i z a m i r P
n g i s e d m e e l a i r o t i d e a c i t l o p a n i m o d e r p a i m o n o c E
s i a b o l g s o t n e v e a a r u t r e b o c e d o a p s e r o i a M
a r a p o d a t n e m g e s - l a c o l e o d a z i n o r d a p - l a b o l g e r t n e o i r b l i u q e e t n e r a p A
r a l u c a t e p s e - o c i g r t r e t r a c e d s a i c t o n
s o a , a i c n t r o p m i e d m e d r o a s s e n , a i l r e t n i l a i r o t i d e e a c i f r g a r u t u r t s E
, e a t i e c e r r e t b o ) c ; a c r a m a m u r a x i f ) b ; o c i l b p r i a r t a ) a : s o r o f s e s e t n i u g e s
. o d e t n o c r e c e r e f o ) d
a i g o l o n c e T
s i a i r o t i d e - o c i n c t s a m e l b o r p r o p s a i c t o n e d s e i t e p e r e d o s u f o r P
a e t n a h l e m e s o s e p e r e f n o c s o v i s s e c u s e s o l p i t l m s a m e t e d a t s i L
s o s r e v i d a i c n t r o p m i e s a m e t e d s e a m r o f n i
e d a d i v i t a r e t n i a d u o o t x e t r e p i h o d o s u o a r a p l e v s i v o a m r o f n i a c u o P
. o c i t s l a n r o j o r e n g o v o n m u a m e g i r o d o n a i d m a v o N
0 8 2 : 3 0 0 2 , L A E D R A C : e t n o F
Quadro 1
Sumrio quantitativo da cobertura de um dia nos portais UOL,
Estado.com e Globo.com (Setembro 2000)
Quadro 2
Sumrio da anlise do noticirio nos portais UOL, Estado.com, Globo.com
Perodo Agosto a Setembro 2000
316 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
atual status da narrativa jornalstica na web
brasileira se entrecruzam obrigatoriamente na
busca de uma narrativa adequada linguagem
proposta pelas mdias digitais. Para isso, h
que se assumir como linha de pensamento e
valores que hoje a World Wide Web a mais
recente mdia que se incorpora aos demais
meios de comunicao. Com tal status, en-
tramos no campo da linguagem: um meio que
possibilita a produo de sentidos e signifi-
cados para o individual e tambm para o
coletivo. Sentidos e significados s so
traduzidos atravs de especificades narrativas
que tipificam o meio.
A vertente que expusemos desemboca na
emergncia de formas narrativas para a web que
contemplem a informao jornalstica em seus
diferentes gneros e expresses. Tema centro de
atenes constantes de pesquisadores como
MURRAY, PAVLIK, CRYSTAL, SALAVER-
RA, COSTA, CHAPARRO, FULLER, entre
muitos outros, dos quais destacamos:
O jornalista Manel Carlos Chaparro,
aponta para o desaparecimento da perio-
dicidade e pela mutao gentica
9
do
jornalismo no meio digital, tornando-se ele-
mentos desestruturante das rotinas narrativas:
Tocamos, assim, numa das variveis
mais interessantes e instigantes da
crise que a tecnologia criou no jor-
nalismo dirio: o desaparecimento
daquele histrico intervalo chamado
periodicidade, que organizava a
atualidade e que poderamos explicar
assim: as coisas aconteciam, eram
observadas, apreendidas e compreen-
didas, para o relato jornalstico do
dia seguinte. E assim era a vida,
organizada em ciclos de 24 horas.
(CHAPARRO, 2001: 76)
John Pavlik, professor do Center of New
Media, na Universidade de Colmbia, NY
prope que o uso das tcnicas oferecidas pelas
NIC abre espao para novos formatos nar-
rativos que buscam envolver o usurio na
navegao por contedos mais
contextualizados. Para ele, tais inovaes
provocam uma narrativa mais fluida. O
professor tambm chama ateno para algu-
mas condies para a mudana: uma
reciclagem na prxis, mudanas compuls-
rias nas estruturas das redaes e tambm
da cadeia de valor da indstria da informa-
o e, por fim um realinhamento das rela-
es inter e intra empresas informativas,
jornalistas, os diferentes pblicos: leitores,
fontes, concorrentes, anunciantes e governo.
(PAVLIK, 2001: xii)
Ramn Salaverra, Diretor do MMLab
(Mdia Lab) da Universidade de Navarra, na
Espanha, prope uma matriz de construo
narrativa baseada em clulas informativas:
...se os tipos de narrativa jornals-
tica funcionam de fato como unida-
des estruturais de sentido dentro dos
gneros jornalsticos tradicionais,
salta aos olhos sua utilidade como
critrio para decompor os mesmos
textos em conjuntos orgnicos inter-
ligados pelo hipertexto. [...] a mesma
informao poderia se decompor em
unidades textuais e infogrficas de
sentido pleno, distribudas em diver-
sas matrias correlacionadas em
funo de seus contedos. [...] tal
estrutura no pode ser considerada
como fechada, mas sim como um
conjunto de elementos conectados
pelo hipertexto cujas partes seria di-
tadas de rolar dos acontecimentos
a cada caso. (SALAVERRA, 1999)
J enveredando por formatos para esta
narrativa integradora de recursos temos as
contribuies de David Crystal que coloca
aquilo que ele chama de linguagem digital
numa relao de interdependncia s seguin-
tes variveis: as caractersticas fsicas (tama-
nho, tela, modo de conexo, etc) dos dis-
positivos de recepo e leitura dos conte-
dos; a construo de uma pedagogia para o
uso da linguagem Internet, sugerindo inclu-
sive a sistematizao dos termos usados em
salas de bate-papos e fruns de discusso;
o ensino do uso de ferramentas de busca e
a criao de toda uma nova pedagogia que
abrigue tantas transformaes. (CRYSTAL,
2001:227-242).
Crystal tambm afirma que uma das mais
significativas contribuies sociais da Internet
o contnuo enriquecimento da linguagem,
chegando a posicion-la como uma quarta
matriz de linguagem a Netspeaking:
317 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
A linguagem o corao da Internet
e o motor que aciona a caracterstica
de interatividade na rede. A Internet
no apenas um fato tecnolgico;
um fato social, com ressalta Tim
Berners-Lee; e a sua principal mo-
eda de troca a linguagem.
(CRYSTAL, 2001: 227-242)
Diante das colocaes, podemos j infe-
rir que qualquer delineamento acerca da
linguagem digital passa pela tipologia da
no-linearidade, ou tambm pelo que
LUNENFELD (2000: 10) chama de esttica
da infinitude
10
, tpicos determinantes pela
tecnologia dos ambientes digitais.
Tambm nos parece necessria a discus-
so sobre as transformaes nos processos
de aprendizagem e cognio. Nossos proces-
sos cognitivos e a grande maioria das
metodologias pedaggicas de aprendizagem
baseiam-se, ainda, em concepes positivistas
e cartesianas, portanto lineares. Ainda vemos
uma infinitude de processos onde nosso
pensamento levado a racionar numa linha
lgica de comeo, meio e fim. exceo
da pedagogia construtivista.
No por acaso, vemos cada vez mais a
aproximao entre o construtivismo e os
desenvolvimentos tecnolgicos que possibi-
litaro a constituio da linguagem digital.
Autores como Simon Pappert, Marvin Minsky
e Walter Bender exploram essa vertente.
Assim, antes da constituio de uma quarta
matriz, fundamental a transio para modelos
pedaggicos e processos cognitivos que pos-
sibilitem a concepo de uma linguagem in-
tegrada onde, verbal, sonoro e visual se con-
cretizem em narrativas e formas discursivas
naturalmente assim concebidas. Evidentemen-
te, falamos de um processo lento e longo, onde
as futuras geraes, sempre as mais envolvidas
em ambientes digitais tero a capacidade ine-
rente de concepo de contedos integrados.
Por ora, ainda temos de nos concentrar
em propor melhorias e adequaes para
promover o uso da no-linearidade, cuja
cognio ocorrer conforme processo
associativo de signos de cada indivduo.
Portanto, encerramos estas reflexes desta-
cando alguns aspectos, procedimentos e
atitudes que, no contexto ambiental do meio
informativo brasileiro, possam contribuir para
uma narrativa jornalstica no meio digital que
aproveite eficazmente os recursos
tecnolgicos j disponveis. Assim:
a narrativa jornalstica digital deve
preservar os mesmos valores ticos e
editoriais da organizao que a suporta;
a necessidade de um planejamento da
rotina redacional, incluindo preocupao
com usabilidade, usos de recursos avanados
das ferramentas de busca ou de bases de
dados proprietrias; estruturar as camadas
informacionais cabveis ao texto (ou as clulas
informativas no dizer de Salaverra);
a clareza de que a informao jornals-
tica na web assume completamente a es-
ttica da infinitude proposta por Lunenfeld,
pois, ao longo do tempo cronolgico, uma
determinada notcia vai crescendo e/ou se
reconstruindo conforme os acontecimentos;
a transio da prpria funo do jorna-
lista que, no dizer de Martinez, (2003: 137)
a maior parte do tempo, o jornalista faz
praticar um processo de tomada de decises
que excludente a angstia do filtro.
Tal transio, na web exige do profissional
um papel de produtor de correlaes,
oferecendo aos usurios opes de constru-
es de sentidos atravs da aplicao adequa-
da dos recursos como links, linhas do tempo,
recuperao de arquivos, etc.;
como consequncia, o produtor de cor-
relaes teria um perfil de formao mais ge-
neralista, amplitude intelectual e cultura e ex-
perincia na profisso. Decorre disso, uma
revalorizao dos profissionais de idade
mais madura;
por fim, a narrativa jornalstica digital
deve tambm incorporar as caractersticas de
multilinguagem, discutidas ainda nos anos
1990 pelo professor Jlio Plaza, onde o texto
passa a incorporar a iconizao do verbal-
escrito, automaes parciais de incluso de
textos, e a crescente utilizao de expresses
pictricas como grafites, logotipos e
emoticons, por exemplo.
As concluses das pesquisas de campo
apresentadas ao longo deste texto, acrescidas
das reflexes finais nos leva a considerar que
ainda o campo de pesquisas e experimenta-
es em construes narrativas para o jor-
nalismo nos meios digitais ainda tem um
longo caminho a percorrer. Mas, de fato, suas
bases j esto aliceradas.
318 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Bibliografia
Bougnoux, Daniel. La communication
contre l information. Paris: Hachette, 1995.
Cardeal, Maria Regina. Do jornal ao por-
tal: estudo sobre a iniciativa de globalizao
do jornalismo brasileiro. Tese de
doutoramento. So Paulo: ECA-USP, 2003.
Chaparro, Manuel Carlos Linguagem dos
conflitos. Coimbra: MinervaCoimbra, 2001.
Chomsky, Noam. Linguagem e mente:
pensamentos atuais sobre antigos problemas.
Braslia: Editora UnB, 1998.
Columbia Journalism Review acessada em
http://www.cjr.org/year002/mcnamara2.asp,
apud SAAD, Beth. Estratgias para a mdia
digital: internet, informao e comunicao.
So Paulo: Senac, 2003.
Costa, Cristina. A milsima segunda noi-
te: da narrativa mtica telenovela anlise
esttica e sociolgica. So Paulo: Anablume/
Fapesp, 2000.
Costa, Maria Cristina Castilho Costa. Re-
latrio Cientfico: As formas narrativas em
mdias eletrnicas. So Paulo: ECA-USP,
2002.
Costa, Maria Cristina Castilho. Primei-
ros resultados: as formas narrativas em
mdias eletrnica. Acessado em http://
www.eca.usp.br/narrativas, em maro 2003.
Crystal, David. Language and Internet.
Cambridge: Cambridge University Press,
2001.
Fuller, Jack. News Values: ideas for an
information age. Chicago: University of
Chicago Press, 1996.
Kellner, Douglas. A cultura da mdia. So
Paulo: Edusc, 2001.
Lunenfeld, Peter. Unfinished Business in,
LUNENFELD, Peter (editor) The Digital
Dialetic. Massachussetts: The Mit Press,
2000.
Manovitch, Lev, New Media from Borges
to HTML, in WARDRIP-FRUIN, Noah e
MONTFORT, Nick. The New Media Reader.
Cambridge: The MIT Press, 2003.
Martinez, Adriana Garcia. Perdidos no
ciberespao? Reflexes sobre o jornalismo
e jornalistas na internet. Dissertao de
mestrado. So Paulo: ECA-USP, 2003.
Murray, Janet. Hamlet on the holodeck:
the future of narrative in cyberspace.
Cambridge, Mss.: The MIP Press, 1997.
Pavlik, John V. Journalism and new
media. New York: Columbia University Press,
2001.
Saad, Beth. Estratgias para a mdia di-
gital: internet, informao e comunicao.
So Paulo: Senac, 2003.
Salaverra, Ramn. Da pirmide inver-
tida ao hipertexto. Revista de la Asociacin
de Tcnicos de Informtica, vol. 142, nov-
dez de 1999, pp. 12-15.
Santaella, Lucia. Matrizes da linguagem
pensamento: sonora, visual, verbal. So
Paulo: Iluminuras/Fapesp, 2001.
Teixeira Colelho, Jos. Semitica, infor-
mao e comunicao. So Paulo: Editora
Perspectiva, 2001, 5 edio.
Teixeira, Pollyana Ferrari. Usabilidade e
exerccio de jornalismo dentro do formato
portal no Brasil. Dissertao de mestrado.
So Paulo: ECA-USP, 2002.
_______________________________
1
Departamento de Jornalismo e Editorao
da ECA-USP.
2
Ver em CORREA, Elizabeth Saad. Tecno-
logia, Jornalismo e Competitividade: o caso da
Agncia Estado. So Paulo: ECA-USP, 1994. Tese
de doutoramento.
3
Ver em CORRA, Elizabeth Saad. As es-
tratgias da desconstruo: sobre o uso de es-
tratgias diferenciadas por empresas informati-
vas na Internet. So Paulo: ECA-USP, 2001. Tese
de Livre docncia.
4
Importante vincular o aspecto de discurso
referencial do jornalismo ao campo do discurso
histrico, com suas convergncias e divergncias.
5
Genericamente, poderamos listar como
caractersticas bsicas das NIC: interatividade,
flexibilidade, hipertextualidade e atualidade. J
para Lev Manovitch, seriam princpios da new
media: representao numrica, modularidade,
automao, variabilidade e transcodificao.
(MANOVITCH, 2003: 17). Por outro lado, a pes-
quisadora do MIT, Janet Murray, amplia ainda
mais os espaos possveis paras as NIC, deno-
minando este de ambiente digitais. A autora
categoriza tais ambientes como procedurais,
participativos (caractersticas relacionadas
interatividade), espaciais e enciclopdicos (rela-
cionadas imerso do usurio). (MURRAY, 1997:
71). Todo este conjunto de conceitos embasa
nossas reflexes, especialmente quando nos
referirmos aos termos NIC, meios digitais e
novas mdias.
319 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
6
A idia do linkalism foi divulgada num artigo
da Columbia Journalism Review que discutia o forte
desafio de se criar uma narrativa digital diante do
embate entre os valores-notcia e sua vinculao
a hiperlinks comerciais em nome da almejada sus-
tentao financeira dos empreendimentos.
7
Usabilidade enderea a relao entre uma
ferramenta ou uma interface digital e seu usurio.
Para uma ferramenta ser til, ela tem de permitir
aos clientes completar suas tarefas da melhor forma
possvel. (TEIXEIRA, 2002: 114).
8
O autor afirma que a alfabetizao
informtica genuna inclui no somente conheci-
mentos e habilidades tcnicas, mas tambm uma
leitura refinada, escrita, pesquisa e capacidade de
comunicar-se com capacidades intensas de criti-
camente acessar, analisar, interpretar, processar e
armazenar tanto material impresso quanto mate-
rial multimdia. (MARTINEZ, 2003, 154).
9
Tal mutao refere-se possibilidade de
expresso dos prprios atores dos fatos atravs
da internet: hoje no a atualidade que faz parte
do jornalismo, mas o inverso, segundo Chaparro.
Assim, os sujeitos produtores de notcias que
controlam os media, assistem mutao gentica
dos sujeitos produtores de acontecimentos com
atributos jornalsticos.
10
O autor afirma que o processo de nave-
gao por entre links, banco de dados, e troca
de mensagens um processo contnuo e tambm
ao mesmo tempo renovvel, ilimitado em termos
de trasnformao.
320 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
321 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Transformaciones estructurales del lenguaje en el entorno digital
Guiomar Salvat Martinrey
1
La presente comunicacin pretende
mostrar la recuperacin de la imagen como
elemento estructural del lenguaje, rompiendo
as una tendencia histrica de disociacin
de ambos elementos esencialmente asociada
a los lenguajes alfabticos. El elemento que
ha servido de catalizador para este proceso
es el desarrollo y la implantacin de las
nuevas tecnologas digitales de la
comunicacin.
En la Historia de la comunicacin existe
cierta unanimidad en considerar que la
palabra es la mejor de las herramientas de
conocimiento desarrollada por el hombre y
que con el tiempo ser capaz de conformar
un pensamiento nuevo. Se entiende que la
palabra es la base y el principio para las
posteriores formas de conocimiento, y el
siguiente salto excepcional en la evolucin
de las estructuras de pensamiento se produce
cuando el hombre es capaz de representar,
de plasmar grficamente su lenguaje.
Todas las limitaciones comunicativas
propias de la etapa oral son superadas por
esta nueva tecnologa grfica: las limitaciones
que impona el tiempo, ya que la
comunicacin oral precisaba de la confluencia
temporal de los actores, las limitaciones
propias del espacio, ya que la oralidad exiga
un estado presencial de los comunicantes, y
adems, la capacidad humana de recuerdo
sistemtico que evidentemente tena unos
lmites muy cercanos. En este sentido,
tambin las limitaciones derivadas de la falta
de una memoria histrica, del poso cultural,
de la estratificacin del conocimiento
quedarn disueltas con la aparicin del
lenguaje escrito.
La escritura, o lo que es lo mismo, la
representacin del lenguaje, le otorgar a la
palabra una dimensin insospechada. Gracias
a la capacidad de organizar macroestructuras
se crearn civilizaciones complejas y
sofisticadas, y en la misma medida lo har
con el pensamiento.
El origen de la escritura se encuentra en
las formas grficas ms rudimentarias. Su
desarrollo tiene un sentido eminentemente
prctico: Las imgenes, en otras palabras,
se hicieron para ser utilizadas. Fue esta forma
de uso de las imgenes la que, en algn
sentido, irrumpi en la eflorescencia del arte
de la Era Glacial. Pero no fue una revolucin
artstica; fue una revolucin cultural.
(Crowley y Heyer, 1997:32)
2
Trazados y lenguajes se desarrollan casi
de forma paralela, aunque histricamente se
diferencian en el tiempo, ya que s existe esa
diferencia temporal si entendemos por
escritura un sistema de comunicacin escrito
que permita, con efectividad, sustituir al
lenguaje hablado. Es la etapa de lo que se
ha llamado protoescritura, en la cual signos
muy elementales como muescas o rayas son
capaces de albergar un mensaje. En realidad
queremos insistir de nuevo en el carcter
funcional que tiene la imagen desde sus
orgenes: Era un simbolismo a la vez
csmico e intelectual, altamente ritualizado,
sin duda unido a manifestaciones verbales.
() La invencin del trazo permanece
entonces subordinada a la produccin de una
informacin (rememoracin til, enumeracin
contable, indicacin tcnica) (Debray,
1994:186)
3
Los trazos van adquiriendo una
complejidad, una sofisticacin, tanto en su
significado como en la forma de ser
ejecutado. La imagen como espejo del mundo
real est presente en las primeras formas de
comunicacin y como resultado se obtendrn
dos grandes modelos de comunicacin que
darn lugar a algunos de los sistemas de
escritura con mayor repercusin.
En primer lugar nos encontramos con la
escritura pictrica, que siglos despus vamos
a recuperarla para argumentar parte de la tesis
que aqu se expone. Es una de las formas
ms simples de escritura, pero que por eso
mismo est dotada de unas caractersticas
322 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
muy peculiares. Consiste bsicamente en
narrar hechos o acontecimientos a travs de
imgenes copiadas del mundo real con una
evolucin en el tiempo, de manera muy
similar y bajo los mismos principios que una
tira ilustrada. Una manera infantil y primaria
de contar historias mediante dibujos de menor
o mayor complejidad y calidad.
Esta aparente limitacin comunicativa a
travs de la cual es imposible transmitir
pensamientos medianamente complejos,
resulta ser poseedora de un valor excepcional:
no mantiene ningn tipo de conexin con las
diferentes lenguas y puede ser escrita, o
sea codificada, y traducida o leda, por
cualquier persona que hable cualquier
lenguaje, no siendo necesario que ambos
interlocutores compartan una lengua concreta.
Mucho menos an existe una dependencia
de un cdigo escrito que deba conocerse para
ser descifrado.
Es cierto que su valor a la hora de ser
capaz de transmitir segn qu contenidos es
francamente limitado, pero no es menos cierto
que la historia recurrir a ello en un momento
dado como la gran alternativa a su encrucijada
comunicativa.
En segundo lugar, nos encontramos con
las escrituras jeroglficas. Es una forma de
escritura diametralmente opuesta a la
anteriormente descrita. En este caso est lleno
de convenciones del propio lenguaje hablado,
y por tanto, slo podr ser compartido entre
personas que conozcan dichas lenguas. Un
baile de pictogramas primero y de ideogramas
ms tarde llevaron a la consecucin de un
sofisticado sistema de escritura mediante los
cuales la capacidad para transmitir
informacin era ya infinitamente mayor al
que ofreca el otro uso de la imagen. Todo
un universo simblico cuya evolucin llevar
al origen de smbolos fonticos. Con el uso
de signos sonoros, los fonogramas, se amplan
las capacidades de la memoria y a travs de
la estratificacin del conocimiento se
desarrolla una nueva manera de cognicin.
Y es en esta etapa alfabtica donde la
palabra escrita sufre el primero de los
desencuentros que tendr con la imagen en
su madurez visual. Esta primera escisin la
encontramos en el momento en que se
abandonan las formas de escritura
pictogrficas y aparecen los sistemas de
escritura en los que las diferentes imgenes
no representaban ideas u objetos, sino que
representaban los sonidos de cada palabra.
Los sonidos a su vez se representan por un
conjunto muy limitado de grafas, signos
convencionales que en su infinitas
combinaciones ofrecen la posibilidad de
albergar cualquier tipo de concepto, los mas
abstractos e imprecisos, y por supuesto
tambin de pensamiento. Son este tipo de
escrituras alfabticas las que disociarn
definitivamente la imagen y la palabra,
aunque la historia ofrecer mecanismos para
realimentar esta situacin.
La imagen a su vez recupera cierta
libertad al romper las ataduras con el campo
lingstico de la escritura. A partir de entonces
abandona un papel secundario en la
comunicacin para brillar por si misma en
unas circunstancias diferentes ampliando su
funcin plstica.
An despus de deslindarse de la imagen,
los rasgos alfabticos no abandonan el sentido
esttico y artstico de donde emanaron.
Aunque con una naturaleza distinta a la
originaria iconogrfica y simblica, se
desarrolla el arte de la representacin de la
palabra, la tipografa. En todas las culturas
y escuelas se conocen y se desarrollan formas
de representacin de las formas de su palabra
que son exquisitas, que representan y
diferencian su pensamiento. La tipografa es
una de las ciencias ms complejas y muchas
veces menos reconocida, no por sus mtodos
arquitectnicos de ejecucin, sino por las
profundas relaciones con la psicologa del
inconsciente de la cultura que la desarrolla:
toda huella puede ser considerada como una
marca de psiquismo. (Gauthier, 1996:203)
4
Esta idea se puede llevar hasta el extremo
de que, a pesar de la tremenda evolucin que
sufren los caracteres durante miles de aos,
hay quien considera que debajo de toda esa
arquitectura tipogrfica subyacen todava los
trazos de las antiguas representaciones
grficas con su capacidad de sntesis, su
intuicin de las formas, y el conocimiento
de los elementos y los recursos grficos.
(Martn Montesinos/Mas Hurtuna, 2001:40)
5
En cada uno de los sistemas o culturas
alfabticas se iba imponiendo
progresivamente este distanciamiento entre la
palabra hablada y la representada, que se
323 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
consolidara con todas las tecnologas de
reproduccin de la imagen y el texto que se
incorporaban, ya que eran distintas y
antagnicas en muchos casos.
Un hito importantsimo resulta de la
mecanizacin de la escritura, de la aparicin
de la imprenta, que debido a su efectividad
se extiende rpidamente en el s. XV. Trae
consigo la diversificacin del trabajo y la
especializacin en cada una de las labores
necesarias para la reproduccin en serie de
los escritos. La modificacin que se produce
en la propia produccin de los lenguajes
fomentan la separacin de los cdigos
alfabticos de los grficos, ya que establecen
modos de trabajo absolutamente distintos,
hasta el extremo de que si texto e imagen
se tenan que plasmar en una reproduccin
se elaboraban de manera independiente y slo
en el ltimo momento se montaban en el
soporte que compartan.
Sin embargo la tecnologa de la imprenta
no triunf en todas las culturas por igual.
En las sociedades no alfabticas, aquellas que
seguan utilizando la imagen como la base
de su escritura, no pudieron diferenciar los
mtodos de produccin de las escrituras y
las imgenes, e inventos como el de la
mecanizacin de la escritura no resulta en
absoluto interesante. En culturas como la
china es imposible que resultara rentable
fundir y reutilizar miles de caracteres, que
son los smbolos grficos que tiene su
escritura, frente a los veintitantos de la
mayora de las escrituras alfabticas.
A otro nivel, la tipografa crea una nueva
relacin con lo grfico. Desde que se
abandona la imagen con un referente real y
se limita a sus representaciones fonticas, la
escritura gesta una dualidad entre las dos
caractersticas que la definen, entre el aspecto
lingustico y el aspecto grfico que van a
mantener todas las tipografas. Es el texto
como signo o el texto como imagen, es
conocerlo en su vertiente esttica o en su
faceta de funcionalidad.
Durante siglos se pierde la espontaneidad,
al menos de la personalidad y la naturaleza
del escribiente, y se somete a la tipografa
a la fundicin de unos tipos mviles
sometidos a unas reglas muy estrictas. Con
la llegada del siglo XX cierta frescura invade
el mundo de la edicin y comienza a
reivindicarse este aspecto grfico de la
tipografa hasta el deseo de elevarla a
categora de arte. Son los inicios, muchos
siglos despus, de un acercamiento al entorno
esttico del texto.
El reencuentro se produjo en el entorno
digital. Slo en este campo en el que se
desarrollan las nuevas tecnologas ha sido
posible que ambos medios de expresin
confluyan de nuevo. Estamos en lo que
algunos autores (Ong, 1997)
6
llaman oralidad
secundaria. La ltima etapa de la
comunicacin que llega con la formalizacin
del sonido mediante la tecnologa: la radio,
el cine, la televisin. En los ltimos aos
la implantacin masiva de ordenadores
personales permiten considerarlo como un
nuevo medio de comunicacin con tremendas
repercusiones sobre la sociedad y el
conocimiento.
La digitalizacin de los medios de
comunicacin permiti que se aunaran de
nuevo la imagen y el texto. Unific ambos
medios, el textual y el grfico, expresndolos
en el mismo cdigo, convirtindolos a ceros
y unos, aplicando el lenguaje informtico que
permite una codificacin conjunta. Lo
realmente llamativo es que este lenguaje
intermedio en realidad slo es un cdigo para
la elaboracin, almacenamiento, exhibicin
o reproduccin de la misma. Pero en el
momento ltimo recobra su naturaleza
analgica y debe interpretarse segn los
cdigos que rigen las lecturas y las imgenes.
A partir de entonces se entiende que uno
y otro medio, texto e imagen, en definitiva,
eran imgenes en la produccin digital,
naturales o artificiales, pero imgenes al fin
y al cabo. En los aos 80 se empieza a
considerar la posibilidad de tratar ambos
medios con los mismos sistemas. Se entiende
que las imgenes naturales son las fotografas,
dibujos e infografas, mientras que las
artificiales son todas aquellas que representan
imgenes textuales, ya que son
representaciones de los fonemas que se
articulan.
Los procesos informticos de edicin
electrnica y sobre todo, los procesos de
digitalizacin de imgenes (de todo tipo de
imgenes) que se ofrecen en el mercado van
a conseguir una cosa: que los dos tipos de
imgenes a los que aludamos al principio
324 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
se elaboren de un modo exactamente igual,
en un proceso nico de principio a fin. ()
Esta simultaneidad texto-imagen ser el eje
de partida para cuantos productos
informativos nazcan a partir de la dcada de
los noventa. (Prez Cuadrado: 2000: 69)
7
.
El resultado es que fue a travs de un
lenguaje comn para los dos medios cmo se
logr el reencuentro. Pero lo ms importante
es que de un lenguaje y un entorno conjunto
se llegar a las multiplicidades de la plataforma
y las nuevas culturas. Abordaremos el
problema centrndonos en dos aspectos
fundamentales de la incidencia de las nuevas
tecnologas digitales sobre los mensajes:
a) Los nuevos medios de comunicacin
digitales, fundamentalmente los que se
perciben a travs de un monitor de ordenador
y estn conectados a una red de informacin
externa, necesitan una adecuacin de los
contenidos que tradicionalmente se ofrecen
en los distintos medios de comunicacin, as
como las estructuras y representaciones
formales que lo sustentan.
b) El intercambio de grandes cantidades
de informacin en tiempo real desdibuja lmites
histricos, fronteras espaciales y las diferentes
culturas tienden a mixtificarse. Se impone una
nueva cultura con afn conquistador y
divulgativo, estamos en el complejo y manido
entorno de la globalizacin.
Estas dos circunstancias unidas tienen una
serie de exigencias muy concretas que
convergen en determinados puntos. Ambos
aspectos requieren de un nuevo lenguaje, en
el primer caso, para que sea especfico y se
adapte perfectamente a la nueva plataforma,
un lenguaje ms sencillo, claro, directo y en
algunos momentos un lenguaje con un
carcter ms ldico, con ciertas
reminiscencias publicitarias y con grandes
intenciones de seduccin.
En el segundo de los casos, se necesita
un lenguaje que se adapte a lugares
tremendamente dispares y distantes, a culturas
antagnicas y a formas de conocimiento
distintos. Esto no obliga a que todas las
pginas webs o los portales compartan la
misma lengua (los traductores automticos
suplen con eficiencia y premura esta
situacin), pero s que determinados cdigos
sean compartidos, tales como las formas en
la direccin de la lectura, las distribuciones
de los elementos en la pgina o el simple
reconocimiento de un smbolo que es una
flecha hacia la derecha o la izquierda y que
se comprende que es el avance o el retroceso
de un pgina.
Entre una necesidad y la otra, de una
manera instintiva y primaria, la plataforma
digital recuper un viejo tipo de escritura,
medio olvidado y denostado, arrinconado para
gneros infantiles o para cuestiones muy
puntuales. Este tipo de lenguaje escrito
responda de manera inocente a todas las
necesidades que se planteaban: estamos
hablando de la escritura pictrica.
Probablemente, la herramienta perfecta para
la universalizacin de los medios digitales,
sobre todo, teniendo en cuenta que se
considera que la percepcin visual desarrolla
el canal sensorial, el ms importante a la hora
de recibir informacin en la especie humana.
Por un lado, la escritura pictrica es una
forma de comunicacin visual que no necesita
grandes estructuras mentales para ser
descifrada, y no podemos perder de vista el
carcter ldico que impregna los aspectos mas
serios de los nuevos medios de comunicacin.
La gran cantidad de informacin que ofrecen
las plataformas digitales se caracterizan
adems por un afn por parte del lector de
discriminar la informacin que no le interesa,
aspecto provocado por la infosicacin, y por
requerir un tiempo de lectura
significativamente menor que los medios
impresos.
Adems, el hecho de que la escritura
pictrica no dependa de una lengua concreta
y que pueda ser descodificado por cualquier
persona independientemente de su idioma
para su perfecta comprensin le abre infinitas
posibilidades de expansin en la red.
Otros aspectos positivos que debemos
resaltar es su capacidad de sintetizar y
simplificar labores y conceptos, as como
aparecer de un modo mucho ms atractivo
y seductor en su aspecto esttico.
Podemos decir, por tanto, que supone el
retorno de la imagen como signo, realizado a
travs de una compleja codificacin, a su forma
ms elemental, a una imagen como
representacin. Al igual que en las civilizaciones
orales, y fundamentalmente en este entorno
digital, las imgenes cumplen la funcin de
los signos. Esos semforos no representan,
325 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
indican. Esquematizando, simplificando,
concentrando. (Debray, 1994: 186)
8
.
Formas elementales de comunicacin que
por otra parte no han sido abandonadas nunca,
pero si relegadas a un supuesto segundo plano
al encontrar formas de expresin que permitan
desarrollar un pensamiento complejo. Es la
recuperacin masiva de esas formas
elementales para el medio de comunicacin
de la globalizacin. Cabra preguntarse aqu
cuales sern las consecuencias que podremos
observar dentro de unos aos de la
readaptacin de esta frmula.
Sin embargo, es cierto que este tipo de
lenguaje no es suficiente para expresar ideas
de una mnima complejidad, pero para eso
estn los diversos cdigos alfabticos, ya no
debemos pensar que estos medios que
describimos deben ser excluyentes. Digamos
que ambos son necesarios, como otros muchos,
y que el autntico arte de la comunicacin
est en conocer cuando se debe recurrir a cada
uno de ellos en segn qu momento.
_______________________________
1
Universidad Europea de Madrid.
2
Crowley, David y Heyer, Paul (1997), La
comunicacin en la Historia. Tecnologa, cultura,
sociedad, Bosh Comunicacin, Barcelona.
3
Debray, Rgis (1994), Vida y muerte de la
imagen. Historia de la mirada en Occidente,
Paids Comunicacin, Barcelona.
4
Gauthier, Guy (1996), Veinte lecciones sobre
la imagen y el sentido, Ctedra, Madrid.
5
Martn Montesinos, J.L. y Mas Hurtana, M.,
(2001), Manual de tipografa, del plomo a la era
digital, Campgrafic, Valencia.
6
Ong, Walter J., (1997), Lo oral, lo escrito
y los medios de comunicacin modernos, en La
comunicacin en la historia, Bosh comunicacin,
Barcelona.
7
Prez Cuadrado, Pedro (2000), La
importancia de lo digital en el proceso de
fabricacin de diarios, en La experiencia digital
en presente continuo, Universidad Europea-CEES
Ediciones, Madrid.
8
Debray, Rgis (1994), Vida y muerte de la
imagen. Historia de la mirada en Occidente,
Paids Comunicacin, Barcelona.
326 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
327 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Espaos Multifacetados em Arte Novas Formas, Novas Linguagens
Helena Santana
1
e Rosrio Santana
2
I. Introduo
As origens do espectculo multimdia
encontram-se nos rituais primitivos quando
o Homem concebia um objecto artstico,
social, religioso e cultural onde interagiam
diversos elementos, nomeadamente o fogo,
a dana, o canto, a msica e diversos efeitos
sonoros, dependendo do objectivo a que se
destinava e propunha. O seu desenvolvimen-
to e criao encontra-se contudo condicio-
nado pelo desenvolvimento dos diferentes
meios que utiliza. Assim, e ao longo dos anos
50 e 60 surgem a luz e o som. Integrados
e desenvolvidos por inmeros criadores,
nomeadamente Iannis Xenakis em
Les Polytopes, as possibilidades que
oferecem, bem como os vrios filtros, os
diversos sistemas sonoros ou o raio laser,
permite a criao de imagens sonoras e
grficas vrias. Os sistemas de projeco de
imagens, inicialmente projectores de filmes,
permitem a criao de um outro universo
discursivo um universo de imagens que
contrape (ou no) o universo sonoro
3
.
Actualmente a definio de espectculo
multimdia compreende a utilizao sincro-
nizada de diferentes mdia convergindo no
desenvolvimento de um tema, ou objectivo,
predefinido.
II. Espaos multimdia
Veculo de comunicao de uma realida-
de, de uma vontade, de um pensamento, os
espectculos multimdia servem-se de meios
prprios e interdisciplinares potenciando a
pluralidade e a multiculturalidade. As pos-
sibilidades que oferecem, mltiplas, consti-
tuem um desafio. Como meio de expresso
artstica, permitem a convergncia de dife-
rentes reas do saber.
Os mdia, empregues como material
constituinte da obra, interagem com os demais
elementos segundo parmetros e hierarquias
prprias, reduzindo a separao entre a arte
e a vida, concebendo um objecto artstico
o espectculo multimdia - onde a
multiculturalidade, a interdisciplinariedade
e a diversidade de meios e expresses pre-
domina. De difcil realizao pela quanti-
dade e qualidade de meios que requerem,
revelam-se de uma riqueza mpar anunci-
ando o seu desenvolvimento, no incio dos
anos 60, uma arte total. A confluncia de
vrias formas de comunicao num nico
objecto artstico onde se interpenetram vrias
noes coreogrficas, musicais e teatrais
origina um tipo de colagem caracterizado
pelo movimento. A coexistncia em palco
de diferentes formas de expresso alarga os
horizontes da criao conduzindo produ-
o de numerosos espectculos multimdia
e interactivos.
Les Polytopes
Na Europa, Xenakis vai produzir alguns
destes espectculos utilizando o computador
para coordenar luz e som. O primeiro destes
espectculos compe-no em 1972, e o se-
gundo em 1973, para as termas romanas de
Cluny em Paris. O espao em forma de T
oferece ao compositor um novo desafio: como
conceber uma estrutura para fixar os pontos
de luz e som. A estrutura concebida, dupla,
permite uma grande liberdade na disposio
das estruturas luminosas e sonoras. No
entanto, o compositor dispe estes pontos de
uma forma bastante simples, utilizando uma
estrutura ortogonal. Em seguida questiona-
se: O que fazer com todos estes pontos?
Como estruturar tudo isto? Que figuras
sonoras e luminosas utilizar? Quais as
melhores face ao resultado pretendido?...
Assim, e inicialmente, concebe um conjunto
de figuras, estruturas e elementos que no-
meia metaforicamente utilizando termos como
nuvens, labirintos, rios, lagos tentculos... Em
seguida formaliza-os
4
.
328 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Para alm dos pontos de luz contm ainda
3 raios laser, reflectidos por diferentes es-
pelhos animados segundo dois planos por
pequenos motores elctricos. Os motivos, as
figuras geomtricas, modificam-se constan-
temente quer na sua cor, quer na sua direc-
o, localizao ou forma. Realizada frac-
o de segundo, a sua variao cria diferen-
tes esculturas cinticas. A banda sonora,
composta no Estdio Acousti em Paris,
contm espaos de timbres modulados con-
tinuamente.
Em Perspolis Xenakis cria um espect-
culo mais denso utilizando um conjunto
diversificado de elementos que confluem para
um espectculo de luz e som, encomenda do
V Festival Internacional de Artes de Chiraz
Perspolis, Iro. A obra, Perspolis, criada
a 26 de Agosto de 1971 nas runas do palcio
de Darius I - o Apadana, tem uma durao
de 56 minutos. O espao fsico do palcio
oferece ao pblico a possibilidade de se
movimentar em 6 reas de escuta sendo a
msica difundida por um conjunto de colu-
nas dispostas em trs crculos
5
. Na montanha
em frente, perto dos tmulos reais, encon-
tram-se vrios projectores que difundem para
o universo uma coreografia luminosa. No
cume, encontram-se dispostas vrias foguei-
ras. Ao longo da montanha, descendo len-
tamente e de forma desordenada, vrios
grupos de jovens transportam tochas de fogo
criando linhas que se dispersam e movimen-
tam pela montanha formando um conjunto
diversificado de figuras geomtricas e cons-
telaes de luz e fogo. No final, juntam-se
entre os dois tmulos e escrevem em fogo
Ns trazemos a luz da terra. Em seguida,
passam a ravina, entram pelo pblico desa-
parecendo, a pouco e pouco, na floresta de
colunas do palcio. Gigantesca, Perspolis
uma obra abstracta, densa e complexa, cuja
fora abrupta investe, tanto sobre os senti-
dos, como sobre o intelecto. [Para Xenakis],
corresponde ao rochedo sobre o qual esto
gravadas diversas mensagens hieroglficas de
uma forma compacta e hermtica, sendo im-
possvel conhecer o seu significado.
6
La Lgende dEer (1977), uma das obras
mais longas do compositor foi criada num
espao de caractersticas nicas O Diatope
7
.
Encomenda da Westdeutscher RundFunk,
comporta sons electrnicos concebidos no
CEMAMu, microsons, sons concretos de
diversos instrumentos tradicionais e rudos
de objectos e materiais batidos uns nos outros.
Devido pluralidade e diversidade das fon-
tes sonoras, a audio da obra permite, e
origina, um vasto conjunto de imagens
mentais. A continuidade absoluta, predo-
minando a modulao sonora e tmbrica. O
som, movimentando-se continuamente, remo-
dela o espao em espirais e atmosferas de
sons com rugosidades vrias.
O espectculo luminoso contm diferen-
tes configuraes luminosas mveis, pontos,
linhas, etc., encontrando-se a organizao dos
diferentes movimentos luminosos, contnuos
ou descontnuos, regida por funes mate-
mticas
8
. Sendo um espectculo onde as
superfcies curvas das paredes da tenda
condicionam e transformam a percepo dos
seus componentes, esta obra evidencia os
movimentos dos pontos luminosos e um
movimento contnuo das duas componentes
do espectculo luz e som. Espaos de timbre
e cor cobrem e invadem todo o espao da
tenda - O Diatope.
Em Polytope de Mycnes, uma obra de
1978, o pblico encontra-se sobre o flanco
de uma montanha face cidade. Entre eles
encontra-se um grande vale de onde se avista
o Monte Elias. A obra combina 18 pontos
sonoros e dramticos, rcitas de Homero,
hinos de Sfocles, versos de Eurpedes, coros
de squilo, 12 projectores antiareos, uma
procisso de crianas, um rebanho de cabras
com sinos e tochas de fogo e uma banda
sonora. No incio do espectculo so ento-
ados por um coro textos de Helena de
Eurpedes. Em seguida, por um conjunto de
colunas dispostas de forma a que todo o vale
seja inundado de som, ouvem-se declama-
es em dialecto, posteriormente traduzidas
em grego moderno, assim como, vrias obras
do autor, entre elas Mycnes Alpha,
Persephassa e Psappha. A partir de um palco
que permite a repercusso do som de uma
montanha para a outra atravs do eco, so
ainda executadas diversas obras orquestrais
e corais do compositor, terminando o espec-
tculo com Oresteia para coros e instrumen-
tos. Paralelamente decorre uma procisso que
oferece flores.
329 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
A parte luminosa comporta diversos
momentos, iniciando com a criao de um
tecido luminoso por vrios projectores an-
tiareos. Situados perto das cidades de
Tirynthe e Argos, formam uma pirmide de
luz esttica. Em seguida, surge no vale um
conjunto de tochas, pontos de fogo, desenhan-
do vrios motivos plsticos. Um fogo imen-
so surge regularmente no cimo do Monte
Elias, e um filme, apresentando os tesouros
dos tmulos antigos, projectado sobre os
muros da cidade. Xenakis faz subir pela
montanha um rebanho de cabras criando outra
constelao de luz
9
. Um grupo de soldados
descendo a montanha transportando tochas
acesas anuncia o fim do espectculo. Polytope
de Mycnes foi o maior espectculo do autor.
Bach2Cage
Bach2Cage um espectculo multimdia
onde confluem diversos domnios do saber
10
.
Mais do que um espectculo, Bach2Cage
um processo, um laboratrio experimental
de cruzamentos de msica/artes performativas
com multimdia/arte digital. Desenvolven-
do uma constante actualizao as suas
diferentes verses procura uma interaco
com o pblico e com os seus autores e
actores, sendo cada uma das verses,
consequncia de um processo de procura, de
indagao, de conhecimento, de aprendiza-
gem e transformao de todos os que o
integram. Assim, a obra de dois autores
maiores da Histria da Msica Bach e Cage
revela-se o pretexto para um processo de
criao que se encontra em contnua trans-
formao work in progress. No entanto,
no ser entendimento dos seus autores a sua
re-produo, re-criao, re-interpretao ou
re-leitura condicionada por um conjunto de
condicionantes criativas. A obra e o universo
criativo dos dois compositores so relidos,
reavaliados e inseridos de uma forma nova
no processo de criao. Como exemplo
referimos Tango Perptuo, uma aluso ao
poema de Cage Perpetual Tango, obra que
se insere num universo musical Piazzoliano,
interagindo igualmente com um conjunto de
imagens e aces teatrais que aludem
oposio de elementos e realidades. A
mquina de escrever, recorrente numa das
verses do espectculo, igualmente uma
aluso a John Cage representando uma verso
de 0 0, uma obra que consiste na reali-
zao de uma qualquer aco desde que esta
seja disciplinada. O momento inicial do
espectculo alude a 4 33. Enquanto o
pblico entra na sala e se disponibiliza frui-
se a obra que se desenvolve autnoma na
sala
11
.
A referncia a Bach encontra-se em Bossa
bem temperada onde no Preldio em D
Maior do Cravo Bem Temperado so cola-
dos e interpolados fragmentos de obras de
Gilberto, Jobim, Veloso ou Regina. Esta
aco, no destri, no entanto, a fluncia e
mestria tcnica, formal e discursiva do seu
autor. O espectculo finaliza com Msica
onde somos convidados a fruir um rap, uma
verso contempornea e urbana de An die
Musik: bate no corpo e o corpo sente...
som ardente... voz e pensamento, razo e
sentimento... lao eterno, cu, inferno, infi-
nito, vazio, rodopio... big-bang inicial,
apocalipse final, eclipse total, pecado origi-
nal, pr do sol, nascer da lua, gua, fogo,
terra crua, chuva, bzio, som de rua. to
estranho o tempo perde o tamanho....
Denunciando uma pluralidade e multi-
culturalidade marcadas, esta obra contribui
para que o objecto artstico adquira diferen-
tes rostos e evolua numa multiplicidade de
formas e conceitos. A diversidade de cami-
nhos propostos reflecte a diversidade cultu-
ral e racial de uma sociedade que, em
contnua transformao, tenta responder a
exigncias, transformaes e questes fun-
damentais que se colocam ao ser humano
enquanto criador.
III. Espaos multimdia e educao
A escola, local de convergncia e vivn-
cia de uma comunidade, que pela sua na-
tureza e diversidade se manifesta, de uma
forma geral, sempre aberta a novas experi-
ncias, revela-se um local propcio para a
realizao e concepo de espaos de cria-
o multifacetados. Estes, motivo do interes-
se e curiosidade por parte dos discentes
tornam-se apelativos, integrando o aluno na
escola, fundamentando a sua educao arts-
tica. A multiplicidade de saberes exigida na
concepo de tais eventos, o esforo e o
trabalho de equipa exigidos na sua criao,
330 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
fomentam ainda uma responsabilidade face
aos outros e obra a realizar, e o desen-
volvimento do esprito de interajuda indis-
pensveis ao desenvolvimento e formao do
indivduo.
A aquisio de conhecimentos e o estudo
direccionado e vocacionado para um objec-
tivo, a concepo do espectculo, levam o
aluno a pesquisar e a adquirir uma srie de
conhecimentos que no se encontram desli-
gados de um objectivo, de uma realidade, e
que de outra forma no seria possvel inte-
grar na sua formao, no seu currculo. A
concepo e estruturao do objecto artstico
implica ainda a hierarquizao e o domnio
claro e objectivo de todas as componentes
do mesmo. O uso de uma linguagem arts-
tica, nova e complexa, e a utilizao de uma
multiplicidade de saberes nica, implica
igualmente a apreenso de diferentes noes
e aces implcitas ao acto criador, que
devero ser geridas e assimiladas por todos
os intervenientes do espectculo a que se
procura dar forma. O discente torna-se um
artista, criando, interpretando, investigando
e concebendo um produto no qual intervm
desde o primeiro instante.
O homem, criador e investigador por
natureza, tenta atravs da procura incessante
de novos caminhos, conduzir-se para novos
nveis de entendimento, conhecimento e
existncia. Enquanto criativo, representa um
mundo interior produto de uma educao e
interaco com o meio. Sendo assim, no fica
indiferente s evolues cientficas e
tecnolgicas que se processam tendendo a
integr-las no processo de criao. Fruto de
uma sociedade em contnua transformao
representa-a atravs da obra, o seu reflexo.
De difcil realizao e concepo tanto
pela enorme quantidade como pela qualidade
de meios exigida, estes espectculos revelam-
se no entanto de uma riqueza impar, e um
contributo educativo de inegvel valor. A re-
alizao de espectculos desta natureza, onde
interagem vrios domnios do saber e dife-
rentes formas de expresso artstica, revela-
se bastante complexa. A sua concepo,
estruturao, produo e realizao, implican-
do o conhecimento e a aquisio de uma
multiplicidade de saberes que se torna bas-
tante til na estruturao e definio do
processo de ensino aprendizagem, faz destes
eventos formas novas, originais, inovadoras,
seno fundamentais no processo educativo
inserindo-se dentro de uma pedagogia de
projecto.
Inserindo-se dentro de projectos
educativos, que se encontram encerrados nas
suas prprias possibilidades de execuo, no
devero nunca perder de vista a concretizao
de um conjunto de objectivos. Nestes, con-
fluem, tanto a pedagogia de projecto, como
a pedagogia por objectivos. Atravs do
projecto o homem cria, implicando a reali-
zao de um projecto, a existncia de uma
estratgia que defina as diferentes etapas do
mesmo, e uma calendarizao precisa das
tarefas, e objectivos, a cumprir. A estratgia
do projecto, permitindo a sua realizao,
contribui para a sua definio e
sequenciao
12
.
O tipo de trabalho que apresentamos
insere-se dentro de um projecto com as
caractersticas do projecto de aco educa-
tiva ou projecto educativo, um projecto
concebido por diferentes membros da comu-
nidade escolar, e que visa o aluno enquanto
criador, e enquanto membro de uma socie-
dade, e o projecto de formao. Concebido,
tanto por docentes, como pelos discentes, a
sua aco desenvolve-se exteriormente ao
espao da escola consequncia da qualidade
do projecto idealizado e concretizado. Visan-
do o aluno enquanto indivduo em formao
e enquanto ser criador, membro de uma
sociedade, inserem-se dentro de um projecto
de formao: pela qualidade, originalidade e
dimenso que possam possuir, podem, e sem
qualquer restrio, sair do espao da sala de
aula, ou mesmo da escola. Assim, e em
consequncia, agem e interagem com a
sociedade em que se inserem. Para alm de
um espao de formao e criao sero ainda
espaos de aco e transformao, permitin-
do a aquisio, o desenvolvimento e a in-
vestigao de contedos vrios, aplicados em
seguida num projecto mais vasto onde
interagem diferentes domnios do saber.
Atravs do projecto educativo o aluno
confronta-se com o real, interage com o meio,
desenvolve as suas capacidades intelectuais,
criativas e sociais, fomentando a investiga-
o direccionada e sistematizada com um fim
nico. Realizando esta aco, o aluno age
segundo uma metodologia que se situa numa
331 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
linha prxima da scio-antropologia. Os
agentes da aco ficam ainda implicados
ideolgica e socialmente, pressupondo uma
interaco entre a teoria e a prtica. Estes
espectculos potenciam igualmente um pro-
cesso de ensino aprendizagem muitas vezes
transdisciplinar e multidisciplinar. Assumin-
do a implicao dos que o concebem e
realizam, fomentam e apostam no trabalho
de equipa revelando e relevando os seus
constituintes.
IV. Concluso
Expresso de uma vivncia, o espect-
culo multimdia constitui uma forma plural
de expresso e comunicao. A procura
incessante do belo, e de novas formas de
expresso, conduz o criador ao longo de uma
viagem que muitas vezes adquire contornos
mpares. A ns, cabe-nos a misso, se assim
o entendermos, de entrar nesses mundos,
seguir, explorar e investigar esses universos,
deixando-nos invadir por realidades sonoras
e artsticas que nos transformam, de forma
mais ou menos marcada, depois de
imergirmos e emergirmos da obra.
Sabendo que os intervenientes neste
processo mantm relaes de interaco que
levam sua influncia reciproca, esta deter-
minar a personalidade e a postura do in-
divduo face composio musical, msica
em geral e a todas as outras formas de arte.
ainda de considerar que a msica, a cri-
ao artstica contempornea e as novas
tecnologias da informao e da comunica-
o, induziro o confronto consigo prprio,
e com o mundo exterior a si, levando o
estudante a autodefinir-se atravs de uma
constante pesquisa das estruturas discursivas
e estticas da obra. Essa aprendizagem pode
tomar como referncia vrios autores, cor-
rentes tcnicas e estticas, com uma aplica-
o no quadro especfico de cada disciplina.
A orientao deve ser conduzida de forma
a que o estudante alcance os objectivos
propostos, atravs da descoberta do som e
da sua estrutura, dos instrumentos e tecno-
logias operantes, sem modelos preexistentes,
a no ser, eventualmente os mecanismos e
as formas pessoais de expresso. Funde-se
assim a descoberta do interior de si, utili-
zando um objecto exterior, o som e as novas
tecnologias da informao e comunicao.
Imergindo no mundo contemporneo o in-
divduo surge metamorfoseado e transforma-
do por estes, agentes de educao e inova-
o.
332 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Bibliografa
Aymerich, C., Expresin y arte en la
escuela, la expresin musical/ la expresin
como auxiliar didctico, Barcelona, Edito-
rial Teide, n 3, 1981.
Gloton, R., LArt lcole, Paris, PUF,
1971.
Gordon, E., The Psychology of Music
Teaching, New Jersey, Prentice Hall, 1970.
Hargreaves, D. J., Infancia y educacin
artstica, Madrid, Ediciones Morata, 1991.
Ley, M., La mise en scne du conte
musical, veil esthtique et thmes dateliers,
Courlay-France, Editions J. M. Fuzeau, 1985.
Sproccati, S., Guia de Histria da Arte,
Lisboa, Editorial Presena, 1999.
Swanwick, K., A Basis for Music
Education, Windsor, Nfer/Nelson, 1991.
_______________________________
1
Departamento de Comunicao e Arte,
Universidade de Aveiro.
2
Escola Superior de Educao, Instituto
Politcnico da Guarda.
3
Em exemplo o discurso grfico desenvol-
vido por Le Corbusier para o espectculo frudo
no Pavilho Francs da Exposio Universal de
Monte Real em 1967 o Pavilho Philips.
4
Tomando como exemplo o rio, podemos
afirmar que constitudo por molculas, um
conjunto de partculas muito pequenas, que ter
necessariamente uma corrente, uma direco e um
dbito especfico. As diferentes molculas, repre-
sentadas por um conjunto de dados que podem
ser tratados matematicamente, atravs das leis da
estocstica, so representadas por pontos de luz,
e transportadas a diferentes pontos do espao
favorecendo sempre uma direco determinada.
Contudo, nunca imposto um itinerrio nico.
5
O compositor compensa atravs deste pro-
cesso, a falta de densidade e intensidade do som
ao ar livre.
6
XENAKIS, Iannis, Perspolis, Philips 6521
045.
7
A sua concepo foi inspirada pela leitura
de vrios textos, nomeadamente A Lenda de Eer
da Repblica de Plato, Poimandre de Hrmes
Trismgistre, um texto sobre o infinito includo
em Pensamentos de Pascal e um texto sobre a
Supernova de Kirschner.
8
A afinidade entre a msica e os outros
domnios do conhecimento, nomeadamente a
matemtica, foi evidenciada pela primeira vez
pelos grandes filsofos gregos. Neste contexto,
verificamos que alguns compositores organizam
o discurso e concebem os seus universos sonoros
atravs de modelos matemticos como a teoria
e o clculo das probabilidades, a estatstica, a teoria
dos jogos, a teoria dos conjuntos, a teoria dos
crivos, a lgica matemtica, a seco de ouro, a
srie de Fibonacci ou o fractal. A formalizao
do acto de compor prende-se com a necessidade
de organizar, e estruturar o discurso, de uma forma
lgica e coerente.
9
No cu encontram-se diversas constelaes
fixas, no solo encontram-se diversas constelaes
mveis. A astronomia, chama de constelao, a
um grupo de estrelas, que devido a estarem fixas
conserva a sua estrutura. Alguns destes agrupa-
mentos estrelares lembram formas especficas
como a Lira, a Grande Ursa ou o Touro. Utili-
zamos a metfora para designar por constelao
de sons, a estrutura, configurao sonora, obtida
pela emisso de um mesmo objecto sonoro por
vrios instrumentos dispostos em diferentes lo-
cais do espao fsico do crculo instrumental. Estas
constelaes de som adquirem as formas mais
variadas, sofrendo diferentes processos de vari-
ao como a translao, a rotao, a inverso, ou
mesmo a transformao da sua forma original.
10
Bach2Cage um projecto desenvolvido no
Departamento de Comunicao e Arte da Univer-
sidade de Aveiro tendo como investigadores res-
ponsveis os docentes Paulo Rodrigues, Nuno Dias
e Mrio Vairinhos.
11
No podemos deixar de referir as
condicionantes estticas e filosficas que envol-
vem estas duas obras, nomeadamente a proble-
mtica do tempo e do espao musical, do material
e constituintes da obra, da aco e integrao no
objecto artstico por parte de realidades exteri-
ores a ela.
12
No entanto, no podemos esquecer que o
termo projecto encerra vrias nuances. Segundo
Francine Best existem vrios tipos de projecto.
Projecto de aco educativa ou projecto educativo.
Concebido por diferentes membros da comunida-
de escolar visa o aluno enquanto criador e en-
quanto membro de uma sociedade. Projecto
pedaggico. Desenvolvido por professores perma-
nece dentro do espao da instituio, mas no
obrigatoriamente no espao da sala de aula.
Projecto de instituio. Este gnero de projecto
foca as estruturas de funcionamento da prpria
escola. Projecto de formao. Concebido tanto por
docentes como pelos discentes, a sua aco pode
desenvolver-se exteriormente ao espao da escola
como consequncia da qualidade do projecto
idealizado e concretizado. Projecto de zona.
Incidindo numa determinada zona de aco es-
colar, este projecto concebido por entidades de
diferentes ministrios.
333 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
You cant see me: Contributo para uma teoria das Ligaes
Ivone Ferreira
1
No vs os perigos com que
o destino te ameaa? Esto ainda
afastados, mas se no tiveres firmeza
com grande antecipao, em breve
estaro contigo. Tentaro sobretudo
convencer-te a procurar ver-me. Como j
frequentes vezes to repeti, se me vires
uma vez, nunca mais me vers.
Eros
Antes morreria mil vezes do que
faria qualquer coisa que pudesse
romper uma unio to doce.
Psich
Mais do que pronunciar-me sobre algu-
ma teoria, procurarei estabelecer um
paralelismo entre uma fbula antiga, a de Eros
e Psique, e o funcionamento da Internet e
o tipo de relaes sociais por ela fomenta-
das, relaes que, a nosso ver, se asseme-
lham s existentes no mundo fsico, sofren-
do, apenas, uma mudana de espao, do
mundo das relaes presenciais para um local
onde as relaes so invisveis e insensveis
(apenas porque no podemos tocar o outro).
Entre as histrias do mstico Lucius
Apuleius, descobre-se a de Eros e Psique,
a mortal que, de to bela, provoca inveja
prpria Vnus, e Eros, o senhor das ligaes,
que espalhava confuso pelo mundo. Vnus,
criadora de todos os elementos, sente-se
desprestigiada por ser equiparada em beleza
com uma mortal. Procura vingar-se e pede
ajuda ao seu filho, um jovem malicioso e
cheio de audcia, conhecido pelas paixes
desordenadas e pelas suas inmeras malda-
des. O seu nome: Eros. Seria ele o vingador
da desertido dos templos de Vnus. A
vingana seria fazer com que Psich se
apaixonasse pelo pior dos homens, conde-
nando-a, deste modo, infelicidade.
As irms de Psique tinham j casado com
homens abastados, s aquela estava sozinha.
O pai, suspeitando de ira celeste, consulta
o orculo de Apolo, implorando um esposo para
a filha. Mas a resposta foi para que a aban-
donasse numa rocha onde um terrvel monstro
imortal a iria buscar. E como a profecia tinha
que ser cumprida, assim foi. Psich aban-
donada no local combinado, aps ter passado
pelo luto pblico. Acabou por cair no sono,
embalada pelo sopro do Zfiro que haveria de
transport-la. Acorda algum tempo depois, j
num lugar magnfico e coberto de riquezas. Ao
fim da noite, quase sem se aperceber, j o
monstro estava ao seu lado e a tomara por
esposa. De manh desaparecera, tal como
chegara, sem que ela o tivesse visto. E o
episdio repetia-se dia aps dia, nunca o via,
limitava-se a usufruir das coisas que tinha
sua disposio. E no poder v-lo era para
Psich estranho, tal como estranho para o
homem conceber o infinito. (Moura: 2002, 3)
Tomou, ento, Eros por marido e olhou para
ele como olharia qualquer cidado para a
tecnologia with caution, but rarely with fear
(Katz citado por Marcelo, 56.)
Passava os dias atrada pelas maravilhas
do lugar onde agora habitava. A pouco e
pouco, foi-se aventurando e explorando o
espao ao redor, tornando-se cada mais
audaciosa at transpor o limiar. A admi-
rava a sbia e ampla arquitectura dos com-
partimentos onde se acumulavam imensos
tesouros. Numa palavra: nada havia de pre-
cioso no universo que no se encontrasse ali;
mas, qualquer que fosse o espanto em que
mergulhava o espectculo das inumerveis
riquezas, o que sobretudo a admirava era que
nenhuma barreira, nenhum guarda, impedis-
sem a entrada naquele tesouro universal
(Apuleius, 114). Mas a riqueza no foi su-
ficiente para suprir a ausncia do outro. Eros
vinha apenas uma vez por dia ter com ela,
sempre de noite. De manh desaparecia, tal
como viera. Sentia-se perdida e sem recurso.
Dizia ela: entristeo-me fechada numa bela
priso, privada de qualquer contacto com as
criaturas humanas (Idem, 116).
334 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Ora uma ligao to feliz mas com
tamanhas lacunas encontra sempre oposio
de algum. Eros avisara-a desde o primeiro
dia que esta relao corria perigo. Tentaro
sobretudo convencer-te a procurar ver-me.
Mas, como j frequentes vezes to repeti, se
me vires uma vez nunca mais me
vers(Idem, 120).
A oposio viria de fora, da famlia da
esposa, mas os avisos do marido no foram
suficientes para impedir que Psiqu deixasse
que as suas irms, movidas por inveja, se
aproximassem com conversas mansas destina-
das a provocar-lhe dvidas. Alertavam-na dos
perigos que corria ao deitar-se com um mons-
tro a quem nunca vira. Era necessrio armar-
se, pegar numa navalha bem afiada e escond-
la na cama. Preparar tambm uma lmpada de
azeite. Quando ele dormisse, era s pegar na
lmpada e na navalha e cortar a cabea ao
drago. E Psiqu assim fez. O destino prepa-
rara a derradeira armadilha, a profetizada pelo
orculo. Apenas tinha aproximado a luz...que
viu ela? O mais doce, o mais amvel de todos
os monstros: Eros em pessoa. Arrependida de
no ter ouvido os conselhos do marido, quis
matar-se com a prpria arma com que pensara
mat-lo mas aquela beleza pediu que o admi-
rasse mais uma vez. Quis ento saciar-se de
amor, tocar aquele corpo, mas a lmpada deixou
cair uma gota de azeite sobre o ombro do senhor
das ligaes. Tu queimas o autor de todos os
fogos? Tu, que foste inventada por um amante
que queria gozar, mesmo durante a noite, da
viso daquela a quem amava, assim que tu
proteges os amantes? (Apuleius, 128.) E a pu-
nio profetizada vem: a ligao estava termi-
nada ou, pelo menos, temporariamente
desactivada.
A Tcnica interfere no quotidiano. Esta
premissa ponto assente mas que os novos
media inauguram uma nova identidade do
indivduo, com novas possibilidades, trans-
formando a sociedade actual numa outra mais
ajustada s expectativas da condio huma-
na, ainda est a ser descoberto.
A relao Eros/Psique era, por assim dizer,
uma relao comum. No fosse Psique no
poder v-lo e teramos uma relao comum:
a unio de duas pessoas por um lao sexual
e com uma casa prpria. A novidade neste
relacionamento fictcia, tal como o nos
relacionamentos virtuais.
O ideal de Mcluhan era que os media
tecnolgicos unissem a espcie, criando uma
comunidade global semelhante s comunida-
des tribais. Ao contrrio do idealizado, es-
tamos perante unies peer to peer, entre um
ente individual e outro ente individual, lo-
calizados em locais geograficamente distan-
tes. Se entendermos que nas formas de
interaco mediadas no h envolvimento
completo porque s um envolvimento fsico
pode ser total, no compreenderemos a forte
relao entre Eros e Psiqu, uma vez que
existia uma barreira entre eles
Esta fbula escrita no incio da Histria
Ocidental contempla as formas de interaco
dos indivduos nesta nova fase
comunicacional e as expectativas que os
rodeiam. A fbula de Eros e Psiqu comea
com a constatao de uma frustrao (a
impossibilidade de encontrar marido para
Psique, apesar da sua beleza) e a crena numa
maldio, decorrente da consulta ao orculo.
Psiqu estava ainda sozinha. o pai que
consulta o orculo na tentativa de resolver
esta situao. E so os pais que, acompa-
nhados da comunidade (em que se inclui
famlia, vizinhos, conhecidos, etc.), fazem o
luto e a abandonam no lugar determinado.
Aps este episdio, raramente so feitas
referncias aos pais ou a outros mortais. Diz-
se apenas que Psiqu sofre com a ausncia
da famlia mas no ousa procur-los. Como
explicaria ela estar casada com um semi-deus,
algum a quem no v mas com quem se
sente feliz? Os pais, provavelmente, julga-
ram a filha morta e choraram por ela. E que
feito das pessoas que acompanharam Psich
rocha, enquanto esperava Eros? Onde esto
os mortais a quem Vnus pediu que loca-
lizassem Psich? Cumpriram a sua misso
e desapareceram.
A nica aluso feita ao mundo exterior
refere-se s irms, que acabaro por sofrer
um fim trgico. Na sua sede de vingana,
so enganadas. Lanam-se no espao, ofe-
recendo-se ao Amor mas nem mesmo depois
de mortas chegaram aonde queriam, ao alvo
dos seus insensatos desejos; porque os seus
membros, quebrados e dispersos pelas rochas,
foram devorados pelas feras e pelas aves de
rapina(Apuleius, 131.) Ficam desfeitas,
partidas em pedaos. o fim de todas as
referncias. Como tal, Psiqu fica sozinha,
335 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
a menos que consiga restabelecer a ligao
nica figura possvel: Eros. urgente
arranjar um mediador que a leve ao seu
marido, e as figuras disponveis so os deuses
que no so entidades arbitrrias mas figuras
que tm todo o sentido no delinear de uma
teoria das ligaes. Psich procura interme-
dirios, algum que restabelea a ligao, que
lhe devolva Eros. Antes de viver naquele local
poderia recorrer famlia, vizinhos ou
amigos, mas agora pode falar, sem dificul-
dade, com os deuses com quem se cruza no
caminho. Vemos, ento, que a partir da
relao com Eros, Psich encontra-se enre-
dada numa nova rede de ligaes.
Recorre em primeiro lugar a P, figura
da fuso, que une as formas animais e as
formas humanas, filho de Hermes e mensa-
geiro dos deuses mas nem este a pode ajudar.
Continua a caminhada em busca do esposo
e entra no primeiro templo que encontra, o
de Ceres, deusa da multiplicao. Nem esta
a ajuda, com receio do castigo de Vnus.
Encontra o templo de Juno, protectora das
ligaes contratuais mas nem ela a pde
auxiliar. Como se no bastassem os males,
Vnus toma conhecimento da unio do filho
a uma mortal e sua maior inimiga e ficou
encolerizada. Mandou procurar Psiqu em
todas as partes para a castigar. A Eros
ameaou p-lo na companhia da Sobriedade,
que o castigaria pela abstinncia. Resta a
Psiqu entregar-se livremente a Vnus, que
a submeter a inmeras provas, a fim de a
castigar.
A primeira destas consiste em separar um
monte de gros e dividi-los por espcies. So
as formigas que fazem o trabalho, usando
o mesmo processo que a rede utiliza quando
digitamos uma palavra num qualquer motor
de busca: - Laboriosas filhas da terra com-
padeam-se dos perigos que corre a esposa
do Amor; voem em socorro da mais bela das
jovens! (Apuleius, 142, 143.) Prova supe-
rada. A ligao funcionou, como notou Vnus:
Feia criatura, isso no obra tua, mas sim
do insolente a quem agradas. (Idem, 143)
obra do senhor das ligaes.
Partindo desta analogia, o aparecimento
da Internet deu-nos o livre acesso s fontes
de informao. Um acesso que levou o
homem a querer ultrapassar o espao do
visvel, apesar de as linhas telefnicas e as
ondas hertzianas j terem ultrapassado este
patamar. A novidade est na multiplicidade
de localizaes de informao: no h um
emissor e um receptor localizados num local
especfico. O projecto designado por Internet
Protocol (IP), criado nos anos setenta, viria
a determinar a evoluo da comunicao em
rede, colocando vrios pontos em comuni-
cao. A comunica com B e este com C. E
assim sucessivamente, at que nenhum dos
pontos esteja isolado. Se um computador no
est ligado a outro e por sua vez estes ligados
rede, ficam na contemplao do isolamento
total, o que gera situaes de dependncia.
(Marcelo, p.18) A tarefa de Euler para saber
quantas vezes teriam os habitantes que re-
petir a travessia de uma das pontes de
Konigsberg para atravessar as sete pontes,
seria agora mais difcil. No h uma estrada
nica a percorrer, h mirades delas, inme-
ros endereos de pginas, todas interligadas
entre si. No h estradas, seria pouco, mas
um sistema de redes leva o nosso pedido
outra parte do mundo e traz-nos a resposta
em alguns segundos:
Yes, I heard you!
(Lazlo Brabasi)
Partilhamos da opinio de Rodrigues
quando diz que o modelo da Internet con-
siste numa dupla rede: uma rede de circu-
lao de mensagens, conservadas numa
espcie de memria, a que os utentes esto
conectados por circuitos electrnicos, e uma
rede aleatria e transversal primeira,
interconectando os utentes entre si, indepen-
dentemente da distncia geogrfica, social ou
cultural que os separe (Rodrigues por
Marcelo, 133), ligao que feita a uma
velocidade quase vertiginosa. A distncia no
espao era sempre acompanhada pela distn-
cia no tempo (300 kms a 100 kms hora =
3 horas de viagem) Agora vemos um e-mail
chegar em segundos a outra parte do mundo.
Are you there? Yes, you may come in. Est
sempre algum do lado de l.
As tecnologias do-nos a possibilidade de
deixarmos de estar confinados a um lugar
fsico. No permitem apenas um conjunto de
transformaes e fuses humanas que tornam
possvel um novo tipo de formas corporais
mas permitem tambm a produo e o
controlo da informao e a simulao e outras
entidades. Fazem-se e refazem-se mundos.
336 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Voltando fbula, a segunda prova
colocada por Vnus consiste em pedir nora
que lhe traga um novelo de l de ouro retirado
de carneiros selvagens. A soluo -lhe
segredada por Zfiro, o mensageiro de Eros.
Prova ultrapassada. A terceira, trazer um balde
de gua de uma fonte rodeada de um enorme
rochedo, aparentemente inacessvel por to-
dos os lados. As guas rolavam por um canal
profundo e apertado, que despejava no vale
prximo. De cada lado, duas cavernas, com
dois drages acordados de dia e de noite.
Esta prova pode levar-nos, simbolicamente,
s questes de segurana na rede e levar-
nos a indagar se as leis do mundo fsico
estaro aptas para reger os mundos virtuais.
Um sistema governamental fsico parece
obsoleto e incapaz de congregar pessoas
situadas num espao virtual. Este um dos
problemas abordados na colectnea editada
por Peter Ludlow, Crypto Anarchy,
Cyberstates, and Pirate Utopias. Os drages
so exemplo das firewalls procurando barrar
acesso a hackers. Que fazes tu? Retira-te,
pensa em fugir ou morrers!(Idem, pg.145)
Uma guia vai ajud-la, em memria da altura
em que o Amor prestara a Jpiter. Funciona
a memria da ligao, tal como os nossos
computadores funcionam com a memria em
cache.
Resta a prova final. Pegar numa caixa,
entrar no inferno e de l trazer uma caixa
com algumas parcelas de beleza. Chegar at
l implica uma srie de passos: descobrir a
entrada, levando um bolo de cevada em cada
mo e duas moedas na boca. No falar a
ningum l dentro. Dar uma moeda a Caronte
para que possa entrar, um bolo ao animal
que guarda o palcio de Proserpina. Uma vez
l dentro devia recusar-se a sentar-se mesa
e a comer as iguarias que lhe apresentassem.
Pediria apenas um pouco de po duro e
comeria sentada no cho. Traria a caixa, mas
sem a poder abrir. No regresso o mesmo
percurso: o bolo a Crcero e a moeda a
Caronte. Feito o percurso, Psich estaria a
salvo, logo que resistisse ao desejo de ter
a beleza para si. Mas no conseguiu e caiu
em sono profundo. Eros foi em seu auxlio
e acordou-a. Apelou a Jpiter, defendeu a sua
causa e este concordou em consentir o
casamento. Tranquilizou Vnus, dizendo que
o seu filho no casaria com uma mortal. Eu
torno-os iguais, para que o casamento seja
legtimo e legal. Bebe, Psich, e s imortal!
Nunca o Amor se separar de ti, o himeneu
une-vos para sempre!(Idem, 51)
Ultrapassada a primeira fase das provas
em que feita a triagem das fontes de
informao - obra realizada pelas pequenas
formigas, e superadas as barreiras que pre-
tendiam impedir o acesso s fontes de in-
formao - os drages que guardavam a fonte,
vemo-nos em frente a uma nova realidade.
Por um lado um vasto nmero de info-
excludos que as oposies governamentais
no se cansam de referir e que nesta fbula
esto representados pelos pais de Psich; por
outro, a existncia de um nmero cada vez
maior de addicted: os levados ao Hades que
no resistem a abrir a caixa. esta a maior
das provas a ultrapassar. Estamos ainda na
fase da incompreenso. Afinal o que que
est em jogo: Um mero instrumento tcnico,
uma ligao informao, ou o acesso ao
outro?
A ausncia fsica, patente nesta fbula,
tem contribudo para que duvidemos da
possibilidade de existirem relacionamentos
entre indivduos que no podem tocar-se,
relacionamentos algo primrios. Estas novas
formas de relacionamento (no creio que lhe
possamos chamar novas porque temos rela-
cionamentos semelhantes aos que caracteri-
zam o mundo fsico, com a diferena de
existir uma separao geogrfica entre os
pares) provocam alteraes na psich do
indivduo (Kerchove, 20), na medida em que
consistem numa adulao do ego, confundin-
do as emoes e fomentando o desequilbrio.
Aquilo a que Freud chamava realidade
era sempre o problema de uma realidade
social, o problema da ligao aos outros e
no de uma realidade fsica. sempre o
problema de se organizar no seio de uma
realidade humana e social, a realidade dos
outros homens, das instituies e valores.
Agora a identidade livre e depende apenas
da nossa escolha.
A utilizao de uma identidade
exploratria, baseada nas narrativas infantis,
em que podemos fingir ser quem quisermos,
e que pode ser trocada a qualquer momento,
no pacfica para o ser humano. Podemos
escolher uma identidade uma vez e, depois
de jogarmos duas ou trs vezes o mesmo jogo,
337 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
j sabemos quais as personagens que tm mais
sucesso. Basta treinar para escolher o que
queremos ser. As tentativas valem o esforo,
uma vez que o prmio alcanado superar
as frustraes e os constrangimentos da
realidade, tal como Psique. O mundo das
tecnologias ou dos semi-deuses permite-nos
explorar o que quisermos, aparentemente sem
sermos vistos, num mundo com o poder
ilimitado dos sonhos que gratifica a criati-
vidade e a ominipotncia. Com esta eroso
do possvel e impossvel, real ou imaginrio,
a nfase fica nas ligaes (Robbins, 140).
H reminiscncias de sentimentos e fantasias
de omnipotncia quando se regressa ao
mundo fsico, a a frustrao ainda maior.
A realidade artificial designada de acordo
com os ditames do prazer e do desejo,
motores das ligaes, motores que esto a
apelar a um comportamento regressivo e a
desejos solipsistas. (Robbins, 146)
H, contudo vantagens. Os utilizadores
no ficam constrangidos pela presena do
outro mas tambm no h toque. (Ser ele
preciso?) Depois, enredamo-nos numa rede
que fomenta a aparente invibilidade. Apa-
rente, dissemos, porque o no ser visto
fictcio. O homem j no pode esconder-
se, tal como Psich no podia esconder-se
de Vnus. Quem o senhor A? Posso tentar
localiz-lo atravs de um motor de busca.
O comum mortal sabe que o FBI utiliza
mecanismos de controlo inseridos nos pro-
gramas da Microsoft. Os prprios sites
instalam cookies para conhecerem o perfil
dos seus utilizadores. a cultura do
desvelamento, posso ser feliz assim...mas
quem ser o outro que no vejo? melhor
pegar na navalha e na lmpada, na tcnica
e na cincia, para saber quem est do outro
lado de l.
Os relacionamentos de hoje, acompanham
a nossa vida quotidiana, fazem parte dela.
A relao Homem/tcnica mostra-se nesta
relao Psich / Eros, derivam um em
relao ao outro, interpenetram-se e hibridam-
se: Eros comete pecados como os mortais,
Psich aspira divinizao. Actualmente,
podemos utilizar um media que nos pe em
contacto com pessoas do outro lado do
mundo, d acesso a toda a informao (o que
fascinou Psich foi no haver guardas na-
quele imenso lugar que tinha sua dispo-
sio) mas durante o dia de trabalho, o que
conta a palavra amiga, o jogo do quem
s tu e ser que eu sou quem digo ser? mas,
apesar de tudo, no nos podemos ver. Porque
tambm, nas ligaes sociais, deixar o outro
ver-nos implicaria tirar toda a magia, seria
o cair da mscara. Se esta falhar, procura-
remos outra ligao que supra a lacuna. Se
for visto, o fim do mistrio. Resta procurar
outro n de ligao ou encontrar o que se
perdeu.
A utopia volta da tecnologia
computacional escapar aos constrangimen-
tos fsicos. O sonho a cumprir deixar a
carne e a imortalidade para trs para formar
uma relao pura e incontaminada, atravs
da tecnologia. O corpo ideal no se cansa,
no tem constrangimentos nem frustraes
mas na busca desse corpo que os nerds
se tornam vegetais. Afastam-se da sociedade,
o que revela uma certa lacuna na comuni-
cao face a face, o que os leva a emergir
nesta nova realidade. Diz Rotzer que um s
mundo j no suficiente, queremos muitos.
Mas, acima de tudo, o que mais se verifica,
a transposio para a rede das necessidades
do quotidiano. O que levou Psich a Eros
foi a incapacidade humana de suprir a sua
necessidade. As fronteiras fsicas esto di-
ludas, a informao circula quase livremen-
te num constante vaivm. O fascnio vem de
acreditarmos que uma simples ligao s
redes telemticas parece trazer-nos o mundo
inteiro ao domiclio e p-lo ao nosso alcan-
ce. (Marcelo, 79) Foi o que aconteceu a
Psich. Estar com Eros era a garantia de que
estaria tudo bem. E mesmo quando a ligao
foi quebrada ficou a memria dela. As provas
que Vnus colocou mortal Psich foram
resolvidas por ajuda de seres que trabalha-
ram em memria de servios feitos pelo
Amor. Estamos suspensos entre duas condi-
es: a nostalgia do mundo fsico (as remi-
niscncias que Psique tinha da famlia) e a
presena num lugar ptimo em que tudo est
nossa disposio.
H, ainda, algo de alucinao perante esta
tecnologia dos sonhos e dos milagres que leva
o homem a julgar-se transcendente e, ao fim
da tarde, a famlia dos amigos invisveis
que aparece, como afirma Rheingold. You
cant see meporque fica sempre o desejo
de uma identidade protegida. Quanto mais
338 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
se mostra, mais se perde a magia. E o sucesso
dos chats e programas de troca de mensa-
gens tem a magia do vu que fica por
desvelar. E tambm You dont know me que
revela uma certa introprojeco solipsista
porque, apesar de tudo, na Internet, est
(quase) tudo na nossa mente. Tudo parte de
ns. A ideia do outro, do monstro est em
ns.
H uma relao de transferncia para o
computador, Eros no era Homem mas era
ele que podia resolver os problemas de
Psich. These models (em que a Internet
est includa) also shape how people select
and experience things in their lives that are
NOT human, but so closely touch our needs
and emotions that we want to imbue them
with human characteristics. We humans cant
help but anthropomorphize the elements in
the world around us. Its in our blood (The
Dishinibishion Effect)
O que feito da mortalidade de Psich,
da sua fraqueza? Terminou ao unir-se ao elo
que Eros, conseguiu a imortalidade. Tentou
todas as mediaes para recuper-lo e con-
cluiu que no precisava delas. Foi sozinha,
entregar-se me do Amor para conseguir
ter acesso a ele e conseguiu. Psich torna-
se num novo media, um novo n donde
partiro novas ligaes. Torna-se mais um
ponto da rede, no mundo de Eros. Um mundo
aberto a todas as possibilidades, um espao
fludo, oferta de mltiplos percursos e pos-
sibilidades infinitas (Moura, 4) Um mundo
em que You are Me, I am you, We are all
together.
339 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Bibliografia
Apuleius, Lucius, Fbula de Eros e
Psich in O asno de Ouro, Lisboa, Edio
Amigos do Livro, s.d., pginas 105-158.
Brabasi, Albert-Lszlo, Linked. The New
Science of Networks, Cambridge, Perseus
Publishing, Captulos 1 e 2.
Breton, Phillipe, Le culte de lInternet.
Une menace pour le lien social?, Paris,
ditions la Dcouverte, 2000, 125 p.
Bragana de Miranda, Jos, Cruz, M
Teresa (Org.), Crtica das Ligaes na Era
da Tcnica, Lisboa, Tropismos 2002, 335 p.
Bragana de Miranda, Jos, O fantas-
ma da mquina, Jornal de Letras, Tema
Cibercultura, 3/11/1999.
Carvalho de Oliveira, Rosa Meire, De
onda em onda: a evoluo dos ciberdirios
e a simplificao das interfaces in BOCC.
Featherstone, Mike, Burrows, Roger
(Eds.), Cyberspace, Cyberbodies, cyberpunk-
Cultures of Technological Embodiment,
London, Sage Publications, 1995, 273 p.
Figueiredo, Emilio, Los territories de la
cibercultura. (http://www.analitica.com/
cyberanalitica/neroli/4376065.asp)
Hamman, Robin B., Computer
Networks linking Networks Communities: A
study of the Effects of Computer Network
use upon pre-existing communities. (http:/
/www.socio.demon.co.uk/papers.html)
Hamman, Robin B., Computer networks
linking network communities: effects of AOL
use upon pre-existing communities. (http:/
/www.socio.demon.co.ok/cybersociety/)
Hamman, Robin B., Rhizome@Internet
- using the Internet as an example of Deleuze
and Guattarys Rizome, University of Essex,
May 1996, (http://www.socio.demon.co.uk/
rhizome.html).
Hamman, Robin B., The role of fantasy
in the construction of the Online other: a
selection of interviews and participant
observations from cyberspace (http://
www.sociodemon.co.uk/fantasy.html).
Ludlow, Peter (Ed). Crypto Anarchy,
Cyberstates, and Pirate Utopias. Cambridge,
MIT Press, 485 p.
Marcelo, Ana Sofia, Internet e Novas
forma de sociabilidade, Tese de Mestrado,
Biblioteca On-line de Cincias da Comuni-
cao, 2001.
Massumi, Brian, Entrevista por Maria Te-
resa Cruz in INTERACT: Revista On Line
de Arte, Cultura e Tecnologia, #8.
Moura, Catarina, Vertigem. Da ausn-
cia como lugar do corpo. In BOCC, 2002.
Negroponte, Nicholas, Being Digital,
Coronel Books, 1994, 249 p.
Prestes, Roberto Balaguer, El
hipocuerpo: Una vivencia actual que la
virtualidad an no puede eludir, in Revista
TEXTOS de la CiberSociedad, 2. (http://
cibersociedad.rediris.es)
Rheingold, Howard, A Comunidade Vir-
tual, Cincia Aberta, Lisboa, Gradiva, 367
pginas.
Silva, Carlos Alberto da, Sebastio, Pedro
Miguel, Interaco e Cibersexo no IRC,in:
B O C C . ( h t t p : / / b o c c . u b i . . . /
texto.php3?html2=silva-carlos-sebastiao-
pedro-interaccao-cibersexo.htm)
Stiegler, Bernard, La Technique et le
temps. La dsorientation, Collection La
Philosophie en Effect, Paris, Galile, 1996,
281.
_______________________________
1
Universidade da Beira Interior / Universi-
dade Nova de Lisboa.
340 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
341 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Estratgias de midiatizao das ONGs
1
Jairo Ferreira
2
Introduo
O objeto de pesquisa apresentado foi
construdo na investigao experimental A
emergncia do campo de significao das
ONGs na Web: discurso e contexto de
produo em dispositivos digitais
3
. Nessa
pesquisa, a anlise da distino de cada
instituio (ONG`s) no mercado formado
pelos discursos concorrentes na Web, refere-
se no s s modalidades do dizer em texto,
mas ao conjunto do dispositivo. Atravs dessa
anlise, pretendemos configurar o mercado
discursivo composto pelas mdias digitais
assinadas pelas ONG`s na Web.
O procedimento de coleta para essa pes-
quisa partiu da lista de ONGs da Abong (As-
sociao Brasileira de ONGs). Essa lista foi
ampliada pela pesquisa na Internet, atingindo
cerca de 300 sites. Esses foram distribudos por
temas (anlise de contedo). As maiores ocor-
rncias : ecologia, gnero, dst/aids, criana/ado-
lescente, ndios e movimentos ligados
globalizao (Movimentos de Resistencia).
Desse conjunto, foram escolhidos aleatoriamen-
te 31 sites distribudos entre os temas mais
recorrentes. Em cada site, foi coletada uma
amostra de at 35 textos, escolhidos em pro-
poro aos tipos de materiais encontrados. Nos
sites com um nmero de textos inferior mdia,
a amostra foi inferior, o que foi compensado
pelos sites com maior nmero de textos. A
mdia, como pode ser verificado no quadro
abaixo, de 33 textos por sites.
Uma questo sempre reiterada saber se
essas instituies pertencem ao movimento
social ou seriam de outra ordem. Nesse
sentido, consultamos a Abong para verificar
o vnculos das mesmas com o Frum Social
Mundial, o qual foi criado por instituies
do movimentos social (entre os quais a CUT
e MST). O quadro evolutivo das ONGs que
compem o corpus da pesquisa o seguinte
(Tabela 2).
Essas dados sobre a presena no Frum
sero utilizados posteriormente nas anlises
de correlaes. Essa pesquisa utiliza um
mtodo de anlise que um encontro de
diversos procedimentos visando formalizar
um conjunto de hipteses que respondam s
dimenses da lgica, da explicao causal e
da competncia implicativa, em articulao
com as questes tericas do campo da
comunicao. Procuramos sempre trabalhar
com trades conceituais, evitando anlises
com mais dimenses que dificultassem a
formalizao do pensamento. Na articulao
entre as vrias trades, buscamos o pensa-
mento relacional mais avanado, ou comple-
xo. Essas formalizaes foram construdas no
mbito da pesquisa, lentamente, com diver-
sas idas e vinda, partindo de um conjunto
categorial normalizado pela literatura do
campo (numa verdadeira bricolagem de
conceitos, esse momento foi de abertura, de
uso diverso de categorias, procurando
pertinncia em relao a problema de pes-
quisa em construo).
Muitas das categorias originais foram
abandonadas, outras reconstrudas, e articu-
ladas com novas perspectivas. Nesse sentido,
nossas categorias no so pr-construdas, e
s e t i S s o t x e T
a i g o l o c e a m e t : s e t i s 7 1 s o t x e t 0 0 6
o r e n g a m e t : s e t i s 7 s o t x e t 0 0 2
s d i a / t s d a m e t : s e t i s 7 s o t x e t 0 0 2
s e t i s 1 3 : l a t o T s o t x e t 0 0 0 1
Tabela 1 - Sites e nmero de textos analisados
342 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
sim tomaram forma lentamente, ou seja, a
pesquisa no avanou sob o clssico proces-
so de codificao conforme categorias pr-
vias. A no utilizao desse processo, caro
sob todos os aspectos, nos permitiu avanar
em direo a um conjunto categorial novo
relativamente s categorias e conceitos ori-
ginalmente utilizados para a construo do
objeto de pesquisa. Cada uma das trades
ou dades foi inserida num processo de
construes de hipteses experimentais,
que esto relacionadas entre si e cotejadas
com as questes tericas e epistemolgicas
no processo de anlise. Este artigo se refere
especificamente a trade informao, re-
flexo e poltica
4
Tabela 2 - Participao das ONGs investigadas nos fruns mundiais.
Fonte: organizao do Frum
s G N O
1 M U R F
) 1 0 0 2 (
2 M U R F
) 2 0 0 2 (
3 M U R F
) 3 0 0 2 (
N R o d o p m a C o d s e d a d i n u m o C s o i o p A e d o a i c o s s A ( C C A A X X
) l a t n e i b m A o e t o r P e d e s n e s o b r a B o a i c o s s A ( M A P A B A
) s d i A e d r a n i l p i c s i d r e t n I a r i e l i s a r B o a i c o s s A ( A I B A X
E D E R a n L U Z A R I G A
) a i g o l o c e o r g A e d a b i t i u q e J o a i c o s s A ( A J A X
) a r o F e d z u J e d e t n e i b m A o i e M o l e p o a i c o s s A ( F J A M A
) s d i A o n e v e r P e d o a i c o s s A ( A N O Z A M A X X
) s a r i e l i s a r B s e r e h l u M e d o a l u c i t r A ( B M A X X
A Z U Z A C
) o r e n G m e o a m r o f n I e o a c u d E , o a c i n u m o C ( A N I M E C X X
) a i r o s s e s s A e s o d u t s E e d a t s i n i m e F o r t n e C ( A E M E F C X X
) o a c i n u m o C e a i g o l o c E ( M O C E
) e d a d i l a u x e S m e o a c i n u m o C ( S O C E X
) s d i A o n e v e r P e o i o p A e d o p u r G ( A P A G X X
) a i h a B a d y a G o p u r G ( B G G
) a d i V o v i t n e c n I e d o i r t i n a m u H o p u r G ( V I G X X
l a n o i t a n r e t n i E C A E P N E E R G X X
E D U R G X
M E G I R O O P U R G X X
A D I V A M I S O P U R G
) o c i n z a m A o h l a b a r T e d o p u r G ( A T G X X
) l a r t s u A l a t n e i b m a o i c o S o t u t i t s n I ( L A A I
) a d i V e d o r t n e C o t u t i t s n I ( V C I X
e l a t s e r o l F o a c i f i t r e C e o j e n a M e d o t u t i t s n I ( A R O L F A M I
) a l o c r g A
X
) l a t n e i b m a o i c o S o t u t i t s n I ( A S I X X
A R R E S - A R I M
) o n a m u H o t n e m i v l o v n e s e D e d e d e R ( H E D E R X
D R E H P E H S A E S
) l i s a r B o d a i g o l o c E e d e d a d e i c o S ( B E S
O P R O C S O S X X
) a z e r u t a N a a r a p l a i d n u M o d n u F ( F W W X
343 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Informao, reflexo e poltica
Consideramos que a informao jornals-
tica est ancorada em cinco dimenses. Duas
so temporais (inspiradas no conceito de
discurso relatado de Charaudeau, 1997): a
proximidade em relao ao tempo de ocor-
rncia do acontecimento que referencia o
discurso; o acompanhamento temporal do
desenrolar do acontecimento. A terceira
formal (inspirada em Rodrigues, 1993): a
informao jornalstica tem o seu valor
condicionado pela probabilidade menor do
evento (como vai sugerir a teoria da infor-
mao e os tericos da comunicao). Even-
to muito provvel, sem acompanhamento
temporal e sem proximidade ocorrncia do
acontecimento referencial pode ser informa-
tivo, mas no jornalstico. Por isso, em
nosso sistema de classificao, um evento
desse tipo informao fraca. No caso
inverso, satisfeitas as trs condies, temos
a informao jornalstica forte.
O valor social da informao jornalstica,
entretanto, no absoluto. relativo, isto
, depende de outras dimenses relacionais.
Uma dessas dimenses (a quarta) se refere
forma jornal (Mouillaud). Um texto
jornalstico impresso em folhas de papel
ofcio pode ter menos fora social do que
um texto de baixo valor jornalstico impres-
so num dispositivo jornal (ancorado em
editorias, com ttulos, sees, fotos, legendas
etc.). A ltima dimenso a insero do
discurso no mbito de um conjunto de outros
discursos concorrentes sobre o mesmo tema,
pelas distines que opera, pelo reconheci-
mento do mesmo como um discurso do
campo miditico. O valor social do discurso
num determinado mercado pode deslocar a
sua fora para baixo ou para cima em termos
de informao jornalstica. Isto , um dis-
curso sobre um acontecimento atual, que
acompanhe o desenrolar, e seja sobre um
evento pouco provvel, pode restar sem
reconhecimento no campo miditico (isto ,
pode resultar num discurso com baixo poder
de agendamento).
A reflexo jornalstica tem caractersticas
especiais que a diferenciam do texto refle-
xivo em geral. Em geral, o texto reflexivo
mais evidente tratado como opinativo. Nem
sempre o material opinativo das ONGs em
mdias digitais jornalstico, na medida em
que a opinio no se desenvolve em torno
dos eventos, nem dos acontecimentos
referenciais que compem o quadro da
notcia. As proposies e argumentos se
referem muitas vezes a temas eletivos que
no esto includos na agenda jornalstica
(embora possa compor a agenda de deter-
minados campos especficos com as quais as
ONGs trabalham: ecologia, mulheres, crian-
as etc.). Isto , as problematizaes,
elucidaes, avaliaes etc. ocorrem, aparen-
temente, sobre assuntos recolhidos numa
agenda que pertence ao conjunto das ONGs
que concorrem em torno de um determinado
tema (ecologia, infncia etc.), seus progra-
mas, formas de acesso direto aos aconteci-
mentos que irrompem no cenrio miditico
(e ser necessrio aqui verificar em que
medida essa irrupo agenda o subsistema
miditico fundado em fortes capitais
econmicos e polticos, isto , a chamada
grande imprensa). Sugerimos que os crit-
rios de classificao da reflexo jornalstica
partam da informao jornalstica.
A terceira dimenso que abordamos a
do discurso poltico. O discurso poltico
encontra sua singularidade e legitimidade
ancorada no campo poltico. O campo po-
ltico lugar de especialistas, como diz
Bourdieu, que requisita um monoplio da
fala, decorrente de uma competncia que
supe uma formao especial, e de uma
preparao de seus integrantes para partici-
parem da concorrncia pelo poder. Mesmo
no se constituindo em partidos polticos, as
ONGs so instituies que disputam o espao
pblico no mbito deste campo, e, por isso
mesmo, nele se inserem como interlocutores
que disputam os leigos, legitimam as auto-
ridades, creditam ou debitam popularidade a
todos aqueles que compartilham sua temtica,
possuindo seus prprios capitais polticos
(militantes, sedes, siglas, programas, congres-
sos, funcionrios, etc.). A dimenso poltica
do discurso das ONGs, portanto, expressa
sua condio de pertencimento na constitui-
o do campo poltico (inmeros polticos
tem parcela de sua legitimidade autorizada
por movimentos como esses). Porm, nem
sempre o discurso das ONGs francamen-
te poltico, ou seja, um discurso voltado para
o questionamento, avaliao e programao
344 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
das polticas pblicas, de mobilizao dos mi-
litantes e da ao social para a execuo de
um programa, etc. As dimenses polticas
podem ser dissimuladas, decorrncia de uma
dependncia de recursos governamentais para
o seu funcionamento (o que pode implicar
em determinados pactos sobre o modo de
dizer). As dimenses observveis no discur-
so so a tematizao de objetos pertencentes
(virtual ou realmente) esfera pblica, a
incidncia nas polticas pblicas estatais, a
mobilizao de simpatizantes, funcionrios e
militantes ao poltica, etc.
J as dimenses relacionadas a reflexo
partem de nossa perspectiva terica de que
o texto , em sua constituio ontolgica
resultante de uma ao social, necessariamen-
te uma forma de reflexo. Desenvolvemos
essa abordagem em vrios artigos em que
tratamos a produo de sentido advindas da
linguagem (Ferreira, 2002a, 2003a; Ferreira
e Dayan, 2003c). Piaget afirma isso, ao dizer
que a linguagem requisita um reflexionamento
perante o sentido da ao. Atravs da lin-
guagem, afirmamos que o jornalista
reconstitui aes de um acontecimento,
coordena aes num tempo e espao diver-
sos do ontolgico, categoriza os eventos, num
processo de reflexo ascendente que
reconstitui os observveis sugeridos em seu
discurso. Isso indica as dificuldades do
conceito de informao. Se a informao se
refere ao relato, afirmamos que ela no existe
sem a opinio, na medida em que essa se
constitui em torno dos processos de reflexo,
substrato da argumentao e avaliao. Se
o texto j reflexo, o relato j opinio
e comentrio.
Isso no desfaz a possibilidade de uma
diferenciao de textos mais ou menos
argumentativos. esse degrad que dificulta
a anlise categorial esttica, e expe os limites
da anlise de contedo. As formas possveis
de reconstituio das aes, a coordenao
entre eventos no texto, a comparao entre
acontecimento concorrentes (a guerra do
Iraque e o do Golfo, o governo Lula ou de
FHC), as categorizaes (indiciais ou expl-
citas) das personagens e acontecimentos,
podem estar mais ou menos subordinadas aos
observveis relatados. Esses so processos de
regulao, atravs dos quais o jornalismo se
adapta construo social dos objetos de
discurso, coordena suas perspectivas com seus
concorrentes, e integra olhares conforme
determinados perfis institucionais. Num jogo
sem fim entre contedos observados e for-
mas possveis de relatar, o corte se faz na
temporalidade do campo jornalstico e nos
tempos de seus dispositivos especficos (r-
dio, televiso, etc.), nas agendas concorren-
tes no espao pblico, disputadas no campo
das mdias.
Nesse processo, h um nvel especfico
relacionado ao dispositivo (Mouillaud, 1997,
Ferreira, 2002b, 2002c). A informao jor-
nalstica produzida em rotinas e objetivada
em textos estruturados em formas categoriais.
A distribuio em editoriais, sees, capa,
ttulos, legendas, fotos, etc. se constitui num
processo de diferenciao, distino e clas-
sificao incorporados s rotinas produtivas,
que localizamos como um sistema scio-
tcnico de produo discursiva e cognitiva
do mundo. E, nesse sentido, a forma jornal
remete j a uma reflexo que atravessa a
produo, circulao e consumo de informa-
es jornalsticas. Aqui, quanto maior a
diferenciao, distino e classificao em
formas, maior o nvel de reflexo.
Das reflexes construo de marcas
A partir dessas reflexes tericas, inves-
tigamos essa trade na perspectiva de marcas
discursivas. A forma jornal observada numa
organizao do espao signo na forma de
lead, editorias, sees, colunas, links, foto,
legendas, ttulos, assinaturas, citaes, etc.
(Mouillaud, 1997). A atualidade abrange a
presena na esfera do enunciado nas marcas
de localizao do acontecimento em trs
modalidades temporais (presente, passado e
futuro), nas tcnicas de lead, na
processualidade operada atravs de ttulos
referenciais e informacionais. No ttulo, o
acontecimento presentificado; no artigo, as
diversas temporalidades so recuperadas. O
apagamento em relao a data do aconteci-
mento pode ocorrer tambm pela omisso do
verbo (o que significa omitir o tempo do
acontecimento), fechando o ttulo numa
classificao do acontecimento, sendo a clas-
sificao um trnsito do ttulo informacional
para o ttulo referencial. Nesse sentido, o
efeito-presente do texto jornalstico relati-
345 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
vamente a data do acontecimento ser bus-
cado no texto do artigo, em oposio ao efeito
de atualidade buscado no enunciado (do
ttulo).
Apaga-se tambm atos diversos, distribu-
dos no discurso, que registrariam a presena
de outros agentes do processo enunciativo.
Nesse sentido, o acontecimento sai, atravs
das operaes sobre os enunciados, da esfera
narrativa (histria que se conta num tempo
sobre eventos distribudos em tempos e
espaos localizados, incluindo agentes do
processo enunciativo) e vai para a esfera
da classificao (o que significa para ns,
o ingresso no texto, ou do enunciado, na
esfera da ordem argumentativa, ou reflexi-
va).
O texto tem as marcas do desenrolar
atravs de trs operaes marcadas no
enunciado. Primeira, atravs de outros dis-
cursos dos agentes do processo enunciativo,
h o ttulo anafrico (Mouillaud, p. 105).
Nesse caso, aparecem o recurso aos artigos
definidos (o, a, os, as) a partir dos quais o
texto lembra os acontecimentos antes do
nmero e dos quais a durao excede a
durao quotidiana. O ttulo anafrico con-
fere ao jornal uma temporalidade especfica
(p. 105). Nesse tipo de ttulo, h uma atu-
alizao do acontecimento atravs de diver-
sos nveis de categorizaes. Num primeiro
nvel, o acontecimento remete a classes e
paradigmas gerais (tipo a caso Z Dirceu...,
A crise do Oriente...). Esse nvel, chama-
mos de condensao. Num segundo nvel,
ocorre a ressemantizaes atravs de outros
nveis de tematizaes (exemplo: no caso da
plataforma da Petrobrs que afundou, isso
aparece na ressemantizao do acontecimen-
to como acidente, escndalo, problema sin-
dical, drama familiar...).
A baixa probabilidade foi pensada em
termos relacionais. Um acontecimento pouco
provvel um acontecimento que tem um
valor discursivo forte relativamente a outros
discursos. A presena discursiva das ONGs
visa preencher lacunas discursivas no campo
das mdias, procurando gerar um novo fluxo,
em torno de falas sobre acontecimentos pouco
provveis de serem ditos pelas mdias
hegemnicas. Aqui, o importante a fala diga
algo de novo (no porque atual, mas porque
no foi dito) do tipo: nunca ocorreu este tipo
de evento; h muito tempo no ocorre; mas
h tambm o que ocorre normalmente, o que
significa acontecimento de rotina (habitual);
mdia probabilidade, acontecimento ocorre
diversas vezes com o transcorrer do tempo.
O agendamento o inverso do anterior.
Aqui, o importante se falar sobre algo que
falado pelos outros, que pertence ao fluxo
de interaes entre vrias campos sociais, que
atravs de suas instituies, estabelece estra-
tgias de atualizao informacional. O
agendamento deixa marcas em processos
enunciativos, onde agentes de enunciao
aparecem com outros enunciadores (de ou-
tras instituies e/ou campos sociais) e
agentes de enunciados (de outras instituies
e/ou campos sociais), ancorados em tempos
diversos (fala-se em algum num determi-
nado tempo e espao).
A partir dessas marcas construas foram
configurados os seguintes dados agregados
(Tabela 3).
A dimenso reflexo inicia-se com a
categorizao, ou tematizao. Muitas vezes,
inicia com a ONG classificando a sim mesma.
Depois, classificando os outros, e assim por
diante, criando um sistema classificatrio. As
marcas da categorizao so verbos que
indicam pertencimento de um indivduo (ou
coleo) a outra coleo, ou excluso dos
mesmos de outra coleo, atravs de uma
determinada ao. Ou seja, quase impos-
svel falar sem categorizar (atravs de con-
junes soma, disjuno subtrao, res-
tries, oposies, causalidade, etc.). Esse
processos aparecem como confrontao en-
tre discursos confrontar discursos uma
forma de reflexo. Assim, no campo das
mdias, podemos confrontar Rigotto com
Olivio, Lula com FHC, etc., ou comparao
dois discursos, ou dois acontecimento sobre
os quais a mdia fala. Exemplo: a guerra do
Vietn com a Guerra do Iraque uma guerra
com ideologia, uma guerra sem princpios;
ou, as duas guerras so decorrentes de in-
teresses econmicos; etc. A diferenciao
nasce da comparao (falar das diferenas
sobre um determinado acontecimento): Guer-
ra do Vietn (conjuntura de confronto entre
ex-Unio Sovitica e EEUAA); guerras no
Oriente (conjuntura de acirramento cultural
entre ocidente e oriente; entre sociedade de
mercados e sociedades pr-mercantis; entre
346 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Tabela 3 - As colunas abaixo agregam dados relativos s dimenses construdas (res-
pectivamente, informao, atualidade, desenrolar, baixa probabilidde e agendamento).
Assim, interessante verificar que a ausncia de desenrolar indica uma fragilidade de
insero da informao no fluxo da produo jornalstica industrializada. A forma jornal
e a probabilidade so mdias, indicando tambm formatos em que os textos, mesmo
quando informativos, esto integrados a dispositivos no jornalsticos e uma tendncia
a produzir acontecimentos de rotinas (mesmo que essas sejam do escopo das ONGs).
Os pontos fortes esto na atualidade (de suas atividades) e no agendamento (que aparece
forte, como vimos no item campo de pertencimento dos agentes do processo enunciativo,
como agentes do enunciados diferenciados).
1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1
0 0 1 0 1 1 4 9
0 0 2 0 0 0 0 0
0 0 4 1 3 2 1 3
0 0 5 4 5 0 5 9 1 1 3 5 4
0 0 6 0 4 1 0 2
0 0 7 0 0 0 0 0
0 0 8 0 1 0 0 0
0 0 9 9 1 7 2 6 8 6 2
0 0 0 1 4 2 2 2 2 2 1 7 2
0 0 1 1 0 6 1 1 1 1 6 2
0 0 2 1 4 2 2 2 1 2 1 5 3
0 0 3 1 1 2 4 2 1 7 3 3
0 0 4 1 0 2 0 2 0 1
0 0 5 1 1 2 7 1 3 6 1 1 2
0 0 6 1 6 5 1 1 5 2 2
0 0 7 1 0 1 2 1 3 1 1 9 1
0 0 8 1 8 8 1 1 9
0 0 9 1 0 9 1 1 4 3 2
0 0 0 2 4 8 0 0 0 1
0 0 1 2 5 2 1 2 4 6 6 2
0 0 2 2 1 3 3 2 0 3 1 9 2
0 0 3 2 1 0 2 0 6 6 1
0 0 4 2 9 6 9 9 6 0 3 3 1 1
0 0 5 2 5 4 0 3 4
0 0 6 2 6 2 3 2 1 0 1 8 1
0 0 7 2 9 2 2 3 0 0 2 8 2
0 0 8 2 0 2 5 3 4 4 2 6 2
0 0 9 2 2 1 3 0 1 1 4 2
0 0 0 3 0 6 1 1 7
0 0 1 3 0 3 2 0 5 1 9 1
0 0 2 3 0 3 2 0 4 3
2 8 7 7 1 6 8 8 9 2 1
muulmanos e cultura judaico-crista). E, final-
mente, a integrao nasce tambm da compa-
rao entre eventos e discursos diferentes, mas,
na integrao, no se busca a diferena. Se busca
um lugar de identidade entre acontecimento
diversos, recorrendo a um patamar em que as
duas guerras so compreendidas como um pro-
cesso nico, do tipo: ambas se fazem contra
os EUA, portanto, so conflitos vinculados a
hegemonia desse Estado-Nao, contra cultu-
ras alternativas (ideolgicas, religiosas, polti-
cas e culturais - Tabela 4).
347 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Consideramos que o discurso pela ao
poltica tem como objeto questes da esfera
pblica. Mas quais so essas questes? Elas
variam. Exemplo: A Revoluo dos Cravos
foi feita tendo como temas as grandes ques-
tes da esfera pblica (a democracia, a
propriedade da terra, os direitos dos traba-
lhadores, e assim por diante). Mas, hoje, na
manifestao do 25 de Abril, data da Revo-
luo dos Cravos, havia quem pedisse inves-
timento pblico em calamentos e esgotos.
Portanto, podemos alargar o conceito de
objetos da esfera pblica: so todos aqueles
tratados pelo Estado (do calamento a violn-
cia), e tambm todos aqueles que, mesmo sem
trato pelo estado, as ONGs pretendem transfor-
Tabela 4 - Os dados agregados indicam a fragilidade em termos de processos reflexivos
no discurso das ONGs. Essa fragilidade indica a alta de presena de marcas de um
discurso opinativo. A opinio um embrio do processo reflexivo, que s atravs de
diferenciaes atinge os nveis do discurso terico e as grandes condensaes simblicas.
Aqui encontra-se uma contradio entre o esforo de institucionalizao e os nveis de
legitimao (Berger e Luckmann, 1985, p. 129). Essa contradio reduz o potencial das
estratgias de institucionalizao observadas nas mediaes construdas atravs das
representaes sociais, do legislar, moralizar e ordenar o bom caminho social.
1 2 1 2 2 1 3 2 1 4 2 1 5 2 1
0 0 1 6 1 0 2 0 0
0 0 2 1 0 0 0 0
0 0 4 3 1 0 4 0 3
0 0 5 7 1 7 2 1 2 5 6 1
0 0 6 0 1 3 7 1 1
0 0 7 2 0 0 0 0
0 0 8 3 0 1 0 0
0 0 9 2 1 5 4 1 2 0
0 0 0 1 1 2 0 8 0 0
0 0 1 1 8 2 0 4 0 0
0 0 2 1 2 3 3 9 4 0
0 0 3 1 3 2 0 0 1 0 0
0 0 4 1 0 1 0 2 0 0
0 0 5 1 9 1 9 4 1 3 3
0 0 6 1 0 3 1 3 0 0
0 0 7 1 9 1 0 1 0 0
0 0 8 1 7 0 0 0 0
0 0 9 1 4 0 3 0 0
0 0 0 2 7 1 0 3 0 0
0 0 1 2 1 2 1 3 1 0
0 0 2 2 1 3 7 8 1 2
0 0 3 2 5 1 1 1 0 0
0 0 4 2 5 9 9 8 1 2 2
0 0 5 2 5 0 0 0 0
0 0 6 2 4 3 6 2 0 2
0 0 7 2 6 2 6 3 2 1
0 0 8 2 4 3 1 2 0 0
0 0 9 2 5 2 1 0 0 1
0 0 0 3 9 0 0 0 0
0 0 1 3 9 1 0 0 0 0
0 0 2 3 9 1 0 0 0 0
1 7 1 4 1 7 2 4
348 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
mar numa questo de polticas de Estado, ou tema
de debate na praa pblica, envolvendo agentes
sociais localizados em vrios campos sociais.
As marcas de mobilizao vo se carac-
terizar pela chamada a ao estrito senso. Uma
passeata, uma caminhada, um ato coletivo e
/ou individual, uma ocupao, um convite para
envio de e-mails, cartas, utilizao de adesi-
vos, camisetas, etc. Isso pode ter como pblico-
alvo militantes, simpatizantes ou populao em
geral. As de organizao se refere s agendas,
datas, espaos materiais de atividade (prdios,
cidadas, estados, naes), cronograma de de-
senvolvimento das atividades, quadros com
responsabilidades diferentes, etc. (saldo).
Marcas de um projeto pedaggico implica em
cursos, cartilhas, bibliografia, textos, discur-
sos de formao, tempo para formao, qua-
dros preparados, com capacidade de agir e dis-
cursas sobre o tema da ONG, etc. (Tabela 5)
Tabela 5 - Agir, organizar e formar. Essas trs dimenses se destacam como marcas
de um discurso que responde s rotinas das ONGs. Relacionadas s outras dimenses,
elas indicam enunciados vinculados ao campo poltico herdado da modernidade (em
especial, do movimento social-democrata e socialista).
1 3 1 2 3 1 3 3 1 4 3 1 5 3 1
0 0 1 1 1 5 3 2 0
0 0 2 0 0 0 0 0
0 0 4 0 2 1 1 6 6 1 0
0 0 5 5 4 9 1 9 2 4 1 8
0 0 6 7 2 9 6 3
0 0 7 1 0 4 3 0
0 0 8 3 1 2 1 1
0 0 9 8 2 0 1 3 1 4 1 4
0 0 0 1 6 2 3 2 1 2 1 0
0 0 1 1 0 1 0 1 0 3 2 2 2
0 0 2 1 5 3 1 9 1 0 1 1
0 0 3 1 2 3 4 6 1 0 2 0
0 0 4 1 3 1 1 1 1 0 1 9
0 0 5 1 4 2 5 1 2 2 1 1 1
0 0 6 1 2 2 0 1 8 2 5 4
0 0 7 1 3 2 7 0 2 4 1 1
0 0 8 1 3 1 2 5 8 0
0 0 9 1 5 1 7 1 3 2 2 1
0 0 0 2 9 4 7 1 4 1 0
0 0 1 2 3 2 5 2 2 3 2 6
0 0 2 2 0 3 2 1 0 2 6 1 3
0 0 3 2 4 2 6 7 1 7 1 3
0 0 4 2 4 1 1 6 3 2 1 1 0 0 1 3 1
0 0 5 2 5 0 3 2 0
0 0 6 2 3 2 6 3 2 8 1 3
0 0 7 2 9 2 5 6 1 5 4
0 0 8 2 3 3 2 0 2 9 0
0 0 9 2 5 2 3 3 1 4 1 2
0 0 0 3 6 3 9 6 2
0 0 1 3 2 2 1 6 1 6 2
0 0 2 3 9 1 0 9 1 1 5
2 6 1 0 2 9 0 1 1 7 8 1
349 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Algumas observaes finais
Se considerarmos as dimenses acima
para caracterizar o que chamamos de infor-
mao jornalstica, podemos afirmar que a
maioria dos sites de ONGs que categorizamos
encontra-se num nvel inferior e mdio in-
ferior de informao jornalstica. Os limites
so: uma grande quantidade de informao
no jornalstica acompanhada de alguns casos
de informao estritamente jornalstica (nas
quais encontramos as dimenses: aconteci-
mento prximo no tempo, com acompanha-
mento do desenrolar e eventos poucos prov-
veis). As primeiras evidncias dos dados
coletados indicam que o valor jornalstico da
informao promovido nos sites conforme
os capitais econmicos, polticos e culturais
das ONGs.
Assim, os sites das ONGs Grenpeeace
e ISA oferecem discursos do tipo jornalstico.
Porm, essa oferta est condicionada. No
Greenpeace, parte dos textos jornalsticos
informativos apropriada na perspectiva
opinativa, sendo a informao jornalstica e
no jornalstica oferecida atravs de links
externos a outros jornais e instituies (o que
remete, s vezes, a um espao pblico entre
instituies que no passa pela grande
imprensa). J o ISA produz, atravs de
colaboradores e funcionrios, textos
jornalsticos vinculados aos seus objetos de
discurso. Por sua vez, o Greenpeace tambm
reproduz e edita textos produzidos por suas
agncias com um formato reflexivo elabo-
rado (seus Breafings). A correlao entre
ocorrncia do discurso jornalstico e capitais
incorporados (Greenpeace, Agirazul e Isa)
um indcio de que no h jornalismo sem
capitais (sendo o capital econmico somen-
te uma condio do trabalho especializado
requisitado a sua produo).
A interpretao desse valor creditado ao
discurso jornalstico pelos sites das ONGs
de vrios tipos. Em termos endgenos, o
discurso perde valor se ele no circula; a
informao jornalstica o ponto dinmico
dos discursos dos sites; em termos exgenos,
o valor do discurso indissocivel de um
mercado para o qual ele se dirige, mercado
esse demarcado pela agenda do espao
pblico. Esse processo gesta um elo funda-
mental da hegemonia no campo miditico,
proporcional ao grau de dependncia e su-
bordinao (por partes dos sites assinados
pelas ONGs) produo de informao
jornalstica realizado pelo subsistema
miditico fundado sobre fortes capitais
econmicos e polticos (ou seja, grande
imprensa). Ou seja, parte das informaes
jornalsticas das ONGs gerada na grande
imprensa, ou em agncias de notcias (como
a Agncia Brasil).
J o discurso poltico de carter
jornalstico, num s movimento, articula
discurso poltico, opinio e acontecimento,
num feixe em que o jornal (mdia) o partido
(portanto, instituio do campo poltico), que
chama seus militantes, funcionrios e pbli-
cos ao. Essa uma das modalidades.
Poucas ONGs conseguem faz-lo. Esse o
caso das ONGs com fortes capitais cultu-
rais, econmicos e polticos (como o ISA).
Nesse caso, se inserem as agncias temticas
(como a Ecoagncia de Notcias e a ECOM
Ecologia e Comunicao) como produto-
ras de mdias e notcias. Por essas vias, ocorre
o agendamento da grande imprensa pelas
mdias das ONGs, inclusive gerando os
textos informativos dos jornais localizados
em posies de concentrao de capitais
econmicos e polticos.
Portanto, as disposies discursivas das
ONGs em mdias digitais nos indicam con-
dutas diversas. Por um lado, h apropriao
dos discursos jornalsticos como um dos
fatores dinmicos dos fluxos midiatizados em
sites. Essa apropriao de discursos ocorre,
em grande medida, atravs de um jornalismo
opinativo, em que proposies, avaliaes
e crticas so feitas conforme os aconteci-
mentos relatados na grande imprensa. Assim,
o subsistema grande imprensa legitima-
do e, ao mesmo tempo, criticado. Por outro
lado, as ONGs criam uma agenda prpria,
vinculada a sua ao poltico temtica, em
que constituem uma singular associao entre
informao jornalstica da prpria ao (aces-
so direto e disruptivo atualidade, desen-
rolar e improbabilidade) e discurso poltico
(em que militantes, funcionrios e simpati-
zantes so chamados ao). A legitimao
do discurso das ONGs tambm ocorre
quando o subsistema grande imprensa
aceita os temas propostos pela ao poltica,
e incorpora os mesmos em sua agenda. Esse
350 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
o caso do Sea Shepherd. Sua ao poltica
agenda a mdia e, alm disso, os textos rela-
tivos aos acontecimentos que cria tm elevado
grau de aproveitamento nas mdias digitais,
sempre reproduzidos muitas vezes na ntegra.
Porm, as classificaes possveis dos
textos conforme apresentados anteriormente
no esgotam a problemtica da distino entre
mdias digitais assinadas pelas ONGs em
determinados mercados temticos. A diferen-
ciao ocorre em vrios nveis. O primeiro
deles do acesso aos meios de produo.
Muitas ONGs utilizam servidores
disponibilizados por outras instituies, ten-
do uma vida instvel. Isso pode estar vin-
culado aos capitais econmicos, polticos e
culturais, mas necessrio investigar em que
medida as dimenses especificamente
comunicacionais se articulam os processos
sociais macroestruturais. O uso do blog como
recurso foi observado como uma alternativa
sem sucesso (no sentido da produo e
circulao da informao jornalstica).
Uma grande quantidade dos sites que se
mantm estveis na rede so de informaes
e artigos opinativos com baixo valor
jornalstico (isso , no preenchem os requi-
sitos anteriores). Essa estrutura est presente
inclusive nos sites que apresentam textos
jornalsticos renovados com uma certa
temporalidade. Ou seja, os sites das ONGs
no so jornalsticos, nem portais, mas sim
fortemente institucionais, e a notcia a
encontra-se portanto numa outra forma, em
que o conjunto localiza o discurso jornalstico
numa totalidade diferente do jornal. Em geral,
a notcia vinculada a linques notcia, os
quais no so diferenciados em editorias, e
a nica forma de organizao temporal (data
de edio). Isso indica dois processos con-
traditrios: se a ocorrncia do texto
jornalstico indica anuncia forma jornal,
a indiferenciao da forma jornal indica uma
estratgia que a subordina a outras estrat-
gias comunicacionais (do tipo comunicao
institucional).
351 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Bibliografia
Arajo, Inesita. A reconverso do olhar.
So Leopoldo: Editora Unisinos. 2000.
Authier-Revuz, Jacqueline. Palavras in-
certas. As no coincidncias do dizer. Cam-
pinas: Unicamp. 1998.
Bardin, Laurence. Lanalyse de contenu.
Paris. Presses Universitaires de France. 1997.
Bourdieu, P. O poder simblico. So
Paulo: Difel. 1989.
Bourdieu, P. Coisas Ditas. 1. Ed. So
Paulo. Brasiliense. 1990.
Bourdieu, P. As regras da arte. So
Paulo: Companhia das Letras. 1992.
Bourdieu, P. Journalisme et thique.
Actes du colloque fondateur du centre de
recherche de lEcole Suprieure de
Journalisme (Lille), Les cahiers du
journalisme, Juin, n1. 1996.
Bourdieu, P. A economia das trocas
lingusticas, 1. Ed. So Paulo: Edusp. 1996.
Bourdieu, P. Razes prticas. 2. Ed. So
Paulo: Papirus. 1997.
Bourdieu, P. Sobre a televiso. Rio de
Janeiro: Zahar Editores. 1997b.
Bourdieu, Pierre. La distincin: criterios
y bases sociales del gusto. - 2. ed. - Madrid:
Taurus, 2000.
Braga, Jos Luiz. Constituio do campo
da comunicao. In: FAUSTO, Antnio, PRA-
DO, Jos Luis, PORTO, Srgio. Campo da co-
municao caracterizao, problematizaes
e perspectivas. p. 11-40. 2001.
Charaudeau, P. Le discours
dinformation mdiatique. La construction du
miroir social. Paris: Nathan. 1997.
Charaudeau, P. Langage et societ.
Papier de travail. Paris: Maison des sciences
de lhomme. 1984.
Correia, Joo Carlos. Comunicao e ci-
dadania. Os media e a fragmentao do
espao pblico nas sociedades pluralistas.
Lisboa: Horizonte, 2004.
Dias, Renata de Souza; Ferreira, Jairo.
Movimentos de Resistncia Global: a trans-
formao das relaes entre o campo pol-
tico e miditico. In: XXVII CONGRESSO
BRASILEIRO DE CIENCIAS DA COMU-
NICAO - NP Comunicao e Cidadania.
Porto Alegre: PUCRS, 2004. v. 1, p. 1-15.
Esteves, Joo Pissarra. A formao dos
campos sociais e a estrutura da sociedade
moderna. In: A tica da comunicao e os
media modernos. Legitimidade e poder nas
sociedades complexas. Portugal: Fundao
Calouste Gulbenkian. 2002.
Faircough, Norma. Discurso e mudana
social. Braslia: Editora Universidade de
Braslia. 2001.
Fausto, Antnio. Comunicao e mdia
impressa. Estudos sobre a aids. So Paulo:L
Hacker Editores. 2001.
Ferreira, J. Campos de significao e co-
nhecimento em dispositivos digitais: anlise
das interaes discursivas em listas de dis-
cusso. Porto Alegre: UFRGS, 2002. 498 f.
Tese (Doutorado em Informtica na Educa-
o) - Programa de Ps Graduao em
Informtica na Educao, Faculdade de
Educao. UFRGS. Abril. 2002a.
Ferreira, J. Jornalismo como campo: do
homogneo ao heterogneo. In: Revista
Fronteiras. Vol. IV, nmero 1, junho. 2002
Ferreira, J. Dispositivos discursivos e
o campo jornalstico. Ciberlegenda, http:/
/www.uff.br/mestcii/rep, v. 9. 2002b.
Ferreira, J. Nveis de significao (ques-
tes epistemolgicas em torno das interaes
discursivas). Significao, SP : CEPPI -
ECA/USP, v. 1, n. 19, p. 51-73, 2003a.
Ferreira, Jairo Getulio. Campo acad-
mico e epistemologia da comunicao. In:
12 ENCONTRO ANUAL DA ASSOCIA-
O NACIONAL DOS PROGRAMAS DE
PS GRADUAO EM COMUNICAO,
2003, Recife. 12 Comps. Recife: UFPE.
2003b.
Ferreira, Jairo; Dayan, Silvia Parrat.
Quelques points pour une approche
pistmologique du discours. Revue
Sudlangue, Dakar - Senegal JUN, v. 2, p.
157-164. 2003c.
Mouillaud, Maurice & Dayrell, S.
[1997]. O jornal: da forma ao sentido.
Braslia: Paralelo 15. 1997.
ONGs: um perfil: cadastro das associa-
das ABONG. So Paulo : ABONG, 1998.
xvi, 203 p.
Rodrigues, Adriano. O acontecimento.
In: TRAQUINA, Nelson. Jornalismo : ques-
tes, teorias e estrias. Lisboa : Vega. 1993.
Rodrigues, Adriano. O discurso
meditico. Lisboa: Mimeo. 1996.
352 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Traquina, Nelson. Jornalismo: Questes,
teorias e estrias. Lisboa: Veja. 1993.
Traquina, Nelson. O estudo do jorna-
lismo no sculo XX. So Leopoldo: Unisinos.
2001.
Vern, E. A produo de sentido. So
Paulo: Cultrix, Editora da USP. 1980.
Vern, E. Quand lire cest faire:
lnonciation dans le discours de la presse
crite. Smiotique II, IREP (Institut de
Recherches et dEtudes Publicitaires), Paris.
1983.
_______________________________
1
Os fundamentos tericos das reflexes aqui
desenvolvidas esto em vrios artigos do autor.
2
Universidade do Vale do Rio dos Sinos
Unisinos.
3
A pesquisa desenvolvida no Programa de
Ps Graduao em Cincias da Comunicao
PPGCC da Universidade do Vale do Rio dos Sinos
- Unisinos, Rio Grande do Sul, Brasil, com apoio
da Fundao de Amparo Pesquisa do Rio Grande
do Sul - Fapergs. Abrange uma parceria com a
pesquisa Teora y prctica de la investigacin y la
intervencin en comunidades y organizaciones
sociales. Implementacin de un mtodo y disposi-
tivos innovadores en comunicacin comunitaria, co-
ordenada pelo professor Eduardo Vizer, na Univer-
sidade de Buenos Aires. Bolsistas de Iniciao
Cientfica: Claucia Ferreira da Silva e Soraia
Zimmermann. O universo estudado de 35 ONGs
(2/3 das quais no tema ecologia) e cerca de 1200
textos.
4
Essa trade retoma, com algumas modifica-
es, as clssicas funes do jornal poltico da
social-democracia d O que fazer, de Lenin (in-
formar, conscientizar e organizar).
353 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Periodismo de cdigo abierto:
diversidad contrainformativa en la era digital
Jos Mara Garca de Madariaga
1
Tan importante como el relanzamiento
meditico de los movimientos sociales
favorecido por las nuevas Tecnologa de la
Informacin y la Comunicacin (TIC), es el
refuerzo organizativo que estos colectivos
encuentran en ellas para configurarse como
actores capaces de incidir en la deliberacin
social. Lo interesante de este paso cualitativo,
aparte de su potencialidad en lo referente a
relevancia social, es el proceso
eminentemente deliberativo con el que se
gestan y gestionan sus pretensiones y los
contenidos de su construccin informativa de
la realidad. A pesar de que la tecnologa es
en muchos sentidos causa y efecto de brechas
sociales cada vez ms grandes y profundas,
tambin se ha hecho ms asequible en
trminos econmicos y culturales para el
desarrollo de iniciativas colectivas. Muchas
de ellas deben al abaratamiento y a la
simplificacin de los dispositivos electrnicos
y digitales su propia existencia, no as las
inquietudes que les lleva a fundarse. Es el
caso de Witness
2
, ONG que denuncia
violaciones de derechos humanos en
diferentes puntos del planeta a travs de los
propios testigos, quienes filman y editan
reportajes con el material y la ayuda tcnica
de los voluntarios de esta organizacin.
Lo que nos muestra este tipo de iniciativas
es que las nuevas TIC ofrecen un enorme
potencial a la hora de explotar frmulas
colaborativas entre los miembros de los
movimientos sociales para la comunicacin
de sus inquietudes, tareas y resultados e
incluso para la elaboracin de sus cometidos
si su objetivo es eminentemente informativo.
En este sentido, hay que fijarse especialmente
en las ventajas que la digitalizacin brinda
a la puesta en comn de recursos y
conocimientos. La colaboracin en red, con
todas sus variantes y formatos, se presenta
as como la base operativa y conceptual de
una forma de entender la organizacin que
encaja perfectamente con el objetivo de
favorecer la deliberacin social que le falta
a la democracia representativa.
El impacto ms profundo de la
colaboracin digital no es el que se deja ver
en los movimientos ya formados y
consolidados, sino el que abre un camino muy
sugestivo para la formacin de nuevos
movimientos sociales. La prueba quizs ms
palmaria de esta tendencia a la participacin
desestructurada se materializa en procesos de
intervencin ciudadana como el que se vivi
en Madrid el pasado sbado 13 de marzo,
vspera de unas elecciones generales cuyas
circunstancias y antecedentes neutralizaron la
indiferencia de un 10% del electorado. El
propio desarrollo comercial de Internet facilita
opciones que pueden ser aprovechadas para
establecer todo tipo de relaciones humanas
que, si bien se caracterizan por la fugacidad,
la irrelevancia social y la ausencia de
compromiso, en no pocos casos sirven para
poner de relieve inquietudes globales y locales
de gran calado, al margen de su pequea o
nula repercusin en las agendas oficiales.
Aparte de las mltiples formas de
participacin en foros, chats y listas de correo,
quizs uno de los modelos que ms han
impactado en la comunicacin social es el
de los weblogs, diarios personales publicados
en la Red que han proliferado de manera
imparable desde 2002, muy particularmente
durante las semanas previas al inicio de los
ataques a Irak y mientras duraron los
bombardeos. A travs de ellos, millones de
internautas publican sus inquietudes sobre
cualquier asunto que se pueda imaginar
3
.
Asumiendo la dificultad de que Internet
sirva por s sola para convocar y estimular
inquietudes sociales tal como mostraron las
ensoaciones emancipatorias de las radios y
televisiones comunitarias desde los aos 70
(Manuel Chaparro, 2002), la colaboracin
social mediante frmulas digitales encuentra
caminos mucho ms prometedores y con
resultados palpables. Un fenmeno
354 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
especialmente llamativo en este sentido es el
que plantean los sistemas Peer to Peer (P2P),
programas informticos, que en su versin ms
ldica permiten el intercambio de archivos entre
los usuarios de Internet sin necesidad de la
mediacin de servidores, un modelo de
transmisin que, si bien se aplica en gran medida
de modo comercial, recoge el espritu libertario
de los orgenes contraculturales de Internet.
stos son los sistemas como eMule, eDonkey,
Kazaa y otros, que tantos quebraderos de cabeza
estn provocando en las industrias musicales
y cinematogrficas por la facilidad con la que
permiten a los internautas copiar canciones y
pelculas recin estrenadas; aunque tambin son
los que facilitan el trabajo compartido de manera
completamente descentralizada, como ocurre
con el gestor de conocimiento y colaboracin
Groove
4
.
Pero sin duda son experiencias colectivas
como la de Independent Media Center (IMC),
conocida popularmente como Indymedia
5
, las
que plantean las alternativas comunicativas
ms contundentes al modelo unidireccional
y vertical que predomina en los medios de
comunicacin convencionales. Indymedia es
una red mundial que recibe y publica
informaciones y recursos multimedia
aportados por testigos directos y no
profesionales de los acontecimientos que se
producen en todo el planeta, tanto los que
aparecen en los medios convencionales como
los que ni siquiera son mencionados. Esta
red cuenta con servidores locales en mltiples
enclaves del planeta que sirven de nodos para
garantizar su principal objetivo: potenciar una
forma de comunicacin lo menos mediada
posible, interactiva, comunitaria y transversal,
mediante la construccin colectiva y
permanente de la noticia. Aunque cada nodo
tiene sus procedimientos, cualquier internauta
puede publicar su informacin en el
Indymedia que escoja, pasando por el nico
filtro de las votaciones de los lectores, que
son las que determinan la ubicacin ms o
menos destacada de los artculos bajo la
supervisin de un equipo supervisor que no
puede censurar nada
6
. En definitiva, se trata
de una apuesta por lo que autores como Pierre
Lvy (1999) o Derrick de Kerchove (1999)
definen como inteligencia colectiva o
distribuida, este ltimo desde posiciones ms
tecnoflicas y macluhanianas.
Linux, modelo de creacin colectiva
Otras iniciativas similares a Indymedia,
con vocacin participativa y global, como la
Asociacin para el Progreso de las
Comunicaciones (APC)
7
, as como de tipo
local o regional, como Nodo 50
8
, Liberinfo
9
,
Barrapunto
10
y muchos otras, participan del
mismo espritu de colaboracin que trata de
explotar los nuevos recursos tecnolgicos para
propiciar la distribucin de competencias en
los procesos de informacin. Lo que tienen
en comn estas organizaciones y plataformas
organizativas es uno de los aspectos nucleares
de la presencia y efectos de las nuevas TIC
en nuestra sociedad global: Linux. Desde los
puntos de vista operativo, conceptual y de
los resultados, este sistema operativo es
quizs la manifestacin contracultural ms
extendida, consciente de s misma, estable
y creciente de esta sociedad globalizada y
una de las ms destacables que ha
experimentado la humanidad. Si entendemos
la contracultura como alternativa a la cultura
dominante, Linux se presenta como la opcin
ms completamente antittica de la
hegemona de las construcciones y los
procesos de produccin y consumo que
inspira el pensamiento nico.
De hecho, Linux es algo ms que un
sistema operativo que, aparte de ser libre y
gratuito, ofrece una seguridad y una
estabilidad funcionales mucho mayores que
las de los sistemas operativos comerciales,
incluido, por supuesto, el hegemnico
Windows de Microsoft. Es adems una
alternativa conceptual y procedimental de
produccin cultural que se fundamenta en el
trabajo colaborativo en red y en la superacin
del marco tradicional de autora desarrollado
durante la era industrial. Linux es la expresin
ms clara de una nueva tica, la del hacker,
cuya esencia contradice profundamente a los
planteamientos con los que se construy la
tica protestante que identific Weber. Esta
tica establece unas coordenadas nuevas para
valorar el trabajo intelectual que desplazan
el objetivo del reconocimiento profesional,
en cualquiera de sus acepciones por el de
la pasin, cuyo resultado debera ser la
gratificacin del entorno. Este cambio de
matiz supone, segn Pekka Himanen (2001),
el origen de un nuevo espritu, el de la era
355 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
de la informacin, radicalmente opuesto al
del industrialismo protestante. Se trata de una
concepcin integral que rompe con el viejo
espritu capitalista y su idea de la propiedad
que, contrariamente a las tesis de Rifkin sobre
la era del acceso (2000), se refuerza an ms
que en la etapa industrial, aplicndose de
manera creciente en la informacin y el
conocimiento a travs de patentes, marcas,
copyrights y todo tipo de contratos. Lo ms
interesante de este nuevo espritu es que no
abandona en absoluto los mecanismos del
capitalismo, lo que lo convierte en una
corriente contracultural de la que no puede
apartarse el mercantilismo, pues forma parte
de l. Como explica Himanen,
En realidad, propone una economa
de libre mercado en un sentido mucho
ms profundo que en el lxico
capitalista habitual, pero sin dejar de
ser economa capitalista. (Himanen,
2001: 79)
Lo que distingue al modelo cerrado
construido sobre la restriccin del
conocimiento mediante la exaltacin de la
propiedad intelectual, del modelo abierto
representado por Linux basado en la
colaboracin y la descentralizacin, queda
recogido en la elocuente metfora que da
ttulo al ensayo del hacker Eric Raymond:
La catedral y el bazar (1998). Ambos
espacios representan dos formas opuestas de
entender la produccin cultural y su
distribucin: centralizacin, aislamiento e
individualismo frente al desorden abierto y
el intercambio horizontal. Y ambos modelos
conviven estrechamente aunque, segn
Raymond,
Es posible que a largo plazo triunfe
la cultura del software libre, no porque
la cooperacin es moralmente correcta
o porque la apropiacin del software
es moralmente incorrecta (suponiendo
que se crea realmente en esto ltimo,
lo cual no es cierto ni para Linus ni
para m), sino simplemente porque el
mundo comercial no puede ganar una
carrera de armamentos evolutiva a las
comunidades de software libre, que
pueden poner mayores rdenes de
magnitud de tiempo calificado en un
problema que cualquier compaa.
(Raymond, 1998, 27)
El espritu del que habla Himanen y que
imbuye de creatividad efectiva al bazar de
Raymond es el mismo que inspira el ideario
y la actividad de movimientos sociales
como Wu Ming (antes conocido como
Luther Blisset), que durante los ltimos
aos se han especializado en buscar y
aplicar nuevas frmulas de la creacin
colectiva y accin poltica. Aunque Wu
Mi ng es un conj unt o de personas
identificadas que, entre otras acciones y
obras, ha ejercitado con notorio xito la
produccin colectiva de obras literarias y
cientficas
11
, la esencia ms profunda de su
existencia es la singularidad mltiple. La
idea de condividuo aparece como frmula
para desconstruir los mitos cristalizados por
y para la reproduccin del poder como el
de la fundacin de EE UU o el del
proletariado, y construir un mito nuevo y
abierto que haga de la comunidad una
sntesis de conflicto y cooperacin, una
construccin interminable de situaciones sin
perdedores, porque la victoria ser el propio
desarrol l o del j uego, as como l a
estipulacin de nuevas alianzas temporales
y la creacin de reglas que incluyan
alianzas temporales y la creacin de reglas
que i ncl uyan su fl anqueami ent o y
transgresin (Luther Blisset, 2000: 11-12).
Wu Ming, que en chino significa sin
nombre, presenta as la mayor subversin
posi bl e ant e l a exacerbaci n del
individualismo:
Podra conformarme con decir que un
nombre mltiple es un escudo para
defenderse del poder existente cuando
trata de identificar y encontrar a sus
enemigos, un arma en manos de lo
que Marx describi irnicamente
como el lado malo de sociedad. En
Spartacus, de Stanley Kubrick
(E.E.U.U., 1960), todos los esclavos
derrotados capturados por Crassus
afirmaban ser Spartacus, igual que
todos los zapatistas son Marcos y
todos los mos son Luther Blissett.
(Luther Blisset, 2000: 6)
356 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Participacin vs informacin restringida
Al calor de la cultura del cdigo abierto
surgen iniciativas de todo tipo animadas por
la liberacin de conocimiento (frente a la
liberalizacin de los contenidos) y las ventajas
de los nuevos soportes digitales para alcanzar
la supremaca del valor de uso sobre el valor
de cambio (Levy, 1999: 60)
12
. Sin embargo,
la gran contradiccin que vincula al modelo
abierto con el cerrado, al bazar con la catedral
y a la identidad mltiple con el poder de la
individuacin es, como plantea Pekka
Himanen,
la paradjica dependencia de la
informacin codificada y cerrada
respecto de la informacion abierta y,
de libre acceso. Esta paradoja se halla
en el corazn de nuestro presente: de
hecho, si se considera con toda
seriedad la dependencia de las
empresas de tecnologa respecto de la
investigacin, se debera decir que el
dilema tico al que se enfrentan las
empresas en la nueva economa de la
informacin consiste en que el xito
capitalista slo es posible mientras la
mayora de los investigadores
continen siendo comunistas [...]
Slo mientras se tenga libre acceso
al saber cientfico, los aadidos
marginales que se hagan a la
informacin colectiva llevarn a
espectaculares beneficios individuales.
Esta paradoja se debe al hecho de que
la sociedad red no est determinada
nicamente por el capitalismo sino,
en un grado cuando menos igual, por
el comunismo cientfico. (Himanen,
2001: 79-80)
Efectivamente, aqu est el mayor riesgo
del fortalecimiento de los DPI [derechos de
propiedad intelectual] y la creciente tendencia
a considerar la informacin como una
mercanca propiedad de alguien pueden poner
en peligro la existencia de las reservas
existentes de informacin pblica [...]:
fomentar su apropiacin por parte de
individuos con objetivos econmicos,
haciendo desaparecer finalmente las
conductas que no se hallan basadas en
motivaciones monetarias (Mateos, 2001).
Por el contrario, alternativas heterodoxas
como el Copyleft o la General Public License
(GPL), protegen producciones colectivas
como Linux de su apropiacin por parte de
intereses comerciales, sometiendo cualquier
pieza de software que se le aada a las
condiciones de apertura, transparencia y
publicidad. Las comillas de legales y
protegidas se deben a que, obviamente, slo
las instituciones pblicas tienen la capacidad
coercitiva de establecer y aplicar normas, y,
al parecer, por el momento, favorecen a los
intereses comerciales y privados ms que a
la salvaguarda de la accesibilidad y la
transparencia del conocimiento y la cultura.
Como concluye Mateos, al aceptar
definiciones cada vez ms laxas de
originalidad, los registros de DPI permiten
la privatizacin de enormes conjuntos de
informacin a los que basta con aadir
extensiones propietarias.
Los derechos del autor, tal como estn
planteados actualmente, ms que una garanta
de reconocimiento del trabajo y el mrito de
los productores intelectuales y culturales,
constituyen un instrumento eficaz para la
salvaguarda de los intereses comerciales de
las industrias culturales. Sin embargo, el
profundo problema que supone la
desproteccin del trabajo creativo para la
produccin cultural de una sociedad tan
sofisticada como la digital, podra encontrar
mejor solucin si se articulara, desde el punto
de vista normativo e institucional, como uno
de los elementos imprescindibles de una
poltica comprometida con la universalidad
del conocimiento y no con su restriccin.
En el caso del periodismo, sus portavoces
ya no pueden reclamar la exclusividad de su
papel con el argumento de su autora. Lo que
ms les refuerza en todo caso es su
pertenencia al medio para el que trabajan,
que es el que verdaderamente se beneficia
de la pervivencia anacrnica del modelo
actual de propiedad intelectual, como expona
Ignacio Escolar en el III Congreso de
Periodismo Digital en enero de 2003:
Una sociedad de autores que se
preocupara por el trabajo de los
periodistas, del mismo modo que los
msicos tienen una sociedad que les
357 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
protege [...] a lo mejor no es tan buena
idea porque podemos estar haciendo
el caldo gordo a intereses muy
distintos al del autor.
13
La conclusin que mostraba Jos Cervera
en ese mismo congreso era an ms rotunda:
La propiedad intelectual est abolida
de facto, slo falta que las leyes se
enteren. Lo que salvar a los autores
de la copia indiscriminada ser la
economa de la reputacin: si
plagias, baja tu reputacin en el
mercado.
14
Objetivo: abrir el ncleo de los discursos
dominantes
Ante este panorama tan contradictorio,
resultan especialmente valiosas las
experiencias periodsticas que no se
conforman con producir material informativo
al margen o en contra de los discursos
dominantes tal como sucede con la mayora
de los weblogs , sino que apuestan por
frmulas de integracin que aspiran a
incorporar en los medios convencionales las
aportaciones de la ciudadana y los
movimientos sociales a travs de los nuevos
recursos tecnolgicos. En los ltimos diez
aos ha habido muchas experiencias de lo
que se ha dado en llamar periodismo
ciudadano
15
, pero Janes Intelligence Review
16
fue la primera publicacin que puso en
marcha en 1999 una iniciativa inspiradas en
el cdigo abierto de Linux cuando someti
a la crtica de los usuarios expertos de
Slashdot
17
un artculo sobre ciberterrorismo
y una lista de preguntas sobre sus contenidos
antes de publicarlo. La respuesta fue tan
contundente que el editor de Janes decidi
desechar el texto original y construir uno
nuevo con los comentarios aparecidos en
Slashdot y las clarificaciones y los datos que
a continuacin se solicitaran a algunos de
los expertos de este site. Con ello se
inauguraba una nueva forma de hacer
periodismo en la que la redaccin informativa
se asemejaba al proceso en el que los
programadores de Linux analizan, critican y
retocan una versin beta de software.
A pesar de los ataques de algunos sectores
profesionales a la concesin que supona este
experimento, la semilla de Janes y Slashdot
ha germinado de diversas maneras en
diferentes medios digitales. En las mismas
fechas naca en Corea del Sur OhMyNews
18
,
un sitio de noticias que basaba su estructura
productiva en una inmensa red de
corresponsales, formada hoy por 26.000
ciudadanos-periodistas que nutren sus pginas
de todo tipo de informaciones y opiniones.
Este medio participativo se ha convertido en
el diario digital ms influyente del pas con
una media de 14 millones de visitas diarias
y dos millones de lectores, es decir, un 35%
de la poblacin surcoreana. De manera similar
funcionan la publicacin japonesa JanJan
19
,
que tambin se ha erigido en serio competidor
de los principales medios convencionales; o
GetLocalNews
20
, una red de sitios web
desplegada por todos los Estados Unidos que
recoge mediante una infraestructura de
edicin sencilla las inquietudes ms presentes
entre la ciudadana local. Ejemplos ms
recientes y ms localizados son los de Santa
Fe New Mexican
21
o The Dallas Morning
News
22
, que se han convertido en puntos de
referencia inevitables siguiendo el modelo de
OhMyNews.
El llamativo de los ltimo experimentos
de periodismo participativo es el que Jason
Calacanis inici en 2003 con
Weblogsinc.com
23
, una adaptacin del cdigo
abierto al periodismo especializado que aspira
a reunir a 300 socios webloggers expertos
en diferentes reas temticas para superar los
problemas de credibilidad y autonoma que
padece el periodismo tradicional. Este
proyecto supone una sistematizacin de lo
que algunos medios convencionales como la
BBC han empezado a asumir con la
incorporacin de espacios de publicacin
personal en sus pginas web. Si ya son
muchos los precedentes en lo que se refiere
a aportacin de materiales audiovisuales y
testimonios por parte de la ciudadana para
la produccin informativa convencional en
sus diferentes vertientes (no slo en Internet),
no son menores las expectativas que se abren
en el desarrollo de esa lnea de trabajo, dadas
las potencialidades que brinda la cada vez
ms sofisticada y asequible tecnologa mvil,
358 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
que pone en las manos de cualquier ciudadano
una verdadera unidad mvil multimedia.
Las experiencias de periodismo ciudadano
revelan de manera clara la profundidad de
los efectos que las nuevas TIC estn
provocando en la esencia de la comunicacin
social. Son efectos que ya nadie rechaza como
sntomas contrastables de un nuevo marco
terico basado en los nuevos paradigmas
comunicacionales, que plantean redefi-
niciones conceptuales en la comunicacin
periodstica y en la mediacin social ejercida
hasta ahora por los periodistas, entre otros
actores.
359 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Bibliografa
Blissett, Luther. Pnico en las redes.
Teora y prctica de la guerrilla cultural.
Madrid, Literatura gris, 2000.
Bowman Shayne y Willis, Chris. We Media.
How the audiences are shaping the future of
news and information. The Media Center at the
American Press Institute, 2003. Disponible en:
ht t p: / / www. hypergene. net / wemedi a
[Consulta: 13/2/2004]
Casacuberta Sevilla, David. Creacin
colectiva. En Internet el creador es el pblico.
Barcelona: Gedisa, 2003.
Chaparro Escudero, Manuel.
Sorprendiendo al futuro. Comunicacin para
el desarrollo e informacin audiovisual. Sant
Cugat del Valls (Barcelona): Los Libros de
la Frontera, 2002.
Himanen, Pekka, La tica del hacker y
el espritu de la era de la informacin;
prlogo de Linus Torvalds; eplogo de Manuel
Castells. Barcelona: Destino, 2002.
Kerckhove, Derrick de. Inteligencias en
conexin: hacia una sociedad de la web.
Barcelona: Gedisa, 1999.
Lvy, Pierre. Qu es lo virtual?
Barcelona: Paidos Ibrica, 1999.
Mateos Garca, Juan. Derechos De
Propiedad Intelectual Y Espacios De
Informacin Pblica [en lnea]. En: University
of East Anglia Norwich, 2001. Disponible en:
http://www.uea.ac.uk/~j013/wipout/
essays/1012garcia.htm [Consulta: 20/09/2003]
Rifkin, Jeremy. La era del acceso: la
revolucin de la nueva economa. Barcelona:
Paidos, 2000.
Villate, Javier. Periodismo de fuente
abierta. [En lnea]. Enredando, 1999.
Disponible en: http://www.enredando.com/
cas/cgi-bin/enredantes/plantilla.pl?ident=77.
[Consulta: 12-agosto.03]
Wolton, Dominique. Sobrevivir a
Internet: conversaciones con Olivier Jay.
Barcelona: Gedisa, 2000.
Wu Ming. Esta revolucin no tiene
nombre. Madrid: Ediciones Acuarela, 2002.
_______________________________
1
Universidad Rey Juan Carlos.
2
http://www.witness.org/.
3
Durante la invasin de Irak, muchos
corresponsales de guerra compaginaron su labor
profesional con el mantenimiento diario de sus blogs
personales, en los que presentaban versiones ms
heterodoxas de sus crnicas y reportajes. La CNN
lleg a censurar a su reportero Kenin Sites,
prohibindole la publicacin de su diario en Internet.
Otras cadenas adoptaron posturas ms inteligentes
ante tal bifurcacin narrativa: la BBC no slo
consinti que sus enviados desarrollaran sus diarios
personales de guerra, sino que lo alentaron
facilitndoles espacio en su servidor para alojarlos.
4
http://www.groove.net/.
5
www.indymedia.org.
6
Cabe aqu destacar el enorme valor simblico
que tiene uno de los ltimos proyectos de
Indymedia desde el punto de vista de las
contradicciones socioeconmicas de la
globalizacin: Indymedia Estrecho, una iniciativa
en plena fase de creacin y en la que estn
participando diversos movimientos sociales de
Andaluca, Canarias y el Magreb. Como
contrapartida, hay que sealar otro de los nodos
de la red de Indymedia, la de Madrid, donde la
coordinacin de las votaciones de artculos punto
fundamental en cualquier Indymedia, como hemos
visto, fue motivo de excesivos enfrentamientos
entre los principales participantes del nodo.
7
http://www.apc.org.
8
http://www.nodo50.org/.
9
http://www.liberinfo.net.
10
http://www.barrapunto.com.
11
Q, Manual de Guerrilla de la Comunicacin,
Esta revolucin no tiene rostro.
12
Un buen ejemplo de la experimentacin de
nuevas frmulas para socializar el conocimiento es
el Libro Interactivo editado por el Mster de
Televisin Educativa de la Universidad Complutense
de Madrid, dirigido por Agustn Garca Matilla, cuyos
contenidos se distribuyen a travs de redes educativas
y sociales con un precio por debajo de su coste
y muy inferior al precio que tendra si se
comercializara como cualquier producto multimedia.
13
La Vanguardia, 18 de enero de 2002. En:
ht t p: / / www. l a va ngua r di a . e s / c gi bi n/
n o t i c i a l v d . p l ? n o t i c i a =
huesca180102&seccion=int...
14
Ibid
15
Segn Pew Center, al menos el 20 de los
aproximadamente 1500 peridicos estadounidenses
practicaron alguna frmula de periodismo
participativo entre 1994 y 2001 con resultados
notablemente positivos.
16
http://jir.janes.com/.
17
http://www.slashdot.com.
18
www.ohmynews.com.
19
www.janjan.jp.
20
getlocalnews.com.
21
http://www.santafenewmexican.com.
22
http://www.dallasnews.com.
23
Weblogsing.com.
360 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
361 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
El impacto de Internet en los medios de comunicacin en Espaa.
Aproximacin metodolgica y primeros resultados
Jos Pereira
1
, Manuel Gago, Xos Lpez
2
,
Ramn Salaverra
3
, Javier Daz Noci, Koldo Meso
4
Mara ngeles Cabrera, Mara Bella Palomo
5
Historia de los cibermedios en Espaa
Internet, como nuevo medio de
comunicacin, ha encontrado ya su lugar en
las ltimas aportaciones bibliogrficas sobre
historia del periodismo e historia social de
la comunicacin
6
. Tambin se dedic un
captulo a la perspectiva histrica en la que
puede ser considerada la primera monografa
sobre ciberperiodismo en Espaa
7
. Han
transcurrido diez aos desde que en 1994
aparecieron los primeros medios de
comunicacin en la World Wide Web y
disponemos ya de una cierta perspectiva
temporal que permita, aplicando la
metodologa histrica, explicar la evolucin
del ciberperiodismo espaol. Precisamente,
trabajan en este sentido parte de los miembros
del proyecto de investigacin El impacto de
Internet en los Medios de comunicacin en
Espaa, financiado por el Ministerio de
Ciencia y Tecnologa y reconocido con la
referencia BSO2002-04206-C04-02, en el que
participan las universidades de Pas Vasco,
Navarra, Santiago de Compostela y Mlaga.
Para empezar, disponemos de sendas
bases de datos que permiten comparar la
evolucin del panorama de los cibermedios
espaoles en esos diez aos. Entre los aos
1994 y 1997 los profesores de la Universidad
del Pas Vasco Koldo Meso Ayerdi y Javier
Daz Noci confeccionaron una base de datos,
que se pretenda exhaustiva, con todos los
ttulos de cibermedios espaoles, a partir de
la ficha hemerogrfica clsica de Jacques
Kayser. Parte de los resultados de esa recogida
de datos se publicaron en el El periodismo
electrnico: informacin y servicios en la era
del ciberespacio, a modo de apndice, y, de
forma muy resumida, un ao despus en
Medios de comunicacin en Internet
8
. Desde
2003, las cuatro universidades que trabajan
en el mencionado proyecto de investigacin
nutren una base de datos con todos los
cibermedios espaoles actuales. La
comparacin de esas bases de datos, y de
otras parciales (por ejemplo, la que de
ciberdiarios hizo Bella Palomo para el In-
forme anual de la comunicacin 1999-2000),
nos permitir comprobar la evolucin de los
diferentes medios de comunicacin a lo largo
de una dcada, qu medios han sobrevivido
y qu mutaciones han experimentado, as
como qu otros medios han surgido, y
tambin desaparecido, aprovechando las
nuevas tecnologas.
Desde una perspectiva histrica, tambin
nos interesa comprobar cmo se han
desarrollado, en su primera dcada de vida,
los estudios sobre ciberperiodismo. Otros
aspectos nos interesan tambin: la evolucin
empresarial y la estructura de las redacciones
de esos cibermedios, y tambin el pblico,
tanto en lo que se refiere a su cuantificacin
como en lo que se refiere a los aspectos
cualitativos. En definitiva, un enfoque social
para un anlisis historiogrfico de este nuevo
fenmeno comunicativo.
Mapa de cibermedios
Mapa de cibermedios en Espaa es la
primera parte de la investigacin menciona-
da. En este caso, el objeto de estudio son
todos aquellos emisores de contenidos que
tienen voluntad de mediacin entre hechos
y pblico, utilizan fundamentalmente criterios
y tcnicas periodsticas, usan el lenguaje
multimedia, se actualizan y se publican en
la red Internet. Por supuesto, dentro de esta
clasificacin se encuentran todos los que
dispongan de un ISSN (International
Standard Serial Number) y los que son
versiones de otros ya existentes, ya sean
peridicos, radios o televisiones.
La ficha de anlisis utilizada refleja dos
grandes reas: datos de identificacin (nombre,
ubicacin, direccin, ) y datos de publicacin
de la informacin (tipologa, actualizacin, otros
soportes, contenido, idioma,).
362 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Para realizar la muestra, el grupo ha
diseado una base de datos en lnea a la que
pueden acceder exclusivamente los
codificadores y miembros de los equipos de
investigacin y que ha permitido una mejora
en el proceso de recogida de datos.
Las fuentes que se han utilizado para
elaborar este Mapa de cibermedios han sido
las diferentes guas de comunicacin
publicadas en Espaa, los directorios locales,
un seguimiento de las informaciones
publicadas o emitidas en prensa, radio o
televisin, as como la bsqueda en los
diferentes buscadores. Una vez recogidos los
primeros datos, los codificadores comprueban
exhaustivamente cada uno de estos
cibermedios, para determinar o no su vala.
Los resultados del primer censo de
cibermedios en Espaa son los que se pueden
ver en el siguiente cuadro:
Tipologa de cibermedios
Una de las caractersticas fundamentales
de los cibermedios que se han podido obser-
var en el transcurso de la investigacin ha
sido la variedad de tipologas que existen en
la actualidad en Espaa. Observamos que la
gran mayora parte de la concepcin de
cibermedio como prensa peridica. Esto
ocurre en el 57,50% de los casos, lo que
supone hablar de 617 cibermedios. Si con-
tinuamos con esta clasificacin por tipologas,
observamos que los cibermedios-radio
acaparan el 23,3% (251) del total en Espaa,
seguidos de los cibermedios-televisin, con
un 9,11% (98). El resto, son publicaciones
de otros tipos no incluidas en las anteriores.
A este dato tenemos que aadir la
confirmacin de una sospecha que tenamos
al inicio de la investigacin: la mayora de
los medios de comunicacin en Internet
espaoles tienen una versin en otro soporte.
De hecho, los datos son muy claros: un 77,7%
(835) de los cibermedios tienen un sucedneo
en otro soporte distinto frente al 22,3% (240)
que slo existen en la red.
Si nos referimos al tipo de contenidos,
observamos un dato ciertamente interesante
relacionado con la especializacin. La
investigacin realizada indica que el 43% de
los cibermedios realizan informacin espe-
cializada, frente al 57% que publican
informacin de carcter general. El dato
confirma que en Internet existe una gran
preocupacin por la especializacin en los
contenidos, lo que abre cierta esperanza en
lo que se refiere a la calidad de los
contenidos
9
.
Otro nuevo dato aportado por la
investigacin confirma el inters en la
especializacin: de los 462 (43%) cibermedios
que realizan informacin especializada, 114
(24,67%) no tienen un equivalente en otro
soporte, frente a los 348 (75,32%) que s la
tienen. Sin embargo, en los cibermedios de
informacin general se observa una sensible
disminucin en el porcentaje de medios que
no tienen ms que una versin en Internet:
un 20,55% frente al casi 80% de los
cibermedios de informacin general que
tienen ms de un soporte.
Modelos de negocio
En nuestro estudio tambin nos interesan
los aspectos empresariales. Y en este senti-
e d a d i n u m o C
a m o n t u a
o r e m N
e d
s o i d e m r e b i c
e j a t n e c r o P
o t c e p s e r n o c
l a t o t l a
a a p s E e d
d i r d a M 0 6 2 % 9 1 , 4 2
a u l a t a C 8 9 1 % 2 4 , 8 1
a c u l a d n A 6 2 1 % 2 7 , 1 1
i d a k s u E 7 1 1 % 8 8 , 0 1
a i c i l a G 1 6 % 7 6 , 5
a i c n e l a V 1 6 % 7 6 , 5
a L - a l l i t s a C
a h c n a M
3 5 % 3 9 , 4
s e r a e l a B 4 4 % 9 0 , 4
n g a r A 0 3 % 9 7 , 2
s a i r u t s A 8 2 % 0 6 , 2
a r r a v a N 7 1 % 8 5 , 1
n e L - a l l i t s a C 6 1 % 9 4 , 1
a i r b a t n a C 4 1 % 0 3 , 1
s a i r a n a C 4 1 % 0 3 , 1
a j o i R a L 3 1 % 1 2 , 1
a r u d a m e r t x E 0 1 % 3 9 , 0
a i c r u M 7 % 5 6 , 0
a l l i l e M 4 % 7 3 , 0
a t u e C 2 % 9 1 , 0
l a t o T 5 7 0 1 % 0 0 , 0 0 1
363 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
do, la palabra que describe mejor el pano-
rama actual de los modelos de negocio en
los cibermedios espaoles vuelve a ser, sin
duda, la heterogeneidad. De hecho, los medios
hispanos en Internet presentan modelos de
negocio diversos no slo desde una perspec-
tiva meditica es decir, en funcin de si
el medio matriz es un diario, una televisin
o una radio , sino tambin desde el punto
de vista de las distintas cabeceras dentro de
los diarios, por ejemplo, el abanico de
modelos de negocio adoptados por las
publicaciones va desde la total gratuidad al
pleno pago. Toda esta diversidad actual en
la adopcin de modelos de negocio es un
sntoma de la desorientacin que padecen las
empresas de comunicacin en su propsito
de asentar modelos de negocio sostenibles
en sus publicaciones digitales
10
.
En los cibermedios hispanos actuales, hay
quienes aspiran a la rentabilidad atrayendo
audiencias masivas mediante la oferta gra-
tuita de todos sus contenidos y la adopcin
de estrategias multiplicadoras de su
visibilidad o, en expresin de Phil Meyer,
de su influencia. No faltan tampoco quienes
pretenden ser rentables con estrictos mode-
los de pago, si bien como se detallar a
continuacin apenas cabe incluir en esta
categora ms que a unos contados
cibermedios, entre los que destacan Elpais.es
y las ediciones digitales de los diarios
econmicos. Aumentan asimismo los medios
que tratan de alcanzar la deseada rentabilidad
a travs de una combinacin de las dos
estrategias anteriores. Y, por fin, hay medios
que todava se limitan a estar presentes en
la Red, sin modelo de negocio alguno ms
que el de mantener una presencia informa-
tiva testimonial o, menos incluso, meramen-
te corporativa. Estas estrategias coexisten en
la Internet hispana actual
11
y dibujan los
siguientes tres modelos de negocio que
pretendemos analizar con detalle en nuestra
investigacin:
Modelo gratuito
Consiste en dar acceso a una oferta
gratuita de contenidos y servicios interactivos,
con la que los medios pretenden atraer a la
mayor cantidad posible de usuarios para
traducir esa audiencia en ingresos por
publicidad y servicios de comercio electr-
nico. Este modelo es el elegido por la mayora
de las publicaciones con presencia exclusiva
en Internet (publicaciones digitales,
confidenciales, weblogs, etc.), por los sitios
web de todas las cadenas y emisoras de radio
y televisin, y por la mayora de las ediciones
digitales de los diarios, sobre todo los de
difusin regional.
Modelo de pago
Es aqul que obliga a los usuarios a pagar
por la consulta de la totalidad o, al menos,
de la gran mayora de las informaciones- y
por el uso de los eventuales servicios
interactivos de los medios. Este modelo ha
sido incorporado por pocos cibermedios en
Espaa, pero existen no obstante algunos
ejemplos muy significativos. El ms desta-
cado, sin duda, es el caso de Elpais.es,
ntegramente de pago desde el 18 noviembre
de 2002, salvo las secciones de Participacin
y Opinin. Junto a este ciberdiario, han
adoptado el modelo de pago, entre otros, la
prctica totalidad de los sitios web de las
agencias de noticias, algunas revistas (por
ejemplo, Hola), las ediciones en Internet de
la prensa econmica (Expansin, Cinco Das,
La Gaceta de los Negocios) y, en general,
aquellos cibermedios cuyos contenidos gozan
de un alto valor aadido por su utilidad
profesional.
Modelo mixto
Es el resultante de la combinacin de los
dos modelos anteriores. Se distingue del
modelo de pago en que, si bien se exige el
abono por una cantidad significativa de
contenidos y/o servicios, el usuario puede
obtener un servicio informativo suficiente
slo con la oferta gratuita. La extensin de
este modelo mixto est en aumento en los
ltimos aos y alcanza a medios de diverso
tipo, particularmente a los portales de Internet
(que cobran, sobre todo, por algunos de sus
servicios interactivos) y a las ediciones en
Internet de algunos diarios sobre todo de
difusin nacional (El Mundo, Abc), pero
tambin de mbito regional (peridicos del
grupo God y del grupo Vocento) y local
(Diario de Navarra, El Peridico del Alto
Aragn, etc.).
364 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Gneros
El impacto de Internet en los medios de
comunicacin tambin ha alcanzado a los
lenguajes. El desarrollo de unos medios con
caractersticas especficas, en una plataforma
tecnolgica diferente de las anteriores y
dirigidos a un tipo de lector/usuario con
hbitos nuevos, estaba llamado a producir
nuevas formas de expresin para el
periodismo. Y as ha ocurrido.
Durante su primer decenio de vida, los
cibermedios espaoles han desarrollado for-
mas nuevas de expresin, al comps de lo
que ocurra tambin en otros pases. Partiendo
del canon profesional establecido por la
Redaccin Periodstica clsica, se han
desarrollado las primeras formas especficas
de codificacin de los mensajes
ciberperiodsticos, dando lugar as a lo que
ya se ha dado en llamar una nueva Redaccin
Ciberperiodstica
12
. Estas nuevas formas
encuentran un referente directo en los gne-
ros procedentes de los medios impresos; no
en vano, al igual que en los peridicos, en
los cibermedios se habla, entre otros tipos
de textos, de noticias, entrevistas, reportajes,
columnas y editoriales. Sin embargo, el
lenguaje ciberperiodstico ha comenzado a
importar tambin formatos propios de los
medios audiovisuales. El gnero de las cr-
nicas simultneas, profusamente utilizadas ya
para el relato en vivo de eventos deportivos,
y los encuentros o entrevistas en directo, son
claro ejemplo de esta importacin de forma-
tos desde la radio y la televisin. De hecho,
tambin formatos nacidos de la propia red,
como las bitcoras o weblogs, han comenzado
a ser incorporados como nuevos gneros
periodsticos por parte de los cibermedios
espaoles.
La tradicional tendencia del periodismo
a perpetuar rutinas profesionales abre paso,
siquiera tmidamente, a nuevas formas espe-
cficas de presentacin de los contenidos
periodsticos. Nuestro estudio pretende
describir esas novedades. Aspiramos a
mostrar cmo las nuevas formas plenamente
ciberperiodsticas se caracterizan por
aprovechar cada vez ms las posibilidades
expresivas de la informacin en la red; a
saber, fundamentalmente la hipertextualidad,
la multimedialidad y la interactividad. Estos
son los factores que inciden ms profunda-
mente en la evolucin actual de las formas
del discurso periodstico. Los nuevos gne-
ros ciberperiodsticos se caracterizan por
desarrollar los gneros clsicos en alguno de
esos tres frentes aisladamente o bien, varios
o todos ellos a la vez.
No por casualidad, los investigadores de
los nuevos lenguajes periodsticos coinciden
en sealar a la infografa digital como el
gnero que ms ha evolucionado y ha
aprovechado ms a fondo las posibilidades
expresivas de Internet
13
. La infografa digital
es el gnero periodstico que recurre con ms
variedad a la construccin hipertextual, a la
integracin multimeditica de soportes
textuales y audiovisuales y, en menor me-
dida, tambin a los juegos interactivos entre
el gnero y el lector. En este sentido, puede
decirse que los cibermedios hispanos son un
vivero fecundo de nuevas formas
ciberperiodsticas de discurso, por cuanto su
produccin infogrfica digital es ampliamente
reconocida como una de las mejores del
mundo. Nuestra investigacin tratar de
comprobar la realidad de ese sentir comn.
El diseo ciberperiodstico
Los cibermedios han evolucionado visu-
almente desde sus primeras experiencias en
red entre las que destacan las vinculadas a
cualquiera de los modelos ya definidos como
el de reproduccin facsimilar, as como el
adaptado al nuevo medio, el digital o el ms
reciente modelo multimedia
14
. La aplicacin
prctica de este ltimo se ha concretado
fundamentalmente en el desarrollo de una
infografa y una publicidad ms interactivas.
Entre los continuos intentos de adaptacin
del diseo al nuevo espacio meditico
predominan todava, las soluciones visuales
procedentes del diseo grfico
15
, que si bien
han aportado jerarquizacin a los contenidos,
as como claridad y orden en la presentacin
de informacin periodstica, no han propi-
ciado la apuesta por nuevas formas de diseo
inspiradas en el lenguaje audiovisual, como
por ejemplo la estructuracin de las webs a
partir de un guin. De igual manera, aunque
ya se empieza a disear la informacin
atendiendo a las posibilidades de
hipertextualidad, multimedialidad e
365 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
interactividad, faltan soluciones visuales
basadas en la personalizacin de los
contenidos, as como en el conocimiento de
las audiencias y en la accesibilidad que ofrece
la red y que no contemplan un gran nmero
de cibermedios. En los ltimos aos, los
cibermedios han experimentado casi anual-
mente nuevos diseos, lo que favorece la
adaptacin a las nuevas tecnologas y soportes
(pantallas de ordenador, televisor, mviles,
PDA, etc.), a la vez que exige innovacin,
y creatividad para plantear nuevas solucio-
nes audiovisuales de presentacin de la
informacin periodstica.
Lenguas y cibermedios espaoles
Espaa se configura, tras la Constitucin
de 1978, como un estado con diferentes
lenguas, una comn, de conocimiento
obligatorio (el castellano) y otras de mbito
geogrfico ms reducido a las que se otorga
la posibilidad de ser cooficiales en cada
autonoma. En ms de un cuarto de siglo de
vigencia de la actual Constitucin, han sido
varias las autonomas que han optado por
conceder, con diferente estatus jurdico, la
categora de cooficial a su respectiva lengua.
As, en Galicia es cooficial el gallego; en
el Pas Vasco y en Navarra, el euskera o
vascuence; en Asturias, aunque la Ley de
Normalizacin Lingstica se demor bastan-
tes aos tras aprobarse el Estatuto de
Autonoma, el asturiano es ya lengua
cooficial. El cataln lo es en Catalua (don-
de tambin lo es, en el valle de Arn, el
arans) y en las Islas Baleares, mientras que
en la Comunidad Valenciana adopta la
denominacin oficial de valenciano. Hay otras
comunidades donde se hablan idiomas dife-
rentes del castellano; es el caso de Aragn,
que al tiempo de escribir estas lneas tiene
pendiente la aprobacin de una Ley de
Lenguas, ya que en la denominada Franja
de Poniente (la que linda con Catalua y
Valencia) se habla cataln y en los valles
pirenaicos oscenses se mantiene vivo el
aragons.
Todo ello hace de Espaa uno de los
pases de Europa ms ricos, desde el punto
de vista cultural y lingustico. Por supuesto,
el periodismo es reflejo de esa pluralidad,
y tambin lo es el ciberperiodismo. Hasta qu
punto los nuevos medios ayudan o no al
desarrollo de esas diferentes lenguas y de qu
modo representan realmente la importancia
de stas a travs de su presencia en el
ciberespacio es algo que tambin analizamos
en este ambicioso proyecto, desde varias
vertientes.
Un primer enfoque metodolgico es
cuantitativo, es decir, pretendemos medir en
lo posible la presencia de esas lenguas en
los cibermedios espaoles y su importancia
relativa respecto, sobre todo, de la lengua
comn, el castellano. Por ejemplo, si el
porcentaje de cibermedios encuentra o no un
paralelismo con el nmero de hablantes de
esas lenguas. Aqu las situaciones legales son
bien diferentes, como lo es el nivel de uso
de cada lengua en las reas geogrficas donde
se hablan. Por ejemplo, no es igual el estatus
jurdico del euskera en Navarra y en el Pas
Vasco, y por lo tanto intentaremos comprobar
hasta qu punto eso se traslada al uso en el
ciberespacio. Tampoco es igual el uso del
cataln en Catalua o en Valencia,
independientemente de la situacin jurdica
en que el idioma se encuentre en cada
comunidad.
En segundo lugar, proponemos un
enfoque cualitativo. Esto, a su vez, quiere
decir que nos fijaremos en el modelo o
modelos de lengua que se dan a conocer en
el ciberespacio. Sobre todo, aunque no slo,
en el caso de las lenguas diferentes al
castellano, teniendo en cuenta que,
generalmente, su gramaticalizacin ha sido
mucho ms tarda. Empleo o no de formas
dialectales, o incluso de variedades locales
(claro en el caso, por ejemplo, del euskera
16
),
de modelos ortogrficos (el caso del gallego),
valoracin de modelos estndar, son algunos
de los puntos que abordamos en nuestra
investigacin. La globalizacin no siempre,
ni necesariamente, quiere decir el abandono
de la comunicacin local, es ms, a veces
sta se potencia. El abaratamiento de los
costes con respecto al mundo de lo impreso
supone, adems, que Internet es campo
abonado para medios de comunicacin de
pblico ms reducido o contenidos ms
especializados, que en muchas ocasiones tiene
tambin su parangn en el modelo de lengua
empleado.
366 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Otro factor ha de tenerse en cuenta: el
contacto de comunidades de hablantes de una
misma lengua (en sus diferentes variantes,
si se quiere), repartidas en espacios geogr-
ficos o poltico-administrativos diferentes,
implica muchas veces un fenmeno paralelo
de unificacin lingustica. Esto ocurre, por
ejemplo, en el caso del castellano, una lengua
con ms de 400 millones de hablantes de los
cules slo una dcima parte son de
nacionalidad espaola. Pero tambin ocurre
en el caso del euskera (que se habla en parte
del sur de Francia), del cataln (que se emplea
en el Roselln francs y en la ciudad italiana
de Alguer), o incluso del arans, en el fondo
una variedad dialectal occitana. Nos
adentramos as en el terreno de la
sociolingstica y de la dialectologa
17
, puesto
que nos interesa comprobar si Internet es un
factor de cohesin social y lingstica, en un
pas donde se regula jurdicamente buena
parte de sus lenguas (lo que ha hecho, por
ejemplo, que el arans sea la variedad
occitana ms gramaticalizada) y donde las
que no lo estn tienen problemas frente a
la competencia del muy pujante castellano
(caso del asturiano o el aragons, o incluso
del mirands, de uso mucho ms reducido).
Finalmente, nos interesa comprobar cul
es la presencia y uso de otras lenguas en los
cibermedios espaoles: el ingls, la lengua
ms extendida en Internet, pero tambin otras
como el francs o el alemn, toda vez que
se trata de lenguas con una larga tradicin
culta y con una cierta comunidad de hablantes
en nuestro pas.
Los desafos ticos en la era digital
La revalorizacin de los rasgos esenciales
de la prctica tradicional del periodismo se
ha implantado en los ltimos tiempos tambin
en el terreno digital bajo el lema slo los
medios de calidad sobrevivirn en Internet.
Pero lejos de cualquier reduccionismo, las
ansiadas bsquedas de la veracidad y la
objetividad de los textos quedan influidas por
un nuevo contexto que aumenta la
complejidad de la cuestin.
Los debates se centran en el trato con
las fuentes, la redefinicin del trabajo de
investigacin y la excesiva dependencia de
la publicidad. En este marco, el periodista
asume nuevas responsabilidades y se enfren-
ta a dilemas derivados de la virtualidad de
la red que pueden daar la credibilidad de
los contenidos y, por extensin, del propio
medio de comunicacin: desde cmo veri-
ficar las declaraciones vertidas en un chat,
un blog o un foro teniendo en cuenta que
estas fuentes invisibles pueden desaparecer
repentinamente y que en muchas ocasiones
slo propagan rumores, hasta confiar en
correos electrnicos de remitentes que
defienden su anonimato, o fijar nuevas
estrategias para ganar a una audiencia infiel
por naturaleza.
Por otra parte, el autocontrol es el nico
arma para hacer frente a la deficiente
regulacin en materia de copyright, vaco
legislativo que ha facilitado el uso
indiscriminado del contenido grfico y/o
textual que circula por la red.
El futuro que propone Internet por tanto
no evoluciona de espaldas a la tica de la
profesin, aunque este compromiso depende
en gran medida de la voluntad individual del
informador. Para algunos estudiosos
18
, en esta
era la tica es el nico motivo que justifica
la supervivencia del periodista.
De la indefinicin a la precariedad del
periodista digital
Se ha cumplido una dcada del nacimiento
del ciberperiodismo en Espaa, y an hoy
las ventajas para el profesional de la
comunicacin resultan confusas desde una
perspectiva maniquesta. El nuevo entorno ha
precipitado la bsqueda obsesiva de una
denominacin para aludir a un informador
rediseado (Pattern, Ramonet, Fernndez
Hermana). Pero hablar de teleperiodista,
tecnoperiodista, infonomista, instantaneista o
periodista cyborg slo nubla an ms una
realidad caracterizada por la precariedad
laboral.
Con el boom de Internet se generan
mltiples mitos y deseos en torno a la figura
del emisor, que slo el tiempo se ha encargado
de desmentir. La expansin tarda del acceso
a Internet en las redacciones
19
, unido a una
formacin coja desde el punto de vista
tecnolgico, unos salarios discriminados, las
escasas inversiones en personal y el
consecuente abuso de los contratos a becarios
367 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
y el horario dependiente del cierre de las
versiones tradicionales demuestran que este
periodismo no goza de buena salud, y que
los periodistas reconozcan en este contexto
ms debilidades que puntos fuertes
20
.
El estudio desarrollado por el Grup de
Periodistes Digitals y el Sindicat de
Periodistes de Catalunya
21
confirma este
elevado grado de insatisfaccin. Una situacin
difcil de resolver porque el periodista pre-
sume tradicionalmente de su alergia al
asociacionismo, y porque las propias empre-
sas no confan en Internet, manteniendo estas
reas al margen de los convenios laborales
que afectan al resto de la plantilla.
Otro aspecto muy importante que debe
tenerse en cuenta a la hora de analizar el marco
profesional del ciberperiodista espaol es el
jurdico. Tanto el contractual (laboral o civil-
mercantil) como el de los modelos asociativos
(sindicacin, asociacionismo o sindicacin) o
el de la gestin de los derechos de negociacin
colectiva o el de los derechos de autor. Puesto
que Internet es un medio con caractersticas
bien diferentes, podra incluso pensarse que,
al tratarse de una nueva profesin o del
desarrollo de otra no siempre suficientemente
regulada en Espaa (la de periodista) la
necesidad de mejorar los instrumentos jur-
dicos que la definen es an mayor.
368 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Bibliografa
Alvar, Manuel (dir.), Manual de
dialectologa hispnica, Barcelona, Ariel,
1996.
Armaanzas, Emy, Daz Noci, Javier y
Meso Ayerdi, Koldo, El periodismo electr-
nico. Informacin y servicios en la era del
ciberespacio, Barcelona, Ariel, 1996.
Briggs, Asa y Burke, Meter, De
Gutenberg a Internet. Una historia social de
los medios de comunicacin, Madrid, Taurus,
2002.
Cabrera Gonzlez, M ngeles,
Convivencia de la prensa escrita y la prensa
online en su transicin hacia el modelo de
comunicacin multimedia, en Estudios so-
bre el mensaje periodstico, n 7. Madrid,
UCM, 2001.
Cabrera Gonzlez, M ngeles,
Periodismo digital y nuevas tecnologas, en
Cabrera, Carlos, Historia del Periodismo
Universal, Madrid, Ariel, 2004.
Cerezo, Jos M. y Zafra, Juan M., El
impacto de Internet en la prensa, Madrid,
Fundacin Auna, coleccin Cuadernos
Sociedad de la Informacin, 2003.
Cores, Rafael, Shaping hypertext in
news: multimedia infographics, en
Salaverra, Ramn y Sdaba, Charo (Eds.),
Towards New Media Paradigms. Content,
Producers, Organizations and Audiences,
Pamplona, Ediciones Eunate, 2003, pp. 27-
46.
Daz Noci, Javier y Meso Ayerdi, Koldo,
Medios de comunicacin en Internet, Madrid,
Anaya Multimedia, 1997.
Daz Noci, Javier y Salaverra, Ramn
(coords.), Manual de redaccin
ciberperiodstica, Barcelona, Ariel, 2003.
Daz Nosty, Bernardo, Informe anual de
la comunicacin 1999-2000, Barcelona,
Grupo Zeta, 2000.
Dez Ferreira, Miguel ngel, Los
diarios digitales: los medios se mueven, en
Iworld, n 60, 05/2003.
Fernndez Coca, Antonio, Produccin y
diseo grfico para World Wide Web, Bar-
celona, Paids, 1998.
Palomo Torres, Mara Bella, El uso
redaccional de Internet en la prensa diaria
espaola, Mlaga, Universidad de Mlaga,
2002.
Palomo Torres, Mara Bella, El
periodista on line: de la revolucin a la
evolucin, Sevilla, Comunicacin Social,
2004.
Sdaba, Charo y Salaverra, Ramn
(Eds.), Towards New Media Paradigms.
Content, Producers, Organisations and
Audiences, Pamplona, Ediciones Eunate,
2003.
Valero, Jos Luis, El relato en la
infografa digital, en Daz Noci, Javier y
Salaverra, Ramn (coords.), Manual de
redaccin ciberperiodstica, Barcelona, Ariel,
2003, pp. 555-589.
Varela, Juan, La prensa en Internet se
paga, en Chasqui. Revista latinoamericana
de comunicacin, n 82, junio 2003, http:/
/www.comunica.org/chasqui/82/varela82.htm.
Zuazo, Koldo, Euskalkiak, herriaren
lekukoak, San Sebastin, Elkar, 2003.
_______________________________
1
Universidad de Santiago de Compostela.
2
Universidad de Santiago de Compostela.
3
Universidad de Navarra.
4
Universidad del Pas Vasco.
5
Universidad de Mlaga.
6
Asa Briggs y Meter Burke, De Gutenberg
a Internet. Una historia social de los medios de
comunicacin, Madrid, Taurus, 2002. M ngeles
Cabrera Gonzlez, Periodismo digital y nuevas
tecnologas, en Carlos Barrera (coord.), Historia
del Periodismo Universal, Madrid, Ariel, 2004.
7
Emy Armaanzas, Javier Daz Noci y Koldo
Meso Ayerdi, El periodismo electrnico.
Informacin y servicios en la era del ciberespacio,
Barcelona, Ariel, 1996.
8
Javier Daz Noci y Koldo Meso, Medios de
comunicacin en Internet, Madrid, Anaya
Multimedia, 1997.
9
Esta teora es la que se defiende en la
comunicacin La especializacin en los
cibermedios de Galicia: experiencias y alternati-
vas, realizada por Jos Pereira, Manuel Gago y
Xos Lpez y que ser publicada en el libro de
actas del II Congreso de Periodismo Especializa-
do, que se celebra el prximo mes de mayo en
Guadalajara (Espaa).
10
Jos M. Cerezo y Juan M. Zafra, El impacto
de Internet en la prensa, Madrid, Fundacin Auna,
coleccin Cuadernos Sociedad de la Informacin,
2003.
11
Miguel ngel Dez Ferreira, Los diarios
digitales: los medios se mueven, en Iworld, n
369 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
60, 05/2003. Juan Varela, La prensa en Internet
se paga, en Chasqui. Revista latinoamericana de
comunicacin, n 82, junio de 2003.
12
Javier Daz Noci y Ramn Salaverra,
Manual de redaccin ciberperiodstica, Barcelo-
na, Ariel, 2003, pp. 15-43.
13
Rafael Cores, Shaping hypertext in news:
multimedia infographics, en Ramn Salaverra
y Charo Sdaba (eds.), Towards New Media
Paradigms. Content, Producers, Organizations and
Audiences, Pamplona, Ediciones Eunate, pp. 27-
46. Jos Luis Valero, El relato en la infografa
digital, en Javier Daz Noci y Ramn Salaverra
(coords.), Manual de redaccin ciberperiodstica,
Barcelona, Ariel, 2003, pp. 555-589.
14
M ngeles Cabrera, Convivencia de la
prensa escrita y la prensa online en su transicin
hacia el modelo de comunicacin multimedia,
en Estudios sobre el mensaje periodstico, n 7,
Madrid, UCM, 2001.
15
Antonio Fernndez-Coca, Produccin y
diseo grfico para la World Wide Web, Barce-
lona, Paids, 1998.
16
Koldo Zuazo, Euskalkiak, herriaren
lekukoak, San Sebastin, Elkar, 2003.
17
Manuel Alvar (dir.), Manual de dialectologa
hispnica, Barcelona, Ariel, 1996.
18
Josep Mara Casass, Perspectiva tica del
periodismo electrnico, http://www.ucm.es/info/
perioI/Period_I/EMP/Numer_07/7-3-Pone/7-3-
03.htm.
19
Mara Bella Palomo Torres, El uso
redaccional de Internet en la prensa diaria
espaola, Mlaga, Universidad de Mlaga, 2002.
20
Mara Bella Palomo Torres, El periodista
on line: de la revolucin a la evolucin, Sevilla,
Comunicacin Social, 2004.
21
Alojado en:
http://www.periodistesdigitals.org/docs/
informe_laboral_periodistas_digitales.pdf.
370 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
371 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Interfaces meta-comunicativos:
uma anlise das novas interfaces homem/mquina
Jos Manuel Brtolo
1
This is the Language
of the On-Again Off-Again Future.
And it is Digital.
- Laurie Anderson
A emergncia de uma cultura interactiva
um dos traos dominantes da poca con-
tempornea, de diferentes reas nos chegam
sinais de avano em direco ao domnio da
interaco, de um modo que, h muito, ul-
trapassou reas de especializao para, apa-
rentemente, penetrar as mais diversas prti-
cas quotidianas.
nos anos 60, a partir das relaes entre
o utilizador humano e o computador, que se
lanam as bases da anlise das interfaces sob
a perspectiva da interactividade.
O primeiro dispositivo interactivo a ser
introduzido foi o terminal de escrita, o
teletype, mas o grande salto qualitativo no
domnio da interactividade d-se, de facto,
no incio dos anos 70 com o aparecimento
do terminal vdeo, o VDU.
O terminal vdeo alargava as prestaes
em relao ao teletype de dois modos de-
cisivos: aumentando a velocidade de trans-
misso e de visualizao dos dados e aumen-
tando a quantidade de informao suscept-
vel de ser visualizada e trabalhada simulta-
neamente.
Isto traduzia-se na possibilidade de apre-
sentar instantaneamente uma quantidade de
informao tal que consente ao operador
interagir com o computador seleccionando
domnios de informao e ambientes de
trabalho a partir de um menu.
Com o desenvolvimento das novas
interfaces desenvolve-se tambm um novo
domnio de estudo que cedo se revela no
ser susceptvel de se esgotar num nico
campo disciplinar mas, pelo contrrio, ser
ponto de convergncia transdisciplinar: O
HCI Human computer Interaction um bom
exemplo desta convergncia, apresentando-
se simultaneamente como disciplina de an-
lise e de projecto fazendo convergir sobre
si tanto a Semitica como o Design.
A evoluo que se opera nos 30 anos que
medeiam o aparecimento do VDU e o apa-
recimento do facto de RV, vo sucessivamente
impondo modelos de interaco tecnicamen-
te possvel: o menu, a linguagem de coman-
do, a interface directa.
Esta evoluo operou uma generalizao
do uso do conceito mas no o dilucidou, pelo
contrrio, a generalizao no s no foi
capaz de demarcar as fronteiras entre a fico
e a realidade, pelo contrrio dilua-as, como
tornou a interface, a interaco, a
interactividade noes muito genricas e, por
isso potencialmente pouco operativas.
A procura num dicionrio pelas entradas
interaco e interactividade revelam precisa-
mente o carcter muito genrico das noes.
Aldo Lippman um dos primeiros autores a
definir a noo na perspectiva da HCI es-
creve: Interactivity: Mutual and simultaneous
activity on the part of both participants,
usually working toward some goal, but not
necessarily.
No contexto do presente trabalho segui-
remos esta definio de Lippman mas pre-
cisando alguns aspectos: em primeiro lugar
consideraremos que a interactividade com-
preende pelo menos dois participantes do qual
um necessariamente humano e outro
necessariamente artificial, em segundo lugar
consideraremos que a interactividade sem-
pre suportada por operaes de interface
homem-mquina.
De resto, o que estar verdadeiramente
sobre anlise neste trabalho o tipo de
presena do humano no interior de opera-
es de interface homem-mquina. A afirma-
o de Bolt segundo a qual The person is
the true terminal of any computer-based
information system. That terminal is already
designed. We can only designed for it,
incorporating human capabilities and
limitations as explicit elements in our thinking
372 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
about the total interface situation. parece-
nos importante no sentido de orientar a
perspectiva de anlise no interior de uma
anlise dos fenmenos de HCI e de novas
interfaces em geral.
Numa outra ocasio, defendemos que as
prticas sustentadas por relaes de interface,
sustentam-se a partir de determinados indi-
cadores epistmicos que so construdos sobre
o sistema percepo-linguagem mas que o
deslocam num processo permanente de re-
construo. O Sistema percepo linguagem
assim criado in process a partir de variados
indicadores epistmicos quer gramaticais,
quer gestuais, aproxima-se dos sistemas de
logica fuzzy, pela indecidibilidade dos ter-
mos, precisamente porque o que importa no
a verificao do valor de verdade do
discurso mas a sua performatividade.
Ao falarmos de interactividade estamos,
pois, a falar de actividade mtua e simul-
tnea entre um sistema biolgico humano e
um sistema artificial.
O sistema humano o que identificamos
com o corpo: o corpo capaz de movimen-
tos, emite calor, tem um aparato fnico que
emite sons tendo a capacidade de os articular
de modo a formar linguagens, dotado de
um crebro com actividade electromagnti-
ca.
As estes quatro meios de transmisso
energtica: a mecnica do corpo, a energia
trmica, a energia sonora, e a electromag-
ntica correspondem quatro modos de
interface com o sistema artificial, aos quais
podemos acrescentar um ltimo que pressu-
pe a interface directa do sistema artificial
com o nosso sistema nervoso e que desen-
volve portanto a ideia de conexo neuronal
que a literatura cyberpunk antecipara.
Mais do que uma anlise exaustiva de
cada um destes cinco modelos de interface,
interessa-nos compreender, em geral, os
mecanismos da interface que, como procu-
raremos mostrar, so os mesmos para qual-
quer modelo.
O fundamento da interface o fundamen-
to comunicativo, existe interactividade quan-
do os agentes conseguem processar informa-
o: no processamento mtuo de informa-
o entre agentes de dois sistemas (um
biolgico humano, um outro artificial) que
consiste o operar da interface. O operar da
interface corresponde, pois, capacidade de
processar elementos energticos (mecnicos,
trmicos, sonoros, ou electromagnticos) em
informao conversvel em operaes.
Para que tal seja possvel necessria a
existncia de uma espcie de dilogo entre
o utilizador e a mquina. A mquina deve
ser capaz no s de reconhecer o discurso
usado pelo utilizador, mas ser capaz ela
prpria de o utilizar.
Esta operao de interface da qual de-
pende todo o tipo de interactividade
identificada na literatura como Recognition
ou tracking.
No nosso caso vamos utilizar o conceito
de apropriao como sinnimo de recognition
e de tracking.
No filme de Ridley Scott, Blade Runner,
a personagem interpretada por Harrison Ford
introduz uma fotografia num Scanner e
atravs da voz comanda o computador,
explorando relaes topolgicas que ele
prprio detecta na imagem. direita de,
Dentro de so comandos proferidos pela
personagem para explorar o espao descrito
na fotografia e que pressupe que o com-
putador tenha a mesma capacidade perceptiva
do utilizador. Tal possvel por operaes
de apropriao do discurso humano por parte
da mquina.
O exemplo ilustra um dos cinco modelos
de interface por ns mencionados, neste caso
o utilizador usa o comando voz, no compu-
tador ocorre aquilo que na linguagem da HCI
se chama de Speech Recognition, isto , h
uma apropriao do discurso humano por
parte da mquina que permite converter a
informao em aco.
Esta eficcia da interface mantinha, ain-
da, uma diferena entre pensar e processar,
entre o que do domnio de speech
recognition e o que de domnio de speech
understanding e uma distino, de hardware
e de software, entre o humano e o maquinal.
Mas num programa como o Flying Mouse
desenvolvido pela SimGraphics apercebemo-
nos como hoje, na realidade, as interfaces
ganharam um protagonismo, que nos anos
80 no possuam na fico.
O Flying Mouse um aparelho de re-
cepo para acrescentar as mos ao progra-
ma de simulao Automated Mainframe
Assembly que deixa as marcas do movimento
373 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
realizado num dado terreno quando se na-
vega atravs de um campo de anlise a 3
dimenses, ou quando se faz digitalizao de
objectos a 3 dimenses e ainda nas aplica-
es que envolvem o posicionamento e
visionamento de objectos ou entidades a 3
dimenses. O aparelho controla a viso do
utilizador, selecciona a viabilidade de uma
parte dos resultados verificando-os numa base
de dados constituda por conjuntos particu-
lares, e tentando encontrar espaos vagos. A
partir do momento em que a tecnologia
permite o movimento arbitrrio e a viso
alternada, podem ser realizadas todas as
operaes do mundo real. Algumas dessas
funes CAD avanadas incluem deteco
das colises em tempo real, preveno das
penetraes e obteno de imagens para as
bases de dados.
O Flying Mouse um exemplo de uma
nova interface homem-mquina operada a
partir de operaes de eye tracking. Neste
caso a apropriao do olhar por parte da
mquina a base de toda a informao a
processar. O exemplo mais fantstico na
medida em que a mquina capaz de se
apropriar e, portanto de dominar, informao
que no dominada pelo humano. ao con-
trrio das operaes por comando voz, nas
quais o utilizador compreende os significa-
dos dos comandos direita, esquerda
e a mquina sem os compreender reconhece-
os, neste exemplo de interface por apropri-
ao do olhar o utilizador humano a, na
incapacidade de compreender o seu discurso
reconhec-lo aps processado pelo compu-
tador em imagens 3D. Trata-se, a meu ver,
de um bom exemplo daquilo que chamo
sntese comunicativa que traduz uma opera-
o de interface na qual o utilizador no
capaz de reconstituir analiticamente as fases
da interaco com a mquina. Existe um
dilogo de que, a cada instante se reconhe-
cem resultados sem que se reconheam os
momentos do dilogo propriamente dito, est-
se de cada vez depositado no resultado da
sntese.
Parece-me contudo excessivo concluir que
com ferramentas de manipulao de objectos
3D em tempo real, o pensamento e o
processamento se estejam a tornar a mesma
coisa. Sem dvida que as interfaces ganham
tanto mais protagonismo quanto mais visi-
bilidade perderem. A este respeito poder-se-
ia dar o exemplo de uns culos produzido
pela Cyberspace Corporation que projectam
imagens directamente para a retina, culos
de projeco de laser directamente na retina
ou aparelhos de interface que utilizam as
ondas cerebrais do utilizador so exemplos
de tecnologias de interface desenvolvidas na
direco do processamento directo do pen-
samento para a mquina, tratam-se de tec-
nologias de interface que se aproximam, ao
ponto de com eles se confundirem, do nosso
corpo e da nossa mente constituindo-se j
no apenas como snteses comunicativas mas
como snteses sistmicas, no sentido de
parcialmente, num determinado instante ou
em relao a uma determinada operao,
terem anulado as fronteiras entre o sistema
biolgico humano e o sistema artificial.
Importa reforar que todas as operaes
de interface, mesmo as mais simples, que
executamos para lidar no quotidiano, por
exemplo, com o nosso telemvel implicam
funes de apropriao por parte da mquina
e, portanto, realizaes, em menor ou maior
escala, de operaes de sntese.
Por outro lado, o exemplo do telemvel,
em particular, dos telemveis da nova ge-
rao so, ainda, um bom exemplo, de novas
competncias semnticas de que se revestem
objectos marcadamente de interface no que
representa a diferena entre as novas
interfaces e a interface que se estabelecia com
objectos mecnicos.
No caso de objectos mecnicos, como
uma bicicleta, a percepo do objecto con-
duz conscincia da sua estrutura de fun-
cionamento, sendo a funo associada por ns
estrutura fsico-mecnica dos componen-
tes, ou seja o esquema mental que constru-
mos ao olhar uma bicicleta no puramente
um esquema grfico mas um esquema gr-
fico-mecnico. Com a introduo da electr-
nica este esquematismo entra em crise, desde
logo por a estrutura fsica do objecto, a
anatomia da mquina, deixar de ser
comunicante em relao sua funo. Os
novos telemveis, por exemplo, no podem
ser definidos simplesmente a partir da sua
funo. De facto, do ponto de vista funci-
onal, o novo telemvel um objecto
conectivo de mltiplas funes utilitrias (as
funes standard de um telefone mvel, as
374 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
funes de um computador porttil, as fun-
es de uma estao GPS) associadas, por
vezes, a funes ldicas, veja-se o telemvel
que se converte numa mala de senhora para
usar a tiracolo, o telemvel para usar no pulso,
como um relgio, ou o telemvel incorpo-
rado, composto por dois piercings, um no
lbio outro na orelha.
Se quisermos utilizar a distino
heideggeriana, poder-se-ia dizer que os
objectos no se caracterizam apenas por
relaes de usabilidade com o utilizador mas,
fundamentalmente, por relaes de disponi-
bilidade para com o utilizador, esta dispo-
nibilidade traduz um alargamento de possi-
bilidades de apropriao por parte da mqui-
na.
Brenda Laurel prope, no seu Computer
as a Theatre (Laurel, 91) que se pense o
computador como medium e no como ins-
trumento (tool). Woods e Roth, por seu lado,
pensam a interface como um meta-medium
e um meta-tool, o que aqui posto em
destaque a competncia multiforme do com-
putador, podendo assumir vrias
especificaes, ser um processador de texto,
ser um sistema de projeco, ser suporte de
um jogo etc. e as suas mltiplas possibili-
dades de utilizao, apresentadas nas vrias
operaes assistidas por computador (enge-
nharia assistida, cirurgia assistida, desenho
assistido).
O computador surge como meta-medium
de uma meta comunicao que caracteriza as
novas interfaces homem-mquina enquanto
comunicao interactiva entre sujeitos sinte-
tizados, isto , anulados na sua diferena.
As comunicaes de sntese entendidas
como modelos de substituio, correspondem,
ao operar de um procedimento metafrico.
Lakoff e Johnson lembram-nos que a es-
sncia da metfora compreender e expe-
rimentar uma coisa no lugar de outra. Se
analisarmos a evoluo das interfaces entre
o utilizador e o computador, por exemplo,
deparamo-nos com uma srie de metforas:
a metfora do menu, do painel de controle,
do rato, do agente, do vrus, etc.
Mas o operar metafrico est igualmente
presente na constituio de snteses efectivas
nas quais, como comemos a ver, a mqui-
na no se apropria apenas de linguagens mas
tende potencialmente a apropriar-se do or-
ganismo humano.
Poder-se-iam dar mltiplos exemplos ilus-
trando operaes de interface por apropria-
o do discurso, apropriao do olhar, apro-
priao de expresses do rosto, apropriaes
do fluxo respiratrio, apropriao do calor
das mos ou apropriao dos gestos. Os me-
canismos operativos, como j o dissemos so
sempre idnticos. A ttulo ilustrativo pode-
mos dar um exemplo de interface por apro-
priao do corpo na sua completude: pode-
ramos dar como exemplo o DataSuit
comercializado pela VPL onde biosensores
fazem a leitura de todas as articulaes
principais do corpo, mas talvez o exemplo
mais interessante seja o Biomouse patentea-
do pela Universidade de Stanford na
Califrnia e que um exemplo interessante
da explorao do carcter ldico das
interfaces homem-mquina. O Biomouse
constitudo por um sistema de sensores que
fornecem indicaes sobre a actividade mus-
cular e cerebral, esta actividade susceptvel
de ser traduzida pelo biomouse em cdigo
MIDI. O MIDI Musical Instrument Digital
Interface um instrumento electrnico di-
gital que assim traduziria em msica a energia
electromagntica produzida pelo nosso cre-
bro quando, por exemplo, reconhecemos uma
cadeira, da mesma forma que traduziria quase
numa sinfonia as inmeras alteraes mus-
culares que produzem nos nossos msculos
quando nos sentamos nessa mesma que o
nosso crebro sonoramente reconhecera.
Para que a apropriao se d necessrio
algum tipo de contacto entre o homem e a
mquina. Contacto con-tangere, um tocar
recproco que anula o intervalo, que faz
sntese, entre o sentir e o sentido.
Quando esfregamos as mos somos in-
capazes de dizer qual a mo que esfrega e
qual a que esfregada, algo de semelhante
acontece no contacto entre o humano e a
mquina: a possibilidade de fazer sntese
dada pela existncia de uma sntese j feita,
como se a interface se desse pela constitui-
o de mltiplas replicas de interface, elas
prprias dadas de um modo sinttico em
relao ao sujeito e ao objecto, ao espao
e ao tempo. Por outras palavras conseguimos
perceber que a interface uma espcie de
contacto mas no conseguimos identificar
qual o ponto em que se d o contacto ou
375 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
qual o instante em que ele ocorre.
Da mesma forma que no somos capazes
de fixar o instante do adormecer no somos
capazes de fixar o instante da interface.
Sabemos que a interface se constitui por
sucesso de instantes, mas a relao que
temos com eles a mesma que teramos com
a sucesso de instantes de adormecimento -
ou seja, a analiticidade possvel retrospec-
tivamente, da mesma forma que ao acordar-
mos podemos tomar conscincia que ador-
mecemos, mas essa analiticidade lana evi-
dncia sobre algo que no foi acompanhado
analiticamente e que de um ponto de vista
estritamente analtico corresponde a uma
ausncia a um espao e um tempo de no-
acompanhamento.
Se o contacto ele prprio um indicador
epistmico, se se quiser uma crena, ele opera
entrelaado a outros indicadores epistmicos.
A ausncia de um horizonte espacio-tempo-
ral analtico preenchida por uma auto-
suficiente epistemologia do contacto.
O apontar e o tocar so os operadores
da auto-doao da evidncia. O que fazemos
com o rato ou com os nossos dedos em
Touch-scream demonstrar posio, distin-
guir, delimitar algo, torn-lo existente no
espao. O apontar rene tacto e vista, federa
um contacto ideal e uma vista dirigida a uma
coisa nica. Preenche um abismo, mas de
cada vez que se procura desenvolver o esforo
analtico, o abismo l est espera de ser
transposto. Como refere Ray Janckendoff na
HCI analiticamente existir sempre um abis-
mo que separa a experincia subjectiva vivida,
a introspeco, o afecto e a apercepo (que
Janckendoff chama de matria consciente) das
estruturas da informao lingustica e
perceptiva e dos seus dispositivos de trata-
mento (que Janckendoff chama de
computational mind).
As operaes de interface encontram-se
sempre no eixo de trs vrtices: os disposi-
tivos fsicos ou Hardware, os dispositivos
lgicos ou Software e o interactor, o humano.
O futuro das interfaces, a julgar pelo inves-
timento material e humano, que tem sido feito,
poder ser marcado por uma importante
evoluo que corresponderia ao desenvolvi-
mento de um quarto eixo, que, para utilizar,
um neologismo cunhado pela Logitech seria
o Senseware, isto a capacidade da mquina
percepcionar-se e sentir-se.
O Conhecido investigador em Intelign-
cia Artificial Marvin Minsky afirmou que em
breve a fronteira entre a mente humana e a
mquina tornar-se- fluida. O estabelecimen-
to da conectividade directa entre o homem
e a mquina, ontem sonhada pela literatura
Cyberpunk, hoje testada laboratorialmente,
pressupe, contudo, uma reelaborao dos
actuais suportes tecnolgicos. Por isso, a
investigao que hoje se desenvolve no
domnio da electrnica molecular anuncia os
futuros biocomputadores compostos de cir-
cuitos e memrias elaborados no mbito da
electrnica molecular, utilizar suportes or-
gnicos como base para o tratamento da
informao e os materiais sero compatveis
com os sistemas vivos.
Esta lgica conectiva que dilui os concei-
tos de natural e artificial, opera ainda a um
outro nvel, na medida em que os homens
interagem cada vez menos com mquinas
isoladas, vivendo-se cada vez mais num mundo
em rede, no qual tudo est ligado a tudo.
Exemplar desta conectividade suportada
por rede a recente inovao militar Norte-
Americana que convida os soldados a ingerir
um minsculo aparelho constitudo por bio
sensores e rdio transmissores que operam a
ligao Internet permitindo que na sala de
operaes, olhando para o ecr do computa-
dor o comandante saiba qual a condio fsica
e anmica de cada um dos seus soldados.
A Realidade parece ter ultrapassado a
fico, a afirmao um lugar comum, vazio
num dizer sem dizer nada, mas efectivamen-
te, o espantoso desenvolvimento das
interfaces parece ter perturbado as fronteiras,
de resto sempre instveis, entre a realidade
e a fantasia, num universo povoado de
fantasmas como o Cyborg, o Hal de 2001
uma Odisseia no Espao, ou o Johnny
Mnemonic do conto de William Gibson, e
os reais Biomouse ou Pointer, no qual dei-
xamos de conseguir em absoluto distinguir
o fantasma do real, porque ambos nos tocam,
nos chamam, nos assustam e nos seduzem
nos sonho e na viglia. Porque se o homem
o sonho de uma sombra, como dizia Pndaro
num seu poema escrito h 25 sculos atrs,
ele no cessa de sonhar outros sonhos e outras
sombras que tambm a ns nos tocam, nos
chamam, nos assustam, e nos seduzem.
376 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Bibliografia
Aronowitz, S., Martinsons, B., Menser,
M. (Ed.), Technoscience and Cyberculture,
Routledge, New York, London, 1996.
Barglow, R., The Crisis of the Self in the
Age of Information: Computers, dolphins and
dreams, Routledge, London, NY, 1994.
Battalio, J. (Ed.), Essays in the Study of
Scientific Discourse: Methods, Practice and
Pedagogy, Ablex Publishing Corporation,
Stamford, London, ATTW Contemporary
Studies in Technical Communication, Vol.6,
1998.
Beniger, J.R., The Control Evolution:
Technological and Economic origins of
Information Society, Harvard University
Press, Cambridge, MA, 1986.
Bernardi, D.L., Star Trek and History:
Race-ing toward a withe future, Rutgers
University Press, New Brunswick, NJ, 1998.
Ben-Tou, S., The Artificial Paradise.
Science, Fiction and American Reality, The
University of Michigan Press, Michigan,
1995.
Borgmann, A., Holding on to Reality. The
Nature of Information at the Turn of the
Millennium, The University of Chicago Press,
Chicago, London, 1999.
Birkets, S., The Guttenberg Elegies: The
fate of reading in electronic age, Ballantine
Books, New York, 1994.
Bukatmann, S., Blade Runner, BFI,
London, 1997.
Davies, T., Humanism, Routledge, New
York, 1997.
Dery, Mark, Velocidad de escape: La
Cibercultura en el fin del Siglo, Madrid,
Siruela, 1998.
Floridi, L., LEstensione dellIntelligenza.
Guida allinformatica per filosofi, Armando
Editore, Roma, 1996.
George, F.H., Philosophical Foundations
of Cybernetics, Abacus Press, Kent, 1979.
Giannetti, C. (Ed.), Ars Telemtica:
Telecomunicao, Internet e Ciberespao,
Relgio dgua, Lisboa, 1998.
Ihde, D., Technics and Praxis: A
Philosophy of Technology, D. Reidel,
Dordrecht, Boston, 1979.
Kerkhove, D. de, A Pele da Cultura,
Relgio dgua, Lisboa, 1997.
Latour, B., Science in Action - How to
Follow Scientists and Engineers through
Society, Harvard University Press, Cambridge,
MA, 1987.
Laurel, B., Computer as theatre,
Addison-Wesley, New York, 1993.
McLuhan, M., Understanding Media.
The Extensions of Man, MIT Press, London
and Massach., 1964.
McLuhan, M., A Galxia Gutenberg,
Companhia Editorial Nacional, S. Paulo,
1977.
Negroponte, N., Being Digital, Alfred A.
Knopf, New York, 1995.
Parayil, G., Conceptualizing
Technological Change. Theoretical and
empirical Exploration, Rowman and
Littlefield, New York, Oxford, 1999.
Rosheim, M., Robot Evolution. The
development of Anthrobotics, John Wiley and
Sons, New York, 1994.
Stone, A.R., The War of desire and the
Technology at the close of the Mechanical
Age, MIT Press, Cambridge, MA, 1995.
Negnevitsky, M., Artificial Intelligence.
A Guide to Intelligent Systems, Addison
Wesley, London, 2001.
_______________________________
1
CECL Centro de Estudos de Comunicao
e Linguagens.
377 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Qual o papel da Internet na promoo da (in)existncia
de laos entre os investigadores da comunidade lusfona?
Ldia J. Oliveira L. Silva
1
1. A comunidade Cientfica Lusfona
diversidade e unidade
A comunidade cientfica lusfona tem um
patrimnio cultural que advm do facto de
ser uma comunidade lingustica, a qual exerce
o papel de plataforma identitria facilitadora
da gerao de redes de cooperao, inves-
tigao e desenvolvimento. A partilha do
lastro lingustico, com toda a diversidade e
riqueza vivida denota a existncia de uma
identidade plstica, em que a memria um
patrimnio e uma semente.
A Internet e as navegaes virtuais criam
a possibilidade de traar caminhos e gerar
stios com potencial para reinventar a iden-
tidade, promover a cooperao usufruindo das
diferenas como riqueza. Tal como Wolton
(2004) sublinha o problema actual da Internet
e da comunicao de cariz global no um
problema tcnico, esse est ultrapassado, mas
sim um problema cultural.
O mundo transformou-se numa aldeia
global no plano tcnico, mas no no
plano social, cultural e poltico. (...)
Pensar as condies da globalizao da
informao e da comunicao de modo
a que no se torne uma espcie de
bomba-relgio. (Wolton, 2004:9-10)
Estamos face ao desafio da coabitao
cultural. Esse tambm um desafio no seio
da lusofonia. Mas, o primeiro passo ser o
de dar maior visibilidade a esta comunidade
no sistema mundial de comunicao e pro-
mover o heteroconhecimento dos cidados
lusfonos.
Na condio de ex-colnias de
Portugal, os sete pases de lngua
oficial comum pouco se conhecem, a
no ser a referncia sobre mitos e
esteretipos difundidos nos meios de
comunicao, estilo idntico propaga-
do na escola, onde se confundem os
relatos dos fatos que fizeram a his-
tria dos povos com os interesses
daqueles que conduzem os destinos
das naes; Se, em nossa escola, a
referncia sobre o Outro enfatiza o
perodo colonial, nos outros membros
da comunidade a tnica sobre o Brasil
no passa dos limites das grandes na-
vegaes. (Vitorino, 2003:15)
O hibridismo (biolgico, de costumes
alimentares, de valores, etc.) esteve presente
no processo que levou gerao da ideia de
lusofonia, este hibridismo foi promovido pelo
corpo, pela presena fsica no lugar, mergu-
lho no espao societal fsico. E agora?
Teremos um mergulho no noos-espao, na
esfera das ideias. Ou, to simplesmente essa
esfera, esse territrio, continua por materi-
alizar, existindo, na melhor das hipteses
arquiplagos (de ideias, de encontro).
Os servios de comunicao dispo-
nibilizados pela Internet tm o potencial de
gerar ciber-mestiagem (scio-cultural,
interpessoal) e promover o hetero-conheci-
mento das comunidades cientficas dos v-
rios pases de expresso lusfona mas, tam-
bm, das comunidades lusas espalhadas pelo
mundo.
Assim o desafio a passagem da ausn-
cia, invisibilidade, desconhecimento mtuo,
ao arquiplago e, deste, ao continente
lusfono.
Os descobrimentos e a instalao de
portugueses, homens, nas terras apropriadas
com o intuito de fixar populao, conduziu
formao de populaes hbridas, de que
o Brasil o exemplo mais marcante. O
processo de miscigenao, no s biolgica
mas, tambm, scio-cultural, que originou os
mamelucos
2
iniciou um processo que se
poder considerar a base da gnese da
globalizao. No processo que se caracteriza
pelo encontro de elementos de diferentes
378 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
provenincias e culturas que se fundem e
confundem, mas em que quase sempre existe
a dominncia de um dos elementos. O desafio
fazer com que esse encontro se torne em
prticas de convivncia multicultural,
enraizadas no respeito pela alteridade. Para
que isso seja possvel necessrio a exis-
tncia de um espao de conhecimento mtuo.
O conhecimento o melhor meio para re-
fazer as memrias, de modo a curar as feridas
e os ressentimentos e, tambm, os precon-
ceitos que se foram mantendo ao longo dos
anos entre os povos de lngua portuguesa.
Trata-se de no esbanjar o legado histrico
e scio-cultural como esbanjmos os bens
materiais.
Tal como fomos perdulrios com as
especiarias da ndia e com o ouro do
Brasil parece que ainda no percebe-
mos as enormes potencialidades de
mediao cultural do patrimnio que
continuamos a esconder e a esquecer
de que somos depositrios porque as
vicissitudes da histria o atirou para
as nossas mos. (Areia, 2000:65-64).
Existe um trao de unio que no tem
sido devidamente valorizado como elemento
estruturante de um espao supranacional, o
espao lusfono. Existe a necessidade e o
desafio de, sem ressentimento colonialista ou
neo-colonialista, olhar para a riqueza que uma
lngua em si mesma e fazer um esforo
de elevao da auto-estima, para que se possa
reconhecer que a existncia desse patrimnio
comum um bem precioso para aproximar
deixando lugar diversidade. Num mundo
em que a globalizao um processo
incontornvel necessrio perspectivar
modos de modelar esse processo em favor
das identidades. Neste caso, a potencial
identidade lusfona tem duplamente a ganhar,
porque por um lado, tem oportunidade de se
unir de modo a ter uma presena mundial
significativa, por outro tem oportunidade de
(re)conhecer a sua prpria diversidade intrn-
seca. assim, um processo em duas mos.
O uso da lngua portuguesa no
ciberespao, povoado massivamente por
contedos de lngua inglesa, poder ser
encarado de dois modos: como forma de
resistncia e como modo de aumentar o
prestgio internacional (Mouro, 2000:95).
A lngua tem o papel de liame, apro-
ximando culturas, algumas de natu-
reza tridimensional, como o caso da
cultura brasileira, e dando
substantividade a espaos localizados
em trs continentes, para no falar de
presenas histricas. (Mouro,
2000:100-101)
A criao de acervos de informao em
portugus, no ciberespao, ser um contri-
buto para nivelar o acesso ao conhecimento
pelas diversas comunidades de lngua por-
tuguesa, bem como pelas comunidades de
emigrantes. Assim, se poder, em parte
colmatar o deficit de meios existente em
alguns pases, promovendo uma educao e
formao mais slidas e aprofundadas e
criando condies intelectuais e de
intercomunicao entre pares, de modo a
desenvolver/promover a formao de equi-
pas de investigao transnacionais. Assim, se
contribuir para criar condies para que o
intercmbio cientfico entre os pases
lusofalantes seja incrementado.
O portugus hoje a stima lngua
mais falada no mundo o francs
ocupa a oitava posio e a terceira
lngua mais falada no Ocidente, alm
de ser a lngua oficial de vrias or-
ganizaes internacionais. Cabe aos
pases lusofalantes empreender esfor-
os para que a lngua portuguesa seja
adotada como lngua de trabalho nas
organizaes internacionais, papel que
a criao de uma Comunidade de
Pases de Lngua Portuguesa poder
reforar. (Mouro, 2000:100)
Diante de um mundo onde se
registram fortes tendncias
supranacionalidade, o uso do portu-
gus, em diferentes regies do pla-
neta, surge como um elemento
unificador das posies da cada Es-
tado lusofalante nas suas inseres,
no excludentes, em outros espaos
regionais. (Mouro, 2000:103).
379 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
A lngua o ingrediente base potenciador
de identidade, cultura e comunicao os
trs elementos estruturantes da condio de
futuro no mundo globalizado.
Pensar a coabitao cultural cons-
truir o terceiro pilar da globalizao.
(...) preciso pensar o estatuto da
poltica no momento da globalizao,
levando em conta a emergncia do
tringulo explosivo, constitudo pelas
relaes entre identidade, cultura e
comunicao. (...) O desafio cultural
o horizonte da globalizao.
(Wolton, 2004:179)
O desafio ser ento promover redes
humanas, redes de investigadores no seio da
comunidade cientfica lusfona. certo que
ainda existem algumas fragilidades tcnicas
em alguns dos pases lusfonos, contudo, a
questo tcnica mais facilmente
ultrapassvel do que a questo
comportamental, educacional, organizacional,
enfim, as representaes e os comportamen-
tos so mais resistentes mudana.
A questo que conduziu o estudo
emprico, de que de seguida se apresentam
os resultados, foi a de averiguar qual a re-
presentao que os investigadores da comu-
nidade cientfica lusfona tm acerca das
potencialidades da Internet para facilitar o
conhecimento e a aproximao inter-pares e,
tambm, saber se na prtica usam os servi-
os em rede para esses fins.
Talvez j no existam dvidas que os
servios em rede tm potencial para divulgar
a investigao realizada e em curso, para
promover a sinergia entre grupos (coopera-
o), para partilhar recursos (acesso), gerar
uma memria colectiva (identidade) e para
promover a internacionalizao e reconheci-
mento (Silva, 2002). Contudo, se se reco-
nhecem essas potencialidades no uso da
Internet nas rotinas cognitivas e sociais das
comunidades cientficas, o facto que nem
sempre o uso efectivo se realiza no sentido
de passar da potncia ao acto. Foi sabendo
desta discrepncia entre potencialidade, re-
presentao e aco que se levou a cabo um
pequeno estudo emprico junto dos investi-
gadores dos vrios pases lusfonos.
2. Estudo emprico
Os resultados obtidos atravs de um
questionrio que foi enviado a investigadores
dos vrios pases da CPLP e de vrias
Universidades e Laboratrios de investigao
no tm carcter representativo, antes carcter
indicativo. Foram recebidas 143 respostas das
quais 140 foram consideradas vlidas.
A distribuio dos respondentes pelos
pases a seguinte:
A maioria dos respondentes , portanto,
de Portugal e do Brasil. Esta situao tam-
bm denota a presena na rede, ou seja, o
Brasil seguramente o pas lusfono com
maior presena na Internet seguido de Por-
tugal (Palcios, online). Claro que esta si-
tuao advm da prpria dimenso das res-
pectivas comunidades cientficas.
No tocante ao gnero dos respondentes
verifica-se um equilbrio maior do que o ha-
bitual, como se pode observar no grfico abaixo.
O
u
t
r
o
s
C
a
b
o
V
e
r
d
e
M
o
a
m
b
i
q
u
e
B
r
a
s
i
l
P
o
r
t
u
g
a
l
P
e
r
c
e
n
t
a
g
e
m
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
F
e
m
in
in
o
M
a
s
c
u
lin
o
P
e
r
c
e
n
t
a
g
e
m
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
380 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Quanto idade dos respondentes varia entre
os 25 e os 67 anos, sendo a mdia 42 anos.
Uma das questes de caracterizao visa-
va saber se no percurso acadmico os inves-
tigadores tinham estudado noutro pas
lusfono, os resultados mostram que menos
de um quarto dos respondentes passaram por
essa experincia. Sendo no essencial brasilei-
ros e moambicanos a estudar em Portugal.
Face questo: Considera que a Internet
facilita o conhecimento acerca da investiga-
o realizada por outros investigadores/equi-
pas de investigao dos pases de expresso
portuguesa? Os resultados indiciam que uma
maioria de 71,8% considera a Rede um meio
facilitador do conhecimento do trabalho
desenvolvido pelos pares lusfonos.
Se se considerar que o conhecimento
mtuo uma primeira etapa para se criar a
possibilidade de vir posteriormente a interagir,
digamos que esta representao favorvel
um primeiro alicerce na mudana dos com-
portamentos de cooperao.
Face quest o: Consi dera que a
Internet facilita a aproximao entre os in-
vestigadores dos pases de expresso
portuguesa? Os resultados, apesar de li-
geiramente menos favorveis que na res-
posta anterior, so bastante favorveis com
65,2% com uma representao fortemente
favorvel, considerando que facilita mui-
tssimo (35,5%) e facilita muito (29,7%).
Grfico seguinte
Se a representao acerca do conhecimen-
to dos parceiros e acerca da aproximao
entre eles promovida pelo uso dos servios
Internet bastante favorvel interessa agora
saber se quando os investigadores lusfonos
necessitam de obter parceiros, para um
projecto de investigao, costumam procurar
expressamente outros investigadores dos
pases de expresso portuguesa, usando a
Internet.
Os resultados indiciam que a aco di-
fere bastante da representao favorvel
obtida nos dois quesitos anteriores. Sendo que
apenas 4,3% procuram sempre parceiros
lusfonos como parceiros de investigao
usando a Internet, 10,1% procura quase
sempre e 22,5% por vezes, toma essa ini-
ciativa.
Estudou noutro pas lusfono ?
No Sim
P
e
r
c
e
n
t
a
g
e
m
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Internet e o conhecimento da investigao realizada
N
o
f
a
c
i
l
i
t
a
F
a
c
i
l
i
t
a
p
o
u
c
o
F
a
c
i
l
i
t
a
F
a
c
i
l
i
t
a
m
u
i
t
o
F
a
c
i
l
i
t
a
m
u
i
t
s
s
i
m
o
P
e
r
c
e
n
t
a
g
e
m
40
35
30
25
20
15
10
5
0
A Internet e a aproximao entre os investigadores
N
o
f
a
c
i
l
i
t
a
F
a
c
i
l
i
t
a
p
o
u
c
o
F
a
c
i
l
i
t
a
F
a
c
i
l
i
t
a
m
u
i
t
o
F
a
c
i
l
i
t
a
m
u
i
t
s
s
i
m
o
P
e
r
c
e
n
t
a
g
e
m
40
35
30
25
20
15
10
5
0
381 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Estes resultados podem ficar a dever-se
a inmeros factores. Se se cruzarem estes
resultados com os comentrios que os
respondentes fizeram na rea de comentrio
aberto poder-se- apontar como uma das
razes principais a falta de cultura de co-
operao, ou seja, no est enraizado na
cultura dos investigadores lusfonos a pro-
cura de parceiros dentro da lusofonia. Apre-
sentam como razo a facto de preferirem
procurar como parceiros investigadores de
pases que estejam mais desenvolvidos na sua
rea de investigao, ou seja, que sejam mais
centrais no sistema cientfico mundial e, como
tal, potencialmente lhe tragam uma maior
visibilidade. No se trata de uma questo de
lusofobia, mas sim de gesto da visibilidade
e do reconhecimento.
Quanto questo: Tem algum documen-
to publicado em alguma revista on-line ou
em algum repositrio digital de informao
de expresso portuguesa? Os resultados
mostram, ainda, a existncia de muito pouca
adeso ao processo de publicao on-line.
Tambm no que diz respeito no ade-
so publicao on-line poder ter mltiplas
razes. Ser interessante levar a cabo um
estudo que vise mapear as razes desta
situao. Tanto mais que existe uma
dissonncia identificada entre o reconheci-
mento da Rede como um meio eficaz de
divulgar o trabalho de investigao desen-
volvido e, concomitantemente, tomar conhe-
cimento do trabalho desenvolvido pelos
outros e, depois, paradoxalmente, os inves-
tigadores lusfonos publicam muito pouco na
Internet.
Contudo, quando a questo incide sobre
o tpico da troca de informao, de ideias,
etc., ou seja, um processo de comunicao
menos formal que a publicao, mais pes-
soal, ento os resultados obtidos so mais
favorveis com quase metade dos
respondentes a afirmarem usar a rede para
esse fim.
A questo era: Troca regularmente infor-
maes, ideias, etc. com colegas dos pases
de expresso portuguesa usando a Internet?
Quanto ao papel da rede no desencadear
e manter os contactos colocou-se a seguinte
questo: Conheceu-os atravs da Internet ou
Obter parceiros para projecto de investigao
N
u
n
c
a
R
a
r
a
m
e
n
t
e
P
o
r
v
e
z
e
s
Q
u
a
s
e
s
e
m
p
r
e
S
e
m
p
r
e
P
e
r
c
e
n
t
a
g
e
m
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Documento publicado on-line
No Sim
P
e
r
c
e
n
t
a
g
e
m
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Troca regularmente informao, ideias, etc.
No Sim
P
e
r
c
e
n
t
a
g
e
m
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
382 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
j os conhecia anteriormente e a Internet foi
apenas um meio de manter as relaes
previamente existentes?
Apesar de existir uma franja de 5,9%
de novos contactos que no teriam existido
se no se usufrusse da Internet o facto
que a rede se apresenta, preferencialmente,
como um instrumento de continuidade e
manuteno dos relacionamentos que sur-
gem, essencialmente, a partir de conheci-
mentos estabelecidos em colquios e con-
ferncias.
Contudo, deve ainda reflectir-se sobre as
razes de quase 50% no usar os servios
de comunicao em rede como meio de
desencadear e manter contactos.
Na rea de comentrio aberto do ques-
tionrio muitos respondentes sublinharam
que, essencialmente, estabelecem novos
conhecimentos nos encontros presenciais e
que os servios em rede, nomeadamente, o
correio electrnico e a partilha de ficheiros,
servem para manter esses contactos. Por outro
lado, para os investigadores que no seu
percurso acadmico estudaram em outra
instituio, em outro pas a rede serve para
dar continuidade s relaes enraizadas que
durante esse perodo estabeleceram.
Quanto teia e densidade das relaes
entre os membros da comunidade cientfica
lusfona os dados indiciam que a teia tnue
e as relaes so pouco densas. A maioria
das relaes so estabelecidas entre o Brasil
e Portugal existindo reas como os estudos
sobre questes tropicais em que a teia se
alarga aos pases africanos. Nesses casos,
a natureza do trabalho de investigao que
o motor do alargamento e a Internet o
instrumento facilitador. O importante seria
gerar maior conhecimento entre os membros
da comunidade cientfica lusfona, de modo
a encontrarem problemas de investigao em
que naturalmente, o tema fosse um estmulo
cooperao lusfona. Na rea das cincias
sociais essas temticas so mais evidentes.
Se os fsicos, matemticos, bilogos,
podem cooperar no plano mundial,
porque as palavras utilizadas so pou-
co numerosas. Com as cincias so-
ciais pelas palavras que pensamos
e, alm disso, qualquer criao te-
rica est ligada capacidade de or-
denar as palavras de forma
percuciente. (...) Para as cincias so-
ciais (...) comparar , aqui, a condi-
o de qualquer conhecimento.
(Wolton, 2004:36)
A investigao realizada em consrcios
de investigao constitudos por investigado-
res das diferentes comunidades lusfonas ser
seguramente uma investigao mais rica e
mais enriquecedora, fruto da diversidade
cognitiva que os diferentes enquadramentos
culturais e percursos de formao trazem ao
processo.
O apelo no sentido de desenharmos os
mapas cognitivos e relacionais que possam
ser orientadores do desenho de novos cami-
nhos de cooperao no mbito da investiga-
o mas, tambm, na cultura e desenvolvi-
mento em sentido lato. Para que o apelo d
fruto so necessrias iniciativas que se
contraponham tendncia excessivamente
individualista e promovam a criao de redes
humanas de parceiros.
No mbito deste trabalho para a VI
Lusocom procuraram-se iniciativas e projec-
tos que j estivessem em curso. Fez-se uma
seleco que se apresenta de seguida.
3. Algumas Iniciativas em Curso
Em primeiro plano deve-se sublinhar a
existncia de um instrumento com grande
capital para potenciar a cooperao no seio
Conheceu-os atravs da Internet ou j os conhecia
N
o
u
s
o
a
I
n
t
e
r
n
e
t
.
.
A
m
b
a
s
a
s
s
i
t
u
a
e
s
J
o
s
c
o
n
h
e
c
i
a
N
a
I
n
t
e
r
n
e
t
P
e
r
c
e
n
t
a
g
e
m
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
383 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
da Comunidade Cientfica Lusfona. Trata-
se da Associao das Universidades de Lngua
Portuguesa (AULP)
3
, que na sua Constitui-
o e Estatutos se apresenta como um or-
ganismo que tem por objectivo central pro-
mover a cooperao entre as Universidades
e Instituies de Ensino e Investigao de
nvel superior.
Transcreve-se de seguida o Artigo 2, pela
sua relevncia e capacidade de elucidao dos
objectivos a promover.
Captulo I Objectivos - Art. 2.
A Associao das Universidades de
Lngua Portuguesa (AULP) visa pro-
mover a cooperao entre as Univer-
sidades e Instituies de Ensino e
Investigao de nvel superior que
dela sejam membros.
De facto, a AULP tem para alm disso,
outras misses de no menor impor-
tncia:
Concorrer para salvaguardar o desen-
volvimento da Lngua Portuguesa;
Recolher e apoiar o contributo de
todos os que, em Universidades de di-
ferentes idiomas, estudam a Lngua
Portuguesa;
Promover projectos de investigao ci-
entfica e tecnolgica conjuntos nas
reas ou temas de interesse dos as-
sociados, estimulando o conhecimen-
to da realidade e desenvolvimento de
cada um dos Pases;
Incrementar o intercmbio de docen-
tes, investigadores, estudantes e pes-
soal administrativo com vista par-
ticipao em aces de natureza
pedaggica, cientifica, cultural e ad-
ministrativa que se realizem em cada
um dos membros da Associao;
Promover a circulao de informao
cientfica, tcnica, pedaggica e cul-
tural, o intercmbio de revistas e
publicaes cientficas, bem como a
edio conjunta e a divulgao de
trabalhos cientficos;
Estimular a elaborao de acordos bi-
laterais e multilaterais entre os mem-
bros da Associao em todos os
domnios do seu interesse e particu-
larmente no mbito das equivalncias
de habilitaes literrias e graus ci-
entficos e acadmicos conferidos
pelas Instituies associadas;
Fomentar a reflexo sobre o papel da
Educao Superior, suas estruturas e
meios de aco no mundo actual e
particularmente nas sociedades em que
esto inseridas;
Apoiar a criao de estruturas de
ensino e de investigao que facili-
tem a realizao dos fins da Associ-
ao. (AULP, on-line)
A Associao das Universidades de Ln-
gua Portuguesa surge como um instrumento
que, se devidamente dinamizado, poder ser
de crucial importncia para a promoo da
criao de redes humanas no seio da Comu-
nidade Cientfica Lusfona.
Um projecto que nasceu no seio da
Associao das Universidades de Lngua
Portuguesa o da Universidade Virtual de
Lngua Portuguesa (UVLP)
4
. Trata-se de um
Projecto em que, claramente, a Internet o
instrumento promotor das actividades de
cooperao ao nvel do ensino e da inves-
tigao.
Para alm deste dois grandes instrumen-
tos a Associao das Universidades de Ln-
gua Portuguesa e a Universidade Virtual de
Lngua Portuguesa destacamos de modo cr-
tico dois projectos.
Por um lado, o ndice Interactivo da
Lusofonia
5
, que pelos objectivos que se pro-
pe atingir seria uma ferramenta muito im-
portante. Contudo, o que encontramos pobre
do ponto de vista dos contedos e com pouca
qualidade no que toca ao design grfico e de
interaco. Vale como ideia que seria preciso
implementar com uma nova dinmica.
Por outro lado, o PORTCOM Portal de
Cincias da Comunicao ou Rede de Infor-
mao em Cincias da Comunicao dos
Pases de Lngua Portuguesa
6
, que se prope
Ser referncia internacional de toda a pro-
duo tcnica, cientfica e acadmica em
Cincias da Comunicao produzida em
instituies de pases de lngua portuguesa.
Este projecto surpreende por conflituar com
o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido
pela BOCC Biblioteca On-line das Cin-
cias da Comunicao nos ltimos anos. Deste
modo, um exemplo da falta de sinergia que
por vezes existe entre os pares da Comunida-
384 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
de Cientfica Lusfona e/ou a falta de
heteroconhecimento. Muitas vezes,
preocupamo-nos em realizar um olhar inter-
nacional sobre o que se faz numa determinada
temtica esquecendo muitas vezes de incluir
os parceiros lusfonos nessa pesquisa.
Em sntese
H uma discrepncia entre o nmero de
utilizadores lusfonos da Internet e a quan-
tidade de contedos de lngua portuguesa
disponveis na rede.
...o crescimento do nmero de usu-
rios lusfonos no implica necessa-
riamente em crescimento da
proporcionalidade de contedos em
lngua portuguesa, pois est ocorren-
do um descompasse entre os
percentuais de usurios e os
percentuais totais de contedos
lusfonos na rede. Fazem-se neces-
srias, portanto, aces programticas
no sentido de incrementar os conte-
dos lusfonos. (Palcios, online)
H uma dissonncia entre a representa-
o favorvel dos investigadores lusfonos
quanto ao papel que a Internet desempenha
ao nvel da promoo do interconhecimento
dos investigadores e das comunidades e da
aproximao entre eles e o uso efectivo dos
servios em rede na busca de uma coope-
rao cientfica efectiva.
As iniciativas a promover sero tanto mais
eficazes quanto mais integradoras no sentido
de articularem o maior nmero possvel de
membros da comunidade cientfica lusfona.
Um passo crucial no incremento da
aproximao dos investigadores da comuni-
dade cientfica lusfona a promoo do
interconhecimento. Conhecemo-nos mal e o
conhecimento mtuo a base para coope-
rarmos. Os resultados indicam que a presen-
a fsica um elemento eficaz na promoo
do conhecimento, como tal a realizao de
congressos do tipo A Comunidade Cientfica
Lusfona em Questo e congressos sectoriais,
por reas cientficas, sero seguramente
fruns de debate e de encontro que deixam
sementes, que a comunicao em rede se
encarrega de facilitar criando a possibilidade
de germinarem cooperaes duradouras no
tempo e frteis. Mas, o conhecimento mtuo
faz-se tambm atravs da disponibilizao de
informao na Internet, quer ao nvel das
publicaes quer de informao sobre pro-
jectos em curso, entre outra informao. Os
resultados indicam que, tambm aqui, muito
h a fazer publicamos/publicitamos pouco
na Internet necessrios compreender
porqu para atacar as causas.
Nesta lgica da promoo do conhecimen-
to e, tambm, da divulgao internacional do
trabalho desenvolvido fundamental o desen-
volvimento de bases de dados comuns,
unificadoras dos arquivos dos diversos pases.
Boaventura de Sousa Santos em entre-
vista no mbito do seminrio Cultura e
Desenvolvimento da Comunidade dos Pases
de Lngua Portuguesa
7
refora a ideia de se
gerarem arquivos electrnicos comuns e
livrarias e prope:
Temos ainda de criar um centro
transdisciplinar de pesquisa, onde in-
vestigadores e agentes artsticos pos-
sam encontrar um espao de
interconhecimento. Deveramos tam-
bm criar uma agncia de notcias e
emissoras de TV da comunidade. Este
conjunto de iniciativas poderia ser
chamado de Frum da Diversidade.
Algumas agncias internacionais,
como a Unesco, esto interessadas em
fomentar este espao, que seria uma
alternativa ao espao anglo-saxnico.
Ou seja, uma tentativa de preservar
a diversidade cultural do mundo do
domnio da cultura anglo-sax. (San-
tos, 2004).
Unir respeitando o lema, usando a Internet
como ferramenta facilitadora do processo.
SIGLAS
ACSEL Associao dos Cientistas
Sociais do Espao Lusfono (criada em 22
de Novembro de 1994).
AULP Associao das Universidades
de Lngua Portuguesa (http://www.aulp.org/
proj_uvlp.html)
BOCC Biblioteca On-line de Cincias
de Comunicao (http://www.bocc.ubi.pt/)
385 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
CPLP Comunidade dos Pases de
Lngua Portuguesa (criada em 17 de Julho
de 1996) (8 pases, 4 continentes) (http://
www.cplp.org)
PALOP Pases Africanos de Lngua
Oficial Portuguesa.
PORTCOM Rede de Informao em
Cincias da Comunicao dos Pases de
Lngua Portuguesa
(http://www.portcom.intercom.org.br/ )
SALP Sociedade Africanolgica de
Lngua Portuguesa (criada em 18 de Junho
de 1991).
UCCLA Unio das Cidades Capitais
Luso-Afro-Amrico-Asiticas ou Unio das
Cidades Capitais de Lngua Portuguesa (http:/
/www.uccla.pt)
UVLP Universidade Virtual de Lngua
Portuguesa
(http://www.aulp.org/univ_virtual.htm )
386 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Bibliografia
Areia, Manuel Laranjeira R., O
Lusotropicalismo Revisitado: a miscegenao
em Casa Grande e Senzala, in: Neves, F.S.
(org.), A Globalizao Societal Contempor-
nea e o Espao Lusfono: Mitideologias,
Realidades e Potencialidades, Lisboa, Edies
Universitrias Lusfonas, 2000, p.55-64.
Margarido, Alfredo, A Lusofonia e os
Lusfonos: Novos Mitos Portugueses, Lisboa,
Edies Universitrias Lusfonas, 2000.
Mouro, Fernando A. A. (2000), A
Comunidade de Pases de Lngua Portugue-
sa: a base lingustica e a base material, in:
Neves, F.S. (org.), A Globalizao Societal
Contempornea e o Espao Lusfono:
Mitideologias, Realidades e Potencialidades,
Lisboa, Edies Universitrias Lusfonas,
2000, p.95-107.
Neves, Fernando Santos (Org.), A
Globalizao Societal Contempornea e o
Espao Lusfono Mitideologias, Realida-
des e Potencialidades, Lisboa, Edies
Universitrias Lusfonas, 2000.
Oliveira, J.F. Santos, A Educao, a
Cultura e a Informao, como a nova Ri-
queza das Naes do(s) Espao(s)
Lusfono(s), in: Neves, F.S. (org.), A
Globalizao Societal Contempornea e o
Espao Lusfono: Mitideologias, Realidades
e Potencialidades, Lisboa, Edies Univer-
sitrias Lusfonas, 2000, p.109-119.
Palcios, Marcos, Por mares doravante
navegados: panorama e perspectivas da pre-
sena lusfona na Internet, in:
www.bocc.ubi.pt.
Santos, Antnio de Almeida, Paixo
Lusfona, Lisboa, Imprensa Nacional Casa
da Moeda, 2001.
Santos, Boaventura de Sousa (entrevis-
ta), Um otimista trgico, 2004, in:
www.cplp.org.
Silva, Ldia Oliveira, A Comunidade
Cientfica na Era da Sociedade em Rede: a
gerao de uma aldeia global da investiga-
o?, IV Lusocom Congresso Lusfono
das Cincias da Comunicao, S. Vicente, S.
Paulo, Brasil, 18-21 Abril, 2000.
Silva, Ldia Oliveira, Implicaes da
Internet nas rotinas cognitivas e sociais da
comunidade cientfica, in: Actas do Congres-
so Internacional de Comunicao De Gutenberg
ao Terceiro Milnio, Lisboa, Universidade
Autnoma de Lisboa, 2001, p.331-346.
Silva, Ldia Oliveira, A comunidade ci-
entfica nas malhas da rede que percepo?,
in: Revista Comunicao e Linguagens, Junho
2002, Nmero Extra, Actas do Congresso
ICNC: International Conference on Network
Culture, Universidade Nova de Lisboa, Centro
de Estudos de Comunicao e Linguagens.
Silva, Ldia Oliveira, Implicaes
Cognitivas e Sociais da Globalizao das
Redes e Servios Telemticos estudo das
implicaes da comunicao reticular na
dinmica cognitiva e social da Comunidade
Cientfica Portuguesa, Tese de Doutoramento:
Universidade de Aveiro, 2002. (disponvel on-
line em: www.bocc.ubi.pt)
Vitorino, Benalva da Silva, Lusofonia:
proposta para a reinveno de uma comunida-
de, in: Anurio Internacional de Comunicao
Lusfona, Ano 1, n1, Abril de 2003, 11-23.
Wolton, Dominique, A Outra
Globalizao, Lisboa, Difel, 2004.
_______________________________
1
Departamento de Comunicao e Arte da
Universidade de Aveiro.
2
(Bras.) filho de branco e de crioula; mestio
especial. (Do r. mamluk, escravo).
3
Associao das Universidades de Lngua
Portuguesa: http://www.aulp.org.
4
http://www.aulp.org/proj_uvlp.html.
5
Os objectivos do projecto ndice
Interactivo da Lusofonia so os seguintes:
Mostrar de que maneira os pases da Lusofonia,
atravs das suas comunidades esto activos e
actuantes na World Wide Web (Internet);
Sensibilizar a comunidade cientfica para a impor-
tncia da publicao dos seus projectos na WWW;
Avaliar de que modo as Tecnologias de Infor-
mao so encaradas e utilizadas pelos Estados
e diferentes organizaes no-governamentais,
propiciando a mudana para a partilha;
Identificar os Projectos inter-lusfonos que re-
correm s Novas Tecnologias da Informao;
Quantificar os projectos por reas de saber, e
nomeadamente os ligados Educao e Cincia,
Literatura, Lingustica, Histria, Arte e Cultura;
Inferir de que modo as novas tecnologias de in-
formao e os projectos inter-lusfonos contri-
buem para um melhor conhecimento mtuo entre
os povos de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guin-
Bissau, Moambique, Portugal e Timor LoroSae.
Informao disponvel em: http://
www.terravista.pt/PortoSanto/1999/intro.htm/
cimo%20da%20pagina(2004-04-13)
6
Informao disponvel em: http://
www.portcom.intercom.org.br/.
7
Seminrio que decorreu em Salvador da
Bahia em Maro de 2004.
387 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Significando e ressignificando
Lourdes Meireles Leo
1
Um dos postulados bsicos de Vygotsky
que a relao do ser humano com o mundo
no uma relao direta, mas, uma relao
mediada, isto , sofre a interveno de um
elemento intermedirio. A presena de ele-
mentos mediadores introduz um terceiro
elemento que se coloca entre o sujeito e o
objeto, compreendendo um elo a mais nas
relaes organismo-meio tornando-as mais
complexas. Ainda segundo Vygotsky existem
duas classes de mediaes: por objetos
materiais, os instrumentos e a realizada por
signos ou smbolos. Os seres humanos de-
senvolveram, ao longo da sua histria, di-
ferentes sistemas de semiotizao para se
comunicarem que lhes tornam possvel a vida
social. Isto fica bem evidente no ambiente
de trabalho, em que cada profisso ou
atividade especfica desenvolve seu sistema
prprio de comunicao ou jargo profissi-
onal. A crescente complexidade do mundo
moderno propicia o surgimento de novas
tecnologias da comunicao e da informa-
o, com a conseqente necessidade de novas
linguagens ou ressignificaes da linguagem
natural daquele grupo cultural. Como as
pessoas constroem certos tipos de linguagens
em certos ambientes profissionais uma
questo central neste trabalho. sempre
importante estudar o surgimento destas novas
construes. Saber como as pessoas inven-
tam e fazem uso de linguagens especializadas
vai nos mostrar a capacidade que o ser
humano possui de produzir novos tipos de
discursos.
A ao humana rica em contedos
semnticos. Aes possuem influncia em
virtude do significado que adquirem em
contextos socioculturais especficos. Em uma
interao face-a-face, em que existem pistas
no lingsticas formuladoras de contextos,
estas aes significam por elas mesmas,
porm, em uma interao mediada por
mquinas, em que estas pistas esto ausen-
tes, estes significados precisam ser traduzi-
dos em palavras. Caracterizar este mecanis-
mo de produo e compreenso de discurso
especializado em um ambiente profissional
de alta densidade tecnolgica, com base em
um trabalho colaborativo, onde existe toda
uma tecnologia que d suporte a estas ope-
raes e na qual a eficincia e a preciso
da linguagem so indispensveis o objetivo
deste estudo.
1. Caracterizao da atividade
Este artigo o relato de um segmento
de uma pesquisa maior que compreendeu a
tese de doutoramento da autora. A pesquisa
realizou-se em uma das maiores e mais
importantes empresas do setor hidroeltrico
brasileiro, responsvel pela produo, trans-
porte e comercializao de energia eltrica
para oito Estados do Nordeste do Brasil. O
setor especfico pesquisado foi a sala de
controle do Centro Regional de Operao do
Sistema Leste denominado CROL. Um dos
objetos deste estudo foram os processos
comunicativos desenvolvidos pelos operado-
res da sala de controle em questo. O universo
da pesquisa compreendeu os operadores do
CROL, que trabalham em duplas, em turnos
ininterruptos de seis horas, alocados em
diferentes grupos de trabalho e realizando o
mesmo tipo de tarefa. Os processos comu-
nicativos foram estudados a partir de obser-
vaes locais, entrevistas abertas, notas de
campo e registro de gravaes de situaes
cotidianas e de anormalidades no sistema, no
perodo de dois anos.
Nosso uso situado da linguagem e con-
seqentemente a significao da linguagem,
pressupe e implica um horizonte de coisas
que nunca so explicitamente mencionadas,
mas so dadas como sabidas. Isto acarreta
uma dificuldade de comunicar instrues para
a ao em situaes particulares. A
indexicabilidade de instrues quer dizer que
o significado de uma instruo com respeito
388 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
ao no explicitamente inerente
instruo, mas deve ser encontrado pelo
seguidor da mesma, com referncia situ-
ao do seu uso. O que facilita a compre-
enso da instruo para a ao no somen-
te a instruo como tal, mas sua interpre-
tao em uso. Cada ocasio, do uso situado
da linguagem, caracterizada por incertezas.
J que na interao comunicativa nem tudo
claramente explicitado, grande parte per-
manece implcita, as pessoas tm de inferir
muita coisa da situao e isto pode, algumas
vezes, acarretar problemas porque os sujei-
tos podem supor o indevido, o que deve ser
evitado ao mximo em um tipo de atividade
como esta.
A linguagem no s ancorada na si-
tuao, como tambm em larga escala,
constitui a situao de seu uso. Um sentido
pode ser convencional dentro de uma comu-
nidade, como entre os usurios de compu-
tador, entre mdicos, entre apreciadores de
futebol, entre os operadores do CROL, mas
pode ser totalmente sem sentido para as outras
pessoas. Como existem inmeras possibili-
dades de significao das palavras fora do
significado dado pelo dicionrio, a signifi-
cao real de uma palavra em um determi-
nado momento e situao o resultado de
um processo de coordenao, trocas e con-
cordncia mtua entre os sujeitos. O que
uma palavra significa depende no somente
de suas propriedades genricas do domnio
conceitual, mas da situao sendo descrita
no momento (Clark, 1992: 372). Por con-
seguinte, o significado convencional de fato
uma descrio breve e parcial de algum
aspecto do mundo. O significado real,
aquele que se pretende dar em uma situao
especfica, construdo pelos interlocutores.
A atividade estudada desenvolvida em
um ambiente de alta densidade tecnolgica
em que a comunicao no direta, face a
face, mas intermediada por instrumentos,
o que torna o processo mais complexo, e no
qual a preciso e a segurana da comuni-
cao so imprescindveis. Considerando as
caractersticas da linguagem e considerando
que esta uma atividade de alto risco em
que a exatido na comunicao essencial,
j que um comando errado ou uma m
interpretao de uma informao pode gerar
uma tragdia, todo um aparato semiolgico
foi construdo tais como: codificao de
linhas, formas especficas de enviar e rece-
ber mensagens e um vocabulrio prprio,
tendo como finalidade exclusiva garantir a
inteligibilidade, a preciso e, por conseguin-
te, a segurana das trocas comunicativas neste
contexto. A linguagem utilizada pelos ope-
radores no , pois, uma linguagem corrente,
mas uma linguagem especializada, tpica
daquele contexto de trabalho.
2. Processos comunicativos no CROL
No CROL a comunicao com as
subestaes, as concessionrias e os outros
rgos do sistema, toda realizada por meio
de instrumentos. Os operadores dos diferen-
tes setores esto engajados em uma interao
indivduo - mquina - indivduo. A mquina
o fator mediador nesta comunicao, eles
esto interligados, interagindo via configu-
rao do sistema, cujo funcionamento est
sendo acompanhado por eles.
Este processo de interao, para usar uma
metfora, pode ser comparado a uma gigan-
tesca teia de aranha na qual o CROL cons-
titui a parte central. Ele tem a viso geral
do todo e recebe todas as informaes. uma
cadeia interacional muito grande e fechada.
O operador do CROL fala com os operado-
res das subestaes e estes com o operador
do CROL. O operador do CROL fala com
os operadores das concessionrias e vice-
versa e fala com o ONS (Operador Nacional
de Sistema Eltrico - rgo controlador
central) que por sua vez se comunica com
ele. Assim, apesar de todo o sistema estar
interligado, no h comunicao entre si, mas
atravs do CROL. Este quem supervisiona
e controla todo o sistema, quem detm toda
a informao e poder de autorizar ou
desautorizar este ou aquele procedimento.
um sistema interligado de forma tal, que um
problema que acontea em uma subestao
pode afetar uma ou mais subestaes ao
mesmo tempo, ainda que estejam afastadas
geograficamente umas das outras. Apesar
disto, elas no tm nenhuma atuao entre
si para resolver o problema, a no ser atravs
do CROL. uma rede muito grande de
interaes intermediadas entre si pelo CROL
e entre elas e o CROL pelos instrumentos
que fornecem as configuraes das
389 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
subestaes e concessionrias e que permite
ao CROL ter acesso a elas. , portanto um
sistema distribudo, no qual o CROL a
instncia mediadora.
Em sistemas distribudos as tarefas
so executadas em e atravs da
interao, por conseguinte a distribui-
o de acesso informao uma
importante propriedade do sistema de
cognio distribuda (Hutchins e
Klausen, 1996: 26).
Processos cognitivos que so distribudos
atravs de uma rede de pessoas, tm de lidar
com as limitaes da comunicao entre
pessoas. Considerando estas limitaes foi
construdo um arcabouo lingustico para
padronizar e dar suporte s trocas comuni-
cativas, a fim de que as informaes circu-
lassem com mais preciso e eficincia.
Veremos a seguir este arcabouo padro para
a comunicao oral no CROL. A empresa
chama de comunicao de voz e refere-
se comunicao via telefone, rdio e/ou
hand-talk. composto dos seguintes elemen-
tos: Estrutura Padro de Comunicao,
Codificao Alfanumrica, Terminologia
Operacional Bsica e Fraseologia Padro.
Estes elementos sero detalhados a seguir.
1) Estrutura Padro de Comunicao -
Toda comunicao de voz deve sempre
ocorrer dentro da seguinte estrutura:
Identificao dos interlocutores.
Transmisso da mensagem.
Repetio da mensagem recebida.
Confirmao e concluso.
Em relao repetio da mensagem
recebida, a redundncia da informao
realmente uma das estratgias de se lidar com
as limitaes da comunicao. A comunica-
o redundante uma forma de garantir a
preciso do que informado e a execuo
do que solicitado. A repetio das solici-
taes e das autorizaes, s vezes exaus-
tivamente, uma medida de segurana.
Funciona como uma confirmao do que foi
solicitado ou autorizado - checagem de erros
- e leva diminuio da possibilidade de
problemas ocasionados por erros de comu-
nicao.
2) Codificao Alfanumrica - o voca-
bulrio convencional utilizado na comunicao
operacional, constitudo de cdigos fonticos
e numerais. Abrange os cdigos de identifica-
o de equipamentos e os alfanumricos:
a) Alfabeto fontico: Segundo os manu-
ais da empresa os operadores de Sistema e
de Instalao, ao transmitirem via fonia a
posio ou cdigo operacional de qualquer
equipamento ou linha, devero faz-lo atra-
vs dos cdigos em uso. Alguns institudos
pela empresa, como o caso da codificao
internacional utilizada pelas linhas areas,
com algumas modificaes no significado que
ajustado para a atividade desenvolvida no
CROL e outros criados dentro da atividade,
pelos usurios do sistema.
Tabela de Cdigos Lingsticos:
A = Alfa; B = Bravo; C = Charlie;
D = Delta; E = Eco;
F = Foxtrot; G = Golfo;
H = Hotel; I = ndia; J = Julieta;
K = Kilo; L = Lima;
M = Mike; N = Novembro;
O = Oscar; P = Papa; Q = Quebec;
R = Romeu; S = Sierra;T = Tango;
U = Uniforme; V = Victor; W = Whisky;
X = Ecstra; Z = Zulu.
As significaes do alfabeto fontico:
Bravo significa banco capacitor
Eco reator
Tango transformador
Kilo compensador
Quebec compensador esttico
TC transformador de corrente
Trafo transformador de potncia
As outras letras do cdigo denominam
as linhas.
b) Numerais: Os numerais 1 e 6 so
respectivamente denominados de uno e meia
por conta de sua sonoridade, o que acarreta
facilidade de serem mal interpretados. Segue
as suas significaes:
0 (zero) significa linha;
1 significa disjuntor;
2 significa tenso de 69 kv (quilovolt -
unidade de medida de fora);
3 significa tenso de 138 kv;
4 significa tenso de 230 kv;
5 significa tenso de 500 kv;
Exemplos do uso do cdigo alfanumrico:
- 04 mike 2 - significa linha M2 de 230 kv
- 12 julieta 8 - significa disjuntor de 69
kv da linha J 8
390 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
- 04 tango 2 - significa transformador 2
da linha de 230 kv
3) Terminologia Operacional - Conjunto
de termos peculiares adotados a determinada
atividade. Refere-se s aes em equipamen-
tos. Para cada equipamento h uma termi-
nologia especfica da ao a ser executada.
Exemplos:
Barramento: energizar/desenergizar; ater-
rar/desaterrar; interligar/seccionar.
Teleproteo: ativar/desativar; colocar (em
teste) etc.
4) Fraseologia Padro - Forma de cons-
truo de frases prprias a cada atividade.
Exemplos: Para pedidos: Solicito liberao
+ codificao do equipamento.
Para informaes: Informo variao de
tenso na barra X.
A seguir um exemplo completo, isto ,
utilizando todos os elementos da padroniza-
o da comunicao oral operacional do
CROL:
3. Ressignificando
Cada organizao de trabalho constri seu
prprio vocabulrio e seus significados in-
ternos, coisas que s tm sentido dentro
daquela realidade, so construes coletivas
de mecanismos semiticos que se cristalizam
dentro da organizao e so passadas dos mais
antigos para os novatos, sendo muitas vezes
normatizadas, isto , passam a fazer parte
das normas da empresa. No CROL no
diferente, alm dos cdigos operacionais
construdos a funcionar com mais preciso
nas interaes comunicativas, uma srie de
expresses, construdas colaborativamente,
so utilizadas com certas especificidades. Isto
, foram criados tambm, novos significados
para algumas palavras, o seu jargo interno,
o qual funciona como uma linguagem espe-
cfica do lugar. Segue algumas ilustraes
deste tipo de construo (quadro da pgina
seguinte).
Estes so apenas alguns exemplos do
linguajar interno. Porm, mais interessante
do que mostrar construes metafricas
especficas mostrar o processo cognitivo
atravs do qual estas construes foram
realizadas. importante saber como novos
sentidos so dados s palavras e de onde
vm estas novas significaes. Para carac-
terizar este mecanismo de emergncia de
novos significados, fomos buscar suporte
terico na Teoria dos Espaos Mentais de
Fauconnier. No mbito desta teoria encon-
tra-se a explicao de como se constri todo
o processo analgico, metafrico e de
ressignificao de palavras. Na tica de
Fauconnier, 1997: 2
A linguagem visvel apenas um
tipo de iceberg da construo do
significado invisvel que ocorre
quando pensamos ou falamos. Essa
significao escondida, de bastido-
res, define nossa vida mental e
social. A linguagem uma de suas
proeminentes manifestaes exter-
nas.
Segundo Marcuschi (1999), a teoria de
Fauconnier possui trs noes nucleares:
1) Espaos Mentais - so domnios de
conhecimentos, concebidos como ncleos
cognitivos estruturalmente simples.
2) Correspondncia (mapping) - esta
noo sugere uma espcie de correspon-
dncia entre dois domnios cognitivos (es-
paos mentais) em que o segundo um
tipo de contraparte do primeiro, que lhe
serve de base. Estas correspondncias so
projees de um domnio para o outro e
tm caractersticas de uma inferncia
analgica.
3) Integrao Conceitual ou Mesclagem
(blending) - uma operao cognitiva
geral de integrao conceitual com mlti-
D C R o a t s e b u S - r o s s i m E - E
L O R C - r o t p e c e R - R
: s e r o t u c o l r e t n I s o d o a c i f i t n e d I
a d a m a h c a z a F - E
o i n t n A , L O R C - R
o d r a c i R , D C R - E
: m e g a s n e M a d o s s i m s n a r T
e o n u o g n a t e z r o t a u q e m r a s e d o m r o f n I - E
e s g e d l e r o d n a z i l a n i s o n u o g n a t e z o d
o r t a u q o r e z o d o r t a u q e a t n e t i o e v a h c o d n a u t a
. o n u o g n a t
: m e g a s n e M a d o i t e p e R
o g n a t e z r o t a u q e m r a s e d a m r o f n i c o v , k O - R
e s g e d l e r o d n a z i l a n i s o n u o g n a t e z o d e o n u
o r t a u q o r e z o d o r t a u q e a t n e t i o e v a h c o d n a u t a
. o n u o g n a t
: o s u l c n o C / o a m r i f n o C
. s e u r t s n i o d r a u g a , o v i t i s o P - E
391 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
plas funes num processo de construo
de significados.
Como estas noes se integram? Como
isto funciona? De acordo com as elaboraes
de Fauconnier, dois espaos mentais iniciais
que tm correspondncia um com o outro,
pelo processo de mesclagem ou integrao
conceitual, do surgimento a um terceiro, a
mescla (blend). Esta usa as estruturas vindas
dos espaos estmulos e dos conhecimentos
de fundo do sujeito para criar uma nova
estrutura e permitir que o trabalho cognitivo
central seja desempenhado. Este terceiro
espao herda a estrutura parcial dos espaos
iniciais, mas tem estrutura emergente prpria.
O ponto de partida ou o espao base, como
sugere Fauconnier, sempre um sistema de
relaes correspondidas em um outro espao
mental. Almeida (1999) utiliza uma metfora
para exemplificar o processo:
A frase em questo , pois, o resultado
de projees ou correspondncias de um
domnio do conhecimento com outro. O
significado na realidade produto de mescla
ou integrao de conhecimentos e possui, ele
mesmo, uma estrutura prpria.
Fauconnier (1997) ressalta a dimenso
criativa de todas as formas de pensamento.
Estas, segundo o autor, produzem novas rela-
es, novas configuraes e, por conseguinte
novos significados e novas conceitualizaes.
Tais construes lingusticas, bastante cria-
tivas, so impulsionadas por um importante
processo cognitivo que a integrao
conceitual ou mesclagem. Para ele,
mesclagem uma operao que embora
simples ( um processo cognitivo que opera
sobre dois espaos mentais para obter um
terceiro) pode explicar uma srie de fen-
menos lingsticos e contribuir para melhor
se conhecer a natureza das relaes existen-
tes entre construes lingsticas e processos
cognitivos. Na opinio de Sweetser e
Fauconnier (1996), a idia bsica que
medida que ns pensamos e falamos, espa-
os mentais so estabelecidos, estruturados
e ligados sob presses vindas da gramtica,
contexto e cultura.
Chiavegato, 1999: 111, por sua vez, afir-
ma que
... por engendrarem construes com
significados bastante originais, os resul-
tados das anlises do processo de
mesclagem ..... na interao real, podem
ser reveladoras de como so criativas as
interaes mais comuns do cotidiano.
Basicamente a teoria de Fauconnier toda
pode ser resumida no seguinte: h um elemen-
A R V A L A P O D A C I F I N G I S
) o d n a m o c o ( r a t r o b A o a r e p o a m u r e d n e p s u S
o t n e m a d n u f A a i g r e n e e d o i u n i m i D
a h n i l a m u r a t n e m i l a - o a t n e m i l A a h n i l a n a i g r e n e r a c o l o c - a i g r e n E
o t r e b a l e n A l a i c i n i o t n o p o a a t l o v o n a i g r e n e a o d n a u Q
o d a h c e f l e n A
o t n o p o a e r p m e s a t l o v a i g r e n e a o d n a u Q
o d n a l u c r i c t s e , l a i c i n i
a g r a c e d o c n a B a i g r e n e e d e d a d i t n a u q e d n a r g a m U
a r r a B
m u a t r o p s n a r t e u q e t r o p e d n a r g e d a h n i L
a i g r e n e e d e d n a r g o t i u m e m u l o v
) o a t s e b u s a m u ( r i a C a m e l b o r p m u g l a r o p r a n o i c n u f e d r a x i e D
a h n i l a r e r r o C l a c o l o n a i r o t s i v a m u r e z a F
) . c t e , o a t s e b u s a m u , a h n i l a m u ( r e d r e P a m e l b o r p m u g l a r o p r a n o i c n u f e d r a x i e D
o d a h l a m a m e t s i S o a g i l r e t n i e t n a t s a b m o C
392 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
to que a linguagem comum, est no dici-
onrio, so os espaos mentais da vida diria.
E h a vivncia de uma dada situao que
so os espaos mentais onde isto utilizado.
Da juno destes dois espaos mentais, surge
um novo sentido ou um terceiro espao mental.
No caso especfico do CROL, eles esto
utilizando-se da linguagem comum e da prtica
das suas atividades, para a partir desse material
produzirem, colaborativamente, outros espa-
os que so os espaos do contexto em que
eles atuam, criando novos significados para
as palavras utilizadas. Assim, a Teoria dos
Espaos Mentais nos d uma viso dinmica
da construo de significados.
Alm deste cdigo lingustico prprio,
criado pelos sujeitos para suprir suas neces-
sidades comunicativas, outra linguagem
coexiste no mesmo espao profissional, a
linguagem transmitida pelos instrumentos
tecnolgicos. No seu cotidiano de trabalho
os sujeitos lidam, portanto, com dois tipos
de linguagens: a do cdigo lingstico por
eles elaborado e a linguagem dos instru-
mentos tecnolgicos que monitoram o sis-
tema, atravs dos quais eles tm que ler
diretamente as informaes pertinentes ao
funcionamento do mesmo. Os equipamentos
na sala de controle proporcionam aos ope-
radores o seu primeiro acesso perceptual para
o mundo do trabalho. Eles vm e agem sobre
este mundo atravs do uso destes instrumen-
tos que esto constantemente transmitindo
para os operadores, atravs da configurao
das subestaes nos computadores, informa-
es do sistema como um todo. um re-
curso crtico na colaborao entre os ope-
radores e as subestaes. Estas vias de
distribuio da informao capacitam os
operadores a tomarem conhecimento da
ocorrncia de um problema no caso das
subestaes totalmente automatizadas e nas
outras subestaes, em algumas situaes,
antes mesmo de serem oficialmente comu-
nicados do fato pelos operadores das mes-
mas. Quando surgem alteraes na configu-
rao das subestaes sinal de problema
que precisa ser interpretado.
A outra forma de obterem informaes
via tecnologia pelos alarmes sonoros e
visuais do quadro sinptico (instrumento que
transmite informaes do sistema, como
situao dos disjuntores, das tenses, etc.) e
tambm pelas variaes de tenses ali apre-
sentadas. Um olhar em direo ao display
das tenses do quadro sinptico pode for-
necer recursos atravs dos quais se pode saber
que uma subestao est com problemas.
Alteraes nestes instrumentos j so um sinal
de alerta, de que alguma coisa no est
funcionando dentro dos parmetros da nor-
malidade. So estas alteraes que tornam
possveis aos operadores construrem uma
verso do que est ocorrendo. Eles sabem
que algo est errado, que alguma coisa
diferente aconteceu. Esta uma linguagem
construda inferencialmente pelo que os
instrumentos fornecem.
Saber ler e compreender o que os
instrumentos sinalizam, no uma habilida-
de natural, transparente, mas um elemento
de aprendizagem cultural, organizado soci-
almente e que desenvolvido e mantido
dentro de uma comunidade de prtica. Se-
gundo Goodwin e Goodwin (1996) ler os
instrumentos de uma forma relevante ao
trabalho, resultado de um conhecimento
cultural produzido localmente. As linguagens
desenvolvidas nesta atividade especfica so
formas de adaptaes das transaes comu-
nicativas s tecnologias complexas que com-
pem a prtica da atividade.
393 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Bibliografia
Almeida, M. L. L. de. Processo de
Mesclagem em Anguladores no Portugus do
Brasil. In Veredas. Revista de estudos
lingsticos. Juiz de Fora, 1999, v 3, (1) 129-
142.
Austin, J. How to Do Things with Words.
Cambridge, MA: University Press, 1962.
Chiavegatto, V. C. Um Olhar sobre o
Processo Cognitivo de Mesclagem de Vozes.
In Veredas. Revista de estudos lingusticos.
Juiz de Fora, 1999, v 3, (1) 97-114.
Clarck, H. Arenas of Language Use.
Chicago: The University of Chicago Press,
1992.
Clark, H. & Brennam, S. E. Grounding
in Communication. In Resnick, L.; Levine,
J. M. & Teasley, S. T. (eds.) Perspectives
on Socially Shared Cognition. Washington:
American Psychological Association, 1991.
Fauconnier, G. Mapping in Thought and
Language. Cambridge: Cambridge University
Press, 1997.
Goodwin, C. & Goodwin, M. H. Seeing
as situated activity: Formulating planes. In
Engestrm, Y. and Middleton, D. (Eds.)
Cognition and Communication at Work.
Cambridge: University Press, 1996.
Hutchins, E. & Klausen, T. Distributed
Cognition in an Airline Cockpit. In
Engestrm, Y. & Middleton, D. (Eds.)
Cognition and Communication at Work.
Cambridge: Cambridge University Press,
1996.
Hutchins, E. Cognition in the Wild.
Massachusetts: Institute of Technology, 1996.
Marcuschi, L. A.. Cognio e Produo
Textual: Processos de Referenciao. Traba-
lho apresentado no II Congresso Nacional da
ABRALIN (Associao Brasileira de
Lingstica). Florianpolis, 25-27 de Feve-
reiro de 1999.
Marcuschi, L. A. Cognio, Explicitude
e Autonomia no Texto Falado e Escrito.
Conferncia pronunciada no III ELFE - III
Encontro de Lngua Falada e Ensino. Macei,
UFAL, 12-16 de Abril de 1999.
Marcuschi, L. A. Quando a Referncia
uma Inferncia. Conferncia pronunciada
no GEL (Grupo de Estudos Lingsticos do
Estado de So Paulo), UNESP. Assis-SP,
Maio de 2000.
McNeill, D. Language viewed as action.
In Wertsch, J. (Ed.). Culture Communication
and Cognition: Vygotskian Perspectives.
Cambridge: University Press, 1988.
Mondada, L. & Dubois, D. Construction
des Objets de Discours et Catgorisation: une
approche des processus de rfrenciation. In
TRANEL (Travaux Neuchtelois de
Linguistique), 1995, 23: 273-302.
Mondada, L. Le Langage en Action.
Trabalho apresentado no LActualit des
Recherches-actions, Paris, 16-18 de Abril de
2000.
Oliveira, M. K. Linguagem e Cognio:
Questes sobre a natureza da construo do
conhecimento. In Temas em Psicologia.
Ribeiro Preto, SP. Sociedade Brasileira de
Psicologia, 1995, n. 2, p. 1-9.
Pino, A. Semitica e Cognio na
Perspectiva Histrico-Cultural. In Temas
em Psicologia. Ribeiro Preto, SP. Soci-
edade Brasileira de Psicologia, 1995, n
2, p. 31-40
Salomo, M. M. M. A Questo da
Construo do Sentido e a Reviso da Agenda
dos Estudos da Linguagem. In Veredas.
Revista de estudos lingsticos. Juiz de Fora,
1999, v 3 (1) 61-79.
Schegloff, E. Conversation Analysis and
Socially Shared Cognition. In Resnick, L. B.;
Levine, J. M. & Teasley, S. T. (eds.)
Perspectives on Socially Shared Cognition.
Washington: American Psychological
Association, 1991, 150-171.
Suchman, L. A. Plans and Situated
Actions. The problem of human-machine
communication. Cambridge: University Press,
1987.
Sweetser, E. & Fauconnier, G. Cognitive
Links and Domains: Basic aspects of mental
theory. In Fauconnier, G. & Sweetser, E.
(eds.) Spaces, Worlds, and Grammar. Chi-
cago: The University of Chicago Press, 1996,
1-28.
Vygotsky, L. S. Linguagem e Pensamen-
to. Lisboa: Edies Antdoto, 1979.
Vygotsky, L. S. A Formao Social da
Mente. So Paulo: Martins Fontes Ed, 1989.
_______________________________
1
Universidade Federal Rural de Pernambuco
/ Brasil.
394 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
395 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Clipoema:
a inter-relao das linguagens visual, sonora e verbal
Luiz Antonio Zahdi Salgado
1
Os anseios gerados pela poesia concreta
brasileira nascida nos anos 50, donde as pos-
sibilidades plsticas da palavra ganharam
importncia, so agora, nestes ltimos 12
anos, concretizadas atravs do cruzamento
com as atuais interfaces tecnolgicas. A ampla
revoluo causada pela ferramenta digital
possibilitou que a poesia escrita, sua imagem
e movimento agregassem novos valores. O
som e seus desdobramentos, a msica, a
utilizao de rudos, a poesia falada, bem
como outros recursos oriundos de outras ma-
nifestaes artsticas como, por exemplo, a
performance e a vdeo arte podem ser agora
elementos para serem agrupados em poesia.
O resultado desta inter-relao diferenciada
de linguagens chama-se no Brasil
Clipoema.
A inter-relao das linguagens visual,
sonora e verbal (VSV) j ocorre a quase 80
anos nas manifestaes cinematogrficas de
modo indiscutivelmente consagrado, entretan-
to do cruzamento da poesia concreta com as
atuais interfaces tecnolgicas ocorre um novo
modo nessas relaes: um alto grau de
inter(IN)dependncia entre elas, ou seja, cada
linguagem pode se estabelecer independen-
temente das outras, mas quando agrupadas
no apenas funcionam como meras ilustra-
es ou legendas umas das outras mas pro-
porcionam mltiplas possibilidades de leitu-
ra e entendimento de modo que ampliam
consideravelmente as possibilidades de sig-
nificado da mensagem potica. Entendo que
isto caracteriza o Clipoema.
H meio sculo os poetas Augusto de
Campos, Haroldo de Campos e Dcio
Pignatari, como integrantes do Grupo
Noigandres, iniciaram um movimento de
vanguarda, pioneiro, bastante considerado in-
ternacionalmente, que abriu novos caminhos
para a poesia brasileira, () surge a poesia
concreta detectando a crise do verso e ten-
tando reordenar o caos grfico do esfacela-
mento da linearidade (Menezes, 1991: 13).
Os poetas deste grupo estavam conectados
s idias artsticas e tericas de Mallarm,
James Joyce, Ezra Pound, Cummings e
Apollinaire e tambm as tentativas experi-
mentais futuristas/dadastas que esto na raiz
do novo procedimento potico, que se im-
puseram organizao convencional formal
do verso. (Campos 1987: 50). Os signos
verbais da poesia se abrem para a visualidade
das Artes Plsticas e do Design Grfico, a
leitura tradicional rende-se para uma viso
multidirecional da distribuio do poema pelo
espao da pgina: os tipos se soltam sobre
a superfcie branca plana.
Para Philadelpho Menezes, o momento
concretista considerado o de maior alcance
da conscincia crtica at ento produzido pela
vanguarda brasileira, quando foram dados os
primeiros passos para () o caminho da
crescente presena da visualidade, que acabaria
por aprofundar a imploso sinttica, chegando
a prpria unidade molecular do discurso ver-
bal: a palavra.(Menezes, 1991: 13). Santaella
tambm trata do mesmo assunto e acrescenta
no Brasil, o polmico movimento da poesia
concreta foi o primeiro a pr programaticamente
em discusso a visualidade na poesia ()
(Santaella, 1998: 70-71).
Paralelo ao interesse pelo sentido visual
da palavra, principalmente pelo grupo de
poetas do Noigandres, tambm j estava
contido, na dinmica concretista, o desejo de
utilizar o som na construo potica, con-
forme declara Augusto de Campos. (Arajo,
1999: 50) Muito da estrutura da poesia est
na sonoridade proporcionada pela combina-
o criativa das letras, slabas e palavras que
possibilitam resultados interessantes tanto no-
poema recitado quanto no cantado. Entretan-
to, a utilizao do som proposta por estes
poetas aquela cujas referncias se encon-
tram nos grandes compositores que inova-
ram e ampliaram os conceitos musicais do
sculo XX, como Schoenberg, Webern,
Boulez, Xenakis, Cage, entre outros.
396 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Pode-se ainda dizer que uma das prin-
cipais caractersticas da poesia visual j se
encontrava antecipadamente no pensamento
concretista: a explorao de novos suportes.
Antecipando a exploso das variadas ma-
nifestaes da poesia visual (poema proces-
so, poesia experimental, alternativa, arte
postal, gestual, poesia visiva, grafismo,
letrismo), a poesia concreta, especialmente
nos desdobramentos por que viria passar na
obra de Augusto de Campos, antecipou
tambm o pulsar dos movimentos em luz ou
som de uma potica eletrnica na era da
automao (Santaella et al, 1998: 71).
Os elementos inscritos pelo movimento
concretista atravessaram dcadas em busca de
movimento e animao. Entretanto, atravs dos
mesmos poetas citados e juntando-se a eles
o artista plstico Jlio Plaza e tambm o artista
multimdia Arnaldo Antunes, novas experimen-
taes surgiram na composio com signos
verbais e no verbais. Estas exploraes
ocorreram principalmente na utilizao de
outros suportes tecnolgicos como o fax, o
vdeo texto, o holograma, o laser, o vdeo e
o computador, que foram emprestados de suas
funes para servirem como interfaces para
expresso artstica destes poetas.
Na dcada de 90, no Laboratrio de
Sistemas Integrveis da Escola Politcnica da
USP, foram desenvolvidos alguns poemas a
partir dos recursos da computao grfica.
A idia era transcriar poemas do papel para
o vdeo (Arajo, 1999: 15), este evento foi
chamado de Vdeo Poesia. Paralelo a este
evento, AA desenvolveu a obra multimdia
Nome.
Nome
Nome o ttulo/tema
da obra de Arnaldo
Antunes. Esta obra
datada de 1993, con-
siderada multimdia
por envolver vrios
meios para sua produ-
o e apresentao,
composta de CD com
23 msicas, vdeo
com 30 clipoemas,
livro com 30 poemas
e show musical.
Na obra Nome se encontra a continuidade
do percurso iniciado pelo concretismo, uma
obra de poesia que se vale de outras lingua-
gens no s para ilustrar o seu sentido verbal,
mas para, na inter-relao com o som e a
imagem, gerar mltiplos significados.
Informao, comunicao e repertrio
A percepo da obra Nome passa a
ocorrer atravs da combinao de variados
caminhos, possibilitando uma leitura ampla
e diversificada, limitada apenas pelo reper-
trio individual do pblico apreciador. O
pblico atingido por este formato de trabalho
aumenta em nmero, porque a obra atrai,
numa mesma idia, amantes da msica, do
vdeo e da poesia.
Uma das mais importantes caractersticas
encontradas na obra Nome est relacionada
com o modo de utilizao dos repertrios
sonoro, visual e verbal, dos cruzamentos, das
complementaes, das linhas de fuga, enfim,
das relaes intersemiticas entre eles. O
artista multimdia combina os trs repert-
rios de forma bastante variada, gerando uma
obra mltipla onde cada poema, clipoema,
msica, apresenta diferenas de nveis de
inteligibilidade e redundncia. Podem-se
encontrar msicas de repertrio facilmente
reconhecido, assim como poemas com nveis
altos de inteligibilidade e que exigem do
receptor um repertrio mais elevado.
A obra apresenta mltiplos cruzamentos,
com variados graus de complexidade, pois
a utilizao do recurso de repetio no segue
uma lgica convencional. Os elementos so
organizados em estruturas diversas que
buscam muito mais a experimentao est-
tica. O alto grau de informao da obra como
um todo resulta num complexo organismo
onde em cada parte se observam nveis
variados de disposio da informao, alguns
momentos mais redundantes, outros intensa-
mente mais informativos, causando radicais
enfrentamentos entre inteligibilidade e
previsibilidade.
Por exemplo, pode-se observar no vdeo
Cultura uma combinao de repertrios que
facilita ao pblico o entendimento da men-
sagem potica.
J em outro clipoema onde o ttulo frase
os nomes dos bichos no so os bichos,
397 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
o autor coloca uma questo metalingstica
sobre a relao entre os signos/smbolos que
por conveno representam, mas no so os
seus referentes. Fica evidente a utilizao da
imagem como signo que indica/induz o
receptor a aceitar vrios referentes para o
mesmo signo verbal. Como em Alice no pas
das maravilhas, o interessante nestes jogos
metalingusticos est nas possibilidades en-
contradas por trs do espelho, ou seja, o
receptor vai percebendo o jogo conforme o
vdeo vai se mostrando no tempo, quando
vai se deixando perceber o deslocamento de
um referente para outro. De outro modo,
poderia se dizer que o primeiro referente, por
exemplo, da palavra macaco, o animal
conhecido por todos como objeto deste sm-
bolo. Num segundo momento, poder-se-ia
dizer que a mesma palavra estaria se
referenciando a um boneco que possui sig-
nos semelhantes aos do animal. E ainda, em
uma terceira possibilidade, ocorre uma in-
verso no deslocamento, sendo que agora
a palavra/signo/verbal/sonoro que substi-
tuda por outra que indica uma nova refe-
rncia dentro do mesmo objeto: neste caso
o objeto/boneco/macaco/material, pode ser
identificado/chamado/entendido atravs da
palavra pelcia.
Os referentes so potncias latentes de
significao, conscientizadas a partir das
evidncias indiciais deixadas propositalmen-
te pelo autor na composio da inter-relao
das linguagens. E por fim a prpria palavra
escrita/dita como signo de referncia dela
mesma com suas caractersticas grficas e
sonoras tambm participa deste jogo de
cruzamentos metalingsticos. O poema se
encerra no ato de lavar o cavalo, diluindo
as palavras nele escritas. A palavra, que no
incio foi apresentada sendo construda,
materializada, no final diluda/lavada.
Percebe-se que no h hierarquia entre
os signos/elementos. A cada instante, a cada
linha/frase/imagem/som o receptor surpre-
endido pela multplice de combinaes onde
o significado flutua em muitos fragmentos.
O poema se organiza na obrigatria condio
temporal imposta pelo meio, porm a no
linearidade se destaca na multiplicidade de
signos que se justapem, s vezes por vi-
zinhana e aproximao e outras por saltos
e linhas de fuga.
A inter-relao das linguagens sonora,
visual e verbal (VSV)
de meu interesse colocar outras ques-
tes sobre a inter-relao das VSV e no
apenas seguir a ordem do convencional, do
posto, do consagrado, mas de procurar novos
recursos para reflexo que possam se apro-
ximar de modo mais eficaz e aberto de uma
nova proposta artstica.
Nesta concepo, as conexes entre as
linguagens ocorrem em forma de rizoma
2
,
podendo acontecer a qualquer momento,
interligando pontos de informao, signifi-
cados ou os diferentes suportes que possi-
bilitam a veiculao das mensagens poticas.
Independentemente de qualquer regra
preestabelecida, o receptor navega entre
trechos ou fragmentos de imagens visuais,
verbais, sons e/ou msicas, intercalando-os
em tempo real na seqencialidade temporal
da obra, conforme lhe desperte o interesse,
por vizinhana, parentesco, proximidade,
similaridade, contigidade, ou de qualquer
outra forma que lhe determine um percurso
particular para o entendimento da informa-
o.
A alta taxa de informao de cada
mensagem potica de uma obra hbrida que
mantm uma inter-relao no hierrquica,
no permite uma completude perceptiva
finalizada, nica, acabada em si mesma. So
mltiplas possibilidades abertas para a recep-
o. Entretanto, no se trata de uma escolha
objetiva por este ou aquele caminho. A
interatividade ocorre atravs de um processo
de edio cerebral que opta por quais cami-
nhos navegar. um ato de percepo e
conscientizao. Na dinmica da escolha das
partes, no ato da leitura, a seqncia obtida
leva a uma interpretao do todo, no de um
todo nico, mas de um possvel dentre muitos.
Na inter-relao das linguagens, o reper-
trio signico do receptor entra em confronto
permanente com o da obra. A cada nova
leitura, novos signos de informao vo sendo
desvendados, e novos encadeamentos de sig-
nificados vo surgindo. A passagem de
entrada para a leitura da obra ocorre a partir
de elementos de repertrio simples, redun-
dantes e conhecidos, ou at sofisticados
elementos de metalinguagem. bastante
interessante observar que, simultaneamente
398 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
ou isolando uma determinada informao do
todo, as VSV possibilitam muitas leituras.
Nesta dinmica ocorre ruptura e
desterritorializao constantemente, mesmo
diante de uma obra videogrfica. A leitura
se desloca entre as mensagens, onde ocorre
uma flutuao perceptiva na interpretao dos
signos VSV, seja de forma vertical, na si-
multaneidade dos signos, seja na
horizontalidade da sequncia temporal.
O clipoema Pessoa que tambm, faz
parte da obra Nome, um exemplo do que
quero dizer sobre a inter-relao de lingua-
gens. O clipoema inicia apresentando uma
imagem/fundo, movimentando-se para a
direita. A imagem marcada por rascunhos,
escritas a mo, riscos e rasuras, causam um
rudo branco na mensagem, signos que
denunciam a existncia do poeta. Na estru-
tura do clipoema, a imagem/fundo serve de
suporte contrastante para os tipos digitais do
poema escrito se movimentarem para a
esquerda. O movimento contrrio entre as
imagens causa dificuldades para a percepo
do poema escrito. Entretanto, na fragmenta-
o do poema no ocorre perda de qualidade
na informao. Uma outra interferncia de
teor metalingstico aumenta a sensao de
estranhamento e de desconcerto perceptivo:
ao mesmo tempo em que o poema passa pela
tela, se podem ouvir, simultaneamente, AA
fazendo a anlise gramatical do poema. Di-
ferentemente do habitual, onde o texto ver-
bal falado se relaciona com poema escrito
ou de forma recitativa ou atravs de melodia
musical, neste clipoema os signos verbais se
relacionam em contraponto, o receptor l o
poema e ouve a anlise sinttica. Ainda se
pode perceber a presena de sons graves de
um baixo acstico aumentando a expectativa
em torno do clipoema. A quantidade de
informao verticalizada, acontecendo simul-
taneamente na horizontalidade seqencial do
vdeo, em determinado momento causa um
estado parecido com a hipnose, um descon-
certo multisensorial.
Este clipoema se caracteriza pelo modo
rizomtico como se apresenta recepo. Na
tentativa de buscar uma interpretao ime-
diata, o receptor levado a se distrair na
inter-relao das linguagens, fragmentando a
compreenso linear do clipoema. O resulta-
do uma sensao ramificada causada por
um movimento que se estabelece conforme
o receptor identifica os signos mais conhe-
cidos, seja na imagem, na escrita, na fala ou
no som. A mensagem, para o receptor, re-
aliza-se como um patchwork, um mosaico
de significncias.
Na relao entre a imagem e o texto da
obra Nome, ocorre uma constante confron-
tao entre signos redundantes e de infor-
mao. Kalverkmper
3
, citado por Santaella
e Nth (1997: 54) distingue trs casos em
que imagem e texto se relacionam na cons-
truo da mensagem: no primeiro caso a
imagem inferior e apenas complementa o
texto, servindo como elemento de redundn-
cia do verbal escrito; no segundo caso, a
imagem superior ao texto porque carrega
maior taxa de informao; no terceiro caso
a imagem e o texto tm a mesma importn-
cia. Esta equivalncia descrita como
complementaridade. A vantagem da
complementaridade do texto com a imagem
especialmente observada no caso em que
contedos de imagem e de palavra utilizam
os variados potenciais de expresso
semiticos de ambas as mdias
4
(Ibid., 55).
Sugiro uma quarta situao onde no s
a imagem e o texto, mas tambm o som em
todas as suas variaes se inter-relacionam
diferentemente do conceito de complementa-
ridade, pois possuem qualidades independen-
tes capazes de informar tanto de forma isolada
como associadas umas com as outras, po-
dendo este caso ser identificado como uma
Inter-relao rizomtica das linguagens VSV.
Este caso se enquadra em certos momen-
tos, a meu ver, com a obra em questo. Um
dos indcios desta constatao o prprio
kit multimdia de Nome (CD musical, livro
de poemas, clipoemas, show musical). Cada
um destes itens, tratados individualmente,
carrega em si informaes estticas sufici-
entes para se sustentarem como mensagens
poticas. As linguagens aqui no so apenas
complementares, mas se relacionam em uma
multiplicidade de caminhos. Entendo ser deste
modo uma proposta inovadora de inter-re-
lao das linguagens VSV. A linguagem
resultante composta por uma combinao
de linguagens que so articuladas e se
materializam numa mensagem hbrida. En-
tretanto este ponto de vista no exclui a
399 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
existncia, em determinados momentos, de
signos de som e imagem que se relacionam
hierarquicamente apenas como uma ilustra-
o.
Clipoema Sute
5
Este clipoema foi criado a partir das
caractersticas observadas durante a pesqui-
sa. Sute uma mescla de linguagens. Das
relaes entre estrutura/resultado se pode
perceber que uma se espelha/reflete na outra,
caracterizando o uso da metalinguagem como
recurso de composio. Sute uma rede de
inter-relaes e desdobramentos onde cada
elemento VSV ocupa espao equivalente, no
hierarquizado. O clipoema comea empres-
tando da msica a estrutura formal sute,
para em seguida desterritorializar esta forma
do seu habitat natural para reterritorializ-
la de modo ampliado para todas as demais
linguagens.
O motivo inicial que serviu de semente
para a elaborao do clipoema Sute foi a
necessidade de utilizar um processo que no
fosse condicionado pelos padres ou facil-
mente iludido pelos recursos da computao
grfica banalizados pelo uso, e que utilizasse
um signo verbal como motivo ou como uma
mola propulsora para a construo do
clipoema. A palavra sute foi escolhida por
designar uma estrutura formal que envolve
peas musicais que guardam relaes entre
si. Esta organizao, assumida na palavra por
conveno, envolve de sada um procedimen-
to metodolgico estabelecido historicamente
atravs da composio musical. A palavra
sute diz significar:Srie de composies
instrumentais em forma de dana (ou de
cano), de construo binria, as quais se
sucedem em ordem lgica de movimentos
diversos, ligados entre si por estreito paren-
tesco tonal (Holanda, 1983: 1139). Como
se pode ver na definio, a palavra, por sua
representao simblica adquirida pelo seu
uso, determina o modo como ocorre a or-
ganizao interna de seus elementos, deter-
minando inclusive a estrutura temporal de
como se devem suceder, bem como qual
sistema musical rege a relao entre esses
elementos.
Para a composio portanto, a palavra
sute utilizada de modo que o seu espao
de abrangncia seja ampliado tambm para
o mbito da imagem sequenciada, uma vez
que constatei que esta guarda semelhanas
com uma caracterstica fundamental do som:
ambos necessitam da passagem no tempo para
existirem. Sobre este assunto, Santaella e
Nth (1997) escrevem: (...) a partir do
cinema, ento com o vdeo, e agora com a
computao grfica, os processos visuais, ao
se inseminarem cada vez mais de tempo,
adensando sua dinamicidade, esto ficando
cada vez mais parecidos com a msica.
Outro dado importante para a definio da
estrutura do clipoema est diretamente ligado
unificao do cdigo (binrio) para todos
os tipos de dados dentro dos novos processos
tecnolgicos de informao e comunicao.
Alm das semelhanas j citadas, pode-se
observar tambm que, em seu estado de
potncia virtual, no h mais diferenciaes
entre som e imagem, a no ser no modo como
se apresentam ao espectador. Tambm sobre
isto dizem Santaella e Nth (1997: 91), ...
o que se tem hoje, na realidade, uma
dissoluo de fronteiras entre visualidade e
sonoridade, dissoluo que se exacerba a um
ponto tal que, no universo digital do som e
da imagem, no h mais diferenas em seus
modos de formar, mas s nos seus modos de
apario, isto , na maneira como se apre-
sentam para os sentidos.
A partir disto, para manter a coerncia
dentro de um sistema no hierarquizado
previamente, estruturei um mtodo especfi-
co para criao do clipoema. Inicialmente
foram selecionadas 12 palavras, escolhidas
por estarem relacionadas a consideraes
preestabelecidas: 1- a metalinguagem da sute
musical; 2- referncias s tecnologias da
computao grfica; 3- e que tambm guar-
dassem relaes entre si e com o tema.
As palavras escolhidas foram as seguin-
tes: Forma, dana, estrutura, ternrio, mni-
mo, algo ritmo, quadrados, receba flores,
ligao, rede, salto.
A montagem foi realizada de modo no
convencional. Para descondicionar a percep-
o e eliminar a possibilidade de associaes
por similaridade ou contiguidade geradas pela
mente, para evitar a influncia do meu prprio
repertrio, o melhor recurso seria uma com-
binao aleatria das palavras atravs de um
sorteio.
400 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Para o sorteio foi necessrio determi-
nar alguns critrios estruturais para orga-
nizar o todo do clipoema. A sute musical
serviu de modelo. A partir desta referncia,
o clipoema ficou composto por 4 partes,
cada uma contendo 3 palavras escolhidas
atravs de sorteio. A primeira sorteada
definiu o ttulo, a segunda, o contedo para
o desenvolvimento visual, e a terceira, o
motivo para o desenvolvimento sonoro
(msica e/ou rudo e/ou sonoplastia e/ou
manifestaes verbais) e assim por diante,
at formar os 4 grupos de ao VSV,
correspondentes aos movimentos musicais
que formam a sute.
Aps o sorteio o quadro ficou assim:
Ao 1 - Ttulo: Rede
Imagens abstratas
Ao 2 - Ttulo: Ligao
Forma
o A o l u t T s a c i t g a m I s a i c n r e f e R s a r o n o S s a i c n r e f e R
1 e d e r s a t a r t s b a s n e g a m i o i r n r e t
2 o a g i l a m r o f a n a d
3 s o d a r d a u q a r u t u r t s e o m i n m
4 o m t i r o g l a o t l a s s e r o l f a b e c e r
401 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Ao 3 - Ttulo: Quadrados
Estrutura
Ao 4 - Ttulo: Algo ritmo
Salto
Entre os clipoemas da obra Nome e o
clipoema Sute observa-se semelhanas no
que diz respeito a inteligibilidade da men-
sagem. Enquanto no primeiro ocorre uma
grande diversidade de repertrios distribu-
dos ao longo dos 30 clipoemas, no segundo
as diferenas ocorrem em apenas 4 movimen-
tos. Em consonncia tambm se encontra o
modo aberto para mltiplas possibilidades na
inter-relao das linguagens.
Principalmente o que se quis considerar
neste trabalho o Clipoema como uma nova
forma de expresso potica evoluda a partir
da histria da poesia concreta brasileira, das
possibilidades no hierrquicas entre elemen-
tos de som, imagem, ou texto verbal deste
tipo de composio, do carter hbrido do
seu resultado misturando cinema, vdeo,
poesia, artes plsticas, etc., e finalmente o
repertrio variado que permite aproximaes
entre mensagens com nveis de taxas de
informaes muito diferentes.
402 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Bibliografia
Antunes, Arnaldo. Nome. So Paulo: Cia.
Das letras, 1993.
Arajo, Ricardo. Poesia visual vdeo po-
esia. So Paulo: Perspectiva, 1999.
Campos, Augusto de; PIGNATARI, D-
cio; CAMPOS, Haroldo de. Teoria da poesia
concreta. So Paulo: Brasiliense, 1987.
Campos, Haroldo de. Ideograma: Lgica
poesia linguagem. Org. Textos traduzidos por
Heloysa de Lima Dantas. So Paulo: Editora
da Universidade de So Paulo, 2000, 4 ed.
Deleuze, Gilles; Guatarri, Flix. Mil
Plats. Capitalismo e Esquizofrenia. Tradu-
o Aurlio Guerra Neto e Clia Pinto Costa.
So Paulo: 34, 1995.
Eco, Humberto. Obra aberta. So Paulo:
Perspectiva, 8 ed., 2001.
Machado, Arlindo. Mquina e imagin-
rio: O Desafio das Poticas Tecnolgicas.
So Paulo: Editora da Universidade de So
Paulo, 2001, 3 ed.
Pignatari, Dcio. Informao, linguagem
e comunicao. Cotia: Ateli Editorial, 25
ed., 2002.
_____. Semitica & literatura: icnico e
verbal, Oriente e Ocidente. 2 ed. ver. e ampl.
So Paulo: Cortez & Moraes, 1979.
_____. Poesia pois poesia. P&tc. So
Paulo: Brasiliense, 1986.
Plaza, Julio; TAVARES, Monica. Proces-
sos Criativos com os Meios Eletrnicos: Po-
ticas Digitais. So Paulo: Hucitec, 1998.
Santaella, Lucia. Matrizes da Linguagem
e Pensamento: sonora visual verbal. So
Paulo: Iluminuras, 2001.
Santaella, Lucia; Nth, Winfried. Ima-
gem, cognio, semitica, mdia. So Paulo:
Iluminuras, 1998.
Teixeira Coelho, J. Semitica, informa-
o e comunicao. So Paulo: Perspectiva,
4 ed. 1996.
_______________________________
1
Unicenp Centro Universitrio Positivo.
2
Teoria do Rizoma de Gilles Deleuze e Flix
Guatari.
3
KALVERKMPER, Hartwig (1993). Die
Symbiose Von Text und Bild in den Wissenschaften.
In TITZMANN, M., org., Zeichen (theorie) und
Praxis, pp. 199-226. Passau: Rothe.
4
Michael TITZMANN org. Zeichen (theorie)
und Prxis. Passau: Rothe, 1993.
5
Este clipoema de minha autoria e foi
finalista do 1 Concurso Nacional de Clipoemas
Perhappiness realizado pela Fundao Cultural de
Curitiba.
403 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Modelos de Personalizao de contedos em Audiovisual:
novas formas de aceder a velhos contedos
Manuel Jos Damsio
1
1. Introduo
Este texto apresenta uma anlise da
evoluo de uma tecnologia da informao
e da comunicao a tecnologia audiovisual
e da experincia subjectiva que est as-
sociada ao consumo e produo de conte-
dos audiovisuais. De acordo com a nossa
anlise, podemos detectar ao longo desse
processo evolutivo a emergncia cada vez
mais clara de um modelo, em que mais do
que o acesso aos contedos audiovisuais ou
s fantsticas propriedades interactivas que
estes supostamente agora encerram, o que
est em jogo o valor da experincia do
sujeito e a forma como esses contedos se
adaptam natureza especfica dessa expe-
rincia.
Ao longo dos ltimos anos, no cessaram
os discursos (Bell, 1999; Antonelli, 2003) que
proclamam uma revoluo tecnolgica, a que
est associada a emergncia de uma socie-
dade da informao (Webster, 2002) e o
domnio avassalador do digital sobre todas
as formas de representao (Flichy, 1995).
Devemos antes de mais confessar a nossa
opinio pessoal de que o uso e abuso da
palavra revoluo para descrever toda e
qualquer mudana que abala as nossas exis-
tncias, tem vindo a corroer o valor e a
importncia que no passado atribuamos a este
termo. As tecnologias da comunicao e da
informao, tal como alis qualquer outra
tecnologia, no evoluem de forma abrupta
ou repentina (Winston, 2003). A histria do
computador (Ceruzzi, 2003) j nos indica que
estas tecnologias so mais do que meros
artefactos e devem ser compreendidas como
a soma de um dispositivo, das suas aplica-
es, contextos sociais de uso e arranjos
sociais e organizacionais que se constituem
em seu torno.
Um modelo geral de anlise do processo
de evoluo das tecnologias da informao
e da comunicao (TIC) permite iluminar a
natureza historicamente enraizada destas tec-
nologias (Uricchio, 2003) e aponta para a
necessidade de transferirmos a nossa anlise
de um enfoque, porventura excessivo, nas
propriedades da tecnologia e no seu carcter
instrumental, para a compreenso das con-
sequncias que esse processo tem sobre as
prticas discursivas subjectivas e sobre a
experincias de utilizao e consumo de
contedos audiovisuais. A nossa posio
preconiza uma anlise da tecnologia como
produto de um processo social de formatao
em que, mais do que se constituir como um
instrumento de transformao social, a
tecnologia passa a ser parte integrante de
novas formas subjectivas de experimentar e
manipular informao.
A personalizao, enquanto componente
essencial de uma experincia subjectiva de
contedos aumentados (Dimitrova,
Zimmerman, Janevski, Agnihotri, Haas &
Bolle, 2003), constitui uma varivel central
deste processo e indica uma das caracters-
ticas nucleares do mesmo, a costumizao
de contedos audiovisuais em funo do
alargamento do nmero de canais de trans-
misso disposio, quer de produtores, quer
de consumidores, e a consequente passagem
de um modelo broadcast a um modelo
multicast (Tseng, Lin & Smith, 2004).
O surgimento da personalizao como
componente de uma tecnologia que no pas-
sado no tinha quaisquer preocupaes com
as preferncias especficas deste ou daquele
receptor passivo dos contedos que emitia,
no resulta da convergncia da tecnologia
audiovisual com qualquer outra forma
tecnolgica, e sim resultado directo de um
processo em que o sujeito cada vez mais
o centro de toda a experincia audiovisual,
de acordo com uma lgica que deixa de estar
preocupada com o acesso para passar a estar
preocupada com a forma como as prefern-
cias e o ambiente do sujeito se reflectem na
sua experincia.
404 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
2. Modelo de Evoluo das Tecnologias da
Comunicao e da Informao
A convergncia entre as tecnologias
computacionais e os media um processo
que se traduz no surgimento de um conjunto
de inovaes na forma de comunicar e de
representar informao (Manovich, 2001). A
tecnologia audiovisual uma dessas inova-
es e tambm ela resulta em grande parte
de um processo de evoluo histrica que
segue um paradigma que tem como objecto
tecnologias que so simultaneamente um
instrumento de transformao social e um
produto da evoluo das organizaes soci-
ais (Livingstone & Lievrouw, 2002).
O padro histrico de evoluo das tec-
nologias da Informao e da Comunicao,
e consequentemente do audiovisual pode ser
representado como estando centralizado numa
esfera a esfera social na qual os elementos
cientficos, tecnolgicos, culturais e
econmicos, se intersectam. O resultado desta
interseco uma relao produtiva, em que
cada nova expresso tecnolgica depende da
competncia cientfica que lhe est subjacente
e das necessidades culturais e econmicas que
permite exprimir. A tecnologia entendida
como estando numa relao estrutural perma-
nente com a cincia e com as condies
econmicas e culturais existentes, por forma
a potenciar novos usos que estimulem as
competncias cientficas e respondam a ne-
cessidades sociais e econmicas efectivas.
As tecnologias correspondem, de acordo
com este modelo, a uma srie de desempe-
nhos que materializam usos por vezes
invocados outras vezes descobertos quase por
acidente no interior de uma esfera social,
como resposta a um conjunto de competn-
cias em que se sustentam.
O percurso que vai da competncia
performance e ao uso, feito de transfor-
maes sucessivas onde cada um destes
elementos desempenha um papel especfico.
Assim, h sempre um primeiro momento de
transformao, que corresponde idealizao
de um processo ou sistema que integre
conceptualmente uma determinada competn-
cia cientfica e formule uma hiptese efec-
tiva de soluo de uma necessidade.
O desempenho de uma tecnologia, pri-
meiro estgio na definio dos seus usos
posteriores, validado atravs da construo
de sistemas que permitam idealizao
cientfica testar as suas solues. Os siste-
mas que emergem da fase de idealizao so
denominados prottipos e no correspon-
dem obviamente a estgios finais de desen-
volvimento de uma aplicao.
Tal como no momento de passagem fase
de idealizao assistimos manifestao de
uma competncia tecnolgica especfica,
tambm agora vamos assistir interferncia
no processo de um conjunto de transforma-
es, desta vez de ordem social colectiva.
Brian Winston (2003) classifica estas foras
genricas que intervm no sentido de definir
objectivamente os requisitos de uma deter-
minada circunstncia social ou de agrupar
necessidades subjectivas percepcionadas,
como necessidades sociais de nvel superior.
So estas necessidades que definem os vrios
tipos de prottipos que encontramos ao longo
da histria e que os transformam em inven-
es passveis de difuso (Rogers, 1995).
A passagem dos prottipos a invenes
um dos momentos cruciais na evoluo da
tecnologia e respectiva relao com a esfera
social. A transformao operada sobre um
prottipo pela necessidade que a ele preside,
determina que estes artefactos j no possam
ser designados como prottipos e passem a
assumir a categoria deinvenes (Winston,
2003). As invenes j no so prottipos
laboratoriais, mas antes tecnologias que, trans-
formadas por uma necessidade e em sincronia
com o seu desenvolvimento, surgem simulta-
neamente em vrios locais. O exemplo extre-
mo deste acto de inventar dado pelo registo
simultneo por Bell e Gray de uma patente para
o telefone como resposta necessidade social
promovida pela moderna organizao empre-
sarial que surgia nesse perodo (Flichy, 1995).
A distino entre inveno e prottipo
menos bvia do que poderia parecer e in-
troduz o tema da inovao como crucial no
ciclo de evoluo de uma tecnologia (Antonelli,
2003). Uma inovao no algo que precede
a entrada de uma inveno no mercado, mas
sim algo que sucede entrada de um prottipo
no mercado e que, aps a sua confirmao como
algo vivel de acordo com a sua capacidade
de cumprimento da necessidade expressa, o
institui como inveno.
A existncia de padres sociais que con-
formam a tecnologia organizao e s necessi-
405 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
dades sociais vigentes, est na raiz de um
processo pelo qual nenhuma efectiva revolu-
o despoletada pelas TIC, mas onde pe-
quenos ganhos de produtividade so realizados
em reas onde a prpria cadeia de valor do
negcio preparada para a introduo dessas
tecnologias (Farrel, 2003). O acelerador de
qualquer processo de inovao tecnolgica
a existncia de uma necessidade social efectiva
partilhada por um grupo, comunidade ou
organizao, que significativa para o conjun-
to da estrutura social dominante.
Se h necessidades que impulsionam a
adopo e difuso de uma tecnologia, tam-
bm h elementos que travam esse processo
e que no podem ser menosprezados se
queremos compreender como que as tec-
nologias evoluem e so adoptadas numa
sociedade. Os constrangimentos de qualquer
tipo actuam nesta fase do processo para
impedir que inovaes que no so compa-
tveis com a organizao social dominante ou
com as crenas do grupo que gerou a neces-
sidade de inveno, possam ser adoptadas.
Esta terceira e crucial transformao no
processo de evoluo - recorde-se que a
primeira correspondia idealizao e a se-
gunda actuao das necessidades sociais em
ordem criao de invenes -, refere-se ento
interveno de foras sociais que suprimem
a difuso da tecnologia e a remetem para um
estgio anterior ou para a extino.
esta lei de supresso do potencial
radical que nos permite compreender como
que as instituies sociais se mantm em
funcionamento de forma inalterada apesar de
o grau de inovao aumentar. A existncia
desta lei no impede que as necessidades
sociais continuem a incentivar a entrada no
mercado de mais prottipos ou invenes.
O conflito entre uma necessidade
aceleradora e uma lei social que trava a
difuso da tecnologia, gera uma transforma-
o no processo de evoluo que vai deter-
minar um desempenho tecnolgico impulsi-
onador da produo, o que por sua vez vai
originar spin-offs e redundncias.
O ltimo estgio de evoluo das tecno-
logias sempre sucedido por um momento que
j no podemos decretar como evolutivo mas
que nem por isso deixa de ser importante. Esse
momento o da institucionalizao do uso da
tecnologia. O processo de institucionalizao
um processo historicamente enraizado que
envolve ciclos de longa durao de uso da
tecnologia, respectiva apropriao subjectiva,
difuso do seu valor e estabelecimento da
importncia das necessidades que presidem
sua evoluo (Urichio, 2003).
No a importncia per se da tecnologia
que despoleta a sua difuso e
institucionalizao em larga escala nas so-
ciedades. O permanente confronto entre os
aceleradores e os traves da difuso da
tecnologia, as necessidades e os constrangi-
mentos, obriga-nos a interpretar o processo
de evoluo das tecnologias, no como uma
revoluo ou um salto abrupto promovido
pelas novidades tecnolgicas, mas sim como
um processo lento, historicamente enraizado
e provido de um padro claro. O processo
de evoluo de uma qualquer tecnologia da
informao e da comunicao, nomeadamente
da tecnologia audiovisual, est
esquematicamente representado na figura 1.
Fig. 1 Modelo de evoluo das TIC
406 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
3. A personalizao como varivel de uso
e consumo
Contrariamente aos meios de comunica-
o de massa, que assentavam o seu funci-
onamento numa lgica linear de transmisso
da informao, as Tecnologias da Informa-
o e da Comunicao apresentam por vezes
modelos bi-direccionais de troca de conte-
dos. Este facto no por si mesmo novo
no princpio do sc XX o telefone j
apresentava esta mesma caracterstica mas
a partir do momento em que a essa
bidireccionalidade surgem associados conte-
dos audiovisuais que podemos manipular e
que so formatados aos nossos perfis (Davis,
2003) estamos perante uma evoluo signi-
ficativa da tecnologia. Uma das formas de
descrever o modelo de comunicao tpico
das TIC atravs da utilizao da metfora
da rede (Rafaeli & Sudweeks, 1997). A
metfora da rede pode ser aplicada s tec-
nologias e aos padres de relaes e
organizaes sociais baseados em ns com
vrios participantes que assumem de forma
varivel, quer o papel de emissores, quer o
papel de receptores, ao longo do processo
de comunicao. Paralelamente, as tecnolo-
gias audiovisuais tm como padro central
de uso a interaco isolada com um terminal
ou equipamento receptor, facto esse que
posteriormente determina muitos dos seus
modelos de circulao de informao
(Bordewijk & Van Kaam, 2003).
O aumento e a segmentao do volume
de sujeitos que podem interagir sobre o meio
e a variedade de direces de comunicao
que ele permite (MacMillan, 2002), possi-
bilitam a desmassificao do meio e a ge-
rao de fenmenos de anycast o envio
de uma mensagem para um indivduo loca-
lizado no meio de uma audincia. Conceitos
como audincia deixam de ser vlidos por-
que reveladores de uma forma de anlise
tpica dos media de massa, e o elemento
importante a considerar neste contexto passa
a ser o da deslocao do centro de controlo
da mensagem do produtor para o consumi-
dor, agora participante efectivo do processo
de comunicao, porque utilizador da
tecnologia.
O aumento dos nveis de segmentao do
volume total de utilizadores e dos canais de
comunicao, para alm das transformaes
por que passam esses mesmos utilizadores
enquanto participantes num processo de co-
municao, tem como resultado um carcter
progressivamente mais personalizado e va-
rivel de uso.
Por personalizao entende-se a variao
de um contedo em funo do carcter nico
de cada utilizador (Gandy, 2002). A
personalizao pode ser entendida como
referente a duas reas distintas
personalizao da apresentao ou interface
da aplicao e personalizao do contedo.
No primeiro caso estamo-nos a referir
personalizao do ambiente da interaco ou
interface, nomeadamente atravs da defini-
o de uma preferncia individual de cores,
disposio de elementos, etc; no segundo
caso, estamos a considerar sobre a denomi-
nao de personalizao todos os servios
ou aplicaes que permitem adaptar um
contedo s necessidades especficas de um
indivduo. Esta forma de personalizao pode
ser realizada, quer atravs da adequao da
apresentao do contedo ao tempo e espao
da experincia do sujeito, quer atravs da
formatao do contedo s preferncias do
utilizador (Dimitrova et al, 2003; Tseg et al,
2004).
O carcter individualizante ou persona-
lizado e varivel das TIC deve ser visto, no
tanto como uma propriedade diferenciadora
desta ou daquela tecnologia, mas sim como
um objectivo evolutivo de um determinado
conjunto de tecnologias que partilham de um
princpio infra-estrutural numrico,
recombinatrio e de separao entre a cama-
da de dados e a camada de apresentao e
que possibilitam a adio de metadata, quer
ao nvel do programa, quer ao nvel do canal
de transmisso. Estes princpios infra-estru-
turais tm servido no passado para justificar
o carcter ubquo das TIC (Livingstone &
Lievrouw, 2002) e a consequente dissemi-
nao da sua presena por todos os campos
da actividade social.
A ubiquidade uma consequncia social
das formas de uso da tecnologia como res-
posta a necessidades sociais superiores.
Assim, a ubiquidade refere-se ao interesse
da camada social em desenvolver mecanis-
mos de descrio, estruturao e gesto da
informao que facilitem o seu uso pelos
407 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
sujeitos e lhes permitam passar de um estado
de acesso para um estado de uso e apropri-
ao efectiva. A necessidade superior que
determina este processo resulta da prolife-
rao de canais de transmisso e do aumento
do volume global de informao disponvel
sem que da resulte uma melhoria qualitativa
da experincia subjectiva, isto contrariamen-
te quilo que era aparentemente prometido
pela prpria natureza fsica do modelo de co-
municao tpico das TIC.
Uma das solues para reduzir o fosso
entre o volume de informao fornecido e o
de informao requisitada, a criao de um
modelo de experincia multimdia universal
Universal Multimedia Experience (UME) -
que substitua os modelos de acesso infor-
mao exclusivamente preocupados com a
formatao dos contedos s limitaes do
equipamento receptor Universal Multimedia
Access (UMA) - por uma preocupao central
com o utilizador (Pereira & Burnett, 2003).
Tal modelo preconiza a apresentao de di-
ferentes formas de informao de um mesmo
contedo de acordo, no com as limitaes
do equipamento, mas sim com o contexto de
uso e as necessidades do utilizador.
De acordo com esta definio, o termo
universal no se refere a uma lgica
globalizante de acesso informao e
tecnologia, mas possibilidade de o utilizador
aceder mesma em qualquer local, a qual-
quer momento, independentemente do tipo
de informao, de acordo com as necessi-
dades da sua experincia.
A experincia do sujeito que se relaciona
com a tecnologia e impulsiona o seu desen-
volvimento, est a evoluir de uma experi-
ncia centrada no fornecimento de informa-
o para uma experincia centrada no for-
necimento da melhor experincia possvel
para aquele indivduo ou aquela comunidade
(Preston, 2001).
Este conceito envolve muito mais do que
a infra-estrutura de rede com que se preo-
cupam os operadores de telecomunicaes ou
o desenvolvimento de mquinas cada vez
mais rpidas e com capacidade de processar
mais informao. O aspecto crucial desta
definio a experincia individual de uso
da tecnologia e da informao. A ubiquidade
como consequncia das TIC s uma pro-
priedade vlida se considerarmos que essa
mesma experincia se centra no utilizador e
envolve um elevado ndice de personalizao.
4. Concluses
A possibilidade de relacionar a riqueza
representacional dos contedos audiovisuais
com os modelos de interaco tpicos das
tecnologias computacionais e de redes uma
consequncia directa de um processo
evolutivo das tecnologias da informao e da
comunicao, nomeadamente da tecnologia
audiovisual, que passou a integrar nas suas
propriedades modelos de representao e
descrio dos contedos que permitem en-
carar uma experincia mais valiosa para o
utilizador.
A enorme variedade de fontes de infor-
mao e o volume de contedos que as
mesmas publicam, aliado proliferao das
TIC por todas as reas da nossa actividade
como consequncia directa do seu carcter
ubquo, so motivo adicional para o
surgimento de uma necessidade superior de
facilitar o acesso dos utilizadores aos con-
tedos de acordo com as suas preferncias,
caractersticas da sua experincia e necessi-
dades especficas de informao aumentada.
A definio dos formatos MPEG-7 e
MPEG-21 como formas de descrio de
contedos, adio de metadata e represen-
tao do ambiente de consumo, so apenas
o primeiro passo na evoluo da tecnologia
audiovisual em direco a formatos
reutilizveis e personalizados que certamen-
te vo constituir o ncleo de uma experin-
cia futura que j no se limitar represen-
tao e passar a incluir o utilizador e os
seus perfis como parte integrada e essencial.
408 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Bibliografia
Antonelli, C., The Economics of
Innovation, New Technologies and Structural
Change, London: Routledge, 2003.
Bell, D., The Coming of Post-Industrial
Society: a Venture in Social Forecasting, New
York: Basic Books, 1999.
Bordewijk, J. & Kaam, B., Towards a
New Classification of Tele-Information
Services in The New Media Reader, N.
Wardrip-Fruin & N. Monfort (Eds),
Cambridge MA: MIT Press, 2003, pp. 576-
585.
Ceruzzi, P., A History of Modern
Computing, Cambridge MA: MIT Press,
2003.
Davis, M., Editing Out Video Editing,
IEEE Multimedia, April-June 2003, pp. 54-
64.
Dimitrova, N., Zimmerman, J.,
Janevski, A., Agnihotri, L, Haas, N. &
Bolle, R., Content Augmentation Aspects of
Personalized Entertainment Experience,
disponvel on-line em http://eltrun.itv.gr,
publicado em 2003, consultado em Janeiro
de 2004.
Farrel, D., The Real New Economy,
Harvard Business Review, October 2003, pp
105-113.
Flichy, P., Dynamics of Modern
Communication: The shaping and Impact of
New Communication Technologies, London:
Sage, 1995.
Lievrouw, L. e Livingstone, S., The
social shaping and consequences of ICTs
in Handbook of New Media, L. Lievrouw e
S. Livingstone, ed., Londres: Sage
Publications, 2002, pp. 1-16.
Gandy, O., The Real Digital Divide:
Citizens versus Consumers in Handbook of
New Media, L. Lievrouw e S. Livingstone,
(eds)., Londres: Sage Publications, 2002, pp.
448-461.
MacMillan, S, Exploring Models of
Interactivity from Multiple Research
Traditions: users, documents and systems
in Handbook of New Media, L. Lievrouw &
S. Livingstone (Eds), pp. 163-183 London:
Sage Publications, 2002.
Manovich, L., The Language of New
Media, Cambridge: Massachusetts Institute Of
Technology Press, 2001.
Rafaeli, S. & Sudweeks, F., Networked
Interactivity, Journal of Computer Mediated
Communication, 2 (4), 1997. Consultado on-
line Fevereiro 2004: http://www.usc.edu/dept/
annenberg/vol2/issue4/rafaeli.sudweeks.html.
Rogers, M., Diffusion of Innovations
Nova Iorque: Free Press, 1995.
Pereira, F. & Burnett, I., Universal
Multimedia Experiences for Tomorrow,
IEEE Computer.
Preston, P., Reshaping Communications,
London: Sage, 2001.
Tseng, B., Lin, C., Smith, J., Using
Mpeg-7 and Mpeg-21 for personalizing
Video, IEEE Multimedia, January 2004, pp.
42-52.
Uricchio, W., Historicizing Media in
Transition in D. Thorburn & H. Jenkins,
Rethinking Media Change MA: MIT Press,
2003, pp. 23-39.
Webster, F., Theories of the Information
Society, London: Routledge, 2002.
Winston, B., Media Technology and
Society, London: Routledge, 2003.
_______________________________
1
Universidade Lusfona de Humanidades e
Tecnologias.
409 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Contributo dos servios de comunicao assentes em
Internet para a manuteno e alargamento
das redes de relaes dos sujeitos
Maria Joo Antunes, Eduardo Anselmo Castro, scar Mealha
1
1. Introduo
A adeso em larga escala aos servios de
comunicao e informao assentes em
Internet vem despertar os estudiosos para a
problemtica da comunicao mediada por
computador, mas tambm para as oportuni-
dades que se abrem perante o alcance de uma
rede de comunicao global.
A teoria das relaes fortes e fracas, ex-
posta por Mark Granovetter nos anos 70,
fornece um contributo importante para o es-
tudo da disseminao de informao em
redes. As relaes fortes caracterizam-se por
contactos frequentes e ligaes de grande
reciprocidade, ocorrendo tipicamente entre
amigos e familiares chegados, ou seja, entre
indivduos com estatuto semelhante parti-
lhando entre si um mesmo conjunto de in-
formaes. Estas relaes afiguram-se de
inequvoca importncia na aquisio de
recursos bsicos manuteno do bem-estar
dos indivduos. As relaes fracas, por seu
lado, possibilitam a ligao a indivduos per-
tencentes a outros grupos, permitindo o
acesso a recursos inexistentes no crculo
social no qual o sujeito se integra. Natu-
ralmente estas ligaes resultam de relaci-
onamentos menos ntimos e mais espordi-
cos
2
.
De acordo com Granovetter
3
e
Haythornthwrite, o desenvolvimento de re-
laes fracas, com agentes fora do crculo
de interaco do sujeito que possuem in-
formao e recursos diferentes, uma forma
efectiva de alargar a base de conhecimento
e as redes sociais de indivduos e organi-
zaes. Mas mais do que serem indepen-
dentes, as relaes fortes e fracas reforam-
se mutuamente. Assim, agentes que desen-
volvam um conjunto variado de relaes
fracas so potencialmente mais atractivos e
mais capazes de suscitar a entrada em
ambientes ligados por relaes fortes. Para-
lelamente os agentes que estejam inseridos
em grupos fortemente ligados parecem ter
uma maior propenso para o desenvolvimen-
to de uma rede rica de relaes fracas. Este
mecanismo de reforo cumulativo entre
relaes fortes e fracas est fortemente
associado aos espaos geogrficos
4
. As
relaes fortes esto bastante dependentes
da proximidade social e tendem a desen-
volver-se em lugares com redes grandes e
integradas, tradicionalmente centros urbanos.
Mas saliente-se que as relaes fortes devem
ser complementadas por um conjunto diver-
sificado de relaes fracas, por forma a
permitir ligaes a outros grupos evitando
assim a formao de meios autistas, fecha-
dos sobre si. A capacidade dos indivduos
e das organizaes interagirem com agentes
localizados em qualquer lugar depende, em
grande medida, da sua capacidade de
interagirem localmente e absorverem, selec-
cionarem e distriburem informao gerada
localmente
3
.
Neste contexto afigura-se de particular
relevncia o conhecimento das utilizaes que
os indivduos esto a dar aos novos dispo-
sitivos de comunicao e informao assen-
tes em Internet, na medida em que estes se
apresentam como um poderoso meio de
interaco. Por forma a averiguar a forma
como o potencial destas ferramentas est a
ser aproveitado elaborou-se um inqurito
auto-administrado por computador, disponi-
bilizado num Web site aberto, dirigido
comunidade portuguesa de utilizadores da
Internet
5
. A aplicao do questionrio ocor-
reu entre Novembro de 2002 e Janeiro de
2003. Os resultados apresentados provem de
uma primeira anlise feita aos dados dos 3129
respondentes.
Seguidamente procede-se a uma breve
caracterizao dos respondentes e anlise
de alguns indicadores relacionados com a
utilizao da Internet, mais especificamente
410 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
o x e S
o m i n i m e F 7 , 5 5
o n i l u c s a M 3 , 4 4
a i r t e a x i a F
8 1 e d s e r o n e M 8 , 6
5 2 - 8 1 5 , 9 3
5 3 - 6 2 9 , 5 3
5 4 - 6 3 5 , 1 1
0 5 - 6 4 8 , 2
0 6 - 1 5 8 , 2
0 6 e d s e r o i a M 7 , 0
s a i r r e t i l s e a t i l i b a H
o i r d n u c e S o n i s n E o a r o i r e f n I 9 , 4
o i r d n u c e S o n i s n E 1 , 0 2
o a u d a r g - s P / a r u t a i c n e c i L / o t a l e r a h c a B 2 , 6 5
o t n e m a r o t u o D / o d a r t s e M 8 , 8 1
t e n r e t n I a d o s u e d a i c n i r e p x E
o n a 1 e d s o n e M 6 , 4
o n a 1 2 , 4 1
s o n a 5 - 2 0 5
s o n a 5 e d s i a M 2 , 1 3
, s a s o i g i l e r , s i a r u t l u c , s i a i c o s s e i u t i t s n i m e a v i t c a o a p i c i t r a P
s a v i t a e r c e r u o s a v i t r o p s e d
m i S 2 , 5 4
o N 8 , 4 5
o i r n o i t s e u q o d s e t n e d n o p s e r s o s o d o T : e s a B
Tabela 1: Caracterizao dos respondentes (%)
dos servios de correio electrnico, chats
e servios integrados oferecendo a possibi-
lidade de comunicao por texto, som e
imagem, na manuteno de relaes
estabelecidas no espao fsico e no estabe-
lecimento de novas relaes. Relativamente
a este ltimo indicador analisada a rele-
vncia que a insero dos sujeitos em redes
estabelecidas no espao fsico pode desem-
penhar.
2. Apresentao dos resultados: caracteri-
zao dos respondentes
A tabela 1 permite determinar o perfil dos
respondentes ao inqurito. Atravs da sua
anlise possvel constatar que predominam
respondentes do sexo feminino. 75,4% dos
inquiridos tem idades compreendidas entre
os 18 e os 35 anos, e uma significativa parte
possui ou frequenta o ensino superior. Os
respondentes possuem j alguma experincia
no uso da Internet, sendo que 81,2% refere
usar a Rede h pelo menos 2 anos.
2.1 Contributos dos servios de comuni-
cao assentes em Internet para a manu-
teno das redes de relaes dos sujeitos
Os dados relativos ao uso dos servios
de comunicao Internet, para a manuteno
de contactos com indivduos cujos relacio-
namentos foram estabelecidos no espao
fsico, demonstram que estes servios vie-
ram adicionar uma nova forma de manter
estas ligaes. Neste sentido, 89,8% dos
respondentes indicam recorrer a estes servi-
os no contacto com amigos, familiares e
colegas. A tabela 2 apresenta os grupos de
indivduos com quem os respondentes indi-
cam contactar atravs da Internet.
Como decorre da leitura da tabela, a
categoria de pessoas que mais destaque
assume nas comunicaes estabelecidas atra-
411 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Tabela 2: Categoria de pessoas, conhecidas no espao fsico, com quem os
respondentes comunicam atravs dos servios Internet
s a d i c e h n o c s a o s s e p e d a i r o g e t a C %
a t i b a o c m e u q m o c s o g i m a u o s e r a i l i m a F 8 , 3 5
o t n e m a n o i c a l e r m u h m e u q m o c s o g i m a e s e r a i l i m a F
o t i e r t s e s i a m
2 , 0 9
* o h l a b a r t e d s a g e l o C 2 , 6 6
o t n e m a n o i c a l e r m u h m e u q m o c s a g e l o c u o s e r a i l i m a F
o d a t s a f a s i a m
8 , 3 6
o j u c s o u d v i d n i m o c r a c i n u m o c a r a p t e n r e t n I a m a s u e u q s e t n e d n o p s e R : e s a B
o c i s f o a p s e o n o d a i c i n i i o f o t n e m a n o i c a l e r
s i a n o i s s i f o r p s e z a r r o p s o d i t n a m s o t c a t n o c i u l c x e *
vs da Internet a que integra familiares e
amigos com os quais h uma relao pr-
xima. Saliente-se no entanto, que todas as
outras categorias so significativamente as-
sinaladas, pelo que a Internet parece adequar-
se ao contacto entre todos aqueles que tm
um conhecimento sedimentado no espao
fsico, independente da fora da relao que
os une.
A tabela 3 pretende estabelecer uma
relao entre o uso da Internet, no contacto
com indivduos com os quais existe uma
ligao iniciada no espao fsico, e a peri-
odicidade dos seus encontros presenciais.
% t e n r e t n I a d o s u e d a i c n u q e r F
e s e u q m o c e d a d i r a l u g e R
e t n e m l a i c n e s e r p a r t n o c n e
s a o s s e p s a m o c
o N
a s U
a s U
o c u o P
a s U
e t n e m a r a R
a s U
o t i u M
e t n e m a r a R
) o n a r o p s e z e v 5 e d s o n e m (
1 , 3 1 7 , 5 3 5 , 5 3 7 , 5 1
r o p z e v a m u 1 s o n e m ( s e z e v s a c u o P
) o n a r o p s e z e v 5 e d s i a m s a m s m
9 6 , 3 3 1 , 4 4 3 , 3 1
1 e d s o n e m ( e d a d i r a l u g e r a m u g l A
1 s o n e m o l e p s a m a n a m e s r o p z e v
) s m r o p z e v
4 , 5 4 2 3 , 1 5 3 , 9 1
z e v 1 s o n e m o l e p ( e t n e m e t n e u q e r F
) a n a m e s r o p
6 , 9 5 , 3 2 3 , 3 3 5 , 3 3
o n o d a i c i n i i o f o t n e m a n o i c a l e r o j u c s o u d v i d n i m o c r a c i n u m o c a r a p t e n r e t n I a m a s u e u q s e t n e d n o p s e R : e s a B
o c i s f o a p s e
Tabela 3: Frequncia com que os respondentes usam a Internet para comunicar com
pessoas, conhecidas no espao fsico, e periodicidade dos seus contactos presenciais
Pela anlise da tabela podemos constatar
que os respondentes se encontram divididos
entre aqueles que no recorrem de todo
Internet, ou recorrem pouco, para contactar
pessoas com quem esto raramente (48,8%)
e aqueles que o fazem numa base regular
ou frequente (51,2%). De facto se tiver-
mos em conta que a partilha de um mesmo
espao-tempo e as vivncias em comum que
alimentam as cumplicidades natural que exista
menos a dizer a algum que no tem partilhado
as mesmas experincias que o sujeito. No
entanto, a simplicidade, rapidez e baixo custo
das comunicaes realizadas atravs da Internet,
concretamente atravs do servio de correio
electrnico, que surge como o canal mais
referido no contacto com pessoas com as quais
h uma relao prxima criada nos espaos
fsicos, possibilita que esta ferramenta surja
como um meio adequado para a manuteno
de relaes independentemente da distncia.
Pode-se, no entanto, verificar que o
recurso aos servios Internet ocorre sobre-
tudo no contacto com pessoas com quem os
inquiridos esto com maior frequncia. 70,6%
dos respondentes indicam usar regularmen-
te ou usar muito a Internet para contactar
indivduos com quem esto entre pelo menos
412 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
1 vez por ms e menos de 1 vez por semana
e 66,8% dizem recorrer a esta Rede para
comunicar com pessoas com quem se encon-
tram com grande assiduidade (pelo menos 1
vez por semana). Estes valores parecem
indiciar que os servios de comunicao
Internet se afiguram como meios de contacto
complementares aos encontros presenciais
podendo servir mesmo para mediar o rela-
cionamento entre esses encontros.
A apresentao dos motivos invocados
pelos respondentes para contactar amigos,
familiares ou colegas atravs da Internet
permitir obter uma imagem mais detalhada
sobre as comunicaes que ocorrem on-line
(tabela 4).
Tabela 4: Motivos que desencadeiam o contacto e respectiva frequncia de uso da Internet
% t e n r e t n I a d o s u e d a i c n u q e r F
o t c a t n o c o a r a p o v i t o M
a s U
o t i u M
a s U
- r a l u g e R
e t n e m
a s U
o c u o P
o N
a s U
m u m o c m e s e d a d i v i t c a r a n i b m o C 9 , 9 1 5 , 4 3 2 , 3 3 4 , 2 1
, r e z a f a o d a d n a m e t e u q o r a t n o C
r a f a b a s e d
1 , 1 2 9 , 5 3 1 , 1 3 8 , 1 1
s o t x e t , s a t o d e n a , s n e g a m i e d o i v n E
o x e l f e r a r a p
5 , 1 4 2 , 2 3 6 , 0 2 7 , 5
s e t n a t r o p m i s e i s a c o r a r b m e L 2 , 4 2 1 , 9 3 9 , 9 2 7 , 6
a c i r n e g o a m r o f n i e d o i v n E 2 , 8 1 3 4 2 3 8 , 6
a d a n o i c c e r i d o a m r o f n i e d o i v n E
o i r t a n i t s e d o d s e s s e r e t n i s o a
9 , 7 1 2 4 3 , 2 3 8 , 7
o n o d a i c i n i i o f o t n e m a n o i c a l e r o j u c s o u d v i d n i m o c r a c i n u m o c a r a p t e n r e t n I a m a s u e u q s e t n e d n o p s e R : e s a B
o c i s f o a p s e
Da anlise da tabela ressalta que os usos
ldicos so de longe aqueles que colocam
a circular, entre pessoas que tm j relaes
firmadas no espao fsico, um maior nmero
de mensagens na Internet. A requerer de facto
um maior envolvimento, por parte do indi-
vduo que estabelecem a interaco, e a tes-
temunhar eventualmente o sentido de proxi-
midade proporcionado pelos meios electr-
nicos esto as mensagens destinadas a as-
sinalar ocasies importantes (regular ou fre-
quentemente enviadas por 63,3% dos
respondentes a esta questo). O envio de
informao, quer direccionada aos interesses
especficos do interlocutor quer de carcter
genrico, assume igualmente uma conside-
rvel expresso sendo transmitida regular ou
frequentemente por cerca de 60% dos
respondentes.
Uma vez analisados alguns aspectos
relativos s comunicaes que ocorrem entre
sujeitos com relaes estabelecidas e conso-
lidadas nos espaos de lugar, procede-se
observao de alguns dados relativos ao
contributo da Rede para a expanso de li-
gaes a outros indivduos.
2.2 Contributos dos servios de comuni-
cao assentes em Internet no alargamen-
to das redes de relaes dos sujeitos
De acordo com as ideias expressas na
introduo, uma das caractersticas mais
interessantes de alguns dos novos servios
de comunicao Internet a possibilidade de
alargar o crculo de interaco dos sujeitos,
permitindo pr em contacto pessoas de di-
ferentes grupos, potencialmente portadoras de
informaes e conhecimentos diferentes.
Relativamente ao uso dos servios de
comunicao Internet, enquanto veculo de alar-
gamento das redes de relaes dos indivduos,
o estudo indica que cerca de dois teros dos
inquiridos (74%) j estabeleceu novos contac-
tos atravs da Rede. Os motivos que desen-
cadeiam os contactos, mediados pela tecnologia,
dividem-se em duas categorias distintas:
motivos pessoais e motivos profissionais.
A tabela 5 sumaria os principais motivos
indicados como estando na origem de rela-
cionamentos desencadeados atravs da
Internet.
Uma anlise ao perfil dos indivduos que
referem um ou outro tipo de motivos evi-
413 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Tabela 5: Motivos pessoais e profissionais que originaram os contactos,
atravs dos servios Internet, com pessoas com quem nunca tinha
existido qualquer relacionamento social no espao fsico
s i a o s s e P s o v i t o M %
s e d a z i m a s a v o n e d o t n e m i c e l e b a t s E 5 , 8 4
e d a d i s o i r u C 4 , 3 4
o i c g e n m u r a u t c e f e e d e d a d i s s e c e N 5 , 0 3
s a e r m e s o t n e m i c e h n o c e d o t n e m a d n u f o r p a u o / e e t a b e D
s o d a s s e r e t n i e d o r e m n o d a v e l e m u m o c
3 , 8 2
s e c i v n o c a s o v i t a l e r s o t n u s s a e d e t a b e D 6 , 5 2
s a e r m e s o t n e m i c e h n o c e d o t n e m a d n u f o r p a u o / e e t a b e D
o t i r t s e r o p u r g m u a r a p s a n e p a e s s e r e t n i m o c
7 , 1 2
o i o p a r a r t n o c n e , r a f a b a s e d e d e d a d i s s e c e N 6 , 9 1
o m s i n o i c c e l o C 5 , 6
s i a n o i s s i f o r P s o v i t o M
e d a d i v i t c a a d o t c e p s a m u g l a e r b o s a d i v d r e c e r a l c s E
l a n o i s s i f o r p
4 , 0 5
a a d a v e l e d a d i v i t c a a e r b o s , s e a m r o f n i e d o n e t b O
r o t u c o l r e t n i o l e p o b a c
4 4
a n m a h l a b a r t e u q o u d v i d n i m o c s e s s e r p m i e d a c o r T
e t n e d n o p s e r o e u q a e r a m s e m
8 , 3 3
o a r a p ) s ( o i r s s e c e n ) s ( o t u d o r p e d o i s i u q A
e d a d i v i t c a a d o h n e p m e s e d
8 2
o i v r e s m u g l a e d o a t s e r p r e r r o c e r e d e d a d i s s e c e N
e t n e d n o p s e r o d e d a d i v i t c a a m o c o d a n o i c a l e r
0 2
r e c e l e b a t s e a r a p t e n r e t n I a o d a s u r e t j m a r a c i d n i e u q s e t n e d n o p s e R : e s a B
o t n e m a n o i c a l e r r e u q l a u q o d i t m a h n i t a c n u n m e u q m o c s o u d v i d n i m o c s o t c a t n o c
s o v i t o m a e s - m e r e f e r s a d a t n e s e r p a s n e g a t n e c r e p s a ( o c i s f o a p s e o n l a i c o s
. ) e t n e m a d a r a p e s s o d a r e d i s n o c s i a n o i s s i f o r p e s i a o s s e p
dencia, naturalmente, algumas diferenas.
Assim, possvel constatar que os motivos
pessoais apresentados so particularmente re-
feridos por respondentes do sexo feminino,
sendo que esta diferena significativamen-
te menos acentuada nos motivos profissio-
nais, com excepo da Obteno de infor-
maes sobre a actividade levada a cabo pelo
interlocutor onde as mulheres surgem igual-
mente em clara maioria. Os motivos pessoais
apresentados so sobretudo enunciados por
respondentes com idades inferiores a 26 anos.
No deixa de ser curioso verificar que tra-
tando-se de desabafar e encontrar apoio,
junto de terceiros desconhecidos atravs da
Internet, a faixa etria dos 26 aos 35 anos
surge bastante representada (36,5% dos
respondentes que enunciaram este motivo
indicam ter idades situadas nesta faixa etria).
Naturalmente no que respeita aos motivos
profissionais as faixas etrias mais elevadas
esto bastante mais representadas.
Fortemente associado s idades dos
respondentes, que indicaram motivos pessoais
ou profissionais, esto tambm as suas qua-
lificaes acadmicas. Assim, entre os
respondentes que assinalaram motivos pesso-
ais vamos encontrar a predominncia da fre-
quncia, ou posse, do ensino secundrio e de
bacharelato/licenciatura e entre os respondentes
que assinalaram motivos profissionais a posse
ou frequncia de uma formao graduada ou
ps-graduada. Note-se que a formao ps-
graduada surge particularmente representada
na Obteno de informaes sobre a activi-
dade do interlocutor e na Troca de impres-
ses com indivduos que trabalham na mesma
rea que o respondente, ou seja, possivel-
mente associada a contactos desencadeados
devido a actividades de investigao.
A prxima tabela (Tabela 6) relaciona o
motivo por que foi estabelecido o contacto,
atravs dos servios de comunicao assen-
tes em Internet, e a relevncia da insero
414 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
dos interlocutores em determinado meio. A
tabela apresenta apenas os cinco motivos
pessoais e profissionais mais referidos e tem
como base o contacto, desencadeado a partir
da Internet, considerado pelos respondentes
como mais significativo, tendo sido esse
contacto iniciado por eles prprios.
O motivo porque desencadeada a interaco
parece ter alguma relao com a insero do
interlocutor num determinado meio. Assim, para
as comunicaes que tm na sua origem o
estabelecimento de novas amizades, a mera
curiosidade ou o desabafar o que interessa, na
generalidade dos casos, de facto encontrar
algum disposto a interagir. Nas comunicaes
originadas por motivos profissionais, a maior
parte dos indivduos invoca naturalmente ter pre-
tendido comunicar com um indivduo em par-
ticular, por este se encontrar inserido num de-
terminado meio. Parece pois verificar-se que em
reas de grande especificidade a insero em
redes, geradoras de confiana e capazes de sa-
tisfazer necessidades especficas do sujeito, ser
sem dvida uma mais-valia.
Tabela 6: Relao entre o motivo por que estabelecida
a interaco e a insero do interlocutor num meio especfico (%)
Este aspecto pode ainda ser analisado em
maior detalhe atravs da anlise dos lugares
onde os diversos interlocutores da interaco
se situam (Tabela 7). Note-se que a tabela
apresentada no leva agora em considerao
a especificidade dos vrios motivos pessoais
e profissionais.
Pela anlise da tabela apresentada
possvel verificar que de uma forma geral
na Regio de Lisboa e Grande Porto que
se concentra a maior parte dos destinatrios
das interaces (refira-se tambm que nestas
zonas que se concentra uma percentagem
significativa da populao portuguesa).
A finalidade por que estabelecida a
interaco vem demonstrar que para comu-
nicaes desencadeadas por motivos pessoais
muito mais heterognea a localizao dos
sujeitos, tanto a nvel do territrio nacional
(eventualmente espelhando a densidade de po-
pulao residente em cada regio) como a nvel
internacional. Neste domnio, as interaces
com indivduos localizados no Brasil obtm
algum destaque, porventura pela partilha da
s i a o s s e P s o v i t o M s i a n o i s s i f o r P s o v i t o M
o a r a P
e u q o v i t o m
a u o n i g i r o
o c a r e t n i
- n o p s e r o
e t n e d
a i d n e t e r p
. . . r a c i n u m o c
s a v o N
s e d a z i m a
e d a d i s o i r u C r a f a b a s e D
e t a b e D
s o t n u s s a
s o c u o p m o c
- s e r e t n i
s o d a s
e t a b e D
s o t n u s s a
s o t i u m m o c
- s e r e t n i
s o d a s
r e c e r a l c s E
a d i v d
s e a m r o f n I
e r b o s
e d a d i v i t c a
o d
r o t u c o l r e t n i
a c o r T
s e s s e r p n i
m o c
s o u d v i d n i
a e r a d
o i s i u q A
e d
s o t u d o r p
o a t s e r P
e d
s o i v r e s
m o c
r e u q l a u q
a o s s e p
a a t s o p s i d
r i g a r e t n i
7 , 4 5 3 , 2 6 1 , 4 5 7 , 1 3 7 , 4 1 9 , 7 7 , 5 8 , 3 2
m o c
r e u q l a u q
a o s s e p
m u n a d i r e s n i
o d a n i m r e t e d
o i e m
5 , 1 2 6 , 4 1 1 , 5 6 5 , 1 4 9 2 7 , 7 2 7 , 4 3 7 , 2 3 8 , 8 3
a m u m o c
m e a o s s e p
, o c i f c e p s e
a s s e r o p
r a t s e a o s s e p
m u n a d i r e s n i
o d a n i m r e t e d
o i e m
1 , 6 4 5 , 4 5 1 , 1 5 6 , 8 3 8 , 1 4
a o s s e p a l e p
, i s m e
- n e p e d n i
e t n e m e t n e d
m e o i e m o d
e s e u q
a v a r t n o c n e
5 , 1 2 7 , 7 1 5 , 9 2 2 , 0 1 9 , 9 5 , 8
r e u q l a u q o d i t m a h n i t a c n u n m e u q m o c s o u d v i d n i m o c s o t c a t n o c r e c e l e b a t s e a r a p t e n r e t n I a o d a s u r e t j m a r a c i d n i e u q s e t n e d n o p s e R : : e s a B
a s e l e o d i s r e t m a r a c i d n i , o d i c e l e b a t s e m i s s a o t i e r t s e s i a m o t n e m a n o i c a l e r o a e s - o d n i r e f e r , e u q e o c i s f o a p s e o n l a i c o s o t n e m a n o i c a l e r
. ) e t n e m a d a r a p e s o d a r e d i s n o c o v i t o m a d a c a e s - m e r e f e r s a d a t n e s e r p a s n e g a t n e c r e p s a ( o c a r e t n i a r a i c i n i
. ) 0 1 < N ( s o s a c e d o r e m n o n e u q e p o a o d i v e d o d a t n e s e r p a o n r o l a v :
415 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Tabela 7: Distribuio geogrfica dos destinatrios da interaco segundo o motivo
que originou o contacto atravs dos servios de comunicao assentes em Internet (%)
o r i e g n a r t s E s a P / l a g u t r o P e d o i g e R
s o v i t o M
s i a o s s e P
s o v i t o M
s i a n o i s s i f o r P
, a g e m T , e v A , o d a v C , a m i L - o h n i M ( e t s e o r o N
) a g u o V e o r u o D e r t n E
3 , 5 8 , 2
) o r u o D , s e t n o M - s o - s r T o t l A ( e t r o N r o i r e t n I
a r r e S , l u S e e t r o N r o i r e t n I a r i e B , s e f a L - o D ( o r t n e C r o i r e t n I
) a r i e B a d a v o C , l u S e e t r o N r o i r e t n I l a h n i P , a l e r t s E a d
9 , 3 3 , 1
o g e d n o M o x i a B , a g u o V o x i a B 4 , 9 8 , 9
o j e T o d a i r z e L e o j e T o i d M , e t s e O , l a r o t i L l a h n i P 5 , 4 5 , 2
l a b t e S e d a l u s n n e P e o t r o P e d n a r G , a o b s i L e d o i g e R 5 4 9 , 0 4
o j e t n e l A 2 , 2 6 , 1
e v r a g l A 9 , 1
s a h l I 3 , 2
a g e u r o N e a u S + U E a d s e s a P 5 , 5 2 , 9 1
o t n e m a g r a l a o d s e s a P
d a n a C + A U E 2 8
l i s a r B 2 , 6 1 , 2
a s e u g u t r o p o s s e r p x e e d s e s a p s o r t u O
s e s a p s o r t u O 2 2 , 1
r o t u c o l r e t n i o d o a z i l a c o l a e c e h n o c s e D 8 , 8 8 , 8
a e s - m e r e f e r s a d a t n e s e r p a s n e g a t n e c r e p s a ( o c a r e t n i a r a i c i n i a s e l e o d i s r e t m a r a c i d n i e u q s e t n e d n o p s e r : e s a B
. ) e t n e m a d a r a p e s s o d a t n e s e r p a s i a n o i s s i f o r p s o v i t o m e s i a o s s e p s o v i t o m
. ) 0 1 < N ( s o s a c e d o r e m n o n e u q e p o a o d i v e d o d a t n e s e r p a o n r o l a v :
mesma lngua. Tratando-se de motivos desen-
cadeados por razes profissionais, onde a
localizao do interlocutor ter porventura
muito mais relevncia, vamos encontrar, no
territrio nacional, interlocutores inseridos
sobretudo em Lisboa e Porto. No caso de
pases terceiros, h uma elevada
representatividade da Europa e da Amrica do
Norte, que juntas acolhem 27,2% dos desti-
natrios das interaces.
3. Concluses
Quando do surgimento e expanso das
comunicaes mediadas por computador acre-
ditava-se que as interaces on-line alheariam
os sujeitos dos relacionamentos que mantinham
nos espaos fsicos e poderiam igualmente
conduzir a uma perda da relevncia dos
lugares. Contudo o que sucessivos estudos tm
vindo a demonstrar precisamente o contr-
rio. Tambm de acordo com os dados ana-
lisados, as interaces que ocorrem na Rede
esto fortemente ligadas aos relacionamentos
travados no espao fsico e s dinmicas dos
lugares. Tratando-se do estabelecimento de
novos contactos, e de situaes que envolvam
a troca de sentimentos pessoais, a pertena
do interlocutor a uma qualquer rede estruturada
revela-se totalmente irrelevante.
No entanto, o crescimento exponencial de
mensagens pessoais, da oferta de informao,
e tambm de servios na Internet contribui
sobremaneira para a crescente complexidade do
ciberespao colocando ao utilizador dificulda-
des na seleco do que realmente interessa mas
tambm daquilo em que pode confiar. Estes
aspectos so particularmente relevantes quando
na interaco esto envolvidas informaes (mas
tambm produtos e servios) com elevados custos
de transaco. Quando assim acontece, os in-
divduos tendem a procurar agentes inseridos em
redes firmadas e validadas nos espaos fsicos,
que lhes possam assegurar confiana e credi-
bilidade. Neste sentido Internet e espaos ge-
ogrficos mais do que espaos alternativos de
comunicao afiguram-se como inevitavelmen-
te complementares.
416 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Agradecimentos
O doutoramento em curso tem o apoio
da Fundao para a Cincia e para a Tec-
nologia e do Fundo Social Europeu (III
Quadro Comunitrio de Apoio).
A aplicao do questionrio que serviu
de base ao artigo contou com a colaborao
dos Portais e Instituies seguidamente
mencionados: Clix, campus.sapo.pt, Aveiro
Cidade Digital, Alentejo Digital, Centro
Regional de Segurana Social de Aveiro,
Escola Superior de Educao de Leiria;
Escola Superior de Enfermagem de Viana do
Castelo; Escola Superior de Tecnologia e
Gesto de Viana do Castelo; Instituto
Politcnico de Coimbra; Instituto Politcnico
de Gaya; Instituto Politcnico de Portalegre;
Instituto Politcnico de Setbal; Instituto
Politcnico de Viseu; Instituto Superior de
Contabilidade e Administrao de Coimbra;
Instituto Superior de Contabilidade e Admi-
nistrao do Porto; Instituto Superior de
Economia e Gesto e Universidade de Aveiro.
Bibliografia
Castro, Eduardo Anselmo, Jensen-
Butler, Cris, Network Externalities
Telematics and Regional Economic
Development, Papers of Regional Science
82, 2003, p 27-50.
Granovetter, Mark, The Strength of
Weak Ties, American Journal of Sociology,
78 (6), 2003, p 1360-1380.
Haythornthwaite, Caroline, A Social
Network Theory of Tie Strength and Media
Use: A framework for Evaluating Multi-Level
Impacts of New Media, 1999.
URL: http://alexia.lis.uiuc.edu/~haythorn/
sna_theory.html (Julho 2002).
_______________________________
1
Universidade de Aveiro, Portugal.
2
Caroline Haythornthwaite, A Social
Network Theory of Tie Strength and Media Use:
A framework for Evaluating Multi-Level Impacts
of New Media. 1999. URL: http://
alexia.lis.uiuc.edu/~haythorn/sna_theory.html (Ju-
lho 2002).
3
Mark Granovetter, The Strength of Weak
Ties, American Journal of Sociology, 78 (6), 1073,
p 1360-1380.
4
Eduardo Anselmo Castro, Cris Jensen-Butler,
Network Externalities Telematics and Regional
Economic, Development. Papers of Regional
Science 82, 2003, p 27-50.
5
Pormenores sobre a metodologia de cons-
truo do questionrio podem ser encontrados em:
Maria Joo Antunes, Eduardo Anselmo Castro,
scar Emanuel Mealha, A Methodology for the
Administration of a Web-Based Questionnaire,
Human-Centred Computing: Cognitive, Social and
Ergonomics Aspects, Lawrence Erlbaum
Associates, Publishers, 2003, p 639-643.
417 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Los web sites instituciones. Dos casos concretos:
Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Polica
Mara de las Mercedes Cancelo San Martn
1
1. Pblicos que visitan el site de la Guardia
Civil
En el site y tal como est diseado se
ven cuatro pblicos claramente diferenciados:
- Los medios de comunicacin que son
atendidos mediante el gabinete de prensa
virtual. Para los cuales se han creado
mltiples herramientas con objeto de
satisfacer sus necesidades informativas.
- Personal del Cuerpo o futuros miembros
de la institucin. Que buscan en el site obtener
informacin vinculada a la organizacin a la
que pertenecen o bien recabar datos sobre
convocatorias, pruebas de acceso e
informacin de inters para los aspirantes a
formar parte de la Guardia Civil.
- Ciudadanos de a pie que buscan un
servicio concreto de la organizacin o
asesoramiento ante situaciones delictivas.
- Pblico infantil que seguramente navega
con la compaa de sus padres.
En cada seccin se usa un lenguaje acorde
con el pblico y tambin una estructura
distinta, como en el caso de la web infantil,
en la que se prescinde del fondo institucin
y se toma partido por un fondo verde que
no deja de ser un elemento claramente
corporativo. A la vez que usa un lenguaje
prximo a los nios. Existe una perfecta unin
entre los contenidos, el lenguaje utilizado y
el pblico objetivo de cada seccin del site.
Podemos decir que predomina un lenguaje
neutro sin intencin de convencer, recordemos
que no es una web comercial. Slo se hace
uso de un lenguaje persuasivo o peticionario
cuando se recomienda adoptar un
comportamiento vinculado a nuestra propia
seguridad.
Persiste un error en cuanto a los
contenidos, en el abuso del texto en aquellas
secciones poco serviciales es decir, aquellas
que solo van a ser visitadas por personal
cualificado y que denotan una gran dejadez
de adaptacin del lenguaje al medio que se
utiliza para transmitirlo, Internet. Asimismo
en algunos tramos de las pginas hay una
total ausencia de fotografas o espacios libres
que relajen la lectura.
Se observa un especial cuidado en la
navegacin, no existe la sensacin de sentirse
perdido en el web. Tambin se pone a
disposicin del navegante motores de
bsqueda en las secciones que son necesarias
para encontrar ms rpidamente y con el
menor esfuerzo la informacin. El valor
aadido en el site es una constante. En casi
todas las pginas se ofrece la posibilidad de
utilizar un servicio que proporciona el
Cuerpo, como el servicio de intervencin de
armas virtual, el de delitos telemticos,
violencia domstica, etc.. Con estos servicios
se busca agilizar la burocracia propia de las
instituciones, dar una respuesta rpida al
ciudadano aunque solo sea para satisfacer una
consulta. Se est estudiando la posibilidad
de instalar un servicio de denuncias virtual
mediante firma electrnica.
2. Usabilidad en el site de la Guardia Civil
La usabilidad se define
2
como el grado
de efectividad, eficiencia y satisfaccin con
la que los usuarios alcanzan los objetivos
formales contemplados en un sitio web
concreto. Segn Ramos (2001:199-201) el
principio de usabilidad quedara claramente
definido y contenido en los siguientes
aspectos:
- Visibilidad de la web: para el
posicionamiento mental del site en la mente
del consumidor. Lo que implica una clara
imagen del site y de sus herramientas para
que el conjunto sea reconocible por el
navegante. En la pgina web de la Guardia
Civil tanto la home con el resto de pginas
tiene una estructura bien delimitada e
inconfundible.
- Reconocimiento: los elementos de la
pantalla deben tener significado por s
418 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
mismos. En la web del Cuerpo todos los links
estn etiquetados con la accin que producen.
- Feed-back: si se lleva acabo una accin
que tenga una respuesta inmediata. Ante el
simple click en cualquier elemento del site
se recibe una respuesta que como mnimo se
traduce en un cambio visual y de contenido.
- Accesibilidad: que sea fcil y rpida la
navegacin. La existencia de pocos caminos,
la disposicin jerrquica de la informacin
y ofrecer claves al usuario que le permitan
reconocer los puntos de inters. Todo ello
est contemplado en la web de la institucin,
los caminos de navegacin estn claramente
prefijados y es imposible perderse en la
pgina, los contenidos siguen una estructura
rgida como ya comentamos al principio y
los puntos de inters estn indicados.
Orientacin en la navegacin: que nunca se
sienta perdido el usuario, orientarlo mediante
hipervnculos, una clara visualizacin de la
web y que sepa donde se encuentra. Siempre
existe un hipervnculo que nos devuelve a
la home al igual que indicaciones en cada
seccin situndonos no solo dentro de la
misma sino del propio site y en relacin con
los contenidos generales de la pgina.
- Evitar errores, satisfaccin y legibilidad:
la satisfaccin de uso se obtiene mediante
un servicio en la pgina, objetivo que cumple
perfectamente el site. La navegacin no
provoca errores debido a que los posibles
tramos de uso del site ya estn fijados de
antemano. Legibilidad se obtiene mediante
el uso de un vocabulario que se adecue al
pblico que consume las secciones y en este
ltimo caso ya comprobamos que hay una
clara relacin entre el lenguaje y el target
de las secciones.
- Diseo visual: pgina simple, que los
elementos ms destacados sean los ms
visuales, utilizar colores y blancos que relajen
la lectura al igual que el tamao de letra e
intercalar grficos y material fotogrfico. En
este apartado es donde el site necesita ms
cambios ya que en algunas pginas se adolece
de falta de relajacin en el ritmo de lectura,
profusin de texto y falta de iconicidad.
Los usuarios de Internet segn la
consultora Jpiter Research y en contraste
con estudios de tericos como De Salas y
Nielsen, valoran en un site(dejando de lado
aspectos tcnicos) los siguientes puntos:
- Estructuracin de contenidos: que sigan
un orden lgico.
- Variedad y actualizacin del site.
- Facilidad y rapidez en las bsquedas:
que las herramientas de uso simplifiquen la
navegacin.
- Comprensin de la informacin: claridad
en los contenidos, en como se facilita la
informacin y en el uso del lenguaje.
- Utilizacin de sistemas de ayuda al
usuario: mapas web, motores de bsqueda
y FAQs (Preguntas frecuentes).
Al aplicar el trmino de usabilidad al web
site de la Guardia Civil llegamos a varias
conclusiones:
1. El pblico objetivo formado por medios
de comunicacin posee todas las herramientas
para buscar y confeccionar noticias, tanto
pasadas como de ltima hora. Se pone a su
alcance una base de datos con noticias y
reportajes donde la institucin es protagonista.
Los contenidos se actualizan diariamente a
travs de la ORIS
3
y las OPCs
4
. Asimismo
tiene la opcin de solicitar informacin o
exponer cualquier tipo de necesidades a travs
del contacto directo con la OPC de su
localidad o mediante correo electrnico con
la oficina de prensa.
2. Los ciudadanos son informados de sus
derechos ante la institucin, de las
posibilidades legales que tienen de defenderse
de la delincuencia, sea promovida a travs
de actos comunes como timos o utilizando
la ms alta tecnologa, delitos informticos.
Pueden acceder a un amplio directorio de
enlaces de inters, comunicarse mediante el
site con aquel servicio de la Guardia Civil
que pueda resolver sus dudas, etc..
3. Los miembros del Cuerpo son
atendidos a travs de la Intranet pero tambin
tienen su apartado en aquellas secciones como
el Consejo Asesor de Personal, formacin etc..
4. Los nios encuentran en este site una
forma divertida de aprender consejos de
seguridad que al mismo tiempo tambin
satisface las necesidades de los padres.
5. Cualquier navegante que entre el site
encontrar que hay una constante
interactividad. Contemplando interactividad
como el cambio o respuesta ante una accin
del usuario.
No podemos olvidar que este web site
nace con una doble vertiente: ser una web
419 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
de ayuda al ciudadano y un instrumento de
Identidad Corporativa, aunque bien es verdad
que a travs de la ayuda a la sociedad la
institucin se labra una Imagen Corporativa
ms fiel a la real. Se mantiene una
comunicacin que cumple los objetivos de
promover una Imagen, Cultura e Identidad
corporativa. En todo momento estticamente
se hace presente la identidad visual del
Cuerpo, su labores denotan su papel en la
sociedad y tambin las constantes alusiones
a los servicios, las agrupaciones, las noticias,
la presencia de la revista corporativa en el
propio site, etc..
3. Pblicos que visitan el site del Cuerpo
Nacional de Polica
Existen tres perfiles de visitantes del site
perteneciente al Cuerpo Nacional de Polica:
- Personal vinculado a la institucin o
prximo a estarlo. Estos visitantes buscan
informacin clara y precisa sobre servicios,
convocatorias a exmenes, etc. El mejor
instrumento de cara a este pblico es la revista
digital.
- Periodistas que entran en el site para
ampliar algn tipo de informacin. Por las
noticias y su elaboracin estimamos que
pocos, ya que no se amplan las informaciones
emitidas en los propios medios.
- Ciudadanos que entran en el site para
obtener alguna informacin sobre temas
policiales. Los nicos servicios realmente
prcticos son el de denuncias virtuales, el
directorio de Comisaras y la informacin
ciudadana y familiar.
4. Usabilidad en el site del Cuerpo Nacional
de Polica
Aplicaremos el trmino usabilidad
haciendo otra vez referencia a las
caractersticas enumeradas por Ramos(2001).
El principio de usabilidad quedara claramente
definido y contenido en los siguientes
aspectos:
- Visibilidad de la web: para el
posicionamiento mental del site en la mente
del consumidor. Para ello es necesario una
clara imagen del site y de sus herramientas
para que el conjunto sea reconocible por el
navegante. En la pgina del Cuerpo Nacional
de Polica no hay una clara identificacin del
mapa de la web, de hecho nos perdemos
durante la navegacin y no hay enlaces para
volver a la home. S que existe una
identificacin de las herramientas de
navegacin como enlaces y botones, pero de
poco ayudan si al navegar nos perdemos por
el site.
- Reconocimiento: los elementos de la
pantalla deben tener significado por s
mismos. En la web todos los links nos indican
su accin concreta.
- Feed-back: si se lleva acabo una accin
que tenga una respuesta inmediata. Ante el
simple click en cualquier elemento del site
se recibe una respuesta que como mnimo
se traduce en un cambio visual y de
contenido. No hay un feed-back continuo, en
multitud de ocasiones se rompe la
comunicacin por fallos en los links o por
falta de enlaces para volver a la pgina
principal.
- Accesibilidad: que sea fcil y rpida la
navegacin. La existencia de pocos caminos,
la disposicin jerrquica de la informacin
y ofrecer claves al usuario que le permitan
reconocer los puntos de inters. Hay una
disposicin parcialmente jerrquica de los
contenidos pero en ningn momento se
ofrecen claves al usuario para reconocer lo
ms llamativo del site.
- Evitar errores, satisfaccin y legibilidad.
La satisfaccin de uso se obtiene mediante
un servicio en la pgina, que se consigue
parcialmente a travs de la posibilidad de
denunciar via Internet, bajarse algn
formulario para extranjeros o encontrar videos
sobre la formacin del Cuerpo Nacional de
Polica. La satisfaccin no se produce debido
a la constante sensacin de perdida que existe
durante la navegacin. La legibilidad si se
da al estar todos los links previamente
sealados.
- Diseo visual. Pgina simple, que los
elementos ms destacados sean los ms
visuales, utiliza colores un poco agresivos y
que no facilitan una lectura relajada. En pocas
ocasiones se colocan blancos para relajar
la lectura del site. Si existen fotografas y
tambin material videogrfico que ayudan a
dar mas dinamismo a la informacin en el
site.
420 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Recordemos, como ya dijimos antes, que
los usuarios de Internet segn la consultora
Jpiter Research y en contraste con estudios
de tericos como De Salas y Nielsen, valoran
en un site (dejando de lado aspectos tcnicos)
los siguientes puntos:
- Estructuracin de contenidos: que sigan
un orden lgico.
- Variedad y actualizacin del site.
- Facilidad y rapidez en las bsquedas:
que las herramientas de uso simplifiquen la
navegacin.
- Comprensin de la informacin: claridad
en los contenidos, en como se facilita la
informacin y en el uso del lenguaje.
- Utilizacin de sistemas de ayuda al
usuario: mapas web, motores de bsqueda
y FAQs (Preguntas frecuentes).
En este site no existen motores de
bsqueda ni FAQs. La estructuracin de
contenidos sigue un orden lgico y los
instrumentos de navegacin estn a la vista.
Respecto al nivel expositivo de los
contenidos, el lenguaje se adecua pero est
demasiado influenciado por los medios
impresos. Es notorio el hecho de que los
contenidos, la estructuracin y la
actualizacin no se realiza bajo la supervisin
de la ORIS perteneciente a la Direccin
General de la Polica. Un instrumento que
podra ser tan potente en el plan estratgico
de comunicacin como es Internet, est
totalmente desaprovechado en este caso.
5. Propuesta de anlisis de sites
institucionales
Por ltimo proponemos un conjunto de
tems que pueden ayudar al anlisis de una
web institucional
5
de estas caractersticas. Los
campos bsicos sobre el anlisis del site son
un compendio de caractersticas propuestas
que debe contener un site segn Nielsen
(2000) y De Salas (2001). Los tems
propuestos especficamente para esta web son
una propuesta particular basada en el anlisis
de los dos sites institucionales estudiados en
esta investigacin.
421 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Cuadro 1: Anlisis de sites Guardia Civil y CNP
L R U a n o i c a l e r e s , / g r o . l i v i c a i d r a u g . w w w / / : p t t h
y a n i g p a l e d a m e t l e n o c e t n e m a t c e r i d
. n i c u t i t s n i a l e d d a d i t n e d i a l n o c
r o i r e t n I l e d o i r e t s i n i M l a e c e n e t r e p L R U a l
l e n e a d a d e p s o h a v a n i g p a l e u q a y
, n i c u t i t s n i a t s e e d o i n i m o d
/ a i c i l o p / s e . r i m . w w w / / : p t t h
s o l n e a i c n e s e r P
s e r o d a c s u b
. a t s i v a t l A y o o h a Y , e l g o o G . a t s i v a t l A y o o h a Y , e l g o o G
a g r a c s e d e d o p m e i T 8 e d r o n e m s e l a m r o n m e d m n u n o C
. a i r a r o h a j n a r f r e i u q l a u c n e s o d n u g e s
n e s o d n u g e s 0 6 y 6 1 e r t n e l a m r o n m e d M
. a i r a r o h a j n a r f r e i u q l a u c
o d a l e x i p e d n i c u l o s e R l a m r o n o s u e d s a l l a t n a p s a l e d l a r o i r e p u S
o s a c e t s e n E . 0 8 4 x 0 4 6 e d r e s n e l e u s e u q
. 0 0 6 x 0 0 8 e d s e
. 0 0 6 x 0 0 8
o r t n I o r t n i n i S o r t n i n i S
r o d a g e v a N d a d i l a c a c i t n d i e d n e g a m i a n u e n e i t b o e S
. e p a c s t s e N y r e r o l p x E o d n a z i l i t u
d a d i l a c a c i t n d i e d n e g a m i a n u e n e i t b o e S
. e p a c s t s e N y r e r o l p x E o d n a z i l i t u
l a s a n a t n e v e d a r u t r e p A
b e w a l e s r a g r a c s e d
b e w a l e r b a e s o a e t s e e d o z r a m e d s e D
. r o i r e t n I l e d o i r e t s i n i M l e d
l a e r b a e s r o i r e t n I l e d o i r e t s i n i M l e d e t i s l E
a l e d b e w a n i g p a l e u q o p m e i t o m s i m
. a c i l o P
l i t o i c a p s E . a n i g p a l e d % 0 9 . a n i g p a l e d % 0 9
n e o t x e t e d n i c i s o p s i D
a l l a t n a p
s a n m u l o c n i s , l a e n i l a r u t c u r t s e a n u e u g i S
n e a r u t i r c s e a l a s a t n i t s i d s a m r o f i n
a l e d a i c n e r e f i d a , o s e r p m i o i d e m r e i u q l a u c
a l a z i l i t u e s s e d n o d l i t n a f n i b e w
. s a n m u l o c n e o t x e t l e d n i c i s o p s i d
s a n m u l o c n i s , l a e n i l a r u t c u r t s e a n u e u g i S
n e a r u t i r c s e a l a s a t n i t s i d s a m r o f i n
. o s e r p m i o i d e m r e i u q l a u c
o t x e t e d o a m a T . 0 1 o a m a T . 0 1 o a m a T
a r t e l o o l i t s E . n a m o R w e N s e m i T . n a m o R w e N s e m i T
r o l o C o r g e N o r g e N
s o f a r r p e d n i c i s o p s i D b e w a n u s e , s o g r a l a r o y a m u s n E
r o y a m a l r a d a a c i d e d e s y l a n o i c u t i t s n i
l e o m i x m l a o d n a h c e v o r p a n i c a m r o f n i
. o i c a p s e
b e w a n u s e , s o g r a l a r o y a m u s n E
r o y a m a l r a d a a c i d e d e s y l a n o i c u t i t s n i
l e o m i x m l a o d n a h c e v o r p a n i c a m r o f n i
. o i c a p s e
a l n a d i p m i e u q s o t n e m e l E
n i c a g e v a n a l o a r u t c e l
e r b i l
a n u e t n a i d e m s o d i n e t n o c s o l e d a r u t c e L
l e e p m u r r e t n i e u q o t n e i m a z a l p s e d e d a r r a b
. o t x e t l e d a r u t c e l e d o m t i r
a n u e t n a i d e m s o d i n e t n o c s o l e d a r u t c e L
l e e p m u r r e t n i e u q o t n e i m a z a l p s e d e d a r r a b
s k n i l e d a t l a F . o t x e t l e d a r u t c e l e d o m t i r
e t n a r u d l a p i c n i r p a n i g p a l a r e v l o v a r a p
n u y a h o l o S . e t i s l e r o p n i c a g e v a n a l a d o t
o n e u q e l b a g e l p s e d n e m l e n e k n i l
. l a t i g i d a t s i v e r a l e d a n i g p a l n e y a n o i c n u f
s e n e g m i e d a i c n e t s i x E e d o y o p a o m o c s a f a r g o t o f e d n i c a z i l i t U
. a r u t c e l a l n e n i c a j a l e r e d o t n e m e l e y o t x e t
. s o e d v y a h o N
e d o y o p a o m o c s a f a r g o t o f e d n i c a z i l i t U
. a r u t c e l a l n e n i c a j a l e r e d o t n e m e l e y o t x e t
. s o e d v e d d a d i l i b i n o p s i D
o t x e t l e d a t c e r i d n i s e r p m I . s e n o i c c e s s a n u g l a n e o l o S e t i m r e p e s i n d a d i l i b i s o p a s e a d e s o N
. a n i g p a l e d o t x e t l e r a i p o c
n e s o i c a p s e e d n i c a z i l i t U
s o c a v o o c n a l b
e d n i c a s n e s a l y a r u t c e l a l r a j a l e r a r a p , S
. a n i g p a l e d d a d i l a u t x e t r e p i h
. s o s a c s E
s e r o l o c y o d n o F
s o v i t a r o p r o c
o d a t s E l e d a m e l b m e l e n o c s i r g o d n o F
a l s a d o t n e s o v i t a r o p r o c s e r o l o c , l o a p s e
o m o c e t i s l e n a c i f i t n e d i e u q s a n i g p
. a c i l b p n i c a r t s i n i m d a a l a e t n e i c e n e t r e p
o d a t s E l e d a m e l b m e l e n o c s i r g o d n o F
a l s a d o t n e s o v i t a r o p r o c s e r o l o c , l o a p s e
o m o c e t i s l e n a c i f i t n e d i e u q s a n i g p
. a c i l b p n i c a r t s i n i m d a a l a e t n e i c e n e t r e p
s a g r a c s e d e d d a d i l i b i s o P . d r o W y F D P s o t x e t s o l o S . F D P s o t a m r o f y s o e d i V
o i d u A . e l b i n o p s i d o N . e l b i n o p s i d o N
o e t i s l e n e s e r o d a c s u B
s Q A F
. d a d i l i t u n a r g e d y i S . o n u g n i N
.../...
(continua)
422 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
l e n o c s o t c e r i d s o t c a t n o C
o i r a u s u
e s e u q s a l n e s e n o i c c e s n e l i a m e t n a i d e M
: a n a d a d u i c n i c a p i c i t r a p a l e d i p
o i n o m i r t a P , s o d a c s u B , s o d i c e r a p a s e D
s o l e u q s o l n e s o d a t r a p A . c t e , o c i r t s i H
e r b o s s a t l u s n o c r a l u m r o f n e d e u p s e t n a t i s i v
n e d e u p s a t s . c t e , s e l a g e l s o t c e p s a , e t i s l e
a e t i m e r s a l e t s y r e t s a m s b e w n a v n e e s
a g n e t e u q l i v i C a i d r a u G a l e d n i c a p u r g a a l
s a d i t i m e r o s a m e t s o s e e r b o s n i c c i d s i r u j
e t i s l e n e n e c e r a p a e u q s l i a m s o t n i t s i d s o l a
o t n e m a t r a p e d o o i c i v r e s n u a s o d a l u c n i v
e d n z u b n u y a h n i b m a T . o p r e u C l e d
e d n i c c e s a l n E . s a i c n e r e g u s y s a j e u q
r a t i c i l o s n e d e u p e s a s n e r P e d e t e n i b a G
s a i c i t o n e d a c r e c a s e n o i c a m r o f n i s a t n i t s i d
e S . n i c u t i t s n i a l a c z e r a p a e u q s a l n e
a s n e r p e d e t e n i b a g l e n o c r a t c a t n o c e d e u p
a l o m i t l r o P . o t c e r i d l i a m e t n a i d e m
n e d e u p s o i n s o l e u q a l n e l i t n a f n i e w
. r a i v n e
e d o d a t r a p a l e n e y l i a m e t n a i d e M
. s e l a u t r i v s a i c n u n e d
s o l e d n i c a c i f i s r e v i D
s o c i l b p
y e j a u g n e l l e e t n a i d e M . s e n o i c c e s r o p , S
s o p i t o r t a u c a a c i f i t a r t s e e s s o d i n e t n o c s o l
. s o c i l b p e d
y e j a u g n e l l e e t n a i d e M . s e n o i c c e s r o p , S
e d s o p i t s e r t a a c i f i t a r t s e e s s o d i n e t n o c s o l
s o c i l b p
a n i g p a l e d d a d i v i t c a r e t n I e r t n e a t c e r i d n i x e n o c a n u y a h , a t l a y u M
. b e w a l e c a h e u q l a n o s r e p l e y s o i r a u s u s o l
e s , s o d i b i c e r s l i a m s o l s o d o t n e d n e i t a e S
n e e t n a t i s i v l e d n i c a p i c i t r a p a l e v e u m o r p
a l a r a p s a d a e r c s e n o i c c e s s a l l e u q a
l i t n a f n i e t i s l e d o s a c l e n e , n i c a r o b a l o c
. s o j u b i d e d o v n e l e e t n a i d e m
e d a n i c i f o a l y l i a m e t n a i d e m o l o s , a s a c s E
. s e l a u t r i v s a i c n u n e d
e t i s l e d o d i d a a r o l a V s e n o i t s e u c a z i l i g a s o i c i v r e s e d a t r e f o a L
e d n i c a z i l a e r a l o s a v i t a r t s i n i m d a
. s a t l u s n o c
s a i c n u n e D e d a n i c i f O a l e t n e m a v i s u l c x E
. l a u t r i V
n o c s e c a l n e e d a i c n e s e r P
s a n i g p s a r t o
. s r e t n i e d s e c a l n e n o c o d a t r a p a n u y a H
n o c s o l u c n v y a h e t i s l e d s a n i g p s a i r a v n E
y a i c n e i C , r o i r e t n I o m o c s e l a i r e t s i n i m s b e w
. c t e , a g o l o n c e T
. s r e t n i e d s e c a l n e n o c o d a t r a p a n u y a H
d a d i l a u t c A n i c c e s a l n e e m o h a l n E
e d o i r e t s i n i M l e n o c e c a l n e n u y a h l a i c i l o P
s a i r a v n e o m s i m i s A . a g o l o n c e T y a i c n e i C
e d a l n e o m o c s e l a c n e y a h s e n o i c c e s
y r a i l i m a f n i c n e t a , a n a d a d u i c d a d i r u g e s
. a t s i r o r r e t i t n a a h c u l
Bibliografia
De Salas, M I. (2001): La incidencia
del medio interactivo en la estrategia
publicitaria, Reiniciar el sistema: Actas de
las III Jornadas de Publicidad Interactiva,
Universidad de Mlaga, pp. 27-36.
Nielsen, J. (2000): Usabilidad. Diseo de
sitios webs. Madrid: Prentice Hall.
Ramos Serrano, M. (2001): El correo
electrnico y el diseo grfico, Reiniciar el
sistema: Actas de las III Jornadas de
Publicidad Interactiva, Universidad de
Mlaga, pp. 199-201.
_______________________________
1
Universidad de Mlaga.
2
Segn la ISO CDS 9241.
3
Oficina de Relaciones Informativas y
Sociales de la Guardia Civil, es la responsable
de la comunicacin de la organizacin.
4
Oficinas Perifricas de Comunicacin, son
los enlaces o sucursales con los que cuenta la
ORIS para ejercer su labor de enlace con los
medios locales y la poblacin.
5
El mayor inconveniente para plantear un
modelo tipo es la falta de investigacin en anlisis
de sites institucionales ya que solamente se han
investigado pginas comerciales.
.../...
(continuacin)
423 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Enquadramento e impacto dos sistemas
de informao no Programa Aveiro Norte
Miguel Oliveira
1
, Pedro Bea
1
, Nuno Carvalho
2
,
Sara Petiz
1
e A. Manuel de Oliveira Duarte
3
Introduo
O propsito deste artigo o de demons-
trar o relevo que os sistemas de informao
tm em todo o processo de criao e desen-
volvimento de uma nova oferta formativa
potenciada pela Universidade de Aveiro no
norte do distrito. Inicialmente, e com o intuito
de desenvolver ferramentas para a gesto e
administrao do Programa Aveiro-Norte,
criou-se o stio do Programa Aveiro-Norte.
A sua forte adeso por parte dos vrios actores
envolvidos na utilizao do mesmo sistema,
deu origem a novos inputs com vista ao
aperfeioamento do mesmo, bem como novos
sistemas que promovem uma maior interaco
com o tecido empresarial da regio.
O Programa Aveiro-Norte surge como
uma aco de Interveno da Universidade
de Aveiro no Norte do Distrito, com o
objectivo de promover o reforo do ensino
superior orientado para a formao inicial
politcnica, formao especializada e requa-
lificao profissional. Consiste numa Rede
de Unidades de Formao Especializada a
partir da qual se pretende implementar um
conjunto de cursos, cujas propostas de for-
mao pretendem responder no s s ne-
cessidades locais de formao inicial, mas
tambm de actualizao dos quadros das
empresas e servios existentes na regio norte
do distrito de Aveiro.
Pretende-se que a oferta formativa do
Programa Aveiro Norte articule e
compatibilize tanto os graus do sistema de
ensino superior que lhe esto a jusante (li-
cenciaturas e ps-graduaes) como as vias
de acesso a montante, com origem no ensino
secundrio e ps-secundrio no superior
(cursos profissionalizantes, cursos de espe-
cializao, etc.).
Pretendemos apresentar, de uma forma
sucinta e clara, os vrios sistemas em pro-
duo e desenvolvimento e como que
interagem no Universo Aveiro-Norte, dan-
do origem a um portal informativo que
promova todas as entidades envolvidas cri-
ando um fluxo de informao comum, em
especial o sistema de informao do Progra-
ma Aveiro Norte.
Motivao
Com o incio das actividades lectivas no
ano de 2003, tornou-se imperativo a cons-
truo de um stio (www.aveiro-norte.ua.pt)
que disponibilizasse contedos informativos
sobre todas as actividades a decorrer no
mbito do Programa Aveiro Norte (PAN).
Partindo deste principio, e tendo sido desen-
volvida uma base tecnolgica slida, foi
disponibilizada a secretaria virtual com
diversas ferramentas e funcionalidades como,
por exemplo, gesto de faltas, horrios,
insero de sumrios, gesto de formadores
e alunos, que so disponibilizadas aos for-
madores, formandos e administrativos.
A forte adeso do uso do stio da Se-
cretaria Virtual do Programa Aveiro Norte por
parte de todos os actores intervenientes, tem
impulsionado o desenvolvimento de novas
ferramentas e integrao com outros siste-
mas de informao necessrios formao
do aluno e que promovem a sua integrao
no mercado de trabalho. Noutra perspectiva,
os sistemas de informao disponveis con-
tribuem para que, o tecido empresarial e in-
dustrial da regio, os utilize de forma a
potenciar um melhor envolvimento com os
alunos, formadores e directores de curso,
assim como a Comisso Instaladora do
Programa Aveiro Norte.
Secretaria Virtual
Como j referido anteriormente, a Escola
Aveiro Norte dotada de uma ferramenta
denominada Secretaria Virtual, que se encon-
tra em permanente desenvolvimento para dar
resposta s necessidades dos formadores,
424 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
alunos e pessoal administrativo, potenciando
assim o uso das tecnologias de informao
por parte de todos os elementos que cons-
tituem o Programa Aveiro Norte.
No mbito deste programa foi desenvol-
vido um conjunto de ferramentas em ambi-
ente Web para proporcionar o mximo de
informao e interactividade a todos os
interessados neste programa. Assim, para
alm de todo um leque de informaes
relativas aos vrios cursos, os interessados
podem ainda recorrer a uma secretaria vir-
tual, onde tm desde logo a possibilidade de
realizar algumas aces que at ento s
seriam possveis junto da instituio em
causa.
A existncia deste servio on-line tem
inmeras vantagens para os seus utilizadores,
na medida em que permite uma maior fle-
xibilidade temporal e espacial, uma vez que
est disponvel 24 horas por dia e em qual-
quer ponto de acesso Web.
Pretendeu-se, desde o incio, informatizar
e optimizar processos relacionados com as
actividades do Programa Aveiro Norte, atra-
vs do desenvolvimento de ferramentas de
BackOffice para a Secretaria Virtual. Estas
ferramentas surgem na sequncia da
informatizao do processo de registo de
aulas, um requisito do POEFDS
4
, para os
cursos oferecidos pelo Programa Aveiro
Norte. Assim, comemos por dimensionar.
Essas actividades esto segmentadas em
3 eixos principais: Gesto e Administrao,
Formador e Aluno, sendo de esperar que a
cada um destes elementos sejam possibili-
tadas funcionalidades adequadas sua fun-
o.
Acessibilidade e apresentao
O desenvolvimento de aplicaes para
Web, pressupe que o uso desta tecnologia
seja do conhecimento geral dos utilizadores
a quem esta se destina. Assim, expectvel
que as pessoas sejam minimamente capazes
de interagir com o computador e seus pe-
rifricos. Para aceder a esta aplicao basta
ter acesso Internet e dirigir-se ao site http:/
/www.aveiro-norte.ua.pt e a clicar sobre a
opo Secretaria virtual que se encontra
no menu (Figura 1).
Tendo em conta que o servio uma
secretaria virtual, cada pessoa ter de dirigir-
se rea que mais lhe convm. Para tal,
existem diferentes acessos:
Gesto e Administrao
Formador
Formadores
Inscrio na bolsa de formador
Pr-inscrio (candidatura a formando)
Segurana
Tendo em conta um dos factores mais
importantes para este servio, a cada
utilizador do sistema est garantido um nvel
de segurana que permita confiar no servio
a que a aplicao se prope.
No caso concreto de uma secretaria
virtual, acontece existirem vrias pessoas a
utiliz-la em simultneo e isso no pode gerar
qualquer conflito ou perda de informao,
pois poderia ter efeitos muito graves. Para
alm disso, cada utilizador tem que ter o
mnimo de privacidade e segurana nos dados
que disponibiliza.
Neste caso, estes factores foram consi-
derados e por isso cada utilizador para aceder
ao servio pretendido tem que em primeiro
lugar preencher correctamente os campos
referentes ao login e password.
Funcionalidades do Mdulo de Gesto e
Administrao
Este mdulo permite aceder a toda a
informao relativa aos administradores,
formadores, formandos, cursos e outros dados
de importncia para o Programa Aveiro Norte.
Quem acede a este mdulo tem ao seu dispor
uma grande lista de funcionalidades como se
pode constatar pela Figura 2.
Muitas das funcionalidades so bastante
intuitivas, pelo que no ser feita uma
descrio exaustiva das mesmas, o que no
quer dizer que tenham menos importncia.
A funcionalidade Colocar documento no
site consiste em possibilitar a anexao de
documentos a serem exibidos on-line. Na
Figura 3 apresentada a informao que
necessria para este efeito. de realar a
possibilidade de o mesmo documento estar
anexado a reas podendo, por isso, pertencer
425 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Figura 1 Acesso ao site do Programa Aveiro Norte e Secretaria Virtual
Figura 2 Lista de Menus do Mdulo de Gesto e Administrao
426 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
aos documentos da comisso de acompanha-
mento, comisso instaladora, acesso geral e
parceiros do programa em simultneo, se isso
se justificar.
As funcionalidades referentes visuali-
zao de pr-inscries e pedidos de infor-
mao servem exclusivamente para ver a
informao respeitante a cada item e se for
caso disso tem o contacto de quem fez o
pedido para, se se justificar, proceder res-
posta.
No menu referente aos formadores existe
a possibilidade de fazer listagens de forma-
dores usando vrios critrios, sendo um deles
o facto de os formadores terem ou no
curriculum vitae.
A gesto de vencimentos tarefas uma
das funcionalidades com maior relevncia na
parte da gesto e administrao. O clculo
feito a partir das horas leccionadas por cada
formador. Cada formador, ao preencher o
sumrio, indica o nmero de horas
leccionadas nessa aula e a data (Figura 4).
Outra possibilidade consiste em adicionar
novos formadores lista de formadores. E para
isso necessrio preencher o formulrio
Figura 3 Insero de um novo documento online
exibido na figura que se segue e posterior-
mente clicar em no boto Enviar para fazer
a validao da informao, ou ento no boto
Apagar para no realizar o registo.
O menu Bolsa de formadores tal como
o prprio nome indica permite ver a lista de
formadores que se inscrevem na bolsa de
formadores.
No menu referente aos alunos possvel
ver uma lista de alunos geral, adicionar novos
alunos atravs do preenchimento de um
formulrio prprio, visualizar para cada aluno
o registo de faltas e respectivo subsdio e
finalmente realizar um histrico do aluno em
termos de faltas.
Um ponto importante a possibilidade
de criar novos cursos a partir do preenchi-
mento do formulrio respectivo.
Alm destas funcionalidades, ainda exis-
tem algumas com extrema importncia. Entre
elas, gostaramos de referir o gestor de
horrios, ainda em fase de testes, que cria
uma grelha de aulas e actividades para os
alunos e formadores (Figura 5).
Por consequncia do desenvolvimento do
gestor de horrios foram desenvolvidas algu-
427 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Figura 4 Visualizao de vencimentos
Figura 5 Visualizao de sumrios
428 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
mas ferramentas de backoffice como o gestor
de salas que, por sua vez, dar origem ao
gestor de recursos em sala.
Por fim existe ainda um conjunto de
menus correspondentes publicao de
documentos consoante a rea a que se des-
tinam, nesses menus possvel ver quais os
documentos actualmente on-line.
Funcionalidades do mdulo de formador
Para aceder ao mdulo do formador
necessria a autenticao por login e
password. Aps estar autenticado, o forma-
dor fica com acesso lista de disciplinas que
lecciona, como se pode ver pela Figura 6.
No menu que tem ao seu dispor nesta
pgina, o formador pode ainda modificar ou
visualizar os seus dados pessoais e/ou
modificar, visualizar ou apagar o curriculum
vitae.
Aps a seleco de uma disciplina este
menu aumenta e permite tambm realizar
operaes relacionadas com a disciplina que
escolheu. O formador pode listar, adicionar,
modificar ou apagar sumrios e ainda ver uma
listagem dos alunos inscritos nessa disciplina.
Aps a seleco de uma disciplina apa-
rece na parte do cabealho da pgina o nome
da disciplina escolhida, permitindo assim ao
formador saber em que disciplina est a
aceder.
Na rea de sumrios o formador tem ao
seu dispor um espao de aula que lhe per-
mite sumariar as aulas e registar as presenas
dos seus alunos. Para fazer esta operao o
formador tem que preencher o conjunto de
dados que mostra a Figura 7.
As restantes operaes relacionadas com
os sumrios processam-se de uma forma
muito semelhante. O formador pode ainda
visualizar uma listagem dos seus alunos
seleccionando a funo Alunos Inscritos do
menu. Neste caso, o formador tem acesso a
todo o histrico de faltas do aluno aps a
seleco do ms referente ao campo frequn-
cia (Figura 8).
Tal como j foi referido, para alm do
espao de aula o formador tem sempre a
possibilidade de alterar ou consultar os seus
dados pessoais.
Para alm dos dados pessoais o formador
pode ainda aceder ao seu curriculum onde
pode alterar o seu contedo sempre que se
justifique.
Funcionalidades do mdulo formando
Neste mdulo so disponibilizados os
materiais referentes aos cursos, nomeadamen-
te os sumrios das disciplinas leccionadas e
os documentos informativos.
Para aceder a esse material o formando
tem que escolher o curso que lhe interessa
e posteriormente seleccionar a disciplina que
pretende. O acesso a esta informao livre.
Aps a seleco do curso surge uma
listagem de disciplinas leccionadas, respec-
tivos formadores e carga horria da mesma.
Depois de escolher a disciplina o formando
tem a possibilidade de efectivamente aceder
aos sumrios ou ver a listagem de alunos
inscritos. Se o item seleccionado for Alunos
Inscritos o que aparece uma listagem de
alunos onde apresentado para cada aluno
o seu email, situao curricular e nmero de
faltas.
Funcionalidades do mdulo inscrio na
bolsa de formador
Este mdulo possibilita a todos os inte-
ressados em dar formao neste programa
registarem-se como candidatos a formadores.
Para isso tm que escolher a opo Novo
utilizador e preencher os campos respecti-
vos sua pessoa como mostra a figura
seguinte.
Aps o registo o formador recebe uma
mensagem convidando-o a formalizar a sua
candidatura preenchendo o seu curriculum
vitae. Para proceder a este passo o formador
tem que entrar na sua rea de trabalho e a
escolher a funo Inserir.
Funcionalidades do mdulo Pr-inscrio
(Candidatura a formando)
Este mdulo destinado a todos os
formandos que pretendam inscrever-se num
dos cursos existentes no programa. Desta
forma podem fazer um abordagem inicial
instituio sem que para isso tenham de se
deslocar pessoalmente at ao local.
A pr-inscrio consiste no preenchimen-
to de um questionrio que est divido em
429 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Figura 6 Pgina inicial do mdulo de formadores
Figura 7 Pgina de registo do sumrio e presenas em aula
430 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Figura 8 visualizao da assiduidade dos alunos
Figura 9 Planificao geral da disciplina
431 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
vrios passos e onde o formando inicialmen-
te comea por preencher o curso que pre-
tende, depois os dados pessoais e restante
informao considerada relevante para a
instituio de ensino.
Desenvolvimento de novas funcionalidades
para ensino assistido
Actualmente, a Secretaria Virtual j um
sistema de informao embrionrio de apoio
ao ensino assistido. Facilita a insero de
sumrios por parte dos formadores e divulga-
os aos alunos, controla presenas em aula e
possui outras funcionalidades descritas ante-
riormente, permite a gesto de horrios, etc..
Tendo em conta os objectivos propostos
de novas funcionalidades para apoio ao ensino
assistido, facultado aos formadores a
possibilidade de insero de uma planifica-
o global da disciplina que leccionam.
Assim, na rea da disciplina, o formador tem
a possibilidade de inserir, visualizar e alterar
algumas informaes relevantes para a dis-
ciplina, tais como Objectivos, Fundamenta-
o, Abordagem, Programa, Metodologia,
Avaliao e Bibliografia (Figura 9).
Em fase de anlise e desenvolvimento
encontra-se aquilo que foi denominado por
roteiros de aula. Tendo em conta a diver-
sidade dos alunos que aprendem na Escola
Aveiro Norte, surge a necessidade de se
reinventar o conceito de aula. Assim, pre-
tende-se que os formadores disponibilizem
materiais pedaggicos das suas disciplinas e
que os agreguem secretaria virtual, nas suas
disciplinas e segmentados por aulas.
Concluses
A secretaria virtual uma aplicao que
se encontra em pleno desenvolvimento desde
o incio de 2002. Constantemente, alvo de
reestruturaes e novos desenvolvimentos tais
como a aposta no ensino assistido.
Existem alguns pontos fracos que devem
ser tomados em considerao em actualiza-
es futuras, como por exemplo, a falta de
visibilidade em relao posio do utilizador
na aplicao, ou seja, neste momento no
existe nenhuma indicao sobre a localiza-
o e o que o utilizador est a fazer em
algumas funcionalidades.
Como podemos aferir de uma forma
bastante clara e objectiva, a relao existente
entre as ferramentas de ensino, os actores
envolvidos neste novo programa formativo
e materiais pedaggicos bem mais proble-
mtica do que o que poderia parecer numa
primeira anlise. A utilidade deste tipo de
ferramentas altamente dependente da
potenciao das suas funcionalidades. Pode-
se dizer que h uma relao de mutualismo
que ainda falta (e necessrio) gerar entre
professores e alunos de forma a criar um
ambiente realmente integrado de gerao,
disseminao e aquisio de conhecimento
de importncia formativa relevante. A solu-
o no nica nem unidireccional mas
pretende-se unificadora.
432 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Bibliografia
Vieira, Joo, Programao Web com
Activer Server Pages, Lisboa, Centro Atln-
tico, Janeiro 2000.
Capito, Zlia, Lima, Jorge Reis, E-
learning e e-contedos, Lisboa, Centro Atln-
tico 2003
Horton, E-learning Tools and Techniques,
Wiley, 2003.
SkillBeck, Malcom, Os Sistemas
Educativos face Sociedade da Informao
in Na Sociedade da Informao O que
prender na Escola?, ASA, 1999.
Magalhes, Jos, Perplexidades
Ciberlegislativas beira do III Milnio in
O Futuro da Internet: Estado da Arte e
perspectivas de Evoluo, Centro Atlntico,
1999.
_______________________________
1
Escola Superior Aveiro Norte, Universidade
de Aveiro.
2
Departamento de Electrnica e Telecomu-
nicaes, Universidade de Aveiro.
3
Escola Aveiro Norte, Departamento de
Electrnica e Telecomunicaes, Universidade de
Aveiro.
4
Plano Operacional Emprego, Formao e De-
senvolvimento Social.
433 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Elementos de Emoo no Entretenimento Virtual Interactivo
Nelson Zagalo
1
, Vasco Branco
2
, Anthony Barker
3
Introduo
O papel do entretenimento nos media,
assume para Vorderer (2001) trs funciona-
lidades fundamentais: a compensao ou
seja uma forma de escapismo nossa rea-
lidade social; a gratificao atravs da qual
se d lugar ao preenchimento de expectati-
vas e desejos que todos possumos e por fim
a realizao pessoal que se pode traduzir
por um enriquecimento e desenvolvimento da
pessoa como ser humano. O entretenimento
pode desta forma ser entendido como uma
experincia que fornece ferramentas para lidar
com a vida do quotidiano, uma forma de lidar
com a prpria realidade.
O entretenimento virtual interactivo in-
tegra-se neste universo dos media de entre-
tenimento pertencendo ao nicho dos novos
media. Sendo que o podemos aqui distinguir
de duas formas das suas congneres. A
primeira relativa ao factor interactividade
que o que mais o distancia do entreteni-
mento dos media tradicionais colocando em
causa os papis de autor/espectador (Ryan,
1994) ou alterando as regras na recepo de
testemunha para agente (Murray, 1997). A
segunda est ligada forma como em tempo
real o entretenimento virtual gerado por
computador (Laurel, 1991) sendo experimen-
tado a partir de um personagem/agente vir-
tual que reflecte todas as decises tomadas
pelo utilizador (Cavazza et al, 2001) possi-
bilitando ao utilizador a experincia do
ambiente na primeira pessoa em vez de uma
exclusiva simulao mental (Currie, 1995).
O problema e as hipteses
A incluso de interactividade na fico
tem encontrado enormes problemas no cum-
primento das trs funcionalidades do entre-
tenimento acima descritas. A pesquisa na rea
ao longo dos ltimos anos tem desenvolvido
vrias formas de abordar o problema, nome-
adamente atravs de: narrativas emergentes
(Ayllet, 1999), drama interactivo (Mateas,
2002), narrativa metalinear (Brooks, 1999),
modelos centrados no personagem (Riedl e
Young, 2003). Todas estas abordagens tm
contribudo para um maior conhecimento
sobre o funcionamento de uma possvel fico
interactiva. Da nossa investigao surge como
hiptese a emoo como a principal respon-
svel pela problemtica da integrao de
interaco na fico. Hiptese que at data
se apresenta como um fenmeno do ponto
de vista interactivo pouco estudado.
Nos media tradicionais, o cinema hoje
conhecido como a arte das emoes, sendo
mesmo reconhecido por Tan (1996) como
uma verdadeira mquina de emoes atra-
vs da qual no s vemos o que (os per-
sonagens) vem, como vemos a forma como
eles a vem, o que torna possvel uma
identificao emocional (p.32). Assim ao
assumirmos a realidade deste papel do ci-
nema conclumos que este provavelmente
o media com maior poder gerador de clas-
ses de indutores de emoo (Damsio, 1999).
A nossa hiptese inclina-se para o facto
de que se o entretenimento virtual como
media permite o mesmo acesso audiovisual
e que para alm desse possui ainda a pos-
sibilidade de interaco com todo o
ecossistema apreendido ento s podemos
esperar que a intensidade emocional aumen-
te.
A relevncia do estudo da emoo , nesta
pesquisa, definida pela capacidade de gerar
estmulos capazes de despoletar emoo no
utilizador e no na criao de um sistema
cognitivo de emoo integrvel em agentes
do cenrio de entretenimento. Ou seja pro-
curamos semelhana do que acontece com
o desenvolvimento do Aibo
4
, estabelecer os
elementos de gerao de emoo que pos-
sam suportar as concepes humanas sobre
personagens e/ou situaes da vida real
semelhantes aos apresentados e assim enco-
434 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
rajar a ligao entre o humano (Arkin, et
al, 2003) e o artefacto interactivo.
Estado actual da emoo
Em o O Erro de Descartes Damsio
(1994) lanou uma das suas mais fortes
teorias sobre a lgica da emoo, sendo esta
tambm aquela que mais nos interessa no
mbito do nosso estudo qual deu o conhe-
cido nome de Hiptese dos marcadores-
somticos. Segundo esta teoria, o processo
racional de tomada de decises condici-
onado por respostas emocionais observveis
que o sujeito usa como forma de despistar
a boa deciso da m deciso. Hiptese
que Damsio sustenta com a apresentao de
casos clnicos de sujeitos que perderam partes
do crebro ao longo da sua vida.
Em 1999, Damsio definiu a emoo
humana no prisma concreto da neurobiologia
como conjuntos complicados de respostas
qumicas e neurais que formam um padro
(p.72). Estas respostas usam o corpo como
teatro para alm de afectarem numerosos
circuitos cerebrais ou seja o padro
constitudo por modificaes profundas tan-
to ao nvel da paisagem corporal, como da
paisagem cerebral (p.73). Charlton (2000)
resumiu de forma bastante perceptvel este
processo:
se virmos aproximar um homem com
ar agressivo, esta imagem ir provo-
car a activao do sistema nervoso
simptico o que afectar o ambiente
interno do corpo atravs da sua aco
sobre os msculos e nveis hormonais.
Esta alterao do estado do corpo
correspondente emoo que ns
chamamos de medo conduz a padres
de activao de clulas nervosas no
crebro. As emoes so assim repre-
sentaes cognitivas de estados do
corpo que fazem parte do mecanismo
homeosttico... e influenciam o com-
portamento de todo o organismo.
Desta definio falta-nos perceber o modo
como damos significado, ou seja a estrutura
cognitiva que identifica a imagem daquele
homem como agressivo ou no. Para tal
recorremos Teoria da Simulao que nos
diz que os seres humanos possuem a capa-
cidade de prever e explicar o comportamento
dos outros utilizando a sua prpria mente,
constituda pela sua estrutura cognitivista,
para simular mentalmente as suas aces
(Gordon e Cruz, 2001). Esta teoria actu-
almente suportada com os ltimos trabalhos
na rea da neurocincia nomeadamente a
descoberta dos Neurnios Espelho (Gallesse
e Goldman, 1998).
Interessa ainda salientar para este estudo
a distino que Damsio (1999) faz entre
emoo e sentimento. A emoo definida
como uma representao externa do nosso
corpo visvel e pblica ao contrrio do sen-
timento que apenas ocorre num plano inter-
no atravs da experincia mental e privada
de uma emoo (p.62). nesta lgica que
assenta o facto de o nosso estudo versar as
emoes e no os sentimentos. Ao preten-
dermos estudar e aplicar padres de compor-
tamento sobre os nossos personagens virtu-
ais, interessa-nos para j que estes demons-
trem a emoo e no que possuam sentimen-
tos. Talvez no futuro a IA consiga dar esse
passo extremamente complexo.
A emoo no cinema
Analisemos agora de que forma o cinema
estimula as emoes do espectador. Para Tan
(1996) o espectador selecciona de toda a
informao recebida apenas aquela que o
afecta, que lhe interessa, aquela que de uma
forma imediata e espontnea o atinge como
significante. Ou seja a emoo surge apenas
quando informao que recebo atribuo
importncia, por sua vez significado. O acto
de seleccionar desenvolvido pelo especta-
dor num processo activo de inferncia ela-
borando significado a partir do filme de duas
formas distintas, quer atravs dos estmulos
da percepo quer atravs de esquemas
cognitivos constitudos por expectativas, co-
nhecimentos pr-adquiridos, processos de
resoluo de problemas e outros (Bordwell,
1985:31). Este processo cognitivo forma por
sua vez uma simulao no espectador mais
ou menos bem sucedida.
O processo da seleco de informao
relevante, ocorre sobre duas reas distintas
do filme, a primeira no plano diegtico a
segunda no plano do artefacto. No campo
435 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
diegtico grande parte da responsabilidade
recai sobre as costas dos actores que do vida
aos personagens. O processo de simulao
efectuado pelo espectador implica a identi-
ficao com os personagens, uma espcie
de empatia (Oatley,1999) e essa identifica-
o acontecer quanto mais prximo do real
o sistema emocional do actor ocorrer.
Stanislavski (1938) sobre a emoo no
actor diz que temos de usar as nossas
prprias emoes, sensaes, instintos...
quando estamos dentro de outra personagem
(p.52). desta forma que os actores elabo-
ram o seu papel, interiorizando o persona-
gem para depois se exteriorizarem a si
prprios dando vida ao personagem.
No segundo plano, o do artefacto ou no-
diegtico, temos a msica, a cinematografia,
a sonoplastia, a montagem e o enquadramen-
to como os mais relevantes. Todos estes
componentes se direccionam para a constru-
o de um artefacto com capacidade para
iludir emocionalmente o espectador de que
as situaes esto a decorrer em tempo real
sua frente. A sua funo assegurar que
a mensagem chega ao receptor. De uma certa
forma so elementos que geram estmulos
reconhecveis audiovisualmente por ns e que
facilitam o processo de simulao do mun-
do representado. Ao mesmo tempo que a
familiaridade facilita a comunicao esta
facilita tambm a imerso no filme o que
gera a noo compensatria de escapismo
ou seja uma perda de noo da realidade
circundante. Nos ltimos anos, o cinema de
entretenimento tem-se especializado na for-
ma como consegue activar respostas emoci-
onais espontneas atravs destes estmulos ao
escapismo que Mellmann (2002) define como
efeitos de realidade. Diz Mellmann que
quando de grande intensidade estes afectam
o nosso sistema de reflexos automtico, ou
seja, os estmulos porque assumidos como
reais vo directamente ao crebro e so
disparados imediatamente no sistema motor
como comandos neuroqumicos gerando dessa
forma o choro, posies de defesa, fechar os
olhos, encolher-se ou proteger a cabea.
Damsio (1999) diz mesmo que travar a
expresso de uma emoo to difcil como
evitar um espirro(p.69). Comportamentos
que de certa forma fundamentam as teorias
de Damsio sobre o valor da emoo na
manuteno da vida e ainda sobre a forma
como a emoo activada na maior parte
das vezes de forma no consciente. A sua
forma no consciente assim um dos motivos
pelos quais to difcil reproduzir uma
emoo o que vem realar e reforar a
capacidade e autenticidade do Mtodo de
Stanislavski na construo do personagem.
O filme e o videojogo
O filme e os videojogos analisados de
uma perspectiva cognitiva apresentam-se
como uma experincia que na sua essncia
possui enormes laos na elaborao da estru-
tura narrativa na recepo. Ora vejamos: a
experincia acontece em tempo real, apesar
das variaes temporais na fico apresen-
tada, a experincia como espectador/utilizador
decorre em tempo real; utiliza-se a tenso
e resoluo, ou seja aps situaes de tenso
so sempre oferecidas ou a vitria no caso
do jogo ou a resoluo intelectual/emocional
no caso do filme; utiliza-se a incerteza, no
jogo no se do todas as regras partida,
no filme os eventos so apresentados de forma
incompleta fazendo com que as regras e a
restante informao dos eventos sejam
fornecidas apenas medida que o tempo de
experincia passa; durante este tempo a
procura de padres uma constante comum.
Estas caractersticas podem ser resumi-
das num argumento de Tan (1996) em que
ele diz que a experincia de um filme tal
como no jogo conduzida cognitivamente
pela curiosidade ou interesse, obtendo prazer
medida que descobre ordem na resoluo
sobre o que vai sendo apresentado(p.34).
Assim o conflito ou tenso apresentam-se
como elementos fundamentais para a criao
de motivao no espectador/jogador, uma vez
que so estes os potenciadores do processo
de reduo de tenso (Tan, 1996). Um
processo que funciona como regulador da
emoo no espectador ao longo do filme
atravs do desenvolvimento de catarses de
pequena escala. Ou seja o filme de entre-
tenimento vai desenvolvendo tenses emo-
cionais ao mesmo tempo que vai apresen-
tando resolues. De uma certa forma esta
a perspectiva desenvolvida por Carroll
(1996) para quem o conflito se desenvolve
a partir de motivaes do filme que impli-
436 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
quem questes morais para o espectador. Esta
perspectiva tambm aceite por Zillmann
(1996) mas para quem condio necessria
que o espectador testemunhe o conflito sem
poder intervir. Vorderer (2000) sobre esta
condio diz que se o espectador pudesse
influenciar o conflito, o seu estado de ex-
perimentao mudaria para verdadeiras emo-
es de medo ou de esperana. Interpreta-
mos a palavra verdadeiras como mais
intensas, uma vez que em nossa perspectiva
as emoes despoletadas pelos media so
verdadeiras.
Analisadas as narrativas e tendo em conta
o argumento de Vorderer facilmente se elege
o videojogo como uma mquina ainda
mais poderosa de criao de emoes que
o cinema. Desta forma onde que falha o
poder emocional do videojogo? Porque que
as emoes no cinema so mais profundas,
intensas e duradouras? Porque que os
videojogos no conseguem, no mnimo,
despoletar toda a gama de emoes bsi-
cas
5
?
Os grficos 1 e 2 explicam o processo
como a emoo ocorre durante a experincia
de ver um filme ou jogar um videojogo,
atravs da anlise do parmetro da tenso
gerada no espectador ao longo do tempo da
experincia. Sendo que os pontos altos das
curvas representam momentos de resoluo,
por sua vez geradoras de reas emocionais
e as zonas inferiores representam de uma
forma geral zonas de explicao ou descri-
o da fico na qual as emoes so
maioritariamente neutras. Em cada grfico so
apresentados duas curvas, as curvas (A)
representam a resoluo final das narrativas
as curvas (B) representam as pequenas re-
solues ou catarses em pequena escala que
acontecem ao longo da experincia e que
fazem manter o sujeito motivado para a
grande e final resoluo do objecto em si.
Existem vrios pontos que distinguem este
processo aparentemente to parecido. A curva
(B) no videojogo oferece-nos uma curva com
picos de tenso, que representam a
efemeridade das resolues da tenso dos
videojogos criados em parte pela sua din-
mica de vitria ou objectivos predefinidos.
Por sua vez a sua efemeridade no tempo reduz
drasticamente a rea em que seria possvel
ocorrer o maior e mais intenso nmero de
emoes o que analisado em confronto com
a curva do filme explica as diferenas. No
que toca curva (A) no filme, ela exibe um
aumento gradual e ponderado desembocando
numa resoluo final com abertura suficiente
para o maior nmero possvel de emoes,
sendo que as pequenas resolues continuam
a acontecer mesmo depois da resoluo final
ter ocorrido em contraponto com o que sucede
no videojogo que ultrapassado o objectivo
final termina por completo a sua capacidade
de aco sobre o utilizador.
Face ao demonstrado por estes grficos
no ponto seguinte vamos explorar os elemen-
tos de emoo nos videojogos capazes de
produzir uma maior rea de emoo du-
rante os perodos de resoluo tendo em
considerao os elementos de emoo exis-
tentes no filme.
Os elementos
Dos elementos estudados resultou a clas-
sificao em 3 categorias de elementos dis-
tintas. A primeira denominada de persona-
gens compreende os elementos da matriz, da
voz e das expresses faciais; a segunda
corresponde ao ambiente e diz respeito
msica e perspectiva; a ltima categoria
o poder de deciso e integra os elementos
da semntica e do risco.
437 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
1. As personagens
1.1 Matriz de interaco
A importncia das personagens como
elemento emocional, no depende em grande
parte da motivao que as move ao longo
da narrativa, dessa forma devemos antes
explorar e expandir a relao entre as per-
sonagens e o utilizador. Ou seja, necessrio
criar uma ligao emocional forte entre os
personagens e o utilizador por forma a que
este possa estabelecer laos de empatia,
simpatia e preocupao que por sua vez
possam ser utilizados na regulao da emo-
o no utilizador. Para que se criem estes
laos existe a necessidade de proceder a uma
alterao na matriz de interaco social
(Goffman, 1959) presente actualmente nos
jogos. A matriz nos jogos actuais define-se
pela existncia de um protagonista e vrios
inimigos, matriz que impossibilita qualquer
interaco de carcter social necessria
construo dos personagens. Para que o
utilizador possa assumir o papel emocional
do protagonista necessita de saber qual
a sua personalidade e essa informao apesar
de poder ser dada no incio de um videojogo
necessita de ser constantemente reforada por
co-protagonistas o que implica o desenvol-
vimento de plataformas de comunicao
interpessoal (Zagalo et al, 2003).
muito difcil para o utilizador num jogo
realizar a identificao emocional que
ocorre no cinema porque ele no pode ver
o que o protagonista faz nem como faz, pelo
menos
6
, at ao momento em que o decide
fazer, ele pode ver sim a forma como os
outros o vem e como reagem. No entanto
o problema vai para alm da matriz uma vez
que em casos de grande sucesso e popula-
ridade como Final Fantasy X em que os
personagens formam uma equipa e funcio-
nam em conjunto o nvel emocional desses
personagens muito baixo, funcionando com
nveis prximos das escalas dos figurantes
de cinema.
1.2 Expresso facial
A ausncia de expresses faciais de
emoo apresenta-se como uma das mais
fortes causas de ausncia de padres emo-
cionais diversos nos utilizadores dos
videojogos. Ora vejamos aquilo que um
personagem pode comunicar a um utilizador
exclusivamente atravs de uma expresso
facial de emoo segundo Ekman (1997):
antecedentes; pensamentos; estado interno;
uma metfora; aquilo que o (personagem)
provavelmente far a seguir; aquilo que o
(personagem) quer que o (utilizador) faa;
ou uma palavra de emoo. Sendo a capa-
cidade comunicativa to alta, a sua ausncia
no poderia deixar de se fazer sentir na rea
de emoo do grfico 2. A mera expresso
facial de uma emoo permite inferir mais
sobre todo um videojogo do que qualquer
outro tipo de informao visual que se
pretenda adoptar. A expresso facial assim
parte integrante de toda uma linguagem
silenciosa (Hall, 1959) muito mais vasta, que
por motivos bvios no vamos poder abor-
dar aqui mas que nos servir de rumo a seguir
no futuro desta investigao.
1.3. A voz
A voz parte integrante dos seres hu-
manos e atravs dela podemos inferir recor-
rendo aos esquemas cognitivos o tipo de
situao emocional que se est expressar
(Scherer, 2001). Para que esta inferncia
ocorra necessrio que a relevncia emo-
cional de uma mensagem falada seja
conduzida atravs do seu contedo semn-
tico (o que dito) e pela prosdia afectiva
usada pelo falante (como dito)
(Vingerhoets et all, 2003). Ou seja, o que
acontece nos videojogos muitas vezes a
quase ausncia de prosdia afectiva o que
provoca um enorme factor de estranheza ao
mesmo tempo que alisa de forma drstica a
estrutura emocional da sequncia levando
sensao de ausncia de vida.
A prosdia e a semntica em conjunto
podem ser usadas para criar praticamente toda
uma diversidade de emoes vocais que
possam existir ao mesmo tempo que o seu
correcto uso ao nvel narrativo pode facil-
mente despoletar elementos de incerteza
atravs de variaes semnticas no acom-
panhadas pela prosdia esperada.
Relativamente conjugao da expres-
so facial com a voz esta produzir um acesso
muito mais evidente de identificao do
438 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
estado emocional do personagem (Cohn e
Katz, 1998) facilitando desse modo o seu uso
pela narrativa.
2. Ambiente
2.1 Msica
Tendo em conta que a funcionalidade da
msica no cinema o de fundamentalmente
agir como maestro de emoo (Zagalo et all,
no prelo) no se pode esperar que num
ambiente que tambm ele narrativo e
audiovisual o seu papel se altere. Isto , a
msica no deve ser entendida como
maximizadora de intensidade ou de diversi-
dade de uma situao emocional num
videojogo, ela deve ser antes percebida como
o elemento que conduz a emoo do utilizador.
A msica um elemento no diegtico ou seja
no interfere de forma objectiva sobre a aco,
age antes directamente sobre o sujeito indu-
zindo ou permeando informao que lhe
permite seleccionar da forma mais aproxima-
da possvel a emoo a activar, tendo isso
como natural repercusses sobre o poder de
deciso do sujeito.
A criao de msica para o entreteni-
mento interactivo apresenta claros proble-
mas uma vez que difcil determinar a
durao de uma certa sequncia emocional.
Segundo Casella e Paiva (2003) o problema
mais comum a msica a trabalhar contra
a narrativa... o que acontece quando o
utilizador recebe a pista errada da msica,
ou quando o utilizador prev o fluxo da
aco atravs de reconhecimento de padres
musicais. Para ultrapassar este problema a
Adaptive Music tem sido apontada como
uma possvel forma de soluo. Um forma-
to capaz de gerar msica em tempo real com
capacidade para se alterar com os estados
do jogo, possuindo ao mesmo tempo
instrues que evitam a repetio por forma
a no saturar o utilizador (Clark, 2001).
Podemos ver j alguma utilizao destes
algoritmos musicais a funcionar em Enter
the Matrix no que toca criao de exci-
tao e at algum suspense de forma mais
ou menos bem sucedida. Mas falta ainda dar
provas no que toca capacidade de condu-
o de uma maior diversidade emocional ou
seja a investigao tem de continuar.
2.2 Perspectiva
A perspectiva engloba aqui trs planos
distintos: o enquadramento, a montagem e
o ponto-de-vista. O ponto-de-vista por sua
vez engloba os outros dois planos uma vez
que so dependentes da perspectiva adopta-
da: primeira-pessoa ou terceira-pessoa.
No caso de adoptarmos um ponto-de-vista
de primeira-pessoa, tanto o enquadramento
como a montagem deixam de fazer sentido
uma vez que no podem ser aplicadas. A
primeira-pessoa permite apenas o enquadra-
mento nico podendo nesse plano executar
apenas aproximaes ou distanciamentos em
profundidade. Desta forma o utilizador que
aparentemente parecia ter um grande contro-
lo em primeira-pessoa tem afinal menos
opes. O relacionamento do utilizador com
o videojogo na primeira-pessoa acontece de
uma forma linear (Willson, 1997) em direc-
o ao mundo que pretende controlar, o
utilizador s pode ver o que personagem v.
Na terceira-pessoa o utilizador v o
mundo atravs da perspectiva do personagem
para alm da possibilidade de poder analisar
o mundo directamente. Ou seja, v o que o
personagem v e pode ver como ele v, o
que faz deste ponto-de-vista uma perspectiva
mais complexa ou seja mais rica em padres
e em hipteses de emoo. Neste contexto
possvel realizar enquadramentos do per-
sonagem, realizar planos e contra-planos de
uma interaco social, planos de pormenor
de determinados objectos, planos gerais do
local onde o personagem est. Todos estes
enquadramentos podem seguidamente ser
alvo de diferentes formas de edio que por
sua vez possuem capacidade para desenvol-
ver ritmos atravs de variaes de tempo
7
e espao
8
. A capacidade de produo de
enquadramentos e edio permitem quando
geridos dessa forma gerar emoo intensa no
espectador.
3. Poder de deciso
3.1 Semntica
A utilizao exclusiva de lgica matem-
tica comum nos jogos, no funciona nos
videojogos quando se pretende uma expan-
so emocional. Uma vez que esta apenas
439 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
propiciar picos de tenso sem muito espao para
reas emocionais (ver grfico 2). A invocao
de resoluo atravs da lgica por parte do
utilizador coloca-o numa esfera de abstraco
em relao natureza semntica da narrativa,
visto que este acaba por se deixar envolver na
sua teia mental de resoluo do padro acaban-
do por se retirar da situao emocional em que
o videojogo o pretenderia inserir inicialmente.
Assim quando o sujeito constri padres
mentais sobre o videojogo que enfrenta, no
devemos permitir que ele se interesse ou
melhor que ele sequer tenha conhecimento,
se deve ou no concluir a tarefa C antes de
B para poder chegar a A. Ou seja, no
interessa qual a lgica necessria ao cum-
primento dessas tarefas mas sim qual a
semntica dessa aco. Se C for apenas um
objecto que necessite ser encaixado em B
para que o utilizador avance para A, esta-
remos a dar ao utilizador unicamente um caso
de raciocnio baseado em unidades lgicas.
Se C um personagem que possui uma
necessidade qualquer (ex. ferimento) e se
torna necessrio ao utilizador ajudar C a
chegar a B (ex. hospital) ento estaremos a
lidar com uma questo de variveis morais.
Assim o utilizador ajuda C porque os seus
esquemas cognitivos simulam a aco como
importante para ele e no porque neces-
sria progresso no videojogo. Criou-se no
utilizador uma preocupao moral com o
decorrer da sequncia levando-o a agir sobre
o objecto C e desta forma sero despoletadas
vrias classes de emoes.
3.2. Risco
A emoo em Damsio tem uma funo
reguladora da vida do organismo porque esta
regula as decises que o sujeito precisa de
tomar em caso de risco. Decises essas que
so sempre tomadas em funo da avaliao
entre bom e mau que executada sobre a
situao. Assim para que exista risco
necessrio que exista uma situao dicotmica
que permita ao sujeito executar essa escolha.
Desta forma o risco na tomada de deciso
do utilizador est intimamente ligada
semntica da aco a tomar.
Assim e voltando ao exemplo do elemen-
to anterior, o videojogo precisa de dar ao
utilizador a possibilidade de este decidir
ajudar ou no, C a chegar a B se ele assim
o entender. O videojogo no pode bloquear
a progresso do utilizador unicamente por este
motivo, isto porque se o fizer incorre no
perigo de desvelar a verdade sobre o padro
lgico por detrs da operao semntica entre
C e B. Acontecendo o desvelamento a deciso
a tomar deixa de conter significado narrativo
e assim o risco emocional da fico desa-
parece para dar lugar ao raciocnio de lgica.
Ento para que o risco ocorra precisamos
de semntica que coloque em causa os valores
bem e mal no utilizador e que consequen-
temente possua castigos e recompensas (Ross,
2003). Assim se o utilizador decidir no
ajudar C ele poder continuar a sua progres-
so no videojogo, mas essa progresso ir
custar-lhe um castigo num perodo
indeterminado de tempo a seguir ao acon-
tecimento. Tendo em conta que num
videojogo tudo se desenrola muito rapida-
mente, no momento do castigo poderemos
usar tcnicas explicativas como o flashback
narrativo para que o utilizador perceba a razo
do castigo. A utilizao do castigo e da
recompensa fulcral para a criao do factor
risco. Por sua vez o factor risco aliado ao
factor incerteza permitir criar uma enorme
diversidade de indutores de emoo no
utilizador.
Perspectivas de futuro
Sendo este um trabalho em desenvolvi-
mento no mbito de um projecto de
doutoramento, o trabalho futuro ser dedi-
cado ao desenvolvimento de relaes com-
plexas entre os elementos de emoo e o
sistema cognitivo do utilizador com acentu-
ao na personagem e na perspectiva, aliado
investigao sobre especificaes de auto-
nomia e planeamento interactivo de elemen-
tos em ambientes virtuais.
440 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Bibliografia
Arkin, R., Fujita, M., Takagi, T.,
Hasegawa, R., (2003), An ethological and
emotional basis for humanrobot interaction,
in Robotics and Autonomous Systems 42
(2003) 191201.
Aylett , Ruth, (1999), Narrative in Virtual
Environments - Towards Emergent
Narrative, AAAI Fall Symposium on
Narrative Intelligence.
Bordwell, David (1985), Narration in the
Fiction Film, Routledge, London.
Clark, A., (2001), Adaptive Music, in
Gamasutra.com, [ultimo acesso:25/04/2004]
http://www.gamasutra.com/resource_guide/
20010515/clark_pfv.htm.
Brooks, KM, (1999), Metalinear
Cinematic Narrative: Theory, Process, and
Tool, MIT Ph.D. Thesis
Carroll, N., (1996), The Paradox of
Suspense, in Vorderer, et al, eds., Suspense:
Conceptualizations, theoretical analyses and
empirical explorations. Lawrence Erlbaum.
Casella P., Paiva A., (2003), Mediating
Action and Background Music, in Proc. 2nd
International Conference on Virtual
Storytelling, ICVS 2003, Toulouse, France.
Cavazza, M., Charles, F., and Mead, S.J.,
(2001), Characters in Search of an Author:
AI-based Virtual Storytelling, First
International Conference on Virtual
Storytelling, Avignon, France.
Charlton, B. (2000) Review of The
Feeling of What Happens: Body, Emotion and
the Making of Consciousness, [acesso:25/04/
2004], http://www.hedweb.com/bgcharlton/
damasioreview.html.
Cohn, J. Katz, G., (1998), Bimodal
expression of emotion by face and voice,
in Proceedings of the sixth ACM international
conference on Multimedia: Face/gesture
recognition and their applications.
Currie, Gregory, (1995) Image and Mind
Film, philosophy and cognitive science,
Cambridge University Press, Cambridge UK.
Damsio, Antnio (1994), O Erro de
Descartes, trad. Vicente, D. e Segurado, G.,
Pub. Europa-Amrica, Lisboa, 1995.
Damsio, Antnio (1999), O Sentimento
de Si, trad. M.F.M., Pub. Europa-Amrica,
Lisboa, 2000.
Ekman, P. (1997), Should we call it
expression or communication?, Innovations
in Social Science Research, 10, 333-344.
Gallese, V. e Goldman, A. (1998) Mirror
neurons and the simulation theory of mind-
reading, in Trends in Cognitive Sciences, vol
2, p 493.
Goffman, E. (1959), A apresentao do
eu na vida de todos os dias, trad. Pereira,
M., Relgio dgua, 1993.
Gordon, Robert M. e Cruz, Joe, (2003)
Simulation Theory, in Encyclopedia of
Cognitive Science, eds. Lynn Nadel, http://
www. umsl . edu/ ~phi l o/ Mi nd_Semi nar/
New%20Pages/papers/Gordon/np-enc.html
[ultimo acesso:25/04/2004].
Hall, E., (1959), Linguagem Silenciosa,
trad. Paraiso, M., Relgio dgua, 1994.
Mellmann, Katja, (2002), E-Motion:
Being Moved by Fiction and Media, in
PsyArt, [ultimo acesso: 25/04/2004], http:/
/ www. c l a s . u f l . e d u / i p s a / j o u r n a l /
2002_mellmann01.shtml.
Laurel, Brenda, (1991), Computer as
Theatre, Addison-Wesley Pub Co, 1999.
Mateas, M. (2002), Interactive Drama,
Art, and Artificial Intelligence, Ph.D. Thesis,
School of Computer Science, Carnegie
Mellon University, USA.
Murray, Janet, (1997) Hamlet on the
Holodeck: The Future of Narrative in
Cyberspace, MIT Press.
Oatley, K. (1999), Meetings of minds:
Dialogue, sympathy, and identification, in
reading fiction, Poetics 26 (1999) 439454.
Riedl, M., and Young, M., (2003)
Character-Focused Narrative Generation for
Execution in Virtual Worlds, in Proc. 2nd
International Conference on Virtual
Storytelling, ICVS 2003, Toulouse, France.
Ross, Don (2003), Game Theory, in
Stanford Encyclopedia of Philosophy, [ultimo
acesso:25/04/2004] http://plato.stanford.edu/
entries/game-theory/.
Ryan, Marie-Laure, (1994). Immersion
versus Interactivity: Virtual Reality and
Literary Theory, in Postmodern Culture,
September 1994.
Scherer, K. R., Banse, R., & Wallbott,
H. G. (2001). Emotion inferences from vocal
expression correlate across languages and
cultures, Journal of Cross-Cultural
Psychology, 32(1), 76-92.
441 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Stanislavski, C. (1938), A construo do
Personagem, trad. Lima, P.P., Civilizao
Brasileira, 1986.
Tan, Ed S., (1996), Emotions and the
Structure of Narrative Film: Film as an
Emotion Machine, Mahwah, NJ: Lawrence
Erlbaum Associates.
Vingerhoets, G., Berckmoes, C, Stroobant,
N., (2003) Cerebral Hemodynamics During
Discrimination of Prosodic and Semantic
Emotion in Speech, Ghent University,
Neuropsychology, Vol. 17, No. 1.
Vorderer, P., (2001) Its all
entertainment sure. But what exactly is
entertainment? Communication research,
media psychology, and the explanation of
entertainment experiences, in Poetics 29,
247261.
Vorderer, Peter, (2000), Conflict and
Suspense in Drama, in Media Entertainment
The Psychology of its Appeal, Ed. by
Zillmann, D. and Vorderer, P., Lawrence
Erlbaum Associates, New Jersey.
Willson, S., (1997) Applying Game
Design to Virtual Environments, in Digital
Illusion: Entertaining the Future with High
Technology, Addison-Wesley Pub Co.
Zagalo, N., Barker, A., Branco, V., (no
prelo), Esteretipos da Forma Narrativa de
Entertainment, Conferncia Internacional:
O Poder e a Persistncia dos Esteretipos,
Universidade de Aveiro, Portugal.
Zagalo, N., Branco, V., Barker, A.,
(2003), From the Necessity of Film Closure
to Inherent VR Wideness, in Proc. 2nd
International Conference on Virtual
Storytelling, ICVS 2003, Toulouse, France.
Zillmann, D. (1996), The Psychology
of Suspense in Dramatic exposition, in
Vorderer, et al , eds, Suspense:
Conceptualizations, theoretical analyses
and empirical exploration, Lawrence
Erlbaum.
_______________________________
1
Dept. de Comunicao e Arte, Universidade
de Aveiro.
2
Dept. de Comunicao e Arte, Universidade
de Aveiro.
3
Dept. de Lnguas e Culturas, Universidade
de Aveiro.
4
Co rob em desenvolvimento pela Sony.
5
Ekman e Damsio esto de acordo na
definio de seis emoes bsicas: alegria, tris-
teza, medo, clera, surpresa e desgosto.
6
Isto depende se o utilizador se encontra no
modo Primeira-pessoa ou Terceira-pessoa, este
modo ser debatido mais frente na discusso
sobre o elemento perspectiva.
7
Concentrao e Dilatao (Ex. efeito
matrix actualmente em voga nos videojogos).
8
As mudanas de plano do noes diferentes
de espao, podendo dessa forma dar diferentes
perspectivas de tamanho e ao mesmo tempo de
movimento.
442 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
443 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Rdio e Internet: novas perspectivas para um velho meio
Paula Cordeiro
1
En un mundo como el nuestro, donde
casi nada ya por inventar, las
principales sorpresas no las deparan
los nuevos usos que reciben viejos
inventos (BASSETS, 1981: 257)
A rdio um meio de comunicao
extraordinariamente rico, com uma narrativa
singular e para muitos, fascinante. Tradici-
onalmente conhecida como um meio imedi-
ato e irrepetvel, a rdio, com o advento da
Internet, pode redefinir-se.
O desafio das novas tecnologias tem sido
um factor de renovao para a rdio que, ao
longo dos ltimos anos, se tem vindo a
reinventar, quer ao nvel da produo, dos
contedos e das formas de recepo das
emisses. No momento actual, a rdio pode
incluir novos elementos na sua estrutura nar-
rativa, e desenvolver novas estratgias comu-
nicativas, suportadas pelas potencialidades que
a nova plataforma de comunicao oferece.
A introduo de sistemas multimdia vem
alterar a natureza da rdio, podendo
transform-la de tal forma que nos obrigue
a re-equacionar o conceito, questionando a
validade da definio do que a rdio e a
sua comunicao.
O digital veio modificar a forma e os
processos comunicativos, tornando-os mais
abrangentes, pela introduo de um modelo
multimeditico que permite a disperso e di-
versificao dos plos de enunciao e dos
enunciados produzidos. Sendo a rdio o meio
que ao longo da histria da comunicao mais
facilmente se adaptou aos novos cenrios
tecnolgicos, absorvendo-os para renovar a
tecnologia de comunicao radiofnica, como
ser que o desafio do digital est a ser
enfrentado por este meio?
O paradigma da comunicao moderna
encontra no digital o aspecto que introduz
a novidade e propicia a mudana, face aos
processos, meios e fenmenos que conhec-
amos at aqui.
O estilo hipermeditico agora utilizado
recorre a quase todos os recursos da comu-
nicao em rede, fazendo distinguir os meios
de comunicao modernos entre outros as-
pectos, pela interactividade, hiperligaes,
personalizao e actualizao constante.
O panorama radiofnico portugus tem
sofrido, ao longo dos ltimos anos, mudan-
as fundamentais de base essencialmente
tecnolgica. O momento actual de transi-
o, um momento particular na rdio por-
tuguesa, caracterizado essencialmente pela
mudana, ou pela existncia de elementos que
propiciam essa mudana.
Este momento vai seguramente aumentar
as potencialidades comunicativas da rdio e,
pelas suas caractersticas, transformar a r-
dio num meio essencialmente interactivo.
A evoluo tecnolgica ditou sempre
mudanas estruturais para a rdio, cujo sis-
tema tcnico evoluiu e condicionou, pela sua
mudana, o sistema de comunicao
radiofnico. A digitalizao implicou mudan-
as estruturais para a rdio, no campo da
captao e edio de sons, no trabalho dos
jornalistas e no modo de funcionamento das
redaces, mais ainda, pelas novidades decor-
rentes de novos sistemas para a emisso de
rdio.
No campo da recepo, a inovao mais
recente, o Digital Audio Broadcasting,
considerado uma verdadeira transformao
tecnolgica que vai contribuir para a mudan-
a da natureza da rdio. Em paralelo, a
Internet tem vindo a integrar o sistema de
comunicao da rdio, apresentando-se, no
momento, como um suporte complementar
para as emisses em FM. Para a rdio, a
Internet pode ser encarada tanto como con-
corrncia quanto como desafio, no sentido
da variedade que o mundo online oferece
(tendo como elemento central a world wide
web), e pelo desafio da adaptao ao novo
meio, na pesquisa, produo e difuso de
contedos.
444 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
A world wide web surge como elemento
fundamental neste contexto, enquanto supor-
te para os meios de comunicao e servios
que se vm desenvolvendo. Na web, encon-
tramos todo o tipo de servios, para con-
sulta ou comercializao, a par com apli-
caes de lazer e informao, que transfor-
mam o tradicional esquema da comunica-
o de massas. por esta razo que ao
pensarmos a relao da rdio com a Internet,
devemos considerar os aspectos que a
caracterizam e que influenciam a forma
como a rdio potencia a estrutura da sua
comunicao.
Uma vez que a Internet est a transfor-
mar a rdio, devemos ento, desenvolver
elementos de anlise deste impacto, consi-
derando as tecnologias e estruturas que
alteram a comunicao deste meio. Consi-
derando as possibilidades multimdia e
multimediticas deste sistema, quais sero
ento, os desenvolvimentos possveis para a
a Internet em si e a rdio em particular,
quando presente no mundo virtual?
Ao longo desta sumria anlise, procu-
ramos compreender a nova estrutura de
comunicao radiofnica, atravs dos ele-
mentos que tradicionalmente compem a
sua linguagem e as alteraes proporcio-
nadas pela integrao de vrios modelos
expressivos na extenso deste meio para
a Internet.
Em termos gerais, encontramos um qua-
dro analtico no qual prevalece um modelo
de emisso em Frequncia Modelada e outro,
ainda em evoluo, eminentemente conver-
gente. Este modelo, multimeditico, resulta
da tendncia integradora de meios e do
objectivo das empresas de estarem presentes
em todos os mercados da comunicao. A
rdio passa a oferecer servios que unem ao
som, elementos escritos e visuais e junta-se
a outros media para estar presente e respon-
der s solicitaes do consumidor multim-
dia.
A programao apresenta-se de carcter
generalista, mas deixa lugar para a emergn-
cia de um novo modelo de cariz temtico
que especializa cada emissora em contedos
monotemticos e que se reflecte para j, na
especializao musical de algumas estaes
de rdio.
Evoluo e modelos de rdio na Internet
O conceito de rdio na Internet, est ainda
por definir.
Uma rdio com texto e vdeo, foge ao
modelo tradicional, mas actualiza um forma-
to com cerca de oitenta anos de existncia
e fornece ao utilizador, que tambm o
ouvinte, um amplo conjunto de
potencialidades, que at aqui seriam
impensveis.
Avanar propostas para classificar as
formas que a rdio apresenta na Internet, pode
fazer-se recorrendo aos termos que esto
associados a esta nova realidade tecnolgica,
usando-os para estabelecer eixos de orien-
tao nesta anlise.
As emissoras que tm uma presena
mnima na rede podero enquadrar-se num
modelo testemunhal, relativo a websites que
nos indiquem apenas as informaes essen-
ciais sobre a estao, sem transmisso em
directo das emisses.
Outro, multimeditico, corresponde aos
operadores que exploram a Internet parale-
lamente emisso regular, assumindo a sua
presena na rede como mais um canal de
difuso que transforma a rdio num modelo
de comunicao multimdia.
H tambm um esquema telemtico, que
se apresenta exclusivamente on-line, com
servios prprios, vulgarmente designado
webradio.
Na rdio, a Internet comeou por ser
utilizada essencialmente como ferramenta de
trabalho. A partir da sua produo para as
ondas hertzianas, muitas estaes comearam
a disponibilizar os seus contedos na Internet
em websites prprios sem aumentarem nada
ao formato inicial. Posteriormente, as esta-
es comearam a produzir contedos espe-
cficos para a Internet, e surgiram projectos
a operar exclusivamente neste novo meio de
comunicao, sendo este o estgio que se
desenvolve na actualidade.
Decorrendo em paralelo, mas num nme-
ro menor de websites, o mais recente esque-
ma operacional disponibiliza os seus conte-
dos exclusivamente na Internet, sem emisso
por ondas hertzianas e pode utilizar todas as
potencialidades que a Internet oferece, na
construo um produto completamente di-
445 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
ferente, para o qual subscrevemos a desig-
nao utilizada de webradio.
O modelo multimeditico caracteriza-se
essencialmente por uma utilizao da Internet
enquanto suporte adicional para a rdio, uma
extenso que serve de montra para a
estao, no qual so apresentados os seus
principais aspectos.
Na actualidade, o formato FM faz a ponte
entre a comunicao udio e o website da
estao rdio, apelando visita, pela suges-
to de contedos e pela solicitao de
mensagens via correio electrnico.
Para esta abordagem, a consulta e anlise
dos websites de estaes e cadeias de rdio
nacionais levou-nos a concluir que o website
de uma estao de rdio dever traduzir-se
na representao de uma estrutura paralela
que no deve ser confundida com o seu
formato tradicional.
Na Internet, a rdio afasta-se do seu
conceito original e, no website, pode apre-
sentar servios distintos da emisso
radiofnica, estabelecendo uma nova estru-
tura, mais rica e variada que concorre di-
rectamente com o formato tradicional da
rdio.
A classificao dos tipos de rdio pode
fazer-se de acordo com perfil editorial da
estao: rdios generalistas nacionais (Rdio
Renascena, Rdio Clube Portugus, RFM,
Antena 1) e locais; temticas sendo que a
designao mais correcta ser, especializadas
-: nacionais (a antiga Comercial,
2
Mega FM,
Best Rock FM), locais (Mix) e cadeias (TSF);
rdios com existncia exclusiva na rede (exem-
plos existentes no Cibertransistor do website
Telefonia-Virtual, ou no Cotonete).
Todas elas devem reflectir no website
aquilo que se passa em antena, construindo-
o de acordo com o seu perfil editorial. Cada
estao que coloca a sua pgina on-line
deveria pensar nas vantagens multimdia e
apropriar-se das combinaes possveis entre
som e imagem, oferecendo a possibilidade
de escutar material udio em arquivo. Uma
rdio generalista nacional dever ter a infor-
mao que faz a actualidade, sem esquecer
as referncias sua programao.
3
O website de uma rdio dever sempre
estimular a visita e o regresso do utilizador,
apresentando contedos com interesse e
relevncia para o seu pblico.
Partindo do princpio que as pessoas
visitam o website para ficar a conhecer alguns
aspectos relativos prpria estao emisso-
ra, a generalidade das rdios em anlise aposta
na apresentao da sua programao, infor-
mao sobre locutores e jornalistas, bem
como dados relativos playlist, passatempos
e algumas notcias. A maior parte das esta-
es centra as suas preocupaes nestas
questes, tornando estas pginas numa es-
pcie de montra da estao, onde se podem
ficar a conhecer os principais aspectos da
rdio, sem aprofundar nenhum deles, ou dar
informaes complementares, relativas
rdio, msica e informao.
O modelo telemtico - webradio
4
Na Internet, a rdio rene msica, infor-
mao e publicidade, em paralelo com outros
componentes como animaes, imagens
estticas ou em movimento. Os novos su-
portes permitem a introduo de componen-
tes (grficos, tabelas, fotografias, textos
escritos, imagens de vdeo) que vm com-
plementar a informao disponibilizada pelo
meio. Este aspecto vai obrigar a uma adap-
tao a esta nova forma de comunicar, com
recursos que vo permitir produzir uma
mensagem to completa quanto possvel.
O caminho a traar para a webradio
mais complicado, porque so projectos que
vivem exclusivamente na Internet e podem
redefinir o prprio conceito de rdio, pelas
possibilidades que o visitante no conseguir
encontrar no formato tradicional e pela
difuso das emisses escala mundial.
partida, uma webradio transforma-se
num meio essencialmente visual.
Depende da qualidade grfica do seu site
para atrair os visitantes. Os novos sistemas
de difuso para a rdio desenvolvem novas
formas e expectativas. So rdios que resul-
tam da integrao do multimdia num su-
porte tambm novo, o nico que permite a
convergncia de meios. O esquema de fun-
cionamento da rdio alterado, apresentan-
do os seus contedos de forma diferente
preparados de acordo com o percurso que
o site tem para oferecer, atravs de hipertexto
e hiperligaes.
As caractersticas da maior parte destas
rdios obrigam-nos a pensar em novas desig-
446 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
naes para o conceito, pois em muitos casos
difcil precisar at que ponto no passaro
estes projectos de uma mera oferta de con-
tedos para a rede, ainda sem definio
concreta.
O novo modelo comea a desenhar-se,
mas est ainda em desenvolvimento, no
sendo possvel, por enquanto, saber a me-
dida exacta dessa nova rdio.
Quando esta revoluo digital estiver
concluda, ser possvel para a rdio voltar
a concentrar a sua ateno nos contedos e
servios que a vo acabar por definir, dife-
renciando as estaes e procurando atender
s necessidades individuais e sociais.
Aquilo que durante tanto tempo marcou
a especificidade da rdio face aos restantes
meios de comunicao social, dever conti-
nuar a ser a principal aposta da webradio. As
webradios podem fundar uma nova modali-
dade, colocando os ouvintes/utilizadores como
produtores da comunicao. Tirando partido
da interactividade que a Internet oferece, estes
so estimulados a produzirem e emitirem os
seus programas, transformando a concepo
tradicional da rdio.
O modelo multimeditico na rede
A integrao de prticas precedentes tem
sido comum na evoluo dos meios de
comunicao. A rdio socorreu-se do cinema
e da imprensa para compor uma nova es-
trutura comunicativa, da mesma maneira que
numa primeira fase, a Internet integrou os
meios existentes. A rdio instalou-se na rede,
desenhou a sua identidade em sites na web
e passou a participar da comunicao no
ciberespao, contribuindo para a evoluo da
Internet enquanto meio.
Face convergncia dos meios de comu-
nicao social num s suporte, a rdio pode
representar um dos diversos canais deste novo
meio de comunicao, que se evidencia pelo
estmulo participao dos seus utilizadores
e deita por terra a passividade da audincia.
Mesmo no seu suporte em FM, as estaes
de rdio tm implementado sistemas de
comunicao que favorecem a interactividade
entre produtores e receptores, numa estrat-
gia de acompanhamento das novas modali-
dades comunicativas que a Internet veio
estabelecer.
O estilo multimeditico agora utilizado
recorre a quase todos os recursos da rede,
como a interactividade, as hiperligaes, som
e imagem, personalizao e actualizao
constante, aspectos que no encontramos no
formato tradicional da rdio.
Na impossibilidade de uma descrio
exaustiva dos melhores exemplos para ilus-
trar o modelo multimeditico, a escolha recaiu
sobre um website que, no sendo uma es-
tao de rdio, congrega os principais aspec-
tos desta frtil relao: www.cotonete.iol.pt.
O Cotonete um portal de msica que
parte de uma estrutura idntica de uma rdio
para promover e divulgar artistas e produtos
da indstria fonogrfica.
um projecto do grupo de comunicao
Media Capital, que, um pouco semelhana
do projecto Usina do Som,
5
incentiva o
utilizador construo da sua prpria rdio,
definindo-a em todos os seus aspectos.
No Cotonete, o utilizador que decide
o que pretende ouvir, a partir de uma se-
leco que se organiza em seces diferen-
tes. Neste website esto reunidas variadas
informaes do universo musical, como
notcias, reportagens e entrevistas. O
utilizador pode aceder a uma base biogrfica
dos principais artistas, discografias e letras
das canes. O website disponibiliza tambm
a escuta de excertos das msicas.
Encontramos tambm estaes pr-pro-
gramadas que abrangem todos os gneros
musicais. Para alm das estaes criadas e
com emisso exclusiva para a Net (Baladas,
Cotonete, Dana, Pop Rock, Teen, Alterna-
tiva, Clssica, Cotton Club, Fado e Portu-
guesa) as rdios do grupo Media Capital esto
tambm disponveis para escuta (Comercial,
Nostalgia, Cidade, Mix e Nacional). Entre
esta variedade de oferta, encontramos ainda
os canais, um sistema diferente das rdios.
No h, contudo, a possibilidade de escutar-
mos outras rdios para alm destas.
O projecto convida personalizao em
todos os aspectos do website, de forma a
garantir o melhor servio ao utilizador, dando-
lhe a hiptese de criar as suas rdios, ter as
suas notcias, ver o seu perfil e guardar as
suas msicas. A partir de O meu Cotonete
o utilizador pode definir as notcias e as
msicas que deseja consultar, criando um
perfil e uma rdio, se assim o desejar. Esta
447 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
uma das principais propostas deste projec-
to, dando aos ouvintes a possibilidade de
escolherem as msicas que mais gostam, a
partir de uma gigantesca base de dados
musical, que est em constante actualizao.
Entre os servios proporcionados pelo
Cotonete, destacamos a seco comprar.
Tirando partido das plataformas de rede e
da convergncia multimdia, o Cotonete
comercializa bilhetes para espectculos e
discos de msica.
Concluso
As sinergias que as novas tecnologias
permitem, acabam por transformar no s a
forma como se processa a comunicao, mas
a prpria essncia dos meios de comunica-
o. Promove-se uma nova discursividade,
pela combinao de elementos de linguagens
diferentes, menos singular, mas contudo, mais
rica, por via da utilizao multimdia na
construo da sua mensagem.
A extenso da rdio para a Internet,
acarreta algumas transformaes nas princi-
pais caractersticas deste meio que assim se
aproxima da especificidade da comunicao
na Internet, mantendo em relao rdio
tradicional, a difuso sonora.
O modelo multimeditico, aqui analisa-
do, comprova a fase de transio que a rdio,
enquanto meio, atravessa.
Os modelos coexistem e no h ainda uma
afirmao do multimdia sobre o FM, para
alm de que as estaes criadas para emisso
exclusiva na Internet esto ainda a procurar
a sua identidade, no sendo, para j, uma
ameaa ao sistema que prevalece.
Neste novo modelo, o sistema expressivo
da rdio decompe-se e multiplica-se, adi-
cionando mais elementos ao som, num
caminho que poder vir a desvirtuar a sua
importncia e transformar o website de uma
rdio num espao multimdia onde a emis-
so radiofnica apenas mais uma das
propostas que a rdio tem para oferecer.
No modelo multimeditico, a imediatez
da rdio mantm-se, mas a mensagem pode
ter dados adicionais que o suporte udio no
comporta e que esto disponveis nas dife-
rentes unidades que compem o website da
estao.
Os contedos das rdios na Internet
enquadram-se numa estrutura tecnolgica que
lhe permite diversas ligaes, numa extenso
de um mundo de informao ilimitada,
documentada e de fcil acesso a bases de
dados especializadas. A ligao ao arquivo
uma nova esfera da comunicao, possi-
bilitada pelo on-line e que vem desvirtuar
a instantaneidade da comunicao
radiofnica.
Os recursos hipermdia representam a
possibilidade de interagir com o pblico e
a estao, num processo de intercmbio que
recorre aos fruns de discusso, salas de
conversao, correio electrnico, votaes e
comentrio de notcias, para tornar o ouvinte
num elemento que passa a poder fazer parte
da construo das emisses, aproximando-se
do conceito de produtor da comunicao.
A expanso dos sistemas de difuso,
comporta a fragmentao das audincias que
se dividem em funo do aumento do n-
mero de estaes emissoras e da diversifi-
cao dos seus contedos. A escuta de pro-
gramas em diferido e a seleco entre os
vrios canais que a rdio na Internet pode
disponibilizar resulta num consumo diferen-
ciado, de acordo com os interesses e neces-
sidades de cada indivduo.
A tecnologia veio permitir a ampliao
da difuso e uma maior capacidade de
armazenamento, favorecendo a utilizao em
funo daquilo que os ouvintes/utilizadores
determinem. Esta estrutura favorece a cria-
o de novas formas de organizao dos
contedos e a personalizao, pela definio
da informao que cada utilizador recebe por
correio electrnico, ou da estrutura da pgina
de entrada do website.
No geral, as estaes de rdio apresen-
tam websites criados em funo das expec-
tativas dos utilizadores, mas no tm ainda
uma componente de informao e servios
que autonomize o website em relao ao FM.
A escuta em directo, agenda de espectculos
e acontecimentos, notcias, informao bi-
ogrfica sobre os artistas, informao sobre
o tema que est a tocar no momento e os
temas da playlist, descrio com fotografia
da equipa que faz a rdio em FM, so os
aspectos mais comuns nas rdios nacionais
enunciadas para esta anlise.
448 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
A possibilidade de interaco entre a
audincia e os profissionais da rdio
potenciada na Internet, pelo recurso que
algumas estaes fazem aos fruns de dis-
cusso e salas de conversao. Para alm
destes aspectos, a rdio na Internet pode
afastar-se do seu conceito original e apre-
sentar formas de transferncia de msicas ou
ficheiros, ou estabelecer esquemas de
comercializao de produtos e servios ou
de alguns contedos do site, estabelecendo
uma nova estrutura que concorre directamente
com o formato tradicional da rdio.
La radio sigue teniendo la ventaja
de la instantaneidad, proximidad,
calidez, frescura... (...) Internet supone
un nuevo medio de comunicacin pero
tambin un aliado. Es un escenario
de experimentacin de formas de
comunicarnos que anteriormente slo
tenan cabida en las hojas de un diario,
un receptor de radio o un aparato de
televisin; ahora este medio sintetiza
todo ello y se abre a nuevas y
emergentes audiencias. (La radio
como modelo de participacin demo-
crtica, Benjamn F. Bogado (2002):
ht t p: / / www. s a l a de pr e ns a . or g/
art198.htm.)
A rdio na Internet desenvolve modali-
dades interactivas e constri um sistema
dialgico que altera tanto o modelo comu-
nicativo da rdio como o comportamento das
audincias. Cabe ao ouvinte a deciso de
navegao pelo website da estao, assim
como a seleco da emisso ou da consulta
dos menus diponveis, programando aquilo
que deseja escutar, transformando o conceito
de ouvinte num mais alargado que se poder
entender por utilizador.
A rdio afasta-se do seu conceito original
e assume uma configurao multimdia que s
a Internet pode oferecer. A convergncia das
tecnologias instaura novos formatos para ve-
lhos contedos, e obriga ao progressivo desen-
volvimento do sistema de comunicaes. Num
futuro prximo, a rdio na Internet poder ser
banalizada a partir do momento em que o
sistema digital se generalizar. A inovao mais
recente, o sistema digital de radiodifuso (DAB
Digital Audio Broadcasting), abre perspec-
tivas at aqui nunca pensadas para a rdio, pela
flexibilidade de um sistema inovador, cujos
limites ainda no so conhecidos.
449 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Bibliografia
1. Livros
Balle, Francis (1999) Mdias et Socits,
9 ed., Paris, Montchrestien.
Bassets, Llus (1981) De las Ondas Rojas
a Las Radios Libres, Barcelona, Gustavo Gili.
Belau, Angel Faus (1981) La Radio:
introduccion a un medio desconocido, 2 ed.,
Madrid, Latina Universitaria.
Herreros, Mariano Cebrin (2001) La
Radio en la Convergencia Multimedia,
Barcelona, Ed. Gedisa.
Rodrigues, A. D. (s/d) O Campo dos
Media, Lisboa, Vega.
2. Documentos Electrnicos
Digital Audio Broadcasting (DAB): a
Rdio do ano 2000, Jos Manuel Nunes (s/
d), Observatrio da Comunicao http://
w w w . o b e r c o m . p t / r e v i s t a /
josemanuelnunes.htm (19.04.01).
Radio Station Web Site Content: an in
depth look, Larry Rosin e Janel S. Shul
(2000), Arbitron
http://www.arbitron.com/downloads/
radiostationwebstudy.pdf (10.09.02).
La radio como modelo de participacin
democrtica, Benjamn F. Bogado (47,
Setembro de 2002, ano III, vol. 2), Sala de
Prensa, http://www.saladeprensa.org/
art198.htm, (12.10.02).
_______________________________
1
Universidade do Algarve.
2
Na actualidade, a Rdio Comercial no
temtica e a rdio que aparentemente a vem
substituir no campo temtico (Best Rock FM)
emite apenas em Lisboa e no Porto. Contudo,
tanto a Mega FM, como a Best Rock FM, por
emitirem fora de Lisboa, so consideradas para
as medidas de audincia ao nvel nacional.
3
semelhana da TSF, que tem uma es-
pcie de portal de informao, a Rdio Renas-
cena tem uma pgina que se apresenta quase
como um portal informativo, sem esquecer a pro-
gramao. Cada estao do grupo tem um do-
mnio prprio onde esto contedos diferenci-
ados. Contudo, para que o website da Rdio Re-
nascena se possa assumir como um portal,
dever fazer referncia aos diferentes projectos,
desenvolvendo contedos que poderiam ser
actualizados pelas equipas das respectivas esta-
es.
4
A UBI tem um projecto exclusivamente on-
line RUBIWEB em http://www.rubi.ubi.pt,
que nasceu de uma parceria da Universidade da
Beira Interior e a Universidade Pontifcia de
Salamanca.
5
De acordo com os dados na apresentao do
site, o Usina do Som um dos maiores fenmenos
da Internet no Brasil, apresentando, em mdia, 215
milhes de page views/ms, 120 mil unique visitors
por dia, mais de 1,3 milho de utilizadores
registados e mais de 2 milhes de rdios pessoais
criadas. Com pouco mais de um ano de existncia,
o site firmou-se como o primeiro e maior na
categoria de msica no Brasil. (http://
www.usinadosom.com.br, 25.09.02).
450 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
451 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Critrios de qualidade para revistas cientficas
em Cincias da Comunicao: reflexes para a PORTCOM
Sueli Mara Soares Pinto Ferreira
1
1. REVCOM uma proposta da
PORTCOM
A REVCOM Coleo Eletrnica de
Revistas em Cincias da Comunicao - inclui
peridicos cientficos, vinculados a institui-
es de pases de lngua portuguesa publi-
cados na forma impressa e/ou eletrnica, que
arrolem predominantemente artigos resultan-
tes de pesquisa cientfica original e outras
contribuies originais significativas para as
Cincias da Comunicao.
Coordenada pela PORTCOM/
INTERCOM
2
, esta coleo tem como objetivo
geral: contribuir para o desenvolvimento da
pesquisa cientfica nos pases de lngua
portuguesa, por meio do aperfeioamento e
da ampliao dos recursos de disseminao,
publicao e avaliao dos seus resultados,
fazendo uso intensivo da publicao
eletrnica. Em sntese, pretende aumentar a
visibilidade, a acessibilidade e a credibilida-
de nacional e internacional da publicao
cientfica em cincias da comunicao dos
pases de lngua portuguesa; bem como
colaborar para o aumento do impacto a nvel
internacional da produo cientfica lusfona,
atuando diretamente no processo de comu-
nicao cientfica.
A estratgia assumida para o desenvol-
vimento desta coleo REVCOM pode ser
sintetizada em quatro fases:
(1) Delineamento do projeto e seleo de
metodologia para publicao eletrnica de
peridicos cientficos;
Em relao a primeira fase, a PORTCOM
conta com a parceria do Projeto SCIELO da
BIREME Centro Latino Americano e do
Caribe de Informao em Cincias da Sade,
que cedeu a Metodologia SciELO para a
preparao, armazenamento, disseminao e
avaliao de peridicos cientficos em for-
mato eletrnico. Segundo Antonio e Parker
(1998) esta metodologia formada por
mdulos integrados que possibilitam, ao
mesmo tempo, a publicao de textos com-
pletos de artigos, seu armazenamento em
bases de dados e sua recuperao eficiente
e imediata. Inclui tambm um mdulo para
o controle e a medida de uso de peridicos
na Internet, assim como de seu impacto
mediante a produo de relatrios, a partir
dos quais especialistas podero analisar a
literatura cientfica includa na coleo. Esses
relatrios so baseados em indicadores e
critrios quantitativos e em tcnicas e m-
todos bibliomtricos. Tem como princpios
para seu desenvolvimento o compromisso
com normas nacionais e internacionais, sin-
cronizao com os avanos internacionais no
campo das publicaes eletrnicas e uso
intensivo de tecnologias de informao e co-
municao adequadas a Amrica Latina e
Caribe (BIJONE, 1999).
(2) Desenvolvimento do prottipo piloto
com revistas representativas da rea;
Para a implementao do prottipo piloto
- fase 2 - a REVCOM assumiu os critrios
de qualidade definidos pelo Sistema QUALIS
2001 da Fundao CAPES, convidando para
participar deste prottipo as seis revistas bra-
sileiras consideradas Nvel A Nacional. Foram
estabelecidos documentos de parcerias,
manuais de procedimentos para o envio dos
textos pelas revistas parceiras e critrios e
cronogramas de trabalho para a publicao
eletrnica, pela equipe PORTCOM, dos
fascculos das revistas parceiras de 2001 at
2003.
(3) Definio de critrios de qualidade
para as revistas da coleo; e
Com este prottipo em desenvolvimento,
passou-se para a fase 3 referente ao estabe-
lecimento e incorporao de critrios de
qualidade e normalizao para revistas cien-
tficas seguindo padres internacionais de
primeira linha. Para o estabelecimento destes
critrios vrias atividades e estratgias esto
sendo desenvolvidas, entre elas (a) a anlise
dos peridicos inseridos no prottipo, (b)
452 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
avaliao e adequao dos critrios interna-
cionais rea de cincias da comunicao,
(c) validao junto a representantes da co-
munidade e editores cientficos da rea e,
finalmente, (d) homologao pelo Comit
Consultivo da REVCOM composto por re-
presentantes da rea de publicaes peridi-
cas eletrnicas e de instituies fortemente
comprometidas com o desenvolvimento do
ensino, pesquisa e extenso na rea de
Cincias da Comunicao.
(4) Implantao final da coleo com base
nos critrios definidos.
Corresponde a ltima fase do projeto
quando se ter delineado os procedimentos
finais da coleo, de modo a possibilitar a
entrada, seleo e manuteno de todos os
peridicos interessados em ingressar, garan-
tindo a qualidade da coleo e da prpria
ferramenta de disponibilizao on-line.
No contexto da 3. Fase desse projeto
REVCOM definio de critrios de qua-
lidade para as revistas da coleo foi
realizado um estudo com cinco revistas
cientficas em cincias da comunicao, de
modo a identificar as caractersticas e com-
portamento das revistas da rea e levantar
algumas reflexes quanto adequao dos
padres internacionais para a rea de comu-
nicao.
A sntese desse estudo, objeto desse paper,
ser descrita em termos da metodologia
adotada, definio da amostra, anlise dos
dados coletados das revistas da amostra,
resultados e pontos para reflexo.
1.1. Metodologia adotada
Os estudos de critrios de qualidade de
peridicos identificados na literatura brasi-
leira, de maneira geral, enfocam a avaliao
quanto aos aspectos de forma dos peridicos
e/ou de mrito das revistas conforme suge-
rido pelos prprios pares, associando-se
pontuaes e mensuraes classificatrias
para se chegar a tabelas de nveis de desem-
penho (modelo desenvolvido por Braga e
Oberhofer em 1982, posteriormente, valida-
do por outros estudos como Castro e Ferreira,
1995 e Krzyzanowski e Ferreira, 1998).
Como o estudo, relatado nesse paper, no
tem pretenso avaliativa e sim de anlise da
situao atual, ou seja, o levantamento de
problemas, dificuldades, falta de normaliza-
o adequada rea e critrios para trabalho
coordenado e cooperativo; optou-se por uma
composio e adaptao do modelo menci-
onado com sistemticas adotadas por insti-
tutos nacionais e internacionais especializados
na temtica (SCIELO/BIREME, 2002; ICSU,
1999; QUALIS/CAPES, 2001; CINDOC,
2001) e ainda respaldo nas vrias normas
nacionais como internacionais existentes
3
.
Deste modo, foram definidas como va-
riveis de estudo:
- aspectos de forma - incluindo anlise
das partes da revistas, instrues aos autores,
periodicidade, normalizao, layout, difuso,
regularidade de publicao, periodicidade etc;
- tipologia de contedo e autoria - in-
cluindo identificao dos tipos de trabalhos
publicados nas revistas e procedimentos de
apresentao e seleo (artigos originais/
reviso e/ou atualizao, formatao dos
trabalhos, padronizao com base em nor-
mas cientficas nacionais e internacionais, re-
viso pelos pares, comit editorial) e crit-
rios de endogenia (diversidade de pesquisa-
dores, instituies e localidades vinculadas
autoria dos trabalhos publicados).
1.2. Definio da amostra
A amostra selecionada visou abranger um
conjunto de publicaes produzidas por
instituies de diferentes escopos (associa-
o cientfica e universidade), de abrangncia
diversificada, de pelo menos dois pases
diferentes e que cobrissem tanto o formato
impresso como o eletrnico. Assim, as re-
vistas selecionadas foram:
(1) Revista Brasileira de Cincias da
Comunicao. INTERCOM => 03 fasccu-
los 2001: v.24, no. 2; 2002: v.25, nos 1
e 2.
(2) Galxia: revista transdisciplinar de
comunicao, semitica, cultura. Programa
de Ps Graduao da Pontifcia Universida-
de Catlica de So Paulo => 03 fascculos
2001: no. 2; 2002: no.4 e 2003: no. 5.
(3) Media & Jornalismo. Centro de
Investigao Media & Jornalismo da Univer-
sidade do Minho, Portugal => 02 fascculos
2002: vol.1, no. 1 e 2003: vol.2, no.2.
(4) Studium. Laboratrio de Media e
Tecnologias de Comunicao da UNICAMP
453 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
(http://www.studium.iar.unicamp.br/) => 03 fas-
cculos 2002: nos. 10 e 11 e 2003: no. 12.
(5) Contracampo. Programa de Ps
Graduao em Comunicao da Universida-
de Federal Fluminense => 03 fascculos
2000: vol.05, 2001: vol.06 e 2002: vol. 07.
2. Anlise dos dados coletados das revistas
da amostra
A anlise dos dados ser apresentada
conforme as variveis de estudo definidas na
metodologia acima descrita, ou seja, quanto
aos aspectos de forma das revistas e tipos
de contedo e autoria dos artigos includos
nestas revistas.
2.1 Quanto aos aspectos de forma das
revistas
Os aspectos formais das revistas foram
analisados segundo a normalizao da publi-
cao peridica no todo, a normalizao dos
fascculos, e as instrues ao autor, apresen-
tados a seguir (quadros 1 a 3).
2.2 Quanto ao tipo de contedo e autoria
No que tange anlise de endogenia,
quantificao e qualificao de contedo
foram observadas as variveis: identificao
de autoria e sua relao com tipologia de
contedo (quadros 4 a 5).
3. Principais resultados
De maneira geral, a anlise dos ttulos
de peridicos sob o critrio da forma como
a revista est normalizao e distribuda (do
desempenho), possibilitou visualizar que:
- boa parte das regras e normas prescritas
em documentao da ABNT ou outras ins-
tituies normativas internacionais no esto
sendo observadas pelas revistas brasileiras de
maneira geral ou esto sendo absorvidas em
partes e/ou de maneira diferente da conven-
cional em outras reas. Por exemplo: a
maioria das revistas no utiliza a identifica-
o cronolgica corretamente, os ttulos das
revistas apresentam divergncia em diferen-
tes registros (CCN Catlogo Coletivo
Nacional - e ISSN International Standar-
dization Serial Number), a legenda bibliogr-
fica de cada revista est apresentada de forma
diferente, o endereo completo das revistas
no aparece em trs dos cinco ttulos, etc..
- em vrias situaes as revistas no
seguem as normas e regras que elas prprias
estabeleceram, como por exemplo, as infor-
maes sobre forma de contato com o autor
principal variam de fascculo para fascculo
ou dentro do mesmo fascculo.
- h uma adequao deficiente de pala-
vras-chave, podendo ser ocasionada pela falta
de vocabulrio controlado ou tesauro na rea
de comunicao, o que respaldaria os autores
e editores na seleo de termos mais ade-
quados, consistentes e normalizados.
- inexistncia de uniformidade na elabo-
rao das referncias bibliogrficas, que
constam nas instrues aos autores mas que
no so monitoradas pelos editores.
J quanto tipologia de contedo e
autoria, foi identificada:
- ausncia de consenso em relao
definio e caracterizao do que seja, por
exemplo, um artigo classificado como in-
dito para a rea de comunicao e como
deve ser sua estrutura de elaborao, orga-
nizao e apresentao (resumo, objetivo,
metodologia, resultados entre outros).
- ausncia de lgica na organizao da
linha editorial entre as revistas e em alguns
casos, entre seus prprios fascculos. A lgica
de organizao das revistas, observada em
outras reas do conhecimento, por tipos de
documentos (artigos, resenhas, comunicados),
o que no est presente na maioria das revistas
da rea de comunicao.
Considerando que as normas internacio-
nais preconizam que a caracterizao de
cientificidade de uma revista medida com
base no nmero mnimo de artigos inditos
publicados por fascculos, bem como a diver-
sificao mnima da procedncia institucional
dos seus autores; a somatria das caracters-
ticas apontadas acima no permitiu essa anlise
na amostra (quais e quantos artigos publica-
dos nas revistas analisadas eram inditos e
procedncia dos autores).
4. Consideraes finais - pontos para
reflexo
Embora tendo as restries apresentadas,
o estudo feito e aqui apresentado, possibili-
454 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
2.1.1 Normalizao da publicao peridica no todo (capa, lombada, sumrio, legenda, ISBN,
periodicidade entre outros).
Quadro 1 - Normalizao da Publicao Peridica:
(NBR6021 Publicao peridica cientfica impressa apresentao)
: A O T N A U Q S A M R O N S A T S I V E R S A D O A U T I S
, a d a b m o l , s a p a c s a d o i s o p m o c a r a p s a r g e R
, e c i d n , l a i r o t i d e , o i r m u s , a t a r r e , o t s o r e d a h l o f
, o c i f r g o t e j o r p
a l e c r a p a n e u q e p m e u g e s s a d a s i l a n a s a t s i v e r s A
. R B N a t s e r o p s a d i n i f e d s a m r o n s a d
a c i g l o n o r c o a c i f i t n e d I
. ) s a r t u o , e i r s , a c o p , s o r e m n , s e m u l o v , o n a (
e e m u l o v e d s e a t o n a z i l i t u a t s i v e r a m u e t n e m o S
u o e m u l o v u o m a z i l i t u s i a m e d s A . o r e m n
s e r o d a c i f i t n e d i s i a m e d s O . o r e m n / o l u c c s a f
, . c t e e i r s , a c o p o m o c s o d a n o i c n e m s o c i g l o n o r c
. s o d a z i l i t u o s o n
a c i f r g o i l b i b a d n e g e L
o u o ( a m r o n a a v r e s b o s a t s i v e r s a d a m u h n e N
l a c o l o n t s e a d n e g e l a u o , o d a r r e t s e o d e t n o c
e s o d a r r e o t s e l a c o l o e o d e t n o c o u o o d a r r e
o n a t s i v e r a d a d n e g e l m t s a m u g l A . ) s o t e l p m o c n i
. s o g i t r a s o d a d n e g e l o n s a m , o d o t
N S S I
. N S S I o n o r t s i g e r m t s o l u t t s o s o d o T
o g r o a o t n u j o a r e t l a e g i x e o l u t t e d a n a d u M
a m U . o t i e f o d i s m e t e r p m e s m e n o t s i e r o d a l u g e r
. N S S I o n e N B S I a l g i s a a z i l i t u s a t s i v e r s a d
o t e l p m o c o e r e d n E
o e r e d n e o e c e r a p a s a t s i v e r s a u d s a n e p a m E
o d s e t n e r e f i d s e r a g u l m e s a m , o t e l p m o c
e t n e m o s m a c o l o c s o l u t t s n u g l A . o d a d n e m o c e r
, a d a n m a c o l o c o n s o r t u o , s e r o t i d e s o d o e r e d n e
u o m u m e o a m r o f n i a d s e t r a p m a c o l o c s o r t u o
. o l u c c s a f o r t u o
a t i c l p x e e d a d i c i d o i r e P
, o a m r o f n i a t s e m a t n e s e r p a s a t s i v e r s a d o r t a u Q
. s i a c o l s o t n i t s i d m e s a m
o t n e m a i c n a n i F
e d a i c n t s i x e a m a t n e m o c s o l u t t s i o d s a n e p A
. o t n e m a i c n a n i f
u o s i a n o i c a n s o d a d e d s e s a b m e o a x e d n I
s i a n o i c a n r e t n i
o a x e d n i a a n o i c n e m a t s i v e r a m u e t n e m o S
, ) l i s a r B ( A T A D T R O P / M O C T R O P e s a b a n
. ) d a n a C ( r o t a c i d n I / A C F I e ) o c i x M ( C I D E N E C
e d a d i r a l u g e r e s a t s i v e r s a d a i c n t s i x e e d o p m e T
. s o l u c c s a f s o d o a c i l b u p a n
m t n a m s a d a s i l a n a s a t s i v e r s a d s r T
a m u ( o a c i l b u p e d e d a d i c i d o i r e p a n e d a d i r a l u g e r
s o n a 3 a r t u o , s o n a 5 2 h j e t s i x e s a l e d
m t n a m , s i a m e d s A . ) s o n a 2 a r i e c r e t a e
e d s o n a 6 0 s a l e d a m u o d n e t ( r a l u g e r r i e d a d i c i l b u p
. ) s r t a r t u o a e a i c n t s i x e
s a c e t o i l b i b s a i r v m e a n e s e r P
l a n o i c a N o v i t e l o C o g o l t a C N C C (
. ) s a c i d i r e P s e a c i l b u P e d
, N C C o n s a d i r e s n i o t s e s a t s i v e r s a u d e t n e m o S
m e t s a l e d a m u s a n e p a e u q o d n e s
. s a r i e l i s a r b s a c e t o i l b i b m e a n e s e r p e d % 5 7
) o i u b i r t s i d e d a m r o f ( o s u f i D
s e a m r o f n i m e u l c n i s a t s i v e r 3 0 s a n e p A
a r u t a n i s s a a r a p s o d a i r p o r p a s o i r l u m r o f e
. s a t s i v e r s a d
455 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
2.1.2 Normalizao dos fascculos (sumrio, ttulo abreviado, referncia, publicidade, peri-
odicidade).
Quadro 2 - Normalizao de Fascculos:
(NBR6022 Artigo em publicao peridica cientfica impressa apresentao)
: A O T N A U Q S A M R O N S A T S I V E R S A D O A U T I S
) e g n l i b u o / e s u g u t r o p e t n e m o s ( o i r m u S
m e o i r m u s m a t n e s e r p a s a t s i v e r s a s a d o T
m u a t n e s e r p a s a l e d a m u s a n e p a e s u g u t r o p
. ) s l g n i / s u g u t r o p ( e g n l i b o i r m u s
a t s i v e r a d o d a i v e r b a o l u t T
a u s m a t n e s e r p a s a d a s i l a n a s a t s i v e r s a d a m u h n e N
l a n o i c a n r e t n i o a z i l a m r o n a o d n i u g e s a r u t a i v e r b a
. ) 2 3 0 6 R B N ( l a n o i c a n u o
s a c i f r g o i l b i b s a i c n r e f e R
s a i c n r e f e r s a a t n e s e r p a a t s i v e r a m u s a n e p A
o r d a p m u o d n u g e s s a d a z i l a m r o n s a c i f r g o i l b i b
. o d i c e h n o c
o a m a r g a i d , s a n u l o c s a d o t n e m a h n i l a t u o y a L
. l a u s i v e d a d i t n e d i e l i c f
o r d a p m u m e t s a d a s i l a n a s a t s i v e r s a d o r t a u Q
. s o l u c c s a f s u e s e d t u o y a l o a o t n a u q
a c i n r t e l e o a c i l b u P / o s s e r p m I
o a c i l b u p u o o a n r e d a c n e m a t n e s e r p a s a d o T
m o c s n e g a m i s a d o t n e m a t a r t e a c i n r t e l e
. e d a d i l a u q
h e s , s o g i t r a e p m o r r e t n i e s , e t s i x e e s ( e d a d i c i l b u P
) o i r t i c i l b u p e l a i r o t i d e o d e t n o c e r t n e o n i t s i d
, e d a d i c i l b u p i u s s o p a t s i v e r a m u s a n e p A
. o d e t n o c o d a d a i c n e r e f i d e t n e m a r a l c a l e o d n e s
, o a c i l b u p e d r a l u g e r o l a v r e t n i ( e d a d i c i d o i r e P
) o n a r o p s o l u c c s a f e d o r e m n
s a n e p a , a v o n s a d a s i l a n a s a t s i v e r s a d a i r o i a m A
s a d o t s a M . s o n a s o t i u m h e t s i x e j s a l e d a m u
. r a l u g e r e d a d i c i d o i r e p m t n a m
456 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
2.1.3 Instrues ao autor (nome do autor, ttulo, resumo, palavras-chave, endereo, filiao
entre outros)
Quadro 3 - Quanto as Instrues Oferecidas aos autores
: A O T N A U Q S A M R O N S A T S I V E R S A D O A U T I S
o g i t r a o d o l u t T
o d n a s i v o g l a a t n e m o c a t s i v e r a m u s a n e p A
. ) e t n o f e d o l i t s e ( o a t a m r o f a r a z i n o r d a p
s o d o a t n e s e r p a e d a m r o f a e r b o s s e u r t s n I
r o t u a a d a c e d s e m o n
. o u r t s n i a t s e a t n e s e r p a s o l u t t s o d m u h n e N
r o t u a a d a c e d a c i m d a c a o a l u t i T
s a M . o u r t s n i a t s e a t n e s e r p a s o l u t t s o d m u h n e N
a m u e d e d a d i s s e c e n a m a n o i c n e m s o l u t t s r t
. a d i m u s e r a i f a r g o i b
r o t u a o d m e g i r o e d o i u t i t s n I
o a l u c n i v e o l u t t a t i c i l o s o l u t t m u s a n e p A
. a c i m d a c a
m e t e u q o i u t i t s n i u o o t n e m a t r a p e D
o h l a b a r t o l e p o t i d r c
o u r t s n i z a r t s o d a s i l a n a s o l u t t s o d m u h n e N
. o t i s e u q e t s e a o d n a u q
o d e t n o c o l e p l a r o t u a e d a d i l i b a s n o p s e R
o u r t s n i z a r t s o d a s i l a n a s o l u t t s o d m u h n e N
. o t i s e u q e t s e a o d n a u q
l e v s n o p s e r r o t u a m o c o t a t n o c e d a m r o f e e m o N
, o e r e d n e e d o i v n e o a t i c i l o s o l u t t m u s a n e p A
. o t a t n o c a r a p l i a m e e e n o f e l e t
) 8 2 0 6 - R B N ( o d a r u t u r t s e o m u s e R
. s a m o i d i s e t n e r e f i d m e e
s a s a m , o m u s e r m a t i c i l o s s a t s i v e r o r t a u Q
a u s a m e g n i r t s e r e s o a r o b a l e e d s e u r t s n i
e s a h n i l e d o r e m n e d s o m r e t m e , a m r o f
s a t s i v e r s a u d , a m o i d i o a o t n a u Q . s e r e t c a r a c
/ s u g u t r o p ( e u g n l i r t o m u s e r m a t i c i l o s
, ) s c n a r f / s l g n i / s u g u t r o p e l o h n a p s e / s l g n i
a d a n a m i t l a e ) s l g n i / s u g u t r o p ( e g n l i b a m u
. a n o i c n e m
s a i c n e r e f e r a r a p a m r o N
a r a p d r a v r a H a m r o n a a c i d n i a t s i v e r a c i n a m U
a t s i v e r a r t u O . s a i c n r e f e r s a d o a r o b a l e
o r d a p a i c n r e f e r e d s o l e d o m s n u g l a a t n e s e r p a
. T N B A
e d o e l e s a r a p s o i r t i r c e r b o s o a t i c i l p x E
s o h l a b a r t
m u m e u s s o p s o d a s i l a n a s o l u t t s o d o r t a u Q
. l a i r o t i d E o h l e s n o C
e v a h c - s a r v a l a p / s e r o t i r c s e d r a i r c a r a p o a t n e i r O
e d o r e m n o a o t n a u q m a t n e i r o s a t s i v e r o r t a u Q
e s o h l a b a r t s o n o d u l c n i r e s a e v a h c - s a r v a l a p
s a M . s a m s e m s a d a m o i d i o a o t n a u q m b m a t
m u g l a e d o s u o a o t n a u q a t n e i r o s a l e d a m u h n e n
. o r u a s e t u o o d a l o r t n o c o i r l u b a c o v
o d a n o i c a l e r o t n e m a i c n a n i f r a c i d n i a r a p o a t n e i r O
o d a c i l b u p r e s a o h l a b a r t o a
s a t s i v e r s a d a m u h n e n m e o n e m h o N
. s a d a s i l a n a
o a c i l b u p a r a p s o t i e c a s a m o i d i s o d o a c i d n I
s o g i t r a e d e t i e c a o a n o i c n e m a t s i v e r a m u s a n e p A
. s u g u t r o p o o n e u q a m o i d i o r t u o m e
457 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
2.2.1 Identificao de autoria nos artigos das revistas (afiliao do primeiro autor, resumo
estruturado, data de aceitao, data de edio, palavras-chave entre outros).
Quadro 4 - Identificao de autoria nos artigos das revistas
2.2.2 Tipologia de contedo e de autoria (nmero de autores individuais, estrangeiros, nmero
de artigos inditos, total de autores, total de artigos dentre outros).
Quadro 5 - Tipologia de Contedo e Autoria
: A O T N A U Q S A M R O N S A T S I V E R S A D O A U T I S
r o t u a o r i e m i r p o d o a i l i f A
o d o a i l i f a a m a c i d n i a r t s o m a a d s a t s i v e r o r t a u Q
. r o t u a o r i e m i r p
s e r o t u a s o d o t e d o a i l i f A
s o d o a i l i f a a m a c i d n i a r t s o m a a d s a t s i v e r o r t a u Q
s o l u c c s a f s o s o d o t , e t n e m a s o i r u c s a m , s e r o t u a
m a h n i t n o c a r t s o m a a d s a t s i v e r s r t e d s o d a s i l a n a
. a c i n a i r o t u a e d s o g i t r a
l e v s n o p s e r r o t u a o d o e r e d n E
s A . o a m r o f n i l a t m a c o l o c s a t s i v e r s a u d s a n e p A
m o c s o g i t r a s n u g l a m a t n e s e r p a s r t s a r t u o
. o n s o r t u o o a c i f i t n e d i
) s a m o i d i s e t n e r e f i d m e , o d a r u t u r t s e ( s o m u s e R
m a t n e s e r p a s a d a s i l a n a s a t s i v e r s a d o r t a u Q
. o d a r u t u r t s e s e l e d m u h n e n s a m , o m u s e r
o l e p o t x e t o d a m o i d i o n e t s i x e e s ( s e r o t i r c s e D
s o r t u o m e e t s i x e e s , s i a n i g i r o s o g i t r a s o n s o n e m
) s a m o i d i
o n e v a h c s a r v a l a p m a t n e s e r p a s a t s i v e r o r t a u Q
e v a h c s a r v a l a p m e t a t s i v e r a m u , s u g u t r o p a m o i d i
a r t u o e ) l o h n a p s e / s l g n i / s u g u t r o p ( e u g n l i r t
a t s i v e r a m u s a n e p A . ) s l g n i / s u g u t r o p ( e u g n l i b
. s e v a h c s a r v a l a p i u l c n i o n
r o t i d e o l e p o t n e m i b e c e r e d a t a D
a t s e a t n e s e r p a a t s i v e r a m u h n e n e t n e m a c i t a r P
m u e d o l u c c s a f o c i n m u m e s a n e p A . o a m r o f n i
. o d a d l a t u e c e r a p a s o l u t t s o d
o a c i l b u p a r a p o a t i e c a e d a t a D
a t s e a t n e s e r p a a t s i v e r a m u h n e n e t n e m a c i t a r P
m u e d o l u c c s a f o c i n m u m e s a n e p A . o a m r o f n i
. o d a d l a t u e c e r a p a s o l u t t s o d
o s i v e r e d a t a D . o a m r o f n i a t s e a g l u v i d a t s i v e r a m u h n e N
: A O T N A U Q S A M R O N S A T S I V E R S A D O A U T I S
e u q o s i v e r e d e s i a n i g i r o s o g i t r a e d o r e m N
s o r i e g n a r t s e s e r o t u a e d o a r o b a l o c m a t n e s e r p a
o g i t r a m u a i d m m e m a t n e s e r p a s a t s i v e r s a d s r T
. o r i e g n a r t s e r o d a r o b a l o c m u m o c
s a p o d s e i u t i t s n i s a r t u o e d s e r o t u a e d o r e m N
s e r o t u a e t n e m a c i t a r p m a t n e s e r p a s a t s i v e r s a d s r T
. s e i u t i t s n i s a r t u o e d
s o g i t r a e d l a t o T
s e r o t u a e d l a t o T
o g i t r a r o p s e r o t u a e d a i d M
o l u c c s a f r o p s o g i t r a e d a i d M
o g i t r a r o p s e r o t u a e d o m i x M
e t n e m a t a x e e u q o r a c i f i t n e d i e d e d a d i l i b i s s o p m i A
u o n r o t . c t e o a c i n u m o c a m u , l a n i g i r o o g i t r a m u
. l e v s s o p m i m e g a t n o c a t s e
s i a n i g i r o s o g i t r a e d . o N
o s i v e r e d s o g i t r a . o N
o a z i l a u t a e d s o g i t r a e d . o N
e t n e m a t a x e e u q o r a c i f i t n e d i e d e d a d i l i b i s s o p m i A
u o n r o t . c t e o a c i n u m o c a m u , l a n i g i r o o g i t r a m u
. l e v s s o p m i m e g a t n o c a t s e
s o d e t n o c e d s o p i t s o r t u O
, s a i v r p s a t o n e s e a c i n u m o c , s a h n e s e R
, ) s a i f a r g o i b e s a t o n m o c ( s o i r t n e m o c , s a t s i v e r t n e
, o t e j o r p , o g o l i d , o i r i c i t o n , m u r f , s a i r m e m
, s t c a r t s b a , s o m u s e r , s e s n e c e r , s o s r u c r e p , s a i c t o n
s a d n o d e r s a s e m
458 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
tou o levantamento de alguns pontos bsicos
e iniciais para se discutir a problemtica das
revistas cientficas em cincias da comuni-
cao sob duas perspectivas:
A revista como um todo:
quais critrios seguir para a avaliao
qualitativa dos contedos publicados na rea?
Se o objetivo da pesquisa original e vlido
cientificamente? Se os procedimentos utiliza-
dos e o delineamento experimental so apro-
priados para responder s questes propostas?
Se os dados experimentais possuem qualidade
suficiente para serem interpretados dentro do
contexto dos objetivos? Se os resultados
justificam as concluses indicadas pelos
autores? Se os resultados e as concluses so
relevantes para questes importantes estuda-
das por outros investigadores da rea?
as normas padronizadas pela comunidade
cientfica nacional e internacional, no que se
refere ao formato de apresentao das publi-
caes peridicas no esto sendo seguidas
porqu? Elas no contemplam as especificidades
da rea de cincias da comunicao?
O contedo da revista:
do ponto de vista da tipologia dos
trabalhos, como alcanar consenso na rea
sobre os conceitos: artigo indito, artigo de
acompanhamento, artigo de reviso etc? Faz
sentido o uso desta terminologia para a rea?
Quais so os tipos de trabalhos mais ade-
quados rea?
os parmetros j existentes de organi-
zao e apresentao de contedos dos ar-
tigos cientficos (resumo, introduo,
objetivo, metodologia, resultados e conclu-
so) so adequados para a rea de cincias
da comunicao? Por exemplo: faz sentido
a exigncia de um resumo estruturado para
a rea?
Anlises complementares ao estudo de
mrito devem ser feitas, buscando observar
a representatividade e nvel cientfico do
editor e do comit editorial, a percepo dos
pesquisadores quanto ao carter cientfico da
revista, predominncia de artigos frutos de
pesquisa ou reflexo originais, exaustividade
e atualidade nos artigos de reviso e debates,
qualidade dos textos em relao
metodologia e estrutura, processo de arbitra-
gem e importncia da revista para o desen-
volvimento da rea.
459 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Bibliografia
ABEC/Associao Brasileira de Editores
Cientficos. Normas de Documentao Apli-
cveis a Publicaes Peridicas e a Artigos
Cientficos. Disponvel em: http://www.abec-
editores.com.br/normas.htm.
Antonio, Irati; Packer, Abel. Seminrio
sobre Avaliao da Produo Cientfica: Re-
latrio Final. Cincia da Informao [online].
1998, vol. 27, no. 2. Disponvel na World
Wide Web:<http://www.scielo.br/ISSN 0100-
1965.
Biojone, Mariana Rocha. El Modelo
SciELO. In Reunin de Coordinacin Regi-
onal de la Biblioteca Virtual en Salud, 1
[online]. Washington, 1999. Disponvel na
World Wide Web: <http://www.bireme.br/bvs/
reuniao/E/public.htm>.
Braga, G,M.; Obherhofer, A. Diretrizes
para a avaliao de peridicos cientficos e
tcnicos brasileiros. Rev. Lat., n.1, p.27-31,
ene./jun.1982.
Castro, R.C.F.; Ferreira, M.C.G. Peri-
dicos latino-americanos: avaliao das ca-
ractersticas formais e sua relao com a qua-
lidade cientfica. Cincia da Informao,
Braslia, v.25, n.3, p.357-67, set./dez. 1996.
ICSU Press. Consejo Internacional para
la Ciencia. Committee on Dissemination of
Scientific Information. Guia para
Publicaciones Cientficas. traduzido por
Daniella vila. Francia: 1999. Disponvel em:
ht t p: / / as s oci ns t . ox. ac. uk/ ~i cs ui nf o/
SpGuidelines.htm. [Acesso em 03.mar. 2003].
Krzyzanowski, R.F.; Ferreira, M.C.G.
Avaliao de peridicos cientficos e tcni-
cos brasileiros. Cincia da Informao,
Braslia, v. 27, n. 2, p. 165-175, maio/ago.
1998.
Macias-Chapula, C.A. The role of
informetrics and scientometrics in the
National and Internacional Perspective. Paper
presented in Scientific Literature Evaluation
Seminar, So Paulo, Mar 4-5, 1998. So
Paulo: FAPESP/BIREME, 1998.
Martn-Sempere, M.J. Papel de las revistas
cientficas em la transferncia de conocimientos.
In: Romn, A.R., coord. La edicin de revistas
cientificas: gua de buenos usos. Madrid: Centro
de Informacin y Documentacin Cientfica
CINDOC (CSIC), 2001.
Russeell, J.M. Publication indicators in
Latin America revisited. In: CRONIN, B. and
BARSKY, H.; eds. The Web of Knowledgde:
a festschrift in honor of Eugene Garfield.
New Jersey:ASIS Monograph Series.
Information TOday, Inc. Medford, 2000. p.
233-246.
_______________________________
1
Departamento de Biblioteconomia e Docu-
mentao da ECA/USP; Coordenadora da Portcom.
2
PORTCOM Rede de Informao em
Cincias da Comunicao dos Pases de Lngua
Portuguesa. INTERCOM Sociedade Brasileira
de Estudos Interdisciplinares da Comunicao.
URL: http//www.portcom.intercom.org.br/revcom.
3
Demais normas no site da ABEC Asso-
ciao Brasileira de Editores Cientficos
Normas de Documentao Aplicveis a Publi-
caes Peridicas e a Artigos Cientficos - http:/
/www.abec-editores.com.br/normas.htm.
460 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
461 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Banco de dados como metfora para o
jornalismo digital de terceira gerao
Suzana Barbosa
1
1. Introduo
Na terceira gerao do jornalismo digi-
tal
2
ou terceira onda do jornalismo online -
como prefere classificar Larry Pryor
3
(2002)
- que caracterizada no s por operadores
e equipes mais sofisticados, maior integra-
o dos usurios na produo dos contedos,
proliferao de plataformas mveis e, sobre-
tudo, pela utilizao de novos softwares
capazes de habilitar poderosas formas de
publicao e formatos de produtos, as apli-
caes para a implementao de contedo
mais original, contextualizado e multimdia
passam pela adoo de estruturas de bancos
de dados inteligentes e dinmicos, funcionan-
do a partir da lgica descentralizada que rege
as redes telemticas, especificamente a
internet.
Neste contexto, cabe considerar, para tais
aplicaes, a adoo de um conceito de
bancos de dados tal qual prope Lev
Manovich na obra The language of new media
(2001). Para ele, o banco de dados um
complexo de armazenagem de formas cul-
turais, constituindo-se no centro do processo
criativo ou na principal forma de expresso
cultural da era dos computadores e podendo
ser trabalhado a partir das possibilidades de
criao de novos gneros e narrativas.
Especialmente no que concerne produ-
o da informao jornalstica, os bancos de
dados, principalmente os chamados bancos
de dados inteligentes e dinmicos
4
, podem
contribuir para a gerao de uma maior
variedade de contedos, mais adaptados s
caractersticas de um produto digital, consi-
derando os elementos que conferem
especificidades para o jornalismo, tais como:
multimidialidade, hipertextualidade,
personalizao, interatividade, memria e
atualizao contnua (Bardoel & Deuze, 2000;
Palacios, 1999, 2002).
Pensamos isso no apenas quanto a se
ofertar contedos mais contextualizados, onde
se explore gneros como a notcia, a entre-
vista, as colunas de opinio, crnicas, e a
reportagem, como tambm na perspectiva de
se trabalhar o potencial do suporte digital para
a consolidao de outros gneros ou hbridos
entre gneros. Como exemplo, citamos a
fotografia, o arquivo, a infografia, os mapas,
que podem ser pensados num sentido mais
amplo no mais em duas dimenses como
na superfcie da pgina impressa, mas em
trs dimenses, considerando o entorno
multimdia e o espao navegvel que dife-
renciam o ciberespao. Ademais, no custa
lembrar: a qualidade do contedo relaciona-
se diretamente com a capacidade de criao
de novos produtos, cujos gneros e narra-
tivas habilitem o estabelecimento de relaes
entre os diferentes atores.
2. Banco de dados: nova metfora para
formas culturais
Certamente, o status atribudo por Lev
Manovich aos bancos de dados pode ser
criticado por alguns como equivocado, fruto
de uma viso que enaltece o determinismo
tecnolgico. No entanto, a sua proposio nos
permite perceber outras potencialidades para
os bancos de dados, que, at ento, eram
vistos apenas como uma tima soluo para
estruturao e estocagem de informaes,
permitindo a sua consulta e recuperao. Indo
alm, Manovich vai afirmar que o banco de
dados da computer media completamente
diferente da coleo tradicional de documen-
tos e, juntamente com o espao navegvel,
torna-se uma das formas
5
que atualmente
podem ser encontradas na maioria das reas
ou dos objetos da chamada nova mdia.
A nova mdia segundo definida por
Manovich - surge a partir da sntese entre
a computao e a tecnologia da mdia e tem
o computador como principal instrumento
afetando todos os estgios da comunicao:
aquisio, manipulao, armazenamento,
462 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
distribuio e convergncia e cujo resultado
a mudana de toda a cultura para formas
de produo mediadas pelo computador. Os
objetos da nova mdia tanto podem ser novos
como os j existentes que tm sua forma
afetada pelo uso do computador. Na migra-
o para o ambiente do computador, ele diz,
a coleo de dados e o espao navegvel
incorporaram tcnicas particulares para a
estruturao e acesso dos dados ou informa-
es:
So, for instance, a computer database
is quite different from a traditional
collection of documents: it allows one
to quickly access, sort, and recognize
millions of records; it can contain
different media types, and it assumes
multiple indexing of data, since each
record besides the data itself contain
a number of fields with user-defined
values (Manovich, 2001: 214).
Nesta acepo, o banco de dados pode
armazenar individualmente ou a partir de
diversas combinaes qualquer tipo de dado
ou objeto digital, desde documentos textuais,
a fotografias, clips, seqncias de udio,
imagens estticas, em movimento, ou, ainda,
animaes, mapas, grficos, entre outros, que
podem ser navegados/acessados de modos
variados. Ao argumentar em favor do banco
de dados como forma cultural simblica da
era do computador, Manovich chama aten-
o para o fato de que ele representa o mundo
como uma coleo de itens.
Assim, tal lgica est implcita na
estruturao de boa parte dos produtos da
nova mdia como um CD-ROM de um museu
virtual com sua coleo de imagens para
serem acessadas de diferentes modos, assim
como um web site, que apresenta uma lista
sequencial de elementos separados: blocos de
texto, imagens, vdeo clipes e links para
outros sites. Portanto, para o autor, o banco
de dados se torna o centro do processo
criativo do design da nova mdia, gerando
um tipo de narrativa que construda pela
ligao de elementos do banco de dados em
uma ordem particular.
O entendimento do potencial do banco
de dados na era do computador, portanto, vai
alm daquela noo mais bsica de coleo
de itens para rpida recuperao e que at
ento norteou os procedimentos de
armazenamento e ordenamento de informa-
es para adquirir o status de nova forma
cultural simblica, um novo modo de es-
truturar a experincia humana. Neste senti-
do, Manovich afirma:
Indeed, if after the death of God
(Nietzche), the end of grand
Narratives of Enlightenment
(Lyotard), and the arrival of the Web
(Tim-Berners Lee), the world appears
to us as an endless and unstructured
collection of images, texts, and the
other data records, it is only
appropriate that we will be moved to
model it is a database. But is also
appropriate that we would want to
develop a poetics, aesthetics, and
ethics of this database (Manovich,
2001: 219).
com a Internet - ela mesma um
ambiente para estabelecimento de diversas
formas culturais, capazes de constituir rela-
es entre os diversos atores e criar novas
convenes - que a forma de banco de dados
floresce, segundo afirma Manovich. A sua
parte grfica - A World Wide Web - trans-
forma todo site em um tipo de banco de
dados, pois, na sua estrutura definida pela
linguagem de formatao HTML, uma lista
sequencial de elementos separados (texto,
blocos, imagens, vdeo-clipes, entre outros)
permite que se acrescente novos elementos
e links, o que faz com que os sites estejam
sempre crescendo toda vez que se adiciona
algo novo. Uma vez digitalizados, os elemen-
tos ou dados podem ser organizados e
indexados a partir de inmeras possibilida-
des combinatrias. E isso tem relao direta
com um dos seis princpios abstratos do
hipertexto propostos por Lvy (1993): o
princpio da exterioridade
6
, fundamental para
preservar o carter aberto da rede.
De acordo com Lvy, o crescimento e
diminuio de uma rede (e aqui podemos
considerar o prprio site enquanto micro-
rede), sua composio, alimentao e recom-
posio permanente dependem de um exte-
rior indeterminado: adio de novos elemen-
tos, conexes com outras redes (ou conexes
463 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
com outros sites por meio dos links ou mesmo
remetimentos a vrios documentos). Tal
princpio refora, por outro lado, o quanto
a descentralizao da produo de contedos
pode funcionar como um agente ativador da
rede, uma vez que assegura a sua permanen-
te alimentao, sendo operada de maneira
contnua, em fluxo.
O que expomos acima tambm expli-
cado por meio dos cinco princpios sistema-
tizados por Lev Manovich (2001:19-48) para
demarcar algumas das principais diferenas
entre a antiga e a nova mdia, e que devem
ser considerados muito mais como tendn-
cias gerais de uma cultura computadorizada
do que como leis absolutas.
Esses princpios so: - Representao
numrica: cdigo digital permite trabalhar ou
modificar cada objeto da nova mdia auto-
maticamente, pois programvel; -
Modularidade: um objeto da nova mdia tem
a mesma estrutura em diferentes escalas tal
qual um fractal
7
, o que significa que elemen-
tos de mdia como texto, som, imagem,
podem estar reunidos numa nica narrativa
ou documento, mas continuam mantendo suas
identidades separadas (exemplo so os sites
que formam a WWW, pois so constitudos
por diferentes elementos de mdia e cada um
deles pode ser acessado separadamente ou
mesmo ser modificado; - Automao: cdigo
numrico da mdia (princpio 1) e a estrutura
modular de um objeto da mdia (princpio
2) permitem a automao de muitas opera-
es, desde a criao, manipulao at o
acesso da mdia; - Variabilidade: prev que
um objeto da mdia pode existir potencial-
mente em diferentes e infinitas verses (uma
fotografia, por exemplo, tanto pode ser usada
enquanto ilustrao de um texto, integrar uma
galeria de fotos de tema especfico, um slide
show e, ainda, ser empregada como uma
espcie de novo gnero, ao ser disponibilizada
juntamente com uma narrao em udio
associada onde o fotgrafo descreva o pro-
cesso de captura daquela determinada ima-
gem). Ou seja, tem-se tanto uma variabili-
dade de modalidade como tambm de for-
mato; Transcodificao cultural: a
computadorizao transformou a mdia em
dados do computador. Transcode quer dizer
traduzir alguma coisa em outro formato.
Diante disso que consideramos ser
possvel pensar a internet como uma forma
cultural maior e representativa da cibercultura,
em consonncia com a viso empreendida por
Raymond Williams a respeito da televiso
(Williams, 1977, 1990) j que ela parte da
experincia humana e um processo social, o
que a torna um ambiente para estabelecimento
de prticas. Funciona, como sugere Palacios
(2002), como um ambiente compartilhado de
comunicao, informao e ao para uma
multiplicidade de (sub) sistemas sociais e para
agentes cognitivos (humanos). Para Castells
(2001), a Galxia Internet um novo
entorno de comunicao, uma nova estrutura
social, que se est estabelecendo em todo o
planeta para a vida das pessoas, segundo sua
histria, cultura e instituies (Castells, 2001:
305). Sendo a internet tambm um grande
banco de dados mais complexo, ela fornece
as condies para o surgimento de novas
formas culturais a partir do uso de bancos
de dados inteligentes e dinmicos - a base
estruturante para indefinidos tipos de sites.
3. Jornalismo e bancos de dados
A utilizao de bancos de dados no
jornalismo no algo novo, pois, desde que
as redaes comearam a ser informatizadas
ainda na dcada de 70 nos Estados Unidos
e em parte da Europa (no Brasil esse pro-
cesso ocorre nos grandes jornais na dcada
de 80) e, logo em seguida com a incorpo-
rao da Reportagem Assistida por Compu-
tador
8
(RAC), passando pelo videotexto
9
, o
jornalismo empregou as estruturas
hierarquizadas de estocagem e ordenamento
de informaes dos bancos de dados para
adicionar maior qualidade e profundidade s
suas narrativas
10
.
Para o jornalismo digital de terceira
gerao, nosso interesse especfico, pode-se
pensar na idia dos bancos de dados inte-
ligentes e dinmicos como agentes com
capacidade de produzir rupturas e, at, de se
constiturem como uma metfora apropriada
para trazer nova luz no sentido de se superar
a metfora do jornal impresso
11
que, desde
os primeiros anos de experimentao do
jornalismo no suporte digital at agora,
permanece sendo a mais empregada pelos
mais diferentes tipos de sites noticiosos.
464 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Mesmo que ainda se aponte a necessi-
dade de uso desta metfora, sobretudo pelo
fato de garantir navegabilidade e usabilidade
aos usurios, por conta da familiaridade, a
adoo de bancos de dados inteligentes e
dinmicos pode favorecer a inovao, per-
mitindo a explorao de novos gneros, a
oferta de contedo mais diverso, a disponi-
bilizao/apresentao das informaes de
maneira diferenciada, mais flexvel e din-
mica, alm da produo descentralizada -
outra das caractersticas que o jornalismo
digital de terceira gerao deve contemplar.
Compartilhamos, assim, da viso de
Manovich acerca do potencial do banco de
dados como essa nova possvel metfora para
a memria cultural. E, compreendendo o
jornalismo como forma singular de conhe-
cimento e interpretao da realidade
12
, cuja
funo de documentao e atualizao da
memria social (Machado, 2002) favorecida
pelo ambiente das redes, acreditamos ser
possvel adotar essa nova metfora para gerar
produtos mais criativos com mais chances de
enredar os usurios e conduzir o jornalismo
digital ao patamar desejado e efetivamente
possvel - nesta sua terceira gerao.
Trabalhos referenciais de pesquisadores
nacionais e estrangeiros nos ajudam a enten-
der como a apropriao dos bancos de dados
inteligentes e dinmicos deve ser tomada
como uma deciso necessria, seja por parte
das organizaes de notcias mais tradicio-
nais, ou por aquelas resultantes de fuses
entre empresas de informtica, telecomuni-
caes, entre outras que possuem operaes
digitais. No mbito acadmico, por outro lado,
j h experincias laboratoriais contemplan-
do o uso de bancos de dados no intuito de
indicar novos caminhos para o jornalismo
digital
13
.
O catedrtico portugus Antnio Fidalgo,
em seu artigo pioneiro Sintaxe e semntica
das notcias on-line. Para um jornalismo
assente em base de dados
14
, acredita que a
tecnologia das bases de dados a
especificidade que distinguir o jornalismo
online do jornalismo dos meios tradicionais
da imprensa, rdio e televiso, conferindo no
s maior rigor, mas tambm maior
objetividade e melhor cobertura da realidade
humana. Para Fidalgo, a simbiose entre
bancos de dados e jornalismo a transfor-
mao mais relevante proporcionada pela
internet. Por conseguinte, ele considera o
jornalismo de fonte aberta (cita como exem-
plo o www.slashdot.org
15
) como um caso
paradigmtico de um jornalismo especfico
sobre bases de dados e que os jornais (pre-
ferimos denominar sites noticiosos) assenta-
dos em base de dados distinguem-se entre
os demais online por no terem edies fixas.
Isso ocorre, segundo o autor, pelo fato
de uma edio ser apenas uma configurao
possvel gerada pela base de dados. Ao fazer
esta afirmao, Antnio Fidalgo estabelece
a distino entre um jornal online feito apenas
em HTML - um produto nico ainda que
recorra a templates ou modelos e um que
use bases de dados. Neste ltimo, diz, o
resultado sempre uma determinada pesqui-
sa dependente do conjunto de notcias
inseridas e da estrutura da base de dados,
que determina a forma como as diferentes
notcias aparecem conjugadas na apresenta-
o online.
A coerncia sintctica das notcias, or-
ganizadas numa base de dados, no
se limita a uma edio, at porque esta
estritamente no existe, mas a todas
as notcias, presentes e passadas. Uma
notcia recente remete, mediante a in-
cluso dos ttulos e respectivos links,
para as notcias anteriores que incidam
directamente ou indirectamente com
o assunto em questo. As regras da
sintaxe aplicam-se ao todo da base de
dados (Fidalgo, 2003:8).
Em sua anlise, Fidalgo tambm aponta
para a mudana no procedimento do jorna-
lista com relao incorporao de rotinas
de produo descentralizadas, ao acrscimo
ilimitado de temticas abrangidas, manu-
teno dos arquivos, pois, conforme pontua,
o passado condiciona e determina o presen-
te na justa proporo em que pode ser
recuperado. Ou, como indica Elias Macha-
do (2000:54), na rede, a memria antes de
refletir um passado morto, apresenta par-
metros para aumentar o coeficiente de pre-
viso no fluxo ininterrupto de circulao das
notcias. Sobre isso, faz-se importante
referenciar a caracterstica da memria con-
forme proposta por Palacios (1999, 2002)
465 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
como uma ruptura em relao ao uso em
suportes anteriores, produzindo no jornalis-
mo digital a primeira forma de memria
mltipla, instantnea e cumulativa possibi-
litada pela flexibilidade combinatria a partir
da hipertextualidade, da interatividade e da
atualizao contnua, em fluxo.
Outros pesquisadores, entre os quais Tom
Koch (1991), h bem mais de uma dcada,
j antecipavam o potencial crescente das
bases de dados para o jornalismo, inclusive
em termos de se adotar regras para a escrita
das notcias nas quais os dados so exami-
nados e arranjados em formas inteligentes.
claro que a concepo de bancos de dados
estava mais prxima da que era oferecida
naquele momento por empresas comerciais
com produo centralizada (e por isso Koch
criticava a pouca consistncia existente entre
a multitude de bancos de dados disponvel
online naquele momento) e mais distante da
que prope Manovich.
Mas, aqui, o importante a demarcar
justamente a evoluo do conceito e mostrar
como o jornalismo se beneficia das bases de
dados nos diferentes estgios de evoluo das
tecnologias das comunicaes. Ao comentar
sobre o uso potencial de recursos para a
informao eletrnica, Koch afirma:
At least, this technology will allow the
newsperson to place the often vague,
contradictory, and circumlocutious
public statement in a context where it
can be first measured and then
transformed beyond the unitary level.
(Koch, 1991: 135).
J Stephen Quinn (2002), ao abordar o
uso de ferramentas para o gerenciamento da
informao nas redaes virtuais, confirma
que os bancos de dados esto mudando o
modo como as organizaes de notcias vm
operando. Para Quinn, os bancos de dados
tm uma importante funo porque estrutu-
ram os dados que sero compartilhados e ma-
nipulados para produzir conhecimento
(Quinn, 2002: 115). Sob esse aspecto, ele
reitera a necessidade de investimento em
tecnologias capazes de gerar e prover con-
tedo nico, original.
4. Especulaes em torno dos gneros
Um dos grandes desafios para o jorna-
lismo digital justamente o contedo. Na
sua histria de mais de uma dcada, muito
se evoluiu quanto oferta de informaes
originais afinadas com os recursos do
ciberespao e conformadas em modelos que
buscam inovao e, sobretudo, estimular a
navegao e o acesso por parte dos usurios
no sentido de consolidar a nova modalidade
de jornalismo. Porm, muito do que ofertado
ainda apresenta uma forma equivalente com
suportes anteriores, sendo pouco inovador do
ponto de vista de uma diversidade para se
tratar o contedo. Neste sentido, procura-se
aqui tecer algumas consideraes acerca de
possveis novos gneros ou hbridos entre
gneros para o jornalismo digital.
Inicialmente, ao se falar sobre gneros
16
deve-se ter em mente, como nos diz Nora
Mazziotti (2002), que embora eles possuam
elementos formadores e traos que necessa-
riamente devem estar presentes, no por isso
devem ser considerados como categorias
restritivas e imutveis. Pelo contrrio, so
maleveis, dilatam-se, esticam, incorporam
traos, transformam-se. (...) A sua maneira
de operar na tenso entre o conhecido e
o inovador (Mazziotti, 2002:206). E um dos
traos de estilo de poca para os gneros,
conforme aponta a pesquisadora argentina que
estuda os gneros na televiso, a prolife-
rao e a acelerao dos emprstimos e
cruzamento entre gneros. Tais emprstimos
aparecem refletidos em suportes como a
televiso, conforme cita, a exemplo de co-
mdias com traos de novela, documentrios
que esto prximos da entrevista, montados
com edio de vdeo-clipe, entre outros, como
o vdeo-clipe e a linguagem publicitria, que
permearam todos os discursos audiovisuais.
Neste sentido, podemos acrescentar que,
levando em conta a convergncia de forma-
tos presente no suporte digital, este constitui
em si mesmo um ambiente potencial para o
entrecruzamento entre gneros e a origem de
muitos outros novos. Basta observar como
a fotografia vem sendo empregada por edi-
es digitais de jornais como o Washington
Post (www.washingtonpost.com), onde fot-
grafos narram como se deu a escolha dos
466 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
ngulos das imagens exemplo de como a
fotografia passa de acessrio para se tornar
algo mais, um gnero - ou como a utilizao
da TV na web vem originando hibridismos,
tal qual nos apresenta sites como os da Reuters
(www.reuters.com) ou mesmo como a TV
UOL News (www.uol.com.br), que articula
tratamentos diferenciados, oferecendo tanto
boletins ao vivo, mas tambm permitindo que
se leia um texto e se tenha o udio da entrevista
que deu origem a uma determinada notcia.
No El Mundo (www.elmundo.es), os
infogrficos animados j foram incorporados
como um canal a mais para se apresentar um
fato jornalstico e os mapas, mesmo ainda
no animados, so usados como complemen-
to para as informaes em portais como o
Terra (www.terra.com.br). No Portal Estado
(www.estadao.com.br), os arquivos j ganha-
ram canal exclusivo Dirio do Passado
onde se tem uma mostra do uso potencial
do material jornalstico anteriormente publi-
cado. Ou seja, tais exemplos iluminam o
caminho e demonstram concretamente uma
diversidade de opes para a produo de
contedos no jornalismo digital para alm da
conformao mais bsica para as informa-
es como se tem visto.
Javier Diaz Noci (2002) pensando os
gneros jornalsticos e o texto eletrnico,
afirma que o que tem ocorrido at agora
que a maioria dos jornais na internet tem
apenas transferido os tradicionais gneros
presentes no impresso para o suporte digital.
Sobre eles, Diaz Noci confirma o potencial
de gneros interpretativos como a reporta-
gem, beneficiada pela potencialidade do uso
de recursos, como som, imagens fixas e em
movimento, grficos, e animaes em trs
dimenses e, principalmente, pela ausncia
de limites crono-espaciais - segundo ele, a
reportagem o gnero por excelncia do
ciberespao informativo (Diaz Noci, 2002:
123). O pesquisador da Universidade do Pas
Basco v a entrevista como um gnero que
se modifica, pois: pode ser usada como
formato de perguntas e respostas que podem
ser ouvidas e vistas; pode resultar em perfis
multimdias e mesmo aparecendo como tex-
to em si e, pode, principalmente, ter como
protagonistas os usurios atuando como
entrevistadores ao participar de chats com
personalidades, onde os jornalistas assumem
funo de intermedirios, filtrando as pergun-
tas. A infografia em trs dimenses tambm
citada por Javier Diaz Noci como um gnero
que tambm ganhar uma nova dimenso no
ciberespao e alcanar grande desenvolvi-
mento.
5. Concluso
O que quisemos explorar neste ensaio foi
a potencialidade de uma nova metfora para
o jornalismo digital a partir do uso dos bancos
de dados como a forma cultural simblica
da era do computador (Manovich, 2001).
Neste nosso exerccio, intentamosampliar o
foco acerca do jornalismo digital nesta sua
terceira gerao ou terceira onda, com o
objetivo de lanar alguma luz no sentido da
explorao da diversidade para os contedos
e para os formatos.
Ao fazer isso, consideramos a possibili-
dade concreta para novas aplicaes, saben-
do que elas necessitam de investimentos para
serem implementadas, mas, acima de tudo,
de criatividade, imaginao, para se inovar,
rompendo com os vcios. Assim como outros
pesquisadores, compartilhamos da idia de
que o jornalismo digital tem na tecnologia
dos bancos de dados inteligentes e dinmi-
cos o diferencial em relao s demais
modalidades.
467 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Bibliografia
Barbosa, Suzana. Jornalismo digital e a
informao de proximidade: o caso dos por-
tais regionais, com estudo sobre o UAI e o
iBAHIA (dissertao de mestrado). Programa
de Ps-Graduao em Comunicao e Cul-
tura Contemporneas, FACOM-UFBA, Sal-
vador, 2002.
Bardoel, Jo & Deuze, Mark. Network
journalism: converging competences of old
and new media professionals. In: http://
home.pscw.uva.nl/deuze/pub19.htm. Acesso
em13/10/2000.
Brown, Edward y Chignell, Mark H. El
usuario como diseador: el multimedia de
forma abierta. In: Medios contextuales en
la prctica cultural. Barcelona: Piados, 1997.
Castells, Manuel. La Galxia Internet.
Barcelona: Aret, 2001.
Diaz Noci, Javier. La escritura digital.
Hipertexto y construccin del discurso in-
formativo en el periodismo electrnico.
Bilbao: Universidad del Pas Vasco, 2001.
Deuze, Mark. The web and its
journalisms: considering the consequences of
different types of newsmedia online. In: New
Media & Society. London, Thousand Oaks,
CA and New Delhi: Sage Publications, 2003.
Dewdney, Andrew y Boyd, Frank. La
television, los ordenadores, la tecnologa y
la forma cultural. In: Lister, Martin (Org.).
La imagen fotogrfica en la cultura digital.
Barcelona: Paids, 1997.
Fidalgo, Antnio. Sintaxe e semntica das
notcias on-line. Para um jornalismo assente
em base de dados. Texto apresentado no XII
Encontro Nacional dos Programas de Ps-
Graduao (Comps), Recife, junho de 2003.
Hall, Jim. Online journalism. A critical
primer. London: Pluto Press, 2001.
Koch, Tom. Journalism for the 21
st
Century. Online information, electronic
databases and the news. New York: Praeger,
1991.
Machado, Elias. O ciberespao como
fonte para os jornalistas. Salvador: Calandra,
2003 (Coleo Biblioteca J).
______ . O jornal digital como epicentro
das redes de circulao de notcias. In: Pauta
Geral, N4, Salvador: Calandra, 2002.
Manovich, Lev. The language of new
media. Cambridge: MIT Press, 2001.
Mazziotti, Nora. Narrativa: gneros na
televiso pblica. In: Rincn, Omar (org.).
Televiso pblica: do consumidor ao cida-
do. So Paulo: Friedrich-Ebert-Stiftung,
2002.
Mielniczuk, Luciana. Jornalismo na Web:
uma contribuio para o estudo do formato
da notcia na escrita hipertextual. (Tese de
doutorado). FACOM/UFBA, Salvador, 2003.
Quinn, Stephen. Knowledge management
in the digital newsroom. London: Focal Press,
2002.
Palacios, Marcos. Fazendo jornalismo em
redes hbridas. Notas para discusso da
internet enquanto suporte meditico. Texto
publicado no Observatrio da Imprensa em
11/12/2002 e disponvel em:
www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos/
eno111220022.htm. Acesso em: 03/08/2003.
______ . Jornalismo online, informao
e memria: apontamentos para debate. Paper
apresentado no painel Informao e Jorna-
lismo no evento Jornadas sobre jornalismo
online, Universidade da Beira Interior, Por-
tugal, 21 de junho de 2002.
Pavlik, John V. Journalism and new
media. NewYork: Columbia University Press,
2001.
Pryor, Larry. The third wave of online
journalism. Online Journalism Review, 18/
abril. In: www.ojr.org/ojr/future/
1019174689.php . Acesso em 28/10/2003.
Williams, Raymond. From medium to
social practice. In: Marxism and literature.
London: Oxford University Press, 1977.
_______________________________
1
Doutoranda no Programa de Ps-Graduao
em Comunicao e Cultura Contemporneas,
FACOM/UFBA. Bolsista CNPq.
2
A primeira caracterizada pela transposio
da verso impressa para a internet e, a segunda,
mesmo mantendo a metfora do jornal impresso,
marcada pela agregao de recursos e criao de
contedos originais. Sobre os estgios de evoluo
do jornalismo digital ver: Luciana Mielniczuk.
Jornalismo na Web: uma contribuio para o estudo
do formato da notcia na escrita hipertextual. (Tese
de Doutorado). FACOM/UFBA, Salvador, 2003;
John V. Pavlik. Journalism and new media.
NewYork: Columbia University Press, 2001.
468 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
3
Segundo ele, a terceira onda do jornalismo
online comea em 2001 quando j se tem a
tecnologia de banda larga mais bem desenvolvi-
da, assim como produtos jornalsticos mais dife-
renciados naquilo que se refere gerao de
contedos que usam mais amplamente os recur-
sos do suporte digital. In: The third wave of online
journalism. Online Journalism Review, 18/abril.
In: www.ojr.org/ojr/future/1019174689.php Aces-
so em 28/10/2003.
4
Tal denominao deriva do emprego dos
diferentes modelos, arquiteturas, softwares e tec-
nologias avanadas para a construo de bases de
dados que vo operar num nvel ainda maior de
complexidade para a organizao, armazenamento,
disponibilizao, apresentao e consulta da in-
formao. As aplicaes de bancos de inteligentes
e dinmicos devem garantir a estruturao de
grande volume de dados (sejam documentos
textuais, imagens estticas ou em movimento, e
arquivos de udio at simulaes) com segurana,
baixo nvel de redundncia e acuracidade.
5
O banco de dados seria a primeira forma
que se encontra na nova mdia, ao passo que o
espao virtual interativo em 3-D empregado em
jogos de computador, animao, e nas interfaces
homem-computador, seria a segunda.
6
Os outros princpios pensados por Lvy para
preservar as possibilidades de mltiplas interpre-
taes do modelo de hipertexto so: o da meta-
morfose, o de heterogeneidade, multiplicidade de
encaixe das escalas, da topologia e de mobilidade
dos centros. In: As tecnologias da inteligncia.
Rio de Janeiro: 34, 1993.
7
Um fractal termo cunhado em 1975 por
Benoit Mandelbrot para descrever um objeto ge-
omtrico que nunca perde a sua estrutura qual-
quer que seja a distncia de viso - uma forma
geomtrica, de aspecto irregular ou fragmentado,
que pode ser subdividida indefinidamente em
partes, as quais, de certa maneira, so cpias
reduzidas do todo. A palavra fractal significa,
sobretudo, auto-semelhante. Auto-semelhana a
simetria atravs das escalas. Ou seja, um objeto
possui auto-semelhana se apresenta sempre o
mesmo aspecto aqualquer escala que seja obser-
vado. Troncos de rvore, nuvens, montanhas so
objetos que podem ser representados por fractais.
Em 1980, Mandelbrot descobriu o primeiro fractal
gerado por computador. A geometria fractal que
usa softwares sofisticados produz imagens belas
e interessantes, mixando arte e matemtica.
8
Sobre a RAC, sigla em portugus para CAR
(Computer Assisted Reporting), ver LAGE, Nilson.
A reportagem: teoria e tcnica de entrevistas e
pesquisa jornalstica. Rio de Janeiro: Record,
2001, especialmente o captulo Reportagem
Assistida por Computador (p.153-168). Ainda
relacionado ao assunto, Stephen Quinn no seu livro
Knowledge management in the digital newsroom.
London: Focal Press, 2002, especificamente no
captulo New tools for journalists (p.114-138)
apresenta uma forma sofisticada da RAC/CAR:
o Geographical Information Systems (GIS) ou Sis-
temas de Informao Geogrfica, que seria a unio
da cartografia e dos bancos de dados trabalhando
juntos sob a cobertura de computadores para
produzir mapas e acompanhar estatsticas que
mostram como os eventos aconteceram.
9
Sobre o videotexto, ver Roger Fidler.
Mediamorphosis. Understanding new media.
London: Pine Forge Press, 1997; Emy
Armaanzaz; Javier Das Noci; Koldo Meso. El
periodismo electrnico. Informacin y servicios
multimedia en la era del ciberespacio. Barcelona:
Ariel Comunicacin, 1996; Lizy Navarro Zamora.
Los peridicos on line. San Luis de Potos:
Editorial Universitaria Potosina, 2002.
10
Sobre o uso e potencial dos bancos de dados
no jornalismo ver Tom Koch. Journalism for the
21
st
century. Online information, electronic
databases and the news. New York: Praeger, 1991.
11
Sobre o uso da metfora do jornal im-
presso aplicado no jornalismo digital ver o tra-
balho de Melinda McAdams: Inventing online
newspaper. In: www.sentex.net/~mmcadams/
invent.html, publicado pela primeira vez em 1995
no Interpessoal Computing and Technology: as
electronic journal for the 21
st
century. ISSN: 1064-
4326, july 1995, v. 3, p. 64-90.
12
O conceito de jornalismo como forma sin-
gular de conhecimento da realidade e diferenci-
ado do conhecimento do senso comum, da arte
e da cincia est presente em Adelmo Genro Filho.
O segredo da pirmide. Para uma teoria marxista
do jornalismo. Porto Alegre: Tch, 1987. Robert
Park, ex-jornalista e socilogo norte-americano,
fundador da sociologia urbana, publicou em 1940
o artigo News as a form of knowledge, no qual
define o jornalismo como forma de conhecimento
da realidade a partir do que ele tem de diferente
e do que lhe especfico. Ele prope a existncia
de uma gradao entre um conhecimento de uti-
lizado no cotidiano e um conhecimento sobre,
sistemtico e analtico, como o produzido pelas
cincias, observado que o jornalismo realiza para
o pblico as mesmas funes que a percepo
realiza para os indivduos (Eduardo Meditsch,
1997; Robert Park, 1955).
13
Uma delas o Projeto Akademia
(www.akademia.ubi.pt), Sistemas de Informao
e Novas Formas de Jornalismo Online, da Uni-
versidade da Beira Interior, em Covilh, Portugal.
Trata-se de um experimento de jornalismo de fonte
aberta, iniciado em setembro de 2000.
14
O trabalho foi apresentado no XII Encontro
Nacional dos Programas de Ps-Graduao (Comps),
realizado em Recife, em setembro de 2003.
469 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
15
Podemos citar tambm como exemplo os
Centros de Mdia Independente (http://
www.indymedia.org), com edies em vrios idio-
mas, nas quais os usurios colaboram na produo
do contedo, publicando desde textos, fotos at vdeos.
16
Os gneros podem ser entendidos como
conjuntos de convenes compartilhadas, no
apenas com outros textos pertencentes a um
mesmo gnero, mas tambm entre textos e p-
blicos (audincias), textos e produtores, produto-
res e audincias. Trata-se de um intercmbio, de
uma mediao (conhecida, tacitamente aceita), que
conta com o consenso cultural (Mazziotti,
2002:205).
470 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
471 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Killer parrilla generalista. Produccin,
programacin y difusin documental
Xaime Fandio Alonso
1
I. Introduccin
La programacin competitiva de la
televisin generalista ha asesinado algunos
gneros tradicionales apostando por formatos
hbridos que conjugan modelos genricos de
entretenimiento: magazn, talk, game, reality etc.
En concreto el gnero Documental ha
sufrido, cuando no la desaparicin de las
parrillas, s la transposicin hacia horarios
imposibles situados tras el late-night. Slo
las cadenas temticas y las pblicas con
segundo canal conservan la capacidad de
programar este gnero en horarios racionales
que dignifiquen los contenidos propuestos y
el trabajo realizado por los equipos de
creativos.
Televisin de Galicia (TVG) es la nica
televisin pblica autonmica del territorio
espaol que no dispone de segundo canal y
esto limita la posibilidad de desarrollar una
programacin documental o de contenidos
especficos alejados de los killer-formatos
imperantes en el modelo actual de televisin
comercial.
En enero de 2004 la Academia Galega
do Audiovisual ha celebrado un seminario,
en el que han participado los directores de
segundos canales de todas las cadenas
autonmicas del estado
2
, con el fin de solicitar
la inmediata puesta en marcha de un segundo
canal para TVG en el que programar los
espacios de calidad que, por razones que
atienden a estrategias comerciales, al parecer
no encuentran hueco en las parrillas de una
primera cadena autonmica entregada a una
competencia feroz por los resultados de
audiencia y que no permite ninguna licencia
en la programacin de piezas alternativas o
complementarias. Un segundo canal que,
segn las conclusiones expresadas en el foro
de la Academia Galega do Audiovisual
necesaria para reforzar aun mis a autoestima
como pas, e para ofrecer mis plataformas
de proxeccin da produccin que se fai en
Galicia
3
.
El gnero Documental sera uno de los
beneficiarios en la utilizacin de este nuevo
canal de difusin gracias al hipottico
desarrollo de una programacin ms
coherente y plural que ahora al parecer resulta
imposible. Muchas piezas y series
documentales permanecen hoy a la espera de
ser programadas en el canal autonmico
gallego sin visos de encontrar en un plazo
razonable y un hueco en una parrilla plagada
de contenidos estandarizados por las modas
y estrategias comerciales.
La televisin regional necesitada de
contenidos relacionados con su audiencia ms
prxima se desva de esta manera de la
realidad y del contacto directo con su pblico
objetivo as como de los principios que
inspiraron su propia gestacin. Se ignoran los
contenidos y propuestas pergeadas dentro
de su mbito de actuacin para desarrollar
formatos y productos que responden
mimticamente a modelos testados en gustos
forneos y en los que en muchos casos la
audiencia no se ve reflejada. En esta sin razn
los formatos ms zafios se encumbran
justificados por unas audiencias cautivas
cerrando los ojos a cualquier planteamiento
en otra direccin.
Esta situacin ha provocado un
alejamiento progresivo de la cadena
autonmica del pblico ms joven y
comprometido
4
. Una audiencia potencial que
no encuentra en la parrilla ninguna referencia
que seduzca sus expectativas con propuestas
atractivas
5
. As, el perfil de una cadena que
naci con un espritu joven
6
, en los ltimos
aos se ha tornado cada vez ms conservadora
atendiendo casi en exclusiva a una audiencia
mayor y rural.
II. Televisin de proximidad. Batalla
perdida
En otro sentido la centralizacin de la
produccin informativa en San Marcos y la
poltica orientada a no desarrollar una
472 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
verdadera red local de la TVG, ha
proporcionado una baza importante a las
nuevas emisoras locales
7
que, poco a poco
se van ganando la confianza de los pblicos
de su mbito de influencia gracias a una
estrategia de televisin de proximidad.
La emisora autonmica, a pesar de
disponer casi desde su implantacin en 1985
de delegaciones en las siete grandes ciudades
de Galicia, no llev a cabo una estrategia
para reforzar estas clulas informativas
mediante la produccin propia local y slo
tmidamente ha desarrollado una produccin
basada en pequeos espacios de desconexin
informativa. Una estrategia que contemplara
una apuesta orientada a desarrollar una
programacin local producida en las propias
delegaciones y basada en las desconexiones
nutridas de programacin de contenidos
propios entre los que podran destacar entre
otros el documental etnogrfico y el reportaje,
habra sido determinante para la consolidacin
de una emisora autonmica ms vertebrada
y con posibilidad de competir hoy con la
neonata televisin local y de proximidad que
poco a poco va marcando en los mbitos ms
urbanos, si no una cuota significativa de
mercado, s un posicionamiento estratgico
y una tendencia de consumo al alza
8
. Una
oportunidad perdida por la televisin
autonmica cuando aun las emisoras locales
eran todava una entelequia.
III. El documental cautivo
Dentro de la produccin documental
propiamente dicha la cadena gallega tiene en
este momento vampirizada la difusin de
estos contenidos. Mientras que la estrategia
de TVG en lo referente al apoyo de la
produccin propia y contratada de
documentales mantiene unas pautas
razonables, la emisin de estas piezas no sigue
el mismo ritmo. Muchas de los trabajos pasan
aos esperando un hueco en la parrilla
provocando en la mayora de los casos la
obsolescencia de los productos y perdiendo
la oportunidad de ser emitidos en caliente.
Esta situacin provoca que los responsables
de las producciones y la propia emisora
irradien una mala imagen ante los personajes
filmados y comprometidos con el trabajo que
no ven nunca en emisin sus intervenciones,
ni tienen acceso a una cinta del producto al
no haber sido difundido ste por la cadena.
As, duermen en las estanteras ms de
quince series documentales de entre ocho y
trece captulos cada una. Son productos
aletargados sin posibilidad de difusin a corto
plazo ya que no existe en este momento en
la emisora ninguna ventana estable que pueda
dar cabida a este gnero. Si bien hasta finales
de febrero se mantena un fluctuante espacio
los sbados a primeras horas de la tarde en
donde se emitan documentales relacionados
con la naturaleza y otros productos
9
, ese nicho
no tiene viso de continuidad.
El despegue del formato docu-soap
10
,
gracias a unos buenos resultados de audiencia,
abri en el ao 1999
11
una va para incluir
un espacio documental estable en la parrilla.
El tirn de audiencia de otros productos de
ficcin como Mareas Vivas permitieron a la
cadena arriesgar con documentales sin
comprometer en demasa la preocupacin
mxima de la direccin de la cadena: el
resultado de los nmeros en la cuenta de
resultados de la cuota de pantalla
12
. Hasta el
2002 bien en late-night o antes del prime-time
se programaron productos documentales
13
con
una cadencia bastante regular aunque truncada
en muchas ocasiones por los compromisos
derivados de los derechos de las
retransmisiones deportivas. Incluso el late-
night de los lunes se utiliz durante un tiempo
para emitir productos alternativos. En este
momento no existe una franja dedicada
explcitamente a la emisin de documentales
aunque, salpicados por la parrilla, segn
necesidades programticas y estrategias
puntuales aparezcan colocados productos tales
como series de reportajes elaborados por
enviados especiales a distintas zonas de
conflicto internacional
14
o piezas oportunistas
como la programacin de una reportaje sobre
el terrorismo emitida en los das del atentado
del 11M.
La poltica de convertir la produccin
documental en un activo de stock, algo que
es muy saludable a medio y largo plazo para
la cadena que dispone de esos fondos, no
debe estar reida con la realizacin de una
programacin adecuada de los productos,
teniendo en cuenta las caractersticas
singulares de cada serie con el fin de no
perder en las piezas valores tales como la
473 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
actualidad o la oportunidad. Series
documentales como 091, Emerxentes o
Urbanitas entre otros
15
descansan desde hace
dos o ms aos en el limbo de los fondos
de la TVG sin ser emitidos por su canal
regional.
III. El caso Urbanitas
Desde la Facultad de Ciencias Sociales
y de la Comunicacin de la Universidad de
Vigo se realiz este proyecto de investigacin
en colaboracin con la TVG (Televisin de
Galicia) y el vicerrectorado de investigacin
de la Universidad de Vigo. FEUGA
(Fundacin Empresa Universidad Gallega) se
encarg de la gestin econmica del proyecto.
El equipo de investigacin analiz
distintos habitats de la comunidad gallega
seleccionando una serie de modelos. Si bien
no podemos hablar de una diversidad de tribus
urbanas, en Galicia existen colectivos sociales
que se prodigan apartados de los estilos de
comportamiento estandarizado y mantienen
conductas de corte alternativo alejadas del
denominado pensamiento nico que parece
definir esta ltima etapa de nuestra sociedad.
Este proyecto se plasm en una serie de
documentales temticos que con el ttulo
genrico de Urbanitas se emitieron por el
canal internacional de Televisin de Galicia
y que, pese a su inters social, no tuvieron
hueco la programacin autonmica de la
cadena, como tantos otros proyectos
documentales que permanecen en el stock de
la emisora. Cuando la TVG decida programar
la emisin de Urbanitas muchas de las
propuestas presentadas ya habrn quedado
obsoletas.
16
La investigacin realizada aporta, gracias
a la utilizacin de fuentes de primera mano,
imgenes e intervenciones exclusivas e
inditas. Adems, la estrategia de produccin
de esta obra contribuye a asentar un nuevo
modelo de investigacin aplicada para el
desarrollo de proyectos relacionados con la
comunicacin entre la universidad y la
industria audiovisual utilizando como
vehculo el gnero documental.
Un diseo singular en las estrategias de
produccin e investigacin han permitido
realizar el trabajo dentro de mrgenes de
excelencia cientfica y competitiva. Todo esto
ha sido posible gracias a la amabilidad de
los entornos e interfaces de la nueva
generacin digital, tanto en lo referente a la
utilizacin del equipamiento tecnolgico de
postproduccin y registro, como a las rutinas
de produccin empleadas y a la sobria
utilizacin de los recursos humanos
17
.
IV. Medios y recursos para la produccin
y distribucin
Si bien la difusin de productos
audiovisuales especializados tales como el
documental no ha sido mimada en demasa
en nuestra comunidad, es tambin cierto que
nos encontramos en un momento fundamental
para desarrollar nuevas y econmicas
propuestas gracias a la irrupcin de la
tecnologa digital en los procesos productivos.
En este escenario tecnolgico actual se
dibuja en Galicia una oportunidad singular
para el desarrollo del sector. El Parlamento
regional ha aprobado una ley del audiovisual
que considera y califica esta actividad
profesional integrada en el mbito de las
industrias culturales de sector estratgico
18
.
Con una importante masa crtica y unos
recursos humanos cada vez ms
especializados y capaces en lo referente a la
elaboracin de productos audiovisuales
19
,
podemos decir que Galicia es una regin que
presenta un knowhow nada desdeable en lo
referente a los procesos de gestin y
produccin de productos audiovisuales.
Quiz, en este momento, los aspectos ms
dbiles de esta industria estn referidos al
desarrollo de proyectos y su comercializacin.
Con voluntad de superacin, consolidacin,
homologacin y fortalecimiento de la
industria audiovisual se estn desarrollando
en este sentido trabajos desde los mbitos,
acadmico, institucional, profesional,
artstico, econmico etc.
20
, con el fin de
elaborar estrategias correctoras para paliar las
deficiencias estructurales del sector a travs
de la realizacin de anlisis de la situacin
en donde aparezcan reflejadas las
oportunidades a la vez que se identifican las
debilidades que condicionan las capacidades
objetivas inherentes al proceso de desarrollo.
El documental es uno de los gneros que
saldr beneficiado de estas iniciativas pero,
adems de tener en cuenta los aspectos
474 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
relacionados con la produccin, ser necesario
que las polticas de distribucin y programacin
desde la principal ventana interior de Galicia
sean serias, puntuales y estables con el fin de
fidelizar a las audiencias potenciales.
Para que las producciones audiovisuales
puedan cruzar las fronteras fsicas en un
mercado tan difcil, arriesgado y competitivo
como ste, es necesario superar antes las
fronteras internas o mentales confiando en
los propios productos desde la comunidad.
En este sentido la TVG es el motor no slo
de la industria de la produccin gallega, sino
tambin la principal depositaria de la
confianza de todos los corazones que
conforman el universo de esta industria
cultural: creadores, gestores, tcnicos,
ejecutivos
475 NOVAS TECNOLOGIAS E NOVAS LINGUAGENS
Bibliografa
AA.VV. Carta de Ajuste, Revista de la
Academia de las Ciencias y las Artes de
Televisin. Madrid 2004.
AA.VV. El anuario de la televisin.
Gabinete de estudios de la comunicacin
(GECA). Madrid 2003.
AAVV. Audiovisual galego 2003. Centro
Galego de Artes da Imaxe. Santiago de
Compostela 2003
Bustamante, Enrique. La televisin
econmica: financiacin, estrategias y
mercados. Gedisa. Barcelona 2001
Francs, Miquel. La produccin de
documentales en televisin en la era digital.
Ctedra. Madrid 2003.
_______________________________
1
Universidad de Vigo.
2
TM, ETB, TVV, CS, TV3.
3
http://demiagalegadoaudiovisual.com pgina
consultada el 20 de Abril de 2004.
4
Francisco Campos Freire. Director General
de RTVG: quiz una asignatura pendiente sea
la incorporacin de programas dedicados a la
juventud donde ellos sean los protagonistas.
Fuente: AA.VV. El anuario de la televisin.
Gabinete de estudios de la comunicacin (GECA).
Madrid 2002.
5
La audiencia en TVG ha envejecido. En el
reparto por edades la suma de las franjas de 45
a 65 aos y de 65 en adelante suman un 66,2%
de la audiencia de la cadena. La clase social que
consume la TVG se sita entre el 36,2 media-
mediabaja y un 32,2 baja. Fuente: AA.VV. El
anuario de la televisin. Gabinete de estudios de
la comunicacin (GECA). Madrid 2003. A partir
de datos TNsofres A.M.
6
Programas para un pblico infantil o juvenil
tales como el magazine A Tumba Aberta (ao
1987), Xabarn (ao 1995), o Chambo (2001) entre
otros, muy integrados en el mbito regional, han
ido desapareciendo para dejar paso a una
programacin rutinaria y conservadora que no
arriesga en nuevos productos y que como nica
estrategia la produccin se ha orientado casi
exclusivamente a las series de ficcin, que a pesar
de que en algunos casos alcanzan buenas cuotas
de audiencia en la comunidad, tal y como sucedi
en el caso de Mareas Vivas, no logran traspasar
las fronteras regionales. Todo esto en detrimento
de otros formatos como el documental o programas
que estimulen la participacin de audiencias ms
selectas, el anlisis o el servicio pblico.
7
Sobre todo con la entrada del modelo
sindicado de Localia que oferta una programacin
competitiva tanto en el mbito local como en la
programacin que realiza en cadena.
8
Francisco Campos Freire. Director General
de RTVG: Nuestros programas intentan ser un
reflejo fiel de la realidad gallega, y para ello
necesitamos la colaboracin activa de la gente de
nuestra comunidad. Fuente: AA.VV.El anuario
de la televisin. Gabinete de estudios de la
comunicacin (GECA). Madrid 2002.
9
A pesca no mundo (Llagostera CPI-TVG)
Terras de Merln (Faro-TVG) Deep Blue
(BBC) As viaxeiras da la (IbisaTVG)
10
Hacen uso de tcnicas de produccin y
realizacin basadas en la modalidad de
observacin Francs, Miquel. La produccin de
documentales en televisin en la era digital.
Ctedra. Madrid 2003. Pg.25.
11
Chunda-chunda (Costa Oeste-TVG).
12
El xito comercial de la serie de Mareas
Vivas con un share mximo de 39,3 propici en
la temporada 2000-2001 la gestacin de una docu-
serie que tomaba como argumento el propio rodaje
y los personajes. Con el ttulo Vida nas Mareas
el documental se emita los lunes antes de la serie
alcanzando un share mximo de 31,7 con lo que
se situ como el tercer programa ms visto de
toda la temporada. Ninguna otra serie documental
aparece reflejada dentro de los 25 programas ms
vistos. Fuente: AA.VV. El anuario de la televisin.
Gabinete de estudios de la comunicacin (GECA)
Madrid 2002. A partir de datos TNsofres A.M.
13
Sobre todo docu-soap tales como
Comediantes (TVG) Vivir en Manhattan
(Universidad de Vigo-TVG).
14
No consideramos aqu los reportajes
elaborados por los servicios informativos de la
cadena propios del gnero documental. Aunque
podamos decir que existe una frontera muy
difusa est ms vinculado al periodismo con
un estilo poco retrico. El documental necesita
de una reflexin previa. Cuando comenzamos un
trabajo documental sabemos su punto de partida
pero desconocemos su final. Francs, Miquel. La
produccin de documentales en televisin en la
era digital. Ctedra. Madrid 2003. Pg.29.
15
Entre otros productos documentales
producidos y que no han sido emitidos por la
cadena autonmica podemos destacar: O CORPO
DA ALMA (13) - EMERXENTES (13) - EN
CLAVE NATURAL (6) - GALICIA DESTINO
MAR (9) - URBANITAS (8) - O MUNDO DE
CELAVELLA (13) - AMENCER (6) -
PEREGRINAXES (3) - TRES NO CAMIO (1)
- UN BOSQUE DE MUSICA (1) - O QUE DIS
QUE DIN (1) - PUCHO BOEDO. UN CORNER
NA FIN DO MUNDO (1) - 13 FERROCARRIL
476 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
(4) - O CORPIO (1) - TARDES DE DOMINGO
(8) - 091 (8).
16
Es el caso de ANFIV un equipo de
baloncesto de minusvlidos que sube a la categora
de honor. Este documental estrenado un ao o
dos ms tarde carece de sentido.
17
La inclusin de equipamiento digital
prosumer en formato miniDV en la planificacin
de la produccin facilit en gran medida los
rodajes, tanto en volumen de maquinaria como
en el nmero de personas integrantes en el equipo.
La produccin compartida entre la TVG
(Produccin) y la Universidad de Vigo (Direccin
y realizacin) cont con la participacin de un
becario de ltimo ao de la licenciatura de
Publicidad y RRPP de la misma universidad.
18
Ley 6/1999 de 1 de septiembre del
Audiovisual de Galicia.
19
La TVG naci el 25 de Julio de 1985 y
es el motor principal de la industria audiovisual
de la comunidad. En este momento hay en Galicia
dos asociaciones de productoras AGAPI y AEGA
que agrupan a la mayora de las productoras
profesionales.
20
Academia Galega do Audiovisual, Universidad,
Consorcio Audiovisual de Galicia, Asociaciones de
productoras (AGAPI-AEGA), Asociacin de
Guionistas, CREA, Asociacin de actores.
477 ESTTICA, ARTE E DESIGN
Captulo IV
ESTTICA, ARTE E DESIGN
478 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
479 ESTTICA, ARTE E DESIGN
Apresentao
Ftima Pombo
1
O territrio do esttico pode ser a pos-
sibilidade de desenvolvimento de um conhe-
cimento de actualizao potica do tempo
presente, na medida em que tambm fizer
confluir o vasto domnio da criao artstica,
com o apelo e a integrao das particulares
tradies culturais. Nesse territrio do est-
tico, a arte e o design assumem a sua condio
de formas de conhecimento que, em reali-
zao plena, so experincias que confron-
tam o indivduo com a condio de liber-
dade, a conseguida e a desejada. O conhe-
cimento potico, presente nas realizaes
artsticas, actualiza os contedos de verdade
das obras de arte, atravs da forma (Adorno),
reflectindo sobre os problemas de sempre da
humanidade a morte, o amor, a liberdade,
o ser, o existir , propondo sucessivas res-
postas provisrias, que so condio de
vises-do-mundo (Husserl), de verses-do-
mundo (Goodman) para o sujeito compro-
metido consigo e com o seu tempo futuro.
Como sustentava Aristteles, a potica mais
importante do que a histria, porque a his-
tria relaciona-se com o que ou o que foi;
a potica relaciona-se com o que poder vir
a ser. O conhecimento veiculado pela arte
peculiar, porque , ao mesmo tempo, um
conhecimento com implicaes no plano da
cultura comum, ao ensaiar respostas medi-
adoras, entre os tais problemas de sempre
da humanidade, propondo ilhas de sentido
e de ordem, e um conhecimento que
marcador de existncia individual, quer do
ponto de vista do criador, quer do fruidor.
O cruzamento de destinos entre o plano
dos fenmenos e o plano das ideias, entre
o indivduo e a sua condio de ser colec-
tivo, entre o efmero e o perene... o
domnio a que se reporta a arte que, talvez,
necessite de um momento de reflexo sobre
si prpria, para que possa continuar a ser
movida pelas interrogaes do mundo e para
que o mundo possa ser impregnado pela sua
manifestao.
No princpio do sculo XX, a arte reflec-
te a imagem de um universo sem desculpas,
fragmentado, isento da transcendncia tute-
lar do belo. A arte seculariza-se num mundo
submetido racionalizao crescente de todas
as actividades humanas, endurecido por
clivagens ideolgicas e agitado por revolu-
es sociais, econmicas, polticas. Os artis-
tas interrogam-se sobre as implicaes no
s culturais ou estticas da arte, mas sobre
a sua repercusso social e poltica. Os ar-
tistas (alguns pelo menos) gritam de deses-
pero e de revolta contra a guerra, contra a
arte-iluso, contra o belo enganador, elabo-
rando, ao mesmo tempo, a sua teoria da arte
e a sua obra artstica. Os movimentos de
vanguarda e a irrupo da arte moderna,
utilizando novos materiais e procedimentos,
ensaiando novas formas, comprometendo a
arte no seu tempo, tornam a questo da arte
um problema da cultura, interrogando a sua
finalidade e o seu papel na sociedade que
lhe contempornea. O salto foi colossal e
teve fora para desequilibrar a atitude do
pblico (e da cultura acadmica) perante as
coisas da arte. As experincias da vanguar-
da histrica prepararam o terreno para as
novas vanguardas. O objectivo fazer falar
o mundo, em vez da alma emocionada pela
imagem do mundo. A questo coloca-se entre
a no aceitao de que tudo seja arte, por
uma ausncia completa de critrios e o
paradigma ontolgico da natureza do que
e no arte. Quando Goodman substitui a
pergunta What is art? Por When is art?,
caracterizando a natureza da arte pela pers-
pectiva da simbolizao, assenta na premissa
de que no existe uma forma nica de
experincia esttica, que possibilite a subs-
tituio de um essencialismo artstico por um
essencialismo esttico e na premissa de que
so os processos simblicos implicados na
experincia esttica que caracterizam a arte.
Construir mundos, fazer mundos a
proposta do pluralismo de Goodman para a
480 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
arte, cincia, filosofia, ou mesmo para a vida
comum. Trata-se de mundos e no do mundo;
da construo no plural, da construo em
funo de uma variedade que exige verses
e vises nem sempre compatveis, nem
sempre igualmente verdadeiras, povoadas por
sistemas simblicos passveis de funciona-
rem em verses-de-mundo diferenciadas.
A esttica contempornea no pode ser
uma cincia normativa, nem partir de defi-
nies apriorsticas, ao pretender ser um
pensamento vivo sobre as manifestaes da
arte. A esttica renunciou a fundamentar as
possibilidades de uma actividade humana em
presumveis estruturas imutveis do ser e do
esprito, de tentar uma fenomenologia con-
creta e compreensiva das vrias atitudes
possveis, das mltiplas inclinaes dos
gostos e dos comportamentos pessoais para
encontrar uma justificao para uma srie de
fenmenos que no so definidos com uma
frmula, mas atravs de um discurso geral,
que tenha em linha de conta um factor
fundamental: a experincia esttica feita de
atitudes pessoais, de contingncias de gosto,
da sucesso de estilos e critrios formativos.
A forma compreende-se como acto de co-
municao e uma vez materializada no
continua a ser realidade impessoal, mas
configura-se como memria concreta de quem
a criou e disponibiliza-se para as possveis
hipteses interpretativas dos seus fruidores.
O desenvolvimento da sensibilidade contem-
pornea acentuou a aspirao a um tipo de
obra de arte que, cada vez mais consciente
das vrias perspectivas de interpretao, se
apresenta como estmulo para uma interpre-
tao livre, orientada apenas nos seus traos
essenciais.
A sugesto simblica procura favorecer
no tanto a recepo de um significado
preciso, mas um leque de significados pos-
sveis, todos imprecisos e igualmente vli-
dos, conforme a capacidade interpretativa do
receptor. No limite extremo, temos certas
obras, que pela sua construo, renovam os
seus significados, autoproliferando em pers-
pectivas prprias e aspirando a constituir um
sucedneo do mundo. Que concepo de obra
tm os artistas hoje? De que modo estas
intenes se concretizam em modelos
operativos e, logo, em estruturas formais?
Cada obra exprime uma potica e para
compreender a obra, necessrio compre-
ender a potica que a ela preside. No se
trata apenas de fruir, mas de estar consciente
da fruio, no uma obra como forma sen-
svel, quer dizer, reagir aos estmulos fsicos
do objecto e reagir no apenas atravs de
um acordo de ordem intelectual, mas de um
conjunto de movimentos sinestsicos, de
respostas emocionais, de maneira a que a
fruio do objecto, ao complicar-se com todas
estas respostas, no assuma a exactido
unvoca da compreenso intelectual de um
referente determinado e que a interpretao
da obra se torne, por isso, pessoal,
posicionada, mutvel, aberta.
A Esttica procura repensar os ideais da
modernidade e da ps-modernidade, tendo em
conta um elemento novo a cultura plane-
tria e globalizante , o que impe a neces-
sidade de reflectir sobre as relaes da arte
com o mundo da comunicao interactiva,
na rede de uma cultura geral. A Esttica que
parta de um essencialismo, que se proponha
encontrar normas em funo de teorias gerais
da arte, actualmente, no tem campo de
aplicao, correndo o risco de tornar-se um
pensamento de contedos anacrnicos, sem
relao com o esprito do tempo e sob pena
de alienar a relao da arte com a situao
concreta das condies de possibilidade em
que se realiza. Pensar o comportamento dos
indivduos com as coisas, manifestao de
ateno ao presente da vida no seu desen-
rolar-se.
Uma reflexo sobre o espiritual do design
descobre como capaz de conceder esse valor
espiritual, quer a inteno do designer, quer
o uso do artefacto criado, reforando a
perspectiva de que o que se faz, d forma
ao que somos e quilo em que nos tornamos
(Victor Papanek). Por outro lado, o mundo
tambm pode ser visto como um produto de
uma civilizao; construdo, projectado por
indivduos e, por isso, acontecem projectos
conseguidos ou no conseguidos (Otl Aicher),
atravs dos quais o indivduo se vai trans-
formando naquilo que vai sendo.
O design, tal como a arte e a engenharia,
procura desenvolver possibilidades de
interaco com a existncia, quer do ponto
de vista emotivo (esttico e tico), quer do
ponto de vista funcional (pragmtico). A
prtica do design distingue-se da prtica
481 ESTTICA, ARTE E DESIGN
esttica, pela condio de inutilidade funci-
onal da arte, estigma e condio do design.
Distingue-se tambm da prtica da engenha-
ria, pela interpretao da construo da forma,
atravs do recurso a argumentos que no se
limitem funo e tecnologia, mas sejam
portadores da potica de uma autoria, enquan-
to espao conseguido de liberdade, a prop-
sito do projecto (lvaro Siza).
A reflexo sobre a origem da disciplina
do design, estabelece parcerias entre o pen-
samento que revela contedos pelo discurso,
pelo argumento, pelo conceito e o pensamento
materializado em artefactos culturais,
marcadores do tempo e de contedos de
experincia, considerando as relaes do
design com os seus parceiros mais directos
como o artesanato, a engenharia e a arte e
com linhas interpretativas mais do domnio
da ontologia, da semntica, da fenomenologia
ou do estruturalismo. A natureza cultural do
design reforada se, para alm de quali-
dades prticas/funcionais, a inovao espe-
cfica do design manifestar novas propostas
estticas, o que pressupe esclarecimento
acerca das relaes entre a autoria, o produto
e a funo.
A Esttica, a Arte e o Design so modos
de reflexo que podem colocar em relao
o indivduo (inteligncia emocional), a cul-
tura da comunidade (patrimnio, tradio,
logos comum) e o mundo (ordem/desordem
dinmica), desenvolvendo elos de sentido,
resultantes da aliana da experincia e do
pensamento, em ordem criao de mais
argumentos de liberdade.
_______________________________
1
Universidade de Aveiro. Coordenadora da
Sesso Temtica de Esttica, Arte e Design do
VI Lusocom.
482 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
483 ESTTICA, ARTE E DESIGN
Apresentao
Maria Teresa Cruz
1
A importncia crescente da relao entre
comunicao, arte e esttica est bem expres-
sa nos desenvolvimentos mais recentes das
Cincias da Comunicao e dos estudos dos
media, nomeadamente nos seus curricula, nas
suas linhas de investigao e at na confi-
gurao e designao das instituies que os
acolhem. A injuno entre comunicao e
artes apresenta assim uma inscrio lata da
comunicao na cultura, a partir de uma
leitura ampla das suas prticas, do mesmo
modo que a injuno comunicao social
tem representado a inscrio lata da comu-
nicao no mbito dos fenmenos sociais e
nesse seu primeiro grande espao de com-
preenso que so as Cincias Sociais. Esta
abordagem complementar no significa ne-
nhuma secundarizao das Cincias Sociais
e Humanas no enquadramento epistemolgico
das Cincias da Comunicao, e menos ainda,
uma sua entrada forada no campo discipli-
nar tradicional da Teoria da Arte e da Es-
ttica. Trata-se, sim, de fazer ressaltar que
a comunicao no apenas traz consigo uma
viragem dos nossos paradigmas tericos e
uma transformao profunda dos processos
sociais, como tambm possibilidades criati-
vas que abrem a cultura humana a caminhos
que mal vislumbramos ainda nos dias de hoje.
Esta viso tem-se vindo a impor em
contraponto a um entendimento da comuni-
cao como um conjunto de fenmenos que
reproduziriam a racionalidade social e, em
crculo, a destinariam tambm predominan-
temente reprodutibilidade.
Nesta nova perspectiva, que coloca maior
ateno no sentido e potencialidade da co-
municao como um conjunto de prticas
mais aberto e, simultaneamente, propiciador
da prpria abertura da experincia, esto
presentes aspectos que se tornaram j quase
correntes na caracterizao contempornea da
comunicao: a emergncia dos novos media
informacionais, que vieram acrescentar e
instabilizar produes, efeitos e instituies
resultantes dos media tradicionais, a aparen-
te instigao destes novos media experi-
mentao e expresso individual, a sua
vocao para ultrapassar a lgica de difuso
e de massa em procedimentos simultaneamen-
te globalizveis e singularizveis, a tendn-
cia para uma ficcionalizao da experincia
a partir do peso crescente do virtual e do
simulacro no espao comunicacional, a
plasticidade que adquirem os arquivos e os
materiais da cultura em geral, quando trans-
formados em bases de dados informacionais
e, ainda, as possibilidades de interaco que
oferece este novo universo comunicacional,
em oposio passividade de uma cultura
do espectculo.
Pode entender-se, com alguma justia, a
partir desta breve elencagem, que a
racionalidade comunicacional est hoje par-
ticularmente marcada pela tecnologia, o
mesmo acontecendo com as novas prticas
e artes que nela emergem, muitas vezes
referidas, com efeito, como artes
tecnolgicas. Mas, tal como no uma teoria
da arte que rege a injuno comunicao
e artes, no tambm um determinismo
tecnolgico que a comanda. Alis, o campo
da comunicao, que conhecia antes uma
identificao forte pela natureza e funciona-
lidade tecnolgica dos seus media, v-se hoje
unido, pelo contrrio, a uma infinidade de
outros campos e de outras actividades,
mediante o uso das novas tecnologias da
informao, da electrnica e da ciberntica,
partilhando com eles infra-estruturas micros-
cpicas como o chip e implicaes
macroscpicas como a globalizao. So pois
as prticas, e no meramente as tecnologias,
que se tornam importantes na caracterizao
da condio contempornea da comunicao.
assim de uma especificao do agir
comunicacional que se trata, quando se fala
da injuno entre comunicao e artes. Ela
exige, com efeito, procedimentos, gestos e
competncias culturais novos, em torno dos
484 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
quais se organizam tambm novos desem-
penhos e novas profisses e, ainda, novos
hbitos e novas formas de recepo : pro-
gramar, desenhar, simular, jogar, interagir
etc... so dimenses da prtica comunica-
cional que fazem apelo, quer a competncias
logotcnicas, quer a uma dimenso criativa
do ser humano e a uma transformao da
suas formas de percepo e de sensibilidade.
O agir comunicacional torna-se assim impul-
sionador directo de experincias culturais
novas, nas quais colidem e se instabilizam
categorias s quais o pensamento moderno
havia procurado conferir autonomia e niti-
dez, como por exemplo as de arte e de tcnica,
que inclusivamente se oponham, de certo
modo, entre si. O espao do agir
comunicacional e das suas novas mediaes
hoje o lugar onde, pelo contrrio, elas
parecem convergir. Esta convergncia exige
articulaes tambm no plano da reflexo.
Por um lado, a nossa concepo moderna de
arte e a autonomia conferida prtica ar-
tstica que lhe corresponde so estreitas para
albergar as experincias com estes media
comunicacionais. Por outro lado, uma
perspectivao tradicional da comunicao
permance cega relativamente a estas injunes
da comunicao com as artes e a esttica,
encarando-as como uma dimenso
tendencialmente irracional da comunicao.
Um tal preconceito tem origem num ideal
de comunicao, de linguagem e de cultura,
renitente em aceitar dimenses da experin-
cia que a modernidade, contudo, vem expres-
sando desde h muito. Um ideal que , em
si mesmo, limitador da compreenso da
comunicao nas sociedades contemporne-
as: o de sujeitos que comunicam entre si
segundo o modelo exclusivo de um uso
intencional, lgico e argumentativo da lin-
guagem, ao qual se juntam, quando muito,
dimenses retricas e pragmticas da comu-
nicao, sujeitos esses que negoceiam entre
si aspectos da experincia cognitivos, pol-
ticos, ticos e de gosto. O campo e as prticas
comunicacionais so tambm constitudos, no
entanto, por dispositivos tcnicos, por
suscitaes da criatividade e da expresso e,
ainda, por mobilizaes e formataes da
percepo e da sensibilidade.
Estas dimenses da experincia no so
meros restos de uma dada racionalidade
dominante e no so tambm externos nem
divergentes relativamente racionalidade
comunicacional. A compreenso de algumas
das dimenses fundamentais dos processos
comunicacionais da actualidade exige, na
verdade, o aprofundamento de vias de refle-
xo que passam, quer pela compreenso da
injuo entre arte e tcnica, indispensvel para
a compreenso do papel das mediaes
comunicacionais na produo cultural con-
tempornea, quer ainda pela injuno entre
esttica e tcnica, para a compreenso da
mobilizao e maquinao que a comunica-
o faz da percepo e da afectividade. A
efectividade destas convergncias no
sequer inteiramente nova, como o mostra o
profundo entretecimento da cultura e dos
media, pelo menos desde o final do sculo
XIX e ao longo do sculo XX. Bastar para
tanto referir: o advento da fotografia e do
cinema que hoje entendemos, sem discusso,
como fazendo simultaneamente parte do
universo das artes e do universo da comu-
nicao ou o surgimento de um cultura e de
uma arte pop a meados do sculo XX,
decorrentes de uma integrao plena e re-
flectida das mediaes comunicacionais.
Vrios destes media, como o desenho, o
grafismo, a fotografia, o cinema e o video,
sendo plenamente reconhecidos como artes,
fazem tambm plenamente parte do universo
comunicacional, tendo provocado um alarga-
mento decisivo do espao alfabtico em que
este se constitui desde a galxia de
Gutenberg. Na sua plena ambivalncia
reconhecida de artes comunicacionias estes
media integram hoje, por sua vez, novas
possibilidades de cinematismo, de animao,
de significao e de expressso, conferidas
pela mediao computacional multimedia, e
tambm isto corresponde a um alargamento
do espao da comunicao: o seu alargamen-
to pela informao, que um alargamento,
no apenas extensivo, mas intensivo, em
virtude da plasticidade, acessibilidade sub-
jectiva e universalizao que esta lhe con-
fere.
Tais possibilidades no podem deixar de
transformar profundamente e conjuntamente,
quer a comunicao quer a cultura, tal como
outrora o fizeram o alfabeto, a escrita e, ainda,
as diversos dispositivos da imagem.
485 ESTTICA, ARTE E DESIGN
O design parece ocupar, nesta cultura dos
novos media, um protagonismo particular,
unicamente comparvel, talvez, quele que
tem pertencido escrita na cultura da literacia,
sendo ento necessrio compreender as ra-
zes de um tal protagonismo.
A sua quase imposio cultura em geral
est para alm da procura de uma elevao
esttica dos seus objectos e prticas, ligan-
do-se antes obrigatoriedade de projectar,
construir e dar sentido a um verdadeiro novo
espao cultural imposto pela comunicao e,
sobretudo, pelas novas tecnologias da infor-
mao. Como mostram as suas novas espe-
cialidades, tudo se desenha hoje: para alm
dos produtos industriais, a comunicao em
geral, ultrapassando em muito o desenho
grfico. Desenha-se no apenas o universo
da palavra e do trao, mas tambm o da
imagem (Image Design), desenha-se tudo o
que possa ser veiculado na forma da infor-
mao e, por isso, as especialidades do
desenho de informao (Information Design)
so hoje muito diversas: desenham-se os
ambientes virtuais (Environmental Design e
Web Design) , os interfaces (Interface Design)
e as interaces (Interaction Design). Dese-
nham-se igualmente as ideias e os projectos
(Project Design) e, de certa forma, desenham-
se tambm j os corpos e as experincias.
O design a disciplina que assiste hoje toda
a cultura e, em especial, a cibercultura, na
tarefa de conferir um mnimo de estabilidade
e de tipologia (de forma) ao universo sem
sentido do digital, que , ao mesmo tempo,
um universo extremamente plstico, mutante
e hbrido. A centralidade do design pois
a de uma verdadeira nova linguagem em
processo de constituio. Ele testemunha,
talvez melhor do que qualquer outra prtica
comunicacional dos dias de hoje, o quanto
as injunes entre comunicao, arte e es-
ttica so centrais racionalidade
comunicacional e o quanto necessitam, por
isso, de uma reflexo estratgica e crtica.
_______________________________
1
Universidade Nova de Lisboa. Coordenadora
da Sesso Temtica de Esttica, Arte e Design
do II Ibrico.
486 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
487 ESTTICA, ARTE E DESIGN
Resultados y funcin de procesos de investigacin
sobre intervencin en esculturas del patrimonio
Antonio Garca Romero, Vicente Albarrn Fernndez,
Rodrigo Espada Belmonte, Cayetano Jos Cruz Garca
1
El grupo de investigacin Mtodos y
Tcnicas de Reproduccin y Reconstruccin
Escultrica y de Tratamiento de Superficie
est financiado por el Plan de Investigacin
de la Junta de Andaluca. Este grupo pertenece
al departamento de Escultura e Historia de
las Artes Plsticas, adscrito a la Facultad de
BBAA de la Universidad de Sevilla. Dicho
grupo, viene ejerciendo como desarrollo de
su investigacin: la reconstruccin de
volmenes perdidos y el estudio de
recomposicin, que nos permite determinar
cmo fue una obra escultrica en sus orgenes,
incluidos sus tratamientos de superficie, para
su posterior exposicin en museos o espacios
arquitectnicos.
Las intervenciones especificadas se
realizan siempre sobre las reproducciones
fidedignas de las piezas originales.
El proceso de intervencin del grupo se
sintetiza en el desarrollo de tres momentos
definidos:
- Reproduccin del estado actual de la
pieza y posibles componentes de la misma.
- Recomposicin del conjunto
escultrico.
- Reconstruccin de los volmenes
perdidos, tras un estudio exhaustivo del
modelado e historia de la pieza.
- Tratamiento de superficie (dorado,
ornamentacin y policroma) sobre las
reproducciones.
Para el desarrollo de la primera fase,
realizamos moldes a base de elastmeros in
situ, partiendo del propio original. A partir
de estos, se elaboran una serie de
reproducciones en materiales especficos y
adecuados al mismo.
Tras un importante estudio de la pieza:
entorno, hallazgo, autor e historia de la obra
y sus contemporneas se procede a su
reconstruccin, teniendo en cuenta los
criterios compositivos propios del lenguaje
escultrico.
Si el estudio nos permite confirmar la
existencia y localizacin de otros fragmentos
existentes de la obra, previa reproduccin de
los mismos, procederemos a anexionarlos a
la escultura reproducida o, en caso de la
inexistencia de fragmentos, realizaramos el
modelado volumtrico de sus prdidas. Si
existieran lagunas entre estas piezas se
reconstruiran siguiendo alguno de estos
criterios:
a) Bajando el nivel de superficie en las
zonas a reconstruir;
b) Cambiando la textura con respecto a
los fragmentos originales.
Una vez logrado el conjunto escultrico,
si procede, pasamos a recuperar el tratamiento
superficial de la obra, a partir de la
documentacin recopilada, para lograr una
visin retrospectiva de su estado original. Con
dicha actuacin, el espectador puede conocer
la visin global de la obra sin desvirtuar lo
que de original permanece en ella.
Nuestras investigaciones han permitido
participar en la conservacin, rehabilitacin
e integracin del Patrimonio Histrico-
Artstico y Arqueolgico. Se realizaron
varias intervenciones sobre obras de museo
o del paisaje arquitectnico, tales como el
Caballo de Porcuna (Museo Arqueolgico
de Jan), la Cabeza de Adriano (Museo
Arqueolgico de Sevilla), el busto romano
de Catn (Museo Arqueolgico de Tetun),
los escudos herldicos y leyendas, o el
Caballo de Cancho Roano (Museo
Arqueolgico Provincial de Badajoz). Las
esculturas ptreas de personajes ilustres
(Palacio de San Telmo), el Giraldillo
(Catedral de Sevilla) y las esculturas
ubicadas en el interior y fachada del Pabelln
de Mjico (Sevilla). Tambin se ha
intervenido, desde la exposicin didctica,
mediante reproducciones de esculturas
clsicas (Hebe y Torso Romano de Mrida),
y cursos nacionales e internacionales que
versaron sobre nuestra materia, entre los que
488 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
destacan los realizados el Instituto de Bellas
Artes de Tetun (Marruecos) y la realizacin
de videos didcticos de diferentes procesos.
Con estos proyectos se ha participado en
la mejora de la difusin de importantes obras
para la activacin social y turstica.
Proceso de restitucin, reconstruccin de
fragmentos perdidos y policromado de copia
del Giraldillo
Este proyecto nace como resultado de
la propuesta de recuperacin y conservacin
de la copia del Giraldillo, de la que se
parti para el duplicado de bronce que hoy
vemos coronando la Giralda. Dicha copia,
confeccionada con resina de polister, fue
fragmentada en el transcurso del proceso de
fundicin. El objetivo de la actuacin
pasaba, por tanto, por devolver todos estos
fragmentos a su disposicin original. Sin
embargo, la deformacin que haban
experimentado la mayora de las piezas,
impedan su perfecto ajuste; con lo cual, el
proceso de intervencin adquira una mayor
complejidad.
Por otro lado, se detect la inexistencia
de algunas piezas, tales como varios dedos
de la mano izquierda y derecha, as como
diversos fragmentos de la corona y de la
palma.
El eje central de la escultura, de hierro
galvanizado, se hallaba fragmentado. Su
lamentable estado desaconsejaba su
reparacin, por lo que fue sustituido por otro.
Esta estructura central recorra la figura desde
la cabeza hasta los pies, sobresaliendo un
metro por debajo de estos, para, finalmente,
insertarse en la bola, que sirve de base a la
figura.
Tras la localizacin de las piezas que
haban sufrido deformaciones, alterando el
movimiento general de la figura, se dise
la estrategia para devolverlas a su estado
original. La naturaleza del material de soporte,
la resina de polister, permita su maleabilidad
con la elevacin de la temperatura. As, las
distintas piezas fueron siendo sometidas a
dicho proceso, llevando un orden ascendente.
Se corrigi la deformacin existente,
obtenindose un perfecto ajuste entre sus
juntas; siendo stas fijadas desde el interior,
con resina de polister y fibra de vidrio. Para
evitar posibles desacoples y una perfecta
unin se utiliz un sistema de torniquetes y
gatos.
La excesiva altura y peso de la figura
aconsejaba el desarrollo de un sistema basado
en la confeccin de diferentes radios de
sujecin, dispuestos a diferente altura, a
medida que iban siendo restituidos los
fragmentos. Estos radios, que unan el interior
de la figura con el vstago central,
garantizaran la estabilidad de la pieza y
evitara posibles desplazamientos.
La siguiente fase consistira en el repaso
de las juntas desde el exterior. Se trataba de
reponer material donde faltaba y obtener
planos limpios en las superficies de unin
de las piezas.
Tras la reconstruccin de la copia y el
estudio de la documentacin histrica de la
escultura, se resolvi acometer la restitucin
hipottica de la policroma original, de la que
no existe documentacin grfica, aunque s
escrita. Se trataba de ofrecer una propuesta
abierta, teniendo en cuenta las circunstancias
que han marcado la historia de la escultura:
prdidas de policroma y volumtricas,
repolicromados, aadidos,...
Para la ornamentacin de los elementos
aadidos en 1770, se tuvo en cuenta un
detallado dibujo que conserva el Archivo
Catedralicio. Entonces, la escultura, muy
deteriorada, fue sometida a importantes
alteraciones tanto en su estructura como en
su aspecto externo.
El proceso de restitucin de los
tratamientos de superficie se inici con el
dorado de la figura, prcticamente en su
totalidad, a excepcin de las zonas destinadas
a la encarnadura. El procedimiento elegido
fue el dorado con mistin al aceite y pan
de oro.
El policromado de la figura se desarroll,
tras la aplicacin y secado de un barniz
protector para metales, que evitara la
oxidacin del dorado al entrar en contacto
con la humedad. La policroma se desarroll
conforme a la iconografa y simbologa de
los colores de la poca, as como a la
documentacin histrica mencionada.
489 ESTTICA, ARTE E DESIGN
Proceso de consolidacin, recomposicin y
reconstruccin de fragmentos existentes y
perdidos de las esculturas ptreas de la
portada del Pabelln de Mjico.
Con motivo de la rehabilitacin del
Pabelln de Mjico, que tuvo lugar a
comienzos de la dcada de los noventa, se
plantea la restauracin de las figuras ptreas
que custodian la portada principal.
Se trata de dos esculturas femeninas, que
parecen representar dos deidades de la
abundancia. Las esculturas, de piedra
compuesta, son huecas, lo cual revela su
confeccin a partir de moldes.
Ambas piezas presentaban un mal estado
de conservacin, con importantes deterioros,
motivados, en gran medida, por la oxidacin
de las estructuras metlicas internas de las
peanas y figuras. Cabe destacar entre los
principales daos: la desestabilizacin de la
estructura interna de las peanas, lo cual
provocaba importantes tensiones en las
esculturas que sustentaban, ponindolas en
peligro; prdidas de volumen generales en
rostros, brazos y peanas; desconsolidacin
de fragmentos existentes, en figuras y
peanas; y grietas y fisuras generalizadas.
Se decidi iniciar la intervencin con el
refuerzo interior de las piezas, para la
paralizacin de las tensiones mencionadas.
Las estructuras de hierro oxidadas y en mal
estado fueron extradas y sustituidas por
otras nuevas. Esta operacin se desarroll
primero en las peanas y, posteriormente, en
las figuras; operacin que requera un
especial cuidado. Para ello, era
imprescindible acceder al interior de las
piezas, por lo que se practic un acceso en
el tabique lateral de las peanas. Tras la
actuacin en el interior, se intervino en el
exterior de las piezas: reconstruccin de los
fragmentos perdidos, recomposicin y
consolidacin de fragmentos existentes,
consolidacin de fisuras, aplicacin de una
pelcula protectora hidrfuga, y la
elaboracin y aplicacin de una pelcula de
temple coloreada en funcin de las figuras.
Como siempre, se prest especial cuidado
en que las intervenciones no alteraran la
lectura original de las obras, por lo que se
acudi a las fuentes de documentacin
existentes y se tuvo en cuenta el movimiento
de las masas externas.
Proceso de consolidacin y reconstruccin de
fragmentos perdidos de las tallas del Pabelln
de Mxico. (Sevilla). (1.929) (Pabelln de
Mjico, Sevilla).
Con motivo de las recientes obras de
rehabilitacin del Pabelln de Mxico, hoy
sede del Tercer Ciclo de la Universidad de
Sevilla, construido con ocasin de la
Exposicin Iberoamericana que se celebr en
Sevilla en 1929, se propone la restauracin
de dos tallas en piedra.
Las esculturas representan dos figuras
alegricas: el soldado castellano, conquistador
del nuevo mundo y el guerrero indio, que
habitaba la tierra descubierta, como
representacin de los dos mundos
encontrados.
Las obras presentaban daos de
considerable importancia: rotura y prdida de
cabeza, rotura de las piernas a la altura de
las rodillas y sustancias adheridas a la
superficie, en el soldado castellano. Rotura
y prdida de cabeza y sustancias adheridas
(restos de materiales propios de la
construccin), en el guerrero indio.
Tras el estudio de la documentacin
existente, de mediocre calidad, y tras una serie
de operaciones encaminadas a la mejora de
las mismas, se procede a la reconstruccin
de las piezas perdidas. Las cabezas son
modeladas conforme a la documentacin
grfica y teniendo en cuenta las caractersticas
estilsticas propias de la escultura: proporcin,
lenguaje, estilo,... Posteriormente, se realizan
los moldes de las mismas y se positivan en
resina de polister. Tras los oportunos estudios
de la piedra original, se opta por una de
similares caractersticas en cuanto a color,
textura, porosidad, dureza,..., la cual ser
finalmente tallada.
La consolidacin de todos los fragmentos
se realiz en la ubicacin original de las
esculturas, unas hornacinas situadas a ambos
lados de las escaleras que dan acceso a la
segunda planta. De esta manera se evitaba
posibles tensiones que podran sufrir en el
traslado, montaje y carga. Para ello fue
necesario un sistema de polea y una
490 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
exhaustiva sincronizacin en las operaciones,
dado el gran peso de las piezas y el escaso
tiempo y espacio disponible. Se utilizaron
consolidantes de piedra de dos componentes,
altamente resistentes, y gavillas de acero
galvanizado, reforzadas con otros
consolidantes, para aportar la suficiente
fortaleza a las zonas fragmentadas.
Previamente fueron practicadas una serie de
perforaciones en los roturas de las piezas a
consolidar. Se introdujeron las gavillas en los
calibrados, junto con los consolidantes y se
fueron acoplando las piezas, con ayuda de
la gra, hasta conseguir un perfecto ajuste.
El hecho de tratarse de una rotura limpia (la
del soldado castellano), facilit bastante el
proceso, pues la pieza superior se mantena
ya por su propio peso. Finalmente, se
consolidaron las cabezas, utilizndose el
mismo sistema. Se rellenaron las grietas
existentes y las juntas, con una mezcla de
componentes de similares caractersticas a la
del original.
Jinete desmontado y enemigo vencido (s. V
a. de C.) (Museo Arqueolgico Provincial de
Jan)
Durante las excavaciones llevadas a cabo
entre 1975 y 1979, en El Cerrillo Blanco,
de Porcuna (Jan) aparecieron, entre
numerosos restos escultricos, diferentes
fragmentos pertenecientes al mencionado
conjunto escultrico. Se reconstruyeron las
patas del caballo y parte del lomo, siguiendo
criterios de composicin, movimiento y
proporcin para una idea aproximativa.
La recomposicin se realiz partiendo de
tres evidencias nuevas Negueruela, 1992: 102:
1) la existencia de un torso de guerrero al
que le asoma una lanza por la espalda, junto
a la observacin de que el Jinete
desmontado debi haber llevado una lanza
en su ahuecada mano derecha, lo que
permita establecer una relacin lgica. 2)
el anlisis de una basa muy desgastada en
la que pudimos leer dos pezuas traseras
de caballo, dos pies de guerrero y los restos
de otro guerrero, cado. 3) el haber localizado
el fragmento con la rodilla izquierda del
jinete, lo que nos daba el ngulo seguro de
prolongacin de esa pierna. Minuciosos
estudios de restitucin de las piernas del
jinete, de las patas del caballo y de la
relacin de ambos cuerpos (jinete y caballo),
nos permitieron demostrar la pertenencia de
esta basa al grupo en cuestin. A su vez,
el guerrero alanceado se ubic en el conjunto
tanto por su parte inferior (para unirlo a
restos que existan en la basa: mano sobre
escudo, pierna izquierda adosada al suelo,
y pie derecho), cuanto por su parte superior
para unirlos a los restos que quedaban en
el jinete y el caballo.
Baco de Chirivel. (Siglo II d.c.) (Museo
Provincial de Almera)
La escultura, de origen romano, fue
localizada en el sitio arqueolgico de Villar
del Rey, (Almera), donde se realiz una
excavacin de urgencia en 1985.
La obra, realizada en mrmol, representa
a un dios de origen griego, al que le faltan
los brazos pero, se pueden suponer otros
atributos divinos en las manos; en la
izquierda una vara de tirso y en la derecha
kntharos inclinados hacia la pantera.
Ramos, 1992.
La actuacin sobre dicha obra consisti
en la reproduccin de la misma en resina
tratada mediante un molde de silicona densa
y caja de resina de polister.
Escudos e inscripciones del puente de Palmas
de Badajoz, (s.XVI, XVII). (Museo
Arqueolgico Provincial de Badajoz.)
El siguiente trabajo, consisti en la
reproduccin de seis piezas correspondientes
a inscripciones y escudos herldicos, cuyos
originales estn depositados en el Museo
Arqueolgico Provincial de Badajoz.
Estos originales se ubicaron en su
momento en la cabecera y final del puente
de Palmas de Badajoz, se realizaron por
diferentes motivos: reconstruccin,
ampliacin y financiacin del puente.
El puente de Palmas, segn Gonzlez, fue
construido a mediados del siglo XV, pero
segn Araya y Rubio, 2003: 39, El puente,
segn rezaba una inscripcin, fue terminado
en el ao 1596, siendo Rey Felipe II y
Gobernador de la ciudad Diego Hurtado de
Mendoza; aunque algunos autores mencionan
491 ESTTICA, ARTE E DESIGN
que se construy junto con la puerta en 1460,
y fue destruido en una fuerte inundacin en
1545.
Aunque desde entonces ha sufrido
numerosos daos ocasionados por las
repetidas crecidas del Guadiana, que ha
obligado a su reconstruccin en diferentes
ocasiones, como la del 6 de diciembre de
1.876, acompaando estas actuaciones con
escudos e inscripciones recordatorias, como
documenta Gonzlez, 1994: 205 213.
Las piezas estuvieron colocadas en el
puente hasta 1871, ao en el que se sustituy
el pretil de mampostera donde se hallaban,
por una baranda metlica. Ese ao, fueron
recogidas por el Cuerpo de Ingenieros de
Caminos y se trasladaron al Taller de Obras
Pblicas. Tras 23 aos de negociaciones, por
fin en 1894, se trasladaron al Museo
Arqueolgico
Las piezas consisten en:
- Escudo de Badajoz, expuesto en las salas
del museo, y realizado en mrmol.
- Gran panel en relieve, realizado en
mrmol y compuesto de tres escudos: un
escudo de Espaa, uno de Badajoz, y un
escudo de armas, de una casa desconocida.
- Escudo de la Casa Real rodeado del
Toisn, realizado en mrmol, expuesto al
exterior. Con la corona y la cabeza del guila
totalmente destruidas a pedradas en las
revueltas del movimiento insurreccional del
29 de septiembre de 1868.
- Escudo de cinco carteles, entre ellos los
de las Casas de los Mendoza y Sols, realizado
en mrmol, y ubicado en los almacenes del
Museo.
- Inscripcin dedicada a Felipe II, perdida
en su totalidad, y recogido su texto en
documentos, ao 1596.
- Inscripcin de reconstruccin del puente
el 6 de Julio de 1609, realizado en mrmol,
ubicado en los almacenes.
- Inscripcin de ampliacin del puente,
en mrmol, descubierto en el siglo XX, con
la leyenda casi perdida, de muy difcil lectura,
ubicado en los almacenes.
La descripcin y catalogacin de los
mismos, como constata Mlida, 1926: 153
155, en la Serie Hispano-Cristiana.
La realizacin se efectu en colaboracin
con la arqueloga y restauradora de piezas
arqueolgicas Ftima Marcos Fernndez,
segn su dictamen, el estado de conservacin
de estas era bueno para la aplicacin del
molde. No obstante se protegieron las mismas
con un desmoldeante inocuo debido a que
en algunas partes la piedra haba perdido
consistencia.
Algunas piezas fueron limpiadas
superficialmente, por que en su superficie
haban aflorado musgos, al encontrarse
expuestas al exterior, como el caso del gran
panel de tres escudos, o el escudo de la Casa
Real.
Los moldes de realizaron con silicona
densa y caja de resina de polister y fibra
de vidrio, reforzndose estas con listones de
aluminio que evitaron el arqueamiento de los
moldes, sin aportar peso a estos.
Se desech la silicona lquida para evitar
la penetracin de la misma en los poros de
la piedra, evitando as problemas de adhesin
y desgarro de los originales.
Especial rapidez y limpieza requiri el
escudo de Badajoz expuesto en las salas del
museo, trabajando molde de silicona y caja
en la tarde noche del domingo y lunes,
dejando pieza y estancia preparadas para su
exposicin.
Los moldes de las piezas expuestas al aire
libre tambin requirieron rapidez de trabajo,
esta vez motivado por las inclemencias del
tiempo, con la problemtica aadida de los
conflictos de catalizacin de la resina en
contacto con la humedad.
Las reproducciones se hicieron fuera ya
de las estancias del Museo, en piedra
artificial, conformada por cemento blanco y
mrmol de diferentes densidades en
superficie, reforzadas en su interior por mallas
metlicas.
En cuanto a la inscripcin perdida, se
construy en su totalidad en el mismo
material que el resto, aunque con un formato
de texto actual, sin querer imitar a piezas
arqueolgicas, sino como referencia
informativa, aunque con la misma ptina que
el resto de las piezas, para que su lectura
cromtica no distorsione.
El tratamiento de superficie se realiz
al leo, siguiendo un criterio, no de
equiparacin total al original, sino de lectura
didctica para el espectador, ya que esta ser
su misin en la ubicacin definitiva de las
reproducciones.
492 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Las obras se colocaron bajo el nivel de
suelo, en unas cajas metlicas de aluminio,
perforadas en sus laterales, con orificios de
conductividad del aire para evitar la
condensacin del agua, y protegidos por un
cristal blindado, que permite vislumbrarlos
desde la superficie. Un foco de luz blanca
en cada una de las cajas, permite su
iluminacin nocturna.
Caballo de Cancho Roano y bocado de
caballo. (Siglo V a.c.) (Museo Arqueolgico
Provincial de Badajoz).
Como documenta Celestino, 2002: 22
35, la escultura del caballo y la cama lateral
del bocado de un caballo, fueron encontradas
en el sitio arqueolgico de Cancho Roano,
junto a la localidad de Zalamea de la Serena,
en Badajoz.
El sitio de Cancho Roano, pertenece a
un levantamiento prerromano destinado como
centro religioso y de culto.
En el emplazamiento se hallaron
numerosos objetos de cermica, (jarros,
nforas), de bronce, (braseros, botones), dados
de hueso, etc., pero destaca especialmente
la aparicin de una escultura de pequeo
formato que representa un caballo ricamente
enjaezado, encontrado en el sector oeste.
Al tratarse de una pieza hallada en el
trmino provincial de Badajoz, se destin al
Museo Provincial de la Capital, donde se
expone hasta la fecha.
Aprovechando una revisin de las piezas
encontradas en Cancho Roano por parte de
la restauradora de piezas arqueolgicas
Ftima Marcos Fernndez, realizamos un
molde sobre la escultura del caballo y del
bocado, para realizar reproducciones con
vistas a realizacin de regalos oficiales por
parte del Excmo. Ayuntamiento de Zalamea
de la Serena, (Badajoz), otorgando a la pieza
un nuevo carcter de divulgacin del
patrimonio extremeo.
Para la realizacin del molde se trataron
las piezas fijando su superficie de bronce y
aplicando un desmoldeante inocuo sobre las
mismas.
El molde se realiz con silicona densa
y caja madre de resina de polister con fibra
de vidrio, de siete piezas.
Se realizaron diez copias del caballo y
dos del bocado, todas ellas realizadas en
resina de polister, con una ptina de
imitacin al bronce, siguiendo en esta los
pasos de oxidacin del bronce, a travs de
pinturas sintticas especialmente tratadas y
pigmentadas.
Investigacin de intervencin sobre una copia
del busto romano de Adriano.
En la Sala Villass del Centro Cultural
El Monte de la ciudad de Sevilla, tiene lugar
la exposicin del ao 2001: Retratos romanos
de la Btica. Con motivo de dicha muestra
escultrica se proyecta la reconstruccin de
fragmentos perdidos y policromado de una
copia del Busto romano de Adriano, con el
propsito de recuperar la visin original de
la obra.
La muestra reuni esculturas marmreas
procedentes de distintos Museos
Arqueolgicos de Andaluca: Cdiz, Crdoba,
Mlaga y Sevilla; del Museo Nacional, y de
diversas colecciones privadas. La seleccin
de retratos comprenda el perodo entre el
siglo I a.C. y el siglo III, por lo que permita
conocer el proceso evolutivo de la influencia
artstica romana en la Comarca del Bajo
Guadalquivir, a lo largo de dicho periodo.
El Busto de Adriano, perteneciente al
Museo Arqueolgico de Sevilla, es situado
entre la transicin de la poca adrianea y
principios de la antoniniana. Se trata de una
talla en mrmol pentlico, que presenta una
intensa labor de trpano; con una altura de
0,82 m., ms 0,12 m. de pedestal. Len, 2001:
306
Por lo que respecta a su estado de
conservacin, el principal deterioro lo
constituye, sin lugar a dudas, la prdida del
hombro derecho y arranque del brazo del
mismo lado. Se detectan, adems, pequeas
prdidas en los extremos de los bucles
anteriores y en la nariz del gorgoneion.
Esta prdida de fragmentos alteraba
considerablemente la visin original del
busto, puesto que provocaba un evidente
desequilibrio de masas. As pues, se procedi
a la reconstruccin de los mismos sobre una
copia de la obra. Se tuvieron en cuenta los
493 ESTTICA, ARTE E DESIGN
criterios habituales en estos casos, el lenguaje
compositivo, se analizaron y continuaron, en
direccin, los planos interrumpidos en las
roturas, se consultaron obras de anlogas
caractersticas y poca,...
Con esta intervencin, el grupo de
investigacin pretenda aportar una visin
fidedigna de los retratos romanos en su
origen; los cuales eran sometidos a diferentes
tratamientos de superficie: dorado,
policromado y ornamentado. La policroma
cumpla una funcin de realce del retrato en
funcin de la iluminacin propia de la poca,
a base de antorchas, lucernas de aceite, etc.;
esto explica la utilizacin de colores fuertes.
La muestra escultrica ofreca la posibilidad
de contrastar la obra original, que presentaba
el deterioro propio del paso del tiempo, con
la copia, que mostraba su apariencia original,
reconstruida y policromada.
494 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Bibliografa
Abad, Lorenzo, Bendala, Manuel. El
arte Ibrico. Historia del Arte, 1989, Nmero
10, p. 77-78 y 142-143.
Araya, C., Rubio, F.. Gua artstica de
la ciudad de Badajoz. Badajoz, Diputacin
de Badajoz/ 2003.
Celestino, S./ Revista de Arqueologa del
siglo XXI. Madrid: Zugarto Ediciones.
(XXIII).
Garca Romero, A. y Albarrn
Fernndez, J. V.. Proceso de reconstruccin
de fragmentos perdidos y tratamientos de
superficie sobre una copia del Busto Romano
de Adriano. Monografas de arte 2001
2002/ Sevilla, Departamento de Pintura.
Facultad de Bellas Artes Universidad de
Sevilla. Vicerrectorado de Relaciones
Institucionales y Extensin Cultural, 2002.
Garca Romero, A y Albarrn
Fernndez, J. V.. Proceso de restitucin,
reconstruccin de fragmentos perdidos y
policromado de copia del Giraldillo.
Departamento de pintura. Monografas de
arte 2001 2002. Sevilla, Facultad de Bellas
Artes Universidad de Sevilla.
Vicerrectorado de Relaciones Institucionales
y Extensin Cultural, 2002.
Garca Romero, A y Albarrn
Fernndez, J. V.. Proceso de consolidacin
y reconstruccin de fragmentos perdidos de
esculturas ptreas. Tallas del pabelln de
Mjico, de la Exposicin Iberoamericana de
1929. Monografas de arte 2000 2001.
Sevilla, Departamento de pintura. Facultad
de Bellas Artes Universidad de Sevilla.
Vicer-rectorado de Relaciones Institucionales
y Extensin Cultural, 2001.
Gonzlez, A.. Badajoz Ayer. Badajoz,
Servicios Inmobiliarios Extremeos, 1994.
Gonzlez Rodrguez, A.. Puente de Palmas
Badajoz, imagen y recuerdo. Badajoz, Hoy,
2002.
Len, P. Retratos Romanos de la Btica.
Sevilla, Fundacin el Monte. Centro Cultural
el Monte, 2001, N 93, p. 306.
Mlida, J. R.. Serie Hispano Cristiana.
Catlogo monumental de Espaa: Provincia
de Badajoz (1907 1910). Madrid, Ministerio
de Instruccin Pblica y Bellas Artes, 1926,
p.153 155.
Negueruela I.. La Escultura Ibrica.
Cuadernos de Arte Espaol, 1992, Nmero
57, p.15 - 16 (IV) - 20.
Negueruela, J.. Jinete Desmontado y
Enemigo Vencido. Andaluca y el
Mediterrneo. Sevilla, Junta de Andaluca-
Consejera de Cultura y Medio Ambiente,
1992.
Ramos, J. R.. Baco de Chirivel.
Andaluca y el Mediterrneo. Sevilla, Junta
de Andaluca - Consejera de Cultura y Medio
Ambiente, 1992.
_______________________________
1
Grupo de investigacin Mtodos y Tcnicas
de Reproduccin, Reconstruccin Escultrica y de
Tratamiento de Superficie, Universidad de
Sevilla.
495 ESTTICA, ARTE E DESIGN
La potica de la imagen en Deseando Amar de Wong Kar-Wai:
El cuerpo y el espacio como las materias del espritu
Begna Gonzlez Cuesta
1
A travs de un anlisis flmico de la
pelcula Deseando amar de Wong Kar-Wai,
pretendo adentrarme en una cuestin
especialmente interesante con respecto a las
poticas del cine: el tratamiento del mundo
humano interior y su expresin cinema-
togrfica en el trabajo con los cuerpos y los
espacios.
Frente a aquellos que sealan la dificultad
del cine, a diferencia de otras manifestaciones
artsticas, para mostrar la compleja
interioridad del ser humano, es necesario
poner de manifiesto que el cine puede
alcanzar el alma de formas muy variadas con
sus materiales significantes: la palabra, la
msica, el sonido, el texto escrito y la imagen.
En este sentido, me parece necesario
detenerse, a lo largo de la historia del cine,
en aquellas obras que marcan un hito en el
desarrollo del lenguaje cinematogrfico en
cuanto que lo llevan ms all, revelando
nuevos matices. Creo que la obra que voy
a analizar es una de ellas por muchas razones,
entre las que se encuentra la cuestin que
desarrollar en esta comunicacin, es decir,
la manifestacin visual de la interioridad, en
un admirable tratamiento flmico de los
cuerpos y los espacios.
Deseando amar pone en pie una historia
de amor y de secretos muy interior, ntima.
Y sin embargo, aun siendo as, la vemos en
imgenes: se manifiesta en los cuerpos de
los amantes y en los espacios que habitan,
sin que haya una explcita mostracin de sus
relaciones. Wong Kar-Wai consigue hacer en
cine algo que pone en pie la fuerza de la
imagen y de lo visual cuando se trabaja con
maestra cinematogrfica sobre ello: vemos
lo invisible, asistimos a lo ntimo de los
corazones en una sutil danza de cuerpos en
los espacios. Lo intangible se palpa. El cine,
para Wong Kar-Wai, debera ser la expresin
visual de una experiencia emocional: son
palabras de Christopher Doyle, su director
de fotografa.
Pere Salabert, en un interesante libro sobre
las presencias del cuerpo en la pintura a lo
largo de los siglos plantea alguna cuestin
que entronca con lo realizado en el cine de
Wong Kar-Wai: Cuando a Paul Claudel le
encandila la pintura de Vermeer de Delft,
encuentra motivo a su alteracin en que las
figuras del artista, pegadas a la propia
continuidad, permanecen inmviles en la
ventana del pasado. Al trascender la
representacin observa , hacen acto de
presencia y nos despiertan a la conciencia
de la duracin (1967: 49)
2
. Introduce su texto
con dos citas que vienen muy bien al caso.
Platn: El filsofo se ocupa en separar
cuanto ms mejor su alma de las cosas del
cuerpo, y en eso se diferencia de los otros
hombres Platn Fedn 64d-65c. Hegel:
Mediante la belleza, esta apariencia [de los
objetos] se encuentra fijada como tal... El arte
consiste en captar los rasgos momentneos,
fugitivos y cambiantes del mundo y su vida
particular, para fijarlos hacindolos
duraderos Esttica (t.II). De este ltimo lado
se situara el trabajo sobre el cuerpo en
Deseando amar.
La historia que se cuenta en la pelcula
es la siguiente: todo se inicia en el Hong
Kong de los aos 60. Chow Mowan es
redactor en un peridico local; se traslada
junto con su mujer a un nuevo domicilio en
un edificio donde los vecinos en su mayora
pertenecen a la comunidad de Shangai.
Tambin se muda al edificio Su Lizhen, una
bella mujer que vive con su marido. Ella
trabaja como secretaria en una compaa de
exportaciones y su marido es representante
de una sociedad japonesa, por lo que tiene
que ausentarse con frecuencia en viajes de
negocios. Chow y Lizhen van conocindose
y tratndose y tambin se van dando cuenta
de que sus respectivas parejas mantienen una
relacin sentimental. Ellos deben afrontar esta
situacin que les va acercando y, aunque
parece que estn en un estado propicio para
496 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
el amor, como dice el ttulo en ingls, In
the mood for love, no quieren ser como
ellos y viven as una imposible historia de
amor.
Se trata de una historia contada desde el
recuerdo. En el texto citado al final del film
que procede de un relato corto publicado
por Liu Yichang, escritor expatriado original
de Shanghai- se dice que vemos el pasado
a travs de un cristal lleno de polvo, y no
lo podemos tocar. Desde esa perspectiva nos
hemos acercado a las vidas de Chow y de
Su Lizhen y de su historia de amor y desamor,
desde una rememoracin de un tiempo
pasado, desde un intento de reconstruccin
del mismo a travs de las huellas borrosas
que han quedado de un paso fsico de unos
cuerpos por unos espacios. Y lo que
permanece en esa rememoracin es el propio
recuerdo, no tanto el tiempo real, ya pasado.
Lo que queda y lo que se nos ofrece es la
memoria del pasado, no centrada tanto en
los hechos de la aventura de amor entre los
protagonistas, como en lo que ha quedado
grabado de ella, revisitado y estetizado por
el recuerdo.
Volvemos con los personajes a sus
vivencias de un tiempo pasado pero ya desde
el prisma o el punto de vista de la prdida.
Estamos ante un relato de un amor imposible
y ese incumplimiento tie con su sentido de
prdida cada una de las vivencias, dotndolas
de una intensidad muy fuerte. Ser
precisamente el relato flmico como tal el
que deje constancia de las huellas fsicas de
ese tiempo que se ha escapado en la realidad
pero que permanece de alguna forma en la
memoria.
Manteniendo a lo largo del film esta
concepcin de algo que se nos escapa, la
presencia tenue, matizada, elegante, de la
corporalidad y de la espacialidad hacen que,
como espectadores, asistamos a la fuerza de
esa historia de amor y a la peculiar relacin
pasional entre los protagonistas. En una
historia en la que el director desea contar
cmo se viven los secretos, la realidad se
nos hurta y a la vez se nos muestra; de la
misma manera que les sucede a los propios
personajes protagonistas de la historia. Se
reconstruye antes nuestros ojos la memoria
del pasado.
Interesa analizar, por tanto, en esta
comunicacin la presencia de los espacios y
de los cuerpos, poniendo de manifiesto sus
implicaciones formales y de sentido. En toda
obra artstica, el trabajo con las formas es
el lugar de encuentro con los sentidos; y
Deseando amar es una obra de arte. Obra
que muestra al espectador y al analista un
gran trabajo sobre las materias y los
contenidos, que se presentan estrechamente
imbricados. Hasta los ms pequeos detalles
entran en juego, se conjugan en una
transmisin de sentido encarnada en todos
sus niveles: fotografa, encuadres,
movimientos de cmara, luz, color, msica,
fuera de campo, ritmo, utilizacin de la
cmara lenta, montaje, raccords, atrezzo,
narracin, personajes, espacios, tiempos, etc.
Aqu la forma es el fondo, la escritura es
el contenido.
Se manifiesta as una cuestin esencial:
la fuerza esttica de la obra de Wong Kar-
Wai no se queda en el vaco trabajo sobre
la forma propio de cierto arte postmoderno;
en su trabajo formal y esttico est un sentido,
un universo imaginario, una forma
insustituible de comunicar y mostrar la
realidad ensoada. Su preocupacin por la
forma va ntimamente unida a su reflexin
sobre el sentido de lo que est contando. Por
ello creo que es especialmente interesante el
estudio de la visualidad de la obra de este
director, ya que trabajando sobre la materia,
trabaja sobre lo indecible. Va ms all del
discurso vaco y esteticista propio de la
postmodernidad y, en este sentido, me parece
necesario reivindicar su trabajo. El cine de
Wong Kar-Wai tiene una importantsima
dimensin visual y filosfica.
Aproximndonos a su obra desde la
potica de la imagen podemos reflexionar
sobre la potencia generadora de realidad, de
expresin y de pensamiento que subyace en
el trabajo con las imgenes y que hoy se est
desarrollando tambin en el cine.
Rescato aqu las palabras de Santos
Zunzunegui relativas a esta cuestin:
Para las modernas poticas
estructurales, la motivacin se
puede entender de manera alternativa.
No se trata de un puro juego formal
497 ESTTICA, ARTE E DESIGN
sin trascendencia en el plano del
contenido de la obra, sino de una
manera de organizar el nivel de los
significantes que permite llevar a cabo
una homologacin precisa con el
plano del significado. La poeticidad
de un texto remite tanto a prcticas
de referencialidad interna (del que las
rimas visuales o de otro tipo ofrecen
un buen ejemplo) como a la manera
en que esa trabazn del tejido textual
contribuye a situar la significacin de
la obra. De esta manera se puede
proceder a valorar un texto en su
dimensin formal sin perder de vista
la manera en que sus estrategias
textuales reescriben los parmetros
culturales y artsticos en los que se
inserta
3
.
Este es el punto de vista adoptado en el
anlisis de este film.
Nos enfrentamos a una obra que presenta
de cara al espectador y al analista un gran
trabajo sobre los contenidos y las formas, que
se muestran estrechamente imbricados: hasta
los ms pequeos detalles estn pulidos,
entran en juego, se conjugan en una
transmisin de sentido encarnada en todos
sus niveles. Las referencias que anoto
seguidamente pueden ponerse en relacin de
diversos modos con esta cuestin; iremos
detenindonos en ciertos aspectos concretos
referentes al tratamiento de lo fsico en
Deseando amar.
Podramos plantear como punto de partida
que en esta pelcula, la presencia de los
espacios y de los cuerpos es la materia sobre
la que se sustenta lo esencial de la narracin
flmica. En ello reposa la encarnacin de la
historia; una encarnacin muy alejada de lo
fcil y de los recursos que hubiera explotado
un cine convencional. La importancia de esta
materia se manifiesta en todos los niveles
del trabajo flmico. Veamos algunos ejemplos.
Son abundantes las escenas que se inician
con planos sobre los objetos de la casa, de
los espacios en los que se desenvuelven los
protagonistas: lmparas, cuadros, ventanas,
espejos, paredes... En el inicio, la pelcula
se abre con unas imgenes de los lugares en
los que se van a conocer los protagonistas,
situndonos ya sobre una casa habitada, con
pasado, con historias, con encuentros; esto
seguir sucediendo a lo largo de todo el film.
Es frecuente que las imgenes estn tomadas
a travs de un marco de una ventana, una
cortina,... El director cont, en entrevistas
posteriores a la pelcula, que con ella
pretenda reconstruir un ambiente de su
infancia; un ambiente en el que eran
omnipresentes los cotilleos de los vecinos:
plantea su relato como una pelcula sobre los
rumores. En ese sentido, parece poner al
espectador a acechar a los personajes como
un vecino ms, mirando desde detrs de las
cortinas o a travs de las ventanas.
Todo se desarrolla en espacios muy
cerrados: la planificacin de los encuadres
y el trabajo de direccin artstica estn
encaminados muy intensamente en esta
direccin. No debe dejarse de lado la
importancia de William Chang, colaborador
de nuestro director en la tarea de configurar
los espacios en sus films. Un ejemplo claro
de utilizacin muy marcada de los espacios
cerrados puede ser la secuencia de la
mudanza, en la que las escenas estn vistas
a travs de ventanas ovaladas, de cortinas,
de quicios de puertas.
En este sentido tambin hay un trabajo
importante con el espacio en campo y fuera
de campo. Son numerosas las escenas en las
que se encuentran fuera de campo algunos
de los personajes que intervienen en ella. Es
llamativo en este sentido que apenas se
muestran a las respectivas parejas, algo ms
ella, pero siempre brevemente, de refiln, una
mano en el marco de la puerta, su cuerpo
entrando en una habitacin, dando
rpidamente la vuelta a la escalera.
Los espacios en los que se desenvuelven
son confusos y abigarrados, parece que muy
intencionadamente. Es curiosa la planificacin
desde el principio, sin planos de referencia,
con saltos de raccord...., muy claramente
visibles en la secuencia citada en la que se
nos cuenta como Chow y Su Lizhen hacen
la mudanza para instalarse en el mismo
edificio. Esta cuestin referente al modo de
mostrar los espacios, est en clara relacin
con la ambigedad; es otra forma de mostrar
la confusin, las idas y venidas, los cruces
de los personajes exteriormente pero tambin
en su fuero interno. Podemos as apreciar
cmo los distintos niveles de significacin
498 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
se superponen y son generados y trabajados
desde distintos niveles en la construccin
flmica.
Hay espacios que se repiten: la escalera,
la reja. Y tambin se repiten las situaciones
que se dan en esos lugares, especialmente
los encuentros entre los protagonistas. Con
ello podramos poner en relacin el motivo
de las coincidencias, reflejado en el film en
diferentes planos: parejas que viajan, parejas
que se relacionan, el hecho de que tambin
surja el amor entre ellos, los regalos ... Este
ltimo motivo es utilizado para mostrar el
paulatino descubrimiento de la infidelidad que
sufren.
Y yendo a los detalles, tambin hay
muchos motivos de atrezzo que aparecen una
y otra vez: relojes, ventiladores, cortinas,
marcos, escaleras.
No puede dejarse de lado la relevancia
que tiene el trabajo con los colores en la
representacin de los lugares y los cuerpos.
El color dota de gran fuerza a las imgenes
de este film.
La historia est ambientada en los aos
60 y es llamativo el trabajo de reconstruccin
del aspecto de ese tiempo. Tambin puede
resultar expresivo desde el punto de vista
esttico: decoracin, vestuario, aire de otra
poca (cercana pero ya con cargas emotivas
y estticas de muy diversa ndole), etc. La
situacin de la historia en esos aos tambin
es importante en el sentido de situar los
sucesos en un momento en que los
convencionalismos sociales eran muy
marcados y condicionaron fuertemente la
relacin entre los protagonistas.
Son originales y muy trabajados los
movimientos de cmara, como por ejemplo
en la escena en la que por primera vez salen
a cenar juntos los protagonistas. Entran en
campo sentados a la mesa en un movimiento
de cmara perpendicular y que surge desde
detrs de ellos.
El ambiente, el aire est presente como
tal en las imgenes de la pelcula. La
presencia del humo del tabaco, por ejemplo,
marcando la densidad de los espacios,
reforzada por los encuadres cerrados y la
estrechez de los lugares.
La escena final contrasta fuertemente con
todo lo que hemos visto a lo largo del film;
tras presentarnos la visita de De Gaulle a
Camboya, con lo que nos saca del mundo
de la intimidad al mundo comn de la
sociedad, vemos a Chow en unos espacios
mucho ms abiertos, en el templo de Angkor
Vat, cumpliendo la leyenda china que dice
que si queremos que no se pierdan nuestros
secretos hemos de acercarnos a un rbol y
contarlos all, en uno de sus agujeros; l,
dando un sentido ms ritual, cuenta su historia
a las piedras del templo. A travs de unos
planos muy lentos, va cerrndose la narracin;
y a los espectadores nos va sacando poco
a poco de la situacin de intensidad emocional
y recolocndonos en el mundo. En esta
secuencia tambin tiene una especial
importancia la msica melanclica que
subraya el tono de la escena; en ella estn
presentes algunas cuestiones clave como el
tema de la memoria y el futuro, el tema de
la dimensin ms amplia que tienen los actos
humanos.
Pero no son slo los espacios los que
llenan la imagen del film sino que los cuerpos
de los personajes estn omnipresentes en esta
obra.
Resaltan por ejemplo las escenas en
cmara lenta de los cruces de los
protagonistas, en una coreografa apoyada
muy explcita y sugerentemente por medio
de la msica.
Deseando amar es una historia de
soledades que se cruzan y de abandonos que
estn como trasfondo. En una entrevista, el
director se refiere a esta cuestin:
Mi gusto por la coreografa es el
resultado de una confrontacin con la
vida y de una experiencia del cine,
arte mudo en su origen y que no ha
cambiado fundamentalmente, puesto
que muestra ante todo a los seres en
movimiento y nos ofrece tiempo para
fijar sus posturas. Las pelculas de
Bresson produjeron, con toda
seguridad, un gran impacto esttico
sobre m: un arte de la vigilancia y
del acecho. En su cine, los actores son
equivalentes a las piedras, los rboles
o los objetos. Su trabajo se sita al
lado de los elementos, del borrado
progresivo de su estatus, de sus
connotaciones, para poder reescribir
por debajo
4
.
499 ESTTICA, ARTE E DESIGN
Y plantea tambin lo siguiente sobre la
utilizacin de la cmara lenta:
Todo en la pelcula se expresa con
el cuerpo, por el movimiento de los
actores. Haba detalles que quera
mostrar. El ralent no expresa la
accin, sino el entorno. Como en las
oficinas del peridico a las que acude
Maggie Cheung. Era para capturar un
cierto espacio, un determinado
ambiente
5
.
Su Lizhen utiliza durante casi todo el film
el mismo vestido en cuanto a la hechura, un
qipao, y slo se producen cambios en la tela
y los colores. Todo ello tiene unas evidentes
finalidades estticas, pero tambin se presenta
como un recurso visual que le sirve al director
para marcar los saltos temporales y los
cambios de situaciones. Asimismo, en
palabras de Wong Kar-Wai:
Quera expresar el cambio a travs
de lo inmutable. La pelcula intenta
repetir muchas cosas. La msica se
repite. Algunos espacios tambin: la
oficina y el pasillo son siempre los
mismos. El cambio se expresa a travs
de cosas menores, como los vestidos,
mientras la relacin entre ambos va
evolucionando
6
.
Son frecuentes los encuadres en los que
aparecen los personajes de espaldas, as como
los expresivos encuadres bajos y cortados de
los cuerpos. La fragmentacin de los cuerpos
en su representacin es algo muy presente
en esta pelcula. En este sentido resulta
interesante la reflexin sobre la representacin
del cuerpo como fragmentacin que plantea
Vicente Snchez-Biosca en su libro Una
cultura de la fragmentacin. En l desarrolla
algunas modalidades de representacin del
cuerpo de una manera segmentada en la
cultura audiovisual contempornea. Sin
embargo en el caso de la obra de Won Kar-
Wai la utilizacin de este modo de
representarlo ira por unos derroteros muy
distintos a los casos aducidos en la obra
citada. Frente a un uso terrorfico o gore,
aqu estaramos ante un trabajo esttico y con
una repercusin ms bien antropolgica.
Se trata de una historia de amor de gran
carga emocional en la que apenas vemos
ningn roce fsico entre los protagonistas. De
esa manera, la escasa relacin de cercana
entre sus cuerpos cobra gran intensidad. En
el montaje final se descartaron escenas ms
explcitas de relacin fsica entre ellos que
s se haban rodado. Tiene un fuerte valor
expresivo esta omisin, dotando de gran carga
emocional a la relacin precisamente a travs
de la ausencia.
Resulta llamativa la elegancia de los
protagonistas, en consonancia con la sutileza
de la historia que se est contando. Los
movimientos de la cmara acompaan en
peculiares encuadres ese movimiento de los
cuerpos y resaltan esa elegancia y esa belleza.
Decamos anteriormente que esta historia
est relatada desde la memoria; memoria
como algo que nos lleva a mirar el pasado
a travs de una ventana llena de polvo... Y
sin embargo, en la ltima escena se nos
muestra al protagonista contando su secreto
a las piedras, llenas de tiempo y de pasado,
para que all permanezca. Lo que queda al
margen de las vivencias del sujeto. Esas
piedras son el lugar de realizacin de la
utopa, la posibilidad de anclar en algn lugar
del tiempo y del espacio los secretos y los
recuerdos de lo ya vivido y conseguir as que
no mueran para siempre. Su discurso de fondo
habla de la lucha por atrapar, por habitar el
tiempo: una obsesin que constituye la idea
nuclear de todo el cine de Wong Kar-Wai.
Isabel Coixet, refirindose a esta escena final
de la pelcula, ha planteado que a su entender,
muy pocos cineastas han utilizado con tanta
elocuencia un agujero en un muro de piedra.
Nuestro protagonista quiere dejar all toda
su historia, quiere, mediante ese simulacro,
depositar en un espacio su tiempo vivido.
Haba ido recogiendo restos fsicos de su
historia de amor, como las zapatillas de Su
Lizhen que se lleva a Singapur; ahora va ms
lejos, desarrollando todas las potencialidades
que tiene el encarnar en un lugar un recuerdo.
Deca en una entrevista Wong Kar-Wai:
Para m, todas las historias empiezan en una
habitacin, siempre hay una habitacin con
alguien sentado en la cama, fumando
7
.
No hemos de olvidar que todas estas
cuestiones Won Kar-Wai no se las plantea
como un claro a priori que ha de poner en
500 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
imgenes; l concibe el rodaje de sus pelculas
como un proceso, un largo proceso en el que
se van poniendo en pie las cuestiones y su
tratamiento, en una concepcin de la creacin
artstica como el lugar de encuentro con el
conocimiento y la recreacin de lo real. Y
es especialmente en su trabajo creativo con
las imgenes, en su potica de la imagen
puesta en pie en su obra, donde se manifiesta
la grandeza del trabajo flmico de nuestro
autor.
Como plantea Carlos F. Heredero en su
obra La herida del tiempo. El cine de Wong
Kar-wai
8
, estamos ante un cineasta
radicalmente ajeno a toda tentacin discursiva
y que confa como pocos en el poder de las
imgenes. Un cineasta cuya divisa
irrenunciable es: Filmar los lugares, fijar su
memoria.
Termino con unas declaraciones del
director en el Festival de cine de Cannes:
A los actores les haba dicho que
no iba a ser un film hablado, verbal;
que ellos iban a expresarse no slo
a travs de las palabras sino, sobre
todo, a travs del cuerpo, de los
pequeos gestos, de las miradas; slo
podran expresarse a travs de su
cuerpo
9
.
501 ESTTICA, ARTE E DESIGN
Bibliografa
Fernndez Heredero, Carlos. La herida
del tiempo. El cine de Wong Kar-wai.
Valladolid, Semana Internacional de Cine de
Valladolid, 2002.
Kar-Wai, Wong. Deseando amar. Edicin
del DVD. Araba Films, Kino Vision, 2001.
Salabert, Pere. Pintura anmica, cuerpo
suculento. Barcelona, Laertes, 2003.
Snchez-Biosca, Vicente. Una cultura de
la fragmentacin. Valencia, Filmoteca de la
Generalitat Valenciana, 1995.
Zunzunegui, Santos. La mirada cercana.
(Microanlisis flmico). Barcelona, Paids,
1996.
_______________________________
1
Departamento de Comunicacin Audiovisual.
Universidad Sek de Segovia, Espaa.
2
Pere Salabert. Pintura anmica, cuerpo
suculento. Barcelona, Laertes, 2003, p. 17.
3
Santos Zunzunegui. La mirada cercana.
(Microanlisis flmico). Barcelona, Paids, 1996,
p. 158.
4
Carlos Fernndez Heredero. La herida del
tiempo. El cine de Wong Kar-wai. Valladolid,
Semana Internacional de Cine de Valladolid, 2002,
p. 213.
5
Carlos Fernndez Heredero. Op. Cit., p. 233.
6
Carlos Fernndez Heredero. Op. Cit.. p. 231.
7
Carlos Fernndez Heredero. Op. Cit., p. 234.
8
Carlos Fernndez Heredero. Op. Cit., p. 45.
9
Entrevista incluida en la edicin en DVD de
la pelcula, realizada en Cannes durante el 53 Festival
internacional de cine el 21 de mayo de 2000.
502 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
503 ESTTICA, ARTE E DESIGN
Dibujar la forma volumtrica, matrica y espacial mediante
el uso del elemento de comunicacin visual:
El plano. Experiencias didcticas innovadoras para diseo industrial
Cayetano Jos Cruz Garca
1
Una de las mayores dificultades de la
enseanza de la materia de Expresin
Artstica, para su didctica en las Escuelas
Universitarias de Diseo Industrial espaolas,
es el escaso tiempo y continuidad que se
ofrece a esta materia; por lo que la exigencia
y el acierto metodolgico de su experiencia
son fundamentales para un ptimo
aprendizaje, posterior evolucin, y futuras
aplicaciones. La expresin dinmica del
lenguaje visual y esttico son un referente
importante, sobretodo cuando est siendo el
protagonista de los tiempos actuales.
Para la gran mayora de los alumnos de
primer curso universitario, es complejo
reflejar la expresin volumtrica de los
objetos. Esta dificultad podra tener diversas
explicaciones: La escasa dedicacin desde las
enseanzas previas; la falta de acierto en su
didctica (y por lo tanto los malos modos
aprendidos); o la falta de profesionalidad de
enseanzas anteriores a la educacin
secundaria (impartida por docentes de
primaria no especializados).
Al menos, en las Escuelas Universitarias
de Formacin del Profesorado espaolas
enviamos a un segundo plano el aprendizaje
del lenguaje y la comunicacin visual,
eludiendo el actual protagonismo de nuestro
fundamental lenguaje de comunicacin. De
modo que los alumnos formados en la
enseanza primaria no ejercen con el debido
acierto una docencia idnea, incluso, en
muchos casos, las materias sirven de
relajacin o se repiten labores de mimetismo.
Las dificultades en la Enseanza
Secundaria ya vienen casi marcadas, y la
comunicacin Plstica y Visual est relegada
a ser una optativa, por lo cual, la dificultad
posterior de su enseanza preuniversitaria y
universitaria es importante, ya que no solo
se ensea sobre desconocimientos, sino sobre
conocimientos errneos.
En esta comunicacin, sealo cual es una
de las principales dificultades de nuestros
alumnos: la expresin volumtrica y espacial
(sobre todo cuando interviene el uso del
plano), y completo dicho contenido con la
expresin matrica del objeto de
representacin. La mencionada metodologa
viene amparada y completada por el programa
de la asignatura que imparto, y que pretende
dar a conocer el lenguaje desde los elementos
que lo configuran y su sintaxis, haciendo
especial hincapi en la representacin desde
el plano. La materia es anual y como en la
presentacin os desgloso, aparece dividido en
tres grandes bloques:
B. T. I.:
El lenguaje esttico. Conceptos para
su aprendizaje y uso
B. T. II.:
Destrezas y procesos procedimentales
B. T. III.:
Creatividad artstica
Acostumbrados en mayor medida a un
aprendizaje de la geometra plana y a las
aplicaciones desarrolladas desde el diseo
grfico, se ha obviado en enseanzas
preuniversitarias la capacidad de representar
el volumen de los objetos, tan solo en los
bachilleratos se imprime valor a esta
enseanza, limitndola exclusivamente a los
sistemas de represtacin, y no al lenguaje
perceptivo y expresivo desde los elementos
que lo configuran. As, cuando un iniciado
plantea, espontneamente, la recreacin
espacial de un volumen, utiliza errneamente
referentes propios de la representacin plana,
como por ejemplo la simetra o el silueteado.
Conforme a la idea que define Menchn,
2002: 50, la percepcin es un proceso de
relacin activa con el mundo, cuyo proceso
tratamos de ejercitar para el desarrollo de la
expresin creativa e incidir en un lenguaje
que podramos denominar como perceptivo.
Dicho autor tambin entiende que la
educacin debe ser creativa y que en ese
504 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
proceso es necesario desaprender para volver
a aprender, proceso complejo durante nuestra
metodologa y que tratamos de fomentar
desde el desarrollo cognitivo.
Lo explicado dificulta enormemente el
aprendizaje y evolucin expresiva, ya que se
trata de reeducar, rectificar malos modos. Por
eso, la metodologa que desarrollo durante
el curso, pretende desde el primer momento
salvar dicho escollo, y la solucin la obtuve,
gratamente, mediante la enseanza de los
recursos necesarios para expresar la forma
volumtrica desde el elemento PLANO, desde
la cognicin y las leyes descriptivas de la
forma y el espacio, haciendo un paralelo con
el elemento LNEA, elemento ms cercano
y aplicado por todos.
Partiendo de este punto, insisto en que
es fundamental aprender los recursos de cada
uno de los elementos del lenguaje y su
interaccin desde una sintaxis compositiva,
al igual que el descubrimiento del entorno
a travs de la experiencia esttica. Tambin
todas aquellas leyes que, libres en un principio
de los sistemas de representacin aplicables,
nos permitan explicarlo de forma directa,
rpida y personal. Uno de los objetivos es
la agilidad y versatilidad de nuestra expresin
para la aplicacin consecutiva y la continua
evolucin de nuestras ideas, fundamento para
el Diseo Industrial y el conjunto de las
Enseanzas partcipes de la Comunicacin
Esttica. Posteriormente,, la herramienta
definitiva para la concrecin formal, ser otro
aliciente, y seremos capaces de desarrollar
al mximo todas las posibilidades expresivas
que nos ofrezca cualquier herramienta, gracias
a nuestros conocimientos lingsticos y de
representacin previos.
No es fcil encontrar actualmente objetos
de diseo industrial que identifiquen el
localismo o la propia personalidad del artista.
Quiz porque se olvida el concepto inicial
del trmino dibujo, diseo, design,? Es
el conocimiento, en muchos casos,
principalmente conceptual y poco
procedimental? Tambin es necesario
desarrollar nuestra capacidad perceptiva y
saber dar uso a cada uno de los elementos
de expresin para la representacin, la
comunicacin, y el desarrollo creativo de
identidad.
Para que sea ms ilustrativo y se pueda
comprender en pocas lneas en que consiste
y que respuestas da la propuesta educativa
vinculada al lenguaje del PLANO, identifico
de forma precisa, excesivamente normalizada,
que factores debiramos tener en cuenta,
visibles durante la exposicin pblica, a travs
de diferente material grfico realizado por
diversos alumnos de primer curso, con sus
errores y aciertos:
- Atencin perceptiva. Una persona
comienza a dibujar en cuanto analiza y conoce
el objeto de representacin y el entorno donde
quiere representarlo. Por lo tanto, es
fundamental indagar desde los sentidos para,
a posteriori, elegir cual es la planificacin
ms acertada en nuestra expresin:
Valindonos de todas aquellas leyes
505 ESTTICA, ARTE E DESIGN
perceptivas, no desde el conocimiento de la
existencia de las mismas, sino desde el
conocimiento de su lenguaje, haciendo uso
de las leyes de la forma (simetra asimetra,
cercamiento, continuidad,) y recursos de
la especialidad que nos permitan establecer
la escena (ley de borde inferior del cuadro,
superposicin,)
- Expresar datos de l a tercera
dimensin desde dentro. El contorno es
nuestro enemigo. Cuando representamos
formas que viven de la geometra no hay
distorsiones, pero una forma orgnica o no
reconocible que aparece contorneada se
desvincula de su entorno espacial, y por
lo tanto limita la expresin volumtrica al
plano o el relieve. Deberemos, por lo tanto,
reflejar todos aquellos datos que tambin
hablen de la tercera dimensin, dibujando
formas interiores, y dejando solo en el
contorno los rasgos fundamentales que
defi nan nuest ra vi si n front al ; as ,
relacionaremos unos trminos con otros, de
forma que cada pl ano pert enezca a
diferentes estadios de la escena o del
volumen de los objetos representados,
utilizando planos abiertos, que describan
contornos, pero que tambin los destruyan
mientras definen formas internas.
- Atender al cmo se hace? Direcciones
y trazados. Comprender cual es la forma de
los objetos para poder representarlos.
Identificar lo cncavo-convexo, la arista
cortante-roma, lo vertical-horizontal, lo
curvo-recto, el lleno-vaco, las direcciones
dentro-fuera o entre objetos. Entre tanta
caracterstica es importante sealar e insistir
en que las simetras no favorecen. Todo
trazado plano que recuerde a una simetra
provoca un reflejo perceptivo que hace
referencia a lo plano, adems ocasiona
continuas redundancias que densifican la
expresin. Basndonos en muchas de las
apreciaciones que conocemos, cimentadas
en la percepcin y la relacin entre las
partes del todo, podramos catalogar
muchas circunstancias que debiramos tener
en cuenta a la hora de abordar con xito
una representacin de sntesis plana, como
la que comenta Arnheim, 1991: 259, en
cuanto a la convexidad y la concavidad y
su relacin figura-fondo. Junto a sta
apreciacin hemos experimentado otras,
como no aislar unas formas de otras.
Siempre debe existir una relacin de
continuidad entre partes, al menos de un
mismo objeto.
La i nt enci n di dct i ca de est a
experiencia no tiene como objetivo valerse
de la sntesis de la luz expresada con el
plano, sino que aborda la materializacin
de l a forma desde un concept o
constructivista. Cuando percibamos el
obj et o debemos al ej ar de nuest ro
pensamiento que est siendo visto y que
la luz ejerce sobre l (en principio vamos
a eliminar todas aquellas leyes espaciales
relacionadas con la luz). Deberemos actuar
como una persona ci ega ant e el
reconocimiento de una forma, y tratar de
representar todos aquellos datos formales
que nos permitan decir cmo es. La
imposibilidad de hacer nicamente un
recortable de nuestro objeto, nos dirigir,
mediante el uso correcto del lenguaje
perceptivo, a identificar la forma, el espacio
e incluso la materia de los mismos, y que
otros sepan reconocer lo representado. Si
nosotros sabemos dar las pautas correctas
(como en todo dibujo) el espectador
compl et ar e i nt erpret ar nuest ra
informacin.
506 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
- Aplicando nuestros recursos mediante
la contraposicin expresiva podremos
destacar la diferenciacin materia y forma:
No solo lograremos expresar caractersticas
formales como cncavo, convexo, arista
roma, etc., sino tambin la propia materialidad
de los mismos: Mayor o menor transparencia,
lo lquido, slido, metal, materia blanda o
dura, cristal, pesado y ligero, La
contraposicin de los recursos expresivos en
la aplicacin de diferentes objetos o partes
de objetos, nos permite crear stas
diferenciaciones a travs del hecho cognitivo.
Tambin el enfrentamiento entre la
expresin de lo orgnico e inorgnico
permitir informar sobre la materia,
estableciendo comparaciones entre distintos
objetos.
Debemos desarrollar la capacidad
comunicadora perceptiva mediante el
anlisis de nuestra experiencia esttica, hasta
el punto que consigamos que el espectador
complete aquella informacin, tal y como
nosotros queramos que la interprete, para lo
que debemos dar las correctas indicaciones.
Este lenguaje, en primera instancia, resulta
complicado para el espectador, que no est
habituado a este tipo de represtaciones, fruto
del predominio de lo visual frente a lo tctil,
la imagen fotogrfica y las representaciones
de la luz. As y todo, en cuando fija su
atencin da la solucin acertada. El alumno
durante su experiencia didctica desarrollar
la capacidad abstractiva para dar solucin a
este tipo de representaciones, tambin para
otras menos ms o menos habituales como
por ejemplo el sistema didrico. Nuestra
experiencia debe ensearnos a dominar su uso
como lenguaje, no nos interesan conocedores
de los hechos perceptivos, sino sabedores de
los recursos para su aplicacin.
Como ya mencionamos en las primeras
lneas de la comunicacin esta metodologa
plantea recoger unos resultados formulados
por los objetivos de la materia, y los
educandos avanzaron rpidamente en la
consecucin de los mismos: El conocimiento
adquirido permiti a los alumnos reconocer
la capacidad de descripcin espacial de un
volumen; y dar respuestas a posteriores
ejercicios de aplicacin mediante otros
elementos del lenguaje, como el caso del
color, donde fue exitosa, sobre todo cuando
interaccionaban varios elementos. Al tiempo,
todas estas experiencias, han permitido
desarrollar la capacidad abstractiva del
alumno para dar respuesta a presentes o
futuras dificultades, como la ejercitacin en
el sistema didrico (parejo en algunas
soluciones) o la resolucin de problemas
desde el anlisis para la sntesis. Dicha
sntesis ser una herramienta de conocimiento
muy importante para resolver problemticas
posteriores hacia el desarrollo y solucin de
las ideas.
Otro de los beneficios que conlleva esta
experiencia es la posibilidad de aplicarlos en
otras herramientas comunicadoras, como
507 ESTTICA, ARTE E DESIGN
aplicando el de todos los elementos del
lenguaje visual en singular y en plural.
Tambin, dicho elemento expresivo indica
la viabilidad de recrear animaciones de
imgenes provenientes de los programas de
diseo grfico, y que no usan esquemas de
los sistemas de representacin. El resultado
obtenido no ser de difcil elaboracin, y
resultar impactante y atrayente por
aprovechar conocimientos propios del
lenguaje del diseo. Por lo tanto, estamos
hablando de un elemento literario de gran
valor expresivo para la comunicacin
tridimensional, en la actualidad.
programas de diseo grfico, pensados para
las dos dimensiones. Los alumnos
descubrieron que el conocimiento de los
recursos expresivos les permita elaborar
soluciones desconocidas hasta ahora. Es
importante resear que todos los ejercicios
se han realizado con alumnos de primer
curso 2002-2003 y el 2003-2004, durante
el primer cuatrimestre, y que lo aprendido
inicia a gran nmero de ellos, para marcar
un futuro objetivo, descubrir la propia
personalidad expresiva; los recursos
lingusticos ya se conocen (conociendo la
literatura, podremos expresar nuestra propia
identidad).
Nuestra percepcin hptica y metodologa
podrn igualmente hacer aportaciones en el
lenguaje y expresin de la forma para
invidentes, desde las experiencias que
Lowenfeld inici con alumnos ciegos, y que
Bordes, 2003: 594, relaciona con el dibujo
de memoria que Catterson-Smith propona
realizar con los ojos cerrados.
Por las razones descritas en primera
estancia, el plano es el elemento de choque
para dar el salto hacia el conocimiento
volumtrico, amparado en previos ejercicios
con la lnea, pero el conociendo o sabidura
posterior avanza en poseer todos los recursos
expresivos vlidos para elaborar lo que
queramos, con independencia de la
herramienta y el soporte, conociendo y
508 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Bibliografa
Arnheim, Rudolf. Arte y Percepcin
Visual/. Barcelona, Alianza, 1991.
Gmez Molina, J. J., Cabezas, L. y
Bordes J./ El Manual de Dibujo: Estrategias
de su enseanza en el siglo XX. Madrid,
Ctedra, 2003.
Menchn Belln, F.. Descubrir la
creatividad. Desaprender para volver a
aprender. Madrid: pirmide (Grupo Anaya),
2002.
_______________________________
1
Universidad de Extremadura, Espaa.
509 ESTTICA, ARTE E DESIGN
Diseo><Design
Eva M Domnguez Gmez
1
1 - Introduccin
Aunque el ttulo de esta comunicacin es
mnimo encierra un amplio significado, ya
que con l se ha querido resumir parte del
sentir actual sobre los momentos de cambio
hacia la globalizacin que se nos viene, tema
que recorre diferentes foros de debate, pues
este asunto afecta y envuelve el proceso de
evolucin y desarrollo de cualquier sociedad,
por lo que la globalizacin se ha convertido
en tema obligado de anlisis y discusin,
tanto en los foros polticos y empresariales
como en el mbito acadmico.
2
Con estas palabras Diseo><Design se
ha querido sintetizar la convivencia de lo local
y lo global en un utpico equilibrio de
horizontalidad, aprovechando la diferencia
lingstica de un mismo concepto que adems
es el tema vertebral de nuestro discurso.
Es obvio que este camino inminente hacia
la globalizacin no solo afecta a aspectos
econmicos y empresariales, tambin, otros
factores constituyentes de nuestra sociedad
sucumben ante l, como lo social, lo
espiritual, lo cultural, lo comunicacional, etc.
El Diseo
3
no est exento de estos
acontecimientos incluso podemos decir que
forma parte de ellos y es actor de los mismos,
ya que si entendemos el diseo como un
proceso generador de cultura merece la pena
reflexionar sobre cmo influye a la hora de
configurar esta nueva sociedad, donde toman
relevancia las de los pases desarrollados,
inmersas en un proceso acelerado e inevitable
de globalizacin condicionado por procesos
tecnolgicos y econmicos. Esto nos lleva
a pensar que las sociedades actuales corren
el riesgo de perder la identidad propia y las
imgenes que hasta ahora la definieron.
Esta comunicacin pretende reflexionar
sobre cmo el diseo, que ha tenido siempre
la tarea de identificar, destacar, distinguir y
diferenciar, ahora, en algunos casos, se vuelve
contra s y nos unifica, masifica, nos aliena
pidiendo que renunciemos a nuestra identidad
en pos de una globalizacin desorbitada o
que por el contrario lleva a desatar una fuerte
necesidad de diferenciacin, despertando
sentimientos nacionalistas e incluso
sentimientos religiosos exacerbados, llevando
a algunas culturas a la sin razn para romper
con el control globalizador.
Creemos necesario un parntesis reflexivo
en este camino hacia lo global para no
perdernos en l, pero ante la imposibilidad
de agrupar todos los aspectos que lo
constituyen nos centraremos en esta ocasin
en los aspectos culturales y comunicacionales
del Diseo, uno de los factores que configuran
dicho panorama.
2 - Cultura y Globalizacin
No es fcil aclarar conceptos cuando el
concepto se est fraguando en el momento
presente y su configuracin fluye entre hechos
contemporneos. Existen mltiples interpreta-
ciones del concepto globalizacin, todas
ellas enmarcadas dentro de parmetros
ideolgicos y polticos, unos ms o menos
rgidos, otros ms o menos eclcticos,
4
pero
no son estas interpretaciones a las que nos
vamos a referir, aunque sus influencias no
se pueden eludir, dada la transversalidad del
tema.
Nuestra intencin es centrar el discurso
en el aspecto cultural de la globalizacin y
dentro de l distinguir el carcter
comunicacional del Diseo en su ms amplio
espectro, ya que son conceptos estrechamente
relacionados hasta tal punto que, segn
Leonor Arfuch:
ese triunfo de la comunicacin
parece ser tambin el del diseo:
desde el carcter grfico de la
arquitectura hasta el diseo ambien-
tal, desde la clsica sealizacin
urbana hasta el advertising, desde la
510 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
proliferacin corporativa hasta las
superficies y redes mediticas,
parecera que ningn objeto, por
insignificante que sea, pudiera
escapar a la compulsin del diseo.
5
Mxime cuando las superautopistas de
la informacin se extienden a lo largo y ancho
de nuestro planeta permitiendo la difusin
del imaginario social a unas velocidades sin
precedentes. Estos nuevos soportes de
informacin, acentuados por el incremento
e internacionalizacin de medios tradicionales
como la televisin, generan un nuevo modo
de vida global, que transciende los soportes
mediticos y las fronteras pasando a formar
parte de la cultura, la moda, las costumbres,
la msica, la gastronoma; creando nuevas
formas y haceres que irrumpen en la identidad
de grupos definidos como estados, regiones,
pueblos, empresas, partidos, etc., generando
contradiccin y en algunos casos confusin.
Ejemplos de situaciones de este tipo los
encontramos fcilmente, por ejemplo la
Navidad, la cual se celebra en Japn aunque
menos del uno por ciento de la poblacin
es cristiana (Naisbitt y Aburdene, 1990), al
mismo tiempo que millones de personas en
occidente abrazan alguna forma de
orientalismo como refugio espiritual. Las
tiendas de ropa Benetton se extienden por
todo el mundo y pocos son los pueblos donde
la cultura de los jeans no se ha impuesto
6
.
Encontraremos posicionamientos muy
variados en torno al tema de la globalizacin
cultural, tanto detractores como defensores
polemizan en cuanto a una situacin que se
vuelve ms compleja y variable a cada
segundo. Mario Vargas Llosa, uno de los
defensores de la globalizacin cultural nos
dice:
... una de las grandes ventajas de la
globalizacin, es que ella extiende de
manera radical las posibilidades de
que cada ciudadano de este planeta
interconectado la patria de todos
construya su propia identidad
cultural, de acuerdo a sus preferencias
y motivaciones ntimas y mediante
acciones voluntariamente decididas.
Pues, ahora, ya no est obligado,
como en el pasado y todava en
muchos lugares en el presente, a
acatar la identidad que, recluyndolo
en un campo de concentracin del que
es imposible escapar, le imponen la
lengua, la nacin, la iglesia, las
costumbres, etctera, del medio en que
naci. En este sentido, la
globalizacin debe ser bienvenida
porque ampla de manera notable el
horizonte de la libertad individua.
7
Por el contrario posicionamientos
totalmente opuestos dicen de la globalizacin
que constituye un fenmeno extremadamente
amplio y complejo que sin duda representa
una amenaza para la identidad y la
diversidad cultural
8
. Independientemente del
posicionamiento que adoptemos ante el hecho
globalizador, lo que est claro es que este
ha generado nuevos actores y factores que
interactan con una gran libertad y velocidad,
muy diferentes a los que hasta ahora venan
configurando los entornos culturales de los
estados, las regiones, los pueblos, las
empresas, las personas, etc.
Cada una de estas culturas son las formas
materiales y espirituales con las que los
individuos que forman un grupo, conviven
y se comunican, que a su vez es generadora
de cdigos, smbolos e imgenes con los que
esta ser transmitida a las generaciones
siguientes. En el actual proceso de
implantacin de una cultura, independien-
temente cual sea, influyen numerosos factores
constitutivos; uno de ellos es el Diseo, que
a travs de su mtodo proyectual, compendio
entre tcnica y esttica, construye mundos,
imgenes, sistemas, realidades, en definitiva
nuevas formas de habitar, que es lo mismo
que decir que, configura el macrouniverso
material en donde se desarrollan y
evolucionan las culturas en las que los seres
humanos nos desarrollamos como actores
sociales.
Es el Diseo quin como pocas otras
disciplinas, conjuga equilibradamente
imaginacin y razn, riesgo y rigor, arrebato
y clculo; surge del encuentro entre la cultura
y la industria, los dos grandes pilares que
lo sustentan
9
. Se puede decir que en el
contexto cultural de una sociedad coexisten
dos posturas de abordar el proyecto de
Diseo:
511 ESTTICA, ARTE E DESIGN
- La primera, proyectar a partir de este
contexto cultural que consiste en la absorcin,
interpretacin y apropiacin de las ideas y
valores que componen este ambiente, seguida
de su abstraccin y transposicin en el
concepto, la forma y la funcin del objeto
de diseo en que se materializar una cultura.
- La segunda, a partir de su insercin en
el contexto cultural que consiste en su
interaccin con la sociedad, la posibilidad de
comunicacin, entendimiento y aceptacin de
un objeto de diseo por parte de los
individuos. Y, a partir de ah, la posibilidad
de proponer una transformacin en los valores
de estos individuos, reformulando su cultura
y su vida. En palabras de Bomfim:
design uma atividade que
configura objetos de uso e sistemas
de informao e, como tal, incorpora
parte dos valores culturais que o
cerca, ou seja, a maioria dos objetos
de nosso meio so antes de mais nada,
a materializao dos ideais e das
incoerncias de nossa sociedade e de
suas manifestaes culturais, assim
como, por outro lado, anncio de
novos caminhos. () o Design uma
prxis que confirma ou questiona a
cultura de uma determinada sociedade
() o Design de uma comunidade
expressa as contradies desta
comunidade e ser to perfeito ou to
imperfeito quanto ela.
10
3 - Diseo y Comunicacin en la era de
la Globalizacin
Definida la amplitud de las relaciones
entre diseo y cultura, se aprecia la gran
responsabilidad que est implcita en la
actividad proyectiva, donde subrayaramos el
papel del profesional de diseo en la
formacin y crtica cultural de una sociedad,
incluso atribuyndole, nuevamente segn
Bomfim, una capacidad visionaria:
A funo primordial de artistas e
designers () a de vigiar a fronteira
cultural () esses profissionais tm
cultivado sensibilidades e capacidades
expressivas que lhes permite antecipar
e interpretar padres culturais,
revelar aspectos irreconhecveis do
mundo contemporneo, e servir de
guia para um futuro mais humano.
() o designer assume um papel de
destaque, como elemento de
intermediao entre o ser humano,
sua cultura e sua tecnologia.
11
Tal vez demasiada responsabilidad para
algunos profesionales del diseo, donde la
interdisciplinareidad y los lmites imprecisos
de esta disciplina hacen de este campo
profesional un terreno sin ley, no obstante
este no es el tema del que tratamos hoy.
Retomando el tema que nos ocupa,
aadiremos que una de las extensiones que
distingue al hombre de los otros sistemas
biolgicos es su facultad de comunicacin,
esto es, la posibilidad que tiene de actuar
para que otros individuos u organismos,
situados en otra poca o lugar, puedan
participar de sus
e x p e r i e n c i a s .
Parte de este rol
comunicativo est
en gran medida
reservado al
diseo, ya que el
diseo crea
productos que son
interpretados en
cuanto adaptan y
representan unos
valores culturales,
consumidos en la
medida en que
permiten a un
i n d i v i d u o
expresar sus
intereses, sus
estilos de vida o
adscribirse a
d e t e r mi n a d o s
espacios sociales y adems son agentes
transmisores y soporte de comunicacin de
acontecimientos y hechos histricos; nos
hablan de diferentes culturas con identidades
concretas configuradas en entornos, espacios
y lugares determinados. Este genera con el
paso del tiempo el imaginario de nuestro
hacer diario, que es a su vez, la resultante
directa o indirecta del contexto cultural que
nos rodea. El contexto, antes citado, es cada
512 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
vez ms complejo y polifactico ya que la
sociedad posmoderna intenta sobrevivir a la
crisis de identidad, a las imgenes mediticas,
a la mitologa de los media, del cine y de
la publicidad, a la democratizacin de la
cultura sobre el dominio de la
industrializacin y al multiculturalismo.
12
Dentro de esta nueva forma de entender
el mundo est implcita la nueva forma de
relacionarse con l, de donde extraemos el
concepto de interculturalidad, entendiendo
por este termino que no es simplemente el
contacto entre culturas que antes estaban
separadas, sino que obliga a cuestionarse
muchos de nuestros valores y resituar nuestra
propia cultura hacia una cultura global
contrapuesta a la confrontacin y
colonizacin de otras culturas diferentes y
cercanas que, hasta hace poco, nos eran
lejanas.
13
He aqu un nuevo reto para el
Diseo, pues l es quin nos facilitar estas
nuevas relaciones con el mundo, el que
materializar las formas y las imgenes que
lo configurarn o las que ya lo estn
configurando. La interculturalidad nos viene
a exigir nuevas metas para el proyecto, pues
dentro de esta dimensin global, a los
productos se les exige el mantenimiento de
su identidad en un contexto local concreto
por lo que el diseador deber reinterpretar,
en clave local los grandes fenmenos
globales, as como tambin desarrollar
aspectos locales susceptibles de alcanzar el
inters global. Es lo que Nederven ha definido
como glocalizacin
14
, esto es pensar
globalmente y actuar localmente. Es esto lo
que realmente esta ocurriendo?. Podemos
encontrar casos en los que en mayor o menor
medida sea esta la forma de hacer pero son
tan intensas las interrelaciones de lo global
y lo local, debido a los grandes flujos de
comunicacin, que a medida que aumenta las
relaciones multiculturales el proceso de
diseo se transforma ms complejo, donde
valores culturales van y vienen, se entrecruzan
e intercambian generando nuevos imaginarios
globales sin identidad concreta que se afincan
rpidamente ocupando un lugar que no le
corresponde, desalojando a otros que
desaparecern y compitiendo con otros tantos
imaginarios globales muy similares que
resultan difciles de diferenciar.
No obstante, el Diseo, sigue siendo el
encargado de la bsqueda de identidad de las
cosas, el que debe comunicar a travs de su
configuracin la diferencia del objeto diseado
respecto de los de su misma categora,
resaltndolo, acentuando valores, cargndolo
de sentido, personalizndolo y actuando
coherentemente dentro del entorno cultural en
el que se desarrolla. Esta actitud de identidad
fue muy extendida en el sector empresarial
desde 1945, donde el diseo pasa a ser una
profesin y una disciplina.
15
Hoy esa bsqueda
de identidad es ms compleja debido a la gran
proliferacin de identidades de todos los
gneros y a su difusin visual en los nuevos
medios, segn Bassat, una marca sin
personalidad es una marca annima, con muy
pocas posibilidades de sobrevivir en el
mercado
16
, aunque alcanzar dicha personalidad
no es tarea fcil en los momentos actuales
de cambio, transicin y aceleracin en un
mundo cada vez mas global que genera gran
contaminacin comunicacional en el campo
visual, produciendo caos y desasosiego en la
maduracin de los nuevos imaginarios
colectivos. Si observamos nuestro entorno la
perdida de identidad es evidente, tanto en las
empresas, en los productos, en los lugares.
Si paseamos por una calle de una gran ciudad
encontraremos todo aquello que podramos
encontrar en otra gran ciudad de otro
continente, las mismas marcas, los mismos
coches, las mismas tiendas, los mismos rtulos,
sin apenas notas de identidad del pas o la
regin en la que nos encontramos, en palabras
de Leonor Arfuch podramos decir que:
en estas ciudades es quizs donde
puede apreciarse con mayor
contundencia el fenmeno, tan
mentado, de la globalizacin. Uno de
sus aspectos remite a nuestra escena
precedente, la globalizacin de la
economa, que nos lleva a un
supuesto mercado universal, sin
que estos signifique obviamente un
reparto equitativo de cargas y
beneficios entre los pases; el otro
aspecto involucra la sociedad de la
comunicacin, cuyo imperio sin
lmites, aun antes de la invencin
satelital y la proliferacin de las
redes, ya haba sido anunciado.
17
513 ESTTICA, ARTE E DESIGN
En este camino hacia la mundializacin,
no se puede dudar, las nuevas tecnologas
y formas de proyectar han tenido mucho que
ver. Jordi Pericot apuntaba en su
intervencin en el congreso Renovar la
tradicin:
La aparicin de las nuevas tecnologas
ha creado unas expectativas parecidas
a las vividas por la sociedad del siglo
XVIII con la aparicin de las nuevas
formas de produccin industrial. Al
igual que la revolucin industrial, las
actuales tecnologas, no slo supone
la creacin de una gran cantidad de
nuevas herramientas para facilitar el
trabajo y satisfacer nuevas
necesidades, sino tambin la
aportacin de un completsimo mtodo
de produccin y planificacin que est
cambiando significativamente el
comportamiento social.
18
Este paisaje postindustrial, que se
configura cada vez ms informatizado y
globalizado, es una poderosa herramienta de
transformacin de la realidad y configurador
de nuevas realidades, en las que el Diseo
se replantear dentro de un marco flexible,
lleno de incertidumbres e inestabilidades, por
lo que debe abrirse nuevos caminos a la
consecucin de metas colectivas para
convertirse en una estrategia de
comunicacin social y cultural, capaz de
aportar nuevas formas de interpretacin del
mundo en consecuencia con el mundo
tecnolgico que se configura. Las
revoluciones tecnolgicas, por las que el
hombre viene pasando, intensifican y crean
nuevas necesidades.
19
Desde esta
perspectiva, debemos apostar por un Diseo
interdisciplinario, con un enfoque integral
a la vez que local, susceptible de ser aplicado
a cualquier mbito siempre desde un espacio
social que se site dentro de una dinmica
comunicativa.
4 - A modo de conclusin
Teniendo en cuenta que los objetos y las
imgenes como tales configuran los sistemas
perceptivos del orden social y se presentan
como fenmenos lgicos a una situacin
cultural, deberamos considerarlos ms
atentamente. Algunas empresas ya se han
dado cuenta de que dotar de una imagen
global a sus productos nos les beneficia y
buscan en el Diseo la identidad de sus
objetos, personalizndolos e incluso
retrocediendo en el tiempo en busca de una
identidad que les identific en su momento,
para mejorar la comunicacin con un pblico
que busca consumir imgenes que les
diferencien respecto al resto. Esa apreciacin
de carcter meramente econmica o
comercial debera trasladarse al sentir
general, para evitar ser meros duplicadores
de clichs globalizadores y faltos de
identidad, que nos llevan a una
comunicacin de la indistincin.
Es hora de que el diseo piense en
el potencial que ofrece el juego
local/global y proyectar intervenciones
adecuadas al a valorizacin del las
culturas perifricas, ya sea a travs
de mecanismos de transferencia de
escenarios, o desde la primera lnea
de la lucha por la preservacin de la
identidades.
20
No queremos descargar toda la
responsabilidad de los hechos acontecidos sobre
el Diseo por lo que queremos concluir esta
comunicacin con las palabras de Marc Aug,
que nos ofrece cierta liviandad en la
responsabilidad social del diseador, otorgndole
un margen razonable en su que hacer profesional.
514 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
De modo que la investigacin del
diseador tiene que conformar la
delicada tarea de seducir sin alienar.
Sin duda, para conseguirlo no debe
olvidar que la preocupacin por la
funcin es la nobleza de su oficio, pero
la funcin slo se cumple socialmente.
Ahora bien, al diseador no se le
puede atribuir toda la responsabilidad
de lo social. Lo social depende,
primero del poltico y luego del
usuario, del consumidor, del que,
siendo artista de su propia vida,
intenta componer los fragmentos y los
objetos, a pesar de las durezas y las
monotonas de la existencia diaria.
El propio diseador sera algo menos
y algo ms que un artista, no el
inventor de universos propios, sino el
demiurgo atento, modesto y astuto de
los mundos diarios de todos y cada
uno de nosotros.
21
515 ESTTICA, ARTE E DESIGN
Bibliografa
AA.VV. Signos del Siglo. DDI. Sociedad
para el Desarrollo del Diseo y la
Innovacin. Direccin General de Poltica de
la PYME. Ministerio de Economa y
Hacienda. Madrid 2000.
AA.VV. Diseo Industrial en Espaa.
Direccin General de Poltica PYME.
Secretaria de Estado de Comercio, Turismo
y de la Pequea y Mediana Empresa.
Ministrio de Economia y Hacienda. Madrid.
1998.
AA.VV. Formas do Design. 2AB: PUC-
Rio. Rio de Janeiro 1999.
AA.VV. Revista Experimenta. Vol. 32.
Madrid 2000.
Arijon, Daniel. Gramtica del lenguaje
audiovisual. Ed: Baroja. San Sebastin, 1998.
Arfuch, Leonor, Chaves, Norberto,
Ledesma, Mara. Diseo y Comunicacin.
Teoras y enfoques crticos. Paids. Buenos
Aires 1997.
Bassat, Luis. El Libro Rojo de las
Marcas. Espasa Calpe, S.A.. Madrid 1999.
Costa, Joan y Moles, Abraham. Imagen
Didctica. CEAC, S.A. Enciclopedia del
Diseo. Barcelona 1992.
Gubern, Romn. Medios icnicos de
masas. Coleccin Conocer el Arte. Historia
16. Madrid 1997.
Heratney, Eleanor. Ps-modernismo.
Cosac & Naify. So Paulo 2002.
Huertas, F. Esttica del discurso
audiovisual. Mitre. Barcelona 1986.
Munari, Bruno. Diseo y comunicacin
visual, contribucin a una metodologa
didctica. Gustavo Gili. Barcelona 1985.
Ortl, Aicher. El mundo como proyecto.
Gustavo Gili. Barcelona 1994.
Pericot, Jordi. El diseo y sus futuras
responsabilidades Ponencia dentro del congreso
Renovar la tradicin. La Laguna, 2002.
Romero, Alberto. Reflexiones sobre la
globalizacin. En: Pensamiento Econmico.
Ao 1 No.1.Primer semestre 2002http://
r e v i s t a p e n s a mi e n t o . g a l e o n . c o m/
ultimaedicion/romero.htm
Sonntag, Heinz R. & Arenas Nelly.
Gestin de las Transformaciones Sociales
- MOST Documentos de debate - N 6Lo
Global, Lo Local, Lo Hbrido.
Vargas Llosa, Mario Culturas y
globalizacin. En: El Tiempo. Santaf de
Bogot, junio 11 de 2000. http://
www.eltiempo.com.co/hoy/led_a000tn0.html
_______________________________
1
Universidad de Extremadura, Dpto. Didctica
de la Expresin Musical, Plstica y Corporal.
2
Ver: Romero, Alberto Reflexiones sobre la
globalizacin. Pensamiento Econmico. Ao 1
No. 1. Primer semestre 2002 http://
revistapensamiento.galeon.com/ultimaedicion/
romero.htm.
3
Para definir el concepto de Diseo que
queremos abordar utilizaremos la definicin
aportada en la Introduccin por Jos Menal y Joan
Costa: Diseo es, para nosotros, todo el conjunto
de actos de reflexin y formalizacin material que
intervienen en el proceso creativo de una obra
original (grfica, arquitectnica, objetal,
ambiental), la cual es fruto de una combinatoria
particular mental y tcnica de planificacin,
ideacin, proyeccin y desarrollo creativo en
forma de un modelo o prototipo destinado a su
reproduccin /produccin /difusin por medios
industriales. Costa, Joan y Moles, Abraham.
Imagen Didctica. CEAC,S.A. Enciclopedia del
Diseo. Barcelona,1992. p.33.
4
Ver: Romero, Alberto Reflexiones sobre la
globalizacin. Pensamiento Econmico. Ao 1
No.1. Primer semestre 2002. http://
revistapensamiento.galeon.com/ultimaedicion/
romero.htm.
5
Arfuch,Leonor, Chaves, Norberto, Ledesma,
Mara. Diseo y Comunicacin.Teoras y enfoques
crticos. Piados. Buenos Aires, 1997, p.208.
6
Ver: Heinz R. Sonntag & Nelly Arenas.
Gestin de las Transformaciones Sociales - MOST
Documentos de debate - N 6 Lo Global, Lo
Local, Lo Hbrido.
7
Ver: Mario Vargas Llosa. Culturas y
globalizacin. En: El Tiempo. Santaf de Bogot,
junio 11 de 2000. http://www.eltiempo.com.co/
hoy/led_a000tn0.html
8
Cattermole, Pierluigi El Diseo y la sombra
del Futuro. Signos del Siglo. Sociedad para el
Desarrollo del Diseo y la Innovacin. Direccin
General de Poltica de la PYME. Ministerio de
Economa y Hacienda. Madrid 2000, p.103.
9
Giralt-Miracle, Daniel, Capella, Juli, Larrea,
Quim y Nueno, Pedro. Ctalogo de la Exposicin
Diseo Industrial en Espaa. Direccin General
de Poltica PYME. Secretaria de Estado de
Comercio, Turismo y de la Pequea y Mediana
Empresa. Ministrio de Economia y Hacienda.
Madri. 1998, p.21.
516 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
10
Bomfim, Gustavo Amarante. Coordenadas
cronolgicas e cosmolgicas como espao das
transformaes formais. Em Formas do Design.
2AB:PUC-Rio. Rio de Janeiro. 1999, p.152.
11
Bomfim, Gustavo Amarante. Coordenadas
cronolgicas e cosmolgicas como espao das
transformaes formais. Em Formas do Design.
2AB: PUC-Rio. Rio de Janeiro. 1999, p.152.
12
Resumen de las ideas a partir del libro
de Heratney, Eleanor. Ps-modernismo. Cosac &
Naify. So Paulo. 2002.
13
Palabras de Pericot, Jordi. El diseo y sus
futuras responsabilidades Ponencia dentro del
congreso Renovar la tradicin. La Laguna, 2002.
Tenerife Espaa.
14
Concepto extrado del documento Heinz R.
Sonntag & Nelly Arenas Gestin de las
Transformaciones Sociales - MOST Documentos
de debate - N 6 Lo Global, Lo Local, Lo Hbrido.
15
Ver Arfuch,Leonor, Chaves,Norberto,
Ledesma, Mara. Diseo y Comunicacin.Teoras
y enfoques crticos. Piados. Buenos Aires.1997,
p.119.
16
Bassat, Luis. El libro Rojo de las Marcas.
Ed. Espasa Calpe, S.A. Madrid, 1999. (Bassat,
1999 :91)
17
Arfuch, Leonor, Chaves, Norberto,
Ledesma, Mara. Diseo y Comunicacin. Teoras
y enfoques crticos. Piados. Buenos Aires, 1997,
p.208.
18
Palabras de Pericot, Jordi. El diseo y sus
futuras responsabilidades. Ponencia dentro del
congreso Renovar la tradicin. La Laguna, 2002.
Tenerife Espaa.
19
Ver: Lcia Nojima, Vera. Formas do
Design. Comunicao e leitura no verbal.
Formas do Design. Ed: 2AB srie design. Ro
de Janeiro 1999. Brazil.
20
Branco, Joo El objeto del diseo.
Experimenta 32. (Branco, 2000:36 ss).
21
Aug, Marc El no lugar y sus objetos
Experimenta 32. (Aug, 2000:98).
517 ESTTICA, ARTE E DESIGN
Performance multimdia:
Laurie Anderson e arte feita de palavras e bits
Fernando do Nascimento Gonalves
1
H mais de 30 anos, Laurie Anderson vem
atuando em diversos campos da arte e
operando com distintas linguagens e mdias.
Tendo origem na vanguarda nova-iorquina
dos anos 70, Anderson produziu, ao longo
de sua trajetria, um indito e curioso di-
logo com o circuito comercial de arte, a
chamada mainstream.
Seu trabalho vem mantendo, porm, uma
qualidade essencialmente conceitual e pode
ser visto como uma espcie de vanguarda
pop, que parte da escultura minimalista
2
e
vai abraar diversas formas expressivas (fo-
tografia, filme, msica, instalaes) e mdias
(TV, vdeo, CD-rom e internet). Integradas
em suas performances, essas distintas lingua-
gens e mdias produzem uma arte feita de
palavras e bits, capaz de produzir interessan-
tes descosturas nos discursos e prticas li-
gados mdia e tecnologia na sociedade
contempornea.
Anderson vem desde o incio de sua
carreira associando-se a artistas e msicos
experimentais como Philip Glass, na ento
cena alternativa do Soho, em Nova York e
seu percurso vem sendo documentado e
discutido por diversos historiadores da
performance, crticos de arte e tericos da
cultura e da linguagem.
Seu background familiar, suas experin-
cias pessoais e artsticas, os meios de co-
municao, a tecnologia e a cultura ameri-
cana so as principais fontes de inspirao
para seus trabalhos. Sua originalidade est
na forma como invoca reiteradamente esses
elementos e os recombina, subvertendo meios
e prticas, transformando-os em meios ca-
pazes de questionar os valores estabelecidos,
principalmente os da cultura americana.
Os trabalhos da artista se situam dentro
do que alguns estudiosos americanos
convencionaram chamar de contemporary
multimedia performance
3
(MacAdams, 1996)
ou postmodern performance (Connor, 1993;
Auslander, 1997), categoria tpica da
performance nos anos 80 e 90, que , na
realidade, a etapa atual da longa histria de
uma forma expressiva denominada arte da
performance.
A performance uma expresso artstica
tpica dos anos 70, em que o corpo era
utilizado como um instrumento de comuni-
cao que tomava objetos, mdias, situaes,
lugares naturalizados e socialmente aceitos
-para resignific-los. Historicamente, pos-
svel localiz-la como um fenmeno artstico
de fronteira,
4
que representa o elo contem-
porneo de um conjunto de expresses es-
ttico-filosficas do incio do sculo XX -
da qual fazem parte o futurismo, o dad, o
expressionismo e o surrealismo e do ps-
guerra, como o happening dos anos 60 e a
body art, dos anos 70 (Cohen, 1987). A
performance representa esse conjunto de
experincias artsticas e consubstanciou o que
Glusberg chamou de um fenmeno de arte-
corpo-comunicao (1987:66), que embora
se apie em formas de teatro, msica e dana,
as retoma para desarticular seus elementos
e se tornar outra coisa, que no teatro, nem
msica, nem dana.
A partir dos anos 80, com a consolidao
do uso da televiso, do vdeo e de novas
tecnologias em suas apresentaes, ao invs
de privilegiar a presena imediata do
performer, a performance passou a operar
frequentemente com uma presena
tecnologicamente mediada, como o caso
dos trabalhos de Laurie Anderson.
Estabelecendo uma imageria visual como
parte integrante de suas performances,
Anderson ficou conhecida como uma
performer multimdia, ao lanar mo de
slides, computao grfica e outros recursos
para criar a animao de imagens que, por
vezes, so narrativas e, por outras, simples
fenmenos visuais. Suas criaes se propem
a pensar as possveis relaes entre cultura
e mdia na atualidade e correspondem a
experimentaes de linguagem na arte atra-
518 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
vs de elementos da comunicao de massa
e das novas tecnologias.
Os trabalhos de performance da artista,
contudo, no se resumem ao uso dos dispo-
sitivos high-tech em mega-performances, pelo
qual ficou conhecida, a partir dos anos 80.
Tampouco nos surpreendentes efeitos visu-
ais e sonoros propiciados por esses disposi-
tivos que reside a fora de suas criaes. Seu
trabalho se coloca muito alm da proposta
comercial do pop, que efetivamente uma
outra face de suas apresentaes.
No caso, as apropriaes da tecnologia
e dos discursos miditicos (reprodues de
imagens da mdia, de conversas em secre-
trias eletrnicas e de programas de TV e
o uso de aparelhos para distorcer a voz, por
exemplo) parecem exatamente caracterizar
um processo de criao capaz de experimen-
tar novas linguagens na msica, no teatro e
nas artes multimiditicas.
Paralelamente ao uso de dispositivos
tcnicos, Anderson privilegia tambm o uso
da comunicao oral, da narrativa em suas
performances. Para Anderson, as histrias
funcionam como um modo de questionar os
valores dominantes de sua prpria cultura.
A artista costuma definir a si mesma como
uma observadora da cultura americana e
diz estar sempre interessada em tentar definir
as questes que caracterizavam o americano
do final do sculo XX. Afirma ainda que,
como artista, sempre pensou em seu trabalho
como o de uma espi, que, usando seus
olhos e ouvidos, tentava encontrar algumas
das respostas. Inspirada em Benjamin, um de
seus pensadores preferidos, a experincia
narrativa em Anderson parece ocorrer numa
temporalidade necessariamente incompleta,
onde o ato de narrar existe para ser
reencetado. Se contar histrias a arte de
cont-las de novo (Benjamin,1993: 205),
ento a artista vai fazer do ato de narrar um
modo de questionar o que est dado: atravs
de suas msicas e histrias, Anderson torna
o familiar estranho e o ordinrio extraor-
dinrio (Amirkhanian,1986:229), como uma
forma de desnaturalizar certos tipos de dis-
curso e de situaes socialmente aceitas.
Curiosamente, suas histrias abordam
desde fatos ocorridos em Nova York, onde
mora, at experincias vividas nas ilhas
Ponap, no Pacfico, em uma antiga tribo
mexicana em Chiapas, no Mxico, ou numa
reserva de ndios americanos. Quando conta
histrias de casa, estas funcionam como
um meio de indicar como o estrangeiro pode
estar prximo e como o que parece fami-
liar pode tambm esconder estranheza, de
forma que sempre possvel lanar um outro
olhar para o que foi naturalizado no coti-
diano, sem sair de casa.
Em The Night Flight to Houston
(Anderson, 1994:144), por exemplo,
Anderson conta que certa vez viajava de avio
numa noite clara e que podia ver do alto as
luzes de todas as pequenas cidades do Texas.
Sentada a seu lado, uma mulher de 52 anos
que nunca viajara de avio. Seu filho, conta
Anderson, lhe mandara uma passagem e
dissera: me, a senhora criou dez filhos.
hora de entrar num avio. Sentada junto
janela, a mulher olhava fixamente para o lado
de fora e falava o tempo todo da Ursa Maior,
apontando para baixo. De repente, Anderson
se deu conta de que a mulher achava que
estavam no espao, olhando para estrelas l
embaixo.Acho que aquelas luzes l embai-
xo so luzes de cidadezinhas, explicou
delicadamente.
Para Jen Budney, a histria um tocan-
te retrato da fragilidade humana numa so-
ciedade tecnolgica (1997:160). Trata da
situao de vulnerabilidade de uma mulher
considerada forte, que se v totalmente
deslocada diante de uma realidade que no
a sua ou sobre a qual desconhece, no caso,
a experincia de andar de avio. A figura do
avio (mquina) pode ser entendida como um
smbolo para a tecnologia, algo que somos
conclamados a dominar e a achar natural em
nossas vidas.
5
Desse tipo de concepo poder-
se-ia depreender que negar a tecnologia
significaria tornar-se vulnervel numa cultu-
ra apoiada nas mquinas e na mediao
tcnica, como era o caso da mulher que no
soube reconhecer o que via. O inusitado
da situao est exatamente no fato de como
algo aparentemente to banal pode ser con-
siderado to estranho por algum, o que nos
permite, sem dvida, pensar o que pode ser
considerado banal e por quem e ques-
tionar, afinal, sobre o que se espera de ns
numa sociedade tecnolgica.
A narrativa, em Anderson , portanto, um
poderoso canal para o qual convergem distin-
519 ESTTICA, ARTE E DESIGN
tas vozes culturais, polticas, econmicas,
sociais e de gnero. Vozes que ampliam sua
crtica e, ao mesmo tempo, permitem que
fatos da cultura viagem, falem e sejam
discutidos. Finalmente, atravs de sua arte
de contar histrias que emergem questes
caras cultura americana, que ela vai ques-
tionar com humor e ironia.
Porm, um dos aspectos mais marcantes
dos trabalhos da artista que a narrativa
frequentemente secundada por uma media-
o tecnolgica, que a dota de um carter
fragmentado, no-linear e, paradoxalmente,
unificado. A tecnologia viabiliza esttica e
formalsticamente -a apresentao das ques-
tes que deseja discutir. por meio da
mediao tecnolgica distoro eletrnica
da voz, tratamento de imagens digitalmente
que criam ambincias especiais para suas
performances,
6
uso de prteses corporais e
instrumentos sonoros que produzem sons
inusitados que ela retrata o processo de
mediatizao da cultura americana e das
sociedades eletrnicas, bem como a
espetacularizao da mdia e a banalizao
da comunicao e da prpria tecnologia. Em
suma, por meio da tcnica que Anderson
investiga e desconstri os sistemas de repre-
sentao de sua prpria cultura.
O que chama a ateno nesse processo
de mediao que as narrativas encontram
no fragmento uma unidade prpria, consti-
tuindo uma espcie de fabulao eletrnica,
que s pode ser contada pela conjuno de
suas distintas fraes ou pedaos. Essa for-
ma narrativa parece remeter, de alguma
forma, ao tipo de linguagem fragmentada
presente sobretudo em meios de comunica-
o como a televiso, o vdeo e a internet.
7
Como resultado, temos uma arte que fala aos
sentidos sem deixar de falar razo e onde
esses dois elementos o sentir e o pensar
no se opem ou competem entre si, antes
se complementam.
Mas, a tecnologia em si mesma no tem
o poder de incitar a criao. Nos trabalhos
da artista, a tecnologia no remeter apenas
aos dispositivos tcnicos em si, mas a todo
um conjunto de procedimentos que articulam
a produo desses dispositivos e seus modos
de uso com determinadas intenes estticas.
O que caracterizaria a tecnologia nesse
contexto seria ento no a materialidade dos
dispositivos que diz respeito concretizao
de um objeto tcnico -, mas uma relao onde
a tecnologia constitui ela prpria uma en-
grenagem ou parte de uma engrenagem.
A tecnologia no seria, portanto, a essn-
cia de seu trabalho, e sim, uma forma de
estabelecer uma relao com a narrativa e
de problematiz-la, o mesmo acontecendo
com as referncias linguagem, cultura,
aos fatos do cotidiano etc, elementos que ela
vai espalhar sobre outras constelaes de
sentido. O importante para a artista no
a mgica dos efeitos que a mquina pode
gerar. Para ela, no h nisso nenhum mis-
trio ou novidade. O que importa o modo
de agenciamento com a mquina. Da,
Anderson encarar a tecnologia como um teste
criatividade e como experimentao com
outras formas estticas e narrativas.
Isso corrobora o pensamento de Rogrio
Luz (1993:191), quando afirma que um novo
meio exige do artista uma nova prtica e a
uma nova prtica deve corresponder a uma
nova linguagem. Luz reconhece exatamente
que no no meio em si que se encontraro
as respostas para os desafios colocados pelos
prprios processos de criao. Antes, ser a
concepo diferenciada de como um novo
meio pode organizar aes que viabilizar
uma prtica efetivamente nova.
Nos trabalhos de Anderson, o ato narra-
tivo mediado tecnologicamente e otimizado
em sua capacidade de ativar, de forma sin-
gular, os elementos que remetem fascina-
o com a tecnologia, ao consumo, retrica
da liberdade e ao poder militar, caros cultura
americana. Narrativa e tcnica tornam-se,
nesse contexto, importantes ferramentas
estticas e tambm mecanismos de resistn-
cia quilo que Deleuze e Guattari chamaram
de palavras de ordem (1980:100), que no
so enunciados imperativos, mas uma re-
lao que palavras e enunciados tm com
determinados pressupostos implcitos em sua
prpria formulao, ou seja, uma relao em
que atos de linguagem implicam e ao mesmo
tempo efetivam os enunciados e os pressu-
postos que figuram implicitamente nesses
atos.
520 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
So esses modos de arranjo de sentido
que se organizam segundo determinados
pressupostos pelos quais somos atravessa-
dos e que nos constituem que Deleuze e
Guattari chamaram de agenciamentos
coletivos de enunciao. So os
agenciamentos ou modos de arranjo de
sentido que denotam o carter essencialmen-
te social da produo de discursos e das
prticas vividas em escala individual ou
coletiva, produo esta que vai se tornar o
alvo preferido dos questionamentos da artis-
ta.
A arte de Anderson essencialmente uma
arte que fala de seu prprio tempo e que busca
resistir aos arranjos banalizadores da mdia
e da tecnologia na atualidade. Boa parte do
material usado pela artista vem daquilo que
Philip Auslander denominou cultura medi-
atizada. A noo de uma cultura mediati-
zada se associa ao princpio daquilo que
Baudrillard chamou de xtase da comuni-
cao, ou seja, de uma experincia social
de hiperpresena de um sistema relacional
que se expressa pela condio de se fazer
parte de uma cultura que parece operar como
um nico e gigantesco sistema de informa-
o (Baudrillard, 1988: 24).
Anderson reflete em seus trabalhos a
preocupao com o fato de que muitos dos
processos comunicativos hoje parecem se
colar a uma supercomunicao de fluxos
instantneos, que parecem trabalhar para uma
repetio no criadora. Esses mecanismos
nos quais a mensagem se apaga em favor
da informao e em detrimento de sua
qualidade de acontecimento , produzem
apenas uma reverberao da informao em
si mesma e enquanto efeito de discurso.
Talvez por isso Deleuze afirme que hoje
no sofremos da falta de comunicao, mas
de seu excesso (Deleuze, 1992: 172). Por-
que tambm feita de hiatos e no apenas
de redundncias , a comunicao dever ser
vista como modo de tornar possvel o
questionamento do que est dado e de ins-
taurar novas formas de viver, sentir e pensar.
Esse, o lugar onde comunicao e arte se
encontram. Perceber o funcionamento da co-
municao no campo criador da arte pode
e deve fazer-nos refletir sobre as demais
modalidades de comunicao, sobretudo a
miditica, onde a linguagem frequentemente
se inscreve nos limites de uma comunicao
estandardizada.
A mensagem artstica busca escapar a esse
modelo e introduzir novidades na comuni-
cao, questionando seu circuito. No se
constituindo nem na emisso, nem na trans-
misso, nem finalmente na recepo, como
afirma Berger (1977:132), esse gnero de
mensagem nunca um dado totalmente pr-
estabelecido, nem conta com critrios uni-
versais de decodificao. No se verifica a
uma questo de cifrar ou decifrar, de reco-
nhecer ou dar a reconhecer, e sim, de criar
e comunicar, onde comunicar j parte de
um processo ativo de criao, que se efetiva
na medida que a corrente da comunicao
se pe a atuar (ibid).
o que acredito ocorrer com a comu-
nicao nos trabalhos de Anderson. Ao
hibridizar linguagens e mdias, Anderson
atualiza os princpios da apropriao e da
colagem em suas apresentaes para tentar
dizer o indizvel no momento atual. O re-
sultado no nem msica, nem teatro, nem
multimdia: uma arte de interveno, de
potencializao de atos da lngua, dos
movimentos e das imagens, que se apia num
rearranjo singular de elementos do cotidiano
e da cultura contempornea.
Assim, partindo da arte conceitual, pas-
sando pela fotografia, pela arte narrativa, at
chegar ao cinema, performance, ao vdeo
e hipermdia interativa, Anderson busca
sempre justapor e conectar distintas refern-
cias, resignificando objetos, prticas e dis-
cursos. Reconhecendo a condio simblica
da cultura e da linguagem, a artista produz
um corpo de obra que articula diferentes
cdigos, criando uma verdadeira rede sgnica,
que ela, ento, vai manipular e colocar a
servio da criao e da comunicabilidade.
Desde o incio de sua carreira, por exem-
plo, possvel ver o uso de imagens de
avies, desenhos de silhuetas de pessoas,
relgios, casas cada qual fazendo refern-
cia a situaes, estados de esprito e questes
que busca discutir , aparecerem vrias vezes
em vrias performances. Da mesma forma,
msicas e histrias so frequentemente
recontadas e cantadas -eventualmente com
pequenas variaes tanto em eventos ao
vivo, quanto em lbuns e vdeos, formando
materiais com caractersticas distintas, ape-
521 ESTTICA, ARTE E DESIGN
sar de se apoiarem em elementos que so
invocados e recombinados constantemente.
Para Anderson, o que importa
exatamente o uso daqueles elementos como
leitmotifs que se relacionam semioticamente
com questes que pretende discutir e com
sensaes que deseja provocar. Com esse
procedimento, Anderson vai formar um
verdadeiro banco de dados, onde fatos e
objetos do cotidiano, de sua vida pessoal, da
cultura americana podem ser recortados e
acionados a qualquer instante como blocos
de sensao e imaginao. Atravs da rei-
terao e do entrecruzamento desses fragmen-
tos, Anderson parece querer produzir criar
literalmente, atravs de msicas, histrias e
da tecnologia, uma ambincia discursiva feita
de imagens sensoriais, visuais, verbais e
auditivas.
O uso desses procedimentos indica um
estilo e um projeto esttico processuais, que
se definem a partir de encontros e conjuga-
es, que vo, por sua vez, produzir outros
cruzamentos criadores. Esses procedimentos
nos permitem pensar o trabalho de Anderson
como uma espcie de mquina esttica, no
sentido em que o entendem Deleuze e
Guattari (1977: 118). Concebida dessa for-
ma, a arte funciona como uma mquina
produtora de novas sensibilidades: esta
mquina que realiza, segundo Caiafa, um
trabalho criador com as formas expressivas
e abre brechas nas subjetividades padroni-
zadas, fazendo surgir singularidades (Caiafa,
2000:66).
Esse trabalho criador precisamente um
exemplo do que Guattari (1993: 134-135)
chamou de processos de singularizao,
processos que surgem desse poder da arte
de produzir rupturas nas significaes domi-
nantes e de sua capacidade de operar tam-
bm transformaes na prpria subjetivida-
de, quando os segmentos semiticos que a
constituem passam a formar novos campos
significacionais.
A noo da obra de arte como uma
mquina, como um conjunto de conexes
criadoras capazes de produzir diferena que
pode, por sua vez, engrenar-se a outros
conjuntos e fazer criar novas engrenagens
criativas abole o princpio da inspirao
e da criao geniais do artista. Essa idia,
ao invs de apequenar o processo criativo,
o amplifica e faz ressoar, porque no mais
preso a uma individualidade, e sim, a um
coletivo de foras.
Apoiado nessas idias, acredito poder
afirmar que o trabalho de Anderson um
exemplo de agenciamento concreto desses
processos singularizantes, onde a figura da
artista e seu trabalho formam uma abundn-
cia, um excesso criador que vaza e engaja
outras singularidades. por meio dessa
articulao que Anderson realiza importantes
experimentaes com as formas culturais,
estticas e discursivas, alterando percepes
e produzindo novas sensibilidades. O con-
junto de sua obra forma uma espcie de
solidariedade orgnica de natureza discursiva,
onde os dispositivos tcnicos parecem se
manifestar no isoladamente, mas fazendo
engrenagem com outros tipos de dispositi-
vos, como a narrativa e a performance, por
exemplo, que, por sua vez, constituem, cada
qual a seu modo, uma mquina, um conjunto
de engrenagens.
Por esta razo, seria possvel afirmar que
a tecnologia uma das peas ou conexes
que formam mquina em sua mquina es-
ttica. Nos trabalhos de Anderson, o elemen-
to tcnico se presta a uma experincia es-
ttica e sempre se associa linguagem. Ao
mesmo tempo, o esttico geralmente est
impregnado de tecnicidade. Isso faz com que
objetos, instalaes e performances se cons-
tituam a partir de uma relao com dispo-
sitivos tcnicos que so importantes para
produzir um efeito esttico, mas, sobretudo,
para efetivar certas condies de discurso.
Portanto, os usos e as apropriaes da
tecnologia e dos discursos miditicos feitas
pela artista caracterizam exatamente um
processo de subjetivao capaz de tornar
possveis novas escrituras, novas constitui-
es de modo de vida no individuais, mas,
coletivos. Assim que Anderson parece tentar
neutralizar a funo-autor em seus traba-
lhos, apoiando-se na apresentao de fatos
corriqueiros falam de uma certa forma de
viver em sociedade e que so relatados
aparentemente longe de um desejo de inter-
pretao e verdade.
Essa , alis, a base da estratgia que a
artista desenvolveu para preservar-se da
super-exposio miditica e subvert-la:
contra o excesso de uma presena autoral
522 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
absolutizadora, que muitas vezes anexada
pelo sistema e se torna despotencializada,
teremos um despistamento dessa presena
atravs de formas particulares de apario na
mdia, como os dummies e clones que
Anderson chama de alter egos ou duplos,
que contracenam com ela em vdeo
performances veiculadas na TV,
8
nas quais
realiza pardias alusivas prpria cultura
televisiva.
Com seus dummies, Anderson parece
deslocar e diluir sua presena em cena, dando
oportunidade a que uma srie de outros
discursos possam ter lugar. So esses duplos
que lhe permitem descorporificar-se sem sair
inteiramente de cena e, assim, ceder o lugar
a outras presenas e vozes, os no bodies que
Anderson invoca de suas experincias pes-
soais e cotidianas. Ao manipular esses ele-
mentos, Anderson vai tornar-se uma persona,
uma figura sempre deslocada, cuja constru-
o parte de suas estratgias performticas.
Finalmente, os usos e as apropriaes da
tecnologia e de elementos da mdia e da
cultura de massa so formas encontradas por
Anderson para estabelecer experimentaes
com os elementos da cultura contempornea.
Mas, ao mesmo tempo em que utiliza esses
elementos, mantm deles uma certa distn-
cia, despistando-os sempre que necessrio.
Essa apropriao com afastamento parece ser
apenas um dos modos possveis de interven-
o num momento em que no apenas a arte
e a cultura se mercantilizam, mas tambm
a prpria subjetividade.
Ao utilizar a cultura mediatizada como
cenrio e a mdia como objeto, Anderson cria
condies de possibilidade para se trapacear
com esses elementos. Ao invs de neg-los,
vai realizar algo prximo daquilo que Deleuze
e Guattari (1980: 139) chamaram de produ-
o de senhas, ou seja, de contra-palavras
de ordem, sob as prprias palavras de ordem.
Nisto consiste sua esperteza: Anderson se
camufla nesse campo de foras de forma a
tentar despistar, mesmo que de forma
efmera, os mecanismos modelizadores.
assim que seu trabalho se comporta frequen-
temente como uma espcie de estratgia
micropoltica de resistncia, que cria ruptu-
ras nos padres de percepo e sensibilidade
dominantes e produz singularidades. Buscan-
do desembaraar-se das grandes mediaes,
seu trabalho tem o poder talvez por isso
mesmo de comprometer a verdade, na
medida em que evidencia certas constituies
de modos de existncia que podem ento ser
repensados.
O importante para Anderson narrar,
criar, transformar, imprimir tecnologia e
mediao outros funcionamentos, atravess-
los com um outro desejo que no o de
representar ou fazer encaixar, mas de expe-
rimentar, inventar, torn-los ferramentas para
a criao. Seus trabalhos demonstram como
a mdia e a tecnologia podem constituir
vetores de singularizao que ajudem a nos
esquivar o quanto possvel da lgica de
padronizao do capital e de suas instncias
de modelizao. Talvez possamos considerar
suas produes como indcio provvel daquilo
que Guattari chamou de era ps-mdia
(Guattari, 1992:16), caracterizada pela
reapropriao e uma resingularizao do uso
da mdia. Nessa era, a mdia e suas
modelizaes subjetivas, no teriam mais
pretenses de sobrecodificarem a realidade.
Ao contrrio, teriam como objetivo serem
uma fonte de heterogeneidade e polifonia, de
novas formas de viver em sociedade.
Essa , acredito, a maior contribuio do
trabalho de Anderson para os estudos da
comunicao: prover-nos, como sugere Suely
Rolnik (1997:33), de recursos cartogrficos
que nos permitam inventar novas formas de
sentir, de viver e de comunicar que estejam
mais de acordo com os desafios do momento
atual. Ao tratar das estratgias estticas de
Anderson, buscamos justamente evidenciar
como possvel singularizar usando e ne-
gociando com os recursos presentes na pr-
pria cultura contempornea e com eles
revisitar o que est dado para fazer emergir
da o diferente.
523 ESTTICA, ARTE E DESIGN
Bibliografia
Amirkhanian, Charles. Interview with
Laurie Anderson. In: SUMNER, Melody
(Org). The guests go into supper. San Fran-
cisco: Burning Books, 1986.
Anderson, Laurie. Stories from the Nerve
Bible. Nova York: HaperPerennial, 1994.
______________The Ugly One with the
Jewels and Other stories. CD, Warner Bros,
1995.
Auslander, Philip. Presence and
resistance: postmodernism and Cultural
Politics in Contemporary American
Performance. The University of Michigan
Press, 1992.
Baudrillard, Jean. The ecstasy of
communication. Nova York: Autonomedia,
1988.
Benjamin, Walter. Magia e Tcnica, Arte
e Poltica. Obras escolhidas, vol.1. 6 edi-
o. So Paulo: Brasiliense, 1993.
Berger, Ren. Arte e Comunicao. So
Paulo: Ed.Paulinas, 1977.
Budney, Jen. Terra Vision. Parkett,
Zurique, n.49, 1997, p.158-162.
Caiafa, Janice. Nosso sculo XXI: notas
sobre Arte, Tcnica e Poderes. Rio de Ja-
neiro: Relume-Dumar, 2000.
Cohen, Renato. Performance como lin-
guagem: criao de um tempo-espao de
criao. So Paulo: Perspectiva, 1989.
Connor, Steven. Cultura Ps-moderna.
So Paulo: Loyola, 1993.
Deleuze, Gilles e Guattari, Flix. Mille
Plateaux. Paris: ditions de Minuit, 1980.
_______________________Kafka: por
uma literatura menor. Rio de Janeiro:
Imago,1977.
Glusberg, Jorge. A Arte da Performance.
So Paulo: Perspectiva, 1987.
Goldberg, Roselee. Performance art:
desde el futurismo hasta el presente. Barce-
lona: Ediciones Destino, 1996.
__________________. Laurie Anderson.
Nova York: Harry N. Abrams Inc., 2000.
Guattari, Flix. Caosmose. Rio de Ja-
neiro: Editora 34, 1993.
Luz, Rogrio. Multimdia e linguagens
contemporneas. In: Comunicao e Cultu-
ra Contemporneas. Comps. Rio de Janei-
ro: Notrya, 1993.
Mcadams, Dona Ann. Caught in the Act:
a look at contemporary multimedia
performance. Nova York, 1996.
Rolnik, Suely. Cultura e Subjetividade.
So Paulo: Papyrus, 1997.
_______________________________
1
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
2
Anderson cursou mestrado em escultura na
Universidade de Columbia (NY), em 1972, e
ganhou 3 ttulos honorrios de doutor em univer-
sidades americanas, nos anos 90.
3
As caractersticas principais desse gnero
artstico so a pesquisa de linguagem com mdias
e novas tecnologias e a criao de uma cena
que apresente e, ao mesmo tempo, discuta o
esprito de nosso tempo, a questo do corpo,
das imagens e os modos de percepo da
realidade.
4
O termo Arte de fronteira, atribudo por
Renato Cohen (1987) performance, designa a
situao pela qual este gnero artstico opera
quebras e aglutinaes e vai situar-se
formalisticamente no limite das Artes Plsticas
e das Artes Cnicas, sendo uma linguagem h-
brida que guarda caractersticas da primeira
enquanto origem e da segunda enquanto finali-
dade (Cohen, 1987:7).
5
A imagem do avio um dos cones re-
correntes nos trabalhos de Anderson, sobretudo
no filme-performance Home of the Brave, de 1985.
In: Anderson, Laurie. Stories from the Nerve Bible,
1994.
6
Em suas performances high-tech como
United States I-IV (1983), Stories from the Nerve
Blble (1992) e Stories from Moby Dick (1999),
Anderson canta e conta suas histrias com ajuda
de instrumentos musicais que so verdadeiros
aparelhos eletrnicos e com telas de diferentes
formatos e tamanhos onde so projetadas imagens
tratadas digitalmente, frases e citaes que fun-
cionam como espcie de sub-textos para as
narrativas, formando, em seu conjunto, uma at-
mosfera de sonho.
7
Mesmo que o efeito desse tipo de linguagem
possa ser o de reforar essa fragmentao, a
inteno de Anderson, na verdade, parece ser a
de justamente evidenciar esse efeito de fragmen-
tao e desconstrui-lo por meio da tecnologia, ou
seja, Anderson tenta seguir o princpio de que
possvel questionar a representao por meio da
prpria representao.
8
Em Alive from the Off-center, vdeo-
performance apresentada no canal pblico de TV
nova-iorquino PBS, em 1986. In: Anderson, L.
Stories from tne Nerve Bible, 1993.
524 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
525 ESTTICA, ARTE E DESIGN
As Bandas Desenhadas brasileiras contemporneas
Flvio de Alcntara Calazans
1
Introduo
Objetiva-se realizar um levantamento
panormico da produo de histrias em qua-
drinhos (HQ) na circunscrio espacial do
territrio brasileiro e com a delimitao
cronolgica da dcada de 90 at o incio do
Sculo XXI.
Esta pesquisa exploratria empregar a
metodologia oriunda da Antropologia, Obser-
vao Participante, na qual o autor envolve-
se e vivncia o objeto na qualidade de
desenhista e roteirista, somada experincia
acadmica de fundador e coordenador do
Grupo de Trabalho dos pesquisadores de HQ
do Congresso Brasileiro de Cincias da
Comunicao de 1995 a 2000.
Justifica-se tal estudo devido a serem os
quadrinhos uma forma de expresso na qual
fundem-se as manifestaes plsticas da arte
e literrias do roteiro e dramaturgia, inclu-
indo-se os recursos de linguagem cinemato-
grfica, caracterizando-se como produo
cultural da nao brasileira e, como tal, parte
integrante do universo lusofnico da cultura
portuguesa.
Deste quadro poder advir uma melhor
compreenso das caractersticas da manifes-
tao cultural HQ por meio dos produtos
autorais ou comerciais oferecidos ao merca-
do consumidor dos leitores, cujo nvel de
exigncia e qualidade pode vir a ser inferido
deste panorama.
2. A produo do patrimnio cultural das
histrias em quadrinhos no Brasil
Os quadrinhos apresentam-se como uma
manifestao cultural de um povo,
equiparveis s festas folclricas populares,
dramaturgia, cinema, literatura e artes
plsticas, e em assim o sendo, podem e devem
ser considerados como bens culturais, parte
do patrimnio artstico de uma nao.
Em sendo uma produo de signos con-
vencionais cujas caractersticas exigem de-
terminada especificidade seu estudo clama por
abordagens interdisciplinares, pois, tal qual
o cinema, a HQ apresenta-se como arte e
indstria, meio de comunicao que objeto
de teorias como a Semitica ou Midiologia
bem como tambm da Antropologia Cultu-
ral, ou at mesmo enquanto produto
mercadolgico editorial.
Do mesmo modo que na indstria cine-
matogrfica, na HQ tambm pode-se perce-
ber um estilo de autor cuja personalidade
imprima obra sua viso de mundo, men-
sagem pessoal e sutilezas estticas, fenme-
no em contraponto com a vasta produo
comercial annima que visa o lucro rpido
e contribui para a alienao das massas
consumidoras.
Graas a esta peculiaridade pode-se
encontrar no cinema de Hollywood diretores
oriundos do desenho animado que imprimem
um estilo pessoal nas obras, como Terry
Gillian e Tim Burton; o mesmo percebe-
se na indstria dos Comics com um Frank
Miller e Alan Moore, que foram precedidos
pelos Comix de contracultura de Robert
Crumb e sua liberdade de expresso (enfren-
tando o famigerado Comics Code, o cdigo
de tica macartista inspirado na obra de
Fredric Wertham A seduo do inocente que
acusava a HQ de incentivar a criminalidade
e delinquncia juvenil.).
Uma condio histrica diversa faz sur-
gir na Europa a HQ de autor ou de arte,
dirigida a um consumidor mais exigente e
de maior nvel cultural, tal qual o lbum Saga
de Xam ou a obra de autores como Druillet,
Caza, Moebius, Crepax, Manara, Bourgeon
e outros.
Entretanto, no Brasil, as primeiras nar-
rativas desenhadas em sequncia com di-
logos so publicadas em peridicos (revista)
com cunho eminentemente poltico e dirigidas
526 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
a um leitor adulto, sendo que um dos mais
antigos registros histricos a data de 30
de Janeiro, considerada como o Dia do
Quadrinho Nacional, quando entregue o
trofu ngelo Agostini aos melhores au-
tores e revistas; isto porque, em 1869, nas
pginas da revista Vida Fluminense, na ci-
dade do Rio de Janeiro, ngelo Agostini
comea a publicar seu personagem fixo em
quadrinhos de uma pgina, o Z Caipora,
um fazendeiro simples que visita a corte do
Imperador, seguido por uma galeria como o
Nh Quim e outros.
Marcados pela charge poltica surgem
autores cuja obra prima pela crtica de cos-
tumes e o regionalismo ou mesmo um acen-
tuado bairrismo; sendo um registro histrico,
foram verdadeiros cronistas de sua poca
autores como J. Carlos no Rio e suas
Melindrosas, ou Belmonte em So Paulo
criticando Hitler, at Henfil denunciando a
ditadura militar com seus quadrinhos j cls-
sicos, os Fradins, estes bem menos datados
e alcanando uma dimenso mais atemporal.
Esta predominncia do aspecto adulto e
politizado no cerceou o surgimento de obras
infantis como o trio Reco-reco, Bolo e
Azeitona do autor Luiz S na revista infantil
O Tico-Tico, por volta do ano 1905-1907.
At ento, a produo marcadamente
autoral e pessoal: quando comea a esbo-
ar-se uma indstria da HQ, e a partir do
surgimento da produo em linha de mon-
tagem pode-se perceber o surgimento de
padres, os quais podem ser agrupados em
duas categorias: 1-Comercial e 2-Autoral.
2.1. Comercial
Foi no decorrer da ditadura militar, ao
trmino dos anos 60,que comearam a surgir
as tiras de jornal do gnero infantil de
Maurcio de Souza em So Paulo, que ateve-
se oportunidade de produzir desenhos
animados com seus personagens para publi-
cidade de molho de tomates enlatado, e estes
comerciais de televiso trouxeram notorie-
dade e sucesso s revistas da Turma da
Mnica que superam at mesmo a linha
Disney em vendas, um fenmeno presente
at os anos 90-2000 no mercado brasileiro.
A indstria de Comic Strips cuja de-
nominao comercial Maurcio de Souza
Produes propicia emprego a diversas
equipes de desenhistas e roteiristas annimos
que seguem um padro de desenho e roteiro
em linha de montagem sob a marca registrada
Maurcio de Souza, a exemplo da linha
Disney.
Estas tiras e revistas em formatinho
primam pela ausncia de smbolos, cenrios
ou temticas brasileiras, os personagens so
tipos planos, no chegam a esteretipos, e
os temas simplrios dos roteiros garantem
ampla margem de leitores de todas as idades
que lem as revistas em nibus, trens e praas
a ttulo de passatempo e entretenimento, e
seus risos demonstram o acerto da equipe
Maurcio que conhece muito bem o nvel
intelectual e emocional dos seus leitores.
O lucro em merchandising de brinque-
dos, jogos, produtos de higiene infantil e todo
tipo de publicidade mantm os lucros e ajuda
a exportao das tiras para diversos pases.
Ao mesmo tempo a editora Abril, pos-
suidora de um enorme parque grfico, ad-
quire direitos de produo dos desenhos
animados, sries de televiso ou esportistas
populares e produz HQ comercial visando o
consumidor infantil ou de mentalidade sim-
plria e baixa expectativa ou nula exigncia
de qualidade, feita por equipes annimas.
Assim surgem revistas em formato pequeno
(formatinho) e baratas, com tiragens
astronmicas nunca exatamente reveladas,
mas que alegam ser de 200 mil exemplares.
So ttulos como: He-Man, Xuxa, Os Tra-
palhes, Seninha, etc...
Toda esta produo oscila conforme a
audincia (ou sucesso do esportista) e tem
o objetivo despretensioso de entretenimento
passageiro, tendo os ttulos vida muito curta.
No pode-se omitir tambm a existncia
de um incomensurvel mercado de HQ
pornogrfica que d emprego a centenas de
desenhistas trabalhando sob pseudnimos em
dzias de ttulos sem qualidade ou periodi-
cidade e com uma distribuio irregular, sem
nome da editora ou endereo (sobre este tema
especfico com maiores detalhes e aprofun-
damento ver meu artigo: As Histrias em
Quadrinhos do Gnero Ertico. In: Revista
Brasileira de Cincias da Comunicao. So
Paulo, INTERCOM, v. XXI, n 1, jan/jun
1998. p. 53-62.).
527 ESTTICA, ARTE E DESIGN
Continuando a tradio da charge pol-
tica local, em 1972 surge na Universidade
de So Paulo (USP) a revista underground
(que muitos consideram o primeiro fanzine
universitrio) Balo, com HQ bairrista sobre
os problemas em pegar carona e outras
atribulaes dos estudantes: o perodo da
ditadura e a charge subversiva est na moda.
Os jovens chargistas formam a Escola
Paulistana de Humor, presente nos jornais
dirios at os anos 90, retratando problemas
da Grande So Paulo, megalpole com 17
milhes de habitantes, em um humor que
marcadamente municipal, bairrista.
Os autores retratam prdios e monumen-
tos das praas pblicas (Luis G) ou um dos
rios que cruza os bairros, o rio Tiet, com
a srie Piratas do Tiet (Laerte) ou a fauna
noturna dos bares em um trao que orgulha-
se da influncia de Crumb, a Rebordosa
(Angeli), todos da revista Balo.
O Brasil prima pela importao, seja de
tiras de jornal (e cabe a Maurcio de Souza
o mrito de ter criado sua distribuidora e
quebrado o monoplio norte-americano), bem
como de revistas de super-heris para o leitor
pr-adolescente do sexo masculino, com
cortes no texto e arte para adapt-las ao
formatinho de menor custo.
Ocasionalmente alguns autores obtm
sucesso no exterior, os quais sero aborda-
dos na prxima categoria, pois sua obra
autoral; cabe aqui observar um fenmeno
desta dcada em particular.
Editoras norte-americanas como Marvel
e DC produzem comics de super-heris em
linha de montagem, com equipes no semi-
anonimato de crditos - colocados em cantos
da pgina -, que rarssimos leitores perce-
bem.
Uma gerao de desenhistas brasileiros
aprendeu a desenhar imitando Batman e
Capito Amrica. Uma agncia local (Art
Comics) conseguiu trazer roteiros para se-
rem desenhados aqui, porm o fez para que
o desenhista apenas imitasse o estilo do
desenhista cujo trabalho fosse modismo de
momento na editora.
Estes desenhistas passam pela experin-
cia de ter seus nomes latinos adulterados
para que os poucos leitores a ler os crditos
no se ofendam em ver desenhos de
cucarachas
2
, e assim diversos brasileiros
tm a oportunidade de ter seu desenho
publicado no Brasil, ocultos sob pseudnimos
e despercebidos, sem destaques ou incentivo,
nas revistinhas de super-heris da editora
Abril. Assim, Deodato Borges Filho torna-
se um Mike Deodato, Benedito Nascimento
em Joe Bennet, Rogrio Cruz em Roger Cruz
e outros.
Segundo a revista Wizard nmero 06, de
janeiro de 1997, pgina 27, estes tm um
lamentvel papel na indstria dos Comics.
Uma nota que vale transcrever da seo As
dez maiores decepes de 1996:
Desenhista brasileiro no estepe...
o que vimos foi uma sucesso de ar-
tistas brasileiros de talento cobrindo
frias de desenhistas americanos ou
servindo como quebra-galho a poss-
veis problemas de prazo das editoras
nos EUA. Esta situao precisa se
inverter e rpido! Ou nossos
quadrinhistas ficaro rotulados apenas
como mo-de-obra.
2.2. Autoral
Cabe aqui reiterar que a HQ brasileira
apresenta caractersticas autorais desde sua
origem em 1869, sendo a produo em linha
de montagem uma forma comercial relativa-
mente recente em termos histricos, um modo
de produo industrial que remonta aos anos
60-70 da ditadura militar, consolidada nos
anos 80 e pode-se considerar uma de suas
conseqncias a ambio dos desenhistas em
exportar seu trabalho nos moldes descritos
anteriormente, sendo partes semi-annimas da
engrenagem do sistema de produo de
editoras como Marvel e DC.
A produo cultural, quer sob a forma de
obras musicais, literrias, manifestaes fol-
clricas ou Quadrinhos, surge como manifes-
tao inconsciente e espontnea mesmo em
ambientes adversos, decorrente de pulses
psicolgicas que no cabe aqui analisar;
contudo, esta necessidade humana de expres-
sar-se uma constante cujo resultado o
patrimnio de bens culturais de cada povo.
As Histrias em Quadrinhos j atingiram
um nvel tcnico e de contedo que permite
igual-las s Artes Clssicas como a Pintura,
Escultura/Arquitetura, Literatura e Cinema.
528 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
A HQ assimila toda uma tradio hist-
rica de narrativa em imagens que remonta
aos pictogramas das cavernas, aos hierglifos
egpcios com texto e ilustrao juntos, Via
Crucis das paredes das igrejas da Idade
Mdia, com o texto saindo da boca dos santos
(filactera, o av do balo),etc..
Tal evoluo das Artes Visuais assimi-
lada pela HQ, cujo baixo preo de custo e
velocidade de produo permitem a realiza-
o de experincias grficas como os planos
gerais/panormicas de um Little Nemo e
a narrativa de um Will Eisner, cujo movi-
mento de cmera antecede o Cidado Kane,
de Orson Welles.
Caminhando junto com o cinema, influ-
enciando e sendo influenciada por todas as
artes, fazendo parte da Aldeia Global, a HQ
alcana a maturidade esttica ao tratar dos
grandes temas e anseios da humanidade,
refletindo o humano do seu autor - que
encontra eco no humano leitor que se iden-
tifica, emociona-se com a obra.
Um ser humano comunicando-se, reve-
lando-se, encontrando-se com outro ser
humano. Isto a suprema emoo esttica.
Isto se sente ao ler um livro de autor,
ao ver um filme de autor, ao ler um qua-
drinho de autor.
Ao ver o nome de Fellini ou Kurosawa,
j se sabe o que ter no filme, os temas que
preocupam o cineasta. O mesmo acontece ao
se lerem na capa do lbum os nomes de
Moebius, Crepax, Manara, Eisner, Miller.
Este quadro proposto por mim serve como
parmetro para classificar as caractersticas
da hq autoral ou de Arte, diferenciando-a da
comercial feita anonimamente:
Estes dez itens no so fixos. Pode-se
encontrar um quadrinhista que tenha todas
as caractersticas de arte publicando em
revista de banca ou diagramando tiras em
jornais.
O que identificar, caracterizar o Qua-
drinho de Autor o estilo, o toque pessoal
do autor refletido nos temas, na psicologia
dos personagens e na estrutura narrativa.
O Quadrinho adulto inteligente, com-
plexo e sofisticado, exige um pblico ma-
duro e um quadrinhista competente, que saiba
escrever bons roteiros, com argumentos que
sobreponham vrios ncleos narrativos (ro-
mance, novela), arquitetados e articulados em
uma estrutura rica e desafiadora com dese-
nho expressivo (meio mang, meio
caricatural) e diagramao planejada como
movimentos de cmera (enquadramentos)
cinematogrficos e uma composio de pran-
cha por vezes sem uma nica linha de lei-
tura, coordenada ou parattica.
Um fator por si s comprobatrio das
caractersticas autorais da HQ brasileira o
reconhecimento internacional de diversos
autores, e uma amostragem aleatria demons-
tra esta histria recente:
J de Oliveira, adapta a linguagem
grfica das xilogravuras que ilustram os
livretos populares de literatura de cordel
nordestinos, e em 1973 publica na revista
Linus (Itlia) sagas de cangaceiros e do
folclore que envolve o j mtico Lampio,
angariando diversos prmios e sendo publi-
cado em lbum no Brasil.
Srgio Macedo, nascido no estado de
Minas Gerais, migra para a cidade de So
Caetano (Grande So Paulo) em 1970. J em
1972 publica pela revista Grilo seu lbum
Karma de Gaargot para em 1974 emigrar para
a Frana, onde publica em revistas como
Mtal Hurlant e Linus, depois na americana
Heavy Metal, raras vezes publicado no Brasil,
desenvolve uma viso pessoal do misticismo
ndio que mescla com fico cientfica em
um estilo personalizado a cores vivas em
aergrafo.
Cynthia e Ofeliano, do Rio de Janeiro,
publicam a srie de aventura Leo Negro em
tiras no Jornal do Brasil e em 1990 em lbum
colorido pela editora Meribrica de Portu-
gal, para em 1996 sarem na coletnea
Brasilian Heavy Metal. Misturam harmoni-
osamente elementos de trao europeu com
recursos do Mang japons e dos Role
Playing Games.
Em 1990 a agncia belga Commu recru-
ta desenhistas de diversos estados para
publicar lbuns na Europa, versando sobre
os bandeirantes paulistas que cruzam a linha
do tratado de Tordesilhas, lendas indgenas,
aventuras sexuais no Carnaval, fantasias
futuristas sobre o Rio de Janeiro e a floresta
amaznica, etc.. Autores consagrados nas
revistas de sexo explcito em quadrinhos no
parque industrial do eixo Rio-So Paulo so
editados em lbuns pessoais e autorais,
como:
529 ESTTICA, ARTE E DESIGN
Antnio Amaral, do Piau, publica o
lbum Hipocampo (com apoio da Onix Jeans
e da Fundao Cultural do Piau) em 1994.
Tal qual Henfil, seu trao econmico e
veloz, criando um padro esttico de
abstrao nico, rompendo com a tradio
plstica figurativa e concreta da HQ, seu
texto, como o poeta Augusto dos Anjos,
emprega terminologia cientfica da fsica,
medicina, artes e literatura que muito habil-
mente mistura com folclore indgena (jabut,
jacar) flora e fauna local, crtica social e
poesia visual e verbal, criando um universo
pessoal e autoral que impar na histria da
HQ do Brasil; um trabalho de vanguarda
exemplar. (Como afirmo no prefcio que fiz
para este lbum e para a segunda edio
colorida em 2000), Amaral fez o desenho que
abre a coletnea Brazilian Heavy Metal.
Ivan Carlo de Oliveira, sob o
pseudnimo Gian Danton, publica pela
editora Fantagraph dos EUA roteiros dese-
nhados por Benedito Nascimento (que hoje
assina Joe Bennet) em 1995. O mesmo Ivan
tambm edita o fanzine Sequncia, com textos
de anlise e crtica de Quadrinhos de Autor.
jornalista e cursou ps-graduao
(Mestrado), apresentando artigos no Grupo
de Trabalho Humor e Quadrinhos que co-
ordeno no Congresso Brasileiro de Cin-
cias da Comunicao (Intercom). Ele um
dos representantes de uma nova tendncia
emergente na HQ de autor do Brasil, aliando
sua prtica como artista consagrado e com
reconhecimento no exterior a uma reflexo
universitria que abrange uma dissertao de
Mestrado, artigos em Congressos e a edio
de um fanzine (uma publicao independen-
te impressa em fotocopias xerox e distribu-
da pelo correio e venda em livrarias
especializadas). Ivan dedica igualmente es-
foros e investe seu tempo a estes mltiplos
nveis de atividade e teve roteiro publicado
no lbum Brazilian Heavy Metal em 1996,
em 1999 ganha diversos trofus de melhor
roteirista, como Angelo Agostini HQMIX
e outros.
Devido aos preconceitos e desinformao,
somados aos interesses perniciosos de alguns
cartunistas consagrados, no Brasil as publi-
caes alternativas, subterrneas, indepen-
dentes de casa publicadora nas quais circu-
lam trabalhos sem oportunidade no mercado
editorial descrito acima, recebem a pecha de
fanzine, termo de sentido dbio e vago que
j perdeu qualquer poder de significao ou
descrio e que tornou-se pejorativo, depre-
ciativo. Um exemplo desse preconceito
acontece com os tantos textos de crtica
apresentados em nossos Congressos ou
2.2.5. Tabela Comparativa: Autoral e Comercial
) l a r o t u A ( e t r A e d Q H ) m e g a t n o m e d a h n i L ( l a i c r e m o C Q H
; o d a z i l i t s e , o d a z i l a n o s r e p o h n e s e D ; o c i m d a c a , l a o s s e p m i , o r d a p o h n e s e D
a d a r o b a l e a n i g p e d o a m a r g a i D
; m e g a s n e m a d e t r a p o m o c
s o d a h l i p m e , a n a i d n i a l i f m e s o h n i r d a u Q , s a r i T
; s o l o j i t e d o r u m m u o d n a m r o f a n i g p a n
s o i r r e t i l s o r e n g , o x e l p m o c o r i e t o R
; ) a l e v o N , a i s e o P , e c n a m o R (
; l e v s i v e r p h c i l c , ) o t n o c ( r a e n i l o r i e t o R
, s o s n e d s n e g a n o s r e P
; o x e s e o d a s s a p , a i g o l o c i s p m o c
, s o n a l p s n e g a n o s r e P
; s o d a u x e s s a s o p i t e r e t s e / s o p i t
, s o d a r o b a l e s o g o l i D
; a i r t s i h a d e t n e r r o c e d o a
m e v l o s e r s o d o t , s o g o l i d e u q o a s i a M
; a c i s f a i c n l o i v m o c s a m e l b o r p
; a x e l p m o c , r a e n i l a e l a c o f - i r u l p a v i t a r r a N
, ) i r e h o d a t s i v e d o t n o p ( o v i t a r r a n o c o f m U
; a t s e u q i n a m m e g a s n e m e e t n e i c s i n o r o d a r r a n
, r o t u a o d , s a c i f s o l i f - o c i t l o p s e i s o P
; o c i m o n c e - o i c s o t n e m a n o i t s e u q
; o d a n e i l a , r o d a v r e s n o c / o v i s n e f o n i , o c i t l o p A
t a e d o p e l a r o t u a o t i e r i d m e t r o t u a O
; e c n e t r e p e h l e u q m e g a n o s r e p o r a t a m
e d o p e u q , a r o t i d e e c n e t r e p m e g a n o s r e p O
; a t s i h n e s e d o e a t s i r i e t o r o r a d u m
a r o m e d e Q H a d a c m o c e s - e v l o v n e r o t u a O
; ) e d a d i l a u q a t i u m e e d a d i t n a u q a c u o p ( r e z a f a
s m r o p s a n i g p e d s a i z d z u d o r p e p i u q e A
; ) e d a d i l a u q a c u o p a r a p e d a d i t n a u q a t i u m (
s a i r a r v i l m e s i a u n a s n u b l m e o d i d n e V
e d d n u o r g r e d n u s a t s i v e r m e u o
. o t i r t s e r o c i l b p a r a p a d r a u g n a V
, l a n r o j e d s a c n a b m e a d i d n e v l a s n e m a t s i v e R
. a s s a m m e s a d n e v , m e g a r i t e d n a r g
530 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
publicados em revistas cientficas universi-
trias: uma vez reproduzidos em fanzines
passam a ser menosprezados e at mesmo
rejeitados. Em outros casos, revistas que
publicam HQ indita so denominadas de
fanzines para, propositadamente, confundir
obras desenhadas com textos de crtica e
reflexo acadmica.
No movimento de fanzines h iniciativas
cuja persistncia torna-se simblica da resis-
tncia cultural nacional, como a super-hero-
na Velta de Emir Ribeiro (Paraba), His-
torieta de Oscar Kern, ou a revista que edito
desde 1979 em Santos, litoral de So Paulo,
Barata, citada como tal no livro O que
fanzine, de Henrique Magalhes (p. 27 e
59) e no Almanaque de Fanzines (p. 39, 55,
67).
Todos estes so exemplos aleatrios de
autores que teorizam sobre HQ seguindo uma
tendncia internacional iniciada por Will
Eisner (EUA) e representada nos anos 90 por
Scott McCloud, ambos autores que escrevem
e teorizam sobre a estrutura e signagem da
HQ a partir de uma perspectiva tanto interna
e de vivncia autoral quanto de pesquisador
e crtico.
Pessoalmente, no posso permitir-me
omitir minha reflexo baseada em experimen-
tao muito semelhante, uma espontnea
Observao Participante deste recorte his-
trico e seus processos.
Edito HQ de vanguarda de diversos
autores junto a minha prpria em sistema de
cooperativa na revista-fanzine Barata desde
1979. Aps ter organizado a Primeira Ex-
posio de HQ de Santos em 1985, fui eleito
diretor executivo da Associao dos
Quadrinhistas e Caricaturistas de So Paulo
em 1986, onde escrevi a Cartilha de Direito
Autoral da HQ. Fui jurado da I Bienal de
Quadrinhos do Rio de Janeiro (1991), pu-
bliquei em cerca de 200 fanzines, alm da
publicao independente dos lbuns alterna-
tivos: Guerra das Idias (1987 com a quarta
edio em 2001), Guerra dos Golfinhos
(1991) - tambm publicado em captulos na
revista Porrada Special e Absurdo (sob
hipnose em 1992). Participei da coletnea
Brazilian Heavy Metal (1996) e Hora da
Horta com HQ histrica sobre os Outros
500 do descobrimento e colonizao do
Brasil, em 2000; e sou o fundador e coor-
denador do Grupo de Trabalho em HQ no
Congresso Brasileiro de Cincias da Comu-
nicao desde 1995 at 2000, selecionando
pesquisas de professores doutores universi-
trios do Brasil e exterior.
Tenho observado este quadro da HQ
brasileira e sinto esta tendncia crescente de
autores que comeam adolescentes em
fanzines e depois de universitrios (artistas,
jornalistas, arquitetos, cineastas, publicitri-
os, etc), passam a teorizar e refletir sobre
o objeto HQ com uma franca vantagem sobre
geraes anteriores somente acadmicas, pois
somam a seus argumentos a vivncia prtica
da produo, quer em fanzines, revistas ou
lbuns no Brasil e exterior.
3. Consideraes finais
Percebe-se deste quadro, que no preten-
de ser uma descrio exaustiva e sim um
breve panorama do final do Sculo XX e
incio do Sculo XXI e traar o quadro de
cuja situao histrica surge o mercado da
qual so decorrentes os hbitos de consumo,
a problemtica brasileira e as peculiaridades
que os autores desenvolveram para dar vazo
produo do bem cultural que so as
Histrias em Quadrinhos.
A HQ sofre do mesmo problema que a
literatura, ambas impressas em suporte papel
(grafosfera miditica) que tem pouco pres-
tgio devido a preconceitos academicistas
arcaicos, lutando para sobreviver em um pas
de dimenses territoriais continentais, com
um problema de analfabetismo no assumido
pelas autoridades, alta densidade demogrfica
no parque industrial do eixo Rio de Janeiro-
So Paulo, migrao em massa com choque
cultural rural-urbano, etc...
Esta populao semi-alfabetizada e sub-
empregada ouve rdio, v televiso, no
compra HQ quando pode comprar comida,
e as editoras acostumaram-se a ter menos
prejuzo e problemas com a censura da
ditadura publicando material americano, o que
criou uma cultura de repdio produo local
que somou-se ao esprito colonial de valo-
rizar o que estrangeiro, sendo louvvel o
fenmeno Maurcio de Souza, que a exceo
para confirmar a regra.
Autores, cujo espao para publicao
cada vez mais reduzido, aproveitam-se da
531 ESTTICA, ARTE E DESIGN
charge e cartum dos jornais para divulgar uma
tira bairrista como a Escola Paulistana de
Humor, outros sujeitam-se a desenhar super-
heris cobrindo frias dos americanos ou
desenhando HQ comercial baseada em es-
portistas ou programas de televiso, ou ainda
expor-se como curiosidade mrbida mdia
rotulando sua prpria obra como arte-tera-
pia, ou desenhando sexo explcito.
Porm, centenas de fanzines atuam como
resistncia cultural em um movimento alter-
nativo que chega a ter distribuidoras atuando
pelo correio, e deste universo surgem autores
com uma obra autenticamente autoral, sendo
que muitos destes so universitrios que
cursam ps-graduao e participam de con-
gressos, realizando pesquisas onde unem a
teoria prtica.
De todo o universo dos quadrinhos bra-
sileiros, cerca de 70 autores profissionais e
de fanzines participam da coletnea
Brazilian Heavy Metal, dando um panorama
da produo brasileira nos anos 90.
Futuras pesquisas podero detalhar me-
lhor este horizonte do quadrinho brasileiro,
identificando os padres dos estilos autorais
e as redes de influncias internacionais destes
e outros autores.
532 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Bibliografia
Almanaque de fanzines: o que so por que
so como so. Rio de Janeiro, Arte de Ler, s.d.
Cagnin, Antonio Luiz. Os Quadrinhos.
So Paulo, tica, 1975.
Calazans, Flvio Mrio de Alcntara.
Cartilha de Direito Autoral. So Paulo,
Associao dos Quadrinhistas e Caricaturis-
tas, 1986.
__. (org) As histrias em quadrinhos no
Brasil: teoria e prtica. [Intercom-Unesp/
Proex] , So Paulo, 1997, (Coleo GT da
Intercom volume 7).
__. Propaganda subliminar multimdia. 4.
Edio. So Paulo, Summus, 1999. (Coleo
Novas Buscas em comunicao, v.42)
____.Propaganda Subliminar Multimdia.
2a. edio, So Paulo, Summus editorial, 1996.
Cavalcanti, Ionaldo. O Mundo dos qua-
drinhos. So Paulo, Smbolo, 1977.
Cirne, Moacy. Histria e crtica dos
quadrinhos brasileiros. Fundao Nacional de
Arte, Edio Europa [s.d.].
Eisner, Will. Quadrinhos e arte
seqencial. So Paulo, Martins Fontes, 1989.
Ikoma, Fernando. A tcnica universal das
histrias em quadrinhos. So Paulo, EDREL,
[s.d.].
Lent, John A. Comic art in Africa, Asia,
Australia and Latin America: a
comprehensive, International Bibliography
compiled by John Lent, USA, Greenwood
Press, 1996.
Luyten, Sonia Maria Bibe. O poder dos
quadrinhos japoneses. So Paulo, Liberda-
de/Fundao Japo, 1991.
_____.O que histria em quadrinhos.
So Paulo, Brasiliense, 1985.
Magalhes, Henrique. O que fanzine.
So Paulo, Brasiliense, 1993.
Marquezi, Dagomir. AUIKA! Algumas
reflexes sobre cultura de massas. So Paulo,
Proposta Editorial, 1980.
McCloud, Scott. Desvendando os
quadrinhos.So Paulo, Makron Books, 1995.
Moya, lvaro de. Histria da histria em
quadrinhos. 2.edio ampliada. So Paulo,
Brasiliense, 1993.
Wizard, Nmero 6, jan. 1997, So Paulo,
Editora Globo.
_______________________________
1
UNESP.
2
Gria pejorativa usada pelo norte-america-
nos para designar os latino-americanos.
533 ESTTICA, ARTE E DESIGN
V isto, ou antes, escuta
Jos A. Domingues
1
Como interrogarmos a apresentao pls-
tica de um quadro? Pelo que se oferece ao
olhar, as suas linhas, as cores, o formato, a
escala, o material? Que serve de princpio
regulador ao comentrio? O ver? O quadro
diz: v-me, ou melhor, escuta-me (e cito
Lyotard)
2
. Para Lyotard um ver que nos
desperta a ateno de escutar.
Lyotard d apresentao plstica de um
quadro uma interpretao que consecutiva
pesquisa da vanguarda, desde Delaunay ou
Malvitch, sobre os constituintes mnimos do
espao do quadro pictrico: o que ser
necessrio para haver quadro, pelo menos um
suporte para a tela, cores, um objecto, um
lugar, qual o pensamento que acompanha esta
esttica minimalista?
3
. Lyotard pesquisa com
a vanguarda aquilo a que chama a comuni-
cao de nada do espao do quadro. Isso
significa que o que define a pintura no
a existncia pictural que permanece sob a
hegemonia do olhar, mas esta que apre-
senta a privao, interrogando-se visual e tec-
nicamente: uma ascese visual e tcnica que
tenta estabelecer a relao entre alguma coisa
perceptvel e outra coisa que ultrapassa o
perceptvel. para esta relao que im-
portante a escuta.
Segundo este aspecto, se a matria pls-
tica est virada para essa relao ao som,
ao som que aqui est como mnimo de uma
presena que no presena para o esprito
activo, no sentido de no produzir dados
apreensveis pela articulao da sensibilida-
de e inteligncia, necessariamente deve ser
imaterial na evanescncia da matria pls-
tica permanece o som.
Qual a importncia do pintar para a
privao? Qual a importncia de qualquer
arte?
Toda a criao artstica ser tematizada
no abismo. O que significa tematizar a arte
no abismo?
4
. A criao artstica acabar o seu
testemunho no campo de apresentao que
rene o visvel e o invisvel para representar
a no-figuratividade das obras na sua apre-
sentao plstica. A escuta assinala a queda,
a quebra de relao da obra comunicao
porque testemunha o que lhe incomensu-
rvel, engendra inscrio, reteno, engendra
rasto de nada; embora lhe pertena um gnero
de pensar ambguo.
Para compreender como esta posio do
pensar se organizou em termos de oposio
Construo/Doao, Lyotard resume o con-
flito que, de Galileu e Descartes a Heidegger,
tem envolvido o pensamento e as formas de
ser ou de no ser que o envolvem. As posies
do positivismo lgico e da ontologia potica
sintetizam perfeitamente o conflito na actu-
alidade: ou situar o pensamento nessa acti-
vidade de reduzir e construir a linguagem
sintctico-formal como propunha Carnap
5
; ou
virar para esse pensar cujo nico objectivo,
atravs dos diversos modos de linguagem,
a geratividade de ocorrncias antes de
determinar as regras dessa geratividade
6
. Estas
duas formas tm em comum o facto de o
pensamento receber e se mostrar acessvel
ao acontecimento. Uma pergunta fundamen-
tal se coloca a partir destas duas posies
filosficas: a da complexidade da actividade
do pensamento ou a da passibilidade, a
descrio. Na primeira situao a lingua-
gem que define o pensador, a consistncia
do pensar, a sua actividade espiritual. A
operatividade do sistema aqui a nica
evidncia que resta ao esprito. Uma lingua-
gem somente pode comunicar-nos. Porque
nos pode combinar com outras linguagens
(Wiener). Na segunda situao: se pensar
consiste mesmo em receber o acontecimen-
to, segue-se daqui que o pensamento se tem
de encontrar em posio de resistncia dos
processos de controlo do acontecimento, em
pensamento, ou seja, em posio de ques-
tionar tudo, questo e processos de controlo
da questo, logo requer que algo se apre-
sente como algo diferente e cuja razo ainda
no tenha sido conhecida, aceita o que como
534 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
vem, ainda no determinado ( isso que
significa a passibilidade: se suster pela
meditao), sem o pr-julgar nem apreender
7
.
Desta atitude, desta inquietao diante de uma
realidade que requer ser tratada como uma
mensagem obscura enviada por uma instn-
cia desconhecida, ou mesmo inominvel, vai
nascer o gnio: uma natureza que actua no
prprio esprito
8
. Mas como? Testemunhar
um acontecimento no um poder do pen-
samento que aparece como primeira causa
de explicao de uma inquietao e que
implica a capacidade de memria e de re-
teno. Um acontecimento no um objecto
determinado (vlido enquanto causa da
questo). O seu sentido no est nem no
pensamento nem frente dele, mas para alm
dele, na apresentao que o acontecimento
de si fizer. E porqu? O acontecimento, diz
Lyotard: a presena enquanto algo no
apresentvel ao esprito
9
. Nihil, nada, ne-
gao, para o pensamento
10
.
Em apoio desta ideia de a arte implicar
uma passibilidade do acontecimento (dada na
resposta do expressionismo abstracto: o tempo
o prprio quadro), Lyotard faz referncia
aos trabalhos de Barnett Baruch Newman
11
.
No porm isolada a sua investigao levada
a cabo entre os anos 1940 e 1970. Confron-
ta-a com as transformaes do dadasta
Duchamp propriamente, a relao/no-
relao de um acontecimento e a sua figura.
Le Grand Verre, por exemplo, no nem
figurativo nem no-figurativo, mas dado que
apresenta uma figura que no pode ser
intuda, figura o infigurvel
12
. Trata-se de
fazer a crtica de uma obra que se inscreve
entre o ainda no (La Marie) e o j no
(tant donns) temporal
13
. Nos quadros de
Newman aparece a imagem aqui-agora (a sua
apresentao essencial): o dizer fundamental
o dizer aqui estou, liberto de modo de-
finitivo do dizer v isto, a narrao
14
. O dizer
fundamental o dizer do infinito, do abso-
luto, de uma diferena, e que se simbolizar
como criao artstica por intermdio por
vezes at da tela inacabada. O quadro um
espao orientado para a ideia de comeo
segundo uma apresentao que no apresen-
ta nada, uma apresentao negativa, uma
apresentao a partir do princpio de que algo
ser possvel, tem lugar, sendo o quadro o
meio desse lugar, onde acontece, condensado
no instante plstico. A apresentao plstica
indica apenas que alguma coisa existe. A
simplicidade dos elementos manifestados
neste quadro corresponde categoria do
sublime, isto , a expresso pictrica uma
testemunha do inexprimvel (The sublime is
now). Um quadro de Newman diz respeito
a este inexprimvel enquanto ocorre na
determinao da arte pictural, dado que a
matria cromtica, a sua disposio, faz
sentido por si, sem remeter para outra coisa
e sem aceitar o seu plausvel sentido
15
.
Se, portanto, o tema mais importante
sobre a apresentao plstica o tema
acontecimento, a irrupo deste tema vem
sobretudo pr em causa as tendncias
gramatolgicas do pensamento. Que ter
provocado este acontecimento inscrio?
Lyotard explica-o no texto Conservation e
couleur cuja temtica abarca a inscrio.
Trata-se de uma reflexo inspirada na pro-
blemtica da matria pictrica conservada
como obra museolgica. Logo na abertura
a tese posta em evidncia: Inscrio
significa que a coisa pode passar, no pode
no passar, permanecendo ali todavia os sinais
que mostram que existiu. E, quando dizemos
que permanecem ali, pressupomos com este
ali a salvao que qualquer memorizao
espera do espao
16
. O espao, inclusivamente
o espao colorido, um quadro, permanece na
sua posio, ou aquando da operao do opus,
convertido em signos, transformando, pelo
seu arquivo que resiste ao tempo, uma
conservao de signos, o olhar do observa-
dor sobre a cor no substituto. Pressupondo-
se como um museu de signos, transcrevendo
e mantendo o que ento foi dito e pensado
de outras vezes para outrora, o espao passa
uma actualidade do novo em funo da
repetio, do seu patrimnio cultural, da sua
comunicabilidade e da sua reserva. Mas h
tambm nele um inacabamento, esse entretien
infini (Blanchot) que define a transmisso
como espao do tempo presente ou vivo que
a inscreve no futuro, ao diferido (Derrida),
difuso. Inscrever , assim, retomar espa-
os-tempos, transportando nesse retorno o que
de separao entre o acto e a sua passagem
reserva faz o arquivo, a escrita, a tcnica.
Se estamos sempre e em todo o lado
diante do diferido, se a cultura sempre uma
arquivologia (Stiegler), porque um meio
535 ESTTICA, ARTE E DESIGN
algo expe da obra espontnea, dessa relao
deslocada entre o esprito e o tempo e o
espao desde o opus, seja qual for o meio
onde a obra tem lugar. Em relao ins-
crio da obra como organizao espacio-
temporal a ttulo de repetio e transmisso
na concepo da funo de um museu,
Lyotard mostra alguma reserva na exigncia
que tem de levar a obra de volta situao
original. J a reserva que o aspecto de
arquivo, o dispositivo, ultrapasse, na expo-
sio das obras, o aspecto do diferido
completa
17
.
A exposio escrita de Diderot (Salon,
1767) em que a reflexo de Lyotard se
inspira das paisagens pintadas por Vernet
simula esse meio por onde se passa: o
passeio fictcio na paisagem das cores com
o Abade abre, por escrito, as superfcies dos
quadros como se fossem as portas de uma
exposio. A cor move o olhar, acontece
diante do olhar, mas tambm uma paisa-
gem que o olhar no domina. A escrita torna-
se paisagem da cor porque lhe damos um
lugar no nome, desarmamo-la do olhar. O
que faz uma cor a presena material que
subtrai a intriga dominada e afecta o sen-
timento: no , assim, a forma ou figura
apresentada numa disposio inteligvel ou
sensvel que faz a cor
18
. Porque aqui a esttica
da matria anterior da forma: o que se
apresenta anterior e suspende o que se quer
apresentar: a libertao tambm sentida pelo
observador. Por isso, o que o museu expe
a prpria matria cromtica: o amarelo do
Delft de Vermeer, por exemplo, pendurado
no museu de Mauritshuis, na Holanda, de-
volve a presena para si mesma como de-
feco do lugar que tem (no tem, pelo facto
de recorrer presena). Como acontecimen-
to, no como quadro. E acontecimento in-
visvel porque Czanne, diante da sua
montanha, o que v o seu prprio limite.
O que testemunha Czanne? Para
Merleau-Ponty, em Loeil et lesprit, Czanne
o mnimo que requer do acontecimento a
percepo de pequenas diferenas, da mu-
dana a cor, a linha, a luz, o espao. Esta
posio dita que o acontecimento no resulta
de uma mediao, mas que a procura. Como
pequena sensao (Jos Gil). A nica
preocupao do pintor , pois, a de um meio
que tem que ver com o incomensurvel: fuga
do componente clssico da pintura, o dese-
nho (Dioptrique de Descartes), para a linha,
a cor, o relevo, a profundidade, o movimen-
to, o contorno
19
. A estrutura do aconteci-
mento
20
: O comeo do trao estabelece,
instala um certo nvel ou modo do linearEm
relao a ele, toda a inflexo que segue ter
valor diacrtico, ser uma relao a si da linha,
formar uma aventura, um sentido da linha
21
.
Linha-forma. A percepo esttica que o
artista traa num entrelaado de linhas equi-
vale a um pensamento: um pensamento ser
uma percepo esttica, designa, assim, o ser
nas suas surdas operaes. O ser visa-se,
justamente, nas estruturas de carcter
perceptivo que apresentam o enigma da
visibilidade. Dele resulta uma apresentao
sem conceito do ser, apresentao imediata
22
.
Loeil et lesprit uma reflexo que segue
na direco indicada pela descrio da pas-
sividade da sntese perceptiva introduzida por
Husserl: oposta ao procedimento de origem
racional na Dioptrique de Descartes, em que
o cogito concebe o visvel segundo o modelo
que a si se d: vidncia que nos torna
presente o que est ausente
23
. Portanto a
pintura em Descartes no um meio que
determina o ser, , antes, um meio simblico
da evidncia do cogito de um espao sem
restrio, profundidade ou espessura. Espao
que a perspectiva ensina a produzir. Da, a
pintura um artifcio que organiza a iluso
de uma forma verdadeira das coisas. Em
Descartes a viso pensamento ontolgico.
Com Merleau-Ponty as elaboraes
perceptivas feitas pela pintura so elabora-
es sintticas, partindo de um entrelaamen-
to, troca, reciprocidade, entre coisas e corpo:
elas esto incrustadas na sua carne
24
. Para
compreender a viso, o corpo deve passar
da carne de sentinte para a de sentido. Esta
comunicao supe um acordo sobre a
definio das coisas e do corpo: o mundo
feito do mesmo estofo que o corpo
25
. O
que quer dizer que o corpo que v aparece
como corpo que visto e a viso devm
visvel por si mesma. Uma viso de tipo
ontolgico activo passivo. Efectivamente,
o sentir que manifesta o estofo (a carne) quer
ao que v, quer ao que visto. ele que
desempenha na viso o papel do trao de
unio: o que remete o esprito para a passivi-
dade, o desapossa da sua autonomia prpria,
536 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
recua ao pr-lgico, e apaga uma distncia,
de um vidente sobre o visvel de um outro.
Isto , para Merleau-Ponty, Czanne ocupa
uma posio tambm de reconciliador do
sensvel em relao ao inteligvel que inclui
doao e linguagem.
Em Lyotard o conceito temporal de
acontecimento faz dele um som trmulo.
Escuta, a observao de Freud: o psica-
nalista no pode escutar o discurso do pa-
ciente sem ascese
26
. Na relao Czanne/
montanha, se a montanha que executa
movimentos com material cromtico,
Czanne no pode observ-la sem ascese:
algo ocorre perante ou em seus olhos, a
menos que estes no consigam ser receptivos
perante ele. Algumas vezes um movimento
deixa a descoberto um violceo, outras vezes
filtra-se uma modulao amarela da atmos-
fera
27
. Como uma cumplicidade como riva-
lidade do olhar interminvel do pintor e uma
presena pura de cores, permitindo explorar
a aurora de uma nuvem de pensamento no
horizonte cujo nome Montaigne Sainte-
Victoire atravs de pinceladas de leo ou
aguarela sobre a tela. Nesta perspectiva, a
viso da montanha ter de definir-se para o
pintor Czanne no como forma, mas como
matria oculta, jogo enigmtico de cores e
no definio essencial de cores.
A questo da recepo desta matria
tratada em Lyotard como uma questo de
obedincia. Lyotard descobre-a do lado da
msica com Adorno
28
. Em Adorno a escuta
do som musical tratada sob o domnio da
tcnica. A tcnica um aspecto constitutivo
da arte, esse mais que garante o seu
contedo, ou seja, a arte torna-se arte por
intermdio do mais
29
. A anlise de Adorno
diz respeito, no entanto, arte enquanto
reduo ao seu material imediato. uma
anlise cujo sentido muito semelhante ao
de Lyotard, onde a apario artstica a
unidade do que inclui inteno humana e do
que no inclui. Para Lyotard a libertao do
material musical, do som, obra de controlo
tecnolgico que se questionaria se a possi-
bilidade aumentada da figurao desse mesmo
material dominasse a escuta e se discrimi-
nasse em duraes. A libertao do material
sonoro, assim, implica a ruptura da causa em
relao ao efeito que o desconcerto con-
tinuado do ritmo e a pesquisa numa mon-
tagem experimental de novos modos da
sonoridade que toda a libertao. Qualquer
que seja o constrangimento a que esteja
submetido o som, como as novas tecnologias
contemporneas, para se tornar apresentvel
musicalmente, pode dizer-se: o seu domnio
prtico pressupe o seu isolamento fora do
contexto da sua libertao
30
.
Porque no razovel reduzir o funda-
mento da obra musical a uma intuio das
dimenses do som, o minimalismo (pro-
posta do happening, da performance, da
msica de Cage, Morton Feldman), nem a
uma axiomtica (tendncia da experimen-
tao estrutural complexa de Pierre Boulez,
Nono, Xenakis, Stockhausen ou Grisey),
Lyotard segue por uma via que apresenta esse
sentimento que uma presena no tempo,
na orientao de uma arte do som e/ou do
tom: Tonkunst
31
. Se este sentimento uma
presena atribuda a algo que soa, cria um
som ou um tom, tnt, que obriga, torna-se
necessrio compreender a sua competncia
para o sonoro, as suas possibilidades, e
retomar o tema da escuta, a obedincia, em
princpio possvel com o encontro da msica
e da tecnologia contempornea
32
. Ento a
meditao artstica (o estudo dos timbres
impostos pela instrumentao, das alturas,
segundo as prprias intensidades) converge
para fazer aparecer a materialidade elemen-
tar de um som (a vibrao do ar com os seus
componentes da frequncia, amplitude, du-
rao e timbre) e a sensibilidade do ouvido
em relao ao ritmo de uma msica concre-
ta
33
. Como se o som entre pesquisas e in-
venes (no seu passado clssico, barroco e
moderno) fizesse e continuasse a fazer a sua
anamnese, a sua travessia de estratos de
evidncias.
Permanecer atravs de um contexto
complexo das formas musicais o som ser,
ento, atingir a interioridade de uma escuta,
a sua obedincia, atravs da sua exposio
anacrnica. Se a estruturao de uma obra
musical lhe vem do timbre, se a sua forma
lhe vem dessa materialidade, s atravs da
diferenciao dele se descobre a sua diferen-
ciao as suas cores, o seu tempo, quer
dizer, o seu limite nunca ouvido , aquilo
a que Varse chama, de acordo com Lyotard,
o radical impensado do ouvido
34
. A forma
da obra assenta nesta matria sonora prpria
537 ESTTICA, ARTE E DESIGN
um som, criado a partir do tempo de
acontecimento sonoro (que no se ouve)
35
. A
obra musical pode transmitir esse tempo so-
noro porque o transmite com um conceito
o conceito da encarnao do som na tecnologia.
Inserida numa tecnologia do som e do
impensado-som, numa anamnese, a experi-
ncia esttica do som, como escuta, proce-
dendo como campo de apresentao, acaba
por engendrar um sentimento atravs do som.
Nos termos de Lyotard, nesse caso julgar de
forma determinante deixa de ser diferente de
julgar de forma reflexionante. Podemos ligar
arte a cincia a crtica da representao
do som e abertura do campo sonoro. O que
faz a Tonkunst essencialmente energtica, ao
contrrio da Musik, que se inscreve numa
ateno ao quadro musical, forma musical.
Nesta perspectiva, as msicas so correspon-
dncias (na teosofia swendenborgiana a
msica uma convocao de uma voz de
que a audio se torna uma refm) da rede
que liga a escuta pertena: da obrigao
(Lyotard diz: de uma passividade que
gostaria de traduzir por passibilidade)
36
desta
escuta que ouvimos sons, melodias ou har-
monias de acordo com uma msica enigm-
tica
37
. Assim no h arte tecnolgica que se
no funde em pressupostos ontolgicos, o da
doao, que uma comunicao do espao-
tempo invisvel, o inaudvel. Isto vlido
para a msica como para a pintura, as duas
artes temporais (LAcinma dedicado a outra
arte temporal importante, o cinema). a
defeco do esprito que d lugar a uma
esttica de antes da representao da forma,
a que Lyotard chama alma alma mnima
38
.
Esta alma, diz: Longe de ser mstica, , de
preferncia, material
39
. Concluindo, o que
est no princpio da sua esttica da presena
material antes da viso das formas o que
resume o som.
538 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Bibliografia
Adorno, Theodor, 1993, Teoria esttica
[1970], trad. Artur Moro, Lisboa, Ed.70.
Barthes, Roland e Havas, Roland, 1987,
Escuta in Enciclopdia Einaudi, Vol.11,
Oral/Escrito, Argumentao, TRAD. Teresa
Coelho, Lisboa, IN-CM.
Blanchot, Maurice, 1984, O livro por vir
[1959], trad., Lisboa, Relgio dgua.
Brito, Casimiro de, 1982, Da poesia: ars
combinatoria fragmentos de um dirio in
Cadernos de Literatura, Centro de Literatura
Portuguesa da Universidade de Coimbra,
n12.
Deleuze, Gilles, 1980, Mille Plateaux,
Paris, Les ditions de Minuit.
Descartes, Ren, 1996, Dioptrique
[1637] in Oeuvres de Descartes, Vol.VI, Paris,
Vrin, pp.79-228.
Gil, Jos, 2001, Movimento total, o corpo
e a dana, Lisboa, Relgio dgua.
Lyotard, Jean-Franois, 1988, LInhumain,
causeries sur le temps, Paris, Galile.
1990, Duchamps trans/formers [1977],
trad. I.Mcleod, Venice, The Lapis Press.
1992, Peregrinations, ley, forma,
acontecimientos [1988], trad. Maria Coy,
Madrid, Ediciones Ctedra.
1998, Moralidades Postmodernas [1993],
2 ed., trad. Agustin Izquierdo, Madrid
Tecnos.
2002, Discours, Figure [1971], 5 ed.,
Paris, Kliencksieck,.
Merleau-Ponty, Maurice, 1964, Lil et
lesprit, Paris, Gallimard.
Pasquinelli, Alberto, 1983, Carnap e o
positivismo lgico, trad. Armindo Jos
Rodrigues, Lisboa, Ed.70.
_______________________________
1
Universidade da Beira Interior.
2
Lyotard: 1988, p.92.
3
A problemtica dos constituintes mnimos
do espao do quadro opera no declnio da ideia
clssica de espao do quadro como espao de texto
(Greimas), com uma organizao pragmtica:
mensagem, destinador, destinatrio, referente (ins-
tncias responsveis por um processo de comu-
nicao).
4
Abismo que Casimiro de Brito concretiza
no seguinte fragmento: Escrever como quem pinta
() refazendo a cor desfazendo a matria sonora
com novos afluentes do mesmo rio () a me-
mria do pas silencioso () a nuvem de pedra
que se instala nas cavernas vorazes da noite ()
a cincia circular do poder, palavras infectas que
no sei manipular () um homem de palavras
no um homem de mo () um rio sem margens
como se o tempo (a respirao) no existisse ()
nmada viagem imvel ao interior de ilhas sem
memria () inesperado sul surdo () alimento
quem me alimenta (). (Casimiro de Brito: 1982,
p.27, fragmento 12 citado tal qual).
5
Alberto Pasquinelli: 1983, p.47, cita Carnap:
A parte do labor filosfico que pode ser con-
siderada de natureza cientfica no seno a
anlise lgica.
6
Marta, minha filha, na idade de 3 anos: Se
est escuro, o meu di-di est no meio do escuro.
Se est dia, o di-di est no meio do dia. (Est
escuro!) Vs o meu di-di? No vs!
7
Lyotard, op.cit., p.85.
8
Ibidem, pp.84-86.
9
Ibidem, p.154.
10
Ibidem, p.25. A diferena que se nega a
Derrida, a nomadizao de Deleuze ou o eu de
Lvinas podem ver-se numa perspectiva herme-
nutica que seja a audio dessa passibilidade
do pensamento com o acontecimento, outra forma
de aproximao ao tempo.
11
sua potica plstica e sua ensastica.
12
Ibidem, p.90; Idem, 1990, p.87.
13
Idem, 1988, p.91.
14
Ibidem, p.92.
15
A interpretao da determinao pictrica
decorre fundamentalmente de elementos religio-
sos hebraicos, desde a Paixo de Cristo que o
sinal do necessrio recomeo, e, ainda, desde Ado
ou Abrao. Na Paixo de Cristo (Bblia) diz-se
que o desespero da pergunta de Jesus crucificado
a Deus atormenta os que o adoram, quer dizer,
a pergunta original. A tela Be (s) a nica
resposta ouvida, retomada com os ttulos Be I e
Be II. O risco rectilneo nos quadros e as cores
colocadas sobre uma superfcie como se fosse o
universo so uma representao para conotar os
silncios de Deus. Qual o silncio que se anuncia
sob a imagem de Broken Obelisk? A ponta virada
do obelisco toca o cimo da pirmide, o dedo
de Deus que tocar os que acolhem o desconhe-
cido. O meio em que se ter a tarefa ontolgica
o aqui e agora do quadro. Esta representao,
que se tornou uma preferncia para significar o
choque da ocorrncia no judasmo, inspira-se no
sublime este sentimento contraditrio que a
vanguarda abstracta caracteriza recua ao antigo
Dionsio Longino e ao modernismo de Edmund
Burke e Kant, de modo particular.
539 ESTTICA, ARTE E DESIGN
16
Ibidem, pp.157-158.
17
Ibidem, p.118: Loucura devida a um
esquecimento ontolgico: omite-se que o que
acontece diferido e separado, que lhe pertence
o esquecimento Esquecer este esquecimento
a sua maior ameaa. Trata-se de fazer saber do
secreto desejo de remisso que encena o museu
imaginrio de Malraux: a escrita da escrita, o
artstico do artstico (123), concretamente, o facto
ontolgico da autografia, a arte reduzida ao valor
de si mesma.
18
Ibidem, p.151: J que a ideia de uma
concordncia natural entre a matria e a forma
est em declnio a aposta das artes, sobretudo
da pintura e da msica, s pode ser a de apro-
ximar-se da matria. Oposio ao tema
aristotlico da matria e da forma: a matria
um poder concebido enquanto potencial, enquan-
to estado indeterminado da realidade, a forma,
segundo o seu modo de causalidade, pensada
como acto que figura o poder material. Este
dispositivo metafsico colocado sob o regime
do princpio de finalidade.
19
Descartes: 1996, p.113: um pouco de tinta
deitada sobre um papel um artifcio do espao
em si. Representa-nos o que veramos propria-
mente em presena das coisas.
20
Merleau-Ponty: 1964, p.61.
21
Ibidem, p.74.
22
Ibidem, p.52. Podemos ver aqui uma es-
ttica das qualidades puras maneira do Filebo,
como nos ensina Deleuze (1980, p.376-377): h
um segredo de um devir que o meio contm, o
que o faz funcionar como arqutipo e ser um
gnero de reminiscncia.
23
Merleau-Ponty, op.cit., p.41.
24
Ibidem, p.19.
25
Ibidem, p.21.
26
Roland Barthes: 1987, p.142: A partir desta
deslocao (que no deixa de lembrar o movi-
mento de que provm o som) surge ao psicana-
lista como que uma ressonncia que lhe permite
orientar o ouvido para o essencial: o essencial
aqui no perder (e fazer perder ao paciente) o
acesso insistncia singular, e extremamente
sensvel, de um elemento prevalecente do seu
inconsciente. A escuta do psicanalista consiste
neste ouvir o inconsciente do outro e ela s existe
com a suspenso do escudo terico: navegao
feliz, infeliz que a da narrativa, o canto j no
imediato, mas contado (Blanchot: 1984, p.13).
A escuta que se revela na teoria deixa de ser
imediata para ser diferida.
27
Lyotard: 1992, p.36
28
Lobedience (idem, 1988, pp.177-192)
baseia-se neste sinal aberto sobre a tcnica da arte,
que se pode ver em Adorno: Filosofia da Nova
Msica e Teoria Esttica.
29
Adorno: 1993, p.95.
30
Lyotard, op.cit., p.179.
31
Ibidem, p.188: existe um minimalismo do
muito complexo Alm do mais existe um
conceptualismo inevitvel, at na escrita de obras
pobres, feitas de rudos obtidos a partir da
percusso de quaisquer objectos: o indefinido
[qualunquisme] sonoro exige a maior reflexo e,
por vezes, uma verdadeira axiomtica.
32
Ibidem, p.179: (digo destinao para
retomar um termo que cobre a rea da reflexo
dita esttica desde Kant at Heidegger).
33
Ibidem, p.181: O ritmo devolvido nica
escuta imvel que podemos ento qualificar de
interior. (Ib.): Da o interesse das coreografias de
Merce Cunningham, sobre ou ao lado das msicas
de John Cage. O ritmo sonoro no se inscreve nas
capacidades naturais ou culturais do corpo. O
domnio deste ltimo sobre o seu espao (ou o
inverso), por meio de movimentos, desconcerta-
do. Resta ver o que desencadeia as sries de gestos
de Cunningham: Perante o vazio est s, de uma
solido que o arranca para fora de si. Est s e fora
de si. O seu gesto vai na direco dos outros corpos.
Como danar esse gesto? Como fazer? Fazendo-
o, diz Cunningham (Jos Gil: 2001, p.29).
34
Ibidem, p.183.
35
Ibidem, p.184.
36
Ibidem, p.190.
37
Roland Barthes: 1987, p.144-145: o que
normalmente se ouve () no a presena de um
significado, objecto de reconhecimento ou de
decifrao, a prpria disperso, o jogo de es-
pelhos dos significantes, incessantemente reproposto
por uma escuta que os produz incessantemente, sem
fixar nunca o sentido: este jogo de espelhos chama-
se significncia (distinta da significao): ao es-
cutar um trecho de msica clssica, prope-se ao
ouvinte que o decifre, ou seja, que reconhea
(servindo-se da cultura, da ateno, da sensibili-
dade) a construo, to codificada (pr-determina-
da) como a de um palcio em dada poca. Mas
ao escutar uma composio () de Cage, escuta-
se um som a seguir a outro, no na sua extenso
sintagmtica, mas na sua significncia bruta e como
que vertical. Apreciao anloga na pintura
(Lyotard: 1988,153): O que est assim em jogo,
na tarefa de pintar no , de modo algum, cobrir
o suporte A aposta pelo contrrio, comear ou
tentar comear, aplicando um primeiro toque de
cor, deixar chegar outro e outro matiz, deixando-
os associar-se segundo uma exigncia que a sua
e que deve ser sentida, no ser dominada.
38
Lyotard, op.cit., p.169: Representa-se sem
continuidade, sem memria e sem esprito (nem
imagens nem ideias) com o objectivo de limitar
ao mais possvel o mistrio da sensao...somente
qui uma arqui-epoch da sensao pudesse
enunciar essa proposio.
39
Ibidem, p.163.
540 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
541 ESTTICA, ARTE E DESIGN
O esttico como compensao
Jos Manuel Gomes Pinto
1
1. Habitar a palavra significa permanecer
dentro dela. Corresponde a uma miniatu-
rizao do sujeito dentro do espao que esta
ocupa. O espao que ela descreve. Significa
alojar-se nela, ocupar o tempo todo em ela,
no com ela. Morar l. Quer dizer: demorar-
nos em ela. Isto no corresponde a uma
mudana de perspectiva, de deslocao do
lugar de tematizao. quela, por certo,
pertence sempre uma mudana na percepo
do mundo, mas no uma alterao do mesmo,
daquilo que permanece de fora. O mundo
permanece. Demora-se.
Habitar a palavra, significa, antes, vol-
ver-se para dentro da prpria perspectiva. No
querer sair, demorar-se nos espaos que esta
marca, delimita. Resumindo: eliso de toda
a intencionalidade. Isto constitui, precisamen-
te, o que filosoficamente cabe no vocbulo
indizvel. Tudo o aquilo para o qual no
encontramos uma palavra que emprestar, que
se manifesta inexpressvel ou que parece
no encontrar expresso alguma , no
permanece fora dos limites da linguagem:
habita em ela. Ou melhor, o indizvel cons-
titui-se no limite das possibilidades do dizer,
a saber, na experincia desses limites. Por
isso ele assinalvel. Existente. Ele aparece
sempre como uma possibilidade esttica. O
indizvel corresponde ao estranhamento com
que nos surpreendemos em a linguagem ao
tentar comunicar algo. A que se deve esse
estranhamento? s possibilidades que nos
oferecem os modos de dizer. Mas no no
esgotamento destes. Essa estranheza devm
angstia no momento em que os modos de
dizer, na comunicabilidade, nos surgem
dotados com o mesmo valor. Qualquer palavra
sobra na expresso; toda a palavra se ma-
nifesta deficiente. Ou calamos ou falamos
indefinidamente. As hierarquias derrubam-se,
qualquer forma legtima, apresenta-se como
legtima. O emudecimento de Lord Chandos,
na clebre carta de Hugo von Hofmannsthal,
corresponde a essa perplexidade: tudo se
decompunha em fragmentos que por sua vez
se fragmentavam, e nada se deixava possuir
por um conceito. As palavras isoladas na-
davam minha volta; coagulavam e eram
olhos que me fixavam e sobre os quais era
forado a fixar os meus: remoinhos que me
do vertigens quando neles mergulho o olhar,
que giram incessantemente e atravs dos quais
se chega ao vazio
2
.
Esta experincia coloca-nos frente a duas
aporias irresolveis desde o ponto de vista
terico. Primeiro, ou nos encontramos de tal
forma afastados da linguagem, que unicamen-
te a vemos como veculo. Posio
diametralmente contrria que anteriormen-
te descrevemos. A tudo exterior, perma-
necendo o nosso olho ainda que falsamente
como um limite da realidade. Claro que
a j no importa como dizer, apenas nos
entretemos em tentar apresentar o que est
a, o objecto. Neste ponto, encontramo-nos
no domnio instrumental da utilizao da
linguagem, onde perdura uma certeza
inviolvel: seja o que for, no conseguire-
mos nunca comunicar. Permaneceremos no
domnio simples da apresentao. Por outro
lado, a linguagem ensina-nos o no esgota-
mento do querido dizer nas formas possveis
de o dizer. Remete-nos para os limites dessa
experincia, por certo, os limites da expe-
rincia mesma. Isto , alude s possibilida-
des ltimas que ela mesma nos oferece. E
sem prejuzo: nela somos obrigados a encon-
trar-nos. No h exerccio da linguagem que
no corresponda, tambm, a um encontro
connosco. Jacques Derrida claro sobre este
ponto: a auto-afeco uma estrutura
universal da experincia. Todo o que vivo
tem a potncia de auto-afeco. E somente
um ser capaz de simbolizar, quer dizer, de
se auto-afectar, se pode deixar afectar pelo
outro em geral. A auto-feco a condio
de uma experincia em geral
3
. A, a dis-
tncia relativamente ao querido dizer
imagine-se uma infinidade de objectos
542 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
de tal forma nfima, que sucumbimos no uni-
verso de significao para o qual nos qui-
sermos remeter: o outro. Na sntese que a
palavra nos apresenta, no est dada a soma
das suas partes: ela menos do que isso,
no chega. Mas na mnima distncia que pro-
voquemos, emergir dela essa sntese como
diferida: a palavra mais, agora. Devolvida
a ns, extravasa aquilo que se quis dizer. Esta
tenso estabelecida entre o excesso e o defeito
da palavra, no querido dizer, abre as portas
do silncio. E neste, no emudecimento, a
necessidade de o fazer calar, de o anular.
E no silncio (e da necessidade de a ele
nos juntarmos) de onde ressurge, novamente,
a palavra. Aquilo que aqui chamamos ha-
bitar as palavra. Insuficincia e simultane-
amente excesso diante da experincia que a
funda. Quer dizer, insuficincia da palavra,
excesso de experincia.
Aquela experincia no pode ir mais alm
da linguagem. Semelhante suposio afirma-
ria a existncia de um pensamento fora dos
limites da nossa linguagem, o que sem
qualquer esforo acrescido se manifestaria
como uma contradio. De facto, no h
pensamento sem (fora) linguagem
4
. A estru-
tura do pensamento , necessariamente,
logocntrica. Toda a experincia, bem como
todo o pensamento, se efectivam em a lin-
guagem. O silncio mostra-se, desta forma,
e a despeito da sua estrutura ambgua, como
uma possibilidade de linguagem. Ou cons-
titui-se como uma luta em a linguagem, ou
como um reenvio da linguagem a ela mes-
ma: O silncio uma palavra que no
uma palavra, e o sopro um objecto que no
um objecto
5
. De qualquer das formas, o
silncio permanece tambm por entre as
palavras. O silncio, por assim dizer, habita
todo o discurso. Por isso, podemos afirmar
que todo o movimento de leitura eterno,
infinito. Mas tambm o da escrita, exac-
tamente pelas mesmas razes
6
. Nesta encer-
ramos o querido dizer na forma de o fazer
, mas libertamos a palavra, pela fixao, ao
mesmo tempo, da sua priso, da volatilidade
da oralidade. Deferimos o discurso, procu-
rando que este se abra, procurando que este
se deixe penetrar, numa tentativa de mostrar
o que se quis dizer. Este o sentido mais
alargado da comunicao: procurar que o
fechamento que todo discurso pressupe
pois corresponde, de princpio, a um nico
indivduo , que se abra em direco ao seu
centro, quer dizer, em direco ao silncio.
E nisto consiste o movimento da leitura:
penetrar-nos pelo discurso, habitar, no modo
de dizer, nas palavras fixadas, o querido dizer:
aquilo que no se deixa apreender. Entre leitor
e autor, estabelece-se como que um elo
mgico. Ao ensejo do primeiro, corresponde
uma exigncia do segundo: saber que as
palavra se lhe dirigem, dar conta disso: []
as palavras, os livros, os monumentos, os
smbolos, os risos so apenas caminhos desse
contgio, dessas passagens. Assim, no so-
mos nada, nem tu nem eu, junto das palavras
ardentes que poderiam ir de mim para ti,
impressas em uma folha: pois eu s teria
vivido para escrev-las e, se verdade que
elas se endeream a ti, tu vivers por ter tido
a fora de escut-las
7
.
2. A tenso que acima descrevemos,
existe, de forma absoluta, num texto de
Bataille A experincia interior. Mas isso no
se d de uma forma velada, como seria de
esperar. Pelo contrrio, ela emerge como a
sua condio de possibilidade, como a sua
origem. Desde o incio desse texto, logo a
partir da primeira linha, somos alertados de
que todo o esforo que a se realiza tem uma
motivao ruinosa: procura purgar-se a si
mesmo. A sua nica razo: mostrar que o
querido dizer do texto , precisamente, a
tenso que abre todo o exerccio do pensar,
todo o exerccio lingustico: a de narrar o
inenarrvel, a de comunicar o indizvel.
Experincia, porque vai at aos limites do
possvel do homem. Porque se abre auto-
afeco e diferena, para utilizarmos con-
ceitos de Derrida. Disso Bataille nos quer
dar conta. Interior, porque a prpria expe-
rincia deve, necessariamente, habitar a
palavra, diferi-la, reconduzi-la a si. Silncio
que foi quebrado para que volte a emudecer,
mas na leitura. Interior, porque permanece
dentro dos limites do indivduo, nica forma
de procurar atingir o universal. Em suma,
interior porque visa a comunicao. O enig-
ma fica patenteado, exposto at. Esse o
esforo de Georges Bataille. Mas no o
enigma em si mesmo, apenas a forma do seu
deixar-se ver. Quer dizer, todo o esforo da
escrita em Bataille consiste em fazer apare-
cer a forma do enigma. E a nica perplexi-
543 ESTTICA, ARTE E DESIGN
dade que nos causa precisamente essa: que
o enigma se deixe ver. Diz Derrida que o
esforo de Bataille se concentra no dever
de encontrar um discurso que mantenha o
silncio
8
. E isto significa que enigma fica
por resolver, que tampouco se queira resol-
ver. O discurso de Bataille, no se apresenta,
desta forma, um texto propedutico ele no
habilita. Tampouco um texto inicitico
ele no prepara. Surge somente como um
texto descritivo. Um esforo de descrio
daquilo a que chama a exprience interieur.
Experincia que necessariamente sua, lhe
pertence interiormente, permanecendo nele,
no fosse a palavra... E , exactamente, nesse
esforo da descrio simples que a tenso
da sua escrita se concentra. Apresentao do
deserto, de um espao infinito onde devemos
habitar a palavra
9
.
No h habilidade, no autor, em nos
prender com fceis compromissos morais.
Tampouco se quer dar um valor acrescido
ao texto, como se as palavras estivessem
mortas e a narrao acabada. Existe, sim, uma
responsabilidade dada ao leitor, uma exign-
cia que lhe feita. Sem lhe fazer qualquer
concesso, diz: Este livro a narrao de
um desespero
10
. Nada mais podemos espe-
rar. Ou por outra, devemos querer e poder
esperar tudo. Narrao de um desespero
Haver alguma outra experincia humana
onde a experincia do emudecimento melhor
se faa sentir? O desespero , por necessi-
dade lgica, inenarrvel. L, onde no existe
esperana, a palavra dissipa-se. O que ela
quer a apresentar no tem qualquer valor.
O desespero um estado de ausncia total
de palavras, de lugares, de movimentos, de
esperanas. Um espao infinito e deserto.
Tambm por essa razo ele o que melhor
permite tomar a palavra, andar em seu redor,
falar dela continuamente, mas num movimen-
to de irreferncia pura. ele que alimenta,
tambm, todo o discurso. Esse desespero
nasce duma experincia que Bataille apre-
senta em forma de uma enorme obviedade:
que o mundo se nos manifesta como um
enigma a resolver
11
. Uma vez mais nos re-
encontramos com o esforo da escrita, com
a tenso da comunicao. Porque toda a
experincia consiste nesse confronto discreto
e directo com o enigma. Porque toda a
experincia evidencia o descontnuo do
mundo. isso que tambm quer apontar
Jacques Derrida quando pe em jogo a
estrutura geral da auto-afeco
12
. Uma
experincia em forma de constatao que
obviada propositadamente. Como dissemos,
ela s apresentada em tangente. Dificilmente
poder ser apresentada doutra forma. As
palavras tocamlhe ao de leve
13
. A descrio
exaustiva e totalizante deste confronto, con-
duzir-nos-ia a uma suspenso e a uma
consequente disperso daquilo que realmen-
te importa: habitar j dentro do enigma
14
. Sem
quaisquer mediaes o problema aparece
assim formulado: Se perguntar face a um
outro: por qual via se acalma nele o desejo
de ser tudo?
15
. Contingncia, discontinuum
no processo de constituio do mundo,
particularidade do sujeito frente universa-
lidade da experincia, tudo isto surge como
o preldio de uma longa viagem a percorrer,
uma viagem que se quer feita dentro dos
limites traados pelo confronto entre desejo
e razo, entre vontade e poder. Renunciar,
como nos diz, as essas iluses nebulosas
16
,
que tornam a vida, por outro lado suportvel,
funda o objecto aquilo que este quer visar,
aquilo que se pretende nomear, ainda que sem
nunca o conseguir do texto: a confisso
de um sofrimento: O sofrimento, que se con-
fessa, do desintoxicado o objecto deste
livro
17
. Ou, melhor, a confisso progressiva
e lenta desse sofrimento. , pois, a narrao
de um desespero, cujo objecto se constitui
como uma confisso, ou um confessar-se
lento, do sofrimento a sentido. Sofrimento
que emerge perante o grande enigma com
o qual j experiencimos o mundo, mas que
tambm o mundo. Enigma que nos torna
conscientes das possibilidades que ao homem
lhe so dadas de apreender o mundo, ou os
seus mltiplos modo de ser. Conscincia que
nos faz cair que nos faz reduzir ao no
silncio, habitando apenas as palavras: Tudo
desabava! Acordei diante de um enigma novo,
e este, soube logo que era insolvel: este
enigma era to amargo que me deixou numa
impotncia to abatida, que eu o senti como
se Deus, se ele existe, o teria sentido
18
. Esta
impotncia constitui a prpria experincia, a
surpresa, o tudo pr em causa. Impotncia
que constitui o cerne prprio do desespero
que o livro quer e deseja narrar. O esforo
da escrita no texto de Bataille , precisamen-
544 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
te, esse: o de nunca permanecer na indife-
rena, no no distinguir nada que s essa
viagem nos pode causar
19
, mas em pros-
seguir no esforo de o dizer, no esforo por
mostrar que se habitou o deserto. Que, apesar
disso, no nos rendemos
20
, prosseguimos,
aceitamos. Querer voltar a tomar a palavra.
Voltar da experincia que nos fez emudecer,
tomando de novo a palavra. Duas passagens
deste fragmentrio texto mostram aquilo que
tentmos expressar. Assim: Da firmeza do
desespero, experimentar o prazer lento, o rigor
decisivo, ser duro, e antes fiador da morte
que vtima. A dificuldade, no desespero,
a de ser inteiro: no entanto, as palavras,
medida que escrevo, faltam-me [] O
desespero simples: a ausncia de espe-
rana, de qualquer engodo. o estado das
vastides desertas e posso imaginar do
sol
21
. Mas j antes nos d o acorde para
todo o desenrolar da viagem na experincia
da crise da palavra: Chamo experincia uma
viagem ao trmino do possvel do homem.
Cada um pode no fazer esta viagem, mas
se a faz, isso significa negar as autoridades,
os valores existentes, que limitam o possvel.
Por ser negao de outros valores, de outras
autoridades, a experincia tendo uma exis-
tncia positiva, torna-se positivamente o valor
e a autoridade
22
.
3. Se no ponto anterior nos concentramos
em tentar decifrar o carcter do texto em
Bataille, mais aportico e fragmentrio que
apodctico e homogneo, pretendemos agora
centrar-nos na anlise da seguinte afirmao,
procurando que nos conduza ao cerne da sua
significao. Eis a expresso: a experincia
no extremo do possvel pede
L, em ele, devemos dizer. Ou seja, a
renncia que nos anuncia s se d no limite
do possvel, enquanto ela for experincia
desse limite ltimo. Isto , o pedido devm
exigncia, a vontade devm, em ltima
instncia, necessidade. Mais tarde a prpria
renncia vai-nos aparecer como um mtodo,
melhor, o prprio mtodo. Assim, devemos
dirigir a nossa ateno para o sentido do
fragmento: extremo do possvel. A, a renn-
cia a querer ser tudo tem lugar. Compre-
endido e determinado o sentido do primeiro,
estar assegurada a compreenso do texto.
Pelo menos a partir do lugar desde onde lhe
dirigimos a nossa ateno. Vejamos: A
experincia interior responde necessidade
em que me encontro e comigo a existncia
humana de colocar tudo em jogo (em
questo), sem repouso admissvel. () Os
pressupostos dogmticos deram limites
indevidos experincia: aquele que j sabe
no pode ir alm de um horizonte conhe-
cido
23
. Existe uma correspondncia clara
entre a renncia a querer ser tudo da
qual ainda desconhecemos todo o seu valor
e a necessidade humana de colocar tudo
em questo a que a experincia interior nos
remete. A primeira conduz-nos experincia
dos possveis; a segunda, aos possveis da
experincia. A primeira tem uma funo
destrutiva; a segunda uma funo fundadora:
mostra que os limites apresentados pela
primeira no so seno limites espectrais
24
,
falsos, ou melhor, aparentes, efmeros. E isto
d-se assim que experienciabilidade dos
possveis lhe mostre ou lhe possa mostrar
tudo o que de novo existe, assim que lhe
restitua todas as possibilidades da experin-
cia. A experincia ltima das possibilidades
(dos possveis) visa a abolio de todo o
confronto espistemolgico: entre sujeito e
objecto j no deve mediar a categoria que
o subsume prescrevendo-lhe assim uma
limitao , limitando o objecto, instituindo
o. Essa diviso deve ser substituda por uma
fuso entre eles, uma fuso que no esteja
mediada por algo que o homem prescreve
de antemo a todo o contacto possvel com
o objecto. J que a o possvel no passaria
de uma pura categoria formal. apenas uma
categoria mais com a qual subsumimos
qualquer objecto. Este o sentido da evi-
dncia que no texto de Bataille se nos mostra
como uma das formas do enigma. Por outro
lado a experincia interior essa viagem
ao fundo do possvel do homem tem como
objecto o prprio homem. Ele o seu ponto
de partida (enquanto sujeito) e o seu terminus
a quo. O homem observando-se a si mesmo,
procurando conhecer-se, buscando quanto de
si existe nele. Este sujeito que faz a busca,
procura o universal no particular. O sujeito
que se procura determinar, deseja saber do
que capaz. Essa viagem, uma viagem ao
centro do prprio sujeito. No fundo, um
processo de reflexo, de meditao. Mas a
estrutura prpria do sujeito exige um pro-
cesso no mediado, ou seja, sem qualquer
545 ESTTICA, ARTE E DESIGN
artifcio que lhe seja exgeno. No interior
do sujeito encontra-se, desta forma, a origem
e disposio de toda a procura, pelo que
nenhuma categoria lhe pode servir. Estas, pelo
contrrio, constituem j um limite dele se
compreender a si mesmo, dele se entender
consigo mesmo. Toda a crtica de Bataille
ao pensamento moderno, assenta precisamen-
te neste ponto: que seja til iniciar uma
viagem de encontro ao de si mesmo quando
se j vai munido de artefactos construdos
pelo sujeito. Melhor, que a razo consiga unir
aquilo que a experincia mostra como
descontnuo, que a discursividade consiga
relatar (universalizar) a individualidade da
experincia, que a evidncia se mostre en-
quanto tal. Artefactos que permitem uma apa-
rentemente focagem do homem. Utenslios
que apenas servem para separar o sujeito dele
mesmo, procurando a todo o momento que
este se institua como objecto, impossibilitan-
do que este se realize na plenitude do ser
o que , no dando lugar negatividade: O
movimento recomea a partir da; o saber
novo, posso elabor-lo (acabo de faz-lo).
Chego a esta noo: sujeito e objecto so
perspectivas do ser no momento da inrcia;
o objecto visado a projeco do sujeito ipse
querendo tornar-se tudo, e toda representa-
o do objecto fantasmagoria resultante
desta vontade ingnua e necessria (se co-
locamos o objecto como coisa ou como
existente, pouco importa); preciso chegar
a falar de comunicao, compreendendo que
a comunicao suprime tanto o objecto quanto
o sujeito ( o que se torna claro no auge
da comunicao, quando, na verdade, h
comunicao entre sujeito e objecto de mesma
natureza, entre duas clulas, entre dois in-
divduos)
25
. A distncia criada por semelhan-
te processo bem patente em toda a filosofia
cartesiana
26
. Afinal, a dvida resolvida
mediante o recurso a uma instituio
inominvel, relativamente qual a existncia
humana e com ela toda a experincia
fica adscrita e fundamentada. Desta forma
justifica-se e simultaneamente erige-se todo
o campo da experincia possvel, j que o
sem nome surge como o ltimo possvel da
experincia. Quer dizer, estaria justificada a
unidade e continuidade do mundo. Desta
forma, a necessidade de conhecimento ine-
rente ao Ser, corresponderia ao ltimo e
supremo auto-conhecimento. Toda a experi-
ncia interior estaria condenada ao esforo
de indagar dentro de uma estrutura que no
lhe pertence, a do indizvel. Quer dizer,
apresentar-se-ia, para ns, como objecto a co-
nhecer, como o limite do possvel, anulando
tudo o resto. Ainda que a evidncia estivesse
assegurada. Bataille observa que esta
circularidade cai por terra, j que o sujeito
que suporta e fundamenta a procura , em
si mesmo, incognoscvel. Deus no pode se
constituir-se como objecto. E esta constitui
a nica via dele tomar conhecimento. De
Deus no h experincia. Pelo que a unidade
pressuposta ilusria. De outra forma per-
maneceria, tambm, o homem afastado do
conhecimento de si. Condenado sempre ao
fracasso nos seus esforos. esta a ressalva
que nos faz Bataille logo desde o incio
na utilizao da palavra mstica, quando
faz equivaler a experincia interior com
aquilo que habitualmente se chama expe-
rincia mstica
27
. Livre de amarras,
significa livre de todo o fundamento, livre
de todo elo mediador estranho ao prprio
homem, estranho a toda a experienciabilidade
humana. Nenhum objecto, que por natureza
seja incognoscvel se pode constituir como
um objecto de experincia: ele no nunca
do domnio de experincia, do contacto, de
conhecimento. Permanece sempre de fora,
afastado de toda a experincia possvel. No
pode, desta forma, constituir-se como um dos
possveis da experincia, j que no se institui
como um limite
28
, mas apenas como um
vazio. O contrrio significaria a aniquilao,
em verdade, de todos os modos de ser do
homem, de todas as figuras humanas. Ora,
pelo contrrio, o possvel abre-se no domnio
restrito
29
da experienciabilidade; tudo o que
jaz para l desta linha, encontra-se no do-
mnio da impossibilidade: permanece enquan-
to ausncia de possibilidade
30
. Para este no
existe nem palavra, nem figura; no constitui
qualquer modo de ser. A ateno prestada
relativamente ao conhecimento desse ser
supremo ou da sua mera possibilidade
deve deslocar-se, por necessidade intrnseca,
em direco a um novo conceito: o de no-
conhecido. Este com contornos bem distin-
tos daquele que anteriormente referimos. O
no-conhecido remete para a plurivocidade
dos modos de ser, aponta para uma figura
546 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
possvel, mas tambm para a possibilidade
de uma figura, uma vez que abre o espao
para a sua prpria consumao. No no-co-
nhecido est j dada figura do seu desva-
necimento. Constitui-se como possibilidade
pura. O desconhecido no postula um elo
transcendente de unio, j que emerge,
somente, de uma possibilidade de experin-
cia. Podamos ler aqui o fundamento de todo
o princpio de razo. Nesta perspectiva, tudo
o que (ainda) no tem um princpio
explicativo pertence ao domnio do (ainda)
no experienciado. Na verdade da supo-
sio deste enquanto ponto de partida
que surge toda a aco humana; da sua
origem que emerge toda a possibilidade: O
conhecimento em nada distinto de mim
mesmo: eu sou-o, a existncia que sou
31
.
O noconhecido , ele mesmo, a origem e
condio de possibilidade de toda a expe-
rincia interior, que se mostra como a nica
experincia fundadora. No desejo de o querer
anular, o sujeito inicia o percurso que o
conduzir aos seus prprios limites, ex-
perincia nua, livre de amarras de que h
pouco nos falava.
Nas poucas pginas que Bataille dedicou
a Descartes faz o seguinte comentrio:
Descartes imaginou o homem como tendo
um conhecimento de Deus prvio ao que ele
tem de si mesmo (do infinito antes do finito).
Todavia, ele prprio era to ocupado que no
pde representar-se a existncia divina para
ele, a mais imediatamente conhecvel no
seu estado de total ociosidade. No estado de
ociosidade, esta espcie de inteligncia
discursiva que se liga em ns actividade
(como o diz, com rara felicidade, Claude
Benard, ao prazer de ignorar que obriga
a buscar) no passa de uma trolha intil, uma
vez o palcio acabado. Por pior colocado que
eu esteja para isto, gostaria de ressaltar que,
em Deus, o verdadeiro saber s pode ter por
objecto o prprio Deus. Ora, este objecto,
qualquer que seja o acesso que Descartes
imaginou, permanece ininteligvel para ns
32
.
Permanece ininteligvel, precisamente, por-
que no se pode constituir como o objec-
to. Todo o objecto deve fazer frente,
possibilidade pura. De outra forma, se fosse
possvel um conhecimento de Deus, do
fundamento, tudo permaneceria, em ns,
inaltervel. Ele seria o suporte. A unidade
da experincia assegurada, a experincia do
tdio, fundada. Esse seria o perfeito estado
de ociosidade. Esse prazer de ignorar
funda em ns o pr em obra das nossas
possibilidades. Este abre a experincia, no
do mundo, mas de ns em ele. Por esta razo
ele se nos comunica, ele fala em ns. Mas
no se manifesta como transcendncia, como
condio de possibilidade, mas sim uma
imanncia pura, como constitutivamente
presente, inominvel. este o peso que
arrasta a escritura do texto. Diz Bataille numa
pequena passagem: Eu carrego em mim,
como um fardo, o cuidado de escrever um
livro. Em verdade, eu sou agido
33
. agido,
para voltar a tomar a palavra. O sentimento
de aborrecimento que mora na presuno da
existncia de Deus e da possibilidade de
acesso a ele cuja nica verosimilhana
somente a podemos encontrar na ideia de uma
linguagem admica clarificado na seguinte
passagem: No sei se Deus existe ou no,
mas, supondo que exista, se lhe imputo o
conhecimento exaustivo de si mesmo, e se
ligo a este conhecimento os sentimentos de
satisfao e de aprovao que se somam em
ns faculdade de apreender, um sentimento
novo de insatisfao essencial apodera-se de
mim
34
. Como um todo acabado, na pres-
suposio da existncia de Deus, a nossa
misria seria ainda maior e menos suport-
vel, pois teramos de compreender o mundo
como superfcie, como pele sem carne. A
toda a nossa existncia estaria descarnada:
Se nos necessrio, em algum momento
da nossa misria, colocar a existncia de
Deus, sucumbir em uma fuga bem v
submeter o incognoscvel necessidade de
ser conhecido. dar ideia de perfeio
(onde prende a misria) a preponderncia
sobre toda a dificuldade representvel e, ainda
mais, sobre tudo o que existe, de modo que,
fatalmente, cada coisa profunda desliza, do
estado impossvel em que a existncia a
percebe, para facilidades tirando a sua pro-
fundidade daquilo que elas tm por finali-
dade suprimir
35
. O que se joga a digni-
dade. Apreender o fundamento como que
inerte, corresponderia mediocridade pura.
Inrcia pura, anulao de toda a experincia,
absoluta indiferenciao. J no se trata de
apontar para, de determinar a meta para a
qual nos dirigimos, mas sim de habitar o
547 ESTTICA, ARTE E DESIGN
problema, de permanecer nele, deixando que
essa tenso se constitua como a fundadora
de todo o caminhar. No se trata de resolver
o problema, mas de deixar que o problema
nos dissolva a ns. De recuperar a palavra
36
.
Toda a tenso se centra no binmio conhe-
cido/desconhecido, uma tenso nua, livre de
amarras, mesmo de origem. Porque o des-
conhecido a condio de possibilidade do
conhecido, portanto, origem de toda a acti-
vidade, de toda experincia possvel: A vida
vai se perder na morte, os rios no mar e o
conhecido no desconhecido. o conhecimento
o acesso ao desconhecido. o contrasenso
o resultado de cada sentido possvel. uma
tolice esgotante que, quando visivelmente
faltam todos os meios, pretenda-se entretan-
to saber, em vez de conhecer a sua igno-
rncia, de reconhecer o desconhecido. Mais
triste, porm, a enfermidade daqueles que,
se no tm mais meios, confessam que no
sabem, entrincheirandolse, no entanto, tola-
mente, naquilo que sabem. De qualquer modo,
o facto de que um homem no vive com o
pensamento incessante do desconhecido faz
ainda mais duvidar da inteligncia, na medida
em que ele mesmo vido, mas cegamente,
de encontrar nas coisas a parte que o obriga
a amar, ou o sacode com um riso inesgo-
tvel, a do desconhecido. O mesmo acontece
com a luz: os olhos s possuem dela refle-
xos
37
. na determinao do desconheci-
do como possvel que assentam os modos
de compreenso do texto. A experincia do
emudecimento surge da constatao dos li-
mites que se traam nessa experincia
fronteiria. A abertura de toda a experincia
desemboca, precisamente, na experincia dos
possveis. Estes, por outra parte, constituem-
se na nas possibilidades dos modos de ser
que a figura do desconhecido assume. A
autoridade que tambm pode ser lida
como um compromisso tico deve enten-
der-se como o encontro do indivduo consigo
mesmo, isto , num reencontro que tem lugar
nos limites dele mesmo, que por isso se deve
anular a cada momento, reconhecendose nas
mltiplas formas de ser, ou tal e como nos
diz: Supresso do sujeito e do objecto, nico
meio de no chegar possesso do objecto
pelo sujeito, quer dizer, de evitar a absurda
corrida do ipse querendo tornar-se o tudo
38
.
A comunicao, assim, deve ser entendida
como e na relao imediata que sujeito e
objecto mantm. Mas numa relao em que
o sujeito se despoja de si mesmo, anulando-
se, caminhando em direco renncia,
aceitando o desconhecido como ponto de
partida e como ponto de chegada; pois s
este se pode configurar como sendo o ex-
tremo do possvel. Onde existe a certeza de
que o caminhar se tem de realizar, onde
estamos certos de que ganhamos algo, de que
no perderemos nada, onde nos podemos
constituir como homens. A renncia a querer
ser tudo assenta, justamente, na conscincia
de que podemos ser tudo, de que a expe-
rincia se constitui, precisamente, a. No
limiar a experincia interior estabelece-se
como uma luta da razo consigo mesma. O
projecto que ela cria somente ela tem o poder
de destruir. Servindo-se dos seus artifcios,
a razo discursiva, ao estabelecer o sujeito
como pedra angular de todo o edifcio, erige
o objecto seu nico correlato; instituindo-se,
ela prpria, como objecto. Mostrando desta
maneira a falha que a constitui, e portanto:
A experincia interior conduzida pela razo
discursiva. S a razo tem o poder de desfazer
a sua obra, de destruir o que ela edificara.
A loucura no tem efeito, deixando substituir
os destroos, atrapalhando, com a razo, a
faculdade de comunicar (talvez ela seja, antes
de tudo, ruptura da comunicao interior).
A exaltao natural ou o embriagamento tm
a virtude dos fogos de palha. Sem o apoio
da razo, ns no atingimos a incandescncia
sombria
39
.
4. Um projecto com estrutura semelhante
encontramo-lo em Ludwig Wittgenstein e no
Tractatus. Este texto constitui a prova de que
toda incurso no domnio da razo discursiva,
se deve apresentar como a aniquilao dela
prpria, como a sua superao. Tambm em
Wittgenstein o projecto no o de desfazer
a noo de objecto, anul-lo. Mas a de
procurar mostrar, como faz Bataille, que a
no limite da objectualidade se constitui
a abertura aos possveis. Pretende mostrar,
pelo contrrio, que num edifcio j construdo,
nada tem valor. No se quer derrubar toda
a estrutura racional, mas sim super-la, pondo
a nu todas as suas brechas e utilizando para
tal a sua prpria estrutura. Duas posies
distantes entre si, mas que procuram mostrar
que, nos limites estritos da racionalidade, da
548 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
lgica, do pensamento discursivo, o que fica
de fora, constitui, de facto, o que realmente
importa. Queremos mostrar que estes dois
autores coincidem no projecto, que se do
conta de que aquilo a que temos acesso fica
para l dos limites que traa a discursividade.
Que as palavras nos falham, mas que por
isso mesmo devemos permanecer nelas,
habitando-as. Como nos diz Bataille: a
comunicao um facto que no se acres-
centa de modo algum realidade humana,
mas a constitui
40
. Tambm o Tractatus marca
de forma clara o fim da razo
41
, entendida
esta como a possibilidade de conhecer e da
sua expresso. Para Wittgenstein, a
enunciao s pode referir o que o caso,
para alm dessa linguagem possvel, no h
qualquer significatividade. Nada do que
podemos sentir se constitui como objecto
para o pensamento. Aquilo que se manifesta,
logo num primeiro momento, a tentativa
de marcar os limites, de humanizar, de uma
vez por todas, o homem. O sentido da-
quilo que realmente importa no est dado
pelo simples contacto com o mundo. No
existe possibilidade de a ele poder aceder,
pelo menos, no com as estruturas racionais
tradicionais. A capacidade discursiva do ser
humano cinge-se, agora, ao finito mundo do
que o caso. S no acontecer se pode
manifestar a razo. A razo mostra-se como
a capacidade de tomar conta do mundo, no
de um mundo unitrio o medium huma-
no mas sim do mundo-totalidade-dos-fac-
tos-no-espao-lgico
42
, isto , um mundo
ausente de qualquer valor, um mundo onde
tudo vale o mesmo. Em suma, onde no
existem hierarquias
43
. O que afirmado, em
ltima anlise, uma impossibilidade de
comunicao, a impossibilidade de um
operador comum a todos o seres humanos.
Comunicar pr em espao pblico aquilo
que , por essncia, privado. Este, no
Tractatus, pertence ao domnio do indizvel,
ao domnio daquilo que no o caso. A
Lgica, o limite da razo, a tangente que
limita toda essa possibilidade: todo o pen-
samento pensamento lgico e como tal,
completamente desprovido de todo o valor.
No h um pensamento uma realidade s
que assuma mais valor que outro; as hierar-
quias so fantasmas construdos, so abso-
lutamente alheias ao que realmente : No
pode haver uma hierarquia das formas das
proposies. S daquilo que ns prprios
construmos se pode ter uma anteviso. A
realidade emprica limitada pela totalidade
dos objectos. Este limite revela-se de novo
na totalidade das proposies elementares. As
hierarquias so e tm de ser independentes
da realidade
44
. Porm, a Lgica assume uma
outra funo, um outro criterium que se
apresenta como uma negatividade positiva.
Isto , na sua tarefa de delimitar as fron-
teiras, mostra o que mstico
45
; e traz ao
mundo toda a expressividade que nele no
cabe, nem pode, por definio, caber. Aqui
a metfora da fronteira mostra-se pertinente,
pois aponta para o outro lado. A fronteira
no limita obscurecendo, mas sim clarifican-
do. o outro que se institui como fenda na
homogeneidade do domnio da comunicao
e do conhecimento, mas que, por outro lado,
se manifesta como imanente nessa
transcendncia. No so veladas as palavras
de Bataille a este propsito, pelo contrrio,
as suas palavras mostram uma coincidncia
luzida: a tua vida no se limita a esse
inapreensvel fluxo interior; ela tambm se
derrama para fora e abre-se incessantemente
ao que escorre ou jorra da tua direco
46
.
No existe qualquer possibilidade de comu-
nidade de interesses, no h como conhecer
o sentido da totalidade de um acontecer
e, se o h, meramente lgico, nunca te-
olgico ou histrico e, como tal, completa-
mente desenraizado da emergncia da ori-
gem: o que existe, o que realmente se pode
intentar, no mais que um esforo de
expiao, um esforo de auto-expiao. A
haver uma Histria uma unidade na co-
municao teria de estar completamente
fora do mundo, e por isso, da linguagem.
Isto , teria de estar para alm dos limites
da lgica. A Histria constitui um problema
transcendental, isto , ela a marca de uma
forma de imanncia. As dificuldades de
Bataille obtm a o seu fundamento, j que
a anulao de toda a transcendncia deixa
o sujeito perante a perplexidade de no poder
deixar de ver a Histria como uma imensa
acumulao de factos sem qualquer sentido:
posso cada vez menos evocar um facto
histrico sem ser desarmado pelo abuso que
existe em falar de coisas apropriadas ou
digeridas. No que eu fique chocado com a
549 ESTTICA, ARTE E DESIGN
parte de erro: ela inevitvel
47
. O que sim
parece claro que essas anlises lgicas do
passo a uma completa fragmentao da
comunidade extralingustica, mas onde per-
manece, ainda que seja como uma miragem
desejada, esse impulso para as origens. A
fragilidade da unidade de uma existncia, no
texto de Bataille, tem correspondncia com
esse frgil enraizamento da sua origem,
enraizamento que consumado pela expe-
rincia interior: O que se chama um ser
no nunca simples, e s ele tem a unidade
durvel, somente a possui imperfeita: ela
trabalhada pela su profunda diviso, perma-
nece mal fechada e, em certos pontos,
atacvel de fora
48
. Se a Lgica a lei que
rege todo o pensamento, se ela a forma
da legalidade
49
, tambm, enquanto
paradigma, o smile de como as coisas
funcionam em a tica; ou melhor, coincide
com a estrutura
50
da prpria tica. A Lgica
o limite estrutural interno e externo (in-
terno enquanto marca o pensvel e o no
pensvel, externo porque aponta para o que
est) do mundo e da linguagem. Mas, en-
quanto estrutura de necessidade exemplo
51
,
analogon, de como as coisas devem ser no
domnio tico. A Lgica d-nos assim a
possibilidade de poder, por analogia, julgar
eticamente: do absolutismo necessrio das
suas leis, podemos compreender o absoluto
juzo tico
52
(ou o absoluto juzo da tica).
A lgica converte-se num critrio que pos-
sibilita um juzo absoluto
53
. Noutra termino-
logia, a lgica revela-se, em o domnio tico,
como a possibilidade de uma linguagem
negativa, no uma linguagem que refira o
que o caso, mas sim uma forma de ex-
pressar que, de todo em todo, pode apon-
tar. Aponta para uma teoria negativa, para
uma forma de presena: a transcendncia da
tica, revela-se, seguindo estas directivas,
uma forma de imanncia. Esta no permite,
contudo, a possibilidade de uma enunciao
positiva: Se o bem e o mal alteram o mundo
ento s alteram os limites do mundo, no
os factos, no o que pode ser expresso na
linguagem. Em resumo, o mundo tem que
tornar-se de todo num outro, por meio do
bem e do mal. Enquanto todo tem de ter,
por assim dizer, um crescente e um minguan-
te. O mundo dum homem feliz diferente
do dum homem infeliz
54
. O limite interno
apresenta-se como uma forma de revelao:
da linguagem ao silncio no h ponte, o
que existe somente um salto, uma trans-
gresso dos limites. Os limites da razo so
aqui os limites do mundo dizvel. Para o que
realmente importa no h, nem pode haver,
qualquer teoria. A cincia no esgota todo
o campo absoluto do homem, apenas lhe
marca uma possibilidade de o chegar a
conhecer. A conscincia de Bataille mostra-
se na distino que realiza entre experin-
cia interior e filosofia, mostrando que
primeira, as palavras apenas a tocam em
tangente, mostrando o progressivo silenciar,
mas conduzindo, nesse caminho palavra:
a diferena ente a experincia interior e a
filosofia reside principalmente no facto de
que, na experincia, o enunciado no nada,
seno um meio, e ainda, no somente meio,
mas obstculo; o que conta no mais o
enunciado do vento, o vento
55
. Assistimos
a uma inverso completa da ordem mundo.
O que parecia ser a base, mostra-se, neste
momento, como uma falha de sentido: o
abismo que se manifesta perante a impotn-
cia do homem enquanto habitante do mun-
do-totalidadedos-factos-no-espao-lgico.
LudwigWittgenstein peremptrio, tal como
o foi Georges Bataille: Como posso ser um
lgico se ainda no sou um homem! Antes
de tudo tenho que aclarar-me a mim mes-
mo
56
. o que Jacques Derrida chama de
interioridade pura da auto-afecco, da qual
diz que no cai na exterioridade do espao
e naquilo que chamamos o mundo, que no
outra coisa que o fora da voz
57
. Toda e
qualquer manifestao humana sempre uma
manifestao de vida, uma manifestao
daquilo que no se deixa pensar; por isso,
a tica e a Esttica so, elas prprias, trans-
cendentes (mas em tangente) Lgica. Na
base de tudo no est a Lgica, mas sim
aquilo que no se deixa dizer: o fundamento
da lgica a tica, na base da linguagem
est o silncio
58
, na origem da cincia est
o misticismo. O fim da razo revela-se, pois,
na necessidade existente de uma ruptura com
um sistema que tudo contenha. a onde
ela no pode chegar: o seu fundamento no
cabe dentro dela mesma, o seu limite. A
razo sucumbe ao seu fundamento. O que
possibilita no pode, por princpio interno,
possibilitar-se a si mesmo. neste mistrio
550 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
que a experincia surge como o nico ele-
mento catrtico: purificar a linguagem
purificar-se a si mesmo
59
. A runa da razo
, numa palavra: a certeza de que s pode
falar do que no interessa. Ou na formulao
de Bataille: Na experincia, no h mais
existncia limitada
60
. A reconciliao entre
razo e experincia d-se do domnio da
experincia esttica. a esttica que fornece
a ligao, que se manifesta como compen-
sao. Se recordarmos Friedrich Schiller
depressa nos daremos conta que assim . O
acesso beleza constitui o modo de chegar
a unir as experincias e de possibilitar, de
novo, uma nova unio. Numa palavra: ela
possibilitar a palavra, j que ela que
possibilita sempre a esperana no dizer. Diz
Schiller: atravs da beleza, o homem sen-
svel v-se conduzido forma e ao pensa-
mento; atravs da beleza, o homem espiritual
v-se reconduzido matria e devolvido ao
mundo dos sentidos. [] A beleza estabe-
lece a ligao entre os dois estados opostos
da sensao e do pensamento, e contudo no
existe nenhum meio-termo entre ambos.
Aquela apreendida atravs da experincia,
este directamente pela razo
61
. Existe forma
mais simples de justificar a necessidade das
palavras e de compensar a sua futilidade?
_______________________________
1
Universidade Lusfona de Humanidades e
Tecnologias. Departamento de Cincias da Comu-
nicao, Artes e Tecnologias da Informao.
2
Hugo von Hofmannsthal, A Carta de Lord
Chandos. Lisboa: Hiena, 1990, pp. 31/1.
3
Jacques Derrida, De la grammatologie. Paris:
Les ditions de Minuit, p. 236.
4
Esta ideia encontramo-la presente em So-
bre a linguagem em geral e sobre a linguagem
dos humanos de Walter Benjamin: Uma existn-
cia que no tenha qualquer relao com a lin-
guagem uma ideia, mas esta ideia ainda que
permanea ela mesma no crculo das ideias, cuja
circunferncia marca a ideia de Deus, no pode
frutificar. Walter Benjamin, ber Sprache
berhaupt und ber die Sprache des Menschen.
In Gesammelte Schriften, II. 1. Frankfurt am Main:
Suhrkamp, 1978, pp., 140-157, p. 141. Quer dizer,
mostra-se infrutfera precisamente porque teria de
ser pensada em a linguagem, como no perten-
cente a ela. Um esforo intil.
5
Georges Bataille, Lexprience intrieur.
In Georges Bataille, Oevres Compltes (vol. V).
Paris: Gallimard: 1973, pp. 7-187, p. 113. a partir
de agora sob a sigla EI.
6
Tudo se passa como se aquilo que ns
chamamos linguagem no pudesse ter na sua
origem e no seu fim mais que um momento, o
modo essencial mas determinado, um fenmeno,
um aspecto, uma espcie de escritura (lecriture),
Jacques Derrida, op. cit., p. 18.
7
EI, p. 113.
8
Jacques Derrida, From Restricted to Ge-
neral Economy: A Hegelianism without Reserve.
In Fred Botting & Scott Willson, Bataille: A
Critical Reader. Oxford: Blackwell, 1997, pp.102-
138, p. 114.
9
H um texto de Michel Foucault que no me
resisto aqui a citar: o olho extirpado ou invertido
o espao da linguagem filosfica de Bataille, o
vazio que se verte e se perde, mas de que no
cessa de falar um pouco como o olho interior
dos msticos ou espirituais, difano ou iluminado,
marca o ponto onde a linguagem secreta da orao
se fixa e se aferra numa comunicao maravilhosa
que o faz calar. Igualmente, mas de uma maneira
invertida, o olho de Bataille desenha o espao de
pertena da linguagem e da morte, ali onde a
linguagem descobre o seu ser na transposio dos
limites: a forma de uma linguagem no dialctica
da filosofia. Michel Foucault, Prface la
transgression. In Michel Foucault, Dits et Ecrits
I (1954-1975). Paris: Gallimard, 1994, pp. 261-278,
p. 275.
10
EI, p. 11.
11
Idem.
12
Cfr., op. cit., p. 235ss.
13
Diz Michel Foucault, Talvez ela defina o
espao de uma experincia na qual o sujeito que
fala, em lugar de se expressar, se expe, onde
vai ao encontro da sua prpria finitude e onde,
sob cada palavra, se encontra remetido para a sua
prpria morte, loc. cit., op. cit., p. 277.
14
Giorgio Agamben, nesta direco, diz-nos:
Isso significa que o enigmtico se refere ex-
clusivamente linguagem e sua ambiguidade,
mas no quilo que se entende na linguagem, o
qual em si no s est privado de mistrio, mas
inclusive totalmente indiferente linguagem que
o deveria expressar. Idea del Enigma. In
Giorgio Agamben, Idea de la Prosa. Barcelona:
Pennsula, 1989, pp. 91-94, p. 91.
15
EI, p. 10.
16
Idem.
17
Idem.
18
EI, p. 11.
19
Esta experincia do emudecimento podemos
encontr-la em diversos autores, ainda que apre-
sentada de uma forma completamente distinta. O
mais emblemtico parece-nos ser o de
Wittgenstein. Mais adiante tentaremos confront-
los, no tanto para mostrar as duas concepes,
551 ESTTICA, ARTE E DESIGN
mas para elucidarmos a estrutura de um problema
comum.
20
EI, p. 48: Mas em mim tudo recomea,
nada, nunca, est feito
21
EI, p. 50/1.
22
EI, p. 19.
23
EI, p. 15.
24
Quer dizer, que lhe vm de fora, que no
constituem, realmente, um limite da experincia
ou uma experincia desse limite, mas que so
impostos ao sujeito, exteriormente, limitando a seu
experienciar, quer dizer, obstruindo todas as suas
possibilidades.
25
EI, p. 68.
26
EI, 124: esse esprito de contestao, que
foi o gnio atormentado de Descartes.
27
O que nos diz a este respeito claro, EI,
p. 15: Entendo por experincia interior aquilo
que geralmente se chama de experincia mstica:
os estados de xtase, de arrebatamento, pelo menos
de emoo meditada. Mas penso menos na ex-
perincia confessional, qual foi preciso ater-se
at agora, do que numa experincia nua, livre de
amarras, mesmo de origem, a qualquer religio
que seja. por isso que no gosto da palavra
mstica.
28
A ser assim, ainda se poderia falar de uma
experienciabilidade, que haveria experincia des-
se limite enquanto limite.
29
Referimo-nos, claro est, ao domnio que
lhe cabe, no que esse domnio seja restrito, seno
que ela se restringe a ele, s dentro dos seus limites
tem lugar.
30
Jacques Derrida afirma: E j se pressente,
neste preldio, que o impossvel meditado por
Bataille ter sempre esta forma: como, depois de
ter esgotado o discurso da filosofia, inscrever no
lxico e na sintaxe de uma lngua, a nossa, que
foi tambm a da filosofia, aquilo que excede,
contudo, as oposies dos conceitos dominados
por esta lgica comum? Necessrio e impossvel,
este excesso deveria abrir o discurso numa es-
tranha figura. Jacques Derrida, From Restricted
to General Economy: A Hegelianism without
Reserve. In Fred Botting & Scott Willson,
Bataille: A Critical Reader. Oxford: Blackwell,
1997, pp.102-138, p. 103/4.
31
EI, p. 128.
32
EI, pp. 125. O sublinhado nosso.
33
EI, p. 75.
34
EI, pp. 126.
35
EI, pp. 126.
36
Diz Jacques Derrida Mas necessrio falar.
A inadequao de toda a palavra pelo menos
deveria ser dita, conservar a soberania, quer dizer,
de certo modo, para a perder, para reservar ainda
a possibilidade, no do seu sentido, mas do seu
sem-sentido, para distribui-lo, mediante esse co-
mentrio impossvel, de toda a negatividade.
necessrio achar uma palavra que encontre o si-
lncio. Necessidade do impossvel: dizer na lin-
guagem do servilismo o que no servil. Se a
palavra silencio , entre todas as palavras, a mais
perversa ou a mais potica porque, quando finge
que cala o sentido, diz o sem-sentido, desliza-se
e apaga-se nela mesma, no se mantm, mas cala-
se ela mesma, no como silncio, mas sim como
fala. Esse escorregar trai, ao mesmo tempo, o
discurso e o no discurso. impossvel que se
imponha sobre ns, mas tambm a soberania pode
intervir a para trair rigorosamente o sentido no
sentido, o discurso no discurso. Temos de encon-
trar, explica Bataille, quem escolhe o silncio
como exemplo da palavra escorregadia, pala-
vras e objectos que, desta maneira, nos faam
escorregar. Para onde? Sem dvida que para outras
palavras, para outros objectos que anunciam a
soberania. Jacques Derrida, From Restricted to
General Economy: A Hegelianism without Reser-
ve. In Fred Botting & Scott Willson, Bataille:
A Critical Reader. Oxford: Blackwell, 1997, pp.102-
138, p. 114.
37
EI, p. 119.
38
EI, p. 66.
39
EI, p. 60.
40
EI, p. 36.
41
Sobre o tema, cfr., Isidoro Reguera, La
miseria de la razn. El primer Wittgenstein.
Madrid: Taurus, 1980. Especialmente o captulo
IV La Trascendentalidad del lenguaje.
Recuperacin de la teora descriptiva: objeto y
sujeto., pp. 141-180.
42
A expresso de Isidoro Reguera.
43
Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-
Philosophicus. Madrid: Revista de Ocidente, 1957,
6.4. A partir de agora sob a sigla TLP.
44
TLP, 5.556 e 5. 5561 respectivamente.
45
Entenda-se como um estar para alm do
domnio da expresso.
46
EI, p. 111.
47
EI, p. 155.
48
EI, p 110.
49
Diz Wittegenstein: O livro trata dos pro-
blemas da Filosofia e mostra creio eu que
a posio de onde se interroga estes problemas
repousa numa m compreenso dos problemas da
nossa linguagem. TLP, Prlogo.
50
Falamos da estrutura limite, isto , da legal-
formalidade. Tambm na
tica as coisas no so
acidentais. Cfr. Ludwig Wittgenstein, Lecture on
Ethics. The Philosophical Review (Vol. LXXIV),
1965, p. 3ss. A partir de agora LE. O vocbulo
tica remete para aquilo que est para alm do
expressvel e o que faz com que a vida merea
ser vivida, loc. cit., p. 5.
51
representao reguladora; no nos pode-
mos esquecer que a linguagem, ainda que no
possa referir o que est para l do domnio da
552 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Lgica, pode, no entanto, apontar para o que est
fora desse domnio. Cfr. TLP, 5.62 e 6.522.
52
Cfr. LE, p. 5ss.
53
Sobre o tema, cfr., Isidoro Reguera, op. cit,
p. 67: A lgica transcendental, constitui o
mundo, a linguagem e a cincia, cuja estrutura
interna e limite externos coincidem em todos os
pontos com os seus. a lgica quem os esta-
belece ou a razo desde a sua formalidade lgica,
por assim dizer. Nestes mbitos de sentido raci-
onal, toda a essncia lgica e no pode no
s-lo, j que a lgica o tratado de toda a
possibilidade. De toda a possibilidade e de toda
a legal formalidade, de maneira que a necessidade
lgica tem a ver com o dever tico.
54
TLP, 6.43.
55
EI, p. p. 25.
56
L. Wittgenstein, Briefwechsel. Frankfurt:
Shurkamp, 1980, p. 47.
57
Jaques Derrida, De la grammatologie, op.
cit., p. 236.
58
A referncia que j aparece comentada
em Derrida mais que explcita, EI, p. 28. Darei
um exemplo de palavra escorregadia. Digo pa-
lavra: pode ser tambm a frase onde se insere
a palavra, mas limito-me palavra silncio. Essa
palavra j , eu disse, a abolio do rudo que
a palavra; entre todas as palavras a mais
perversa, ou a mais potica: ela a garantia da
sua morte. () Este segredo no seno presena
interior, silenciosa, insondvel e nua, que uma
ateno constante s palavras (aos objectos) nos
furta, e que ela nos devolve na pior das hipteses
se ns a damos a um ou outro objecto, entre os
mais transparente.
59
Isidoro Reguera, El feliz absurdo de la tica,
op. cit, p. 20.
60
EI, p. 40.
61
Friedrich Schiller, Sobre educao est-
tica do ser humano numa srie de cartas e
outros textos. Lisboa: IN/CM, 1994, carta XVIII,
p. 69.
553 ESTTICA, ARTE E DESIGN
Em busca de paisagens sonoras: polioralidade, a voz miditica
Marcos Jlio Sergl
1
No Princpio era a Voz...
O homem cumpre um dever
essencial ao agradecer aos deuses
que lhe outorgaram o privilgio
da voz...
(Plutarco)
O primeiro enunciado da Bblia uma
citao vocal: Deus disse: Faa-se a luz!
(Gnesis 1.3). A ao aconteceu pela comu-
nicao oral. A habilidade de falar to
importante que se torna difcil conceber a
vida sem linguagem (Piccolotto, 1991: 7).
Lendas e mitos de criao dos povos antigos
so unnimes em representar a criao do
mundo como resultado do som da voz dos
deuses. O homem pr-histrico manifestou-
se primeiramente por sons e gestos. No
processo de evoluo, ele descobriu que os
sons emitidos na luta, na dor e no esforo
exprimiam sentimentos. Dessa conscincia
surgiram as primeiras slabas, numa imitao
do mundo ao seu redor. (Nunes, 1971: 1).
A voz, para o homem primitivo, tem um
poder sobrenatural, pois o instrumento de
comunicao com os espritos. Ele transmite
seus sentimentos de temor, louvor, misticis-
mo pela manifestao grupal, pelo canto
cultual (entende-se aqui toda e qualquer
manifestao falada, gritada, e talvez at
cantada). Essas invocaes mgicas tm o
poder de encantamento, quando realizadas
com paixo, sobretudo, se cantadas.
Atravs da iniciao e dos rituais,
as comunidades arcaicas estabelecem
culturalmente a origem da condio
humana... e, ao se fazerem existentes,
atravs do canto mtico, produzem
quase-signos em que o aparelho
fonador produz, equivalentemente, um
som to analgico quanto o do atri-
buto do Ente Sobrenatural. (Manguel,
1997: 298)
O curandeiro, nas tribos aborgines, re-
aliza suas curas proferindo palavras cujo
sentido desconhecido. A pronncia de certas
palavras tem o poder de realizar curas de
doenas, atrair chuva ou sol. A nfase
empregada em tal discurso no deixa mar-
gens de dvida sobre seu encantamento. Pela
prtica da magia oral, os espritos atraem ou
repelem bondade, vingana ou clera.
Surgida da necessidade de comunicao,
a voz humana um elemento fundamental
na confeco de ambincias sonoras. Seja
transmitindo informaes, por intermdio de
textos pr-produzidos ou criados no momen-
to da gravao, seja lanando mo de uma
vasta gama de possibilidades onomatopaicas.
Ela o mais rico veculo de potencialidades
expressivas, ... uma espcie de impresso
digital sonora. (Csar, 2001: 31).
Essa identidade nica comea a ser
moldada j no feto, que cresce impregnado
pela audio dos batimentos cardacos e de
certas freqncias de voz que ressoam no
lquido amnitico, em particular da voz da
me que ele j consegue distinguir das demais
a partir do stimo ms. Essa voz poderia
no apenas ser ouvida, mas reconhecida entre
outras devido percepo do ritmo e da
entonao... (Castarde, 1991: 75). Perce-
bemos, ento, que todo o mecanismo vocal
organizado e controlado pelo ouvido.
Para o recm-nascido, a voz da me
puro elemento de localizao no
mundo circundante, antes e depois do
nascimento. Esta voz, que constitui o
primeiro elemento sonoro de sua
paisagem sonora domstica confe-
rir ao beb a capacidade de construir
o espao fsico e dele se apropriar,
simbolicamente (Valente, 1999: 102).
A voz da me, que primeiramente exerce
as funes de alerta, defesa e segurana para
o beb, tambm sua identidade lingustica
554 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
verbal. O beb possui seu prprio cdigo
lingstico, ativado pelo reconhecimento do
cdigo utilizado pela me.
2
At os 6 meses o beb desenvolve um
repertrio de vocalizes que compre-
ende todos os sons de todas as ln-
guas humanas; de outra parte, nos 6
meses seguintes, o beb no produz
sons alm daqueles prprios comu-
nidade lingustica em que se encontra
(Castarde, 1991: 74).
Esse carter sonoro da lngua vai se
perdendo a partir do momento em que a
criana comea a dominar o complexo c-
digo verbal. Ela passa a usar as sonoridades
vocais de forma secundria, inconsciente,
sendo agora prioritrias a conciso e a cla-
reza da comunicao. Dessa maneira, as
nuances de cada palavra vo ser enfatizadas
apenas em momentos especiais.
Cada lngua tem sua musicalidade par-
ticular implcita. Algumas mais, outras menos,
de acordo com seu processo de
culturalizao.
3
Quanto mais a lngua se
torna civilizada, tanto menor a quantidade de
exclamaes e interjeies, menos os risos
e inflexes que a voz adota (Schafer, 1881:
235). Da mesma forma, a lngua falada pelo
povo a sua melhor fora de expresso.
4
A entoao geral do idioma, a acen-
tuao e o modo de pronunciar os vo-
cbulos, o timbre das vozes que re-
presentam os elementos especficos da
lngua de cada povo. Essa msica
racial da linguagem corresponde, em
harmonia perfeita, aos outros carac-
teres da raa. (E. Dupr e M. Nathan,
in: Andrade, 1965: 122).
5
Cada lngua tem um ritmo prprio, que
desempenha um papel expressivo de suma
importncia (Kiefer, 1979: 39). Uma mes-
ma frase dita com ritmo e inflexo antagnica
altera completamente o sentido dela. Uma fala
em tom marcial significa ordem a ser cum-
prida; a mesma ordem dada em tom mater-
nal, ter sentido diverso. A variao na altura,
a acentuao e uma maior durao dada
slaba tnica, aspectos caractersticos da
lngua portuguesa, conferem-lhe uma carga
emocional muito maior do que em outras
lnguas. Essa concentrao da carga emoci-
onal na slaba tnica tende queda de
intensidade nas slabas tonas, resultando
numa certa moleza, ou uma espcie de
carcia (titia, que beleza, etc) do objeto
designado, ou uma carga explosiva concen-
trada (Kiefer, 1979: 40). Esse jogo rtmico
gera ondas, curvas meldicas que passam
despercebidas aps o domnio do cdigo
lingustico. H que se considerar ainda o
tonema,
6
que, se bem articulado, define a
inteno da frase. Podemos ento afirmar que
o ritmo em si uma linguagem dentro da
lngua. Nele h, portanto, uma melodia
embrionria. As nuances fnicas, ao calor da
oratria, transformam-se em verdadeiros
intervalos musicais.
O homem antigo tinha conscincia disso.
Jean Jacques Rousseau (1978)
7
, expoente do
naturalismo, afirma que num passado remo-
to, o homem teria vivido em estado de
natureza, onde msica e palavra constituiri-
am um todo indivisvel, podendo o homem
expressar suas paixes e sentimentos plena-
mente: as lnguas carregariam os acentos
musicais, ndices vocalizados das paixes
(Valente, 1999: 108).
8
Interessa-nos o fato de que, com a
inflexo das frases, influenciadas pelo efeito
das emoes intensas, ocorrem variaes de
intensidade, andamento, subidas e descidas
do som, numa fala mais apaixonada e agi-
tada que a nossa, fala que canto. (Jaspensen,
in: Schafer, 1991: 270/271)
Ns, homens da era da mquina, perde-
mos as sutilezas de modulao na voz.
Certamente os homens primitivos, medievais
e renascentistas tinham na voz um instrumen-
to vital. Todas as novidades eram lidas em
voz alta pelo arauto. Cabia a ele expressar,
por intermdio da leitura, a inteno do texto.
No precisvamos que McLuhan
9
nos con-
tasse que, do mesmo modo como a mquina
de costura... criou a longa linha reta nas
roupas... o linotipo achatou o estilo vocal
humano. Murray Schafer
10
prope ser fun-
damental trabalhar com o som vocal bruto,
recomear como os aborgines, que nem
mesmo sabem a diferena entre fala e canto,
significado e sonoridade. (Schafer, 1991:
207/8).
555 ESTTICA, ARTE E DESIGN
A caverna sonora
Onde a palavra cessa, comea a
cano, exultao da mente,
explodindo adiante, na voz.
(Toms de Aquino,
Comment in Psalm, Prlogo)
A voz, para ser produzida, toma de
emprstimo alguns rgos do corpo, cuja
funo primordial diversa do ato de falar.
Nosso instrumento vocal se divide em trs
partes bem definidas: a) aparelho respirat-
rio, onde se armazena e circula o ar; b)
aparelho fonador, onde o ar se transforma
em som ao passar entre as pregas vocais; c)
aparelho ressonador, onde o ar transformado
em som se expande, adquirindo qualidade e
amplitude.
O aparelho respiratrio formado pelo
nariz, pela traquia, pelos pulmes e pelo
diafragma. Ele responsvel pela oxigenao
de nosso corpo. O ar que penetra pelo nariz
ou pela boca passa pela traquia, espcie de
tubo largo que se divide em dois entrada
dos pulmes. Os pulmes, massas esponjo-
sas e essencialmente dilatveis, constituem
nosso receptculo de ar e esto contidos na
caixa torcica.
Esta caixa ssea formada, em cada lado,
por doze costelas (ossos curvos e chatos),
fixadas atrs da coluna vertebral. Na inspi-
rao, ao encher-se os pulmes, as costelas
se separam e a caixa torcica se dilata. A
elasticidade da caixa torcica garantida
pelos msculos intercostais, pelas cartilagens
que unem as costelas e pelo diafragma.
11
O aparelho fonador constitudo pela
laringe, pregas vocais, boca e lngua. A la-
ringe um conduto de formao cartilaginosa,
situada na parte anterior do pescoo. Os
ingleses lhe do o nome de voice box (caixa
de voz), pois ela , com efeito, a fonte da
voz. Na sua parte interna, recoberta por uma
mucosa, acham-se as pregas vocais, em
nmero de duas. O espao existente entre as
pregas vocais chamado glote, que nada mais
do que a abertura da laringe circunscrita pelas
pregas vocais inferiores. Sobre elas esto
outros dois pequenos lbios, as falsas pregas
vocais. Estas no produzem som. Sua funo
proteger as pregas vocais. A glote se abre
para a inspirao e se fecha para a fonao.
O som produzido somente pela vibrao
das pregas vocais muito tnue. Para ad-
quirir brilho e amplitude, deve passar pelos
ressonadores
12
, assim como o som produzido
pela corda de um violino deve ressoar na
caixa de madeira do instrumento para tornar-
se musical. Os ressonadores so numerosos
e quase poderamos dizer que o esqueleto
inteiro toma parte na ressonncia vocal. Os
ressonadores mais importantes so os faciais:
o palato sseo, o vu palatar, o palato mole,
a regio da faringe e todos os seios, cavi-
dades sseas disseminadas por detrs do rosto
entre a mandbula superior e os olhos. Essa
regio, que muitos chamam mscara, a mais
importante na ressonncia vocal. A articula-
o de todos os sons da linguagem falada
efetiva-se pela lngua.
No entanto, os rgos formadores do
aparelho fonador por si s no produzem o
som. A voz resultado da emanao de energia
de todo o corpo, uma forma arquetpica no
inconsciente humano, imagem primordial e
criadora, energia e configurao de traos que
predispem as pessoas a certas experincias,
sentimentos e pensamentos (Zumthor, in:
Valente, 1999: 119). Toda fala pressupe uma
performance, dirigida a algum ou algo. O
nvel de intensidade dela determinado pelo
receptor, elemento ativo desse processo.
13
Sendo a voz o corpo executante e meio
de execuo ao mesmo tempo, no dispe
de referncias externas para sua emanao
energtica. necessrio mentalizar determi-
nado som que se deseja emitir. Para que essa
emisso esteja correta necessrio, alm
desse ouvido interno, que os pilares da
impostao
14
reteno, apoio e projeo
sejam assimilados. Para que isso ocorra,
preciso dominar tecnicamente todos os pa-
rmetros da emisso (respirao, relaxamen-
to, impostao, projeo ou ressonncia,
articulao), sem perder de vista a forma mais
natural do ato de falar.
Da voz humana podemos extrair infinitas
possibilidades de nuances: quebras rtmicas,
gamas de intensidade e mudanas de tom,
da posio da lngua na boca ao articular
palavras e frases, diferentes maneiras de usar
os lbios, a abertura da boca, a posio da
lngua e do vu palatino, sutilezas na velo-
cidade da emisso, mudanas de timbre e de
altura, nas regies grave, mdia e aguda.
15
556 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
s vezes, um leve titubear no momento
de emitir determinadas palavras muda com-
pletamente o sentido da mensagem; a imi-
tao pela voz caricata nos reporta ao per-
sonagem imitado; ou, a fora emocional
empregada ao expressar uma ao ou sen-
timento nos leva a ver esses estados
oralizados. A voz o meio reprodutor mais
eficiente da paisagem sonora.
Esse termo, empregado pela primeira vez
por Schaffer (1991: 90) para designar os
elementos constituintes do universo sonoro:
rudo, silncio, som, timbre, amplitude,
melodia, textura e ritmo, amplamente
utilizado hoje em dia pelos profissionais de
udio para identificar uma composio
sonoplstica em que elementos constituintes
da sonoridade e da oralidade so selecionados
e associados como interface de um mesmo
texto, realizado como um mesmo ambiente
acstico. (Jos, 2002: 6) A paisagem sono-
ra, ao unir os efeitos e trilhas da sonoplastia,
confecciona uma esttica do rdio, preenche
e configura o tempo/espao radiofnico,
expande-se para o design sonoro e finca-se
como um cone para as ambincias sonoras,
em especial para a mdia radiofnica.
Uma busca de ampliao de recursos na
paisagem sonora tem levado alguns docentes
do curso de Radialismo da Universidade So
Judas Tadeu a realizar experincias orais/
sonoras. A disciplina Projeto Experimental
possibilita essas buscas.
A polioralidade
16
Tomando como referncia o coro ou
jogral
17
, encontrado com freqncia nas
sociedades clssicas, procuramos criar uma
nova textura, uma nova forma de volume oral/
sonoro dentro da pea radiofnica.
O jogral sempre foi um cone da soci-
edade, do seu modo de pensar, de sentir e
de agir. Em todas as manifestaes que
envolvem muitas pessoas, elas atuam, de
forma inconsciente, como um grande jogral.
Nas partidas de futebol, nos shows musicais,
nos discursos polticos e nas cerimnias
religiosas, a assistncia interage com os
personagens principais, ovacionando, vaian-
do, cantando. Sempre que duas ou mais
pessoas esto reunidas, a manifestao
polioral est presente.
O coro j existia na Grcia Antiga, in-
troduzido por Arion, que o retirou do canto
cultual. Ele determinava o que o coro can-
tava e introduzia stiros que falavam em
versos. Alis, o drama grego consistiu, pri-
meiramente, de odes cantadas por um coro,
que tambm executava movimentos rtmicos.
Em sua forma, a tragdia grega com-
partilhava ao mesmo tempo do
espetculo dramtico e da composi-
o musical, numa mistura de dilo-
go, canto e dana, distribudos entre
os atores propriamente ditos e o coro,
este acompanhado por instrumentos
musicais, ora intervindo diretamente
no jogo cnico e contracenando com
os intrpretes, ora participando isola-
damente em passagens lricas ou
coreogrficas. (Arajo, 1978: 68)
Doze ou vinte e quatro participantes
compunham o coro da tragdia em sua fase
urea (chegaram a cinqenta coristas, origi-
nariamente). Eles eram a representao do
povo grego.
As falas do coro no drama grego eram
to importantes quanto as falas dos prota-
gonistas, fazendo parte do enredo do drama.
No coro (acreditamos que suas intervenes
sejam mais uma fala cantada, um
Sprechgesang
18
, do que propriamente me-
lodias entoadas) predominam os sentimen-
tos e as ponderaes. O corista atua como
espectador articulado, motivado pelo phatos
da ao, enquanto as falas dos protagonis-
tas discutem e desenvolvem o enredo, o
tema.
Essas diferenas so expostas com muita
clareza no drama Os Persas, de squilo. Esse
drama iniciado com a entrada do coro de
conselheiros persas, cujo canto expressa a
preocupao com a sorte reservada ao exr-
cito persa. Em dipo Rei, de Sfocles, o povo
grita sua dor e sua misria, roga e leva seus
lamentos ao rei. Em Medeia, de Eurpides,
o canto do coro tem a funo de fazer a
protagonista refletir sobre sua deciso de
matar os filhos.
Cabe ao coro descrever situaes, narrar
as partes do drama, acontecidas em outro
tempo ou outro lugar (a tcnica do flashback
no cinema pode ser comparada a ele)
557 ESTTICA, ARTE E DESIGN
(Schafer, 1991: 243), lembrar a importncia
da celebrao dos cultos, da tradio, decla-
rar a culpa e sua expiao, refletir sobre o
destino ou descrever peculiaridades, famili-
arizando o ouvinte com o ambiente da ao.
(Lesky, 1971) Esse costume se estendeu pelo
Imprio Romano e atravessou a Idade Mdia,
quando tomou um aspecto mais religioso.
Essa tcnica utilizada at os dias de hoje.
A montagem da tragdia grega Medeia,
sob a direo de Antunes Filho, em cartaz
na cidade de So Paulo, no ano de 2003,
nos mostra a utilizao plena das nuances
voclicas para criar uma dimenso dram-
tica. Com o uso de um cenrio enxuto, a
ateno volta-se para a explorao de vasta
gama dos itens que passamos a analisar a
seguir.
O coro grego, do qual se deriva o jogral,
a forma mais eficiente de treino da
sincronia, da preciso rtmica e da dosagem
da intensidade de sentimentos para transmitir
determinada idia. O leque de possibilidades
se amplia na mesma proporo do nmero
de integrantes envolvidos. apoio fundamen-
tal para se criar uma paisagem sonora, uma
ambientao para determinados textos.
A juno de vozes permite a utilizao
de recursos como a similaridade rtmica
(quando todos falam na mesma tomada de
respirao, ao mesmo tempo, na mesma
velocidade) ou a similaridade tmbrica (quan-
do se escolhem vozes com caractersticas
semelhantes). Podemos afirmar que essas
opes propiciam gamas sonoras de
homogeneidade ou heterogeneidade,
homofonia ou polifonia vocal.
Vozes com caractersticas semelhantes,
faladas ao mesmo tempo, produzem efeitos
homofnicos. A mistura de vozes diferenci-
adas timbristicamente, vozes de prata unidas
a vozes de bronze, vozes graves unidas a
vozes agudas, vozes fortes a vozes fracas,
suaves a roucas, aspiradas a nasalizadas,
agressivas a receosas, acanhadas a dinmi-
cas, sobretudo se emitidas defasadas, possi-
bilitam uma polifonia oral.
Para cada clima desejado, monta-se um
grupo vocal especfico. Vozes masculinas
graves de timbre bronze possibilitam a
emisso de uma fala lgubre, criando-se dessa
forma uma paisagem sonora de mistrio, de
horror. Vozes femininas agudas criam um
clima festivo. A mistura pensada de vozes
conflitantes emitidas de forma defasada cria
a paisagem sonora do caos, da metrpole.
O uso do jogral amplia o espectro sonoro
em possibilidades quase ilimitadas em torno
de paisagens sonoras.
O jogral na pea radiofnica tem a funo
de aconselhar, alertar, advertir, sinalizar,
localizar o ouvinte dentro do conto. O jogral
possibilita ainda tornar oral a conscincia dos
personagens, narrar a histria, produzir efei-
tos onomatopaicos, aconselhar, torcer, tornar
pblico o inconsciente coletivo e as cobran-
as da sociedade
19
.
O jogral d ritmo e movimento pea
radiofnica e propicia volume e equilbrio
sonoro, por meio de contrastes, de
contrapontos entre as vozes femininas e
masculinas, entre as vozes graves e agudas,
entre os diferentes timbres vocais. O nmero
de doze participantes, habitual na tragdia
grega, ideal para se obter peso, massa
sonora, possibilitando toda gama de possi-
bilidades de timbre.
A caverna das infinitas possibilidades
Para utilizar adequadamente a voz nos
moldes das propostas acima descritas, suge-
rimos alguns passos na elaborao dos tex-
tos. Cada palavra tem uma inteno, um
sentido, uma curva psicogrfica, que se vale
das vogais e das consoantes para sua cons-
truo. Dessa unio, utilizando-se uma
emisso correta, a palavra ganha sentido.
Descobrir esse sentido e transform-lo em
voz o nosso grande desafio.
As vogais, como diziam os antigos
humanistas rabnicos, so a alma das pala-
vras, e as consoantes, seu esqueleto. Em
msica, so as vogais que do oportunidade
ao compositor para a inveno meldica,
enquanto as consoantes articulam o ritmo. Um
foneticista define a vogal como o pico sonoro
de cada slaba. a vogal que fornece asas
para o vo da palavra (Schafer, 1991: 224).
A vogal o som puro, sem obstculo, que
empresta cadncia e ritmo, que projeta a voz.
O uso da prosdia
20
vem em auxlio da
descoberta da fora interna de cada slaba
dentro da palavra. A emisso correta exige
a observao rigorosa do acento tnico nos
vocbulos de mais de uma slaba. A sucesso
558 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
de slabas tnicas e tonas intercaladas
constitui a cadncia e o ritmo das frases.
essencial que se experimente reprodu-
zir, por meio de inflexes, o significado da
palavra, e, ainda, que se estabelea o peso
que esta palavra deve ter no contexto da frase.
As inflexes so a msica das palavras, o
vetor que lhes d relevo e interesse. Mas,
preciso que essas inflexes sejam verda-
deiras, sinceras e ditas com naturalidade, para
serem convincentes. As inflexes ascenden-
tes traduzem interesse, curiosidade, entusi-
asmo ou clera; as descendentes, indiferen-
a, desdm, raiva; as diretas, sentimentos
tranquilos ou enunciaes.
Ainda, cada palavra ganha um peso dentro
da frase, realando o seu significado. As
palavras de valor e os acentos de insistncia
podem ter carter afetivo ou intelectual. Os
acentos afetivos recaem sobre palavras que
nos comunicam uma emoo; os acentos
intelectuais do nfase a determinadas pa-
lavras importantes no contexto.
H vrias maneiras de destacar essas
palavras: articul-las com maior nitidez,
acentuar certos termos, retardar a palavra que
antecede a principal, subir ou baixar a voz,
ou mudar o seu tom, sempre sem exageros,
naturalmente. O movimento tambm deve ser
observado. Tranqilidade e desnimo pedem
movimentos lentos; agitao e pressa, mo-
vimentos rpidos.
O colorido na dico, definido pelo tim-
bre das vozes, outro fator a se considerar.
Alegria e arrebatamento pedem um timbre
brilhante, de voz de ouro; textos calmos
pedem voz de prata, de tonalidade suave, clara
e delicada; trechos declamados, na tragdia
e na oratria, pedem vozes de bronze, graves
e volumosas, alm de fortes; textos que
exploram aspectos de ternura, tristeza e
nostalgia, pedem vozes de veludo, doces e
macias, graves e tranquilas; mistrio, medo,
pavor, pedem vozes cavernosas, muito gra-
ves.
Ao buscar essa interao, preciso falar
de tal maneira que cada som ganhe vida. Se
conseguirmos isso, podemos at fazer com
que seu sentido original definhe e morra,
dando lugar a um novo sentido, a uma nova
sintaxe dentro do contexto da frase. Criamos,
assim, poemas sonoros, nos quais a oralidade
e a sonoridade esto de tal forma imbricadas,
que se torna difcil dizer se emitimos uma
fala cantada ou um canto falado.
Todas as proposies de Schafer para
redescobrir a voz humana, cantando, reci-
tando, rugindo, gritando, apregoando, ento-
ando, usando melismas, sons onomatopaicos,
sussurros, emisses somente com vogais, ex-
clamaes, inflexes, glissandos, efeitos de
eco, entre tantas outras possibilidades,
podem ser aplicadas fala em grupo, ao
jogral.
Esta proposta da unio de possibilidades
ilimitadas do uso da voz, multiplicada pelo
nmero de participantes, amplia de forma
espantosa o leque do espectro sonoro, pro-
piciando a criao de verdadeiros poemas
sonoros, resgatando a plenitude da oralidade
empregada pelo homem antes do achatamen-
to imposto pela sociedade industrial, tornan-
do mais ricas as ambincias sonoras, em
particular, da mdia radiofnica.
559 ESTTICA, ARTE E DESIGN
Bibliografia
Andrade, Mrio de. Aspectos da Msica
Brasileira. So Paulo: Martins Fontes, 1965.
Arajo, Nelson de. Histria do teatro.
Salvador: Fundao Cultural do Estado da
Bahia, 1978.
Behlau, Mara & Pontes, Paulo. Exem-
plos de Tipos de Voz. So Paulo: Louvise,
1995.
Beuttenmller, G. & LAPORT, N. Ex-
presso Vocal e Expresso Corporal. Rio de
Janeiro: Enelivros, 1992.
Casterde, M.F. La voix et ses sortilges.
Paris: Les Belles Lettres, 1991.
Csar, Cyro. Inspirao, Transpirao e
Emoo. 3
a
ed. So Paulo: Ibrasa, 2001.
. Prtica de Locuo AM e
FM Dicas e Toques. 9
a
ed. So Paulo:
Ibrasa, 2002.
Ferreira, Leslie Picolotto (org.). Voz
profissional: o profissional da voz.
Carapicuba: Pr-Fono, 1995.
Graa, Fernando Lopes. Pginas esco-
lhidas de crtica e esttica musical. Lisboa:
Prelo Editora, s.d.
Harvey, David. Condio ps-moderna.
11
a
ed. So Paulo: Loyola, 2002.
Havelock, Eric. A. A Musa aprende a
escrever. Lisboa: Gradiva, 1996.
Houaiss, A & Villar, M.S. Dicionrio
Houaiss da Lngua Portuguesa Rio de Ja-
neiro: Objetiva, 2001.
Jakobson, Roman. Lingustica e Comu-
nicao. So Paulo: Cultrix, 1973.
Jos, Carmen Lucia. Poticas do ouvir.
Texto manuscrito, 2002.
Kiefer, Bruno. Elementos da Linguagem
Musical. 3
a
ed. Porto Alegre: Movimento,
1979.
Lesky, Albin. A Tragdia Grega. So
Paulo: Perspectiva, 1971.
Mche, F.B. Musyque, mythe, nature ou
ls dauphins dArion. Paris: Klincksieck,
1983.
Manguel, Alberto. Uma Histria de
Leitura. So Paulo: Cia das Letras, 1997.
Mariz, M.L. Vozes da voz. So Paulo:
PUC-SP, 1990. Dissertao de mestrado.
Mcluhan, Marshall. Os Meios de Comu-
nicao como Extenses do Homem. Trad.
Dcio Pignatari. 10 ed. So Paulo: Cultrix,
2000.
Nunes, Llian. Manual de Voz e Dico.
Rio de Janeiro: MEC, 1971.
Nunes, Mnica Rebecca F. O Mito no
Rdio. A Voz e os Signos de Renovao
Peridica. So Paulo: Annablume, 1993.
Piccolotto, Leslie & Soares, Regina
Maria Freire. Tcnicas de impostao e
comunicao oral. So Paulo: Loyola, 1991.
Quinteiro, Eudsia A. Esttica da Voz.
Uma Voz para o Ator. So Paulo: Summus,
1989.
Rousseau, Jean Jacques. Ensaio sobre
a origem das lnguas. In: Os Pensadores.
So Paulo: Abril Cultural, 1997.
Santaella, Lcia. Cultura das Mdias. So
Paulo: Experimento, 1996.
Schafer, Murray. O ouvido pensante.
Trad. Marisa Fonterrada et alii.So Paulo:
Edunesp, 1991.
. A afinao do mundo. So
Paulo: Edunesp, 1997.
Simas, Ana Luiza Bueno. Eduque sua
voz e sua fala. Porto Alegre: A Nao, 1970.
Tomatis, A Loreille et la voix. Paris:
Laffont, 1987.
. Loreille et le language.
Paris: Editions du Seuil, 1991.
Valente, Helosa de Arajo Duarte. Os
Cantos da Voz entre o rudo e o silncio.
So Paulo: Annablume, 1999.
. As Vozes da Cano na
Mdia. So Paulo: Via Lettera, 2003.
Wisnick, Jos Miguel. O som e o sen-
tido. Uma outra histria das msicas. So
Paulo: Schwarcz, 1989.
Zumthor, Paul. Permanncia da Voz.
Trad. Maria Ins Rolim. In: A palavra e a
escrita. Revista O Correio, n. 10, Unesco.
S/l, 1985.
. A Letra e a Voz. A Li-
teratura Medieval. Trad. Amalio Pinheiro,
Jerusa Pires Ferreira. So Paulo: Cia das
Letras, 2001.
_______________________________
1
Universidade So Judas Tadeu.
2
Grande parte de crianas com problemas
vocais desde a mais tenra infncia tm mes com
problemas vocais ou que vivem gritando. Crian-
as com vozes patologicamente graves tm mes
com timbre similar. Musicoterapeutas aconselham
as mes a terem uma gestao tranquila, a falarem
560 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
em tom mdio e calmo, a cantarem msicas suaves.
Para mais detalhes a respeito da voz materna
exercendo influncia fundamental no cdigo
lingustico do beb, ver: Tomatis (1991); Casterde
(1991); Nunes (1993); Valente (1999).
3
Fernando Lopes Graa (s.d: 165) afirma que
h lnguas naturalmente musicais, como o ita-
liano e, de certo modo, o espanhol; outras, cuja
constituio oferece uma tal ou qual resistncia
msica, como o francs e o alemo. Helosa
Valente (1999: 108) cita Rousseau, dizendo que
certas lnguas serviriam para serem lidas e escritas
(o francs, o alemo, o ingls, por exemplo),
enquanto outras, para serem cantadas (rabe, persa,
italiano).
4
Caractersticas especficas do modo de falar
de cada povo, ou mesmo de cada regio de um
determinado povo, formam essa gama de sono-
ridades implcitas na fala. o popular sotaque,
que possibilita que identifiquemos, por exemplo,
um brasileiro do Rio Grande do Sul, do Rio de
Janeiro, do Nordeste.
5
Diversos musiclogos tm se dedicado ao
estudo da musicalidade inerente a cada lngua. Ver:
Kiefer, 1979; Mche, 1983; Valente, 1999.
6
Tonema a inflexo final, a cadncia de
um grupo fnico ou os traos entoativos
localizveis em determinados pontos do discurso.
A afirmao, a resignao e a constatao impli-
cam no movimento meldico descendente, enquan-
to contentamento, exclamao e surpresa deter-
minam o movimento meldico ascendente (Va-
lente, 1999: 110).
7
Jean Jacques Rousseau (1712-1778), fil-
sofo e romancista suo de lngua francesa, via
uma estreita relao entre poltica, moral e edu-
cao. Naturalista convicto, Rousseau proclama-
va que a sociedade corrompia o homem, natu-
ralmente bom, mostrando-se, dessa forma, um
crtico implacvel da organizao social, do
racionalismo progressista e do Estado desptico.
8
A frase a seguir esclarece o pensamento de
Rousseau: Os sons simples saem naturalmente
da garganta, permanecendo a boca mais ou menos
aberta. Mas as modificaes da lngua e do palato,
que fazem a articulao, exigem ateno e exer-
ccios... Os gritos e os gemidos so vozes sim-
ples (1978: 165).
9
Herbert Marshall McLuhan (1911-1980),
pedagogo e filsofo canadense, autor de diver-
sos livros, destacando-se: A Galxia de Gutenberg
(1962), e Os meios de comunicao como exten-
ses do homem (1964).
10
Murray Schafer, compositor e artista pls-
tico canadense nascido em 1933, tem se dedicado
ao ensino da msica. Ele prope um novo olhar
sobre o mundo pelo vis da escuta, apontando
novos caminhos para a atuao sobre o ambiente
sonoro.
11
O diafragma um grande msculo trans-
versal que tem a forma de uma abbada e que
separa a cavidade torcica da cavidade abdomi-
nal. constitudo de fibras musculares que se
fixam na base da caixa torcica, convergindo para
o centro frnico. Os pulmes e o corao apiam-
se sobre a sua face superior; sob a face inferior
esto: fgado, estmago, rins e intestinos.
12
Ressonador cada uma das cavidades que,
na fonao humana, se produzem no canal vocal
pela disposio que os rgos assumem no
momento da articulao (Houaiss, 2001: 2441),
aumentando as vibraes na voz.
13
As nuances da voz humana, o nico ins-
trumento que rene no mesmo corpo executante
e meio de execuo, so quase infinitas, depen-
dendo da situao do palco de ao. Uma con-
versa a dois exige um nvel diferente de um
discurso de palanque, de uma conferncia cien-
tfica, de uma discusso. Zumthor (1985) distin-
gue quatro nveis de oralidade: a) primria,
desvinculada da escrita: b) secundria, precedida
pela escrita, a partir da qual a oralidade se re-
compe; c) mista, na qual oralidade e escrita
coexistem; d) mediatizada, pelo rdio, televiso,
discos, etc.
14
Impostar emitir corretamente a voz. A
voz assemelha-se ao jato de um chafariz que se
eleva desde o diafragma, passando pela solida-
riedade da garganta, chegando at seu alto-falante
que a boca e se projetando numa ducha de sons
para toda a platia (Beuttenmller, 1992).
15
Os parmetros bsicos da linguagem musical
podem clarear essas possibilidades: a) altura
pelo registro vocal que podemos identificar os
vrios matizes entre o agudo e o grave. As vozes
so classificadas, de acordo com esse parmetro,
em soprano (voz feminina aguda), contralto (voz
feminina grave), tenor (voz masculina aguda) e
baixo (voz masculina grave). Essas quatro cate-
gorias vocais possuem nuances, que escapam do
objeto deste artigo. Ainda, o peso das slabas
tnicas e tonas evidencia a inflexo meldica;
b) timbre permite reconhecer as qualidades de
cada voz: ouro, bronze, gutural, nasalada, etc.
determinado pelo sexo, pela idade, pela caixa ssea
craniana e pela espessura das pregas vocais; c)
modos de ataque formas de emitir o som
determinam a clareza da pronncia (articulao
fontica) e do fraseado, da textura vocal; d)
intensidade determinada pela maior ou menor
energia empregada na fala. Essa gradao vai do
grito at o sussurro; e) durao estabelece o
maior ou menor tempo de cada slaba na palavra,
ou da palavra na frase. O modo de alongar slabas
tnicas d palavra um valor expressivo muito
grande. A esses parmetros podemos aplicar outros,
tais como a velocidade da fala, ritmo, acentos e
pausas. (Valente, 1999: 105).
561 ESTTICA, ARTE E DESIGN
16
A polioralidade a juno de vrias vozes,
especialmente escolhidas por semelhana ou dis-
tino de timbre.
17
Jogral o grupo de pessoal que l textos,
alternando partes individuais e partes coletivas.
No confundir com o artista medieval que ganha-
va a vida divertindo o pblico ou o divulgador
da poesia trovadoresca.
18
Tcnica de emisso vocal muito usada por
Schoenberg e outros compositores de sua escola
para designar uma espcie de declamao musi-
cal, entre o canto e a fala.
19
Trechos das tragdias de Sfocles e
Eurpides so ideais para treino da polioralidade.
Tambm, a sua utilizao em contos, por meio
da insero dos aspectos descritos acima nos textos
originais, auxiliam na prtica do jogral.
20
A prosdia a parte da gramtica que trata
da correta acentuao e pronncia das letras,
slabas e palavras.
562 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
563 ESTTICA, ARTE E DESIGN
Nietzsche, Arte e Esttica
Marisa C. Forghieri
1
Muitos pensadores, de diferentes pocas,
origens e formaes dedicaram-se a interpre-
tar e pesquisar a obra nietzscheana. Esse
interesse que desafia o tempo pode ser
compreendido de diversas formas. Entre elas
incluo a possibilidade do conjunto da obra,
por seu carter aforismtico, denso e po-
tico, no poder ser desvelado em sua tota-
lidade. Da mesma forma, no me parece
possvel unificar as compreenses dos diver-
sos e numerosos pesquisadores que at hoje
dedicam-se a interpretar uma tal composio.
Parece-me que a obra nietzscheana requer,
tambm, interpretaes que se inspirem no
terreno da arte e, nesse sentido, possam
produzir livres representaes a partir dos
universos pessoais.
Giacoia (2000), em publicao que ce-
lebra o centenrio da morte de Nietzsche,
observa que sua filosofia est para alm dos
limites da razo, se entrelaa s vivncias,
existncia como projeto esttico.
Nietzsche, o filsofo-artista, um po-
eta que s acreditava numa filosofia
que fosse expresso das vivncias
genunas e pessoais, vendo na expe-
rincia esttica uma espcie de x-
tase e redeno, , por isso mesmo,
um precursor da crtica a um tipo de
racionalidade meramente tcnica, fria
e planificadora. (Giacola, 2000: 13)
O caminho para se aproximar do pensa-
mento nietzscheano perpassa aquilo que
somos, tudo o que poderemos deixar de ser,
o que seremos.
Uma passagem pelo incerto que suspira
em ns, pela frgil transitoriedade, pelo devir.
A racionalidade como frio instrumento tcni-
co no capaz de engenhar tais pensamentos.
O ser prprio procura tambm com
os olhos dos sentidos, escuta tambm
com os ouvidos do esprito.
(Nietzsche, 1885: 51)
A histria monumental deve restituir os
cumes do devir e, segundo Foulcault, fazer
aparecer todas as descontinuidades que nos
atravessam (1979: 37). Ele afirma que a
histria deve interrogar-se, interrogando a
conscincia cientfica, questionando as opi-
nies pr-concebidas acerca de tudo o que
h de inquietante na pesquisa e de perigoso
na descoberta.
Em A origem da tragdia (1871),
Nietzsche expe a fragilidade da cincia para
apreender os fenmenos artsticos. Apolo e
Dioniso podem ser compreendidos, para alm
da Mitologia, como foras polares que de-
limitam nossos conflitos e vazios. Apolo
luz que no vive sem as sombras de Dioniso.
A aparente necessidade de compreender
tendncias opostas como expresses de bem
e mal suprimida pela possibilidade de
alternncia dos sentidos. Como foras, se
estabelecem pela oposio, os polos se cho-
cam e se sustentam, simultaneamente.
Machado (1999 : 27) observa que a arte
capaz de proporcionar experincias
dionisacas, sem que se seja aniquilado por
elas, possibilitando embriagus sem perda da
lucidez. Compreende que o dionisaco
nietzscheano implica o apolneo, por ser
necessariamente artstico.
As relaes que se estabelecem no in-
terior de cada homem a partir do jogo
estabelecido entre a pulso dionisaca e a
apolnea so descritas por Vattimo. Ele afir-
ma que dionisaco e apolneo no definem
apenas uma teoria da civilizao e da cultura,
mas tambm uma teoria da arte (1985 : 18).
A arte trgica representa o conflito entre
Apolo e Dioniso. Expressa resistncia ao
sofrimento a partir de uma intensificao da
vida.
Vattimo observa que Nietzsche abre
caminho para uma relao renovada com a
classicidade, o que comporta uma radical
atitude crtica nos confrontos com o presente
(1985: 20). A transformadora noo de in-
terpretao proposta por Nietzsche j apa-
564 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
rece em A origem da tragdia. Vattimo
compreende que a partir do jogo estabele-
cido entre o apolneo e o dionisaco entende-
se a possvel atualidade do pensamento
nietzscheano.
O jogo do apolneo e do dionisaco,
e o ambguo significado que a tra-
gdia possui, de libertao do e pelo
dionisaco na bela imagem apolnea,
permanecem elementos decisivos na
obra de Nietzsche e constituem ainda
a base de sua possvel atualidade
terica. (Vatimo, 1985 : 20)
A palavra Dioniso significa mais para
Nietzsche, de acordo com interpretao de
Mller-Lauter. Para ele a experincia
dionisaca deve permitir respirar na mais
monstruosa paixo e altitude (1999: 26).
Um tal exerccio requer uma sade
peculiar, que para alm de perigosas esca-
ladas, possibilite a aventura de percorrer os
limites da alma.
A sade pertence a quem tem sede
na alma de percorrer com sua vida
todo o horizonte dos valores e de
quanto foi desejado at hoje, quem
tem sede de circum-navegar as costas
deste idealn mediterrneo.
(Nietzsche, 1882: 280)
A experincia dionisaca prope a inten-
sificao da vida em condies extremas.
A inesgotabilidade do fundo dionisaco do
mundo (FINK, 1983: 20), permite que o
fenmeno da arte seja colocado no centro, a
partir dele se torna possvel decifrar o mundo.
Giacoia observa a importncia da ant-
tese metaforicamente figurada na oposio
entre Dionysus e o Crucificado (1997: 185).
Comenta a necessidade de compreender de
forma mais ampla as implicaes dessa
oposio.
O essencial dos cultos dionisacos
consiste, para Nietzsche, num mergu-
lho redentor na imanncia, onde no
se trata mais de instaurar um juzo
que divide, condena, renega, mas de
proclamar um sim vida em sua crua
integridade. (Giacola, 1997: 187)
A arte afirma a vida em seu conjunto.
A luta entre Apolo e Dioniso, que d origem
arte trgica, suprime a unilateralidade. Dois
princpios antagnicos no do lugar a re-
conciliao. A tenso que sustenta Apolo e
Dioniso como foras polares justifica a
existncia e a magnitude de ambos. Tal tenso
desafia o crculo da cincia (Nietzsche, 1871:
115), fazendo-o abrir-se ao acaso, ao pen-
samento paradoxal que percorre dois senti-
dos ao mesmo tempo.
O desejo de ultrapassar o prprio des-
tino, enfrentando-o, leva os heris trgicos
a transgredirem os limites da existncia,
desafiando os valores estabelecidos.
No pensamento nietzscheano os valores
estabelecidos surgiram em algum momento,
em algum lugar; novos valores podem ser
estabelecidos a qualquer momento, em qual-
quer lugar. A realidade, eternamente mutante,
s pode ser compreendida a partir do devir.
O devir desfaz o conjunto de normas,
mtodos e sistemas, lana o homem no vazio,
obrigando-o a compreender a existncia como
experincia. Nada alm disso. A preciosidade
est na impermanncia de frmulas capazes
de apreender a existncia como ponte, pas-
sagem.
O que h de grande no homem
serponte, e no meta. O que pode amar-
se no homem, ser uma transio e
um ocaso. (Nietzsche, 1885: 31)
A justificada necessidade de lanar a
existncia na correnteza turva e incerta do
devir contrape-se necessidade apolnea de
luz e segurana suprema. Os contrastes mais
perfeitos produzem a existncia mais fecun-
da. A luta entre Apolo e Dioniso intensifica-
se, desaguando em transmutao, criao.
No pensamento nietzscheano o fenme-
no da criao considerado a partir de uma
perspectiva nmade, a servio da liberdade.
As tramas de permanncia do mundo, dos
conceitos, das idias, rasgam-se partir das
mximas que apresentam a transitoriedade de
todos os fenmenos. O devir proposto como
imagem fundamental da criao.
Cada instante devora o precedente,
cada nascimento a morte de
incontveis seres, gerar, viver e
565 ESTTICA, ARTE E DESIGN
morrer so uma unidade. (Nietzsche,
1872: 45)
Criao e destruio apresentam-se de
forma justaposta, estabelecendo contornos e
vazios. Para criar necessrio, por assim
dizer, tambm morrer. Morte ampla, meta-
frica e parcial; a morte de nossas prprias
cascas e seivas.
As trs metamorfoses, anunciadas por
Zaratustra em seu primeiro discurso (1885:
43), propem infinitas mortes e renascimentos
de aspectos e essncias. Propem crescimen-
to irregular, intensificao da vida. Nelas
tambm possvel observar uma saga atra-
vs da qual s possvel libertar-se a partir
de aes. Em cada etapa observa-se aspectos
decisivos para uma compreenso sobre a
existncia criadora.
Como o esprito se torna camelo e
o camelo, leo e o leo,
por fim, criana. (...)
O que h de pesado?, pergunta o
esprito de suportao; e ajoelha
como um camelo, e quer ficar bem
carregado.
O que h de pesado, heris, per-
gunta o esprito de suportao, para
que eu o tome sobre mim e minha
fora se alegre?(...)
pesadssimos fardos toma sobre si
prprio o esprito de suportao; e
tal como o camelo, que marcha
carregado para o deserto, marcha ele
para o seu prprio deserto.
Mas, no mais ermo dos desertos, d-
se a segunda metamorfose: ali o
esprito torna-se leo, quer conquis-
tar, como presa, a sua liberdade e ser
senhor em seu prprio deserto. (...)
Qual o grande drago, ao qual o
esprito no quer mais chamar senhor
nem deus? Tu deves chama-se o
grande drago. Mas o esprito do leo
diz: eu quero. (....)
Criar novos valores isso tambm
o leo ainda no pode fazer; mas
criar para si a liberdade de novas
criaes - isso a pujana do leo pode
fazer. (...)
Mas dizei, que poder ainda fazer
uma criana, que nem sequer pde
o leo? (...)
Inocncia a criana, e esquecimen-
to; um novo comeo, um jogo, uma
roda que gira por si mesma, um
movimento inicial, um sagrado dizer
sim.
Sim, meus irmos, para o jogo da cri-
ao preciso dizer um sagrado
sim; o esprito, agora, quer a sua
vontade, aquele que est perdido para
o mundo conquista o seu mundo.
(Nietzsche, 1885: 44)
A riqueza metafrica com que os
movimentos so descritos permitem aproxi-
maes com a prpria existncia e incluem
a possibilidade de observar em si tais trans-
formaes e tremores de terras.
O esprito de suportao, para alm de
pesadssimas cargas, carrega os fardos de
um tipo de moral que requer o cumprimento
de deveres. Mas a marcha para o prprio
deserto, uma tal solitude parece engenhar
o espao necessrio transformao. O de-
serto como metfora de vazio e de desterro
pode ser capaz de inspirar uma salutar con-
frontao consigo mesmo. Pode inspirar,
ainda, vontade de potncia, dominao; o
desejo de ser senhor em seu prprio deserto,
enfim.
Quando ocorre a segunda metamorfose
observa-se a necessidade do estabelecimento
de uma luta para a conquista da liberdade.
Uma luta que requer fora selvagem. Tal
fora, que no carrega fardos, livre para
se impor como vontade; para estender seus
domnios.
Criar para si a liberdade de novas
criaes talvez seja um exerccio necessrio
e uma luta diria. Nesse sentido, as meta-
morfoses se realizariam com possibilidades
quase infinitas de reincidncias. Mas tais
fenmenos no seriam propriamente repeti-
es, pois encontrariam no homem outro
campo de experincia, profundamente alte-
rado pelas metamorfoses anteriores. A idia
de eterno retorno aqui, compreendida
apenas como possibilidade transitria, a partir
de observao de Nietzsche.
566 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
(...) o mecanismo tem que valer para
ns como hiptese imperfeita e ape-
nas provisria. (Nietzsche, 1889: 117)
A hiptese de que existem ciclos a serem
percorridos durante a existncia no cristaliza
os estados de passagem, tampouco estabelece
compreenses definitivas sobre o fenmeno.
As noes de inocncia e esquecimento
propostas pela terceira metamorfose so
importantes para que as transformaes tam-
bm possam ser compreendidas em seu
conjunto. Conjunto que traz como elemento
um novo comeo. Um sim e um no; um jogo
de criao e morte.
Na conquista do prprio mundo afirma-
se a vontade. Ela o elemento atravs do
qual a existncia pode fluir.
A relao fluida entre percepo e
racionalidade revela-se como linguagem da
prpria vida. O discurso de Zaratustra pode
ser entendido como argumento racional e obra
potica; requer a compreenso da vida como
fenmeno esttico.
A existncia considerada como fen-
meno esttico sempre nos parece su-
portvel e atravs da arte nos so
dados o olho e a mo e antes de mais
nada a boa conscincia para poder
criar, com nossos recursos, tal fen-
meno. (Nietzsche, 1882: 120)
Na confrontao entre o homem cientfico
e o homem artstico proposta por Nietzsche,
Fink observa que o homem artstico o tipo
superior em comparao com o lgico e o
cientista (1983: 35). Para o homem artstico
o questionamento e destruio dos velhos
limites impostos pela dureza dos conceitos
pode ser uma resposta criadora da intuio.
Nesse sentido, a criana como metfora de
inocncia e esquecimento nega um certo tipo
de tradio do conhecimento, que se constri
apenas a partir de uma criteriosa memorizao
e ordenao de saberes.
Nietzsche considera que para ser artis-
ta, tambm necessrio esquecer, ignorar!
(1882: 14). Para alm do esquecimento, ele
observa que possvel experimentar uma
segunda inocncia, que torna o homem
mais infantil e, ao mesmo tempo mais
refinado.
Inocncia e refinamento. O esquecimento
como hbito elegante capaz de inaugurar
novas impresses, compreenses. Ao mesmo
tempo, tal hbito enfurece os mais velhos e
os eruditos, que passam a ser entendidos
como perspectivas, e podem at ser ignora-
dos.
As trs metamorfoses representam, para
Fink, a modificao do homem a partir da
morte de Deus, isto , a transformao de
sua alienao na liberdade criadora que se
sabe autnoma (1983: 76). Ele observa que
tal fenmeno pe em evidncia o carter
ldico e arriscado da existncia, bem como
problematiza todos os sistemas de interpre-
tao do mundo que se fundam na metafsica.
Com o jogo da avaliao criadora,
porm, torna-se problemtico todo o
esquema metafsico do mundo sens-
vel e do mundo inteligvel, (...) do
aqum e do Alm; os devaneios da
metafsica, tal como a transcendncia
dos valores repousa no Deus vivo.
Mas aps a morte de Deus tais dis-
tines caducaram. (Fink, 1983: 77)
A intensa transformao existencial pro-
posta no primeiro discurso de Zaratustra
compreendida por Fink como princpio de
todos os outros discursos (1983: 78). Ob-
serva que antes da morte de Deus, a natureza
criadora do homem encontrava-se adorme-
cida, prisioneira nas malhas de divinas
certezas.
Vattimo entende que a morte de Deus no
uma enunciao metafsica da no existn-
cia de Deus; tem de ser tomada letra como
o anncio de um acontecimento (1985: 56).
Anunciar um acontecimento no significa,
entretanto, demonstrar alguma coisa. Mas a
simples anunciao capaz de provocar
outros acontecimentos. A anunciao da morte
de Deus possibilita que se instaure uma
profunda suspeita, de que no se pode mais
considerar uma verdade sem seus vus.
Se no mais possvel crer em uma
verdade que no possua vus (Nietzsche,
1882: 15), h que se abrir espao para as
diversas e talvez infinitas interpretaes da
existncia. Espao para a criao de novos
sentidos.
567 ESTTICA, ARTE E DESIGN
Bibliografia
Fink, E. A filosofia de Nietzsche. Lisboa:
Editorial Presena, 1983.
Foucault, M. Microfsica do poder. Rio
de Janeiro: Graal, 1979.
Giacoia jr., O. Labirintos da alma.
Campinas: Editora da Unicamp, 1997.
_________ . Nietzsche. So Paulo:
Publifolha, 2000.
Machado, R. Nietzsche e a verdade. Rio
de Janeiro: Graal, 1999.
Mller-lauter, W. Dcadence artstica
enquanto dcadence fisiolgica. In
MARTON, S. (org.) Cadernos Nietzsche. So
Paulo: GEN, 1999.
Nietzsche, F. W. A origem da tragdia.
(1871). Lisboa: Guimares, 1988.
____________. Cinco prefcios para
cinco livros no escritos. (1872). Rio de
Janeiro: 2000.
______________. A gaia cincia. (1882).
So Paulo: Hemus, 1981.
______________. Assim falou Zaratustra.
(1885). Rio de Janeiro: Civilizao Brasilei-
ra, 1987 .
______________. Obra incompleta.
(1889). So Paulo: Nova Cultural, 1987.
Vattimo, G. Introduo a Nietzsche.
Lisboa: Editorial Presena, 1985.
_______________________________
1
Instituto de Filosofia da Linguagem,
UNL / Escol a Superi or de Comuni cao
Social, IPL.
568 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
569 ESTTICA, ARTE E DESIGN
Parasos artificiais: autoria partilhada na criao
contempornea e na era dos jogos em rede
1
Patrcia Gouveia
2
The new artist, equipped for acting
in the ambit of net economies, will
necessarily be a social agent belonging
to the sector of immaterial labour, that
of the production of knowledge. He
shall never more be a shaman, a lay
preacher, or a bohemian living outside
the productive economic sphere.
Rather, she or he will qualify asknow
workers.
net.art and the coming culture
Jos Luis Brea
Podemos imaginar uma cultura em
que os discursos circulassem e fos-
sem recebidos sem que a funo autor
jamais aparecesse. Todos os discur-
sos, qualquer que fosse o seu esta-
tuto, a sua forma, o seu valor e
qualquer que fosse o tratamento que
se lhes desse, desenrolar-se-iam no
anonimato do murmrio. Deixaramos
de ouvir as questes por tanto tempo
repetidas: Quem que falou realmen-
te? Foi mesmo ele e no outro? Com
que autenticidade, ou com que origi-
nalidade? E o que que ele exprimiu
do mais profundo de si mesmo no seu
discurso?
O que um autor?
Michel Foucault
Where once art was at the center of
moral existence, it now seems possible
that play, given all its variable
meanings, given the imaginary, will
have that central role.
The Ambiguity of Play
Brian Sutton-Smith
Os jogos em rede, ao apelarem parti-
cipao e criao colectivas, permitem a
construo em tempo real, de histrias
emergentes, de dispositivos de programao
abertos, elaborados por diferentes autores. A
questo que se prope debater a possibi-
lidade da criao de matrizes abertas aco
de um utilizador/criador de interfaces. O autor
controla a matriz de construo como obra
aberta e reconfigurvel, e prepara-a para a
aco de diferentes criadores num espao
amplo de mltiplas possibilidades. Para que
a obra seja emergente, o autor abdica de parte
do controlo da matriz, permitindo ao
utilizador desenvolver um conjunto de ac-
es possveis da sua autoria, nomeadamen-
te, a manipulao e samplagem do design,
do software e da arquitectura do sistema. O
software, por seu lado, como engenho de
inteligncia artificial, automatiza-se e capaz
no s de replicar o processo iniciado pelo
autor e utilizador como tambm de introdu-
zir na obra decises ao nvel do cenrio,
permitindo ainda a incurso de novas per-
sonagens e espaos em resposta s aces
do jogador.
Dos inmeros exemplos de autoria par-
tilhada possveis escolhi seis que me pare-
cem exemplificar bem o tipo de relaes que,
no futuro, se vo desenvolver em termos de
autoria multimdia. O primeiro um jogo
volta da economia mundial do colectivo
de artists etoys. O Segundo um site: 1001
Nights in Manhattan: Mapping Sex in New
York City que permite a inscrio de hist-
rias na rede. O terceiro, um programa de
software de nome FMOL (Faust Music On
Line) desenvolvido por Sergi Jord para o
espectculo Fausto v3.0 dos Fura dels Baus.
O quarto, o trabalho digital do colectivo Jodi
volta da descontruo do cdigo e do
mapeamento das representaes em rede. O
quinto, um exemplo retirado da tese de
mestrado do designer e editor Gonzalo Frasca.
Por ltimo, um jogo de arcada, desenvolvido
pelos artistas alemes Furs, que inflige dor
aos utilizadores.
(...) we, as readers, may become not
the masters of the text, but
570 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
collaborators in its writing, partici-
pants in the process of our own
becoming. (Keep, 1999: 180)
Que objectos so estes que, atravs de
uma colaborao dinmica de diferentes
autorias e provenincias, questionam o papel
do autor e do utilizador/leitor? O hipertexto
como medium de escrita metamorfoseia o
autor num editor ou produtor multimdia,
como nos diz George P. Landow
3
? O
hipermdia, como o cinema, o vdeo e a pera
ser um trabalho de equipa para o qual
contribuem inmeros especialistas de dife-
rentes reas? A quem atribuir a autoria destes
objectos: ao argumentista interactivo? Ao
designer de interfaces? Ao designer de
software? Ao programador? O utilizador/leitor
colabora com o autor da obra atravs das suas
escolhas? No existir, no entanto, uma
qualidade obscura no hipertexto que, atravs
da sua estrutura organizacional, fora dese-
jos no utilizador/leitor, tal como o super-
mercado fora desejos no consumidor, como
refere Chistopher J. Keep, e, neste contexto,
nos fornece uma iluso de liberdade ao propor
um utilizador que escolhe e toca as coisas
que melhor lhe assentam? No poder tam-
bm o hipertexto e a hiperfico, incutir
desejos, sofrimentos, vontades? Um compra-
dor/leitor livre que se move num mundo
infindvel de comodidades lexicais?
4
Le collectif etoy reprsente la future
generation artistique: base sur le web,
litare et creative. Il runit diffrentes
tendencies du net art, du net activisme,
et les traditionnels modles artistique
et commerciaux. Prfrant la
rebellion classique lassimilation des
armes commerciales, il engage um
combat structurel pour loccupation
esthtique des espaces. (Richard, 2002)
Uma polmica interessante foi gerada pela
empresa eToys com o colectivo de artistas
etoy.com
5
. A empresa americana de venda de
brinquedos online, promoveu uma persegui-
o aos artistas para conseguir o URL da etoy,
tendo colocado o colectivo em tribunal para
alm de os insultar inmeras vezes publica-
mente. Os artistas organizaram um interes-
sante jogo em rede para destrurem a em-
presa que os tinha tentado aniquilar com uma
campanha absolutamente desleal. Porque os
etoy ousaram entrar e introduzir o vrus
artstico no espao do comrcio, como nos
conta Birgit Richard, a eToys tentou reenvi-
los para o gueto. Por intermdio dos etoy
a arte concorre com a economia no somente
no plano visual mas tambm estrutural e,
segundo a autora, engendra num corpo
colectivo, a partir de uma esttica geral, a
sua identidade como empresa. Mais resisten-
te s presses econmicas do que um artista
individual, o corpo virtual redefine o jogo
informtico como uma toywar e, utiliza a arte
na internet, atravs de um jogo em rede, para
resistir a uma forma invisvel de violncia
econmica. A transferncia de modelos
comerciais para o domnio da arte tambm
uma forma de fugir ao sistema artstico
convencional. E, neste caso, a uniformidade
colectiva torna-se subversiva.
The virtual presence of other texts and
other authors contributes importantly
to the radical reconception of
authorship, authorial property, and
collaboration associated with
hypertext. Within a hipertext
environment all writing becomes
collaborative writing, doubly so.
(Landow, 1997: 104-05)
A autoria partilhada nos objectos multi-
mdia definida por George P. Landow
mediante quatro formas de produo distin-
tas. Em primeiro lugar, o objecto revela-se
atravs das decises e escolhas de percurso
efectuadas pelo receptor; o autor no existe
sem que exista um potencial utilizador da
sua obra. Em segundo lugar, o autor tem
conscincia da existncia de outros poten-
ciais autores na rede; o criador tem a cons-
cincia da presena virtual no sistema de
outros autores, que embora tenham escrito
em tempos diferentes, com ele dialogam
atravs de links e estruturas abertas. Em
terceiro lugar, alguns projectos promovem a
segmentao de tarefas dos diferentes
intervenientes no processo de criao. Exis-
te, neste caso, no final, uma assemblage em
que as contribuies individuais se agrupam
num s objecto. Por ltimo, uma quarta forma
de produo revela-se como uma combina-
571 ESTTICA, ARTE E DESIGN
o de aspectos provenientes das anteriores,
combina-se, neste caso, a presena de outros
textos e de outros autores numa interaco
cooperativa. Assim, os documentos deixam
de ter uma existncia em si para estarem au-
tomaticamente em estreita relao com todos
os documentos existentes no sistema da rede.
Existe, neste contexto, uma colaborao em
potncia em que todos os documentos,
conectados electronicamente, colaboram uns
com os outros, sendo que as diferentes
autorias e formatos esto em estreita ligao
entre si.
A possibilidade de cada ponto poder estar
conectado com outro ou com uma infinidade
de outros pontos, permite que o princpio de
multiplicidade se revele atravs da expanso
das suas conexes, ou seja, que a natureza
rizomtica da estrutura funcione de forma
dinmica e aberta. O objecto digital, feito
de pedaos de textos, composies musicais,
ilustraes, imagens fotogrficas, pixeis, li-
nhas de cdigo e intervalos de tempo e de
espao, forma um rizoma com o mundo da
rede. Ao introduzir uma descentralizao do
autor em mltiplas vozes que falam, au-
torias diversas num sistema complexo em
permanente reconfigurao, o objecto digital
solicita ao leitor/utilizador que no seja
apenas um mero receptor mas que se revele
autnomo e independente na construo de
sentidos. Este objectos formam uma
assemblage com o exterior ao introduzir e
reproduzir, nos meandros da rede, dados
provenientes do mundo em que vivemos,
como referem Deleuze e Guattari.
6
O site 1001 Nights in Manhattan
7
, de-
senvolvido para o Museu de Sexo em Nova
Iorque, permite a incluso de textos e his-
trias no dispositivo criado. Este trabalho,
pertence ao colectivo de artistas SFMOMA,
do qual fazem parte Michael Samyn e Auriea
Harvey, e foi construdo de forma a permitir
a incurso das histrias sexuais dos diferen-
tes utilizadores/leitores em diversos locais da
cidade. Estes relatos, que aparecem sobre-
postos no mapa geogrfico dinmico da
cidade, so os prprios utilizadores/leitores
que os inserem na base de dados do site
atravs de um back office. A inscrio no
plano feita das histrias de inmeras
pessoas. A cidade inventariada serve de trao
s diversas narrativas que a compem, mas
a matriz obra de dois artistas e de um
museu.
Myths are stories that are
distinguished by a high degree of
constancy in their narrative core and
by an equally pronounced capacity for
marginal variation. (Blumenberg,
1990: 35)
A diluio do papel do autor, a autoria
partilhada e at o anonimato na cultura digital,
remetem-nos para uma configurao prxi-
ma das histrias contadas mitologicamente?
George P. Landow lembra-nos Lvy-Strauss
ao explicitar que a apresentao do pensa-
mento mitolgico um sistema complexo de
transformaes sem centro, uma rede de
textos (Landow, 1997: 93). As histrias
mitolgicas apresentam simultaneamente uma
estrutura constante e uma possibilidade para
a variao marginal. Assim, diferentes nar-
radores/autores reproduzem uma composio
pr-definida, introduzindo variaes ao seu
estilo e medida. A constncia produz um
reconhecimento do mito como representao
artstica ou ritual. A variao, uma possibi-
lidade de novas e pessoais formas de apre-
sentao. A transmisso oral favorece, segun-
do Hans Blumenberg, a vitalidade do que
transmitido: a disposio dos materiais para
a deformao, para a improvisao. A tra-
gdia grega adapta-se sua audincia, para
a qual estas variaes eram uma sequncia
de continuaes que estavam sempre predis-
postas a desenvolver um novo elemento de
excitao. O pblico deparava, a cada actu-
ao, com performances renovadas em vez
de mais uma imitao (Blumenberg, 1990:
149-173). A simulao nos videojogos, atra-
vs de um engenho dinmico, permite a
incurso de variaes e mltiplas dimenses
na histria, adaptando-se ao corpo do
utilizador. Os jogos actuais promovem no-
menclaturas narrativas clssicas em que a
ideia de princpio, meio e fim est muito
presente. Alguns projectos artsticos, de que
falaremos mais frente, tentam contrariar esta
tendncia adoptando estruturas abertas e no-
lineares, mais caratersticas da cultura da
hiperfico e do hipertexto. Mas, para alguns
autores, o caso da narrativa nos media di-
gitais est para alm do mito e da metfora
8
.
572 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Mas ser que os realizadores de
videojogos e os criadores digitais so assim
to annimos? E estaro estes criadores assim
to preocupados em dar ao utilizador a li-
berdade que este tem a iluso de deter? No
existir sempre, como na saga Matrix, um
arquitecto do sistema que decide que aces
o jogo permite ou no desenvolver, um autor
que condiciona os passos do utilizador e lhe
transmite a iluso de que este co-autor da
obra, um leitor escravo dos livros que no
consegue concluir como em Se numa noite
de inverno um viajante de Italo Calvino?
La creacin colectiva, una de las ms
interessantes possibilidades que ofrece
la red, es otro de los aspectos
fundamentales del proyecto. Cada
participante que accede al servidor con
la intencin de componer, pude tam-
bm modificar/enriquecer temas an-
teriores, con lo que se potencia un
juego a modo de cadver exquisito
musical, en el es posible conocer en
cada momento los autores de cualquier
tema, y en que porcentaje se dividiran
la autoria en caso de la pieza en
cuestin fuera selecccionada. De esta
forma, una idea o germe musical
generado por un autor, puede
evolucionar paralelamente em
mltiples direcciones, siendo todas
ellas igualmente accesibles al estar or-
ganizadas en forma de rbol. (Jord,
Sergi, 1998
9
)
O software de criao musical freeware
FMOL foi especialmente concebido para que
criadores de todo o mundo pudessem par-
ticipar atravs da internet na composio
musical de parte da banda sonora do espec-
tculo dos Fura Dels Baus. Este software foi
patrocinado pela Sociedad General de Au-
tores y Editores (S.G.A.E.) espanhola. Esta
sociedade, comprometeu-se em simplificar
todas as formalidades necessrias para que
os compositores que utilizaram o software
para a criao digital de pequenos e breves
fragmentos para o espectculo, ficassem
automaticamente inscritos e recebessem os
seus direitos de autor. Foram seleccionados
pelos Fura Dels Baus 60 temas de 20 se-
gundos cada e submetidas para avaliao do
jri 1200 composies. Posteriormente, foi
desenvolvido um CD com 300 temas de 20s
que foi oferecido a alguns dos compositores
annimos de FMOL para trabalharem por
cima e assim desenvolverem novas compo-
sies
10
.
Jodi forces us to question the
representation of data, its translation,
its mapping, its conventional
application for visualizing and
decoding the language of
programming into metaphors and
signs we can interpret and utilize.
Ultimately, Jodi.org is Code stripped
of all functionality, Code for its
aesthetic value, Code as abrasive
language, Code as hallucination, Code
as theater.
11
A desconstruo das regras do jogo, tal
como se verifica em colectivos como os
Jodi
12
, integrado por Joan Heemskerk and
Dirk Paesmans, uma das principais ques-
tes que os artistas propem ao utilizador
pois, para alm de ser um dos maiores
atractivos da cultura ldica de entretenimen-
to, est presente nas artes digitais. Quando
confrontados com a ideia: quando olhamos
para o vosso trabalho no h hiptese de saber
quem est por trs de tal construo. Uma
companhia? Uma organizao? Um gang?
isto a possibilidade de anonimato na internet?
Os Jodi respondem: ns apresentamos ecrs
e coisas que esto a acontecer nesses ecrs.
Evitamos explicaes. Olhem para qualquer
exposio: as pessoas procuram as placas de
informao ao lado dos trabalhos artsticos,
antes de olharem para os trabalhos. Querem
saber quem fez a pea, antes de terem uma
opinio sobre esta. o que tentamos evi-
tar
13
.
O processo de triagem e mapeamento do
jogador na matriz sempre um processo de
descodificao e apropriao do espao vir-
tual. Nos first person shooters deparamos com
uma maior possibilidade de agir, embora neste
tipo de performances a narratividade seja
menor do que nos role playing games em
que encarnamos uma personagem e encena-
mos um drama. A imerso na primeira pessoa
privilegia uma maior performance em detri-
mento da narratividade. Nos jogos de aco,
573 ESTTICA, ARTE E DESIGN
o palco do drama de tiros e sobrevivn-
cia, para nos role playing games encontrar-
mos um modo de fazer mundos repleto de
histrias e experincias. O artista, tal como
o realizador de cinema, pode tomar decises
sobre a histria ou histrias, a jogabilidade
e as aces possveis do sistema, o tipo de
design, a tecnolologia a utilizar... mas no
pode deixar de abdicar, na cultura digital
contempornea, da evoluo da sua obra por
caminhos que se bifurcam, misteriosos e
inesperados.
Gonzalo Frasca, na sua tese de mestrado
14
,
prope como cenrio a possibilidade futura
de, num jogo de simulao como os Sims,
ser no s possvel escolher a roupa e a cor
dos cabelos como tambm manipular as
personagens em termos de carcter. O autor
imagina uma Agnes fictcia que joga h
bastante tempo aos Sims e conhece as regras
bsicas da simulao. Agnes sente que seria
importante que as relaes familiares fossem
mais realistas no jogo, por isso escolhe uma
me para a sua familia virtual no menu ainda
imaginrio e potencial: mudana de carc-
ter. Daves Alcoholic Mother version 0.9
foi elaborado por um outro internauta e
escolhido por Agnes para manipulao.
Depois de feito o download 2Agnes insere
a personagem na sua casa Sims constituda
por um casal, trs crianas e um gato. A me
substituda por esta me alcolica e depois
de algum tempo a jogar Agnes conclui que
esta personagem no se coaduna com a
realidade. A personagem vai buscar as suas
bebidas alcolicas ao armrio da sala em vez
de as esconder, o que Agnes considera ser
um comportamento pouco realista, do seu
ponto de vista. Assim, e ainda no domnio
da fico, Agnes faz o download de outra
personagem: Dorothy Alcoholic Methodist
Mother version 3.2. Ao fim de algum tempo
percebe que esta me tambm no credvel
e decide, atravs de um editor, fazer algumas
alteraes no cdigo e gravar a sua verso
modificada para manipulao no menu de per-
sonagens. Temos desta forma uma Agnes
Alcoholic mother 1.0 inspirada na Dorothy
Alcoholic Methodist Mother version 3.2. A
imaginao de Gonzalo Frasca prodigiosa
mas este, parece-me, o caminho para o qual
se dirigem muitos videojogos.
Augusto Boal took Brechts ideas
much further and created a new form
of theater that literally blurred the
fourth wall, by allowing the
audience to become actively involved
on the play. (Frasca, 2001: 61)
Estranhamente, com tanta fico e ima-
ginao o autor apela ao realismo e teatro
da vida, socorrendo-se de Bertold Brecht e
dos brasileiros Augusto Boal e Paulo Freire
para propor os seus videojogos dos oprimi-
dos
15
. No deve ser alheio a este facto
Gonzalo Frasca ter nascido no Urugai. E,
curioso notar, como nos diz, que Augusto
Boal, quando exiliado na Europa, encontrou
uma audincia muito diferente daquela a que
estava habituado no Brasil, isto , se no Brasil
as pessoas resolviam mesmo as suas ques-
tes pessoais no palco, na Europa, a simu-
lao era bem mais abstracta e as suas
tcnicas foram dificeis de adaptar aos pro-
blemas burgueses dos pases ricos. Ser que
algum dia o designer se vai deparar com um
mido que lhe pede que desenhe jogos menos
realistas porque das misrias da vida est ele
farto? Como certo adolescente, que uma
semana depois de propor professora de
portugus ler Alves Redol, lhe entrega o livro
com a seguinte frase: sabe, professora,
melhor ler outro livro porque para misrias
j basta a minha vida.
(...) in solitary or private play children
create cultures of play that are virtual
worlds not mundane worlds, and often
with not much obligation to the latter.
(...) The unreal worlds of play and
festival are like that of the novel or
the theater. They are about how to
react emotionally to the experience of
living in the world and how to
temporarily vivify that experience by
transcending its usual limits (Sutton-
Smith, 1997: 155-59).
Os jogadores de personagens analisados
pelo socilogo francs, Laurent Trmel,
preferem o mundo da fantasia, a capacidade
dramtica tirania da realidade. A ideia
improvisar uma boa histria, seja ela um
drama, uma comdia... A coerncia e reali-
dade envolvidas so absolutamente secundri-
574 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
as: misturam-se pocas e fases histricas num
mesmo caldeiro lrico. O potencial teatral
de tais actuaes colectivas enorme e, tal
como um livro, capaz de transportar para
o seu interior o leitor. Estes jogos apelam
temtica da evaso, promovendo nos seus
participantes a ideia de possibilidade de fuga
realidade. Uma voz constante nestes
fazedores de mundos: quando eu leio algu-
ma coisa, geralmente um pouco para sair
da realidade
16
. Da mesma forma a simula-
o das diferentes personagens mgicas, que
vo adquirindo competncias no jogo, so es-
colhidas de acordo com imaginrios extra-
terrestres, da fico cientfica, paranormais
e afins. No se reproduzem os diferentes
papis da vida real, como nos Sims e
maneira da comdia da vida, como nos relata
Erving Goffman, mas antes se utilizam estes
para um ensaio de potencialidades mgicas
e rituais.
What is this changed way of thinking?
To summarize: first, there is no cen-
tral representation; second, control is
distributed throughout the system;
third, behaviors develop in direct
interaction with the environment
rather than through an abstract model;
and fourth, complex behaviors emer-
ge spontaneously through self-
organizing, emergent processes
(Hayles, 1999: 213)
Criar dispositivos e engenhos de inteli-
gncia artificial que estudam e replicam as
aces do sujeito e permitem capturar a
estrutura lgica do processo no uma forma
de criar modelos de evoluo mas a evolu-
o em si, diz-nos N. Katherine Hayles
17
. Os
agentes artificiais, incorporados no meio das
nossas marionetas e personagens nos jogos
que jogamos, descobrem o mundo atravs das
suas interaces com o ambiente. Estes
autmatos vo sendo criados sem deterem
qualquer representao central do mundo, sem
imagens nem comportamentos pr-programa-
dos. Estes programas no imitam mas antes
simulam comportamentos, interaces, mo-
mentos. O jogo sofre um processo de mutao
e o nosso corpo reorganiza-se para acolher
novos padres tactis, quinestsicos, visuais
e sonoros, provenientes da interaco com
o computador. Para Rodney Brooks do MIT,
citado por N. Katherine Hayles, uma vez
descoberta a essncia do ser e da sua forma
de reagir, os problemas de comportamento,
linguagem, aplicao e conhecimento apli-
cados tornam-se fceis de simular. Da essn-
cia, para os estudiosos da vida artificial,
fazem parte a habilidade para o movimento
num ambiente dinmico, a capacidade de
sentir a envolvente e os arredores e um grau
suficiente para se chegar preservao da
vida e reproduo.
O que resulta deste sistema? Primeiro: no
h uma representao central. Segundo: o
controlo est distribudo pelas vrias com-
ponentes. Terceiro: os comportamentos de-
senvolvem-se em directa interaco com o
ambiente em vez de se basearem num modelo
abstracto. Quarto: comportamentos comple-
xos emergem espontaneamente atravs de um
processo de auto-organizao emergente. A
possibilidade de um sistema integrado que
aprende a pensar atravs das experincias do
corpo, resolvendo progressivamente objecti-
vos abstractos, leva-nos a repensar as nossas
noes sobre a inteligncia, diz-nos N.
Katherine Hayles. O que que permite ao
sistema envolver-se num processo de orga-
nizao auto-regulada? Diferentes nveis de
organizao sistmica, conexo por loops de
feedback, regras locais que, atravs de re-
petidas aplicaes, desencadeiam estruturas
globais emergentes. O utilizador tem, neste
contexto, a capacidade de desencadear no
sistema uma mutao espontnea adquirindo
um status quase semelhante ao do autor
inicial.
(But then, consciousness itself may be
an emergent phenomenon arising from
distributed systems no more
enlightened than the computer
program.) Cog [o robot] meets cogi-
to. (Hayles, 1999: 219)
Um sistema que aprende a pensar atravs
das experincias de um corpo? Mas no
estamos perante o programa da Fenome-
nologia da Percepo, de Merleau-Ponty?
No a fenomenologia o estudo das essn-
cias? O estudo da essncia da percepo e
da conscincia?
18
Partindo do pressuposto que
o real um tecido slido e que o mundo
575 ESTTICA, ARTE E DESIGN
no aquilo que se pensa mas aquilo que
se vive, a unidade do objecto/mundo funda-
se no pressentimento de uma ordem eminen-
te que d resposta a questes apenas latentes
na paisagem. num processo de captura do
mundo que o ndividuo constri e resolve os
seus problemas. Os estmulos e sensaes
provenientes do exterior fornecem a este
corpo uma vaga inquietude, organizam os ele-
mentos que at a no pertencem ao mesmo
universo e que por essa razo no podem
ser associados (Merleau-Ponty, 1945: 24-25).
Eliminamos, na nossa relao com o mundo,
segundo Merleau-Ponty, criticando detalha-
damente a escola empirista e intelectualista, a
ideia de que a ateno, a ateno ao que nos
rodeia, no cria nada. Considera-se, neste caso,
que a ateno cria um campo perceptivo ou
mental que o homem pode dominar atravs dos
seus movimentos e exploraes. A ateno no
, uma associao de imagens, a memria
forrada com os seus objectos, mas antes a
constituio activa de um objecto novo que
explicita e constri o que ainda no tinha sido
oferecido ao corpo seno como horizonte
indeterminado (Merleau-Ponty, 1945: 36-39)
19
.
Je peux donc minstaller, par le moyen
de mon corps comme puissance dun
certain nombre dactions familires
dans mon entourage comme ensemble
de manipulanda, sans viser mon corps
ni mon entourage comme des objects
au sens kantien, cest--dire comme
des systmes de qualities lies par une
loi intelligible, comme des entits
transparentes, libre de toute adhrence
locale ou temporelle et prtes pour la
dnomination ou du moins pour un
geste de dsignation (Merleau-Ponty,
1945: 122).
O campo fenomenal no um mundo
interior, o fenmeno no um estado de
conscincia ou um facto psquico, a reali-
dade existe para ser percepcionada. A expe-
rincia dos fenmenos no uma
instrospeco ou uma intuio, como dizia
Berkeley
20
. Merleau Ponty apela-nos para a
destruio da ideia de exterior como
conceptualizao prvia, como projeco na
mente, atravs da experincia do corpo como
representao (Merleau-Ponty, 1945: 90-99).
necessrio passar das teorias de um conhe-
cimento dos factos psicolgicos e fisiolgi-
cos, ao reconhecimento do evento anmico
como processo vital inerente nossa expe-
rincia. A unio da alma e do corpo no
resolvida atravs de um decreto arbitrrio entre
dois termos exteriores (objecto e sujeito), est
explcita em cada instante no movimento da
existncia (Merleau-Ponty, 1945: 105). Este
corpo, no mais um objecto do mundo mas
um meio na nossa comunicao com ele. O
mundo deixa de ser a soma de objectos do pen-
samento cartesiano para se transformar no
horizonte latente da nossa experincia. Um
presente sem pensamento determinante. O
espao corporal um espao interior, um fundo
sobre o qual pode surgir o objecto como
princpio de aco. O homem, tal como o actor,
no toma como reais situaes imaginrias mas
inversamente serve-se do corpo real e da sua
situao vital para o fazer respirar, falar e cheirar
no imaginrio (Merleau-Ponty, 1945: 110-22).
Cada estimulao corporal acorda no
homem no um movimento efectivo mas um
tipo de movimento virtual. A parte sensibi-
lizada sai do anonimato e anuncia atravs de
uma tenso particular e com a fora da aco,
o quadro do dispositivo anatmico. O corpo
, neste contexto, um centro de aco virtual,
e a existncia espacial uma condio primor-
dial de toda a percepo viva (Merleau-Ponty,
1945: 126). A percepo e o movimento
formam um sistema que se modifica como
um todo e atravs de uma concertao de
gestos e sentidos que os orgos do corpo
prprio exploram o mundo como um sistema
integrado, em que o controlo est distribuido
pelos diferentes membros. O tctil puro ou
a viso pura seriam sempre, para Merleau
-Ponty, experincias e fenmenos patolgi-
cos, pois no h um gesto tctil e uma ex-
perincia visual per si, mas antes uma ex-
perincia integrada onde impossvel
discernir os diferentes estmulos e proveni-
ncias sensoriais.
increase ball speed 3x doubles pain
execution time almost unblockable
ricochet quadruples pain execution
time Pain execution time? What
kind of pain? What kind of execution?
Its really about getting the body
involved (Lockridge, 2002
21
)
576 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
PainStation uma consola e um software
que inflige dor ao jogador. A ideia partiu de
dois designers alemes, Tilman Reiff e Volker
Morawe, enquanto estudantes da Academy of
Media Arts de Colnia. O jogo uma verso
do Pong dos anos 70, jogo electrnico de
tnis de mesa. O conceito simples. Dois
jogadores atiram bolas um ao outro na mesa
da consola. A mo esquerda posiciona-se em
cima de um sensor, de nome PEU, isto ,
Pain Execution Unit. Quando ambos os
jogadores posicionaram a sua mo esquerda
no contacto elctrico, o jogo comea. O tipo
de dor infligida no Painstation, e a sua
durao, varia consoante o lugar onde as bolas
batem. Assim, tanto pode ser uma lmpada
que queima a mo, como um circuito elc-
trico que lhe d electrochoques ou saces.
Neste jogo, dois jogadores oponentes tentam,
por um lado, defender-se e sofrer o mnimo
de dor possivel, por outro, infligir ao seu
oponente o mximo de dor possivel. Uma
relao sado-masoquista entre oponentes na
mesa? O jogo acaba quando um dos joga-
dores decide que a dor demasiado insu-
portvel e tira a mo do PEU. A inteno
dos autores deste projecto era fazer um
objecto artstico que juntasse as suas voca-
es para o jogo e para a tecnologia, fazendo
do acto, e da experincia de jogar, algo de
mais realista. Os jogadores que no se
importam com um pouco de dor acham este
projecto absolutamente viciante... e as suas
mos podem sair da experincia com ndu-
los e queimaduras reais
22
.
How far has self-organization
proceeded? I no longer know which
voice is speaking. (Hayles, 1999: 213)
Ora, no esta a essncia que o robot,
o autmato, o software, e os estudiosos da
vida artificial pretendem simular? No este
o processo de apreenso e captura do homem
no mundo? No esta a forma ou frmula,
de que nos fala N. Katherine Hayles, com
a qual o nosso corpo toma conscincia da
sua envolvente em interaco com o ambi-
ente? Seria talvez necessrio estimular toda
uma discusso volta do conceito de inte-
ligncia e conscincia, o que est fora do
mbito deste texto, mas uma coisa me parece
mais ou menos evidente que um dia, algures
neste sculo, o jogo vai tomar conta das
nossas existncias, e propor-nos um palco de
simulao e no a simulao da realidade,
de que nos fala Jean Baudrillard no livro
Simulacros e Simulao.
577 ESTTICA, ARTE E DESIGN
Bibliografia
A.A.V.V., (editado por) Bureaud, Magnan,
Annick e Nathalie, Connexions, Art, Rseaux,
media, cole Nationale Suprieure des
Beaux-Arts, Paris, 2002.
Berkeley, G., Principles of Human
Knowledge, Ed. Howard, London, 1710.
Blumenberg, Hans, Work on Myth, The
MIT Press, Cambridge, 1990.
Deleuze, Gilles, Guattari, Flix, A
thousand plateaus, Athole Contemporary
European Thinkers, London, 2002.
Foucault, Michel, O que um autor?,
Edies Vega, Lisboa, 2002.
Frasca, Gonzalo, Videogames of the
oppressed: videogames as a means for critical
thinking and debate, tese de mestrado in-
dita, 2001.
Goffman, Erving, A apresentao do Eu
na Vida de Todos os dias, Relgio Dgua,
Lisboa, 1959.
Landow, George P., Hypertext 2.0, the
convergence of contemporary critical theory
and technology, The Johns Hopkins
University Press, London, 001.
M e r l e a u - P o n t y , M a u r i c e ,
Phnomnologie de la Perception, ditions
Gallimard, Paris, 1945.
Ryan, Marie-Laure, ed. by, Ciberspace
textuality, Computer Technology and Literary
Theory, Indiana University Press, Indiana,
1999.
Sutton-Smith, Brian, The Ambiguity of
Play, Harvard University Press, Cambridge,
1997.
Trmel, Laurent, Jeux de rles, jeux
vido, multimdia, les faiseurs de mondes,
Presses Universitaires de France, Paris, 2001.
_______________________________
1
Este documento foi elaborado no quadro do
projecto de investigao Trends on Portuguese
Networks Culture, projecto financiado pela FCT/
POCTI/33436/com.1999.
2
Bolseira de doutoramento da FCT na Uni-
versidade Nova de Lisboa, Faculdade de Cincias
Sociais e Humanas.
3
Landow, George P., Hypertext 2.0, The Johns
Hopkins University Press, 1997, p. 114.
4
Keep, J. Christopher, The Disturbing
Liveliness of Machines, in Ciberspace Textuality,
Computer Technology and Literary Theory, Indi-
ana University Press, 1999, p. 175. http://
www.etoy.com e http://www.etoys.com/etoys/
index.html.
5
Richard, Birgit, Etoy contre eToys,
Connexions, Art, Rseaux, media, cole Nationale
Suprieure des Beaux-Arts, Paris, 2002, pp. 91-114.
6
Deleuze, Guattari, Gilles, Flix, A thousand
plateaus, Athole Contemporary European
Thinkers, 2002, p.23.
7
http://museumofsex.com/projects/more.html
ou www.mosex.com.
8
Ryan, Marie Laure, Beyond Myth and
Metaphor, the case of narrative in digital media,
2001, in http://www.gamestudies.org/0101/ryan/
9
Jord, Sergi, Faust Music On Line
Creacin musical colectiva en Internet, 1998, in
http://www.iua.upf.es/~sergi/virtualia.htm
10
http://www.iua.upf.es/~sergi/FMOL/
fmoltrio/history_fmol.htm; http://www.neural.it/
english/sergijorda.htm.
11
http://www.artmuseum.net/w2vr/timeline/
Jodi.html.
12
http://map.jodi.org/; www.jodi.org
13
http://www.heise.de/tp/english/special/ku/
6187/1.html.
14
www.ludology.org.
15
Frasca, Gonzalo, Videogames of the
oppressed: videogames as a means for critical
thinking and debate, 2001, tese de mestrado in-
dita, p. 60.
16
Trmel, Laurent, Jeux de rles, jeux vido,
multimdia, les faiseurs de mondes, Presses
Universitaires de France, 2001, p.138.
17
Hayles, N. Katherine, Artificial Life and
Literary Culture, in Ciberspace Textuality,
Computer Technology and Literary Theory, Indi-
ana University Press, 1999, pp. 206-212.
18
Merleau-Ponty, Maurice, Phnomnologie
de la Perception, ditions Gallimard, 1945 (Avant-
Propos).
19
Entre le sentir et le jugement, lexprience
commune fait une diffrence bien claire. Le
jugement est pour elle une prise de position, il
vise connatre quelque chose de valable pour
moi-mme tous les moments de ma vie et pour
les autres esprits existants ou possibles; sentir, au
contraire, cest se remettre lapparence sans
chercher la possder et en savoir la verit
(Merleau-Ponty 1945: 42-43). A percepo , neste
contexto, a interpretao dos sinais exteriores e
estmulos corporais. A imaginao , para
Merleau-Ponty, uma forma de julgar e no um
estado imanente do sensvel antes de todo o
julgamento. A sensao pura, define-se pela aco
dos estmulos sobre o nosso corpo, e sentir esta
comunicao vital com o mundo que nos possi-
bilita a sua presena como lugar familiar da nossa
vida. Sentir , neste contexto, um tecido inten-
578 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
cional que o esforo do conhecimento procura de-
compor (Merleau-Ponty, 1945:65).
20
Berkeley critica a estranha doutrina das
ideias abstractas e a matria prima em Aristteles,
pois considera que a matria no vive indepen-
dentemente da mente. Para Berkeley, tanto as
qualidades primrias como secundrias da mat-
ria, so criaes da mente e no existem fora desta.
Ver Treatise Concerning the Principles of Human
Knowledge (Berkeley, 1970:15-17).
21
Lockridge, Rick, PainStation: gaming till
it hurts, a video game thats literally a pain to
play 2002, in http://abcnews.go.com/sections/
scitech/TechTV/techtv_paingame020422.html
22
http://www.painstation.de/.
ht t p: / / www. wi r e d. c om/ ne ws / ga me s /
0,2101,50875,00.html?tw=wn_story_related.
http://www.techtv.com/extendedplay/story/
0,24330,3382064,00.html.
579 ESTTICA, ARTE E DESIGN
O Museu Virtual:
as novas tecnologias e a reinveno do espao museolgico
Rute Muchacho
1
Un nouveau type dartiste apparat,
qui ne raconte plus dhistoire.
Cest un architecte de lespace des
vnements, un ingnieur de mondes
pour des milliards dhistoires venir.
Il sculpte mme le virtuel.
(Levy, 1998: 145)
O desenvolvimento das Tecnologias da
Informao e da Comunicao (TIC) e as con-
sequncias da sua massificao na Sociedade
actual so cada vez mais ponto de anlise
e reflexo. O potencial social das TIC e os
efeitos que produzem na forma de pensar e
de agir de cada indivduo so, de acordo com
alguns autores (Castells, 2002), indiscutveis.
Este trabalho tem dois objectivos essen-
ciais:
- definio e discusso do conceito de
museu virtual;
- definio das formas possveis de
materializao desse conceito atravs do
recurso s TIC.
A sua apresentao desenvolve-se ao
longo de dois aspectos centrais para a
temtica:
- utilizao das TIC como instrumento
de comunicao entre o museu e o seu
pblico;
- utilizao das TIC como instrumento
de transformao do espao expositivo
material e imaterial do museu.
O museu, como importante meio de
comunicao, tem de aproveitar todo este de-
senvolvimento comunicacional e tecno-lgi-
co, no sentido de satisfazer as novas corren-
tes da museologia que se esto a debruar
sobre o papel do museu na sociedade actual.
2
A instituio museolgica sofreu grandes
alteraes e foi alvo de salutar discusso
3
que
motivou novas formas de pensar o museu,
havendo agora a conscincia de que neces-
sita de se libertar do espao tradicional e
limitado, para se tornar acessvel ao grande
pblico. A ateno e a educao do pblico
es un labor clave, que exige un planeamen-
to diario y hasta una invencin y redefinicin
de la calidad de sus servicios, acrecentada
esta necessidad por el protagonismo que h
adquirido el visitante y su entusiasmo
creciente por el consumo que le ofrecen estas
instituciones culturales (Fernandez,
1999:126). O museu tem de se adaptar s
necessidades da Sociedade actual, em cons-
tante mutao. As novas correntes
museolgicas no surgem como um substi-
tuto Museologia tradicional, mas como uma
nova forma de entender o espao museal.
Como afirmou Mrio Moutinho no foi a
Museologia tradicional que evoluiu para uma
Nova Museologia mas sim a transformao
da sociedade que levou mudana dos
parmetros da Museologia (1989:102).
O museu da actualidade est a enfrentar
um desafio constante e primordial:
- a comunicao com o seu pblico.
O espao fechado em si prprio, criado
com o objectivo principal de preservar e sal-
vaguardar um patrimnio,
4
est a alterar-se
para ser capaz de transmitir um conceito e
de possibilitar aos diversos pblicos expe-
rincias sensveis atravs da interligao com
o objecto museal. Como defende Varine
no contacto sensorial entre o homem e o
objecto que o museu encontra a sua justi-
ficao e por vezes a sua necessidade
(1992:52).
O discurso expositivo tem de possuir uma
relao clara com aquilo que se expe. O
novo pensamento museolgico veio trazer
novos desafios expografia, criando a ne-
cessidade de novas formas de expor, o
desafio que se coloca o de introduzir no
museu o utenslio da forma ( no herdada,
mas constituda como obra de arte, enten-
dida nos sentidos referidos) como suporte
para a comunicao das ideias (Moutinho,
1994:20).
A exposio vista como uma ambincia,
na qual os objectos so colocados num
580 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
determinado contexto, de forma a se poder
comunicar determinada mensagem ao visi-
tante. O sentido do objecto exteriorizado
pelo seu contexto. O conceptor da exposio
v o percurso expositivo como um conjunto
de objectos colocados de forma concreta,
tendo como fim a trans-misso de determi-
nada mensagem, mas, no entanto, cada visi-
tante integra experincias prvias e as suas
prprias expectativas e interesses em relao
determinada exposio.
5
O museu tradicional no consegue trans-
mitir todo o seu valor atravs da visita,
fechado sobre si prprio e preocupado so-
bretudo com a coleco e salvaguarda de
objectos, no conse-gue desempenhar a sua
funo mais enriquecedora e fundamental:
comunicar com o pblico.
As TIC so um instrumento precioso no
processo de comunicao entre o museu e
o seu pblico. A sua utilizao como com-
plemento de uma exposio vem facilitar a
transmisso da mensagem pretendida e cap-
tar a ateno do visitante, possibilitando uma
nova viso do objecto museolgico.
Esta nova realidade levanta uma questo
pertinente: the tension between the museum
as a site of uplift and rational learning as
opposed to one of amusement and spectacle
(Griffiths, 2003: 376). Os museus podem ser
mais atractivos para o pblico se disponibili-
zarem mais informao e entretenimento, ou
a combinao dos dois edutainment
constituindo um espao atractivo, com ca-
pacidade para alargar e multiplicar as expe-
rincias sensoriais e cognitivas que cada
sujeito pode usufruir.
As instituies museolgicas esto a
esforar-se por possuir um site institucional
de forma a transmitir ao grande pblico
informao sobre o contedo do seu acervo
e sobre as actividades culturais desenvolvi-
das no seu espao. O museu est a ser
democratizado, tornando-se facilmente aces-
svel em qualquer parte do mundo.
O museu virtual uma realidade nova
na museologia, mas existem poucos estudos
sobre esta temtica, embora se tivesse assis-
tido nos ltimos anos a uma proliferao do
uso do conceito. Muitas vezes o que
intitulado de museu virtual apenas um site
informativo sobre as actividades do museu,
esquecendo as potencialidades e novas pers-
pectivas das TIC face aos museus, em es-
pecial na forma como expem os objectos
e comunicam com o pblico.
Ao visitar um museu, via Internet ou CD-
ROM, fica-se com nova viso do espao
museolgico. A visita desenrola-se num ecr
e comandada pela escolha do visitante
virtual, de acordo com as suas necessidades.
As barreiras fsicas entre os objectos e os
visitantes so dominadas, o mesmo aconte-
cendo obrigatoriedade de seguir determi-
nado percurso. Como defende Alison Griffiths
such technologies have changed the physical
character of the museum, frequently creating
striking juxtapositions between nineteenth-
century monumental architecture and the
electronic glow of the twenty-first century
computer screen. Via the World Wide Web,
the museum now transcends the fixities of
time and place, allowing virtual visitors to
wander through its perpetually deserted
galleries and interact with objects in ways
previously unimagined. Na verdade, quase
que podemos afirmar que se realiza uma nova
visita, abrangendo determinados objectos e
percursos expositivos que no foi possvel
realizar no museu tradicional. Quando se passa
para o campo virtual, o campo de aco alarga-
se, dando origem a mltiplos percursos
interactivos. O visitante assiste imposio
de um espao tecnolgico, ou melhor, do
tecnolgico como espao, como palco, por
excelncia, da abertura dos possveis da
experincia o ciberespao (Cruz, 1998:12).
O objecto museolgico abre-se expe-
rincia esttica atravs do virtual, atravs de
um artifcio: a imagem virtual.
A expresso imagem virtual engloba as
imagens numricas e a ideia de simulao
do real. Como afirma Jean Baudrillard j
no existe coextensividade imaginria: a
miniaturizao gentica que a dimenso
da simulao. O real produzido a partir
de clulas miniaturizadas, de matrizes e de
memrias, de modelos de comando e pode
ser reproduzido um nmero indefinido de
vezes a partir da. (...). Na verdade, j no
o real (...) um hiper-real, produto de
sntese irradiando modelos combinatrios
num hiperespao sem atmosfera (1981: 8).
O museu virtual vai dissociar o objecto
museolgico da sua aura, materializando-o
sob a forma de imagem virtual, ou seja, de
581 ESTTICA, ARTE E DESIGN
artifcio. Como defendeu Walter Benjamin o
que murcha na era da reprodutibilidade da
obra de arte a sua aura.(...) Poderia
caracterizar-se a tcnica de reproduo
dizendo que liberta o objecto reproduzido do
domnio da tradio. Ao multiplicar o repro-
duzido, coloca no lugar de ocorrncia nica
a ocorrncia em massa. Na medida em que
permite reproduo ir ao encontro de quem
apreende, actualiza o reproduzido em cada
uma das suas situaes (1992: 79).
Esta realidade sugere um novo meio de
contemplao. Os pincis e as cores so
substitudos pelo rato e pelos pixels. O virtual
renova o estatuto da imagem e a sua relao
com a arte. Este museu, sem muros nem
coleces, sustm-se na manipulao de
artifcios. A progresso faz-se de pgina em
pgina, como se andasse de galeria em
galeria, interagindo com os objectos e
mudando o percurso expositivo.
O museu virtual cria uma nova realidade
na comunicabilidade esttica entre o museu
e o seu pblico. A utilizao das TIC para
a criao desta nova realidade museolgica
integra o conceito de interactividade no per-
curso museolgico e possibilita ao visitante
vrias alternativas de fruio. Ao poder
escolher e interagir tem uma experincia
prpria do espao museolgico. Como ex-
plica Ruth Perlin works of arts, their
contexts, and their display arrangements are
being electronically transported out of the
exhibit spaces to be examined and visited in
homes and other settings by individual who
may never enter the art museum (1999:84).
O visitante deixa de ser um sujeito passivo,
que apenas reage mensagem que lhe
transmitida, passando a ser incentivado a
participar e interagir com o espao. Cada
visitante pode criar o prprio percurso
expositivo de acordo com a sua experincia,
gostos pessoais e a sua cultura. O criador
do projecto expositivo tem a sua forma ideal
de percurso para compreenso de uma obra
ou transmisso de determinado conceito, mas
cada visitante tem o direito de fazer uma
experincia prpria da obra. A tecnologia vem
desafiar o visitante a participar, a intervir
fisicamente, originando interpretaes parti-
culares do espao museolgico. A exposio
virtual vem facilitar a recepo informativa,
pedaggica e esttica do objecto museal.
Os objectos museolgicos esto todos
acessveis, constituindo um gigantesco arqui-
vo ao qual se pode aceder por um compu-
tador ligado WWW. A possibilidade de ter
objectos em exibio on-line proporciona que
toda a coleco esteja acessvel, em qualquer
momento, podendo ser utilizada de vrias
formas e atravs de diversos meios de co-
municao. O controlo da informao em
redes permite aceder totalidade do arquivo,
constituindo-se uma nova memria artificial.
Para a obra de arte transmitir a sua
mensagem, tem de existir uma relao re-
cproca entre trs conceitos fundamentais: a
esttica, o museal e o virtual.
A esttica ocupa-se da experincia do
sensvel, o museal expe esse objecto que
ir desenvolver essa experincia sensorial e
o virtual, atravs de artifcios, consegue
comunicar com o sujeito (receptor da obra).
As TIC apresentam-se como mediadoras
entre o museu e a obra de arte, no entanto,
tanto o mediador, como o mediado, conver-
gem no artifcio. A obra de arte representada
pelo artifcio e as TIC utilizam-no de forma
a possibilitar a experincia esttica. Como
defende Jos Bragana de Miranda a arti-
culao da tcnica e da esttica so duas faces
do mesmo processo de linearizao do real
pelo cdigo digital (2003: 300). O sujeito,
como fruidor de toda a experincia esttica,
, ao mesmo tempo, produtor de realidade.
A arte, o museu e o virtual interagem de
forma a criar uma nova realidade. O virtual
surge como gerador de um novo real. Como
afirmou Deleuze le virtuel ne soppose pas
au rel, mais seulement lactuel. Le virtuel
possde une pleine realit, en tant que virtuel
(1968: 269). O museu virtual existe para alm
do museu tradicional, como seu complemen-
to, como thetre doperations extrieurs
(Deloche, 2001: 234).
A experincia do museu virtual tem os
seus crticos. Para alguns, esta nova reali-
dade pode ser encarada como espao de
diverso que dispersa os visitantes e dificulta
a transmisso da informao. Contudo, no
ser correcto pensar, que atravs da tcnica,
a interveno do sujeito possa desvalorizar
o espao museolgico virtual, pois continua
disponvel a possibilidade de escolha de
vrios percursos expositivos, gerando outras
interpretaes e experincias pessoais.
582 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
O museu virtual essencialmente um
museu sem fronteiras, capaz de criar um
dilogo virtual com o visitante, dando-lhe
uma viso dinmica, multidisciplinar e um
contacto interactivo com a coleco e com
o espao expositivo. Ao tentar representar o
real cria-se uma nova realidade, paralela e
coexistente com a primeira, que deve ser vista
como uma nova viso, ou conjunto de novas
vises, sobre o museu tradicional.
583 ESTTICA, ARTE E DESIGN
Bibliografia
Baudrillard, J. (1981). Simulacros e
Simulao. Lisboa: Relgio dgua.
Bruno, C. (1997). Museologia e museus:
princpios, problemas e mtodos. Lisboa:
Cadernos de Sociomuseologia, n10, Univer-
sidade Lusfona de Humanidades e Tecno-
logias.
Benjamin, W. (1992). A obra de arte
na era da reprodutibilidade tcnica. In Sobre
arte, tcnica, linguagem e poltica. Lisboa:
Relgio dgua, pp.70-113.
Castells, M. (2002). A era da informa-
o : economia, sociedade e cultura . Lis-
boa: Fundao Calouste Gulbenkian.
Cruz, M. (1998). Media Art ou
Mediacracia. In Catlogo de Cyber 98.
Lisboa: pp.11-16.
Deleuze, G. (1968). Difference et
rptition. Paris: Presses Universitaires de
France.
Deloche, B. (2001). Le Muse Virtuel.
Paris: Presses Universitaires de France.
Fiona, C. (2003). The Next Generation
Knowledge Environments and Digital
Collections. Consultado em 23 de Janeiro de
2004, em Museums and the Web: http://
www. archi muse. com/ mw2003/ papers/
cameron/cameron.h tml
Giuliano, G., Morgana C. & Stefania B.
(2003). Make Your Museum Talk: Natural
Language Interfaces for Cultural Institutions.
Consultado em 23 de Janeiro de 2004, em
Museums and the Web: http://
www.archimuse.com/mw2003/papers/gaia/
gaia.html
Griffiths, A. (2003). Media Technology
and Museum Display: a Century of
Accommodation and Conflict. Rethinking
Media Changes. London: MIT Press, pp. 375-
389.
Lvy, P. (1998). Quest-ce que le virtuel?.
Paris: La Dcouverte.
Miranda, J. B. (2003). O Design como
Problema. In Autoria e Produo em Te-
leviso Interactiva. Lisboa: Universidade
Lusfona de Humanidades e Tecnologias, pp.
294-312.
Moutinho, M. (1989). Museus e Socie-
dade: reflexes sobre a funo social do
Museu. Monte Redondo: Cadernos de Patri-
mnio, ULHT.
Moutinho, M. (1994). A construo do
objecto museolgico. Lisboa: Cadernos de
Sociomuseologia, n1, ULHT
Perlin, R. (2000). Media, Art Museums
and Distant Audiences. The Virtual and the
Real, p. 84
Varine, H. (1992). Le muse au service de
lhomme et du developpement. (1969). In Va-
gues: une anthologie de la nouvelle museologie.
Paris: dition W/ MNES, pp. 49-68.
_______________________________
1
Universidade Lusfona de Humanidades e
Tecnologias.
2
Nos nossos dias a funo social do museu
de extrema importncia: a instituio
museolgica vista como instrumento educaci-
onal ao servio do desenvolvimento social, eco-
nmico e cultural.
3
ICOM Conselho Internacional de Museu
(International Council of Museums), um organis-
mo de carcter profissional, institucional e gover-
namental, cujo objectivo principal a promoo e
o desenvolvimento dos museus em todo o mundo.
4
Entenda-se patrimnio como o conjunto dos
bens identificados pelo homem, a partir de suas
relaes com o meio-ambiente e com os outros
homens, e a prpria interpretao que ele faz
dessas relaes (Bruno, 1996: 19).
5
Na perspectiva do visitante a experincia
museal pode ser vista de trs perspectivas:
- perspectiva pessoal relacionada com a
experincia pessoal, conhecimento e motivao;
- perspectiva social de acordo com o
ambiente social em que a visita se realiza;
- perspectiva fsica relacionada com a ar-
quitectura do edifcio e com os objectos que contm.
584 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
585 COMUNICAO AUDIOVISUAL
Captulo V
COMUNICAO AUDIOVISUAL
586 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
587 COMUNICAO AUDIOVISUAL
Apresentao
Manuel Damsio
1
O audiovisual constitui hoje um campo
essencial de produo tecnolgica e uma rea
importante de reflexo e crtica para as
Cincias da Comunicao. O audiovisual ,
antes de mais, um espao de encontro de
vrias formas de expresso sensorial e de
tecnologias que lhe esto associadas. Pode-
mos olhar para o audiovisual, no como uma
disciplina cientfica ou uma tcnica espec-
fica, mas antes como uma expresso que
nomeia uma das reas centrais de construo
da nossa experincia efectiva de mediatizao
do relacionamento com os outros e com as
coisas. Essa rea constri-se com o contri-
buto de cada um dos meios que denomina-
mos de audiovisuais, o conjunto das tc-
nicas que permitem produzir e transmitir a
distncia contedos visuais e sonoros.
No passado era relativamente simples
isolar cada um desses meios e estudar os seus
respectivos efeitos sobre o indivduo e a
sociedade. Esses eram os tempos das teorias
dos efeitos, uma lgica de trabalho durante
muito tempo dominante nas cincias da co-
municao, que enquadrava cada uma destas
tecnologias no mbito de um modelo de
transmisso e recepo massificada de infor-
mao e procurava detectar neste meios e nos
seus mecanismos de controle e produo de
mensagens, os princpios da organizao social
de novas formas de produo e distribuio
do conhecimento e da informao.
O advento de cada novo meio audiovisual
de comunicao de massas anunciava um
aumento na capacidade de persuaso da
tecnologia, e desde o pblico que fugia em
pnico da sala durante as primeiras projec-
es dos irmos Lumire, passando pelos
cidados aterrorizados com o relato, emitido
atravs das ondas da rdio, de uma suposta
invaso extra-terrestre, no faltam na apesar
de tudo curta histria dos meios audiovisuais,
factos que nos recordem da enorme capaci-
dade que estes meios tm de replicar partes
da nossa experincia do real.
Mas se no passado era relativamente
simples enquadrar estes meios sob a pers-
pectiva do fenmeno da comunicao de
massas, actualmente j no podemos cata-
logar com a mesma facilidade o conjunto dos
dispositivos que classificamos como
audiovisuais. A prpria expresso j car-
regava uma forte carga pejorativa na medida
em que tambm passou a denominar os meios
de transmisso em tempo real de informao
visual, como por exemplo o retroprojector
ou o projector de slides, e deixou claramente
de ser a mais adequada a partir do momento
em que, com o advento do vdeo e o de-
senvolvimento cada vez mais acelerado de
estruturas de metadata de representao da
informao, j no podemos com segurana
afirmar que estes meios s representam
informao visual e sonora.
Ao acrescentarmos a palavra comunica-
o expresso audiovisual estamos im-
plicitamente a assumir que estas tecnologias
evoluram no sentido de possibilitar formas
cada vez mais aprofundadas de experincias
subjectivas multimodais que se adaptam s
circunstncias especficas de tempo e espao
do sujeito e s limitaes dessas circunstn-
cias e no dos equipamentos ou formatos em
causa.
O audiovisual evoluiu ao longo da sua
histria, e isto quer nos refiramos aos meios
de massa ou aos mais corriqueiros disposi-
tivos de transmisso local em tempo real, no
sentido de aprofundar o carcter cada vez
menos passivo da experincia que o meio
possibilita ao sujeito. De um conjunto de
tecnologias desenhadas e construdas para
facilitar o acesso, passmos a um conjunto
de tecnologias desenhadas e construdas para
facilitar experincias.
O conjunto dos trabalhos apresentados
nesta mesa do congresso reflecte esta dupla
preocupao com os problemas do acesso e
com os problemas da natureza cada vez mais
interactiva da experincia possibilitada pelo
588 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
meio. Quer estejamos a discutir as novas
formas hbridas de comunicao audiovisual,
como o caso da televiso interactiva, ou
as tecnologias mais tradicionais, como a rdio
ou a televiso, o que est sempre em causa
a capacidade que o meio demonstra de
fornecer ao seu utilizador uma experincia
cada vez mais credvel e adaptada s suas
necessidades e condies reais.
Hoje j no podemos isolar o audiovisual
do conjunto das tecnologias que lidam com
a criao destas experincias subjectivas cada
vez mais ricas e personalizadas. De um tempo
em que nos preocupvamos com a anlise
da infra-estrutura de transmisso, terminais
de recepo e natureza do canal, devemos
agora passar a um novo perodo, em que as
cincias da comunicao se concentrem mais
nas prticas individuais e colectivas de uso
destas tecnologias e menos na forma e
natureza das mensagens que elas produzem.
_______________________________
1
Universidade Lusfona. Coordenador da
Sesso Temtica de Comunicao Audiovisual do
VI Lusocom.
589 COMUNICAO AUDIOVISUAL
Apresentao
Francisco Rui Cdima
1
Em primeiro lugar diria que, numa in-
troduo temtica da comunicao
audiovisual, importa contextualizar a emer-
gncia da Televiso no mbito do dispositivo
histrico-cultural e comunicacional do scu-
lo passado e procurar compreender esse
fenmeno no plano societal, no contexto
jurdico-poltico e cultural do tempo.
Compreender, por exemplo, os mecanis-
mos de apropriao dos media por parte dos
diversos campos de dominao, transforman-
do-os, por vezes em mquinas de propagan-
da, ou em aparelhos ideolgicos de poder,
atravs da imposio de lgicas de consenso
social, cultural e poltico.
Explicitar os contextos mass-mediticos,
quer enquanto processo de enunciao
subsumido num fluxo unvoco de comuni-
cao, quer enquanto fluxo bidireccional em
transio para um dispositivo matricial pon-
to-a-ponto, interactivo.
Pensar, enfim, as relaes entre a tele-
viso e a sociedade, sistema complexo ao qual
a investigao cientfica no tem dado a
devida importncia, apesar de se tratar de uma
complexa temtica, porventura decisiva para
uma percepo mais clara da contempora-
neidade.
Ora sabido que um meio de comuni-
cao, isto , os seus principais actores, or-
ganizam e enunciam o seu discurso em funo
das relaes de poder e das representaes
que se configuram num determinado campo
social e num contexto epocal. No sentido de
se poder pensar o modo como se constitui
o sentido dessa dinmica discursiva, importa
conhecer e compreender a noo de dispo-
sitivo meditico, nas suas diferentes dimen-
ses, que do ponto de vista do emissor
atravs das dimenses tcnica, instrumental
e performativa , quer do ponto de vista da
recepo, percebendo-se a lgica de inflexo
de modelos comunicacionais e dos respec-
tivos campos de mediao a partir da emer-
gncia do conceito de audimetria e das prti-
cas da recepo especficas atinentes ao
campo do telespectador.
Repare-se que as prticas culturais dos
portugueses, nomeadamente no que diz res-
peito ao consumo de televiso tm vindo a
mudar nos ltimos anos. Desde a chegada
da televiso por cabo, foram conquistados
cerca de trs milhes de telespectadores
televiso hertziana, boa parte dos quais
tornaram-se progressivamente telespectado-
res de canais temticos, nas suas diferentes
tipologias.
Claro que uma viso actualizada do
dispositivo televisivo implica problematizar
a prpria inflexo tecnolgica do presente e
nessa perspectiva implica introduzir as pro-
blemticas da evoluo das linguagens e dos
contedos especficos da transio do ambi-
ente analgico para o novo contexto digital.
Vejamos para j a anterior lgica de
difuso ponto-multiponto, especfica do
modelo tradicional de televiso generalista,
que ainda se mantm, apesar da cada vez
maior fragmentao do audiovisual. Neste
modelo de pirmide a comunicao
unvoca, integra uma complexa rede
discursiva vinculante, legitimadora, uma nova
ordem simblica, de certa forma dissuasora,
unilateral, estabelecendo-se assim um mode-
lo contratual, no fundo, uma ordem poltica
e um quadro normativo-cultural, com impac-
to tambm no plano dos comportamentos e
das condutas.
Poder-se-ia referir aqui o texto clssico
de Casetti e Odin, onde se problematiza a
oposio entre Paleo e Neo televiso. Para
estes autores, a televiso foi desde logo
apropriada por uma experincia de comuni-
cao pedaggica, processo que se configu-
rou, nas primeiras dcadas da sua histria,
num contrato com o telespectador, trans-
formando-se assim, claramente a televiso
como uma empresa de escolarizao
alargada o todo o social.
590 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
A televiso prolongava assim a famlia
e a escola, era uma sua extenso, sendo que
nessa altura ver TV era como que um
respeitvel acto social em que todos que-
riam estar comprometidos. Nesta fase a
emisso segmentada de forma muito bvia
nos diferentes gneros tradicionais e a gre-
lha, o velho mapa-tipo tem de facto um
papel estruturante na emisso.
Mas a esta lgica especfica do incio da
televiso, designadamente na Europa, rompe
com o anterior modelo relacional, ao qual
sucede um modelo de contacto, caracteri-
zado por um novo modo de estruturao do
fluxo e pelo esbatimento do fluxo contnuo
clssico, configurado no esteretipo dos
fluxos de programao, dos alinhamentos, das
formas de representao do real. como se
o mundo se tornasse fbula. O discurso
televisivo conduz ao espectculo de
ritualizao do acontecimento e efabulao
sempre violenta do real. Um modelo que se
manifesta atravs da criao de uma cultura-
mosaico e de um contrato de visibilidade e
de legitimao com o telespectador.
Mas tambm o tempo da emergncia
de processos de interactividade entre o
emissor e o receptor. A relao com o te-
lespectador torna-se mais prxima, mais
familiar e mais convivial. Apesar disso,
claro que o tipo de representao do mundo
que a televiso d a ver ainda assim li-
mitada pelo dispositivo clssico, sendo, em
geral, mais conservadora do que as prprias
possibilidades tcnico-discursivas do meio
permitem.
A televiso generalista confronta-se ago-
ra com os seus hbridos interactivos, sendo
este claramente um sintoma de um novo ciclo
em relao ao qual, alis, quer os produtores
de contedos, quer o campo da recepo, se
esto a adaptar progressivamente, ainda que
a formatao de contedos no domnio do
multimdia interactivo tenha aqui uma dificul-
dade maior. De facto, a era digital e a ps-
televiso assentam num novo modelo de co-
municao audiovisual que nos far progres-
sivamente esquecer esse primeiro modelo
unvoco e, de certa maneira, autista, da era
analgica.
Nesta mesa procurar-se- ento, nas
diferentes investigaes, dar um enqua-
dramento crtico, reflexivo, epistemolgico e
ainda jurdico-poltico s prticas, discursos
e procedimentos especficos do objecto
televisivo, quer em referncia aos contedos,
quer no plano histrico e jurdico, configu-
rando e problematizando as tecnodiscursivi-
dades, a instrumentalidade, a performa-
tividade, as estratgias e os contextos de
enunciao, e, enfim, as polticas pblicas.
Pretende-se assim aprofundar neste de-
bate e nas intervenes da mesa de Comu-
nicao Audiovisual algumas questes em
torno de dispositivos de informao de pro-
gramao da era da televiso clssica, das
respectivas mediaes simblicas, discursivas,
tecnolgicas, histricas e jurdico-polticas.
Do mesmo modo se procurar fazer a anlise
de contextos, prticas e regularidades
discursivas e das condies de produo
histrica do real comunicacional, no s no
plano de agenciamento televisivo do mun-
do, como tambm da lei dos sistemas que
orientam o aparecimento de enunciados como
acontecimentos singulares no campo da
videocultura televisiva.
A analtica destes fragmentos do fluxo
televisivo, claramente mais especficos da neo-
televiso, extensiva questo dos modelos
televisivos, do servio pblico de televiso,
passa pelo mbito sociolgico, onde se po-
dem evidenciar designadamente tpicos rela-
tivos a uma esttica e uma poltica da recep-
o, sendo que aqui importa cuidar da inter-
pretao de dados quantitativos atravs de uma
estratgia de investigao onde os estudos
qualitativos possam esclarecer o que a
audimetria esconde, na sua lgica determina-
da pelas dinmicas de mercado e comercial.
Na abordagem das diferentes sries e
acontecimentos monumentos, especficos
da narrativa televisiva e bem assim das
modalidades enunciativas e fluxos que se
estruturam na emisso de ar, procurar-se-
problematizar a emergncia de lgicas de
mediao do dispositivo, designadamente a
partir da configurao de campos, simbli-
cos, culturais e polticos criados a partir da
interaco entre a televiso e a sua recepo.
Por fim, refira-se que a anlise acima
referida das relaes complexas entre te-
leviso e sociedade s poder ter as suas
consequncias atravs de uma analtica
591 COMUNICAO AUDIOVISUAL
porfiada, arqueolgica, do contexto, discur-
sos, modo de recepo e condies de pro-
duo do sentido do objecto televisivo. Essa
analtica naturalmente enquadrada tam-
bm pelas lgicas pblicas e privadas e
ainda pela questo da regulao sectorial,
no mbito da actual dualidade entre ser-
vio pblico e mercado, para alm natu-
ralmente da fragmentao do modelo
audiovisual e da multiplicidade da oferta,
com base nos novos di sposi t i vos
tecnolgicos interactivos.
592 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Bibliografia
Cdima, Francisco Rui,
- Televiso, servio pblico e qualida-
de, Observatrio, n 6, OBERCOM, Lis-
boa, Novembro de 2002.
- Proto e ps-televiso. Adorno,
Bourdieu e os outros ou na pista da
Qualimetria, Revista de Comunicao e
Linguagens, n 30, CECL e Relgio de gua,
Lisboa, 2001.
- O Fenmeno Televisivo, Crculo de
Leitores, Lisboa, 1995.
Casetti, Francesco e Odin, Roger, De
la Palo la no-tlvision. Approche smio-
pragmatique, Communications, n 51, Pa-
ris,1990.
Casetti, Francesco e Chio, Federico di
Anlisis de la Televisin - Instrumentos,
Mtodos y Prcticas de Investigacin, Paids,
Barcelona, 1999.
_______________________________
1
Director do Obercom. Coordenador da Sesso
Temtica de Comunicao Audiovisual do II
Ibrico.
593 COMUNICAO AUDIOVISUAL
El protagonista del nuevo mercado de la
informacin y la comunicacin: el consumidor
Carmen Fernndez Camacho
1
1. Introduccin
El siglo XXI se define como la Era de
la Comunicacin. Vivimos en un mundo cuyo
destino es la globalizacin iniciada a finales
del siglo anterior y caminamos hacia la
Sociedad de la Comunicacin. Perodo ms
competitivo y eficaz en lo que respecta a la
comunicacin que pocas anteriores. En
primer lugar, porque la introduccin de
medios audiovisuales y nuevas tecnologas
ha implicado la entrada en juego de capitales
industriales interesados en potenciar nuevos
bienes de consumo, en la medida en que tales
medios se apoyan en una amplia oferta
comercial. Y, en segundo lugar, porque en
relacin a la prensa, en lo que atae a su
estructura econmica, la aceleracin con que
se producen los cambios resulta mucho mayor
con la entrada de la televisin y,
principalmente, de los satlites de comunica-
ciones.
Por otra parte, la evolucin del mercado
de consumo de la microinformtica hacia el
sector de las comunicaciones anticipa una
nueva reconversin de los sistemas
tradicionales de comunicacin a formas ms
modernas de comunicacin integral, que
mediante el uso de la tecnologa de cable
construido con fibra ptica permite la
transmisin y recepcin por un mismo
vehculo, el telfono, de los mensajes y
seales ms diversos como radio, televisin,
telefax, tlex, teleconferencia, programas,
etctera.
Esto ha dado lugar a que, en la actualidad,
ya hablemos de un nuevo sector econmico,
INFOCOM,
2
cuya referencia inmediata son
las nuevas tecnologas de la comunicacin
y de la informacin. INFOCOM incluye todo
aquello referente a las telecomunicaciones
desde los sectores ms tradicionales hasta
sectores como la produccin de informacin
y contenidos, pasando por la fabricacin de
equipos, terminales y redes as como el
desarrollo de programas informticos. Los
avances en el rea de telecomunicaciones y
el desarrollo de Internet est modificando la
organizacin empresarial, las relaciones de
las organizaciones con el mercado,
distribuidores y consumidores.
Este cambio tecnolgico, entre otros, que
caracteriza el sector de las telecomunica-
ciones, de los medios de comunicacin social
y de las tecnologas de la informacin, indica
el surgimiento de un nuevo paradigma: el
Paradigma de la Convergencia.
3
La evolucin de diferentes aspectos de
la convergencia y de las relaciones que se
establecen entre quienes la asumen, ha dado
lugar a tres dimensiones:
Convergencia tecnolgica de redes y de
equipos;
Convergencia industrial, y
Convergencia de mercados y servicios.
Estas convergencias se basan en una
infraestructura, constituida por sistemas de
componentes, redes y servicios as como
asociaciones de los sectores citados,
telecomunicaciones, medios de comunicacin
social y tecnologas de la informacin, que
contribuyen a la mejora en la entrega de los
servicios de las sociedades de la informacin
a los clientes.
Los cambios que se estn produciendo
en Internet, no obstante, son definidos y
considerados como smbolo y principal motor
de la convergencia. Internet ofrece servicios
a empresas y al pblico en general tales como
el correo electrnico, procesadores de texto,
dictado y generacin de voz, sistemas
expertos, todos ellos considerados como las
formas ms modestas de la inteligencia
artificial, correccin ortogrfica y gramatical,
autoedicin, conferencia online, videoconfe-
rencia o teleconferencia, uno de los usos ms
espectaculares en la transmisin va satlite
en el mbito de las relaciones pblicas, giras
de promocin va satlite, conferencias en red,
entre otros.
4
Precisamente, la simultaneidad
594 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
que caracteriza a World Wide Web es una de
las caractersticas ms destacada de la
convergencia.
Asimismo, la codificacin digital es la
base de la convergencia tecnolgica. La
tecnologa digital convierte en bits la imagen,
el sonido y los datos; compacta la
informacin; aumenta la velocidad de
transmisin y disminuye la frontera entre los
equipos y las redes. No obstante, la tecnologa
digital no slo hace posible la rapidez en la
transmisin sino que tambin facilita la
edicin de esos materiales. Las redes de
televisin, se estn convirtiendo en estructuras
bidireccionales y de elevada capacidad, es
decir, en redes interactivas de banda ancha.
En Espaa, el Plan Tcnico Nacional de
la Televisin Digital Terrenal, aprobado en
1998, dispuso que las estaciones de televisin
con tecnologa analgica cesasen en sus
emisiones antes de 2012 y, adems, estableci
que, si las entidades concesionarias del
servicio de televisin privada lo solicitaban,
como as ocurri, les sera ampliado el
contenido de la concesin para permitirles
la explotacin de su programacin con
tecnologa digital. Con este objetivo, el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de
marzo de 2000, por el que se renovaron las
concesiones de esas entidades privadas,
ampli el contenido de sus concesiones con
la finalidad de permitir simultanear sus
emisiones con tecnologa analgica y con
tecnologa digital, estableciendo la obligacin
de emitir empleando la tecnologa digital en
un plazo no superior a dos aos desde la
renovacin.
De esta manera, las sociedades privadas
de televisin, Gestevisin Telecinco, Antena
3 de Televisin y Sogecable (Canal Plus)
comienzan las emisiones de su programacin
con tecnologa digital el 3 de abril de 2002
en un canal mltiple compartido en el que,
adems, se incluye la programacin de
Radiotelevisin Espaola (La Primera y La
2), en la denominada Red Global de cobertura
Nacional (RGN). Por lo tanto, desde esa fecha
se inicia en Espaa la transicin hacia la
tecnologa digital que finalizar en 2012.
Hasta entonces, los usuarios disponen de
tiempo suficiente para adaptar sus televisores
para la recepcin de las seales digitales
mediante el uso de equipos convertidores
(descodificadores digitales a analgicos), o
adquirir receptores integrados de televisin
digital.
Respecto a la radio digital, Espaa s que
destaca en la cobertura del territorio nacional.
A finales de 2003, el 50% de la poblacin
ya puede escuchar radio digital. Ahora hacen
falta campaas de promocin que den a
conocer la tecnologa digital entre todos los
pblicos, ayudas y condiciones especiales
para fomentar la migracin y un cambio de
mentalidad en los radiodifusores que deben
invertir en el desarrollo de nuevos formatos
de programacin que den un nuevo valor a
la radio del futuro.
La convergencia de las redes fijas y
mviles representa una parte de la plena
integracin de tecnologas con el objetivo de
generar sistemas de comunicaciones digitales
y mviles. Esto es posible si se utiliza la
misma plataforma para recibir un conjunto
de servicios de voz, datos, multimedia y
audiovisuales. Este cambio supone
importantes implicaciones de todos los
sectores que engloban la convergencia.
Asimismo, como resultado de la
convergencia de redes, equipos y servicios
asistimos a la entrada de grupos empresariales
en diferentes reas de negocio o en diferentes
sectores, esto es en la prctica, la
convergencia de mercados donde el
consumidor ha de ser el protagonista.
2. El valor del consumidor
Las telecomunicaciones, junto a la
informtica y el rea audiovisual, conforman
un nuevo hipersector, el de la Informacin,
caracterizado por su fuerte dinamismo y su
influencia como factor de desarrollo
econmico en las sociedades avanzadas. Ante
la nueva situacin global de competencia y
desde todos los frentes los operadores de
comunicaciones han comprendido que su
negocio no puede ser en el futuro el de meros
distribuidores de la informacin.
No obstante, ignorar las necesidades y
deseos del consumidor, es decir, el campo
del comportamiento del consumidor el cual
estudia cmo seleccionan, compran, utilizan
y desechan bienes, servicios, ideas o
experiencias los individuos, grupos y
organizaciones con el fin de satisfacer sus
595 COMUNICAO AUDIOVISUAL
necesidades y deseos, sera un error
considerable ya que el nuevo milenio habla
de los consumidores de tecnologa.
Sin duda, los consumidores cada vez ms
exigentes e informados, junto con las
innovaciones tecnolgicas, estn transforman-
do todos los paradigmas empresariales
mediante la creacin de una nueva ruta hacia
el mercado: la venta electrnica. De lo que
la mayora de las empresas no son conscientes
es que, como consecuencia de esto, aparece
una batalla por la posesin y control de este
nuevo y prometedor canal de distribucin:
las nuevas tecnologas.
Desde un punto de vista economicista, las
redes representan al menos, tres grandes
niveles de transformaciones:
1. La aparicin de nuevos modelos
organizativos: la empresa en red.
2. El establecimiento de alianzas en red;
3. La gestin y el desarrollo de los
negocios (productividad, competencia y
cliente) a travs de la red de redes: Internet.
5
Unos consumidores cada vez ms
exigentes e informados, reforzados por los
avances tecnolgicos, estn dando lugar a un
creciente reto para fabricantes, distribuidores
y minoristas. Hoy en da, los consumidores
son capaces de ejercer ms influencia, e
incluso, controlar la cadena de consumo. De
hecho, la industria est transformndose de
la era de caveta emptor a la era de caveta
vendor.
La venta electrnica surgi a finales de
los aos ochenta, con los quioscos y con la
compra en casa por televisin. Pero en ningn
momento lleg siquiera a amenazar la
posicin de venta por catlogo como el
segundo canal de distribucin en trminos de
volumen. El motivo es evidente, su tecnologa
era an muy limitada. Sin embargo, la versin
de los aos noventa de la venta electrnica
basada sta en interacciones informticas
(Computer/Interactive-Based Electronic
Retailing) sobrepasa a la venta por catlogo
como el segundo canal de distribucin ms
importante despus de la venta en comercio
tradicional, una fuente de preocupacin entre
los comerciantes tradicionales.
CIBER nace a partir de la combinacin
de consumidores con un alto nivel de
conocimientos provistos de las tecnologas
clave. Esta combinacin est provocando un
profundo impacto en el mercado de bienes
de consumo dando rienda suelta y
aumentando el pujante poder de los
consumidores. Con interfaces fciles y
accesibles, y un acceso global, los
consumidores pueden ya:
Obtener acceso directo a mltiples
fuentes de productos, ya sea a travs de
comerciantes, fabricantes o distribuidores,
cambiando el lugar y la manera de tomar
decisiones de compra.
Tener elevada conciencia y conocimiento
antes de comprar.
Sustituir los canales tradicionales por
las crecientes opciones on-line.
Elevar sus estndares de calidad y
servicio, a menores precios.
CIBER implica, fundamentalmente, un
consumidor con ms poder siendo, adems
una estructura nueva, poderosa y llena de
informacin que est cambiando la forma en
que los consumidores realizan sus decisiones
de compra.
Igualmente, la televisin digital, trabaja
en dar al usuario un nuevo concepto de
televisin: la televisin personal. Ofrecer a
cada uno de los consumidores la posibilidad
de disear su ocio de una forma totalmente
personal, facilitndole para ello la oferta ms
completa y diversificada, segmentada en
paquetes bsicos, paquetes temticos, canales
a la carta, pago por visin y cine por encargo.
La televisin es la forma de comunicacin
visual en la vida de hoy en da. A finales
de los noventa, surgi la World Wide Web
de Internet como comunicador visual en
competencia con la televisin. Este hecho ha
provocado el aumento de horas que dedica
el consumidor, como media, al uso de los
medios de comunicacin, y ha causado un
claro trasvase a la bsqueda en Internet de
parte del tiempo que antes se dedicaba a ver
la televisin.
No obstante, los programas de televisin
viven y mueren segn su nivel de audiencia.
La seleccin de programas y de sus
contenidos est dominada por una mentalidad
competitiva, especialmente, entre las grandes
cadenas. Los hbitos televisivos determinan
qu programas van a poder ver todos los
telespectadores. La razn de esto es el dinero.
Las grandes cadenas y los canales locales
determinan el precio de la insercin de la
596 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
publicidad segn el tamao de la audiencia
estimada del programa en que vaya a aparecer
el anuncio. Por tanto, cuanto mayor sea la
audiencia, mayor ser el precio del espacio
publicitario y mayores los beneficios. Incluso
los canales sin nimo de lucro
norteamericanos siguen con cuidado el
tamao de su audiencia, ya que parte de sus
ingresos proceden de las subvenciones que
reciben de algunas organizaciones por emitir
determinados programas.
La fidelizacin del pblico es importante
por lo que se ofrece todo tipo de productos
de informacin y comunicacin para que el
consumidor pueda acceder cuando le
apetezca. Dicho esto, el contenido caracteriza
el negocio. La confusin abri un enorme
potencial de programacin, con el
consiguiente crecimiento de las oportunidades
para las relaciones pblicas. Cuando un
sistema de televisin por cable ofrece ms
de cien canales, como de hecho en Estados
Unidos muchos son capaces de ofrecer, la
necesidad de material para la programacin
es voraz.
Los Grupos de Comunicacin intentan
conseguir un pblico fiel y para ello recurren
a diversas plataformas tecnolgicas. Ahora se
negocia el tiempo teniendo en cuenta a la
audiencia y al espacio pblico. A partir de
los aos 90, los negocios de comunicacin
se definen por sus relaciones, es decir, por
la ocupacin de un espacio pblico en busca
de la fidelizacin as como ofrecer todo tipo
de productos de informacin y comunicacin
para que los consumidores puedan acceder a
stos cuando les apetezca. Por este motivo,
es fundamental que los grupos de
comunicacin mantengan seguidores ligados
a sus ofertas, es decir, a ese conjunto de
servicios que slo el consumidor puede acceder
a l gracias a la oferta del grupo empresarial.
Para ello, podemos distinguir distintas
plataformas tecnolgicas como las ya
mencionadas, la televisin e Internet, pero sin
olvidar, los peridicos, los telfonos mviles,
la radio o las revistas. Desde esta perspectiva
empresarial, negocio ms tiempo, se crea la
base necesaria para conseguir un consumidor
fiel y un determinado espacio pblico.
Desde esta perspectiva, en los prximos
aos asistiremos al final del zapping, que ser
sustituido por la gua de programacin
electrnica o EPG y a la posibilidad de elegir
cada usuario la que quiera, una vez superada
la limitacin cuantitativa de los sistemas
analgicos. Estos elementos constituyen por
s mismos una muestra real del cambio
conceptual que se est produciendo, en
sntesis, calidad versus cantidad.
Por otro lado, los usuarios de Internet
intercambian mensajes con cualquier lugar del
planeta electrnico y navegan por la red
explotando las cantidades masivas de
informacin y de comunicacin que ofrece
un sistema entrelazado de redes informticas
virtualmente libre de ataduras espacio-
temporales. A travs de la World Wide Web
de Internet, la red, miles de empresas,
organizaciones y otros medios de
comunicacin e individuos hablan de s
mismos, venden sus productos y promocionan
sus ideas. Internet es la herramienta ms
fascinante de entre los mltiples nuevos
mtodos electrnicos que con sus
innovaciones est cambiando las
comunicaciones de masas en general y las
relaciones de las empresas con el mercado
en todos los aspectos.
Asimismo, los consumidores mensuales de
radiodifusin va Internet, cuyo perfil
corresponde a la escala superior de ingresos,
representan una gran oportunidad para los
anunciantes y las compaas que desean ofrecer
nuevos dispositivos y contenidos digitales.
6
Durante los tres ltimos aos, la cantidad de
norteamericanos que escuchan las
transmisiones de audio va Internet se ha
triplicado, mientras que la cantidad de aquellos
que ven los videos por Internet ha aumentado
lentamente. El uso de los vdeos a travs de
Internet an no muestra signos de un uso
habitual, aunque va, progresivamente,
avanzando.
Sin duda, las nuevas tecnologas abren
la puerta a la sociedad de la Informacin y
constituyen la clave para hacer negocios en
una economa mundializada. La sociedad de
la Informacin que est construyendo la
Unin Europea debe aprovechar este potencial
econmico, social y cultural para aunar los
aspectos tecnolgicos, econmicos y sociales
en la creacin de nuevas oportunidades para
todos los ciudadanos.
Los consumidores hoy, se muestran ms
dispuestos a pagar una tarifa de suscripcin
597 COMUNICAO AUDIOVISUAL
por acceder a contenidos y programacin
nicos, no accesibles de otra manera. En la
decisin de pago de una tarifa, la ausencia
o menor transmisin de publicidad y mejor
calidad de audio son factores de menor
importancia.
El sector INFOCOM ofrece la posibilidad
de utilizar mltiples redes y plataformas
tecnolgicas con el fin de responder a las
necesidades de los consumidores o clientes
a travs de sus servicios. INFOCOM aumenta
el nivel de satisfaccin y fidelidad del cliente
al tiempo que se reducen costes y
complejidad.
En la actualidad, los medios desempean,
en particular la televisin, cuatro funciones
bsicas: entretenimiento y ocio; informacin
y conocimiento del mundo; contacto social
proporcionando temas de conversacin e
identidad personal y autodefinicin debido
a la comparacin de experiencias.
7
Asimismo, podemos distinguir cuatro
tipos de necesidades de los consumidores o
clientes de una empresa del sector
INFOCOM: necesidades de comunicacin
escrita (correo electrnico), oral y visual (la
teleconferencia); necesidades de informacin
financiera en forma de noticias; necesidades
de entretenimiento (msica y juegos) y
necesidades que implican transacciones,
compra-venta de bienes o servicios.
8
Desde la perspectiva de la demanda, cada
tipo de necesidad tiene adscritas
caractersticas diferentes. Para conseguir una
adecuada segmentacin de las demandas y
necesidades, el producto y servicio ha de
prepararse de acuerdo a aquellos atributos
ms destacados para el consumidor. En cada
tipo de necesidad podemos determinar qu
atributos son los de ms valor para el
consumidor y por eso, ms relevantes.
Los servicios de comunicacin y los
atributos ms destacados para el consumidor
son la integracin entre los diferentes
formatos de comunicacin, por ejemplo,
correo electrnico, telefona mvil, telefona
fija, entre otros. Ahora bien, es necesario tener
en cuenta para la fiabilidad del servicio, la
disponibilidad en el tiempo y espacio.
El autoservicio web permite al
consumidor gestionar algunas de sus
relaciones a travs de la web sin la
intervencin directa de un agente. As, la
aplicacin del autoservicio web permite al
consumidor cambiar su informacin de
contacto o demogrfica; dar parte de
incidencias o reclamaciones; consultar
catlogos de productos o servicios; solicitar
que la compaa se ponga en contacto con
l; solicitar ayuda on-line de un agente en
tiempo real; iniciar pedidos y consultar el
estado de envos, recogidas e incidencias.
Lgicamente, el autoservicio web supone
unas ventajas para el consumidor tales como:
ahorro en costes gracias a la ausencia de
intervencin de agentes; capacidad de
personalizar las acciones automticamente
desde la web y la posibilidad de ofrecer a
cada consumidor/cliente unas posibilidades
de servicio dependiendo de su valor.
Las necesidades de entretenimiento e
informacin son los aspectos ms destacados
en la originalidad y calidad del contenido,
coste y facilidad de utilizacin de interface.
Respecto a los servicios de transacciones,
los atributos ms semejantes a los servicios
de comunicaciones son: seguridad y
fiabilidad, as como poder efectuar una
transaccin de forma simple a cualquier hora
y cualquier lugar.
3. Conclusiones
El panorama actual del hipersector apunta
a que vivimos ya bajo la sombra de la
comunicacin ciberespacial. La convergencia
entre las Telecomunicaciones, la informtica
y los contenidos auguran futuro a las
iniciativas que, durante la ltima dcada del
pasado siglo, vertieron su contenido a la red.
Las redes telemticas afectan,
positivamente, cada vez a ms personas en
el mundo. Incluso las empresas confan en
sus posibilidades y buscan frmulas para
aumentar su tamao a fin de afrontar las
grandes inversiones y competir con xito. Las
principales industrias culturales consideran
que el paradigma de la nueva empresa es
multimedia y tratan de liderar los mercados
de prensa, radio, Internet, multimedia,
discografa, cine, etctera. Para todos, el
mundo global es su zona de actuacin y
buscan acuerdos con empresas informticas
u operadores de telefona, es decir, con
empresas de la nueva economa. Todos
comparten con las tecnologas el inters por
598 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
el contenido y buscan frmulas que aporten
ms capitalizacin y liquidez.
En este escenario caracterizado por la
revolucin tecnolgica en marcha y por la
concentracin empresarial, con grandes
desafos comunicativos, el consumidor/cliente
se ha convertido en el protagonista de una
nueva era, la era digital, y de una nueva
sociedad, la Sociedad de la Informacin.
Los consumidores no slo han modificado
de manera radical sus hbitos en los ltimos
aos, sino que se han vuelto cada vez ms
exigentes. De esta forma, el cliente del tercer
milenio aparece como una persona informada,
sensible a los precios, que cuenta con una
amplia gama de opciones donde elegir, tiene
gustos sofisticados y est acostumbrada a
altos niveles de calidad y de servicio. Ante
este nuevo paradigma, las empresas se
esfuerzan ms para gestionar adecuadamente
las relaciones con sus clientes con el fin de
satisfacerlos y retenerlos.
Las relaciones entre el cliente y la
empresa en la Sociedad de la Informacin
y de las Comunicaciones, pasan a ocupar un
lugar privilegiado. El consumidor/cliente se
ha convertido en el centro y objetivo de todas
las actividades, procesos, personas, estrategias
y sistemas de la empresa. Conseguir un nuevo
cliente y mantener a los actuales supone para
las organizaciones una gran dificultad. De
hecho, captar a un nuevo cliente cuesta entre
cinco y diez veces ms que fidelizar a uno
ya existente. Estos parmetros son aplicables
a todo tipo de empresas, independientemente
del sector en el que se muevan.
Este nuevo mercado de la informacin
y de la comunicacin ha dado lugar a una
nueva estrategia, la estrategia de negocio que
consiste en construir todos los procesos de
la empresa tomando como primera referencia
al cliente/consumidor. El objetivo es construir
relaciones duraderas mediante la comprensin
de las necesidades y preferencias individuales
aadiendo un valor a la empresa y al
consumidor. La estrategia de negocio se
utiliza como base para mejorar la capacidad
de innovacin de la empresa u organizacin
asegurndose que las mejoras y renovaciones
de productos y servicios satisfagan al
consumidor. Para ello, las empresas utilizan
ms de un canal para llegar a sus clientes:
representantes de ventas, atencin telefnica,
internet, extranet,
9
cadena de minoristas,
mayoristas, etctera.
La estrategia de negocio se anticipa a esas
necesidades de los consumidores, incrementa
su fidelidad y rentabilidad, ahorra en costes
de venta gracias a la seleccin del pblico
objetivo y mejora su grado de satisfaccin.
Esto es debido a un incremento en la
eficiencia de la atencin al cliente, a la
reduccin del tiempo en la resolucin de
problemas, en el incremento de frecuencia
de contacto con el consumidor y en su
satisfaccin as como en la conversin de
centro de costes a centro de beneficios.
Emerge, as, una nueva forma de entender
el papel del cliente o usuario por la mayor
capacidad de decisin en periodos de tiempo
cada vez ms reducidos y por la
personalizacin caracterstica de este contexto
donde se combinan los usuarios individuales
e institucionales. Al mismo tiempo se
requieren estudios concretos sobre qu
informacin es solicitada y cmo se pide, si
bien se debe recordar que el criterio
predominante ha de ser el economicista.
599 COMUNICAO AUDIOVISUAL
Bibliografa
Alberto Prez, Rafael, Estrategias de la
Comunicacin, Barcelona, Ariel, 2001.
Alonso Rivas, Jos, Comportamiento del
consumidor, Madrid, Esic Ed., 2000.
Bustamante, Enrique, La televisin
digital: referencias bsicas, en Bustamante,
Enrique y lvarez, Jos M (eds.) Presente
y futuro de la televisin digital, Madrid,
Edipo, 1998.
Castells, Manuel, La galaxia Internet:
reflexiones sobre Internet, empresa y sociedad,
Madrid Editorial De Bolsillo, 2003.
Cebrin, Mariano, La radio en la
convergencia multimedia, Barcelona, Gedisa,
2001.
De Pablos, Jos M., La Red es nuestra,
Barcelona, Paids-Papeles de Comunicacin,
2001.
DAZ, Alberto, /Radio y televisin:
introduccin a las nuevas tecnologas/,
Madrid, Paraninfo, 1990.
Gonzlez Ferrari, Javier, La
digitalizacine es la segunda revolucin del
transistor, entrevista, Madrid, Boletn de
Fundesco 182, noviembre de 1996.
Gual, Joan y RIicart, Joan Enric,
Estrategias Empresariales en telecomunicaciones
e Internet, Madrid, Fundacin Retevisin, 2001.
Kotler, Philip, Direccin de Marketing,
Madrid, Prentice Hall, 2000.
Lpez Nereida y Peafiel, Carmen, La
tecnologa en radio. Principios bsicos,
desarrollo y revolucin digital, Guipzcoa,
Servicio editorial de la Universidad del Pas
Vasco, 2000.
Martnez-Costa, Mara del Pilar, La
radio en la era digital, Madrid, El Pas
Aguilar, 1997.
Martnez-Costa, Mara del Pilar, Un
nuevo paradigma para la radio, en Sala de
Prensa, AoIII, Vol.2, Febrero 2001.
Mayordomo, Juan Luis, Estrategias de
xito en Internet, Barcelona, Ediciones
Gestin 2000, S.A., 2003.
Merayo, Arturo, Nuevas tecnologas en
la radio espaola, Pas Vasco, Revista ZER,
Universidad del Pas Vasco, 1997.
Nascimento, Jos Rafael, Satisfao do
consumidor - o caso da televisao por cabo
em Portugal, Cascais, Principia, 2001.
Pestano, Jos Manuel, La digitalizacin
del medio radiofnico periodstico, La
Laguna, Tenerife, en Revista Latina de
Comunicacin Social, n 37, 2001.
Priestman, Chris, Web radio: radio
production for internet streaming, Oxford,
Focal Press, 2002.
Terceiro, Jos B., La socied@d digit@l.
Del homo sapiens al homo digitalis, Madrid,
Alianza Editorial, 1996.
Wolton, Dominique, Internet Y despus
qu? Una teora crtica de los nuevos medios
de comunicacin, Barcelona, Gedisa, 2000.
_______________________________
1
Facultad de Ciencias Sociales, Jurdicas y
de la Comunicacin, Universidad de Valladolid;
Facultad de Comunicacin y de Turismo,
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
2
Incluye sectores tales como: Medios
Impresos, Radio, Televisin, Cine, Vdeo,
Telecomunicaciones, Multimedia y tecnologa de
la Informacin y de las Comunicaciones.
3
Convergencia se define como las capacidades
de diferentes plataformas de red para servir de
vehculo a los servicios esencialmente semejantes
o a la unin de equipos terminales para uso del
consumidor, como el telfono, la televisin o el
ordenador.
4
Juan Luis Mayordomo, Estrategias de xito
en Internet, Barcelona, Ediciones Gestin 2000,
S.A., 2003.
5
Rafael Alberto Prez, Estrategias de la
Comunicacin, Barcelona, Ariel, 2001, p.585.
6
Si toda la audiencia actual de audio de
Internet fuese vendida el da de hoy como una
sola red de radio, sta generara hasta 54 millones
de dlares al ao en ingresos de publicidad.
7
Jos Rafael Nascimento, Satisfao do
consumidor - o caso da televisao por cabo em
Portugal, Cascais, Principia, 2001.
8
Joan Gual y Joan Enric Ricart, Estrategias
Empresariales en telecomunicaciones e Internet,
Madrid, Fundacin Retevisin, 2001.
9
Ext ranet s son redes ext ernas de
colaboracin que utilizan tambin la tecnologa
Internet. Para algunos es una parte de las
Intranets de la empresa que se hacen accesibles
a otras empresas u organizaciones. Es una
conexin entre empresas a travs de Internet,
una herramienta que permite la colaboracin
entre las mencionadas. Son comunicaciones
entre empresa y proveedores, de empresa a
empresa, de empresas a consumidores.
600 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
601 COMUNICAO AUDIOVISUAL
Televiso Digital e Interactiva: o desafio de adequar
a oferta s necessidades e preferncias dos utilizadores
Clia Quico
1
0. Introduo
Televiso Digital sinnimo de melhor
qualidade de imagem e som e de mais canais
de televiso ainda sinnimo de novos
servios interactivos de informao e entre-
tenimento. Para alm dos guias de progra-
mao, filmes em pay-per-view, jogos e outros
servios tipicamente disponibilizados pelos
operadores de Televiso Digital, necessrio
oferecer novos servios que tragam valor aos
espectadores, bem como aos operadores de
televiso, canais e produtoras de televiso.
No caso concreto dos operadores e dos canais
de televiso, confrontados actualmente com
os elevados custos da transio do analgico
para o digital e com uma forte concorrncia,
a oferta de servios de Televiso Digital e
Interactiva tem a dupla vantagem de poder
gerar receitas adicionais e de permitir a
demarcao da oferta relativamente aos seus
concorrentes, mantendo ou capturando novos
subscritores e espectadores.
O objectivo desta comunicao o de
explorar os seguintes tpicos:
- Evoluo da Televiso Digital e
Interactiva em Portugal desde 2001,
- Caracterizao do Consumo de Televi-
so Digital e Interactiva no Reino Unido e
em Portugal,
- Adequao da oferta de Televiso
Digital e Interactiva s necessidade e pre-
ferncias dos utilizadores.
A importncia de se proceder ao levan-
tamento e estudo das necessidades e prefe-
rncias dos utilizadores ser abordada, apre-
sentando-se dados que demonstram que a
forma como consumimos televiso est a
mudar de forma irreversvel, como o caso
de estudos recentes tornados pblicos pela
BBC, que revelaram existir quatro novas e
importantes tendncias:
- as pessoas esto a assumir o controlo
do seu consumo de Media,
- as pessoas querem cada vez mais
participar e estar prximo dos Media,
- as pessoas consomem cada vez mais
diversos Media em simultneo,
- as pessoas querem partilhar contedos
vdeo, msica, etc com outros pares.
A indstria da televiso est a comear
a perceber que a imagem tradicional da
famlia reunida volta do televisor est
ultrapassada, afirmou o director de novos
Media e tecnologia da BBCi Ashley Highfield
na conferncia Next MEDIA que decorreu
em finais de 2003, acrescentando que as
empresas de Media com sucesso sero as que
compreenderem que o contexto mudou e que
os espectadores querem consumir Media de
formas diferentes.
1. Evoluo da televiso digital e
interactiva em Portugal desde 2001
Em Junho de 2001, a TV Cabo tornou-
se um dos primeiros operadores no mundo
a lanar um servio de televiso digital e
interactiva, tendo sido o primeiro a nvel
mundial a oferecer a funcionalidade de
gravao de vdeo digital numa set-top box
por cabo com bi-direccionalidade, com base
na plataforma Microsoft TV Advanced. Dois
anos depois, em Junho de 2003, a TV Cabo
lanou oficialmente o seu servio e caixas
descodificadoras de televiso digital e
interactiva low-end designadas Power Box
-, disponvel para clientes de satlite e cabo.
A maior novidade em termos de servios
digitais e interactivos foi o pay-per-view
que a TV Cabo decidiu comercializar sob a
designao Video-on-Demand. Este novo
servio permite aos utilizadores da Power Box
alugar filmes atravs da descodificao de
quatro canais dedicados, bem como
descodificar os filmes dos canais de adultos
PlayBoy e Sexy Hot. A Power Box no
tem canal de retorno prprio, pelo queo
telemvel funciona como canal de retorno
pelo envio de SMS.
602 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Em Junho de 2003, a TV Cabo lanou
a aplicao TV Digital Mobile,
desenvolvido para W AP GPRS, que per-
mite a interaco do telespectador com um
conjunto de servios interactivos atravs do
telemvel, nomeadamente: aceder ao guia
de programao dos principais canais do
pacote da TV Cabo, ver trailers de filmes,
ver vdeos de notcias exibidas nos canais
generalistas, ver vdeos da principais joga-
das dos desafios de futebol da Super Liga,
agendar alertas de programas, votar em
sondagens e participar em fruns, entre
outras funcionalidades.
Em finais do ano de 2003, a TV Cabo
lanou novos servios de Televiso Digital
e Interactiva, dos quais se destaca o servio
de Multi-Jogos da Champions League que
possibilita ver quatro jogos em simultneo,
e o SMS-TV um novo canal de televiso
em que os espectadores tm a oportunidade
de interagir via SMS com a programao.
Assim, verifica-se que a oferta de novos
canais digitais e a interaco via SMS o
foco das novas ofertas da TV Cabo. Desta
forma, a empresa segue de perto receitas j
testadas com sucesso em outros mercados
internacionais, sobretudo nos mercados
Europeus. No caso particular da interaco
via SMS com a Televiso, nos ltimos anos
os operadores e canais de televiso passaram
a recorrer ao telemvel como canal de
retorno em alternativa ou em complemento
s aplicaes disponveis por intermdio de
uma plataforma de televiso interactiva, tal
como refere a analista de novos media Ferhan
Cook
2
.
2. Caracterizao do consumo de televiso
digital e interactiva no Reino Unido e em
Portugal
Na Europa registam-se algumas das ta-
xas mais elevadas de penetrao de Televi-
so Digital e, consequentemente, de Televi-
so Interactiva. O destaque vai para o Reino
Unido que possua a maior taxa de penetra-
o de Televiso Digital da Europa em finais
de 2003: 50,2% de lares segundo dados do
Ofcom, o rgo que regula a televiso
comercial no Reino Unido
3
. Relativamente
aos principais operadores de Televiso Di-
gital, o destaque vai para o operador de
Televiso Digital Satlite Sky Digital, que
ultrapassava os 7.200.000 subscritores em fins
de 2003. J os operadores de cabo NTL e
Telewest atingiram respectivamente os
2,009,700 e os 1,258,549 subscritores com
acesso a televiso digital no final de 2003,
enquanto que o operador de Televiso Di-
gital Terrestre Freeview aproximou-se da
fasquia dos 3 milhes de subscritores, estan-
do disponvel em 2,996,700 lares na mesma
data
4
.
O Reino Unido no s lder em termos
de penetrao de Televiso Digital como
tambm em termos do impacto e desenvol-
vimento de servios de Televiso Interactiva.
No arranque desta dcada verificou-se uma
exploso de actividade no sector da Te-
leviso Digital e Interactiva, tal como aponta
Mark Gawlinsky da BBC, tendo sido criadas
diversas empresas especificamente com a
finalidade de desenvolver diferentes tipos de
solues para este novo media emergente. No
entanto, em incios de 2003 muitas destas
empresas tinham encerrado as portas ou
realinhado a sua estratgia, como foram os
casos do operador de Televiso Digital
Terrestre ITV Digital ou do portal da Sky
Digital conhecido por Open (Gawlinsky:
2003):
infelizmente, os primeiros trs anos
do novo milnio no Reino Unido pro-
varam que, a no ser que se acertasse
na mosca com a frmula, as receitas
e outros benefcios da Televiso
Interactiva no so fceis de obter
5
.
Apesar de ser difcil conseguir a formula
mgica em Televiso Digital e Interactiva,
no impossvel, como demonstram os
seguintes exemplos de servios evidenciados
por Gawlinski, que tm vindo a gerar recei-
tas para as empresas e a ganhar popularidade
junto dos espectadores:
- os guias de programao electrnica
so muito populares, de acordo com a Sky
Digital a percentagem de utilizao atinge
os 90% os seus subscritores, enquanto que
o operador de Teelviso paga Francs
Canal Satellite reporta 80% de taxa de uti-
lizao;
603 COMUNICAO AUDIOVISUAL
Figura 1: Electronic Programme Guide, Sky
- os melhores servios de Televiso
Digital e Interactiva podem ser mais popu-
lares do que os prprios canais de televiso,
como o caso do portal de jogos PlayJam
que atraiu em mdia 250.000 espectadores
por dia, atravs do operador de Sky Digital
em 2002. De acordo com dados da empresa
de audience research BARB, o PlayJam
conseguiu ser mais popular do que a MTV
e o Sky Sports One durante alguns meses,
situando-se entre o oitavo e o dcimo quinto
canal mais visto na Sky Digital;
Figura 2: Portal de Jogos Playjam, Sky
- alguns programas interactivos atraiem
uma vasta proporo os espectadores, como
foi o caso de Wimbledon 2001 e 2003 da
BBC, que deu a possibilidade aos especta-
dores de seleccionarem e acompanharem os
desafios de tenis do torneio que decorriam
em simultneo cerca de 50% dos espec-
tadores da BBC com Sky Digital utilizaram
esta funcionalidade. Ainda, em Julho de 2002,
3,8 milhes de espectadores acederam
aplicao interactiva dos jogos do Mundial
de Futebol para aceder a multi-cmaras, a
diferentes canais de udio (comentrios e som
do estdio) e repeties dos jogos;
Figura 3: Mundial de Futebol 2002, BBC
- e ainda que os modelos de negcio neste
sector ainda no estejam totalmente defini-
dos e provados, alguns servios interactivos
j esto a gerar receitas significativas, como
o caso do Channel 4 que graas ao pro-
grama Big Brother 2002 obteve em votaes
via plataformas de Televiso Digital e
Interactiva mais de 1 milho de libras
6
.
Ainda de notar que o operador Sky Digital
tem vindo a ser um dos players mais activos
neste sector, quer como produtor de servios
(Sky Sports Active, Sky News Active) quer
como distribuidor de servios interactivos.
Desde Agosto de 1999 que a Sky tem vindo
a oferecer servios interactivos, com o lan-
amento da Sky Sports Active, que permitia
a seleco de diferentes cmaras no decorrer
de um jogo de futebol, bem como um canal
com os melhores momentos dos jogo e as
respectivas estatsticas. Posteriormente, em
Outubro de 2001, de forma a agrupar todos
os servios interactivos debaixo de uma
marca, a Sky lanou Sky Active, que oferece
um vasto leque de servios como apostas,
jogos, home banking, envio de SMSs, envio
de emails, t-commerce, entre muitos outros
exemplos
7
.
A pergunta agora : oferta parece no
faltar, mas os espectadores estaro a utilizar
todos estes servios de Televiso Digital e
Interactiva? A resposta do representante da
Sky na conferncia Future Media Events The
Evolution of Digital TV foi dada em n-
meros:
604 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
8 milhes de apostas colocadas atravs
do servio Sky Bet,
3 milhes de mensagens SMS enviadas
para telemveis,
13 milhes de jogos acedidos,
4 milhes de votos em sondagens do
Sky News Active,
47% dos utilizadores da Sky Digital j
acederam ao servio Sky News Active,
32% dos utilizadores da Sky Digital j
acederam ao servio Gamestar,
60% dos utilizadores da Sky Digital j
acederam a pelo menos um programa
interactivo
8
.
Relativamente s receitas geradas atravs
destes novos servios, as apostas, os jogos,
a programao interactiva e a interaco
SMS-TV so as principais fontes de receitas.
A ttulo de exemplo, refira-se que as receitas
dos servios interactivos disponibilizados pela
Sky Digital atingiram, em 2002, os 186
milhes de libras, quase o dobro do valor
de 2001. Ainda, metade deste valor foi
proveniente de apostas, tendo os restantes 93
milhes de libras vindo das participaes em
programas interactivos, jogos e passatempos
tipo trivial
9
. J em relao aos dados apu-
rados em 2003, os servios interactivos da
Sky geraram 218 milhes de libras, o que
representa um aumento signiticativo em
comparao com 2002
10
. Ao analisar estes
e outros exemplos de produtos e servios de
Televiso Digital e Interactiva bem sucedi-
dos, podemos identificar certas caractersti-
cas comuns (Gawlinski: 2003):
- a existncia de um grupo suficientemen-
te vasto de utilizadores/ espectadores de forma
a gerar receitas significativas ou outros
benefcios;
- alinhamento com os comportamentos
dos utilizadores/ espectadores;
- uma proposio de valor clara para os
utilizadores/ espectadores;
- promoo e marketing eficaz, que faa
uso dos programas de televiso e dos canais;
- flexibilidade, para que os elementos
possam ser retirados ou adicionados de acordo
com a forma como so recebidos pelos
utilizadores/ espectadores;
- se necessrio, envolver parceiros no
desenvolvimento dos services;
- se necessrio, fazer uso de outros media
como parte do pacote - Internet e Telemveis,
por exemplo)
11
.
No entanto, tambm h ter em conside-
rao outros dados que apontam para que o
efeito de novidade dos produtos e servios
de Televiso Digital e Interactiva se esteja
a desvanecer, como notou Gary Austin,
director da BMRB Internacional, na confe-
rncia Future Media Events The Evolution
of Digital TV realizada em Setembro de
2003:
- cada vez mais difcil fazer com que
os espectadores utilizem servios interactivos
stand-alone,
- h problemas relativamente ao desem-
penho dos servios,
- os espectadores devem ser educados
sobre os servios que tm ao seu dispor;
- porm, continua a crescer a
interactividade relacionada com os progra-
mas
12
.
De referir ainda o recente estudo Attitudes
to Digital Television preliminary findings
on consumer adoption of Digital Television,
para o Digital Television Project no Reino
Unido, o qual chama a ateno para que
metade da populao do Reino Unido ainda
no tem acesso a Televiso Digital, sendo
necessrio incentivar de forma particular os
13 por cento da populao que no querem
migrar do analgico para o digital
13
.
Quanto a Portugal, de momento h poucos
estudos disponveis na rea da Televiso
Digital e Interactiva. No entanto, a Autori-
dade Nacional das Comunicaes (Anacom)
tornou pblicos dados de um estudo de
mercado sobre Televiso Digital Terrestre
(TDT), realizado pela consultora AT Kearney,
que estima em 474 mil o nmero de lares
que em Portugal iro aderir espontaneamente
TDT at 2007, ou seja apenas 13,4 por
cento de todas as residncias com televiso
14
.
O estudo realizado a pedido da Anacom
revelou ainda que a qualidade da imagem na
TDT funcionar como um incentivo
mudana para 27 por cento da populao,
enquanto que dez por cento valoriza como
factor de adeso a oferta de mais do que nove
canais (cinco novos mais os quatros existen-
tes em sinal aberto). De notar que, segundo
o mesmo estudo, 75 por cento do total de
lares com televisor ser j cliente do servio
605 COMUNICAO AUDIOVISUAL
pago de cabo ou de satlite, na altura em
que decidir migrar para a TDT
15
.
3. Concluses: adequar a oferta s neces-
sidades e preferncias dos utilizadores
Como medium, a Televiso Interactiva
ainda mal comeou a dar os primeiros passos,
defende Scott Gronmark, que foi o principal
responsvel da BBC pela rea de desenvol-
vimento de programao interactiva at
Janeiro de 2004 (Gronmark, cit. Gawlinksi:
2003):
Alguns grandes acontecimentos,
como Wimbledon, Big Brother,
Walking With Beasts e Test The
Nation, trouxeram luz grande ques-
to o que querem os espectadores
da interactividade? Em lugar de re-
petirmos infinitamente estes formatos
iniciais, necessitamos de continuar a
experimentar e criar novos forma-
tos
16
.
No entanto, a inovao e a experimen-
tao s fazem verdadeiramente sentido
atravs da adequao s necessidades e
preferncias dos utilizadores/ espectadores.
Num estudo da reponsabilidade do British
Film Institute, no qual cerca de 500 parti-
cipantes completaram dirios detalhados
sobre as suas vidas e a Televiso durante um
perodo de cinco anos, a maior parte das
pessoas consultadas mostrou-se aberta a
desenvolvimentos futuros nas reas da Te-
leviso e Home Entertainment embora, a
generalidade das pessoas no esteja to
ansiosa por novos produtos e servios quan-
to o desejado pelas empresas fornecedoras
de equipamentos e servios nestes sectores
(Gaunlett and Hill: 1998):
at mesmo aqueles que eram mais
entusiastas das novas tecnologias eram
cautelosos em trs pontos essenciais
custo, esttica e tempo disponvel
17
.
Este mesmo estudo que serviu de base
ao livro TV Living de David Gaunlett e
Annete Hill - revelou que os participantes
no esto propriamente colados ao televisor,
antes que levam vidas preenchidas e anima-
das e que, quando encontram tempo para
ver Televiso, encaram-na como um meio
til de relaxar, interagir com outras pessoas
e estar a par dos acontecimentos nacionais
e internacionais do mundo real, bem como
dos eventos dos mundos da fico ofe-
recidos pelas novelas, series e filmes
18
. A
indstria da televiso est a comear a
perceber que a imagem tradicional da fa-
mlia reunida volta do televisor est ul-
trapassada, afirmou o director de novos
Media e tecnologia da BBCi Ashley
Highfield, na conferncia Next MEDIA que
decorreu em finais de 2003, acrescentando
que as empresas de Media com sucesso sero
as que compreenderem que o contexto
mudou e que os espectadores querem con-
sumir Media de formas diferentes
19
.
De acordo com os recentes estudos tor-
nados pblicos pela BBC, existem quatro
novas e importantes tendncias sociais que
demonstram que a forma como consumimos
televiso est a mudar de forma irreversvel.
Da que a BBC tenha comeado a mudar os
seus contedos e a procurar esbater as fron-
teiras entre novos e velhos Media de
maneira a que todos saiam beneficiados, como
referiu Ashley Highfield. Assim, h a assi-
nalar as seguintes tendncias de fundo:
- as pessoas esto a assumir o controlo
do seu consumo de Media,
- as pessoas querem cada vez mais
participar e estar prximo dos Media,
- as pessoas consomem cada vez mais
diversos Media em simultneo,
- as pessoas querem partilhar contedos
vdeo, msica, etc com outros pares
20
.
Margherita Pagani, investigadora do I-Lab
Research Center on Digital Economy da
Universidade de Bocconi em Itlia, defende
o seguinte ponto de vista (Pagani: 2003):
Hoje os lderes da indstria da te-
leviso enfrentam o dilema de esco-
lher qual o papel que querem desem-
penhar no panorama da Televiso
Digital nos prximos cinco a dez anos.
Essencialmente, resume-se a uma
questo simples: querem ser princi-
palmente detentores de contedos ou
detentores de consumidores?
21
606 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
O mesmo ser dizer, que a primeira opo
envolve desenvolver e explorar contedos
atravs de uma srie de canais de distribui-
o para os consumidores, uma estratgia
sumarizada na conhecida expresso content
is king. J a segunda opo envolve cons-
truir o negcio com base na relao com o
consumidor, em que o consumer is king.
O grande desafio o de compreender
profundamente o que os consumidores/
utilizadores querem, tal como aponta Ben
Schneiderman, um dos maiores especialistas
mundiais na rea do Interface Homem-
Mquina, j que as tecnologias bem suce-
didas so as que esto em harmonia com as
necessidades dos utilizadores (Schneiderman:
2003):
Estas devem apoiar relaes e acti-
vidades que enriquecem as experin-
cias dos utilizadores
22
.
De igual modo, Donald Norman, uma
autoridade mundial no campo da usabilidade,
tem por mandamento know your customer
conhece o teu cliente, j que no interessa
ser o primeiro, ser o melhor ou mesmo estar
certo, o que interessa o que os clientes
pensam
23
. Definindo human-centred product
development como o processo de desenvol-
vimento de um produto que se inicia com
os utilizadores e com as suas necessidades,
em vez de comear pela tecnologia, Donald
A. Norman enfatiza que fundamental in-
vestigar as reais necessidades dos utilizadores.
Um exemplo desta orientao para as
necessidades reais das pessoas, bem como da
importncia de simplificar a utilizao dos
novos media e das novas tecnologias o servio
de udio-Descrio. Este servio consiste em
adicionar uma faixa de udio a um programa
de televiso de forma a descrever por palavras
o que se passa na imagem, destinado a pessoas
com deficincias visuais. Este tipo de servio
j existe em diversos pases, como o caso
da Inglaterra, atravs dos operadores de TV paga
como a Sky e de canais como a BBC. No fundo,
trata-se neste caso de proporcionar a pessoas
com necessidades especiais uma experincia
mais rica de televiso, auxiliando na compre-
enso do programa atravs das descries de
um narrador. Simples e til, projectos como
este podem e devem ser acarinhados por ope-
radores de televiso, canais de televiso, pro-
dutoras de televiso e outras entidades com
responsabilidade nas reas dos Media e das
novas Tecnologias de Informao e Comuni-
cao.
Em resumo, a prxima vaga de inovao
dever ser impulsionada pelas necessidades
humanas em vez de o ser pela tecnologia,
assim o defende Ben Schneiderman, para
quem a excelncia tcnica deve estar em
harmonia com as necessidades dos
utilizadores e para quem as grandes obras
de Arte e da Cincia so para todos
24
.
607 COMUNICAO AUDIOVISUAL
Bibliografia
Austin, Gary, Is the novelty of DTV
wearing off?, apresentao da BMRB
International conferncia Future Media
Events The Evolution of Digital
TV, Setembro 2003. Disponvel online em:
http://www.london.edu/marketing/Future/
Future_Media_Events/FM_Presentations/
gary_austin.pdf.
Cook, Ferham, Show me the Money,
C21 Media Networks website, Janeiro 2003.
Disponvel online em:
http://www.c21media.net/features/
feat_dtl.asp?id=5173&t=10&terms=
interactive+tv&curpage=2
Gauntlett, David and Hill, Annette, TV
Living: Television, Culture and Everyday Life,
Routledge, 1999.
Highfield, Ashley, Adventures in
integrated content, discurso na conferncia
Next MEDIA Charlottetown, Canada, C21
web site, 27 de Outubro 2003. Disponvel
online em: http://www.c21media.net/features/
detail.asp?area=2&article=17945
Klein, Jeremy, Karger, Somin, Sinclair,
Kay, Attitudes to Digital Television
preliminary findings on consumer adoption
of Digital Television, prepared for the Digital
Television Project, January 2004. Disponvel
online em: http:/www.digitaltelevision.gov.uk/
attitudes_to_DTV.html
Norman, Donald A., The Invisible
Computer, MIT Press, 1999.
Ofcom, (2004), Digital Television Update
Q4 2003, Executive Summary, Ofcom.
Disponvel online em: http://
w w w. o f c o m . o r g . u k / r e s e a r c h /
industry_market_research/m i index/dtv/
summary/?a=87101.
Pagani, Margherita Multimedia and
Interactive Digital TV: Managing the
Opportunities Created by Digital
Convergence, IRM Press, 2003.
Szneiderman, Ben, Leonardos Laptop:
Human Needs and the New Computing
Technologies, MIT press, 2003.
Stroud, Adrian, iDTV: Consumer
Behaviour and Interactive Advertising,
apresentao da Sky na conferncia Future
Media Events The Evolution of Digital
TV, Setembro 2003. Disponvel online em:
http://www.london.edu/marketing/Future/
Future_Media_Events/FM_Presentations/
adrian_stroud.pdf,
Teixeira, Clara, Candidatos Admitem
Televiso Digital Terrestre Gratuita para
Aumentar a Adeso, jornal Pblico, 12
Maro, 2004. Disponvel online em: http:/
/jornal.publico.pt/publico/2004/03/12/Media/
R01.html.
Towler, Robert, The Publics View 2002:
An ITC/BSC research publication, British
Market Research Bureau International, Maro
2003. Disponvel online em: http://
w w w. o f c o m . o r g . u k / r e s e a r c h /
c o n s u m e r _ a u d i e n c e _ r e s e a r c h /
tv_audience_reports/tv_publics_view_2002.
_______________________________
1
Gestora de Projectos de Televiso Digital
Interactiva e Multimedia (TV Cabo/ PT
Multimedia); doutoranda em Cincias da Comu-
nicao (Universidade Nova de Lisboa Facul-
dade de Cincias Sociais e Humanas).
2
Cook, Ferham, Show me the Money, C21
Media Networks website, Janeiro 2003. Dispon-
vel online em: http://www.c21media.net/features/
feat_dtl.asp?id=5173&t=10&terms
=interactive+tv&curpage=2
3
Ofcom, (2004), Digital Television Update
Q4 2003, Executive Summary, Ofcom. Dis-
ponvel online em: http://www.ofcom.org.uk/
research/industry_market_research/m_i_index/dtv/
summary/?a=87101
4
Ofcom, (2004), Digital Television Update
Q4 2003, Executive Summary, Ofcom. Dis-
ponvel online em: http://www.ofcom.org.uk/
research/industry_market_research/m_i_index/dtv/
summary/?a=87101.
5
Gawlinski, Mark, Interactive Television
Production, Focal Press, 2003, pag. 95-96.
6
Gawlinski, Mark, Interactive Television
Production, Focal Press, 2003, pag. 95-96.
7
Sky Disponvel online em: http://
www.skypublicity.co.uk/skyactive.asp.
8
Stroud, Adrian, iDTV: Consumer Behaviour
and Interactive Advertising, apresentao da Sky
na conferncia Future Media Events - The
Evolution of Digital TV, Setembro 2003. Dis-
ponvel online em: http://www.london.edu/
mar ket i ng/ Fut ur e/ Fut ur e_Medi a_Event s/
FM_Presentations/adrian_stroud.pdf
9
Dodson, Sean, Riding the TV games boom,
The Guardian Unlimited Online, 2003. Dispon-
vel online em: http://www.guardian.co.uk/online/
story/0,3605,884663,00.html
10
BSkyB, BSkyB Annual Report and Accounts
2003, Fevereiro de 2004. Disponvel on-line em:
608 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
http://media.corporate-ir.net/media_files/lse/bsy.uk/
r e por t s / 2003AR/ 2003AR/ s kyc or por a t e /
fiveyearSummary.html.
11
Gawlinski, Mark, Interactive Television
Production, Focal Press, 2003, pag. 95-96.
12
Austin, Gary, Is the novelty of DTV
wearing off?, apresentao da BMRB
International conferncia Future Media Events
The Evolution of Digital TV, Setembro 2003.
Disponvel online em: http://www.london.edu/
mar ket i ng/ Fut ur e/ Fut ur e_Medi a_Event s/
FM_Presentations/gary_austin.pdf.
13
Klein, Jeremy, Karger, Somin, Sinclair, Kay,
Attitudes to Digital Television preliminary
findings on consumer adoption of Digital
Television, prepared for the Digital Television
Project, January 2004. Disponvel online em: http:/
/ w w w . d i g i t a l t e l e v i s i o n . g o v . u k /
attitudes_to_DTV.html.
14
Teixeira, Clara Candidatos Admitem Te-
leviso Digital Terrestre Gratuita para Aumentar
a Adeso, jornal Pblico, 12 Maro, 2004.
Disponvel online em: http://jornal.publico.pt/
publico/2004/03/12/Media/R01.html.
15
Teixeira, Clara, Candidatos Admitem Te-
leviso Digital Terrestre Gratuita para Aumentar
a Adeso, jornal Pblico, 12 Maro, 2004. Dis-
ponvel online em: http://jornal.publico.pt/publi-
co/2004/03/12/Media/R01.html
16
Gawlinski, Mark, Interactive Television
Production, Focal Press, 2003, pag. 242.
17
Gauntlett, David and Hill, Annette, TV
Living: Television, Culture and Everyday Life,
Routledge, 1999, pag. 168.
18
Gauntlett, David and Hill, Annette, TV
Living: Television, Culture and Everyday Life,
Routledge, 1999, pag. 292.
19
Highfield, Ashley, Adventures in integrated
content, discurso na conferncia Next MEDIA
Charlottetown, Canada, C21 web site, 27 de
Outubro 2003. Disponvel online em: http://
w w w . c 2 1 m e d i a . n e t / f e a t u r e s /
detail.asp?area=2&article=17945.
20
Highfield, Ashley, Adventures in integrated
content, discurso na conferncia Next MEDIA
Charlottetown, Canada, C21 web site, 27 de
Outubro 2003. Disponvel online em: http://
w w w . c 2 1 m e d i a . n e t / f e a t u r e s /
detail.asp?area=2&article=17945.
21
Pagani, Margherita, Multimedia and
Interactive Digital TV: Managing the
Opportunities Created by Digital Convergence,
IRM Press, 2003, pag. 130.
22
Shneiderman, Ben, Leonardos Laptop:
Human Needs and the New Computing
Technologies, MIT Press, 2003, pag.3.
23
Norman, Donald A., The Invisible Computer,
MIT Press, 1999, pag. 12
24
Schneiderman, Ben, Leonardos Laptop:
Human Needs and the New Computing
Technologies, MIT Press, 2003.
609 COMUNICAO AUDIOVISUAL
Tv comunitria no Brasil: histrico e participao
popular na gesto e na programao
Cicilia M. Krohling Peruzzo
1
Introduo
Este texto apresenta uma sntese dos
resultados da pesquisa denominada Tele-
viso Comunitria no Brasil, realizada de
1999 a 2001, que teve como objeto central
a investigao sobre as modalidades de par-
ticipao popular efetivadas nos canais co-
munitrios no sistema cabo.
Os objetivos foram: fazer um breve
resgate do percurso histrico da TV comu-
nitria no Brasil levantando os seus diferen-
tes tipos; conhecer o sistema de gesto e as
formas de sustentao adotadas por cada um
desses canais comunitrios pioneiros na TV
a cabo no Brasil: Canal Comunitrio de Porto
Alegre, TV Comunitria do Rio de Janeiro
e o Canal Comunitrio de So Paulo; e
analisar as estratgias de programao dos
referidos canais, especialmente no que diz
respeito participao das organizaes da
sociedade civil na grade de programao.
H no Brasil uma variedade de interesses
na estruturao TVs comunitrias. Podem ser
interesses educativo-cultural, organizativo-co-
munitrio, comercial (meio de captao de
inseres publicitrias locais) ou de protesto
aos sistemas de funcionamento e de controle
da mdia. Nesta perspectiva se levantou a
existncia de TVs comunitrias de diferentes
matizes at a emergncia daquelas constitu-
das no formato de canais comunitrios como
um dos canais bsicos de utilizao gratuita,
no sistema de cabo a televiso.
A pesquisa foi realizada com base em
estudos bibliogrfico e documental, anlise
de material audiovisual produzido pelas TVs
de Rua e entrevistas semi-estruturadas. As
entrevistas foram feitas pessoalmente junto
aos coordenadores dos canais investigados no
ms de julho de 2001. Apenas uma delas,
a com o coordenador do canal do Rio, foi
feita por e-mail.
Teoricamente a pesquisa baliza-se pelos
conceitos de participao que permitem captar
a insero das pessoas nos meios de comu-
nicao comunitria, tomando por base os
nveis possveis de envolvimento, por ns j
trabalhados
2
(Peruzzo, 2004a), que em sn-
tese so: participao nas mensagens (nvel
mais elementar de participao, no qual a
pessoa d entrevista, pede msica etc.);
participao na produo de mensagens,
materiais e programas (consiste na elabora-
o e edio dos contedos a serem trans-
mitidos); participao no planejamento
(envolvimento das pessoas no estabelecimen-
to da poltica dos meios, na elaborao dos
planos de formatos de veculos e de progra-
mas, na elaborao dos objetivos e princ-
pios de gesto etc.); participao na gesto
(participao no processo de administrao
e controle de um meio de comunicao).
Em suma a participao das pessoas pode
tanto concretizar-se apenas em seu papel
como ouvintes, leitores ou espectadores,
quanto significar o tomar parte dos proces-
sos de produo, planejamento e gesto da
comunicao. Os nveis mais avanados
postulam a permeao de critrios de
representatividade e de co-responsabilidade,
j que se trata de exerccio do poder e forma
democrtica ou compartida (Peruzzo, 2004
a:59).
1. Origem da TV comunitria no Brasil
3
A TV comunitria surge no Brasil no
formato de uma TV Livre, tambm denomi-
nada de TV de Rua, caracterizada pela
produo de vdeos educativo-culturais, que
so exibidos em circuito fechado ou em praa
pblica, destinados a recepo coletiva. As
primeiras experincias ocorrem nos anos de
1980 no contexto das lutas pela redemocrati-
zao do Brasil.
Trata-se de uma espcie de TV mvel,
mais exatamente de vdeo mvel. Com um
vdeo-cassete, um telo (ou monitor de TV),
amplificador de som e microfone sobre um
610 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
meio de transporte (caminho ou Kombi),
exibem-se produes em vdeo em praa
pblica ou em sales de entidades sociais.
A exibio itinerante. Ou seja, dentro de
determinada programao percorrem-se al-
guns locais previamente escolhidos para
exibio e debates do audiovisual.
Os processos de produo e de exibio
tm propsitos educativos. Normalmente so
experincias comandadas por ONGs (Orga-
nizaes no governamentais), Igrejas, Uni-
versidades e Sindicatos. No entanto, na
maioria desses viabiliza-se a participao das
pessoas nas vrias etapas do processo de
elaborao de um audiovisual. Em outros
casos a equipe, aps estudo sobre as temticas
demandadas pela populao local, grava
(udio + imagens) debates ou depoimentos
das pessoas para posterior exibio. H
tambm a sistemtica de abrir-se o debate
aps a exibio de algum programa para que
as pessoas possam falar sobre o que tinham
visto, e em seguida o exibe. Trata-se da
tcnica chamada de Cmera Aberta.
Vrias experincias bem sucedidas de TV
de Rua vem acontecendo ao longo das l-
timas trs dcadas, entre elas a da TV Viva
(Recife-Olinda), TV Mocoronga (Santarm-
PA), TV Liceu (Salvador-BA), TV dos Tra-
balhadores (So Bernardo do Campo-SP), TV
Maxambomba (Rio de Janeiro-RJ), TV Ta-
garela (Rio de Janeiro-RJ), TV Mangue
(Recife-PE), TV Memria Popular (Natal-
RN), TV Mandacaru (Teresina-PI) e a da TV
Pinel (Rio de Janeiro-RJ)
4
.
No conjunto das experincias de TV de
Rua, atravs da participao popular no
processo de produo dos audiovisuais, al-
meja-se desmistificar a televiso, discutir
assuntos de interesse pblico candentes aos
grupos locais e motivar o envolvimento das
pessoas na democratizao dos meios de
comunicao de massa atravs da apropri-
ao pblica das tecnologias da informao.
Porm, registra-se tambm outras mo-
dalidades de TV comunitrias como aquelas
no sistema UHF (Ultra High Frequency). So
repetidoras no simultneas de televises
educativas
5
. Funcionam em nvel local. Elas
retransmitem parte da programao de algu-
ma Televiso Educativa, mediante convnio
6
.
So conhecidas com TVs Comunitrias, mas
de fato so TVs locais educativas. Trata-se
de um sistema que outorga permisso de uso
(no concesso) e est sob a gide da Se-
cretaria Nacional de Comunicaes, no qual
permitido que 15% da programao sejam
produzidos localmente. Nesse espao so
inseridos programas, em geral chamados de
comunitrios e apoio cultural local
7
. So
canais preferencialmente destinados a Prefei-
turas, Universidades e Fundaes.
Outro tipo de TV comunitria que se
conhece no Brasil a de baixa potncia
transmitida na televiso aberta, ou seja na
frequncia VHF (Very High Frequency)
8
. So
transmisses televisivas de aproximadamen-
te 150 watts, que atingem comunidades
especficas. No est regulamentada em lei,
portanto so transmisses clandestinas. En-
tram no ar em carter ocasional, at pelos
riscos decorrentes de sua ilegalidade. A
primeira transmisso televisiva pirata em
VHS foi da TV Cubo no dia 27 de setembro
de 1986, s 18:45 h., pelo canal 3, na regio
do Butant, zona sul da cidade de So Paulo,
com um transmissor de um watt de potncia
que cobria apenas um raio de 1,5 km
9
.
Teriam ocorrido tambm experincias de
transmisso em VHS no Rio de Janeiro, como
a da TV Lama, na Baixada Fluminense; a
da TV Vento Levou (1998), que transmitiu
para a Gvea, Leblon, Ipanema e Copacabana;
a da TV Canaibal (1990) e da TV 3Ante-
na(1990) (Amaral, 1995).
Foram experincias que funcionaram de
forma pouco estruturada e levadas a cabo por
entusiastas da comunicao atravs de meios
eletrnicos e da democratizao da mdia.
No tinham uma periodicidade regular de
transmisso como forma de despistar, ou
dificultar, sua localizao pelos rgos
fiscalizadores do Governo. Apesar dos riscos
demandados pelas transmisses ilegais, tais
experincias ousaram criticar o sistema
televisivo vigente no Pas demonstrando
possibilidades de uso social do mesmo.
Houve ainda uma experincia de trans-
misso pelo sistema aberto de TV que tinha
como objetivo principal a democratizao das
tcnicas de produo e transmisso de sons
e imagens para grupos populares, que ocor-
reu durante a oficina de capacitao em
comunicao comunitria dentro do Projeto
CODAL Comunicao para o Desenvol-
vimento da Amrica latina, realizado no
611 COMUNICAO AUDIOVISUAL
Brasil, atravs da ABVP Associao Bra-
sileira de Vdeo Popular, realizada em pa-
receria com a TV Sala de Espera. A expe-
rincia ocorreu na cidade de Belo Horizonte,
Minas Gerais, no perodo de 26 de maio a
4 de junho de 1995
10
. Foram realizados e
transmitidas atravs do canal 8, na freqncia
VHF, uma srie de programas para a popu-
lao local. So experimentos que objetivam
exercitar a liberdade de expresso e contes-
tar o sistema de concesso de canais de
televiso no pas, bem como sua programa-
o essencialmente marcada por interesses
mercadolgicos. Em casos especficos, como
o Projeto CODAL, a finalidade democra-
tizar tcnicas de produo e de canais de
transmisso televisiva junto a grupos popu-
lares.
No Brasil somente na dcada de 1990
que surge a TV comunitria propriamente
dita, ou seja aquela com transmisso regular
e que participa do espectro televisivo naci-
onal, na modalidade de canal comunitrio,
na TV a cabo. A televiso a Cabo um dos
sistemas de transmisso das chamadas TV
por Assinatura, ou TVs Pagas. Consiste na
transmisso de sinais por meio fsico: o
cabo
11
.
Os canais comunitrios foram viabilizados
pela Lei 8.977 de 6 de janeiro de 1995,
regulamentada pelo Decreto-Lei 2.206 de 14
de abril de 1997, que estabelece a
obrigatoriedade das operadoras
12
de TV a
Cabo, beneficirias da concesso de canais
para, na sua rea de prestao de servios,
disponibilizar seis canais bsicos de utiliza-
o gratuita
13
, no sentido dos canais de acesso
pblico, como denominados em outros pa-
ses. Atualmente so sete os canais de acesso
gratuito, pois a partir de maio de 2002 o
Judicirio tambm tem direito a um canal,
a TV Justia, coordenada pelo Supremo
Tribunal Federal.
Os canais gratuitos se institucionalizaram
em decorrncia das negociaes ocorridas
entre vrias foras que controlam os meios
de comunicao de massa no Brasil (Gover-
no e empresas de comunicao), parlamen-
tares e entidades da sociedade civil, entre
elas o Frum Nacional pela Democratizao
da Comunicao.
O primeiro canal comunitrio instalado
foi o de Porto Alegre-RS que realizou sua
primeira transmisso no dia 15 de agosto de
1996, pelo canal 14 da NET Sul (Grupo
Globo). Em seguida, em 30 de outubro de
1996, estreou a TV Comunitria do Rio de
Janeiro, inicialmente chamada de TV Cari-
oca, transmitindo pelo canal 41 da NET/Cabo
Rio. O Canal Comunitrio de So Paulo est
entre os que entraram no ar na terceira leva
14
e realizou sua primeira transmisso no dia
01 de novembro de 1997
15
. Transmite pelos
canais 14 da Multicanal, 14 da NET
16
e 72
da TVA. O presente estudo se desenvolve a
partir da investigao destes trs canais, os
quais passaremos a analisar.
2. Gesto coletiva
17
Os canais comunitrios na TV a Cabo
despontam no s como um novo modo de
fazer televiso, e de fazer televiso comu-
nitria, como tambm de gesto da comu-
nicao. So estruturados formalmente como
organizaes de propriedade e gesto
coletivas, a partir de associaes ou conse-
lhos gestores sem fins lucrativos, legalmente
registrados e institudos.
As trs experincias de canais comuni-
trios no Brasil aqui analisadas so bastante
diferentes entre si, porm partilham aspectos
comuns, desde o histrico
18
at os sistemas
de gesto e programao, conforme ser visto
ao longo no texto.
Os canais comunitrios na TV a Cabo vm
sendo criados como resultado de processos
de mobilizao popular, mais especificamen-
te de organizaes no governamentais e sem
fins lucrativos, principalmente aqueles liga-
das a democratizao da comunicao e
entidades do mbito dos movimentos soci-
ais, alm de setores de Igrejas, sindicatos e
entidades filantrpicas.
O processo, desde a origem, envolve a
participao da populao, desde cidados
individualmente at sua representao atra-
vs de entidades civis. O que varia a
intensidade e a amplitude, ou numa palavra,
a qualidade desta participao, de uma
experincia para outra. O que quer dizer que
enquanto em algumas experincias h gran-
de participao na gesto, em outras chega
a ser quase nula. Ou seja, existem casos em
que poucas pessoas, que so ou se dizem
representantes, conduzem o processo de
612 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
implantao e gesto de canais comunitrios
de modo isolado e autoritrio, com baixssima
participao das organizaes comunitrias
locais. Seja por falta de envolvimento e
interesse das pessoas ou dessas entidades, por
falta de oportunidade de participao ativa ou
por discordncias poltico-operacionais, o fato
que existem canais comunitrios, no muito
comunitrios
19
, no sentido de falta de um
processo partilhado de ao, embora possam
se estar agindo em favor da comunidade.
Nas trs experincias em questo so os
seguintes os principais aspectos denotativos
da participao social na gesto:
Canal Comunitrio de Porto Alegre
O canal comunitrio de Porto Alegre est
sob a direo de uma associao, denomi-
nada Associao de Entidades Usurias do
Canal Comunitrio em Porto Alegre.
Qualquer entidade no governamental ou sem
fins lucrativos pode fazer parte da associ-
ao. Para participar a entidade contribui com
uma taxa varivel de acordo com as possi-
bilidades de pagamento de cada organizao.
Somente entidades podem participar da as-
sociao, no permite portanto, a participa-
o de pessoas isoladamente, segundo os seus
estatutos.
A Associao de usurios est estruturada
atravs dos seguintes rgos: Assemblia
Geral, Conselho Deliberativo, Coordenao
Executiva e Conselho Fiscal. A Assemblia
Geral o rgo deliberativo mximo.
A gesto efetiva do canal est a cargo
de um Conselho Deliberativo e de uma
Coordenao Executiva, formados respecti-
vamente por 15 (quinze) e 7(sete) membros.
coordenao executiva compete adminis-
trar a associao segundo as regras
estabelecidas nos Estatutos e no Regimento
Interno. O mandato de dois anos. No h
remunerao pelo o exerccio dos cargos.
TV Comunitria do Rio de Janeiro
A TV Comunitria do Rio de Janeiro est
sob a direo da Associao de Entidades
Canal Comunitrio de TVs por Assinatura
do Rio de Janeiro. Somente pessoa jurdica
pode se associar, como no Canal de Porto
Alegre.
A associao da TV comunitria do Rio
de Janeiro, tambm constituda por enti-
dades no governamentais e sem fins lucra-
tivos. administrada pelos seguintes rgos:
Assemblia Geral instncia mxima de de-
liberao, Conselho Executivo, Conselho
Fiscal e Conselho de tica.
O Conselho Executivo, composto por 15
membros, com mandato de um ano, permi-
tindo a reeleio. Ao Conselho Executivo
cabe cuidar do funcionamento da TV
comunitri em todos os seus aspectos
gerenciais de planejamento e operacionais.
Em suma, todos os conselheiros so
eleitos pela Assemblia Geral, dentre os
representantes indicados pelas associadas. Os
cargos so exercidos em carter de gratuidade.
Canal Comunitrio da Cidade de So
Paulo
O Canal Comunitrio da Cidade de So
Paulo est sob a direo do Conselho Gestor
do Canal Comunitrio da Cidade de So
Paulo, institudo por um Acordo Institucional
Provisrio para fins de Implantao do Canal
Comunitrio, de 05 de junho de 1997, cujos
termos so complementados pelo Termo
Aditivo ao Acordo Institucional Provisrio para
Fins de Implementao do Canal Comunitrio
da Cidade de So Paulo
20
, assinado em 04
de agosto de 1999, legalmente registrado.
Trs entidades so signatrias do Acordo
e do termo Aditivo, a saber, TV Interao,
Ordem dos Advogados do Brasil-Seo So
Paulo e Associao Vida e Trabalho
21
, que
por sua vez so as nicas representadas e
constituintes do Conselho Gestor do Canal
Comunitrio da Cidade de So Paulo
22
.
Contudo, h que se ressaltar que uma destas
entidades, a TV Interao representa um
grupo de outras associaes. Foi constituda
na poca em que se discutia a formao de
um canal comunitrio em So Paulo.
A gesto do Canal Comunitrio de So
Paulo est a cargo do referido Conselho Gestor,
uma Diretoria Executiva, Conselho Fiscal,
Conselho de tica e Comisso de Grade.
O Conselho Gestor a instncia mxima
deliberativa. Ele formado por um repre-
sentante de cada uma das trs entidades
signatrias do Acordo Institucional, ou seja
3 (trs) membros.
613 COMUNICAO AUDIOVISUAL
A Diretoria Executiva constituda por
12 (doze) membros. H ainda um Conselho
Fiscal, uma Comisso de tica e Comisso
de Grade. Em resumo, o Conselho Gestor
formado a partir da indicao formal de
nomes pelas trs entidades signatrias do
Acordo, que dentre os integrantes elege quem
o preside, com mandato de um ano, permi-
tida uma reconduo. O Conselho Gestor
quem elege todos os integrantes da Diretoria
Executiva, Conselho Fiscal, Comisso de
Grade e da Comisso de tica para mandatos
de um ano, renovveis uma nica vez.
Numa viso de conjunto dos canais, pode-
se dizer que as decises so tomadas em
assemblias gerais e em reunies de conse-
lhos ou coordenaes, cujos membros so
eleitos pela Assemblia Geral ou Conselho
Deliberativo, conforme a instncia, como no
caso dos canais de Porto Alegre e do Rio
de Janeiro. No Canal Comunitrio de So
Paulo as decises so tomadas em Plenria
do Conselho Gestor e em reunies de diretoria
e dos conselhos. Sendo que estes ltimos so
designados pelo Conselho Gestor.
Os canais comunitrios vm desenvolven-
do um tipo de autogesto, com caracters-
ticas peculiares, j que as entidades partici-
pantes no so representativas de todas as
organizaes no governamentais e sem fins
lucrativos em seus municpios, mas apenas
daquelas que espontaneamente decidiram se
envolver no processo de implantao dos
canais. Quanto mais democrtica for a to-
mada de deciso, respeitando as instncias
decisrias, inclusive a partir da eleio dos
membros, mais prximo autogesto se
encontra o canal.
Nas experincias analisadas, situadas em
trs importantes capitais do pas, verifica-se
a existncia de pressupostos gerais comuns,
no entanto h variaes nos modelos e formas
de gesto.
Em nvel dos pressupostos em comum,
encontrados nos trs canais, esto o sentido
de interesse pblico como fora motriz; no
ter fins lucrativos; propriedade coletiva (e no
individual); base de sustentao em entida-
des civis e sem fins lucrativos, entre outras
dimenses.
As variaes mais significativas esto nos
modelos de gesto e nas estratgias de
ocupao da grade de programao adotadas.
Porm, a maior diferena se verifica entre
o Canal Comunitrio de So Paulo em re-
lao aos do Rio e de Porto Alegre, no que
diz respeito criao, gesto e ocupao da
grade de programao.
3. Estratgias de sustentao
23
Os canais comunitrios surgem de ma-
neira autnoma e so obrigados a encontrar
suas prprias alternativas para viabilizao
econmicofinanceira. Com o agravante de
que por lei, nos mesmos moldes dos veculos
de comunicao de propriedade pblica, como
Rdio e TV educativas, no podem vender
espaos para anncios comerciais, a princi-
pal fonte de receita dos canais privados.
permitido apenas o apoio cultural (meno
ao patrocnio de programas), o qual tem se
revelado insuficiente, pelo menos na forma
como vem sendo aplicado e at o presente
momento.
A Lei de TV a Cabo tambm no esta-
beleceu outros mecanismos de contribuio
que pudessem ajudar na viabilizao dos
canais, como por exemplo o estabelecimento
de um fundo a partir da destinao, pelas
operadoras de TV a Cabo, de um percentual
sobre o que arrecada dos assinantes. Afinal,
elas acabam usufruindo de um canal com
programao autnoma, sem custos e outros
encargos. Outra lacuna na lei no obrigar
as operadoras destinarem um suporte tc-
nico para produo e edio de sons e
imagens por mnimo que fosse para
potencializar a produo de programas pelos
prprios canais comunitrios e suas entida-
des associadas sem condies de dispor de
seus prprios estdios.
Os canais comunitrios no Brasil so
jogados prpria sorte, no entanto deles
que mais se espera e mais se cobra uma
programao de cunho educativo e cultural.
sociedade civil colocada a possibilidade
de acesso a canais de televiso, o que um
grande avano, mas no lhe so asseguradas
formas de apoio para os tornar viveis e
competentes. Fazer TV exige conhecimento
especializado, os custos de produo so altos,
sem falar nos altos preos dos equipamentos
para se montar os estdios.
O Canal Comunitrio de Porto Alegre se
mantm atravs de contribuies das associ-
614 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
adas, taxa que varia de 10 a 200 reais mensais,
de acordo com as possibilidades de pagamen-
to de cada entidade; patrocnios (apoio
cultural) a programas; trabalho voluntrio;
doaes; pagamento de taxas pelo uso do
estdio de gravao e edio (no de
veiculao).
O canal est relativamente bem instalado
com sede prpria e possui um modesto
estdio de gravao e centro de transmisso.
A TV Comunitria do Rio de Janeiro
sobrevive com as mensalidades das associ-
adas; doaes; trabalho voluntrio; colabo-
rao de terceiros atravs do emprstimo de
sala para a sede pelo Movimento Viva Rio
e do centro de transmisso que funciona a
partir dos estdios da Universidade Estcio
de S.
Vem encontrando muitas dificuldades de
avanar, dispe de poucos recursos at porque
as associadas no pagam regularmente suas
mensalidades.
O Canal Comunitrio da Cidade de So
Paulo se mantm a partir de apoio cultural;
cobrana de espao para transmisso de
programas; doaes; e apoio financeiro das
signatrias do Acordo Institucional.
O canal est bem estruturado com est-
dio e centro de transmisso, sede prpria, tem
quase duas dezenas de funcionrios.
4. Participao popular na programao
24
A televiso comunitria tem entre suas
diferenas, uma que fundamental para o
entendimento de sua programao. Trata-se
da possibilidade de ser um canal produtor
ou um canal provedor. O canal produtor
quando ele mesmo produz os programas que
coloca no ar. J um canal provedor aquele
que apenas abre e organiza o espao para
transmisso de programas produzidos por
terceiros, no caso as prprias entidades que
partilham a grade de programao. Trata-se
de uma deciso bsica a ser tomada pela
direo de um canal comunitrio, a qual
definir a estratgia de ocupao da grade.
Ela depende da concepo de canal comu-
nitrio idealizado pelo grupo dirigente e das
condies tcnicas e de infra-estrutura dis-
ponveis.
A seguir apresentamos os principais
aspectos da programao e as formas de
participao popular desenvolvidas em cada
canal.
Canal Comunitrio de Porto Alegre
O Canal Comunitrio de Porto Alegre
permanece no ar de 1 a 4 horas, numa mdia
de 2 horas dirias, exceto domingo, sempre
aps s 19 horas
25
. Sem contar o Jornal
Eletrnico
26
que permanece no ar
ininterruptamente durante o restante do tem-
po.
Segundo o coordenador geral do Canal
Comunitrio de Porto Alegre, Jorge Vieira
27
,
os objetivos do canal foram traados com base
em ampla discusso entre os representantes
de mais de uma centena de entidades que
participaram da assemblia de criao do
canal. Em respeito aos parmetros da Lei de
TV a Cabo que institui os canais comuni-
trios, acordou-se que o Canal deveria ter
como princpios o respeito pluralidade,
democracia e igualdade.
Pelo que se depreende da fala do seu
coordenador, o Canal Comunitrio de Porto
Alegre procura colocar em prtica esses
princpios garantindo a participao de todas
as entidades, independente de seu pensamen-
to poltico e do valor pago em mensalidades.
Nas suas palavras: a proposta que no haja
nenhuma ingerncia da mantenedora do canal
[a Associao de Entidades Usurias] na
ocupao do espao do canal. O objetivo
dela coordenar a programao, fazer valer
o direito de todas as associadas [...]. Mas
o Canal Comunitrio no da instituio
mantenedora. O Canal Comunitrio pbli-
co [...]. Ns temos a posse dele. Ns ocu-
pamos e s.
A Associao de Usurios do canal de
Porto Alegre conta atualmente com 187
entidades cadastradas e outras 70 associadas
28
.
Est aberta a receber novas entidades que
queiram se associar, desde que se enquadrem
nos parmetros da lei e dos Estatutos.
A participao das entidades associadas
na vida do canal sempre se caracterizou como
uma preocupao estratgica do Canal Co-
munitrio de Porto Alegre, tanto no processo
de criao, no seu planejamento, na gesto
e na programao.
615 COMUNICAO AUDIOVISUAL
No que se refere ao acesso programa-
o, estatutariamente e na prtica, todas as
entidades associadas e somente as asso-
ciadas, que por lei devem ser no governa-
mentais e sem fins lucrativos, tm o direito
de veicular gratuitamente seus programas. A
ocupao da grade contempla a distribuio
igualitria do espao, independente do valor
da mensalidade paga como scia associ-
ao. As entidades podem tambm participar
de programas produzidos pelo prprio Ca-
nal.
Atualmente h 11 (onze) entidades trans-
mitindo seus programas
29
pelo canal. Ao todo
so veiculados 13 programas, sendo dois, o
Telenotcias Comunitrias e o Livre Ex-
presso, produzidos pelo prprio canal.
Mais o Jornal Eletrnico que tambm
produzido pelo canal, tem durao de 20
minutos, atualizado diariamente e se es-
trutura em editorias que do conta de infor-
maes do tipo: datas comemorativas e
feriados, eventos culturais, guia de oportu-
nidades (cursos, empregos, estgios), man-
chetes de jornais de bairros e de entidades
etc.
O Telenotcias Comunitrias um pro-
grama jornalstico, de 15 minutos e vai ao
ar duas vezes por semana. Consiste num bloco
de notcias e outro de entrevista, cujo espao
aberto participao das associadas para
divulgao de suas realizaes. Estreou em
11 de janeiro de 1999. O programa divulga
informaes envidas pelas associadas, alm
de entrevistas, imagens de eventos e de outras
atividades produzidas pelas mesmas (JOR-
NAL..., 2002).
O Livre Expresso um programa rea-
lizado com a participao das entidades que
enviam um representante para discorrer sobre
assuntos relevantes. Somente as associadas
podem participar do programa.
O programa funciona como uma tribuna
livre. utilizado por entidades impossibi-
litadas de produzir seus prprios programas,
que pagando R$ 25,00 reais por semana
30
,
podem divulgar seus eventos, chamar para
assemblias etc. (Rodrigues, 2000:97).
Os programas veiculados atualmente pelo
canal e suas respectivas entidades so os
seguintes: Programa da CEPA Comuni-
dade Evanglica de Porto Alegre; Portal
Csmico Templo do Esprito Universal
31
;
Atividades SIMERS Sindicato dos
Mdicos do Rio Grande do Sul; Programa
Paiva Netto Legio da Boa Vontade;
Programa da ADHONEP Associao dos
Homens de Negcios do Evangelho Pleno;
Cristo a Resposta Associao Evan-
glica Cristo a Resposta; Mama frica
Fundao Senghor; Mensagens do
EVRED Evangelho do Reino de Deus;
Mensagem de F Associao Servio
Cristo; O Sol Nasce para Todos Igreja
Evanglica Nova Jerusalm; Fora de Foco
Associao dos Acionistas Minoritrios das
Empresas Estatais; Norte em Ao
Associao Zona Norte.
Cada entidade responsvel por seu
programa e pelos contedos ali divulgados.
Deve se comprometer a respeitar as normas,
o cdigo de tica e os princpios estabele-
cidos pela Associao.
Os programas Livre Expresso e
Telenotcias so produzidos pelo prprio canal
visando favorecer a participao das entida-
des sem condies de produzir os prprios
programas, como forma de democratizao
do acesso grade e ampliar a difuso de
contedos de cunho comunitrio
Ainda sobre o quesito quem pode
participar da grade de programao, o Canal
Comunitrio de Porto Alegre permite a
participao apenas de entidades associadas.
Ou seja, as pessoas individualmente no tm
espao no canal comunitrio, a no ser na
forma de trabalho voluntrio
32
.
Como se pode depreender das informa-
es precedentes, o Canal Comunitrio de
Porto Alegre optou em ser um canal produtor
e provedor. Chegou-se definio desse
formato, pelo que diz Jorge Vieira, aps
intensa negociao entre dois segmentos de
associados.
Televiso Comunitria do Rio de Janeiro
A TV Comunitria do Rio de Janeiro vai
ao ar de segunda a sexta, das 12:30 s 22:30
horas (10 horas), e nos sbados e domingos,
das 17:30 s 22:30 horas (5 horas), num total
de 60 horas por semana.
Nas palavras do seu coordenador geral,
Alberto Lpez Meja
33
, so basicamente duas
as finalidades na TV Comunitria do Rio de
Janeiro: uma diz respeito democracia e
616 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
ao exerccio da cidadania, democratizao
dos meios de comunicao, ao livre acesso
pblico e tentativa permanente de superar
uma contradio expressa na Lei: o livre
acesso num canal de TV por assinatura
34
. A
outra finalidade constituir-se num centro
de experimentao televisiva, da leitura crtica
dos meios, valorizando a diversidade da
produo cultural sem estar subordinada s
leis do mercado.
Lpez Meja diz que o Canal valoriza
especialmente as experincias de TVs
Comunitrias locais realizadas nos morros
cariocas desde meados da dcada de 80, as
TVs de Rua. Busca desta forma superar a
contradio entre o princpio de livre acesso
e a limitao desse mesmo acesso TV por
assinatura, que exclui os setores populares.
Fazem parte do quadro associativo do
Canal Comunitrio do Rio de Janeiro 166
(cento e sessenta e seis) entidades, destas 68
(sessenta e oito) participam efetivamente.
Pelo que consta de seus documentos, a
TV Comunitria do Rio de Janeiro desen-
volveu como preocupao central a demo-
cracia comunicacional. Pretende ser um plo
aglutinador e difusor de produes
audiovisuais voltadas para a construo da
cidadania e no encontram espao de difuso
na mdia convencional. Portanto, a estratgia
inicial que marcou a programao do Canal
foi a de servir de uma espcie de arena para
difundir a produo audiovisual de carter
educativo-comunitrio.
O acesso grade de programao
garantido a todas as entidades associadas que
tm os mesmos direitos de veicular suas
produes audiovisuais, independentemente
dos valores de suas contribuies como
scias. Ou seja, as entidades tm acesso
grade de programao para transmitir seus
prprios programas ou outras produes
(vdeo, por exemplo), que no conjunto for-
mam a programao regular do canal.
Contudo, tambm faz parte da programao
a exibio de vdeos de produtores indepen-
dentes, em espao especfico da programa-
o, denominado Livre expresso.
Para se conseguir um horrio fixo para
veicular programa prprio preciso que a
entidade seja no governamental e sem fins
lucrativos, tenha sede no Rio de Janeiro e
seja associada Associao de Entidades
Canal Comunitrio de TVs por Assinatura
do Rio de Janeiro.
De acordo com as informaes fornecidas
pelo coordenador geral do Canal na entre-
vista j mencionada, na poca de realizao
da pesquisa, aproximadamente 12 (doze)
entidades ocupam espaos regulares na gra-
de de programao para transmisso de seus
prprios programas. Outras 30 (trinta) a
ocupam de maneira espordica.
Alguns dos programas transmitidos regu-
larmente e as respectivas entidades respon-
sveis so: Debate Brasil
35
(programa
semanal de entrevistas com 60 minutos de
durao, o contedo debate o modelo de
desenvolvimento brasileiro) AEPET- As-
sociao dos Engenheiros da Petrobrs;
Espao Comunitrio (produzido por estudan-
tes de comunicao das Faculdades Integra-
das Hlio Alonso, produtores independentes
ou TVs Comunitrias localizadas em morros
e favelas) FACHA (Faculdades Integradas
Hlio Alonso); Agenda Nacional (Progra-
ma de debates sobre a realidade brasileira
a partir da tica de uma ONG de assessoria
a movimentos sociais em vrias regies do
pas) FASE (Federao de rgos para
Assistncia Social e Educacional); A Cida-
dania est no Ar (programa de entrevistas
e debates sobre a participao popular na
gesto das cidades) Rio Cidado (Movi-
mento de Participao Cidad); Estcio
no Ar (Telejornal dirio de 15 minutos
produzido pelos alunos de Comunicao da
Estcio de S, divulga os principais fatos e
agenda cultural da cidade) USESA (Uni-
versidade Estcio de S). A maioria dos
programas acima tem transmisso semanal
36
.
A grade de programao do Canal do Rio
de Janeiro est formatada em quatro segmen-
tos: programao regular (programas das
associadas); interprogramas (vinhetas e ou-
tras mensagens produzidas pelo prprio canal;
intercmbio (produes de outros canais
comunitrios); e programao de livre acesso
pblico (mensagens de qualquer entidade no
associada, sem fins lucrativos, com sede do
Rio de Janeiro, e de vdeos encaminhados
e/ou produzidos por pessoas fsicas, sem fins
de lucro, com sede dentro ou fora do Rio
de Janeiro).
Alm de participar veiculando seus pr-
prios programas, as associadas tem mais um
617 COMUNICAO AUDIOVISUAL
espao de participao na programao, que
o espao do interprogramas.
Como diz Alberto Lpez Meja, na pro-
gramao de livre acesso pblico o acesso
completamente livre: no precisa pagar, nem
ser filiada. Basta apresentar a fita com
antecedncia de 72 horas, de modo a ser
monitorada e inserida na planilha de progra-
mao da semana. O monitoramento prvio
tem vrios objetivos: a) cadastramento da fita
no acervo da TVCRJ; b) verificao do
material em relao aos limites da lei, no
que se refere aos princpios constitucionais
(no ter contedo racista, pornogrfico ou
com finalidade de lucro).
Do nosso ponto de vista, o espao de
livre acesso pblico, como o institudo pela
TV Comunitria do Rio de Janeiro, uma
inovao importante porque significa uma
abertura na programao para livre manifes-
tao tambm s entidades no associadas,
a produtores independentes e a cidados sem
vnculos institucionais, mas que tm quali-
ficao tcnica e interesses em contribuir para
o desenvolvimento da cidadania
37
.
Esta estratgia e outros mecanismos de
participao incrementados pela TV Comu-
nitria do Rio demonstram suas opes,
historicamente favorveis, aos princpios da
democracia e do pluralismo como alicerces
de sua prtica organizativa e comunicacional.
A tendncia predominante da TV Comu-
nitria do Rio de Janeiro tem sido a de ser
um canal provedor do acesso pblico
programao e no produtor de contedos.
Ultimamente, tal posio vem sendo revista,
pois j h propostas de produo de progra-
mas pelo prprio canal. Ele est se tornando
um canal ao mesmo tempo provedor de
acesso e produtor de contedos, transforman-
do sua poltica inicialmente traada.
Apesar de ainda no dispor de programa
regular prprio, o canal j vem produzindo
contedos para o interprogramas (vinhetas,
chamadas etc). Tambm produziu programas
especiais, como o da inaugurao do canal.
H ainda a proposta de produzir um telejornal.
Canal Comunitrio da Cidade de So
Paulo
O Canal Comunitrio da Cidade de So
Paulo permanece no ar durante 20 horas,
diariamente. Durante 4 horas do dia, de
madrugada (de 1 s 5 ou de 2 s 6 horas),
transmitido um letreiro rotativo com in-
formes de utilidade pblica (telefones de
hospitais especializados, de plantes da
madrugada etc.).
A TV Comunitria da Cidade de So
Paulo, dentro dos parmetros da lei de TV
a cabo, tem fins educativos, da socieda-
de, como diz o seu diretor presidente, Carlos
Meceni
38
. E acrescenta: o objetivo que a
sociedade tenha espao, tenha vez. (...) Que
a sociedade organizada em associaes possa
usar o canal comunitrio para transmitir as
suas aes de origem.
Diferentemente dos outros canais estuda-
dos neste texto, o Canal Comunitrio da
Cidade de So Paulo est aberto partici-
pao, na sua grade programao, de qual-
quer entidade no governamental e sem fins
lucrativos e no apenas s associadas. Na
verdade nem existe o sistema de entidades
associadas, at porque no foi criada uma
associao de usurios.
As entidades so convidadas a se inscre-
ver pleiteando espao para veicular seus
prprios programas no canal atravs de edital,
publicado no Dirio Oficial do Estado de So
Paulo, duas vezes por ano, em janeiro e julho.
As propostas so analisadas por uma comis-
so, que analisa o projeto e o programa piloto.
O contrato de veiculao de 6 (seis) meses,
renovvel.
So pr-requisitos para veicular progra-
mas: ser associao de classe, filantrpica,
cultural etc.; ter no mnimo 2 (dois) anos de
atividades comprovadas; ter documentao
em ordem; apresentar um projeto e de pro-
grama piloto condizentes com as finalidades
do canal (Carlos Meceni).
Neste momento 125 (cento e vinte e
cinco) entidades ocupam a grade de progra-
mao transmitindo os seus prprios progra-
mas, segundo informou seu Diretor Execu-
tivo. Os programas podem ser de 15 ou 30
minutos ou de uma hora de durao. Alm
dos 125 programas de entidades, h mais dois
que so produzidos pelo Canal: Em cartaz
e Comentando a Notcia.
Entre as instituies que veiculam pro-
gramas no Canal Comunitrio de So Paulo,
esto: Ministrio Pblico
39
; APAE
40
- Associ-
ao de Pais e Amigos dos Excepcionais;
618 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
UBE Unio Brasileira dos Escritores;
AACD - Associao de Assistncia Cri-
ana Defeituosa; APETESP - Associao dos
Produtores de Espetculos Teatrais do Esta-
do de So Paulo; OAB-SP - Ordem dos
Advogados do Brasil Seco So Paulo;
Sindicato dos Jornalistas; Sindicato dos
Advogados.
Os programas Em Cartaz e Comentando
a Notcia, de responsabilidade direta do
Canal, podem ser considerados de livre
acesso pblico. Os dois programas so feitos
ao vivo no estdio do Canal e so consi-
derados de sucesso. Com estes programas o
Canal Comunitrio da Cidade de So Paulo
visa oferecer espaos de participao direta
na programao a cidados e entidades que
no tem possibilidades de produzir seus
prprios programas.
Carlos Meceni esclarece que qualquer
cidado mesmo que no faa parte de
associao alguma e queira usar o canal
ao vivo para dar seu recado, pode faz-lo
atravs dos dois espaos mencionados. Para
Meceni o programa Em Cartaz, que vai ao
ar das 13 s 14 horas, atende as manifes-
taes culturais que esto acontecendo em
determinado bairro, na zona leste por exem-
plo, que nenhum outro canal de TV divulga.
O cidado vem aqui e divulga a quermesse,
o cantor local, o grupo de teatro etc. (...).
[So informaes] que no cabem dentro de
uma emissora aberta [que opera em nvel
nacional]. como se fosse uma TV foca-
lizada (...) na cidade de So Paulo (...). [O
que] acaba sendo um super servio de di-
vulgao da produo da cidade de So Paulo.
J no final da tarde, das 18 s 19 horas, tem
um programa jornalstico[Comentando a
Notcia]. O indivduo que quiser fazer recla-
mao sobre sade, segurana etc., pode faz-
lo (...), ele telefona e vem.
Voltando a questo dos programas das
entidades com espaos regulares. Como j
foi dito, so programas produzidos pelas
prprias entidades e que so de inteira res-
ponsabilidade das mesmas. A direo no
interfere no contedo, segundo o diretor. s
vezes apenas ajuda na captao de imagem
para garantir um certo padro de qualidade.
O acesso grade para veicular progra-
mas implica no pagamento de uma taxa de
veiculao de R$ 2,00 (dois reais) por minuto.
A taxa igual para todos. Assim, por um
programa semanal de 15 minutos, a entidade
usuria paga R$ 30,00 (trinta reais)
41
.
Segundo Carlos Meceni, diretor presiden-
te do Canal, o valor no deve ser conside-
rado uma venda de espao, pois como
se fosse um condomnio que tem uma des-
pesa, que rateada entre os usurios. Orou-
se que os gastos do Canal somam cerca de
R$50.000,00 (cinqenta mil) por ms, quan-
tia que cobriria as despesas operacionais,
incluindo funcionrios e sobraria uns cin-
co mil para a compra de equipamentos e
fundo de reserva
42
.
A cobrana de taxa de veiculao para
veiculao de programas tem sido bastante
criticada por lideranas do universo da TV
Comunitria. Ela entendida como venda
de espao, o que reproduziria as prticas
da TV comercial. No entanto, a perspectiva
colocada por Carlos Meceni para tal cobran-
a merece ser analisada. Afinal, tal cobrana
alm de poder ser vista por outro ngulo
como rateio de custos, vem demonstrando que
uma maneira de viabilizar a
operacionalidade (melhoria na qualidade de
som e imagem, produo de programas,
aquisio de equipamentos, pagamento de
mo de obra etc.) e o avano do canal.
Ele comenta, por exemplo, que no existe
veiculao de graa e que as entidades
associadas a uma associao de usurios de
um canal, ao pagarem suas mensalidades,
tambm esto indiretamente pagando pelo uso
do canal.
Apesar da validade do raciocnio, no
convm menosprezar o senso de partilha e
de igualdade explcito na proposta de uso
gratuito da grade de programao pelas
associadas, haja vista que todas pagam e usa
quem quiser e que qualquer uma tem direito
de veicular programas independente se a
entidade paga R$10,00 ou R$100,00 reais de
mensalidade
43
.
Pelos conceitos j explicitados anterior-
mente nota-se que o Canal Comunitrio da
Cidade de So Paulo ao mesmo tempo um
canal provedor e produtor, mas com ten-
dncia maior a ser um canal provedor de
espao para a transmisso de programas por
um leque grande e variado de entidades. Na
gesto de Carlos Meceni, se frisa muito o
interesse do Canal em ser um canal cida-
619 COMUNICAO AUDIOVISUAL
do . a sociedade falando para a soci-
edade, diz ele.
Concluses
Normalmente so feitas severas crticas
ao fato da TV comunitria pertencer ao
sistema cabo de televiso por ser elitista.
O que no deixa de ser real, mas a criao
dos canais comunitrios na TV a Cabo
tambm significa um passo significativo na
democratizao do acesso das organizaes
civis sem fins lucrativos aos meios de co-
municao na condio de protagonistas de
mensagens e programas, alm de gestoras de
canais de televiso. Facilita tambm o acesso
do cidado a um tipo de mdia na condio
emissor.
Trata-se de um processo que incentiva
organizao popular, experimenta um modo
de gesto coletiva de meios de comunicao
e possibilita um modo de uso partilhado da
grade de programao televisiva.
As experincias estudadas perfilam dife-
renas de concepes e de estratgias, porm
tem semelhanas quanto aos propsitos em
relao aos contedos e ao uso coletivo e
partilhado do espao televisivo por entidades
sem fins lucrativos. No conjunto, se pautam
por colocar no ar uma programao de
interesse social visando contribuir para a
ampliao da cidadania.
Tomando por base os conceitos de par-
ticipao popular na comunicao, observa-
se que nos canais comunitrios de televiso
estudados, vem se desenvolvendo em nveis
bastante elevados de participao no mbito
da programao desses meios de comunica-
o.
No se trata de uma participao even-
tual, de uma participao controlada pelas
equipes de direo, como ocorre na grande
maioria da grande mdia. Pelo contrrio, as
entidades obtm sob condies definidas
legitimamente por cada canal comunitrio -
espaos para veiculao de programas de sua
autoria, os quais so produzidos segundo a
linha de ao e a perspectiva poltico-ide-
olgica de cada entidade.
H participao no planejamento, na
produo, na transmisso e na recepo dos
contedos veiculados. Tal processo revela que
a prtica de participao na programao dos
nos canais comunitrios se realiza em nvel
elevado, em que o poder de deciso sobre
o contedo, a linguagem, o formato do
programa est no grupo, na entidade, e no
na equipe tcnica ou de direo do canal.
A gesto dos trs canais comunitrios
de carter coletivo. Contudo, variam o grau
de representatividade social e as prticas
democrticas relativas eleio dos dirigen-
tes e a tomada de decises.
Os canais apresentam alguns sentidos em
comum, mas na realidade tm suas
especificidades que tornam cada um, nico.
A particularidade de cada canal construda
em funo da histria vivida por cada um;
das polticas de ao delineadas pelos grupos
que o constitui; da experincia e perspectiva
democrtica de suas lideranas; da conjun-
tura em que est inserido
44
; do grau de
interesse pelo uso pblico dos meios de
comunicao; do nvel de conscincia e
organizao dos movimentos sociais da re-
gio; do tipo de correlao de foras postas
em contato quando da criao e gesto de
cada canal; das condies infra-estruturais
disponveis; do tipo de gesto e de estratgia
traada para arrecadao de recursos, entre
outros fatores.
Por fim, h que se reconhecer que a TV
comunitria no Brasil est em processo de
construo. No h um modelo nico, nem
um modelo que seja o melhor. Garantidos
os princpios, as finalidades e as prticas que
assegurem o acesso democrtico gesto e
a programao, alm do desenvolvimento de
contedos condizentes com os interesses de
desenvolvimento da cidadania e do controle
coletivo da gesto, todas as experincias so
vlidas e tendem a ser aperfeioadas
gradativamente.
H que se dizer ainda que os canais esto
sendo organizados em vrias cidades brasilei-
ras e que vm se articulando nacionalmente,
como demonstra a criao da ABCCom -
Associao Brasileira de Canais Comunitrios.
620 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Bibliografia
Agostinho, Victor. Como funciona a pi-
rata TV Cubo. Folha de S. Paulo. 1 abril
1987, p.B.1 Informtica.
Acordo Institucional.[Canal Comunitrio
da Cidade de So Paulo]. 05.jun.1997.
(mimeo).
Amaral, Irene C. Gurgel do. A movi-
mentao dos sem-tela: um histrico das
televises alternativas no Brasil. So
Bernardo do Campo: UMESP, 1995. (Dis-
sertao de Mestrado- Comunicao Soci-
al).
Associao de Entidades Canal Comu-
nitrio de TVs por Assinatura do Rio de
Janeiro. Estatuto. 15.nov.1997.
Boffetti, Valdir A. Canais comunitrios:
construindo a democracia na TV a Cabo.
So Bernardo do Campo: UMESP, 1999.
(Dissertao de mestrado-Comunicao So-
cial.)
Boto, Paulo R., Zaccaria, Rosana B.
TVs comunitrias: limites e possibilidades.
GT Comunicao e Cultura Popular. Congres-
so Intercom,. Piracicaba: INTERCOM/
UNIMEP, 1996.
Chaffin, Cassia. O circo eletrnico /
TV de Rua: a tecnologia na praa pblica.
So Bernardo do Campo: UMESP, 1995.
(Dissertao de mestrado-Comunicao So-
cial).
Dentel age; TV livre no vai ao ar. Folha
de S. Paulo. 15 ago.1985. p.40 Ilustrada.
Duarte, Luiz Guilherme. pagar para
ver. So Paulo: Summus, 1996.
Estatuto do Canal Comunitrio da Ci-
dade de So Paulo. [Termo Aditivo do Acordo
Institucional]. 04.ago.1999. (mimeo).
Estatuto. Associao das Entidades
Usurias de Canal Comunitrio em Porto
Alegre.18.ago.1997. (mimeo).
JORNAL eletrnico. Disponvel em
<www.canalcomunitario.com.br>. Acesso em:
22/out/2002.
Lima, Rafaela & Britto, B. Cartilha do
acesso. Belo Horizonte: UFMG, 1997.
Manual de diretrizes: orientaes aos in-
teressados em participar do canal comunit-
rio da cidade de So Paulo. So Paulo:
CCCSP, s/d.
Merino Utreras, Jorge. Comunicacin
popular alternativa y participatria.
Manuales didcticos. Quito: CIESPAL,
1988.
Nascimento, Iracema Santos do. A de-
mocratizao como ela : a experincia do
canal Comunitrio a Cabo de Porto Alegre.
So Paulo: USP, 2001. (Dissertao de
mestrado-Comunicao Social).
Peruzzo, Cicilia M.K. TV Comunitria
no Brasil: aspectos histricos. Apresentado
no GT Mdios Comunitrios y Ciudadania.
V Congresso Latinoamericano de Investiga-
dores de la Comunicacin. Santiago-Chile,
27 a 30 de abril de 2000.
__________. Gesto dos canais comuni-
trios no Brasil. Apresentado no Ncleo de
Pesquisa Comunicao para a Cidadania,
XXIV Congresso Brasileiro de Estudos
Interdisciplinares da Comunicao, promovi-
do pela INTERCOM, de 3 a 7 de setembro
de 2001.
__________. Comunicao nos movimen-
tos populares: a participao na construo
da cidadania. 3.ed. Petrpolis: Vozes, 2004a.
__________. As estratgias de progra-
mao dos canais comunitrios no Brasil.
2004b (indito)
Regimento Interno do Conselho Gestor.
[Canal Comunitrio da Cidade de So Pau-
lo]. 05.jun.1997. (mimeo).
Rodrigues, Daniela Goulart. Quem te viu
quem te v: os canais comunitrios na TV
a cabo. So Paulo: USP, 2000. (Dissertao
de mestrado-Comunicao Social)
Santoro, Luiz Fernando. A Imagem nas
mos: o vdeo popular no Brasil. So Paulo:
Summus, 1989.
Serva, Leo. TV cubo, uma pirata no
Butant. Folha de S. Paulo. 29 set 1986,
p.27 - Ilustrada.
TV Pirata pronta para a estria. Folha
de S. Paulo. 15 ago.1985. p.40 - Ilustrada.
Wainer, Jlio. A TV comunitria de baixa
potncia: recado ao Ministrio das Comu-
nicaes. So Paulo: 1995. (mimeo.)
_______________________________
1
UMESP - Universidade Metodista de So
Paulo, Brasil.
2
Com base os nveis apontados por Merino
Utreras (1988), que sistematiza os princpios da
participao na comunicao aprovados em reu-
621 COMUNICAO AUDIOVISUAL
nio sobre autogesto, realizada em Belgrado em
1977, e em Seminrio do CIESPAL/UNESCO, em
1978: participao em nvel da produo, do
planejamento e da gesto.
3
Parcialmente extrado do texto Gesto dos
canais comunitrios no Brasil (Peruzzo, 2001).
4
Para detalhamento e mais informaes sobre
algumas destas experincias ver Cicilia M.K.
Peruzzo, TV comunitria no Brasil: aspectos
histricos (2000), Irene C. Gurgel do Amaral, A
Movimentao dos Sem Tela (1995) e Cassia
Chaffin, O Circo-Eletrnico TV de Rua (1995).
5
Ver sobre maior aprofundamento do tema
em (Peruzzo, 2000).
6
Cada estado brasileiro tem um canal de
televiso educativa, sediado nas capitais, perten-
cente ao Governo Estadual. Os canais educativos
que tem obtido uma maior expressividade em nvel
nacional so a TV Cultura de So Paulo e a TV
Educativa do Rio de Janeiro.
7
Ver Boto & Zaccaria, 1996.
8
A mesma da TVs abertas, tais como TV
Globo, TV Record, SBT etc.
9
Ver Serva, 1986, p.27.
10
Ver Peruzzo (2000) e Wainer (1995).
11
Outros sistemas de transmisso de TVs por
assinatura so: MMDS Multichannel Multipoint
Distribution System, atravs de antena microon-
das (por ar e terra); DBS Direct Broadcasting
Satellite, por satlite e exige parablica para
recepo; STV Subscription Television, por
satlite; DTH Direct To Home, o satlite (di-
gital), utilizados pela Sky e Direct TV. Ver Duarte,
1996.
12
Pessoa jurdica que atua mediante conces-
so que atravs de seus equipamentos e instala-
es recebem, processa e geram programas e
sinais.
13
Pelo Artigo 23 so trs canais legislativos
(destinados ao Senado Federal, Cmara dos
Deputados e Assemblias Legislativas/Cmaras de
Vereadores). Um canal universitrio (para uso
partilhado das universidades sediadas na rea de
prestao do servio), um educativocultural
(reservado para uso dos rgos que tratam de
educao e cultura do governo federal, governos
estaduais e municipais) e um comunitrio (aberto
para utilizao livre por entidades no gover-
namentais e sem fins lucrativos). Em 2003 por
includa TV Justia (STF).
14
O Canal Comunitrio de Belo Horizonte
teria entrado no cabo no incio de 1997. O Canal
Comunitrio de Braslia comeou a operar em
julho de 1997.
15
O canal de So Paulo foi escolhido para
este estudo porque optamos em trabalhar com um
canal de uma grande cidade, alm dos dois
primeiros a serem instalados no Pas.
16
A partir de janeiro de 2004 passou a ocupar
o canal 6 por imposio da operadora.
17
Parcialmente extrado do texto Gesto dos
canais comunitrios no Brasil (Peruzzo, 2001).
18
Sobre o histrico dos canais ver Peruzzo
(2001).
19
Veja por exemplo o caso de Braslia e de
Belo Horizonte.
20
Apresentado como Estatuto e trata-se do
documento mais completo sobre a estrutura in-
terna do Conselho.
21
Ligada Federao dos Empregados do
Comrcio.
22
Na poca de realizao desta pesquisa havia
o pedido de mais uma entidade para compor o
Conselho gestor: a Associao dos Amigos do
Canal Comunitrio de So Paulo. Algumas das
entidades que participam da Associao de Amigos
do Canal Comunitrio veiculam programas no
Canal, como o caso do Ministrio Pblico.
23
Parcialmente extrado de Peruzzo (2001).
24
Parcialmente extrado do texto As estra-
tgias de programao dos canais comunitrios no
Brasil (Peruzzo, 2004b, indito)
25
O nmero de horas varia em funo da grade
de programao que reflete o interesse de horrio
das entidades associadas. Tem dia que tem uma
hora e meia, outro 3:00h ou 4:00 horas.
26
Consiste num letreiro rotativo com in-
formaes de utilidade pblica.
27
Em entrevista concedida autora no dia
09 de julho de 2001. As demais citaes de falas
de Jorge Vieira tambm foram obtidas na mesma
entrevista.
28
Segundo os estatutos, at seis meses, mesmo
no pagando a mensalidade, considerada asso-
ciada.
29
Os programas das entidades so de 30
minutos e transmitidos uma vez por semana, com
reprises.
30
A taxa para cobrir os custos de gravao
e edio. Para os demais programas no co-
brado nenhum valor. A condio de participao
ser associada do Canal, pagando uma mensa-
lidade como scia.
31
Os dois primeiros programas da lista operam
no canal desde o incio e nunca se afastaram e
raramente reprisam.
32
O trabalho voluntrio permitido apenas
para colaborar em atividades -, mas no tem dado
muito certo porque s aparecem desempregados
e o pessoal do Canal no se sente bem em
aproveitar tal mo-de-obra que no fundo tem a
expectativa de ser contratada o que no ocor-
reria -, alm de ser preciso oferecer pelo menos
vales refeio e transporte.
33
Esta e outras citaes de Alberto Lpez
Meja foram obtidas por meio de entrevista
concedida autora no dia 18 de julho de 2001.
622 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
34
Refere-se discriminao do acesso em
decorrncia dos preos cobrados pelas assinaturas
que a torna proibitiva aos mais pobres.
35
exibido em 22 TVs Comunitrias em nvel
nacional.
36
Informaes fornecidas por Alberto Lpez
Meja, por e-mail.
37
Basta o Sindicato que exclui o no sindi-
calizado, a Associao que exclui o no associ-
ado... No faz muito sentido uma TV Comunitria
excluir o cidado e o movimento social ainda no
associado. A exigncia de criao de uma
Associao de Usurios do Canal, para poder
operar oper-lo necessria, mas a lei no to
rgida a ponto de impedir o acesso do no as-
sociado programao.
38
Todas falas de Carlos Meceni, citadas neste
trabalho, foram obtidas em entrevista concedida
autora no dia 20 de julho de 2001.
39
Programa Trocando Idias.
40
Que uma das scias da TV Interao.
41
Em se tratando de TV e comparativamente
aos valores cobrados pelos canais comerciais, este
valor irrisrio.
42
Segundo Meceni, a diretoria presta conta
dos gastos aos usurios mensalmente.
43
Por outro, importante ficar bem claro
que a adoo de mecanismos de cobrana, como
os do Canal de So Paulo, pressupe a exis-
tncia de polticas expressas e formas de con-
trole que assegurem a aplicao dos recursos
com finalidade pblica, ou seja apenas para
operao, manuteno e investimentos do pr-
prio canal.
44
Se a cidade grande ou pequena, se existem
ou no organizaes sociais fortes e mobilizadas
etc..
623 COMUNICAO AUDIOVISUAL
Identificando um gnero: a tragdia televisiva
Eduardo Cintra Torres
1
As grandes transmisses televisivas as-
sociadas no Ocidente a eventos inesperados
e considerados pela sociedade como crticos
ou catastrficos apresentam semelhanas
entre si por mais diferentes que sejam os
factos ocorridos e as circunstncias em que
ocorrem. O objectivo deste trabalho de in-
vestigao o de estabelecer as semelhanas
estruturais, textuais e da recepo dessas
emisses no sentido de se identificar um
gnero televisivo a que chamamos tragdia
televisiva.
2
As catstrofes so, nas sociedades, recor-
rentes, apesar de inesperadas, e so marcantes,
apesar de efmeras. O mesmo sucede com
as suas emisses televisivas. Da que sejam
um objecto esquivo de anlise e identifica-
o. A presente anlise partiu de dois acon-
tecimentos muito diferentes ocorridos em
2001: em 4 de Maro, a queda da Ponte
Hintze Ribeiro, entre Castelo de Paiva e
Entre-os-Rios, em Portugal, arrastada pela
frias das guas do Douro; em 11 de Se-
tembro, os ataques terroristas nos Estados
Unidos. Num estudo de recepo junto de
espectadores, acrescentou-se um terceiro
evento, os ataques de milcias pr-indonsias
em Timor-Leste aps o referendo de 1999
consagrando a independncia. No compa-
ramos aqui estes eventos ocorridos em trs
continentes, antes as emisses televisivas que
os acompanharam, uma delas nos Estados
Unidos, as outras duas em Portugal, tendo
sido estudada a emisso integral da ponte de
Castelo de Paiva.
Retrospectivamente, este gnero teve
origem aquando do assassnio do presidente
norte-americano, John Kennedy, em 1963.
Edgar Morin chamou ento emisso
teletragdia
3
. Eventos que cabem no mesmo
gnero so, por exemplo, o terramoto nos
Aores (1980), a exploso do vaivm espa-
cial Challenger (1986), o terramoto de San
Francisco, EUA (1989), as mortes do Rei
Balduno dos Belgas (1993) e de Diana
Spencer (1997) e o ataque de Al Qaeda em
Madrid (2004).
Estes acontecimentos do mundo real so
caracterizados pela sociedade como trgicos
e so apresentados pela televiso de acordo
com estruturas e caractersticas que tornam
as emisses sucedneos vernculos do gnero
trgico, quer como texto quer como espec-
tculo. As emisses respeitam a acontecimen-
tos mobilizadores intensos de toda a soci-
edade e apresentam-se ao investigador como
os factos sociais totais de Marcel Mauss,
os factos sociais que abalam a totalidade
da sociedade e das suas instituies e so
fenmenos ao mesmo tempo jurdicos,
econmicos, religiosos, e mesmo estticos
4
.
Imps-se uma aproximao pluridiciplinar
para analisar um texto televisivo grudado a
um facto trgico total, imps-se estudar, no
apenas a televiso de per se, mas restituir
um conjunto em que aparea a coerncia
interna da sociedade observada
5
. Para ana-
lisar a televiso, objecto de estudo que se
apresenta como colossal, catico, comple-
xo, nas palavras de John Hartley, a apro-
ximao pluridisciplinar limita a injustia
que pode resultar de uma linha de investi-
gao nica
6
. este, afinal, o cerne dos
Estudos Televisivos, disciplina jovem
7
que
se tem estabelecido nos pases anglo-
saxnicos como ramo dos estudos culturais
mas no ainda em pases como Portugal.
Para esta nova disciplina tm concorrido
aproximaes a partir de conceitos e
enquadramentos tericos e mtodos de ou-
tras disciplinas, como os estudos literrios
e flmicos, psicologia social, filosofia, psi-
canlise, etnografia e antropologia, sociolo-
gia, histria e economia, contribuindo todas
as abordagens para criar um corpo de
investigao reconhecvel e legtimo sobre a
televiso enquanto fenmeno cultural
8
.
Nesta investigao, procurou-se identifi-
car o gnero da tragdia televisiva atravs
de trs linhas: a anlise textual, a anlise
624 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
sociolgica do facto social total e do seu
impacto nas audincias, e ainda, mas em
menor grau, o enquadramento institucional
e tcnico das emisses televisivas, aproxi-
mao ao objecto que motivou uma aborda-
gem multidisciplinar com recurso aos estu-
dos literrios, culturais, jornalsticos, socio-
lgicos e outros.
A queda da Ponte e o 11 de Setembro
so eventos que dizem respeito a toda a
comunidade e que so como tal vividos por
ela. Explorando ideias de Ferdinand Tnnies
e de Max Weber, pode dizer-se que, em caso
de catstrofe vivida como nacional, em caso
de tragdia televisiva, a comunidade sobre-
pe-se sociedade
9
e os afectos sobrepem-
se aco social inspirada numa compen-
sao de interesses por motivos racionais.
10
Estes eventos abalam as instituies e ins-
talam o conceito de crise. O discurso comum
e jornalstico identifica de imediato estes
acontecimentos como tragdias, criando-se
uma correlao entre a tragdia texto e
espectculo teatral e a tragdia catstrofe do
mundo real. Quer dizer, a correlao resulta
de a realidade se organizar, explicar e aceitar
atravs de um modelo milenar da literatura
e do espectculo.
O facto de a sociedade se transformar em
comunidade que se sente em crise torna
possvel a comparao entre eventos de
propores to diferentes quanto a queda da
Ponte e o 11 de Setembro, pois o que conta
a estrutura do evento quando narrado e
mostrado. Da que se possa criar uma
genealogia da tragdia televisiva comeando
no assassnio de John Kennedy at ao 11 de
Maro madrileno.
O que hoje mais identifica este tipo de
eventos catastrficos o papel central da
televiso na cristalizao do modelo trgico.
A televiso coloca-se no centro do aconte-
cimento pela sua omnipresena nas casas,
lugares de trabalho e convvio, pelas suas
qualidades audiovisuais, por ser o principal
meio informativo de acompanhamento dos
eventos e pela forma como permite ao es-
pectador questionar as relaes de poder num
momento de crise. Dadas as crescentes fa-
cilidades tcnicas e a concorrncia entre
operadores, a televiso participa no/do even-
to. Por causa dela, a viso e a interpretao
do evento pelo espectador modificam-se, mas,
mais ainda, a dinmica dos acontecimentos
subsequentes ao facto trgico fundador es-
tabelece-se principalmente em funo da
televiso.
Na identificao do gnero da tragdia
televisiva sublinhamos:
- a acessibilidade dos meios tcnicos, a
concorrncia entre operadores e ainda a
facilidade de atingir uma grande audincia,
verificando-se de facto um acompanhamento
das emisses muito superior ao normal.
- O uso intensivo do directo, tornando-
o a essncia do fluxo televisivo interrompen-
do e sobrepondo-se emisso normal.
- O recurso a arqutipos, smbolos e
mitos recorrentes no mundo trgico, como,
por exemplo, a transformao dos eventos
em dramas trgicos, a tipificao dos even-
tos em fices pr-existentes (violncia, inun-
dao) e dos intervenientes em personagens
dramticos.
- O recurso s configuraes acerca do
destino e do divino no acontecido, vividas
nos eventos e pelos espectadores, ou ima-
ginadas por estes.
- A assuno da tragicidade dos eventos
e da condio humana que lhe prpria.
- Elementos do texto trgico como as
unidades de aco, de tempo e de lugar.
- A morte e o destino dos cadveres, bem
como da sua eventual exibio, como ques-
to central da evoluo do evento, enfren-
tando a televiso problemas e solues pr-
ximos do que ocorreram aos autores da
tragdia clssica.
- Mudana do jornalismo televisivo em
tempo de catstrofes, adoptando estratgias
semelhantes s da tragdia clssica, incluin-
do o discurso emocionado, sem o qual em
vez de tragdia televisiva haveria apenas a
dimenso espectacular da televiso, o que
contrariaria a tica de muitos espectadores
num acontecimento dizendo respeito co-
munidade nacional.
- A transformao dos intervenientes em
personagens de tipos semelhantes aos que
encontramos nas tragdias clssicas; tal como
acontece nestas, verifica-se ainda que os
papis assumidos pelas personagens resultam
da prpria aco da tragdia televisiva. Nos
casos estudados, destacam-se os heris in-
dividuais (os presidentes das cmaras) os
heris colectivos (os salvadores e as vtimas,
625 COMUNICAO AUDIOVISUAL
heroicizadas), os familiares como porta-vo-
zes das vtimas e motores da aco, as
testemunhas como narradores que restituem
os eventos sem intermediao dos jornalis-
tas, os portadores de orculos, os bodes
expiatrios e os culpados (reais ou imagi-
nados), os dirigentes polticos e religiosos,
as personagens inanimadas, e o essencial coro
da tragdia (pessoas presentes nos locais,
mirones, testemunhas, sobreviventes, famili-
ares, colegas, amigos e vizinhos das vtimas,
todos representando a cidade mas sem subs-
tituir a legalidade), coro que funciona como
espelho do espectador. Surgem ainda como
personagens os jornalistas e a televiso
enquanto entidade colectiva.
- O gnero da tragdia televisiva mani-
festa-se ainda na necessidade sentida por
intervenientes, poder poltico, operadores
televisivos e espectadores de dar um desfe-
cho tragdia, para o qual todos concorrem,
com a interveno da instituio religiosa e
de novas instituies laicas dominantes, como
as do entretenimento e desporto. O estabe-
lecimento do desfecho revela-se em algumas
das tragdias uma preocupao fundamental
do poder para a retoma do equilbrio aps
a crise.
- Contribui poderosamente para a carac-
terizao destas transmisses como tragdias
televisivas a sua dimenso emocional. As
emoes tm vindo a surgir como tema no
jornalismo e na televiso e, tal como noutros
campos de investigao, vo deixando de ser
um tema incmodo. No caso da tragdia
televisiva, a anlise do facto social total teria
de abordar as emoes, pois elas so parte
integrante do objecto. H uma manipulao
e uma vivncia de emoes por parte dos
intervenientes (emissores, protagonistas, re-
ceptores) e h, como se provou, uma relao
directa e indestrutvel entre razo e emoo
que leva o espectador a formular juzos a
respeito de eventos sobre os quais recebe
informao factual e emocional.
Estudando a emotividade impregnada nas
emisses e a emotividade dos espectadores
de televiso, e dos espectadores das trag-
dias televisivas em particular, esta investi-
gao procurou a compreenso de vrias di-
menses do fenmeno televisivo: o grau de
emotividade sentido pelos espectadores; a
mistura na informao de mais ou menos
ndices emocionais; a relao entre as dimen-
ses cognitiva e emotiva na recepo das
mensagens televisivas; semelhanas das
experincias teatral e televisiva, ao nvel do
palco e da plateia; a diviso dos espectadores
de acordo com a emotividade sentida; as
condicionantes sociais dos tipos de
emotividade, bem como a dimenso poltica
das emoes; a influncia das transmisses
impregnadas de emotividade na efervescncia
colectiva; as emoes socializadas e
maioritariamente aceites, vividas e espelhadas
nas transmisses televisivas, a aproximao
entre as emoes presentes na tragdia
televisiva e as emoes presentes na trag-
dia-espectculo, aproximao que entrevemos
em Aristteles a respeito de narrativas
ficcionais e de narrativas de realidade.
11
Para compreender estes fenmenos na sua
aplicao s tragdias televisivas, realizou-
se um inqurito de convenincia a 1329
pessoas que se dividiram em trs sub-amos-
tras estanques ao escolherem livremente entre
referir-se s emisses televisivas de Timor-
Leste, Ponte ou 11 de Setembro; disseram
qual o grau sentido de 17 emoes e res-
ponderam a questes de comportamento e
opinio sobre essas emisses trgicas.
Ao realizar-se a anlise factorial, encon-
trou-se uma importante semelhana na dimen-
so emocional de cada uma das trs sub-
amostras independentes. A emoo de horror
aparece sempre associada ao medo e raiva,
pena e tristeza em dois dos trs eventos.
Alegria, felicidade e indiferena aparecem
associadas nas trs sub-amostras, o mesmo
sucedendo com solidariedade, partilha e
interesse. Finalmente, vergonha, culpa e
desprezo tendem a surgir associados (ver
Quadro 1; os quadros esto no final do artigo).
A pena e o horror, que desde Aristteles
se apontam como o objectivo do texto e da
representao trgicos, apresentam uma das
mais fortes correlaes estatsticas, ou mes-
mo a mais forte, no caso da sub-amostra
Timor, e esto no ncleo duro das emoes
mais sentidas. O inqurito provou a existn-
cia de um padro emocional muito semelhante
entre as trs sub-amostras independentes (ver
Quadro 2).
As cinco emoes mais sentidas so
exactamente as mesmas nos trs eventos:
pena, horror, interesse, tristeza e solidarieda-
626 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
de, excepto na sub-amostra do 11 de Setem-
bro, em que a solidariedade troca com a
surpresa. Apesar das diferenas de conte-
do entre os trs eventos, os seus especta-
dores tm comportamentos emocionais seme-
lhantes. Estas semelhanas so marcantes e
suficientes para criar uma categoria comum:
ao nvel da recepo, a tragdia televisiva
provoca a manifestao das mesmas emoes
e destaca-se pela inexistncia das mesmas
emoes. H uma ampla comunho de
emoes e uma ampla identificao a nvel
emocional: a tragdia televisiva une as
pessoas atravs das emoes. Mas essa
categoria comum ganha ainda mais consis-
tncia quando se prova que tambm o com-
portamento e a opinio dos espectadores de
cada uma das teletragdias muito semelhan-
te (ver Quadros 3 a 15).
As trs variveis scio-demogrficas do
inqurito, sexo, idade e grau acadmico, no
apresentam suficientes diferenas expressivas
dentro de cada sub-amostra para constitu-
rem razes explicativas da emotividade e no
possvel encontrar um padro uniforme
entre os trs eventos quando se comparam
os resultados nas trs variveis referidas. Este
facto pode confirmar que em momentos de
efervescncia colectiva
12
, diluem-se ele-
mentos como a classe social e o nvel
educacional e mesmo a idade e o sexo,
estando os elementos determinantes do com-
portamento e opinio a montante desses,
como a lngua, a nacionalidade e mais a
montante, a emotividade. Da que tentsse-
mos dividir os espectadores de teletragdias
no pelas variveis mas quanto sua prpria
emotividade, seguindo o mtodo de clusters
k-Means, isto grupos com o mximo de
afinidades internas a partir do grau de
emotividade expressa. Resultaram quatro
clusters, que definimos como o de mais alta
emotividade, o de mdia emotividade, o de
baixa emotividade e finalmente um grupo de
emotividade baixa e diferenciada que inici-
almente nos confundiu para depois o iden-
tificarmos com um comportamento
alexitmico, que consiste na confuso de
emoes, em especial em casos de eventos
traumticos, como o caso dos aqui ana-
lisados.
A categorizao em clusters revelou uma
clara relao entre o nvel de emotividade
sentido pelo espectador da tragdia televisiva
e o seu comportamento e opinio. Ao mesmo
grau e tipo de emotividade corresponde,
grosso modo, a mesma opinio e o mesmo
comportamento. Quer dizer, as variveis
scio-demogrficas contribuem para a distin-
o entre os inquiridos em situao de
normalidade quotidiana, mas essa distino
esbate-se quase por completo quando se
vivem situaes-limite como as de tragdias
televisivas, quando se criam o que chama-
mos de telemultides.
As tragdias televisivas cumprem precei-
tos que, h 160 anos, Almeida Garrett pro-
punha para o drama quando apresentou a sua
tragdia Frei Lus de Sousa: num sculo
democrtico, escreveu, os leitores e os es-
pectadores... querem pasto mais forte, menos
condimentado e mais substancial: povo,
quer verdade. (...) No drama e na novela da
actualidade oferecei-lhe o espelho em que se
mire a si e ao seu tempo, a sociedade que
lhe est por cima, abaixo, ao seu nvel e
o povo h-de aplaudir, porque entende:
preciso entender para apreciar e gostar.
13
Tambm as tragdias televisivas fornecem
espectculo trgico ao pblico, com aco,
verdade e emoo, compreensvel, construdo
como uma narrativa ficcional em pedaos e
permitindo fruio imediata ao vivo pelo
maior nmero numa sociedade democrtica.
Sublinhemos: a tragdia televisiva, tal como
a tragdia clssica, um gnero dum sistema
democrtico, sendo reprimida em regimes
autoritrios (cheias na regio de Lisboa, 1967;
afundamento de submarino russo Kursk,
2000; ataque checheno em teatro de Moscovo,
2002). As consequncias para o poder da
prpria existncia da tragdia televisiva so
um tema em debate nas sociedades abertas,
preocupao central de Tamar Liebes ao
identificar o gnero da tragdia televisiva com
o nome de maratonas de catstrofes
14
.
Como Goethe previa h dois sculos, a
imprensa, com as notcias do mundo real,
retirava impacto aos enredos trgicos nas
salas
15
. Que dizer hoje, quando um fluxo
ininterrupto de notcias se instalou no quo-
tidiano de um mundo ps-sagrado? O espec-
tculo da tragdia literria tornou-se menos
necessrio sociedade saturada de eventos
trgicos no mundo real e foi substituda por
outras formas de espectacularidade trgica,
627 COMUNICAO AUDIOVISUAL
ou imbudas de tragicidade, como o so as
tragdias televisivas. O que antes a sociedade
incorporava em si atravs da transcendncia
artstica do texto trgico transfigurou-se no
texto vernculo quer dizer, actual e vivo,
coloquial, informal e vulgar do directo
televisivo dos cenrios reais de tragdias reais.
Em vez de viverem o sofrimento hipottico
dos dramas mitolgicos, as pessoas passaram
a viver, como na arena romana, o sofrimento
real, reprimindo, porm, o prazer que even-
tualmente retirem desse sofrimento distn-
cia. A catarse transferiu-se da sala de espec-
tculo para a sala de estar.
Que importa no de um ponto de vista
esttico ou literrio, mas sociolgico que
quando a hiptese descamba em realidade
se tem de facto uma corrupo de tragdia?
16
As emisses de eventos trgicos recorrem aos
arqutipos trgicos e mesma paleta emo-
cional mobilizada pela tragdia; remetem para
inquietaes individuais e colectivas seme-
lhantes s da tragdia; e recorrem a estra-
tgias discursivas, estruturais e espectacula-
res que conhecemos da tragdia. Em
consequncia, as tragdias televisivas permi-
tem sociedade aceitar o inaceitvel e tornar
o inverosmil verosmil, integrar na experi-
ncia social a ruptura de valores e de ins-
tituies, permitem ainda, pelo desfecho, a
retoma do equilbrio anterior ao evento.
Se, na sua origem, a tragdia resultou de
um ritual e se relacionava com o sagrado,
hoje, a tragdia televisiva, sua herdeira
corrompida, tambm um ritual, agora ps-
sagrado, que se inscreve na necessidade de
afirmao da coeso social e comunitria. Tal
como na tragdia, a verdadeira matria da
tragdia televisiva pode tambm ser o
pensamento social prprio
17
da sociedade,
razo pela qual ambas so prprias e ine-
rentes sociedade democrtica.
Ambas, a tragdia e a tragdia televisiva,
discutem o seu tempo, apenas o fazem com
barros diferentes: a tragdia transfigura os
temas actuais em fico, e a tragdia
televisiva sai da sala de espectculos para
fazer do lugar da catstrofe real o palco da
nova tragdia.
Assim, a televiso cria a nova tragdia,
a tragdia televisiva: ela faz do evento tr-
gico do mundo real uma reality tragedy, uma
tragdia de realidade, um gnero esquivo que
marca as vidas dos cidados e telespectado-
res.
E, assim, usurpando um gnero dram-
tico, uma vez mais a televiso cumpre-se nos
seus desgnios tanto histrico-sociolgicos
como tcnicos de imediatismo, directo, ac-
tualidade e de realidade, uma das poucas
palavras que, segundo Vladimir Nabokov,
nada significa sem aspas
18
.
628 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
_______________________________
1
Doutorando no ICS. Docente na UCP e no
ISCEM. Crtico no Pblico e Jornal de Negcios,
autor.
2
Esta comunicao ao LUSOCOM (Covilh,
22.04.2004) apresenta as concluses da disserta-
o de Mestrado em Comunicao, Cultura e
Tecnologias da Informao, apresentada ao ISCTE
sob orientao cientfica do Professor Doutor
Manuel Villaverde Cabral e aprovada em prova
pblica em 3 de Dezembro de 2003. Da bibli-
ografia consultada referem-se aqui, em p de
pgina, apenas as obras citadas.
3
Edgar Morin, Une tl-tragdie amricaine:
lassassinat du Prsident Kennedy,
Communications, n3, 1964, p.81.
4
Marcel Mauss, Manuel dEthnographie,
prefcio de Denise Paulme, Paris, Payot, 2 ed.,
2002, p.13.
5
Ibidem.
6
John Hartley, Uses of Television, Londres,
Routledge, 1999, p.19.
7
Charlotte Brunsdon, What Is the Television
of Television Studies,in Horace Newcomb (ed),
Television. The Criticial View, New York, OUP,
6ed., 2000, p.625.
8
Bernadette Casey, Neil Casey, Ben Calvert,
Liam French e Justin Lewis, Television Studies. The
Key Concepts, Londres, Routledge, 2002, p.vii.
9
Ferdinand Tnnies, Comunidad y Asociacin,
Barcelona, Edicions 62, 1979.
10
Max Weber, Economia y Sociedad, Mxico,
Fondo de Cultura Econmica, 1983, p.27.
11
Aristteles, Potica, Lisboa, INMC, 6ed.,
s.d., e The Art of Rhetoric, Londres, Penguin
Classics, 1991.
12
mile Durkheim, Les Formes lmentaires
de la Vie Religieuse, Paris, PUF, 5 ed, 1968.
13
Almeida Garrett, Ao Conservatrio Real,
Memria lida em conferncia do Conservatrio
Real de Lisboa em 6 de Maio de 1843, in Obras
Completas, Vol. I, Empresa de Histria de Por-
tugal da Sociedade Editora, 1904, p.773.
14
Tamar Liebes, Televisions Disaster
Marathons: A Danger for Democratic Processes?,
in Tamar Liebes e James Curran (eds.), Media,
Ritual and Identity, Londres, Routledge, 1998,
pp.71-84.
15
Johann W. Goethe, Fausto, Lisboa, Relgio
dgua, 1999, pp.30-36.
16
A. D. Nuttall, Why Does Tragedy Give
Pleasure, Oxford, Clarendon Press, 1996, p.77.
17
Jean-Pierre Vernant, e Pierre Vidal-Naquet,
Mythe et Tragdie en Grce Ancienne, Paris, La
Dcouverte, vol. I, 2001, p.15.
18
Vladimir Nabokov, On a Book Entitled
Lolita, in Lolita, Londres, Penguin, 1995,
p.312.
629 COMUNICAO AUDIOVISUAL
Quadro 1. Anlise factorial
R O M I T E T N O P O R B M E T E S E D 1 1 L A T O T
r o r r o H 3 8 , 0 r o r r o H 0 5 , 0 r o r r o H 6 6 , 0 r o r r o H 3 6 , 0
o d e M 7 4 , 0 o d e M 5 6 , 0 o d e M 6 6 , 0 o d e M 1 6 , 0
a v i a R 5 6 , 0 a v i a R 1 6 , 0 a v i a R 6 6 , 0
a n e P 1 7 , 0 a n e P 1 6 , 0 a n e P 3 4 , 0
a z e t s i r T 9 6 , 0 a z e t s i r T 2 6 , 0 o s r e v A 8 5 , 0
o s r e v A 1 6 , 0 a s e r p r u S 5 5 , 0 e d a d e i s n A 5 4 , 0 e d a d e i s n A 3 5 , 0
a i r g e l A 0 8 , 0 a i r g e l A 3 7 , 0 a i r g e l A 7 6 , 0 a i r g e l A 1 8 , 0
e d a d i c i l e F 4 7 , 0 e d a d i c i l e F 5 8 , 0 e d a d i c i l e F 5 7 , 0 e d a d i c i l e F 0 8 , 0
a n e r e f i d n I 8 3 , 0 a n e r e f i d n I 1 6 , 0 a n e r e f i d n I 0 6 , 0 a n e r e f i d n I 6 5 , 0
a s e r p u S 2 4 , 0 a p l u C 8 5 , 0
a h n o g r e V 8 3 , 0
e d a d e i r a d i l o S 9 4 , 0 e d a d e i r a d i l o S 2 8 , 0 e d a d e i r a d i l o S 0 8 , 0 e d a d e i r a d i l o S 1 8 , 0
a h l i t r a P 3 7 , 0 a h l i t r a P 1 7 , 0 a h l i t r a P 0 8 , 0 a h l i t r a P 9 7 , 0
e s s e r e t n I 1 7 , 0 e s s e r e t n I 5 4 , 0 e s s e r e t n I 6 4 , 0 e s s e r e t n I 4 4 , 0
a z e t s i r T 8 6 , 0 a z e t s i r T 0 5 , 0
a n e P 7 4 , 0
e d a d e i s n A 3 4 , 0
a h n o g r e V 0 8 , 0 a h n o g r e V 7 6 , 0 a h n o g r e V 6 6 , 0
a p l u C 4 6 , 0 a p l u C 5 5 , 0 a p l u C 8 5 , 0
o z e r p s e D 8 5 , 0 o z e r p s e D 6 6 , 0 o z e r p s e D 8 3 , 0
o s r e v A 0 6 , 0 o s r e v A 0 6 , 0
e d a d e i s n A 0 5 , 0 a v i a R 4 6 , 0
] o z e r p s e d [ ] a s e r p r u s [ ] a s e r p r u s [
a d n e g e L
r o r r o H s a r t s o m a s r t s m u m o c
a v i a R s a r t s o m a - b u s s a u d s m u m o c
o s r e v A a r t s o m a - b u s a m u a a v i s u l c x E
] o z e r p s e d [ a d a r e d i s n o c o N
630 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
l a t o T d r O r o m i T d r O e t n o P d r O t e S 1 1 d r O
a n e P 6 3 , 3 1 2 3 , 3 1 2 4 , 3 1 4 3 , 3 3
r o r r o H 4 3 , 3 2 1 1 , 3 5 5 2 , 3 a 3 0 4 , 3 1
e s s e r e t n I 3 3 , 3 3 6 2 , 3 2 5 2 , 3 a 3 7 3 , 3 2
a z e t s i r T 8 2 , 3 4 0 2 , 3 4 6 2 , 3 2 0 3 , 3 4
e d a d e i r a d i l o S 4 1 , 3 5 1 2 , 3 3 1 1 , 3 5 4 1 , 3 6
a s e r p r u S 3 1 , 3 6 0 3 , 2 0 1 8 9 , 2 6 8 2 , 3 5
a v i a R 5 7 , 2 7 4 8 , 2 6 9 3 , 2 9 7 8 , 2 7
a h l i t r a P 4 6 , 2 8 3 6 , 2 a 7 0 6 , 2 7 5 6 , 2 8
e d a d e i s n A 6 5 , 2 9 3 6 , 2 a 7 5 4 , 2 8 0 6 , 2 a 9
o s r e v A 0 5 , 2 0 1 0 6 , 2 9 5 2 , 2 0 1 9 5 , 2 1 1
o d e M 5 4 , 2 1 1 3 0 , 2 1 1 7 1 , 2 1 1 0 6 , 2 a 9
a h n o g r e V 1 9 , 1 2 1 5 9 , 1 3 1 5 1 , 2 2 1 1 8 , 1 2 1
o z e r p s e D 1 7 , 1 3 1 7 9 , 1 2 1 9 4 , 1 3 1 5 7 , 1 3 1
a p l u C 4 3 , 1 4 1 5 5 , 1 4 1 7 3 , 1 4 1 1 3 , 1 5 1
a n e r e f i d n I 2 3 , 1 5 1 0 3 , 1 5 1 1 3 , 1 5 1 3 3 , 1 4 1
e d a d i c i l e F 8 1 , 1 6 1 9 2 , 1 6 1 2 1 , 1 6 1 9 1 , 1 6 1
a i r g e l A 3 1 , 1 7 1 8 2 , 1 7 1 8 0 , 1 7 1 3 1 , 1 7 1
V T e d o s i v e d o p m e T . 3 . Q
V T s o n e m i V o m s e m O V T s i a m i V
r o m i T 5 , 1 2 4 , 2 2 1 , 6 5
e t n o P 7 , 8 1 4 , 9 2 9 , 1 5
t e S 1 1 3 , 3 1 6 , 2 2 1 , 4 6
l a t o T 3 , 5 1 3 , 4 2 4 , 0 6
o d i r e f i d u o o t c e r i d r o p a i c n r e f e r P . 4 . Q
o d i r e f i D m u h n e N o t c e r i D
r o m i T 2 , 0 1 6 , 9 2 2 , 0 6
e t n o P 1 , 0 1 2 , 6 3 7 , 3 5
. t e S 1 1 2 , 8 9 , 3 2 9 , 7 6
l a t o T 8 , 8 5 , 7 2 7 , 3 6
, r a h n a p m o c a e t n a t r o p m I . 5 . Q
l e v d a r g a s e d e d r a s e p a
o N m e n . . . m e N m i S
r o m i T 4 , 7 3 , 1 2 3 , 1 7
e t n o P 2 , 6 8 , 1 2 9 , 0 7
. t e S 1 1 3 , 3 5 , 6 1 2 , 0 8
l a t o T 4 , 4 5 , 8 1 1 , 7 7
s a r t u o r o p e s s e r e t n i i d r e P . 6 . Q
o t n e v e e t n a r u d s a i c t o n
o N m e n . . . m e N m i S
r o m i T 6 , 9 2 5 , 1 3 9 , 8 3
e t n o P 4 , 9 2 5 , 1 3 2 , 9 3
. t e S 1 1 4 , 4 2 0 , 8 2 6 , 7 4
l a t o T 1 , 6 2 2 , 9 2 7 , 4 4
l a c o l o n e t n e s e r p r a t s e e d o a s n e S . 7 . Q
o c u o p , a d a N m e n . . . m e N l a t o t , e t n a t s a B
r o m i T 0 , 5 2 7 , 1 4 3 , 3 3
e t n o P 6 , 0 3 4 , 7 3 0 , 2 3
. t e S 1 1 3 , 7 2 6 , 1 3 1 , 1 4
l a t o T 9 , 7 2 9 , 3 3 2 , 8 3
m i m a o d i c e t n o c a e m - r e t a i r e d o P . 8 . Q
o c u o p , a d a N m e n . . . m e N l a t o t , e t n a t s a B
r o m i T 8 , 7 2 6 , 0 3 7 , 1 4
e t n o P 4 , 0 1 8 , 0 2 8 , 8 6
. t e S 1 1 9 , 1 1 9 , 1 2 1 , 6 6
l a t o T 8 , 2 1 3 , 2 2 8 , 4 6
Quadro 2. Emoes ordenadas por mdia (mdia central: 2,50)
631 COMUNICAO AUDIOVISUAL
o d a h n a p m o c a u o s r i t s i s s A . 9 . Q
S m e n . . . m e N o d a h n a p m o c A
r o m i T 2 , 5 3 7 , 0 4 1 , 4 2
e t n o P 7 , 7 3 5 , 9 3 8 , 2 2
. t e S 1 1 6 , 0 3 1 , 1 4 3 , 8 2
l a t o T 8 , 2 3 7 , 0 4 6 , 6 2
s e o m e e s o t n e m o m r a h l i t r a P . 0 1 . Q
s e r o d a t c e p s e s o r t u o m o c
o c u o p , a d a N m e n . . . m e N o t i u m , e t n a t s a B
r o m i T 7 , 6 1 0 , 7 3 3 , 6 4
e t n o P 1 , 5 1 9 , 2 3 9 , 1 5
. t e S 1 1 9 , 1 1 6 , 9 2 5 , 8 5
l a t o T 1 , 3 1 1 , 1 3 8 , 5 5
s a o s s e p s a r t u o o t a i d e m i e d r a t c a t n o C . 1 1 . Q
o c u o p , a d a N m e n . . . m e N o t i u m , e t n a t s a B
r o m i T 7 , 0 4 6 , 9 2 6 , 9 2
e t n o P 7 , 7 3 2 , 8 2 1 , 4 3
t e S 1 1 1 , 8 2 0 , 8 2 9 , 3 4
l a t o T 6 , 1 3 2 , 8 2 3 , 0 4
V T a d o v i t c e j b o o h l a b a r t o n a n a i f n o C . 2 1 . Q
o c u o p , a d a N m e n . . . m e N o t i u m , e t n a t s a B
r o m i T 8 , 4 1 0 , 7 3 1 , 8 4
e t n o P 2 , 0 2 5 , 1 3 4 , 8 4
. t e S 1 1 6 , 6 1 3 , 4 3 1 , 9 4
l a t o T 3 , 7 1 8 , 3 3 9 , 8 4
V T a d a t s i l a n o i c a s n e s o r e g a x E . 3 1 . Q
o c u o p , a d a N m e n . . . m e N o t i u m , e t n a t s a B
r o m i T 6 , 0 3 7 , 1 4 8 , 7 2
e t n o P 5 , 3 3 4 , 4 3 0 , 2 3
. t e S 1 1 2 , 5 3 2 , 7 3 6 , 7 2
l a t o T 4 , 4 3 9 , 6 3 7 , 8 2
? s e o m e r a r t s o m m e v e d s a t s i l a n r o j s O . 4 1 . Q
o c u o p , a d a N m e n . . . m e N o t i u m , e t n a t s a B
r o m i T 3 , 3 3 3 , 4 3 4 , 2 3
e t n o P 0 , 5 3 5 , 1 3 5 , 3 3
. t e S 1 1 7 , 2 3 4 , 3 3 9 , 3 3
l a t o T 3 , 3 3 0 , 3 3 7 , 3 3
I V T e C I S , P T R a l e p a r u t r e b o C . 5 1 . Q
P T R C I S I V T
m , m o t M a o b o t m , a o B m , m o t M a o b o t m , a o B m , m o t M a o b o t m , a o B
r o m i T 5 , 7 5 , 2 9 5 , 7 5 , 2 9 2 , 4 1 9 , 5 8
e t n o P 2 , 0 1 8 , 9 8 5 , 9 5 , 0 9 5 , 5 1 5 , 4 8
. t e S 1 1 9 , 6 1 , 3 9 2 , 5 8 , 4 9 9 , 0 1 1 , 9 8
l a t o T 8 , 7 2 , 2 9 5 , 6 5 , 3 9 3 , 2 1 7 , 7 8
632 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
633 COMUNICAO AUDIOVISUAL
La desaparicin del hroe: espacio y pica en el reality
Edysa Mondelo Gonzlez, Alfonso Cuadrado Alvarado
1
Desde hace varios aos las televisiones
de todo el mundo han dado con un nuevo
filn que parece haber revitalizado el prime
time ampliamente consolidado con los
espacios dramticos en forma de teleseries
y con los eventos deportivos. Nos referimos
al reality show o simplemente reality. Su
repercusin trasciende horarios y medios. El
estreno de un reality es algo que va mas all
de la franja horaria en la que se exhibe y
hace que otros programas, como por el efecto
de una onda expansiva, incluyan en sus
contenidos personajes, temas, revisiones de
lo sucedido, etc.
2
Los protagonistas de estos
programas abundan en las pginas de las
revistas del corazn y consiguen, gracias a
su participacin, el aval como tertulianos y
comunicadores populares en el medio.
Qu ofrece este nuevo formato para
cautivar audiencias en todas las televisiones
del mundo, como un formato universal por
encima de cualquier singularidad nacional?
Una aproximacin emprica y coloquial
nos permite describir este tipo de reality,
sobre el que nos centraremos, tambin
denominado docu-show, docu-game,
televerdad, telerrealidad,..., como un formato
televisivo donde unos personajes cotidianos,
corrientes, conviven en un espacio cerrado
para conseguir una cantidad econmica que
se ofrece como premio. Los personajes no
son atractivos, a veces ni quiera fsicamente,
ni tienen profesionalidad como actores (no
olvidemos que son reales), no hay un
conflicto dramtico lo suficientemente
sugestivo como en cualquier film o serie de
xito, no hay grandes pasiones ni intrigas.
Y el escenario es cerrado y enormemente
parecido a cualquier casa del teleespectador.
Dnde est entonces el poder de seduccin
de estos programas para que se conviertan
en el formato de ms xito en los ltimos
aos de la televisin mundial?
Para entender en buena medida el xito
del reality y la novedad que se esconde en
su formato debemos, y ste el propsito del
presente trabajo, rastrear los cambios
producidos en un grupo de factores
interdependientes que han cambiado su peso
y naturaleza en la red que sustenta la
estructura de la ficcin clsica. Nos referimos
a las relaciones creadas entre los
protagonistas, el papel del espacio y el tiempo
en el drama y el lugar que ocupa la mirada
del espectador en este conjunto.
El hroe clsico y la aventura
La narracin clsica presupone un
determinado estado de esta red: eleva al hroe
como el elemento ms poderoso de la ficcin,
cuyo trabajo se produce en lucha contra el
espacio y el tiempo, y mantiene al espectador
en un nivel inferior, de contemplacin
admirativa.
Cuando se habla del HROE el referente
ms inmediato es nuestro imaginario cultural,
normalmente las narraciones picas clsicas.
Pero, a qu o a quin nos referimos cuando
hablamos de hroe?, cules son sus
caractersticas, sus atributos? Desde
planteamientos narrativos, que son aquellos
de los que aqu partimos, debemos precisar
que con este trmino podramos aludir a dos
aspectos diferentes, segn sea considerado
como funcin narrativa o como cualidad del
personaje. En la narracin clsica, el hroe
es aquel personaje sobre quien recae el peso
de la accin y que manifiesta la orientacin
del relato, pero, al mismo tiempo, es aquel
que desempea funciones que estn pautadas
como heroicas. Por lo tanto accin y atributos
son las dos caras de una misma moneda: no
existen cualidades sin accin, ni accin sin
cualidades.
Donde el hroe clsico aparece con todos
sus atributos es en el reino de la aventura,
o mejor dicho, es en la aventura donde se
forja el hroe. Podramos, sin pretender ser
exhaustivos, mencionar una serie de rasgos
634 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
relacionados entre si, que pueden entenderse
como seales que acompaan y anuncian la
aventura del hroe:
a) Por un lado debemos hacer referencia
a la ruptura vital que supone el cambio del
tiempo cotidiano, rutinario, por otro al que
podramos denominar dramtico, en el que
ocurren cosas diferentes a las habituales y
que exigen por parte de quien lo vive acciones
y reacciones que son las que lo convierten
precisamente en hroe.
b) Ligado a esta cuestin de ruptura con
el tiempo cotidiano podramos destacar un
segundo rasgo que sera la suspensin o
incluso la desaparicin de la normalidad.
Nuestra vida cotidiana se sustenta por frgiles
mecanismos que defienden nuestra
tranquilidad. Un entorno familiar, costumbres
entre las que nos movemos con soltura,
escasas agresiones naturales, instituciones
tericamente encargadas de impedir la
violencia entre los individuos, rituales
amorosos culturalmente codificados... Pero la
aventura es el mbito de lo inseguro e
imprevisible, donde no se puede anticipar qu
ocurrir o cmo reaccionaremos sin puntos
de referencia que se hacen ms remotos o
acaban por desvanecerse: pases extranjeros,
costumbres desconocidas, naturaleza
indmita, violencia interpersonal frente a la
que no tenemos otra defensa que nuestros
propios recursos, amores que rompen con la
moderacin o la decencia debidas En
esas situaciones de inseguridad son las
acciones que realiza las que convierten al
individuo en hroe. En la narracin pica
clsica, el hroe estaba hasta cierto punto
destinado a serlo, incluso antes de su
nacimiento en muchos casos (Rank, 1991);
sin embargo, en las narraciones picas
contemporneas, son muchos los individuos
corrientes que, enfrentndose a situaciones
ajenas a su cotidianeidad, se ven obligados
a comportarse como tales.
c) Otro de los rasgos fundamentales es
el itinerario, el trayecto que debe recorrer
el hroe en el transcurso de su aventura. Este
camino tiene un inicio y tiene un final,
generalmente el mismo, domstico, cotidiano,
en un movimiento circular en el que se
regresa al punto de partida, con la salvedad
de que no es el mismo individuo quien
regresa. Puede que el hroe manifieste
explcitamente su intencin de alcanzar algn
objetivo concreto (material o no: salvar al
mundo o rescatar a la chica, alcanzar
reconocimiento, encontrar algn ser, algn
objeto o algn conocimiento, resolver un
enigma o alcanzar algn bien) y para ello
se ve lanzado a recorrer un camino cuyo final
es el logro de lo perseguido. Pero tambin
puede ocurrir que accidentalmente se vea
obligado a recorrer ese camino sin que exista
un objetivo previo. En cualquier caso, lo
importante es el itinerario recorrido, la
aventura, donde, a travs de mltiples y
arriesgadas pruebas, obtendr quiz lo
buscado, pero siempre experiencia y
conocimiento. Y es ese conocimiento el que
transforma al individuo, el que hace que la
persona que parti y la que vuelve ya no
sean la misma. El itinerario es el espacio de
la aventura por oposicin al espacio
domstico, el lugar de la no-aventura, de la
rutina por excelencia, el lugar donde es
imposible investirse con los atributos del
hroe, donde no es posible realizar pruebas
heroicas, donde no existe un camino que nos
permita alcanzar experiencia o conocimiento,
porque todo es sabido: es el espacio opuesto
a la narracin. Por eso el hroe abandona
el espacio domstico, espacio aislado del
tiempo, porque nada ocurre en l que no sea
previsible, no hay movimiento, y se lanza
al camino para lograr una trayectoria vital
que confirme o cambie una identidad
estancada. Y sin embargo, si el hroe supera
las pruebas, vuelve (como Ulises) al hogar,
principio y fin de su aventura, donde, tal vez
ni siquiera sea reconocido o haya sido
olvidado. Un hogar que, por su inmovilidad
espacial y temporal pueda ser considerado,
como antes apuntbamos, como una especie
de muerte: el hroe vuelve a casa para morir
(metafricamente o no) entre los suyos, pero
pidiendo el reconocimiento de su nueva
identidad. Cuando esta nueva identidad ha
sido domsticamente reconocida se cierra la
posibilidad de continuacin narrativa.
3
d) En la aventura siempre est presente
la muerte: la muerte es lo desafiado. Es
precisamente el protagonismo de la muerte
lo que diferencia a la aventura del juego, o
bien lo que convierte ciertos juegos en
aventuras. Pero, qu es la muerte en la
narracin pica? El hroe puede
635 COMUNICAO AUDIOVISUAL
efectivamente perder la vida en su recorrido,
al enfrentarse a las pruebas correspondientes
y, tal vez, sea precisamente esa muerte la
que lo invista con los atributos del hroe.
Pero hay otra posibilidad y es que puede
ocurrir que el hroe considere que la rutina,
lo cotidiano, la falta de riesgo, son una forma
de no-vida, de muerte, y que sea precisamente
su intento de huida lo que de origen al
recorrido, a la aventura en busca de la vida.
e) La mirada en la aventura est
supeditada al hroe y su trayecto.
Acompaamos a ste a lo largo de su
recorrido como si se tratara de un pequeo
genio que viaja instalado en su hombro.
Vemos lo que l ve y podemos casi escuchar
sus pensamientos. Compartimos su esfuerzo,
sus luchas y dolor y finalmente quisiramos
reconocer en nosotros mismos alguno de
aquellos valores positivos que ha desplegado
el hroe. El cine pone al servicio de esta
actitud una cmara mvil tan libre como la
accin del protagonista y un lenguaje
cinematogrfico que hace posible la
identificacin del espectador con el hroe.
La gratificacin que obtiene el espectador
reside en la sabidura y la experiencia que
le aporta el hroe en su aventura como en
una donacin sobrenatural, una enseanza que
nos remonta a los ms primitivos ritos en
los que lo sobrenatural (dioses, mitos y
chamanes intermediarios) se comunicaba con
los hombres para trasmitirles su
conocimiento.
Subversin contempornea: de la accin
a la situacin
Las relaciones entre estos elementos
cambian ya con la sitcom. Los condicionantes
tcnicos y econmicos van a dar lugar a un
tipo de ficcin que rebaja el aura mtica de
acciones y personajes y coloca al espectador
en otro lugar y lo gratifica de otra forma.
La compleja tecnologa en la que se sustenta
la televisin hace imposible la autonoma que
posee la cmara cinematogrfica, por lo que
la variedad de escenarios que necesita la
aventura se torna ya inviable. Hasta la
aparicin de los primeros sistemas de edicin
en los aos setenta el tiempo televisivo era
el directo, con limitadas posibilidades de
intervencin. Ante este panorama, el nuevo
gnero busca formatos y dramas que se
adapten a tan estrecho margen tcnico y sern
el teatro y la comedia de vodevil las fuentes
que con el paso del tiempo y con la
indispensable evolucin darn lugar a un
gnero especfico: la sitcom.
Si el hogar se presenta en el relato clsico
como el punto de referencia constante,
aorado, recordado y deseado como meta
final, pero elidido en cuanto no conocemos
ms que someramente la vida el hroe en
ese antes y despus del cuerpo principal de
la aventura, en los relatos producidos
especficamente para la televisin la tendencia
es la contraria: el hogar se constituye en el
territorio por excelencia de la ficcin desde
los orgenes de los dramas televisivos de los
aos cincuenta.
El espacio abierto e indefinido, el camino
de la narracin clsica se cambia por un
espacio domstico en el que los personajes
y las acciones que desempean tienen el
atractivo de lo conocido, de lo ya visto, de
lo sabido, porque precisamente lo que se trata
de evitar es el cambio. Estamos ante
personajes perfectamente reconocibles porque
son nicamente la encarnacin de sus
atributos, hroes sin accin, donde lo
importante es la reiteracin de sus
comportamientos, cmo van a reaccionar en
cada momento, ante cada situacin: siempre
igual.
Este estatismo espaciotemporal impide
radicalmente el itinerario del hroe: no hay
camino que recorrer porque estamos siempre
en el mismo punto del espacio y del tiempo,
no puede haber conocimiento porque no hay
cambio; no hay un final porque no hay trayecto,
el principio y el final se confunden; no hay
regreso al hogar porque nunca se sali de l.
La pica clsica ofreca personajes que
personificaban virtudes, comportamientos y
valores que se proponan como exempla para
la sociedad, tenan una funcin tica. En algn
momento llegbamos a identificarnos con
ellos, o al menos aprendamos de forma
vicaria con sus aventuras: todos hemos
querido ser de alguna forma el espadachn
justiciero, el pirata generoso, el prncipe
valiente, el aventurero sin miedo y todos de
alguna forma hemos aprendido con ellos, o
a travs de ellos, lo que era la justicia, la
generosidad, el ingenio, el valor.
636 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Este nuevo tipo de relato no presenta al
hroe clsico ni siquiera al hroe ambiguo,
descredo y un tanto cnico de la modernidad
sino que lo que se nos propone es el tipo
corriente, la persona devenida en personaje,
alguien cotidiano, alguien como nosotros, al
que le ocurren las mismas cosas y que
reacciona de manera similar a como nosotros
lo haramos en parecidas situaciones.
La sitcom o comedia de situacin toma
como constante un grupo de personajes y unos
escenarios. Las tramas son dbiles
comparadas con la gran narrativa propia del
cine. La necesidad de la continuacin a la
que obliga la serialidad hace bascular el
proceso dramtico del trabajo con la
experiencia a los atributos de los personajes,
y de la accin como motor del hroe a la
reaccin de personajes cotidianos frente a
situaciones cercanas a la vida cotidiana, casi
siempre en tono humorstico.
Si el hroe acta sobre un espacio y
tiempo a travs de un trayecto fsico externo
y un trayecto moral y emotivo interno que
le hace saldar la aventura con un cambio,
es decir con una experiencia, en la comedia
de situacin cambio, accin y trayecto
desaparecen. Los personajes no pueden
cambiar porque alteraran el planteamiento
de la comedia y de los escenarios, estos deben
de permanecer inmutables porque el
presupuesto no podra permitir construir
decorados nuevos para cada episodio. As el
espacio se convierte en un condicionante
narrativo. La trama se transmuta en situacin,
pequeo conflicto que hace reaccionar a los
personajes con su habitual repertorio de
respuestas, gags, chistes verbales, etc. es
decir, los atributos que les caracterizan como
personajes singulares.
La sitcom se construye como un
planteamiento de relaciones entre personajes
singulares, que predican un tono o una visin
ms o menos original de un tema. Los
guionistas y productores de una sitcom saben
que, ms que tramas y conflictos poderosos,
la base de una telecomedia son unos
personajes bien caracterizados, a los que
adecuar actores con carisma, dentro de una
red de relaciones bien coordinada. El
espectador asiste a una telecomedia como el
buen compaero que se rene una y otra vez
con amigos que conoce, un grupo donde
nada va a cambiar, revelar sorpresas ni poner
en cuestin las bases de la relacin. Los
sucesos, las situaciones que mueven la
ficcin son externos y provocan la reaccin,
ms que la accin de los protagonistas, todo
ello con el fin no de alterar o cambiar un
estado, ni descubrir algn sentimiento
recndito, sino de volver a exteriorizar lo
conocido: la forma de ser de esos personajes
(sus maneras que provocan la risa y la
complicidad) y el mensaje final que predica
constantemente la sitcom y es lo que se
obtiene como saldo del episodio, no la
experiencia sino la repeticin constante de
un tema con mensajes positivistas y
convencionales del estilo: es posible la
convivencia an entre personas dispares
(Doctor en Alaska) o podemos ser buenos
padres aunque seamos estpidos o fracasados
(Los Simpson).
La imposibilidad del cambio en los
personajes anula por completo la capacidad
de aprendizaje, de experiencia y por lo tanto
sta no se ofrece como saldo final al
espectador, no hay mensaje ni marco de
valores que aprender, como suceda con el
hroe. El espectador busca una identificacin
con personajes semejantes en actitudes y
perfil social. La serie y la situacin tien
de valores positivos a estos personajes y el
drama en el que se insertan. De esta forma
lo que el espectador consigue con su
fidelidad como pblico es una revalorizacin
de s mismo, un refuerzo a su vida, sus
costumbres, sus creencias, etc.
Y qu ocurre con la muerte, ese otro
elemento fundamental en la narracin
clsica? El hroe poda morir tras ver
cumplida su misin, tras llegar al fin de su
hazaa, no sin antes dejar claro la enseanza
que su accin debe transmitir: la muerte se
encuentra omitida, el hroe como cualquier
dios desaparece de escena y regresa o ingresa
en el olimpo mtico. En la sitcom no puede
haber muerte porque al igualarnos nosotros
como espectadores con sus protagonistas la
muerte de ellos implicara nuestra propia
muerte como espectadores, sera un corte
sin balance positivo, equivaldra a una
simple interrupcin de la emisin.
637 COMUNICAO AUDIOVISUAL
Realismo fin de siglo: hacia la mirada
omnipotente
La tecnologa audiovisual de los aos
setenta puso al alcance de artistas y
aficionados las primeras cmaras de vdeo
para uso domestico. Dejaron de ser pesados
y costosos artefactos que slo se utilizaban
en el terreno profesional. Reducidas en
dimensiones y asequibles econmicamente,
salieron a la calle para otros usos ajenos al
mbito televisivo. Uno de ellos es el circuito
cerrado de televisin que se generaliz en
centros educativos, culturales, empresariales,
etc. La miniaturizacin de las cmaras
permiti que se utilizarn bajo un nuevo uso
heredado del circuito cerrado: la
videovigilancia. Bancos, locales, centros
oficiales, calles y carreteras se han llenado
de cmaras. Nos hemos acostumbrado a
convivir con este ojo omnipresente y no slo
a ser mirados sino tambin a mirar. Y este
es un factor fundamental para entender el
cambio haca una nueva actitud en el
espectador que sustenta la atraccin del
reality.
Cuando miramos la pantalla cinemato-
grfica o televisiva para contemplar una
ficcin quedamos seducidos por los hbiles
mecanismos del drama que con su intriga,
el poder de identificacin con los
protagonistas, etc. atrapan nuestra atencin.
Sin embargo en el reality lo observado carece,
de forma calculada por los autores, de la
construccin artificiosa y seductora de la
ficcin. La realidad en su estado ms
cotidiano deviene en objeto de inters gracias
a que el hecho de nuestra observacin nos
eleva a un rango de poder sobre lo observado.
Mirar a los dems con el deseo de revelar
secretos que ocultan y no ser descubierto por
ello es una de las pasiones ms antiguas del
hombre. Mirar entre los visillos al vecino de
enfrente intentado descubrir en sus actos
cotidianos un algo de extraordinario, y si es
posible censurable, es un pequeo pecado
comn. Nuestra mirada no es neutra ni
meramente registradora como la cmara que
da fe de los clientes que pasan por un cajero
automtico o de los coches que se agolpan
en un cruce en hora punta. Miramos buscando
penetrar la apariencia de la realidad, urdir
tramas con las acciones inconexas de los
observados, en una palabra, nuestra mirada
aplica un deseo narrativo.
Lo que los realizadores de los realitys
ofrecen al espectador es convertirse en
mirones privilegiados ya que otorgan el poder
de observar cualquier espacio y en cualquier
momento. El realizador tradicional construye
el espacio dirigiendo la mirada con la cmara.
Aqu la realizacin parece inexistente gracias
a la sensacin de que no hay direccin y por
reaccin campo oculto sino que todo es
visible.
Ciertos formatos del reality show nos
ofrecen una mirada permanente sobre un
espacio acotado, generalmente una casa
compartida por unos seres extrados de la
realidad, ya ni siquiera personajes con
atributos cercanos a nosotros, a nuestra
cotidianeidad, son ciudadanos con nombres
y apellidos reales. No han sido seleccionados
precisamente por su carcter heroico, bien
sea por haber realizado acciones que les
avalan o por atributos dignos de un hroe.
Tampoco podran representar lo que llamamos
estereotipos del hombre de la calle. Muchos
de ellos ni son atractivos fsicamente, se
expresan verbalmente con dificultad, no saben
moverse o no tienen gracia dialogando.
Estos personajes, seguiremos llamndolos
as por convencin aunque su caracterizacin
dista cada vez ms de lo que entendemos
como agentes de un drama, se mueven por
el espacio cerrado de la casa y sus aledaos
(patio, piscina, etc.) sin aparente motivacin,
sin casi objeto ni conflicto, su mvil no es
otro que el del comn de los espectadores:
levantarse, ir al bao, cocinar, lavarse la ropa,
etc. en una palabra vivir. Y para ello los
productores y tcnicos del programa han
desplegado una infraestructura tecnolgica de
cmaras que situadas estratgicamente nos
permiten observarlos en cualquier rincn de
su cmoda crcel. Pero el alcance de la
mirada no slo es fsico sino tambin
temporal. El reality dinamita las largamente
consolidadas estructuras temporales de la
ficcin: los actos dramticos del cine y el
teatro, el tempo del gag con su juego de
rplicas y contrarrplicas que es la base del
xito de muchas sitcom, las pausas en
momentos de tensin que elevan el inters
de la accin, etc. Todo ello queda suspendido
por una retrasmisin que suministra acciones
638 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
cotidianas sin casi estructura dramtica, sin
tensin, sin ritmo. Y, adems, en ocasiones
durante 24 horas al da.
Los protagonistas de los realitys son gente
real, de la que, a veces, llegamos a saber ms
que de los que nos rodean en nuestro entorno.
En estos formatos, ms o menos hbridos, a
los que denominamos televerdad o
telerrealidad, se plantea la recuperacin de la
mirada omnisciente del relato decimonnico,
nos convertimos en el ojo que todo lo ve
(espacio) en todo momento (tiempo).
Desaparece el tiempo de la representacin para
dejar paso (aparentemente) a un tiempo real
en el que evolucionan seres (aparentemente)
reales. El carcter realista de la emisin
produce la impresin de que el programa es
meramente un espejo que muestra
directamente lo real, que el programa abre las
ventanas de la casa para que el espectador
pueda ver lo que all ocurre tal cual sucede
4
.
Conversin del espectador en hroe: el
reality
De lo expuesto hasta ahora se puede
deducir que el reality es, desde un punto de
vista dramtico, muy banal, y en su puesta
en escena retrocede a una televisin primitiva
que ignora los depurados recursos del montaje
y el manejo temporal por el que haban
luchado durante largo tiempo los realizadores
televisivos. Lo que el reality ha restado al
drama narrativo clsico y a la telecomedia
de fuerza narrativa lo compensa otorgando
por primera vez al espectador algo que hasta
ahora cualquier programa de ficcin le tena
O R E N E G E J A N O S R E P O P M E I T O I C A P S E R O D A T C E P S E
n i c a r r a N
a c i s l c
a o n a c r e C . e o r H
. s e s o i d s o l
l e a r t n o c a h c u l a L
n u s e o p m e i t
a l e r b o s o f n u i r t
. e t r e u m
o a m g i n E
e u q o t n i r e b a l
a l e d n o c s e
. a r u d i b a s
r o p a r t n e u c n e e S
. e o r h l e d o j a b e d
m o c t i S
s e j a n o s r e P
, o p i t o t o r p
l a s o n a c r e c
. r o d a t c e p s e
o t a m r o f l E
e d n e p s u s o d a i r e s
y a h o N . o p m e i t l e
. e t r e u m i n l a n i f
n i s o i c a p s E
i n a m g i n e
s E . o t n e i m i c o n o c
r a g o h l e
. o d i c o n o c
a r u t l a a m s i m a l A
s o l e u q
. s e j a n o s r e p
y t i l a e R
s e l a e r s e j a n o s r e P
i n s e d u t r i v n i s
. o v i t c a r t a
o p m e i T
l E . e t n e n a m r e p
e g i l e r o d a t c e p s e
o e t r e u m a l
n i c a v l a s
s o l e d a c i l b m i s
. s a t s i n o g a t o r p
o N . r o d e n e t n o C
a d a n a t n e s e r p e r
. e l b i c o n o c e r
s o l e d a m i c n e r o P
s o l , s a t s i n o g a t o r p
y a v r e s b o
. a n i m o d
vedado: el poder de la mirada sobre la
realidad y en cierta forma el control de la
muerte.
Retomando la red de factores mencionada
arriba podemos concluir sealando la
evolucin de cada uno de sus componentes:
a) Del hroe al individuo real. Los dioses
dejaron de ser los protagonistas de los relatos
ejemplares de la ficcin. De ah pasaron a ser
mortales dignos de cario, compresin y
afecto, aunque fueran mezquinos y calvos o
con kilos dems; eran los individuos tipo con
los mismos defectos que nosotros, un espejo,
en definitiva, en el que mirarnos y
reafirmarnos. Y los protagonistas del reality
pierden su carcter tipificador y ya son seres
reales, con nombres y apellidos, no representan
clases sociales ni prototipos familiares, no
tienen atributos singulares, se les reduce a su
mera condicin biolgica: seres que viven,
comen, duermen, interactan, pelean y mueren.
b) Del espacio y la mirada como continuo
del drama al contenedor de vida. El laberinto
como arquitectura de un enigma con sus
recorridos falsos y sus obstculos y trampas
es uno de los espacios modlicos y ms
antiguos de la ficcin. El devenir que supone
la exploracin de este espacio se congela en
la sitcom, no hay nada que explorar porque
el territorio es conocido, podramos cerrar los
ojos y reconstruir el escenario donde se
mueven los personajes como en nuestra
propia casa andamos a oscuras y encontramos
sin problemas la llave de la luz. La casa,
el bar, la oficina, son los espacios sin misterio,
sin conflicto, tan acogedores y poco peligrosos
639 COMUNICAO AUDIOVISUAL
como pretendemos que sea nuestra casa. En
el reality los personajes viven en contenedores.
Su espacio muchas veces es artificial, no
pretende reproducir un lugar habitual, ni las
habitaciones o salones estn personalizados,
slo se disponen y articulan en funcin de
las necesidades vitales: dormitorios, cocina,
baos, etc. Este diseo redunda en la sensacin
de experimento y laboratorio que tienen este
tipo de programas. El espacio ahora no es
narrativo ni cotidiano, es transparente. Los
antecedentes de la casa transparente y el deseo
de mirar a travs de las paredes es un viejo
sueo de la cultura occidental.
Ya la en la literatura espaola de
principios del siglo XVII podemos encontrar
un claro antecedente en El diablo cojuelo,
Vlez de Guevara. En esta stira social, el
diablo lleva al estudiante a un vuelo por la
ciudad que le permite ver (slo ver, no actuar
sobre ellos) los interiores y las vidas de los
vecinos de Madrid, poniendo al descubierto
y criticando los vicios, miserias y engaos
generales de la sociedad del momento.
La arquitectura se esforz en el siglo XX
por romper el modelo clsico y llegar a una
frmula pura que convirtiera el diseo en una
simple combinatoria de mdulos bsicos
habitables. La progresiva incorporacin de
materiales como el cristal y el aligeramiento
de las estructuras hicieron que el sueo de
una casa libre de divisiones interiores pudiera
dar lugar a un espacio difano con grandes
ventanales, es decir a una casa transparente.
Esta labor de la arquitectura se ve
correspondida en el tiempo por la que ejerci
la pintura con la muerte de la hegemona de
la perspectiva clsica. El cubismo y las
vanguardias buscaron la posibilidad de
contemplar la realidad desde varias
perspectivas para establecer un dilogo entre
formas y espacios que aportaran una nueva
visin de la realidad. La tecnologa fotogrfica
y televisiva vino a potenciar este deseo que
culmina con esa red de cmaras de la
videovigilancia que da luz a un ojo poderoso
gracias a la multiplicidad de la visin.
c) La muerte en manos del espectador.
Decamos que el espectador asista a las
aventuras del hroe y a su mensaje como fieles
ante un rito religioso. Mirbamos a los hroes
desde abajo, porque tras su muerte ascendan
al cielo. Y nosotros quedbamos en al tierra
imbuidos de su gracia. A los personajes de
la sitcom los miramos cara a cara, de frente,
son el nosotros de la realidad, y a los que
participan en un reality los miramos desde
arriba, son demasiado vulgares para que les
consideremos nuestros semejantes, los
observamos como si furamos los artfices de
un experimento antropolgico
5
, como cobayas
en un laboratorio, ms an, con la misma
superioridad y curiosidad de nio ante la boca
de un hormiguero que, sabedor de su poder
vaca una botellita de agua en la entrada y
observa sus efectos.
Las nuevas tecnologas se alan para
aumentar el poder de la mirada y gracias a
dispositivos como el telfono mvil decidimos
el destino de sus vidas. La muerte, inherente
a toda aventura, tiene en este tipo de narracin
una forma muy distinta a la del hroe pico:
es el espectador quien, actuando como
demiurgo, decide la vida y la muerte de los
personajes, es decir, decide quin debe
abandonar el relato con una simple llamada
telefnica. Pero lo paradjico es que, para el
individuo real que se ha convertido en personaje,
esa muerte es el comienzo de una vida diferente,
igual que ocurra en el caso del hroe clsico.
No es una muerte real evidentemente, pero
tampoco la muerte metafrica de volver a la
cotidianeidad, al anonimato, ya imposible. El
camino empieza en el final del relato, porque
se inicia un nuevo itinerario vital en el que
el individuo ya es personaje, ya es hroe y,
manteniendo sus atributos, comienza a recorrer
el camino. Y el olimpo en el que ingresa no
es un cielo intemporal del que emanan todo
tipo de virtudes y valores, es el terrenal mundo
meditico, los otros programas a los que asistir,
ya como invitado o como tertuliano en nmina,
como cronista cuya voz ya es legtima. Le
permitimos por lo tanto, eso que antes se
llamaba el salto a la fama.
El espectador entonces ha dejado de ser
el miembro de un grupo que asiste a un ritual
dramtico en el que conecta con los dioses
para convertirse en un solitario dios en el saln
de su casa que, gracias al poder de la mirada
y su mvil, decide sobre la realidad de unos
personajes reales, con un cierto grado de
estremecimiento y con el placer que supone
jugar con un destino que no es el propio. Con
el reality la pica desaparece. Lo que el reality
nos ofrece cmodamente en el silln de casa
es la sensacin de poder sobre la realidad.
640 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Bibliografia
Abril, G.: La televisin hiperrealista
C.I.C., n 1, 1995.
Aladro, E.: De la telenovela a la
televigilancia. Gran Hermano y la nueva
era del perspectivismo relacional en
televisin C.I.C, n 5, 2002.
Berciano, R.: (1999). La comedia
enlatada. De Lucille Ball a Los Simpson,
Barcelona, Ed. Gedisa.
Bou, N. & Perez, X.: (2000) El tiempo
del hroe, Barcelona, Ed. Paids.
Bueno, G.: Televisin: Apariencia y
verdad, Barcelona, Gedisa, 2000.
Castaares, W.: Gneros realistas en
televisin: los reality shows, C.I.C., n 1,
1995.
Castaares, W.: Nuevas formas de ver,
nuevas formas de ser: el hiperrealismo
televisivo, Revista de Occidente, 170-171,
1995.
Mondelo, E. y Gaitn J. A.: La funcin
social de la televerdad, Telos, n 53, Madrid,
octubre-diciembre 2002.
Rank, O.: (1991) El mito del nacimiento
del hroe, Barcelona, Ed. Paids.
Savater, F.: (1992) La tarea del hroe,
Barcelona, Ed. Destino.
_______________________________
1
Universidad Rey Juan Carlos, Madrid.
2
Una forma de referirnos a este fenmeno
es denominarlo efecto salpicadura, puesto que
se expande por toda la programacin de la cadena
que lo emite. Algunos tericos del medio van ms
all y hablan de killer formats, llegando a
plantearse que la onda expansiva es tan potente
que no slo contamina sino que asesina el resto
de la programacin de la cadena que emite el
programa que deja de tener entidad por s misma
y depende absolutamente del reality.
3
Podemos sealar como excepcin los cuentos
populares rusos, donde las historias de princesas
salvadas por hroes tienen en muchos casos
continuacin en el desarrollo de su vida domstica.
4
Por ejemplo, Gran Hermano muestra acciones
y situaciones que no podramos calificar como
reales puesto que no existiran fuera del medio,
pero tampoco podramos calificarlas como ficcin
porque ocurren en la realidad y, sobre todo, porque
estn protagonizadas por personas que existen en
la vida real. Son acontecimientos generados,
construidos por el medio, pero con apariencia de
realidad porque estn protagonizados por sujetos
comunes y porque (aparentemente) no existe nadie
detrs que los dirija, nadie crea el relato porque
este se va creando solo (aparentemente) ante la
vista de todos.
5
Este es quiz el argumento que ms se ha
manejado para justificar Gran Hermano, y tambin
el ms contestado y criticado.
641 COMUNICAO AUDIOVISUAL
Big Brother:
um programa que mapeou a informao televisiva
Felisbela Lopes
1
Poder-se- dizer que h uma informao
televisiva pr e ps Big Brother?
Detendo-nos nos programas de informao
no-diria dos canais generalistas portugue-
ses, procuraremos perceber de que forma o
horrio nobre, nomeadamente dos canais
privados, se esvaziou desse tipo de progra-
mao. Esta uma pequena parte de uma
investigao que estamos a desenvolver no
projecto de doutoramento e, por outro lado,
integra-se num trabalho do grupo
Mediascpio que recentemente analisou casos
que, no incio deste sculo, alteraram o modo
de encarar/fazer jornalismo. Tendo aqui como
referncia os anos de 1999 (altura em que
ainda no estavam no ar as chamadas no-
velas da vida real) e de 2003 (ano aps o
qual todos os canais generalistas j tinham
emitido esse tipo de programas), procedere-
mos a uma anlise da informao no-diria
no segmento do prime time, salientando
as tendncias do jornalismo televisivo que,
nos ltimos anos, se vem desenhando no
pequeno ecr.
1 Da ps-neoteleviso
Ainda que sucinto e com algumas fra-
gilidades, o texto que Umberto Eco escreveu
em 1983 constitui-se como uma referncia
para vrios investigadores. Intitulado A
transparncia perdida, o artigo assinala dois
perodos distintos no audiovisual: a
paleoteleviso, a do tempo do monoplio;
e a neoteleviso, a da era da desregulamen-
tao. Esta designao retomada por vrios
tericos, principalmente em Itlia com os
trabalhos de Francesco Casetti e Roger Odin
2
(1990), de Sandra Cavicchioli e Isabella
Pezzini (1993) ou de Maria Pia Pozzato (1995).
Recentemente, Eliseo Veron (2001) veio
acrescentar uma nova fase dupla periodizao
proposta por Umberto Eco, dando outra lei-
tura aos conceitos apresentados. Apesar de no
manifestar um desacordo relativamente
designao de paleoteleviso e de
neoteleviso, Veron revela alguma cautela
no que diz respeito s caractersticas que quer
Eco quer Casetti e Odin lhes atribuem. Na
sua perspectiva, a televiso generalista foi,
desde sempre, construda a partir do con-
tacto que se d atravs da relao do olhar,
recusando, por isso, as vises de Eco que
v a a singularidade da neo-TV e as de
Casetti e Odin que associam paleo-TV
certos contratos de comunicao. Para
Eliseo Veron, o que permite diferenciar as
etapas da televiso generalista so os
interpretantes que caracterizam os contratos
de comunicao e no o lao estrutural que
passa sempre pelo contacto indicial. Assim,
na fase inicial, o interpretante fundamental
era fornecido por um contexto socio-
institucional extra-televisivo (o Estado-
Nao), sendo o contrato de comunicao
consubstanciado no pela transparncia, mas
atravs da metfora da janela. Ao
interpretante-nao correspondia, ao nvel da
recepo, um interpretante-cidado que ab-
sorvia o que lhe era proposto pela grelha
televisiva, construda segundo uma lgica que
escapava ao prprio medium. Na segunda
fase, a televiso afasta-se do plano poltico,
tornando-se, ela prpria, a instituio-
interpretante, resultando daqui a visibilida-
de crescente das estratgias enunciativas, a
multiplicao de talk-shows ou o encurta-
mento dos programas. A passagem do sculo
trouxe, na opinio de Eliseo Veron, um novo
modo de encarar a enunciao televisiva.
Aqui, o interpretante dominante consiste
numa configurao complexa de colectivos
definidos como exteriores instituio tele-
viso, atribudos ao mundo no-mediatizado
do destinatrio, representando os novos
reality-shows (tipo Big Brother) progra-
mas de base deste novo contexto de mudan-
a de paradigma. Pela primeira vez na sua
histria, a TV integraria no ecr o processo
de mediatizao do qual ela a fonte e o
642 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
principal actor, concedendo realidade ex-
tra-meditica quotidiana, na qual se movi-
mentam os receptores, um espao estratgico
to importante como aquele que se encontra
dentro do pequeno ecr. Nas palavras de
Eliseo Veron, este tipo de programa coloca
em cena uma semitica do lao social
quotidiano extra-meditico, atravs do qual
se completa aquilo que o programador pla-
neou. Nesta fase, a programao fica em
aberto, dando-se aos receptores o poder de
decidirem o desfecho dos programas. Veron
pensa que esta ser a ltima etapa da TV
generalista.
Outro dos investigadores que tem vindo
a reunir elementos pertinentes para o estudo
da evoluo da comunicao televisiva
Franois Jost. Elegendo a imagem como
vector estruturante das suas anlises, o
acadmico francs assinala a passagem da-
quilo a que chama imagem esprito que ca-
racterizaria a TV dos anos 50 para a ima-
gem corpo intrnseca aos programas da
actualidade, misturando-se essa mudana com
outras de idntica natureza: a cmara j no
um pssaro que desliza na superfcie do
mundo, mas um peixe que emerge no meio
daqueles de quem capta a vida
3
. Faltar aqui
a referncia a uma terceira etapa, apenas
aludida na concluso do livro La Tlvision
do Quotidien, quando se enfatiza a actual
necessidade (de quem produz e de quem v
televiso) de tocar o vivido. Para Jost,
a que a imagem encontra o seu pleno valor
de ndice. No ano seguinte, no livro dedi-
cado ao Loft Story, h outro espao para
falar no novo patamar da comunicao
televisiva: aquela que inaugurada por
programas que misturam imagens reais e
fictcias, que apagam as ltimas fronteiras
(ainda) existentes: aquelas que separam os
programas da publicidade. Percorrendo ca-
minhos diferentes de Eliseo Veron, Franois
Jost tambm v no surgimento dos chamados
programas da vida real a emergncia de
uma nova fase da televiso. A eles dedica
um livro que intitula LEmpire du Loft, es-
crevendo a que esse tipo de emisso apa-
rece na convergncia de trs modos: o da
autenticidade, aberto pelos reality-show; o
ficcional das sitcoms; e o do ldico
4
.
Detendo-se no Loft Story, o formato mais
conhecido como Big Brother, o investiga-
dor toma-o como paradigma da transforma-
o gradual de esquemas existentes, como
uma espcie de montra de programas diver-
sos que fizeram sucesso nos ltimos anos.
Afirmando que o programa ele prprio
a publicidade, Jost v nos novos cdigos
estruturantes desse formato o esbatimento da
fronteira que separava o campo publicitrio
dos programas televisivos. A sua posio
marcadamente semitica , no entanto, in-
fluenciada pelas apreciaes mais de natu-
reza sociolgica e cognitiva de Serge Tisseron
que, no ano anterior, havia publicado L
Intimit Surexpose. Nesse livro, o psicana-
lista assinala a passagem para um novo
perodo da histria da intimidade. Para trs
ficavam duas etapas distintas. A primeira onde
a individualidade e a interioridade apare-
ceram como um luxo dos privilegiados
enquanto a maioria tinha de seguir a exi-
gncia do grupo e uma segunda onde se
exaltou a individualidade de um grande
nmero de pessoas
5
. Actualmente, a intimi-
dade situar-se-ia onde cada um quer que ela
esteja. Poucos meses antes da publicao
desse livro, a investigadora Dominique Mehl
reafirmara-nos exactamente isso numa entre-
vista que publicmos na revista Jornalistas
e Jornalismo. Confrontada com o que
entende hoje por vida privada, a investiga-
dora francesa afirmava o seguinte: Cada um
deve definir o que reserva para si prprio,
o que guarda no espao privado e o que
mostra aos outros atravs do debate pbli-
co. Seria este um outro modo de vivermos
o dia-a-dia, mas esta alterao
comportamental tem tambm profundas in-
fluncias no modo como a televiso organiza
a sua comunicao, certamente porque tam-
bm houve a tal mudana de interpretante
de que nos fala Veron, adquirindo o quoti-
diano extra-meditico uma fora que no
tinha num passado recente. Se numa primei-
ra poca o Estado criava atravs do pequeno
ecr uma janela por onde pretendia fazer olhar
os telespectadores; se num segundo momen-
to a televiso reorganizava a realidade com
cdigos que eram os seus, fazendo a audi-
ncia acreditar estar ali um espelho daquilo
que era; actualmente so os prprios teles-
pectadores que levam para dentro do ecr
aquilo que so e como a sua identidade
uma construo cada vez mais instvel a
643 COMUNICAO AUDIOVISUAL
televiso deixa de controlar a sua prpria
enunciao.
Na verdade, neste incio do sculo XXI,
a enunciao televisiva substancialmente
diferente daquela que foi construda na
segunda metade do sculo XX. Porque se
alteraram os enunciadores, porque os
enunciatrios descobriram novas formas de
identidade, porque outros enunciados entra-
ram dentro do pequeno ecr. Tudo isto
configura um novo discurso televisivo. No
nosso caso, procuraremos analisar em que
medida os programas de informao no-
diria emitidos, em 1999 e em 2003, no
segmento nocturno dos canais generalistas
reflectem essas mudanas. A TV ter sido
conquistada pelo interpretante-telespecta-
dor ou manter ainda espaos de autonomia
que lhe garantem um certo controlo em
relao quilo que mediatiza?
2 A era pr-Big Brother: as fronteiras
que a informao (ainda) consegue deli-
mitar
um espao consagrado ao entretenimen-
to o que as grelhas dos canais generalistas
constroem no horrio nobre de 1999. Mas
nele, e nas diferentes estaes, encontram-
se tempos especficos para programas de
informao, ainda que alguns faam emergir
traos que os afastam do campo do jorna-
lismo, sem propriamente se converterem em
emisses de diverso. Reunindo um share
mdio anual de 45.5%, neste ano a SIC
que condiciona a oferta televisiva do Pano-
rama Audiovisual Portugus, nomeadamente
da RTP1 onde se nota uma certa clonagem
dos formatos propostos no canal de maior
audincia, sem, com isso, conseguir resul-
tados muito optimistas, na medida em que
chega ao final do ano com um share mdio
de 27%. Esse mimetismo menos visvel ao
nvel dos programas de informao. Sem
adoptar uma engenharia de programao de
identificao com os canais concorrentes, a
TVI apresenta, ao longo desse ano, bastantes
estreias. Apesar de ser o canal que reuniu
menos telespectadores, foi o nico que re-
gistou uma subida em relao a 1998, reu-
nindo 16.4% de share contra os 13.1% do
ano anterior.
No que diz respeito informao no-
diria emitida na franja nocturna dos ca-
nais generalistas, encontramos em 1999 um
nmero razovel de programas (cf. Quadro
1). Alguns deles mantm-se h alguns anos
em antena, registando uma longevidade as-
sinalvel. O mais antigo Casos de
Polcia que surgiu na SIC em 1993;
Domingo Desportivo estreou, na RTP, em
1995; Maria Elisa e Esta Semana
apareceram em 1996 na RTP e na SIC,
respectivamente.
a r i e f 2 a r i e f 3 a r i e f 4 a r i e f 5 a r i e f 6 o d a b S o g n i m o D
P T R s e a t o R
a i r a M
a s i l E
e d n a r G
a t s i v e r t n E
s a s r e v n o C
o i r M e d
s e r a o S
6
e u q J
s o m a l a F
o x e S e d
7
o g n i m o D
o v i t r o p s e D
C I S
e d s o s a C
a i c l o P
a t s E
a n a m e S
s o n o D
a l o B a d
I V T ! o l o G
o r e u Q
a i t s u J
m E
a m i t g e L
a s e f e D
Quadro n. 1: Informao no-diria do primeiro semestre de 1999
Integrados num segmento horrio em que
vingam contedos essencialmente vocacio-
nados para o entretenimento, os apresenta-
dores dos programas de informao emitidos
em 1999 fazem questo de delimitar fron-
teiras. Maria Elisa, no perodo de lanamen-
to do seu programa, apesar de reconhecer que
ressaltar o lado emocional dos seus con-
vidados, refere-se a esse espao como de
anlise dos temas em destaque
8
; Marga-
rida Marante, apresentadora e coordenadora
de Esta Semana, afirma ser uma defen-
sora bastante sria da fronteira entre a
informao e o entretenimento
9
; Conceio
Lino, apresentadora e coordenadora de Casos
de Polcia, assegura que h uma aborda-
644 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
gem cuidadosa de modo a evitar o espec-
tculo gratuito
10
; Vtor Bandarra, apresen-
tador de Quero Justia, recusa para si o
papel de advogado, Provedor de Justia e
Procurador, assegurando ser apenas um
jornalista que trata de casos que merecem
justia
11
. , na verdade, classe jornalstica
que se entrega, em 1999, a apresentao da
maior parte dos programas que se querem
informativos. Quando se opta por outro perfil
profissional, a escolha recai em apresenta-
dores que tm um saber/experincia que se
cruza com aquilo de que se fala, o que, de
certa forma, retm as emisses no campo da
informao. No primeiro semestre de 1999,
h dois casos que ilustram esta situao:
Conversas de Mrio Soares (RTP) da
responsabilidade do ex-Presidente da Rep-
blica e J que Falamos de Sexo (RTP)
conduzido pelo psiquiatra Allen Gomes
12
.
Ainda que vejamos em Mrio Soares um
entrevistador que faz entrar as suas vivncias
pessoais na formulao das perguntas, as suas
conversas circunscrevem-se a factos do
domnio pblico, no enveredando pela
explorao da esfera privada dos seus entre-
vistados. Mesmo tratando temticas que
facilmente poderiam convocar a exposio da
vida ntima das pessoas, o psiquiatra Allen
Gomes, antes de ir para o ar a primeira
emisso, assegurava que procuraria tratar
os temas com rigor e frontalidade
13
.
O mimetismo que, em 1999, se nota ao
nvel dos contedos de entretenimento entre
as grelhas da RTP e da SIC apenas tem
transposio no que diz respeito informa-
o no-diria nas noites de quinta-feira. A,
enquanto a SIC transmite Esta Semana, um
programa que integra uma entrevista e um
debate, a RTP1 alterna quinzenalmente esses
gneros jornalsticos em Maria Elisa e
Grande Entrevista. Estes dois ltimos
programas perdem alguma fora em termos
de audimetria no s porque se inserem num
canal com um share global mais baixo,
como tambm devido ao facto de terem uma
emisso quinzenal, o que dispersa a ateno
do pblico. Poder-se- ainda encontrar uma
certa concorrncia noutro tipo de programa-
o informativa no-diria: nos programas
que debatem assuntos desportivos, nomeada-
mente o futebol. No entanto, neste domnio,
cada estao opta por colocar as respectivas
emisses em dias diferentes. O que vem
acontecendo desde 1993, altura em que
Grande rea (RTP) ia para o ar ao do-
mingo; Prolongamento (TVI), segunda-
feira; e Donos da Bola, sexta-feira. Seis
anos depois mantm-se o mesmo modelo de
programao. No primeiro semestre, temos
Domingo Desportivo na RTP; Donos da
Bola nos seres de sexta-feira da SIC; e
Golo nas noites de tera-feira da TVI. No
segundo semestre de 1999, h uma
reformatao dessas emisses que aparecem,
consequentemente, com outros nomes e surge
tambm um novo programa de informao
desportiva no canal pblico generalista. Ao
Domingo Desportivo, juntam-se na TVI,
a partir de 19 de Agosto, A Bola Nossa;
na SIC, a partir de 20 de Agosto, Jogo
Limpo; na RTP1, a partir de 23 de Agosto,
Jogo Falado que transita da RTP-2. Os trs
tm em comum a presena em estdio de
um painel de comentadores fixos que repre-
sentam os trs maiores clubes de futebol, uma
frmula que fez escola com Donos da
Bola
14
.
Apesar de vrios programas de informa-
o no-diria integrarem a actualidade
noticiosa nos temas que abordam, a maior
parte deles amplia e reformata uma realidade
nem sempre muito visvel no trabalho dirio
dos jornalistas. A televiso assume, deste
modo, uma funo mais estruturante do que
estruturada do espao pblico contempor-
neo. Incidindo a sua ateno na realidade quo-
tidiana, as emisses de informao no-di-
ria deram, em 1999, particular ateno so-
ciedade civil, representada por especialistas
de diversos campos de saber ou pelo cidado
comum ouvido a propsito de experincias
paradigmticas. Esta ltima franja social est
mais presente nos ecrs da TV privada,
encontrando a diferentes representaes,
construdas segundo regras jornalsticas.
o cidado annimo no papel de vtima
ou de agressor que encontramos em grande
parte das reportagens emitidas em Casos de
Polcia (SIC). Por outro lado, este programa
presta tambm ateno ao funcionamento
irregular de certas instituies, nomeadamente
daquelas a quem compete zelar pela ordem
pblica. Como frisa a respectiva coordenadora
645 COMUNICAO AUDIOVISUAL
e apresentadora, a jornalista Conceio Lino,
abordam-se coisas que no deveriam acon-
tecer num Estado de Direito
15
. Esta emisso
reserva ainda espao para trs especialistas
residentes que, em estdio, procuram
contextualizar os casos apresentados. Em
1996 altura em que Conceio Lino subs-
tituiu Carlos Narciso houve uma renova-
o desse painel que passa, ento, a integrar
o advogado Joo Nabais, o psiquiatra Carlos
Amaral Dias e o padre Jos Lus Borga.
Dispensando essa parte de contextualizao,
Quero Justia (TVI) tambm privilegia a
denncia de casos de inoperncia das ins-
tituies, ou seja, histrias de pessoas
injustiadas ou cujos problemas a justia no
consegue resolver a tempo e horas, como
sublinha Vtor Bandarra
16
. Embora tenham
traos diferenciadores (Casos de Polcia
mais diversificado nos temas, mais variado
no perfil das fontes e mais rigoroso no tra-
tamento jornalstico dos factos), nestes dois
programas emerge uma televiso que, ao
colocar no espao pblico um discurso
denunciador de irregularidades sociais,
redesenha uma ideia de sociedade com fortes
desequilbrios.
Nos debates promovidos em Maria
Elisa e em Esta Semana, d-se maior
relevo a problemticas sociais
17
. Maria Elisa
garante que nas polticas sociais que se
faz hoje verdadeira poltica, acrescentando
que as pessoas no esto muito interessa-
das nas polticas partidrias
18
. Tambm
Margarida Marante optou por descentralizar
os debates do campo poltico. Em 23 emis-
ses que foram para o ar de Janeiro a Julho
de 1999, discutiram-se na maior parte das
vezes temas relacionados com o quotidiano.
Em Portugal afirma Margarida Marante
mudou tudo: mudou a poltica e mudou
o nvel do interesse dos espectadores pela
poltica e eu inevitavelmente mudei ao mesmo
ritmo
19
. No entanto, o campo poltico no
esteve totalmente ausente da informao no-
diria, apesar de no conseguir fora sufi-
ciente para se sobrepor aos actores sociais
que, em 1999, ocuparam mais espao nos
ecrs de televiso. No primeiro semestre do
ano, das 14 emisses de Grande Entrevista
(RTP) apenas quatro tiveram polticos como
convidados
20
. Os restantes entrevistados
foram padres, historiadores, um mdico, um
dirigente desportivo, um futebolista, um eco-
nomista e um alpinista. No mesmo perodo
do ano, Margarida Marante, em 23 emisses
de Esta Semana, preencheu apenas cinco
vezes o espao da entrevista com polticos
21
.
Nos restantes programas, a jornalista falou
com pessoas ligadas ao futebol, sade,
televiso e ao cinema
22
. O critrio seguido
para a escolha dos entrevistados foi quase
sempre a actualidade, havendo aqui uma apro-
ximao do jornalismo televisivo aos factos
com maior projeco pblica. Mais despren-
dido da noticiabilidade do momento, mas
elegendo a poltica como fio condutor do seu
programa, Conversas de Mrio Soares
(RTP) colocou no centro das suas emisses
personalidades com relevo internacional no
campo poltico. Para alm de Presidentes da
Repblica e de primeiros-ministros de pases
estrangeiros, Mrio Soares entrevistou o
Secretrio-Geral da ONU (5 de Maro), o
Secretrio-Geral da UNESCO (12 de Maro)
e o ex-Secretrio-Geral do PCE Santiago
Carrillo (16 de Abril) que fechou a 1 srie
deste programa, suspenso em Abril devido
a Soares ser candidato ao Parlamento Euro-
peu, mas retomado na grelha de Agosto.
Percorrendo os programas de informao
emitidos em 1999, encontra-se uma forte
ateno a temas sociais. Num ano marcado
por duas eleies para o Parlamento
Europeu (13 de Junho) e Legislativas (10 de
Outubro) a engenharia de programao
adoptada nos trs canais desviou a oferta
informativa no-diria da agenda poltica e
mesmo nos formatos onde esse campo po-
deria ser facilmente introduzido como o
caso das entrevistas os respectivos respon-
sveis optaram por outro perfil de convida-
dos. So essencialmente assuntos do quoti-
diano que estruturam grande parte das
emisses semanais. Para falar deles, os canais
generalistas socorreram-se frequentemente do
cidado comum que, tornado visvel no es-
pao pblico mediatizado, adquire uma outra
importncia na vida pblica. Detendo-se em
experincias pessoais, o convidado que emer-
ge do anonimato tende a construir o seu
discurso num registo mais emotivo do que
racional, o que pode facilmente converter a
emisso num espao aberto ao voyeurismo
646 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
e, consequentemente, ao entretenimento.
Tendo consci nci a dest e event ual
deslizamento de fronteiras, os apresenta-
dores dos vrios programas sublinham
reiteradamente o cuidado que tm em cir-
cunscrever o seu trabalho esfera do jor-
nalismo. A presena de especialistas no
plateau de certas emisses tambm aju-
dou a re-centrar as discusses em aspec-
tos que se relacionavam com a impor-
tncia ou interesse pblico dos temas.
Extravasou desta lgica o Especial TVI
23
que ganhou visibilidade com uma repor-
tagem sobre a estncia brasileira de nu-
distas Colnia do Sol, um trabalho que
obrigou o jornalista do canal portugus a
tambm assumir essa prtica. Este progra-
ma feito em colaborao com o canal
brasileiro SBT apostou em reportagens
sobre emisses televisivas que, no Brasil,
tentavam, custa da violao da digni-
dade/intimidade dos respectivos convida-
dos
24
, destronar as audincias da TV
Globo.
3 Quando o entretenimento conquista
o horrio nobre
Em 2003, a programao nocturna das
estaes generalistas, nomeadamente das
privadas, apresenta uma oferta televisiva
substancialmente diferente daquela que foi
desenhada em 1999. Tambm houve algu-
mas alteraes ao nvel da audimetria.
Tendo reunido mais 2.7% de share do
que no ano anterior, a RTP continua em
terceiro lugar, com 22.4%, mas foi a nica
estao a apresentar uma subida em 2003
25
.
Tendo deixado de ser a televiso com mais
telespectadores em 2001, a SIC, embora
tenha perdido 1.2 pontos percentuais a
nvel global, consolidou este ano a lideran-
a na audimetria. Se em 2002 a sua
vantagem em relao TVI foi apenas de
0.1 pontos percentuais (o que representou
um empate tcnico), este ano alarga essa
distncia para 1.8 pontos. No horrio
nobre, a SIC aumenta o share de 29.5%
para 29.8%, conseguindo ultrapassar o
quarto canal nos dois ltimos meses do
ano. No entanto, a TVI que perde 2.4
pontos percentuais a nvel global, ficando
com um share mdio de 28.6% con-
tinua a registar o resultado mais alto em
prime-time: 33.4%, ainda que tenha
perdido 4.4% em relao a 2002.
No que diz respeito informao no-
diria emitida no primeiro semestre de
2003, contam-se apenas cinco programas
estritamente jornalsticos: quatro esto
integrados na grelha da RTP1, o outro
pertence SIC que o coloca sempre num
segmento horrio bastante tardio (depois
da meia-noite). Enchendo o horrio nobre
com sries de humor, com telenovelas por-
tuguesas e brasileiras e com formatos tipo
Big Brother, as estaes privadas no
tm espao para inserirem emisses infor-
mativas. Neste perodo, emerge, na franja
horria nocturna (tardia) dos canais pri-
vados, um gnero de programas que se
concentra em casos de denncia de injus-
tias sociais. No se trata, certo, de uma
temtica inovadora, mas a forma encon-
t rada para ret rat ar essas si t uaes
apresentadas prioritariamente pelo lado das
vtimas que encontram no apresentador um
opositor ou um coadjuvante de acusaes
a terceiros ausentes dos plateaux retira
esses formatos do campo da informao,
situando-os na rea do entretenimento que
estrutura, desse modo, o perodo televisivo
nocturno como um bloco homogneo.
Quadro n. 2: Informao no-diria do primeiro semestre de 2003
a r i e f 2 a r i e f 3 a r i e f 4 a r i e f 5 a r i e f 6 o d a b S o g n i m o D
P T R
s r P
e
s a r t n o C
a r o F
e d
o g o J
e d n a r G
r e t r p e R
e d n a r G
a t s i v e r t n E
C I S a r t x E a r o H
I V T
647 COMUNICAO AUDIOVISUAL
Como se constata no Quadro n 2, a RTP1
foi a estao generalista que somou mais pro-
gramas de informao no-diria em perodo
nocturno, quando comparada com os outros
canais: emisses especiais de informao
ditadas pela actualidade (que no constam
deste quadro por no terem uma periodicida-
de fixa), um debate (Prs e Contras), um
programa de desporto (Fora de Jogo), um
programa de entrevista e outro de reportagem
que se alternam 5 feira (Grande Entrevista
e Grande Reprter). Este ltimo gnero viria
a ser substitudo, a partir de Novembro, por
um outro debate, intitulado Estado da Na-
o. Correspondem estas emisses a um in-
vestimento acrescido na informao no-di-
ria? No, porque, antes de 2000, houve
sempre um nmero considervel de progra-
mas no horrio nobre do canal generalista p-
blico
26
. Se a RTP1 se torna agora mais visvel
neste tipo de programao, tal acontece de-
vido ao forte desinvestimento das estaes
privadas a. Excepto Estado da Nao que
aparece em Novembro de 2003, os restantes
programas transitam da grelha do ano ante-
rior. Ainda que sejam alvo de modificaes
pontuais, todos mantm a mesma linha edi-
torial, que se caracteriza por uma ligao
estreita aos factos que fazem a actualidade
noticiosa e por uma dependncia vincada das
fontes polticas. Mais do que promotora de
novas configuraes sociais, a RTP tende, em
2003, a reproduzir uma certa ideologia do-
minante, garantida pela presena em estdio
das chamadas fontes oficiais que nem sempre
coincidem com aquelas que apresentam um
grau de especializao naquilo de que se fala.
Mais do que um espelho do espao pblico
contemporneo, a RTP, na informao no-
diria de horrio nobre, inclinou-se por fazer
reflectir dentro do pequeno ecr uma certa
ideia de espao parlamentar, aberto a vrias
sensibilidades polticas, mas, tal como o
hemiciclo portugus, demasiado concentrado
no gnero masculino e espartilhado entre
posies polticas do Governo e do maior
partido da oposio. Esta tendncia foi mais
notria nos debates do que nas entrevistas.
No entanto, esses espaos, apresentados sem-
pre por jornalistas, delimitavam uma linha clara
entre aquilo que lhes era intrnseco (a infor-
mao) e a oferta televisiva de entretenimento
que lhes estava contgua.
No contando com a concorrncia hor-
ria de um formato do mesmo gnero, Hora
Extra, que estreara em Janeiro de 2002,
continua em antena na primeira metade de
2003, sem, no entanto, conseguir uma gran-
de valorizao na grelha da SIC. Atirado para
um horrio tardio, este programa, o nico de
informao no-diria em segmento noctur-
no das estaes privadas, percorre o primeiro
semestre do ano mostrando semanalmente
diferentes realidades de campos sociais di-
versos, atravs de uma reportagem alargada
seguida de um debate em estdio que junta
volta de uma mesa interlocutores que do
testemunho de vivncias pessoais ou que so
especialistas nos assuntos em destaque. No
com pessoas de grande projeco pblica
que se faz Hora Extra, mas, acima de tudo,
com situaes que ilustram realidades nem
sempre muito visveis. No naquilo que usu-
almente constitui notcia que este programa
encontra o mote para os seus temas. Ultra-
passando agendas mediticas e fontes insti-
tucionais, as emisses da jornalista Concei-
o Lino centram-se nas margens do espao
pblico, fazendo da emergir casos que,
descobrir-se- depois, so vividos por milha-
res de pessoas. Casos que afectam pblicos
segmentados, que se estendem a classes com
diferentes estatutos, que se circunscrevem ao
nosso pas ou que ultrapassam as fronteiras
nacionais, que retratam situaes de difcil
resoluo ou que reflectem exemplos de
sucesso. Olhando para o Quadro n. 2, ser
este o programa que deveremos ver como
estruturante de um verdadeiro espao pbli-
co televisivo: diversificado nos temas,
variado nos convidados e nele inserem-se dois
gneros jornalsticos a reportagem e a
entrevista que nos fornecem duas aborda-
gens dinmicas do assunto em destaque. No
entanto, num tempo em que a oferta televisiva
homogeneizada pelo entretenimento, este
formato no consegue fora suficiente para
percorrer todo o ano de 2003. Interrompido
em Junho para frias, Hora Extra j no
regressou na temporada de Outono. No seu
lugar, apareceram Grande Reportagem e
Pas Real que se alternam semanalmente
no mesmo horrio, mas que desaparecem da
grelha antes do ano terminar, sendo inseri-
dos, com algumas alteraes, no Jornal da
Noite do fim-de-semana.
648 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
em emisses que se centram em pes-
soas a quem se reconhece o estatuto de
vtimas, em relao s quais a televiso
pretende assumir uma funo reparadora de
injustias sociais que encontramos as prin-
cipais novidades da SIC para o horrio noc-
turno do incio de 2003. Em Janeiro, apa-
recem o Bombstico (dia 10), Escndalos
e Boatos (dia 21) e O Crime no Com-
pensa
27
(dia 28), programas feitos por
produtoras externas que levavam semanal-
mente a estdio pessoas que, ouvidas no
estatuto de vtimas, expunham casos pesso-
ais, apontando abertamente aqueles que
julgavam serem os culpados por situaes
que, a maior parte das vezes, diziam respeito
a um espao privado intrnseco ao actor do
relato ou pertencente a terceiros. No se trata
aqui de uma oportunidade para pensar casos
de injustia social, mas procura-se, sobretu-
do, ressaltar o sentir daqueles que falam
e daqueles que assistem a esse espectculo
da palavra, exposta com dramatismo. Ape-
sar de no ter uma longevidade assinalvel,
este gnero de programao, enquanto se
manteve em antena, suscitou uma acesa
polmica, nomeadamente o Bombstico que
encontrou na classe dos juzes uma severa
oposio quanto forma como era conduzido
o programa. Estas emisses, apresentadas por
profissionais da televiso sem carteira de
jornalista, no podero naturalmente integrar-
se naquilo que se entende por informao
televisiva: no seguem critrios jornalsticos,
violam sistematicamente o princpio do con-
traditrio e ultrapassam com bastante frequn-
cia princpios ticos, nomeadamente quando
incitam os convidados a falarem de experi-
ncias ntimas, acusando terceiros que esto
ausentes dos plateaux. No entanto, foram
estes formatos que a SIC ps no remate do
horrio nobre, subtraindo com eles o espao
para outro tipo de realidade: aquela que o
jornalismo constri com regras especficas.
Em 2003, a TVI coloca igualmente em
horrio nocturno dois programas que operam
nesta linha de uma denncia social que des-
valoriza a parte visada. Vidas Reais (que
estreara a 16 de Setembro de 2002 e que
a 10 de Janeiro de 2003 passa para os seres
de sexta-feira e de sbado com uma emisso
em directo) e Eu Confesso (que surge a
25 de Janeiro de 2003) trazem para o
plateau convidados que revelam compor-
tamentos pessoais reprovveis, confrontando-
se em estdio com os visados pelas aces
relatadas. Todavia, no so estes ltimos que
se destacam, mas aqueles que, atravs de uma
palavra fortemente perturbadora e pronunci-
ada de forma veemente, expem em pblico
episdios sobre os quais recai uma punio
judicial ou moral. Eu Confesso surge para
dar visibilidade a autores de crimes graves
que, em estdio, so confrontados com
aqueles que agrediram ou com os respecti-
vos familiares. A compreenso daquilo que
se retrata construda com base nos senti-
mentos que agressores e vtimas constroem
em pblico. Porque so as emoes que
importam em primeiro lugar, a produo do
programa secunda esses actores por um painel
constitudo por especialistas ligados psi-
cologia que, no entanto, ocupam um lugar
bastante secundrio. Por seu lado, Vidas
Reais constri-se atravs de depoimentos de
convidados que falam essencialmente de
vivncias privadas que se cruzam com a
intimidade de terceiros que, em estdio, so
(ou aparentam estar) surpreendidos pelos
relatos que ouvem. Frequentemente os tes-
temunhos so expostos por pessoas que
representam outras que preferem no aparecer
em pblico. , sobretudo, o inslito, o es-
tranho e o escndalo que essas narraes
criam, sem que os respectivos autores ma-
nifestem grande dificuldade em verbalizar
comportamentos que emergem no s da sua
vida privada (ou daqueles que representam)
como tambm se estendem intimidade de
terceiros. Em Vidas Reais, reserva-se um
espao para o pblico que incitado a reagir
efusivamente aos testemunhos do plateau.
4 Notas Finais
para uma zona de bastidores que
remetem as novidades da programao da SIC
e da TVI em 2003. Violando o espao ntimo
dos convidados, os novos programas de que
falmos no ponto anterior colocam em cena
pessoas que representam um papel que lhes
est previamente configurado: o de vtimas.
Essa visualizao da extimidade, ou seja,
o movimento que leva cada um a exteriorizar
uma parte da vida ntima, fsica e psqui-
ca
28
, poderia ser uma oportunidade para
649 COMUNICAO AUDIOVISUAL
multiplicar espelhos numa tentativa de se
conseguir perceber melhor a respectiva iden-
tidade. No exactamente isso que se passa
nesses programas. Sabendo que encontram
no apresentador da emisso um coadjuvante
ou um opositor quilo que expem, os
convidados sentem-se na obrigao de repre-
sentar um papel. No para a verdade que
os depoimentos se orientam, mas para uma
autenticidade que se pretende que comova
aqueles que assistem a isso: apresentador,
pblico no estdio e, sobretudo, as audin-
cias. Tal como acontece com as novelas da
vida real. Entre todos estes programas, no
h muitas diferenas. Em 2003, a TVI avana
com a quarta edio de Big Brother, mais
arrojada do que as anteriores, cujo slogan
a garantia de que os concorrentes vo pr
tudo a nu. Numa resposta TVI, a SIC
estreia a 5 de Setembro um formato da
Fremantle Media chamado dolos, um
programa bastante semelhante Operao
Triunfo da RTP1. Numa entrevista TV
7 Dias (n 863, de Outubro de 2003), o
director de Programas da SIC, Manuel da
Fonseca, refere as razes inerentes escolha
deste tipo de contedos: Os dolos per-
mitem-nos estabelecer uma relao directa
com os espectadores. uma porta aberta
opinio e ao voto, o que, no final, far com
que alguns milhes de espectadores sintam
que foram eles a fazer o programa. essa
a aposta: fazer uma estao de mos dadas
com o telespectador. Eis aqui o exemplo
da terceira fase da televiso de que fala Eliseo
Veron. Se das audincias se espera uma
participao que complete a produo de
determinado programa, torna-se obrigatrio
construir permanentes elos de ligao com
os diversos pblicos, o que ser facilitado
se os contedos se desenvolverem num
registo que promova a afectividade. tam-
bm isso que se pretende em programas como
o Bombstico e Vidas Reais, apesar de
isso ser a mais ilusrio do que real.
Ser, ento, que atingimos a terceira fase
da televiso? Ao nvel do entretenimento, a
oferta televisiva dos canais privados da era
ps-Big Brother sela as previses de Eliseo
Veron e de Franois Jost. Na programao
emitida em horrio nobre, evidenciam-se
sinais que atestam modificaes profundas.
Por que ser que os canais privados expul-
saram a informao semanal do segmento
nocturno que se segue aos noticirios di-
rios? Porque h outros contedos mais do
interesse do pblico? Porque (ainda) no se
descobriram meios que introduzam o espec-
tador nessas emisses? Porque a realidade
encontrou formas mais espectaculares de
mediao?
Em 2003, SIC e TVI criaram novos
formatos para retratar a realidade. Com um
novo perfil de convidados, com uma atitude
participante do apresentador e com um
pblico em estdio mais activo. No caso da
SIC, as estreias que surgiram no perdura-
ram por muito tempo. Na TVI, Vidas Reais
e Eu Confesso tiveram uma longevidade
maior, sem, no entanto, conseguirem fora
suficiente para vingarem em horrio nobre.
Em qualquer dos casos, ficou por cumprir
aquilo que estrutura a terceira fase de que
nos fala Eliseo Veron: o centralismo do
telespectador no desenvolvimento dessas
emisses. Todavia, acompanhando o discur-
so dos responsveis pelas estaes privadas,
essa aproximao s audincias uma pre-
ocupao constante. Ao comemorar a 20 de
Fevereiro de 2003 os dez anos da TVI, o
respectivo director-geral, em entrevista Lusa
citada pelo Pblico, apresenta a sua tele-
viso como prxima do cidado, com
programas que vo ao encontro dos gostos
dos espectadores e com uma informao
desengravatada. Numa conferncia sobre
Cultura e Comunicao realizada no Porto
a 7 de Outubro de 2003, o presidente do
Conselho de Administrao da SIC, Francis-
co Pinto Balsemo, defendia que os pro-
gramas tm de agradar ao maior nmero de
pessoas e no tm necessariamente de ser
enriquecedores, tm de divertir, entreter e
libertar
29
. Na base de tudo isto, estar aquilo
que o director de programao da SIC, em
entrevista TV Guia (n 1251, Janeiro de
2003), considerava a melhor definio da
televiso privada: um negcio que tem
como nico cliente os anunciantes a quem
vende o nmero da audincia alcanada,
concluindo, assim, que servir o pblico
inevitvel. No caso das televises privadas,
o passado recente demonstra que a frmula
de sucesso se concentra em contedos de
entretenimento, onde mais fcil levar a
audincia a (acreditar que pode) determinar
o desenvolvimento das emisses. Neste
650 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
contexto, o jornalismo no ter espao para
se desenvolver.
Ainda que na oferta televisiva do canal
pblico generalista se encontrem programas
com alguns traos do dispositivo das no-
velas da vida real, a informao da RTP1
tem persistido em delimitar fronteiras entre
o seu campo e o do entretenimento. Produ-
zidos e apresentados por jornalistas, os
programas de informao no-diria do
operador pblico, apesar de, em 2003, terem
estado excessivamente concentrados nos
mesmos convidados (quase sempre homens)
e dependentes de uma agenda poltica, pre-
servaram espaos que tornam (ainda) poss-
vel falar de um campo de informao
televisiva.
651 COMUNICAO AUDIOVISUAL
Bibliografia
Casetti, Francesco; Odin, Roger, De la
palo la notlvision. Approche smio-
pragmatique, Rev. Communications, n 51,
Paris: Le Seuil, 1990.
Cavicchioli, Sandra ; Pezzini, Isabella, La
TV verit. Da finestra sul mondo a
panopticon. Torino: Nuova Eri, 1993.
Eco, Umberto, Viagens Na Irrealidade
Quotidiana. Difel, 1993.
Jost, Franois, La Tlvision du
Quotidien: entre ralit et fiction. Bruxelles:
Ed. De Boeck Universit, 2001.
Jost, Franois, L Empire du Loft. Ed. La
Dispute, 2002.
Lopes, Felisbela, O Panorama
Audiovisual Portugus: o passado recente e
o futuro prximo. Comunicao apresenta-
da na sesso Indstrias Audiovisuais do 4
Encontro Lusfono de Cincias da Comuni-
cao, sob o tema Comunicao
Intercultural: 500 anos de mestiagem, So
Vicente, 19-22 de Abril de 2000.
Lopes, Felisbela. As polticas, as estra-
tgias e as tcticas do prime-time do PAP.
Comunicao apresentada no I Congresso
Ibrico de Comunicao, Mlaga, Espanha, 7-
9 de Maio de 2001.
Pinto, Manuel (dir), A Comunicao em
Portugal: 1995-1999 cronologia e leitura
de tendncias. Coleco Comunicao e
Sociedade, Universidade do Minho, 2000.
Pozzato, Maria Pia, Lo spettatore senza
qualit. Competenze e modelli di pubblico
rappresentati in TV. Torino: Nuova Eri, 1995.
Tisseron, Serge, Lintimit surexpose.
Ed. Ramsay, 2002.
Veron, Eliseo, Les publics entre
production et rception : problmes pour une
thorie de la reconnaissance. Conferncias
da Arrbida, 27 a 31 de Agosto de 2001(tex-
to policopiado).
Jornais e revistas
Expresso: 15 de Novembro de 1997.
Pblico: 20 de Fevereiro de 2003; 3
de Janeiro de 2004; 9 de Outubro de 2003.
TV Guia: 5 de Outubro de 1996; 29
de Novembro de 1997; 31 de Julho de 1999.
TV Mais: 22 de Maio de 1998; 7 de
Agosto de 1998; 19 de Fevereiro de 1999; 26
de Fevereiro de 1999; 8 de Outubro de 1999.
_______________________________
1
Departamento de Cincias da Comunicao
da Universidade do Minho.
2
Francesco Casetti e Roger Odin retomam
a designao de neoteleviso, preparando, a
partir desse conceito, um nmero da revista
Communications sobre as mutaes da televiso
que publicado em 1990.
3
Franois Jost, La Tlvision do Quotidien,
Bruxelles, Ed. De Boeck Universit, 2001, p.74.
4
Franois Jost, L Empire du Loft. Ed. La
Dispute, 2002, p.70.
5
Serge Tisseron, LIntimit Surexpose. Ed.
Ramsay, 2001, p.76.
6
Este programa, apresentado pelo ex-Presi-
dente da Repblica Mrio Soares, no segue pro-
priamente os critrios jornalsticos de uma entre-
vista, mas tambm no se configura como um
espao de entretenimento.
7
Este programa apresentado por psiquiatra
e partilha as limitaes assinaladas na nota an-
terior.
8
TV Guia, 5 de Outubro de 1996.
9
Expresso, 15 de Novembro de 1997.
10
TV Guia, 29 de Novembro de 1997.
11
TV Mais, 19 de Fevereiro de 1999.
12
J que Falamos de Sexo estreou a 6 de
Maro de 1999 e marcou o regresso de um gnero
de programao que a RTP j experimentara em
1993 com Sexualidades, apresentado por outro
psiquiatra, Jlio Machado Vaz.
13
TV Mais, 26 de Fevereiro de 1999.
14
A Bola Nossa da TVI tinha como painel
fixo os seguintes comentadores: o jornalista
Antnio Tavares Telles pelo Futebol Clube do
Porto, o actor Henrique Viana pelo Benfica e o
fadista Joo Braga pelo Sporting. Jogo Limpo
escolheu para comentadores residentes o advoga-
do Loureno Monteiro a representar o FCP, o
mdico Alfredo Barroso como voz do Sporting
e Cinha Jardim como representante do Benfica.
Jogo Falado da RTP compunha o seu painel com
Pncio Monteiro pelo FCP, Fernando Seara pelo
Benfica e Santana Lopes pelo Sporting.
15
TV Mais, 22 de Maio de 1998.
16
TV Mais, 19 de Fevereiro de 1999.
17
Em 14 programas, a jornalista abordou temas
ligados ao modus vivendi de determinadas faixas
etrias ou categorias de pessoas (6 emisses),
sade (4 emisses), aos problemas afectivos (3
emisses) e situao econmica dos portugue-
ses (uma emisso).
18
TV Guia, 31 de Julho de 1999.
19
TV Mais, 8 de Outubro de 1999.
20
Judite de Sousa entrevistou os seguintes
polticos: Maria de Belm, ministra da Sade (14
de Janeiro), Duro Barroso, ex-ministro dos
Negcios Estrangeiros (11 de Fevereiro), Manuel
Dias Loureiro, ex-ministro da Administrao
652 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Interna (8 de Abril); e lvaro Cunhal, ex-Secre-
trio-Geral do PCP (6 de Maio).
21
Margarida Marante teve como polticos os
seguintes convidados: o primeiro-ministro Antnio
Guterres (14 de Janeiro), o ministro Antnio
Vitorino (4 de Fevereiro), o ex-Presidente da Re-
pblica Mrio Soares (11 de Fevereiro), o pre-
sidente do PSD Marcelo Rebelo de Sousa (25 de
Fevereiro), e Duro Barroso (6 de Maio).
22
Em vrias emisses, o espao dedicado
entrevista foi substitudo pela reportagem.
23
Este programa foi criado para a emisso de
uma reportagem sobre a operao de dois gmeos
siameses moambicanos. Como as audincias respon-
deram positivamente, decidiu-se pela sua continui-
dade.
24
A 6/7, fala-se do Programa do Ratinho
emitido pelo SBT e apresentado por Carlos Massa
(conhecido pelo nome de Ratinho) , uma emis-
so que explora o lado mais execrvel do quo-
tidiano de certos grupos sociais e que conseguiu
quebrar o monoplio de audincias da TV Globo.
A 3/8, foi a vez de A Tiazinha um verdadeiro
fenmeno de erotismo da Rede Bandeirantes
reacender as expectativas. A 24/8, destaca-se a
apresentadora do Programa H, da Rede Ban-
deirantes, que at poderia ser um vulgar espao
de msica e passatempos, se no tivesse a atrac-
o de Joana Prado, conhecida por feiticeira,
contratada para levar loucura os concorrentes
homens (Lopes, 2000).
25
Os dados aqui apresentados so da Marktest
e foram publicados na edio de 3 de Janeiro de
2004 do jornal Pblico.
26
Recuando, por exemplo, uma dcada, a
1993 (primeiro ano de coabitao da RTP com
a SIC e com a TVI), encontramos na grelha
de primavera do Canal 1 dois debates que
alternam quinzenalmente nos seres de 3 feira
(Marcha do Tempo e De Caras), um talk-
show (Conversa Afiada) e um programa de
desporto (Grande rea). Na grelha de Ou-
tono, mantm-se o De Caras, aparece um
programa de entrevistas (Maria Elisa) e
surgem dois talk-shows que se alternam 5
feira (Voc Excepcional e Raios e Coris-
cos).
27
Escndalos e Boatos e O Crime No
Compensa alternavam-se quinzenalmente no
mesmo horrio, ambos era produzidos por Ediberto
Lima, o mesmo produtor do reality show O Bar
da TV, e faziam parte de um projecto que se
intitulava Tera em Grande.
28
Serge Tisseron, LIntimit Surexpose. Ed.
Ramsay, 2001, p.52-3.
29
Pblico, 9 de Outubro de 2003.
653 COMUNICAO AUDIOVISUAL
Os sons das cidades, o cu de Lisboa
Fernando Morais da Costa
1
1. Introduo
A anlise de O cu de Lisboa (Lisbon
Story. Dir.: Wim Wenders, Alemanha/Portu-
gal, 1994) que apresentamos, privilegiando
como seu eixo o som do filme, procura pensar
sobre trs questes, para este espectador,
bastante claras no decorrer da projeo: a
primeira delas, a redefinio dos parmetros
de nacionalidade a partir do fenmeno da
organizao dos pases em blocos continen-
tais, supranacionais. O filme se passa na ento
recm-criada Unio Europia, na verdade no
ano seguinte sua fundao, em 1993, e sua
longa sequncia inicial, que mostra o per-
sonagem alemo seguindo de carro de sua
terra natal at Lisboa, expe claramente os
questionamentos prprios do cidado que
passa a viver segundo novos paradigmas que
reconfiguram a sua nacionalidade, ou, a
recente supra-nacionalidade. A partir daquele
momento, se alemo, mas tambm habi-
tante da comunidade europia, e, por con-
seguinte, ao atravessar a Europa, se est
saindo do seu pas, mas ao mesmo tempo
no se sai da nova comunidade criada.
O personagem, tcnico de som direto, est
indo a Lisboa, a pedido de um diretor, captar
sons para um filme a ser rodado l. Na inslita
condio de l se encontrar sozinho, tem que
procurar por sons caractersticos da cidade,
o que d nova forma a seus questionamentos
sobre a identidade europia que est sendo
reafirmada. Este desdobramento tambm nos
leva segunda questo: em que medida nos
centros urbanos, como Lisboa, se encontram
sons particulares do lugar, que sejam signos
de uma cultura local; por outro lado, quanto
os sons das grandes cidades contemporneas
so similares, indistintos? Certamente, a
msica portuguesa, pela qual o personagem
alemo literalmente se apaixona, uma marca
identitria. Mas em que medida sons urba-
nos, rudos da cidade como o trfego de
Lisboa, so caractersticos do local? O
musiclogo canadense Murray Schafer, por
exemplo, defende a tese de que as grandes
metrpoles caminham para ser envoltas em
uma massa de sons que cada vez mais
comum a todas elas, deixando menos espao
para manifestaes sonoras que possam ser
consideradas especficas de cada lugar.
O Cu de Lisboa coloca ainda uma
proposio interessante, nossa terceira pre-
ocupao, esta relativa ao prprio processo
de filmagem: possvel se construir um filme
a partir dos sons, tentando criar uma nar-
rativa que se origine nos registros sonoros,
desconsiderando, neste primeiro momento, as
imagens? Se for possvel, estar acontecendo
uma reverso do processo de criao cine-
matogrfica, uma vez que, via de regra, a
imagem precede o som em todos os momen-
tos, desde a decupagem at a finalizao.
2. Os sons das cidades
Antes de nos determos no filme, convm
dar um espao um pouco maior ao raciocnio
de Murray Schafer, quando afirma que o
ambiente sonoro caminha para se tornar
idntico no mundo todo (Schafer, 1992,
p.198). Esta afirmao, alarmante para o
prprio autor, partiu de uma viagem ao
Oriente Mdio que fazia parte de sua ampla
pesquisa de mapeamento da paisagem so-
nora, sua denominao particular para o
ambiente sonoro, de vrios lugares espalha-
dos pelo mundo, partindo de seu Canad
natal, Vancouver especificamente. Ao desco-
brir que os sons nas ruas das grandes cidades
do oriente mdio em grande parte eram
similares queles de cidades europias ou
americanas, ou ainda, que estavam se tor-
nando gradativamente mais parecidos, Schafer
entende a construo diria, cotidiana do
ambiente sonoro nas grandes cidades do
terceiro mundo como mais um efeito da
globalizao homogeneizante. Tambm os
imensos rudos de nossa civilizao so mais
654 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
uma continuao cruel da mesma ambio
imperialista, diz o canadense (ibdem).
No seu Dirio de sons do Oriente Mdio
(idem, p. 196-205) Schafer d vrios exem-
plos de como sons urbanos comuns a qual-
quer metrpole fazem submergir, por sua
maior potncia, manifestaes sonoras que
podem ser identificadas como marcas locais.
Segundo sua descrio, sons caractersticos
de Istambul, como os preges dos vendedo-
res nas ruas, brigam por espao com o trfego
cada vez mais intenso, com o nmero
inacreditvel de carros, como diz o cana-
dense, cuja poluio sonora exacerbada pelo
hbito de buzinar de forma inclemente. Aos
sons do trnsito turco Schafer faz uma res-
salva, lembrando que uma tradio perma-
nece em meio aos carros, e abranda a vi-
olncia de seus rudos: trata-se do transporte
a cavalo, em cujas carruagens ouvem-se no
buzinas, mas sinos, certamente menos vio-
lentos do que aquelas, e que servem como
lembretes de que os sons nas ruas tm ficado
mais intensos, mais volumosos e mais agres-
sivos com o passar do tempo. Um sino tinha,
e ainda tem, a mesma funo da buzina,
porm soando com menos rudeza.
Visitando construes basilares da cultu-
ra do oriente prximo, Schafer descreve como
o som de seus interiores ainda escapa, com
maior ou menor sucesso, da interferncia dos
rudos externos. Ou seja, como o silncio
projetado para ser o receptculo da tradio
no interior dos lugares sagrados consegue
permanecer imaculado, ou no, pelos rudos
aptridas dos motores, do trfego, etc. O
canadense, em visita famosa mesquita Shah
em Isfahan, no Ir, testemunha do prazer
auditivo de se poder ouvir, estando
exatamente sob a cpula principal, o eco sete
vezes repetido de qualquer som que ali se
produza. J a relquia arquitetnica que o
antigo capitlio persa de Perspolis, situado
no alto de uma colina, se encontra envolta
no zumbido constante de motores de gera-
dores e dos caminhes que passam nas
montanhas prximas. No caminho de volta,
na Grcia, Schafer comenta ironicamente que
na Acrpole de Atenas h um aviso no qual
se l: Este um lugar sagrado. proibido
cantar ou fazer barulho de qualquer tipo.
Enquanto a visitava, o canadense diz ter
contado dezessete avies passarem sobre o
prdio e sobre o silncio dos visitantes.
evidente que o relato do canadense
sobre Istambul, Teer e Atenas, e as conclu-
ses tiradas dessas visitas, se aplicam ao caso
de qualquer grande cidade, e o Rio de Janeiro,
onde produzido este texto, assim como
Lisboa, onde ser lido, no so excees. Do
sexto andar de um edifcio localizado em uma
rua de um bairro central de uma cidade
vizinha ao Rio de Janeiro, ouvem-se, enquan-
to se escreve, onze da manh de uma quarta-
feira: os mais variados motores dos carros
e motocicletas que passam l embaixo, na
rua; um ou outro avio; uma buzina no
momento em que escrevia a palavra avio;
o trnsito mais longnquo, que na verdade
envolve o ambiente como uma massa uni-
forme, de menor intensidade, mas
onipresente, ao fundo; mais ao longe, um co.
So pouqussimas as manifestaes vocais de
quem passa, posto que em uma rua ruidosa
a maioria das pessoas passa em silncio, ou
por estar desacompanhada, ou por preguia
de fazer o esforo suficiente para competir
com os motores, utilizando o instrumento
mais frgil que so as cordas vocais. Quantos
desses sons podem ser considerados carac-
tersticos do lugar onde vivo, marcas
identitrias do Rio de Janeiro? Quantos
poderiam estar, indistintamente, em qualquer
grande cidade?
3. O cu de Lisboa
Na sequncia inicial do filme, espcie de
prlogo no qual o personagem se dirige em
seu carro para Lisboa, temos sobre as ima-
gens das estradas e das alfndegas, todas
vistas do que seria o ponto de vista do
motorista, uma grande colagem de sons,
apresentados como se estivessem vindo do
rdio do carro, e que mudam medida que
o motorista passeia pelas estaes. Ouve-se
de incio um noticirio em alemo. Mais
frente, notcias em francs; msica eletrnica;
msica pop, em ingls; msica clssica; hip
hop francs. J no fim da viagem, msica
pop em espanhol. Por duas vezes, entram
brevemente canes do grupo portugus
Madredeus, personagem do filme. Sobre essa
colagem do rdio, duas observaes: primei-
655 COMUNICAO AUDIOVISUAL
ro, enquanto as imagens das estradas, vistas
de dentro do carro, no oferecem indicaes
de onde o personagem est, uma vez que
grandes rodovias e postos de pedgio ou
alfndega so uniformes em quase qualquer
lugar, a ordem a partir da qual os sons so
montados corresponde ao trajeto da viagem.
Ou seja, os sons das rdios so responsveis
por uma sutil construo do espao geogr-
fico da viagem. Um carro partindo da Ale-
manha para Portugal deve, seguindo o ca-
minho mais lgico, sair da Alemanha, cortar
a Frana, passar pela Espanha, e, deixando
esta, entrar no territrio luso. Enquanto vemos
imagens que do ponto de vista da identifi-
cao dos lugares so praticamente aleat-
rias, a ordem das estaes de rdio corres-
ponde seqncia lgica das estradas: ou-
vimos notcias em alemo, ainda no deixa-
mos a Alemanha; escutamo-las em francs,
e ouvimos msica francesa, o carro est em
rodovias francesas; a rdio toca msica
espanhola, j estamos na Espanha, e em breve
estaremos em Portugal. Dentro desse raci-
ocnio, a segunda observao, que na ver-
dade so duas ressalvas: as duas inseres
de msicas do Madredeus no obedecem a
esta lgica, e sim a outra, tambm afervel.
Elas simplesmente aparecem quando os
crditos iniciais, que atravessam a sequncia,
mencionam o grupo, uma vez pela autoria
da trilha musical, outra pela presena de sua
vocalista, Teresa Salgueiro, como atriz. A
outra ressalva, mais complexa e mais inte-
ressante, se deve ao fato de haver inseres
musicais que no traduzem claramente uma
idia de nacionalidade. Repare-se que este
um pressuposto que acompanhou a lgica
que expusemos: tratava-se de rdios alems,
francesas, espanholas, transmitindo notcias
e msicas de seus respectivos pases. A
msica eletrnica instrumental, porm, no
permite ao primeiro contato dizer de onde
ela vem, posto que est habilmente inserida
nos pressupostos gerais de mercadoria que
relativiza a idia de fronteiras nacionais. A
msica que se ouve no rdio do carro poderia,
sinceramente, ser produzida na Inglaterra,
onde o fenmeno da msica eletrnica da
dcada de 1990 eclodiu, na Frana, na
Alemanha, em qualquer nao da Europa
ocidental, ou mesmo nos Estados Unidos ou
no Brasil. Da mesma forma funciona o trecho
de msica pop em ingls. No de se
imaginar que um carro no seu trajeto da
Alemanha para Portugal tenha passado pela
Inglaterra, portanto este tambm no um
caso de correspondncia geogrfica e sono-
ra. O que ocorre que a msica pop feita
em lngua inglesa tem, e isso no novidade
nem fenmeno recente, alcance mundial. Pode
ser facilmente ouvida em rdios no s de
pases da Europa ocidental, mas em rdios
da maioria dos pases do mundo. Assim,
dentro da colagem sonora arquitetada por
Wenders para o prlogo de seu filme, h um
embate, ocorrendo no centro da Europa, em
1994, entre sons, transmitidos via rdio, que
trazem forte marca nacional, reconhecveis
no primeiro instante de audio, e sons que
no se enquadram to facilmente na idia de
ptria, sendo, ao contrrio, mais simples de
se diagnosticar neles a ausncia dessa noo.
Alm da colagem a que nos referimos,
um som proeminente nestes primeiros
minutos de filme, a voz over do personagem
principal, o motorista, Phillip Winter, tcnico
de som para cinema a caminho de Lisboa.
As palavras de Winter tratam de explicitar
as questes propostas sutilmente pelas esta-
es de rdio. Winter comea sua narrao,
em alemo: Europa sem fronteiras. Os
guardas nos deixam passar com facilidade.
Ningum quer ver meu passaporte? Ou pelo
menos minha mala?. Ouve-se algumas das
rdios j mencionadas, passam alguns planos
de estrada, e, aps algum tempo, Phllip
retoma: A Europa est crescendo. Virou um
s pas. As lnguas, as msicas, os notici-
rios so diferentes. Mas e da? A paisagem
sempre a mesma. Conta sempre a mesma
histria de um velho continente cansado de
guerra. Terminar sua narrao em voz over
carregado de ironia: Sinto-me em casa. Esta
minha ptria. Estas ltimas palavras, as
pronuncia em vrios idiomas, a comear pelo
seu alemo natal: Das hier ist mein
heimatland. Ma patrie. La mia patria. My
home country My home country, repete
o ingls ao fim. Corre o primeiro ano da
Unio Europia, e a viagem que atravessa
parte dos pases que constituem o Mercado
Comum Europeu o pretexto para que um
cidado alemo, Wenders atravs de Winter,
externe a estranheza de ter tido as fronteiras,
dentro das quais ele se entende parte de uma
656 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
nao, alargadas. Um habitante de um pas
central da Europa experimenta os novos
limites de sua cidadania, que agora se es-
tendem ponta do continente, ao Oceano
Atlntico, onde desemboca, como ele est
para notar, o Tejo. Um rio que no lhe diz
muito, embora, como ele tambm est por
perceber, seja fundamental para a formao
da identidade de seus mais novos co-irmos,
os portugueses, e no s para eles.
O longo prlogo chega ao fim, marcado
pela inverso do eixo da cmera, que a partir
de agora enquadra o motorista dentro de seu
carro. De forma correspondente, sua voz
tambm passa a estar em quadro, deixando
de ser uma voz over, para estar em
sincronismo com o personagem que agora
vemos. Ao se aproximar da fronteira da
Espanha com Portugal, Winter ouve fitas
cassete com aulas de portugus. A fita tem
um dilogo de perguntas e respostas para que
o aluno o repita: portugus? Sou estran-
geiro (Winter repete a pergunta, e repete que
estrangeiro, forando o chiado dos esses,
como habitual nos estrangeiros que come-
am a aprender portugus). ingls?
Pergunta a fita, e Winter repete a pegunta.
No, sou francs. Winter: No, sou franc...
No! Sou alemo! Percebendo a
intencionalidade no dilogo em portugus.
Assim no vou aprender nunca, irrita-se.
Os primeiros planos de Lisboa se apre-
sentam antes da chegada do personagem.
Vemos, em alguns planos do mesmo lugar,
o amanhecer no cruzamento de ladeiras em
que Winter descer do caminho. Passam
eltricos sobre os trilhos, e logo, o alemo
est pondo os ps em Lisboa. Essas ladeiras,
com as construes antigas, e com os trilhos
dos eltricos constituem a primeira imagem
onde se percebe signos portugueses, imagens
pelas quais possvel, caso o espectador tenha
o manancial para tanto, reconhecer Portugal.
At este momento, as paisagens interioranas
retratadas poderiam ser de quase qualquer
interior rural da Europa. Curiosamente, tam-
bm o som no tinha tratado de inserir no
filme a especificidade da lngua portuguesa,
posto que os dois personagens lusitanos que
tinham cruzado o caminho de Winter tinham
permanecido mudos, tanto o campons quan-
to o dono do caminho.
Chegando ao seu destino, a casa de Fritz,
o diretor que lhe convidara a Lisboa para
captar os sons de seu filme, encontra-a vazia.
O alemo no est l. Aparece-lhe um menino
portugus, que foi designado pelo diretor
ausente para ser seu guia. O jovem portu-
gus, Z, fala um bom ingls e registra tudo
a sua volta em sua cmera de vdeo. Ao andar
at a varanda, percebe que dela se v o Tejo.
Est no corao de Lisboa. De volta ao lado
de dentro, descobre que junto com Z esto
outras crianas, para distra-lo durante a
espera pelo alemo. A comunicao com as
crianas por palavras no fcil, misturando
o pouqussimo portugus de Winter, com os
dilogos em ingls dele com Z, e a falta
de comunicabilidade mais ampla com as
outras crianas. Uma ou outra fala uma ou
outra palavra em ingls, mas no dominam
a lngua. Lembre-se que o ingls no a
primeira lngua de nenhuma daquelas pes-
soas. A comunicao se d com mais sucesso
por meio de outros sons, que no palavras.
Por trs de uma parede, para mostrar suas
habilidades de sonoplasta, e para testar a
inteligncia das crianas, o alemo produz
sons atravs dos quais conta uma histria,
a ser compreendida pelos jovens: h um
cavalo, sobre ele um caubi, que acende um
fsforo, que faz uma fogueira, que frita um
ovo, quando aparece um leo, ao que o caubi
foge. Tudo adivinhado sem problemas pelas
crianas, que gritam as respostas misturando
portugus e ingls. Pela ausncia de fron-
teiras no significado dos rudos, a comuni-
cao ultrapassa os limites nacionais da lngua
falada. Winter e as crianas esto agora
prximos o suficiente para que elas o ajudem
na espera por Fritz, Friedrich, ou Frederico,
como o chamam os jovens portugueses.
Na casa se encontra a moviola onde Fritz
j editou parte do material filmado. So
imagens caractersticas do que permanece de
antigo em Lisboa. O eltrico, uma estao
de trem, os bairros antigos. Phillip Winter
precisa ver as imagens para saber quais sons
deve captar, uma vez que o diretor, que lhe
explicaria como trabalhar na misteriosa vi-
agem, no se encontra. interrompido em
seu exame das imagens por uma msica que
lhe parece estar prxima, que aparenta vir
de dentro da prpria casa. Wenders constri
657 COMUNICAO AUDIOVISUAL
com sucesso alguns instantes de suspense,
enquanto Winter anda lentamente pelos
cmodos escuros da casa semi-fechada,
demorando-se em descobrir a fonte do som,
uma cano facilmente identificada como
tendo razes na msica tradicional portugue-
sa. Winter chega ao outro lado da grande casa,
onde est ensaiando o grupo Madredeus, cujos
integrantes representam a si mesmos no filme.
Ouvira pela casa o instrumental onde se
sobressaiam os violes de Pedro Ayres
Magalhes e Jos Peixoto. Chegando porta
do cmodo onde o ensaio acontece, ouve
tambm a voz de Teresa Salgueiro. Teresa
cumprimenta a meia luz, em um intervalo,
seu nico espectador. A fascinao se esta-
belece em Winter. Descobre que a casa em
que est instalado onde o Madredeus ensaia,
e que o grupo est trabalhando na msica
do misterioso filme. O Madredeus continua
seu ensaio, e Phillip est fascinado. Seu
fascnio tem um centro: a voz e a presena
de Teresa Salgueiro.
Essa sequncia do primeiro contato do
tcnico de som alemo com a msica por-
tuguesa ilustrativa do seguinte pressuposto,
um tanto quanto bvio: mais fcil iden-
tificar na msica sons que tragam marcas
identitrias da cultura de um lugar do que
em outras matizes sonoras, como, por exem-
plo, nos rudos (a gravao dos sons de Lisboa
por Winter, que no filme comea na prxima
sequncia, demonstrar essa dificuldade com
relao e eles). Se os sons de cada grande
cidade trazem cada vez menos as marcas
culturais do lugar, e, portanto, fascinam cada
vez menos o ouvido atento, a msica, por
sua vez, sempre que traga elementos da
tradio local, um depositrio dos sons
especficos de cada lugar, dos sons que
garantem a resistncia da identidade, no caso,
portuguesa. E por marcarem essa identidade,
essa diferena da produo homogeneizada,
fascina os ouvidos que ainda no a conhe-
cem, os ouvidos estrangeiros, os ouvidos de
Winter.
Phillip Winter sai para trabalhar. Sem um
roteiro do que gravar, procurar gravar sons
de Lisboa quase a esmo, guiado apenas pelo
que viu das imagens de Friedrich. Neste
momento, Wenders engendra uma forma de
estabelecer uma grande identificao entre o
espectador e seu personagem principal.
Quando seu aparato est montado e o tcnico
de som est pronto para comear a gravar
pela primeira vez, Wenders faz com que
ouamos o que o tcnico de som ouve atravs
de seus fones. Estamos ouvindo o que ele
ouve e grava. Nosso ponto de escuta
exatamente o mesmo do personagem, e, ainda,
o mesmo de seu microfone.
2
De incio, so
sons indistintos de cidade grande: um certo
rudo de trfego, um avio, passos, pombos,
burburinhos de pessoas. Neste ltimo grupo
de sons h pelo menos uma marca identitria:
a lngua, posto que a conversa entreouvida
acontece em portugus.
Phillip se interessa por sons que tragam
em si particularidades de Lisboa: o eltrico,
com seu som complexo, composto pelas
campainhas, pelo passar pesado sobre o trilho,
pelos estalos ao deslizar pelo cabo; um barco
que d a partida Tejo afora. Mais tarde,
encontrar um belo exemplo de som tradi-
cional: um amolador ambulante, que se faz
anunciar com sua bicicleta e seu apito ca-
racterstico, que antecede o prego em por-
tugus. Gravar os sons da gua em uma
fonte, de um engraxate. Est tentando encon-
trar nos rudos o que encontrara na msica:
manifestaes intrnsecas a Lisboa. Gravar
ainda, dentro de casa, um momento de si-
lncio, identificado na gravao como o som
de Fritz ausente. Habilmente, na seqncia
a esse silncio h os sons intensos do bonde
em primeiro plano, correspondentes a um
plano de detalhe das mos do condutor, com
o qual se inicia uma sequncia de Winter
dentro do veculo. Pelo contraste com o rudo
volumoso, Wenders chama ateno para o
silncio do momento anterior.
De volta casa, v mais imagens de
Lisboa captadas por Fritz: um aqueduto, e
uma obra, os homens trabalhando com suas
marretas, britadeiras, picaretas. Em sua es-
pera ociosa por Fritz, est lendo o que
encontra na casa: uma antologia de Fernando
Pessoa traduzida para o ingls. Detm-se
sobre um verso, o verso inicial de um poema:
I listen without looking and so see
3
. Numa
das paredes, h outro verso, pichado no
original em portugus, que no incio de sua
estada pedira para Z, o menino, traduzir:
Ah, no ser eu toda a gente e toda a parte
4
.
Winter vira um aqueduto nas imagens
feitas por Fritz, e, com a ajuda de seu guia
658 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
juvenil, Z, vai at ele, para ouvir quais sons
do local pode captar. L no alto, Z o informa
que o interesse de Fritz em filmar aquela
regio estava em registrar, l de cima, as casas
e vilas antigas que estavam para ser postas
abaixo com a construo de uma nova ro-
dovia (a tal obra que vinha na sequncia da
montagem do alemo). Fritz queria guardar
em imagens a memria das casas. Descendo
s vilas, Phillip encontra um morador
registrado em plano prximo nas imagens que
vira, e, reconhecendo-o, decide pegar um
depoimento seu, acabando por gravar, em
portugus, a sua histria de vida (tinha sido
sapateiro, eram muitos irmos, por isso tra-
balhara desde muito novo, etc). Grava seus
prprios passos numa escadaria, que, supe,
pode deixar de existir. Seus passos so
invadidos por uma buzina do trnsito pr-
ximo, o que o irrita. Quer preservar os sons
do bairro antigo, mas eles j esto invadidos
pelos rudos impessoais do trfego. Ver, e
ouvir, na sequncia, que no fim da esca-
daria passa um trem, moderno, barulhento.
Winter descobrir, aps novo encontro
com o Madredeus, que Fritz tem editada uma
seqncia sobre o bairro da Alfama, e que
para aquela sequncia o Madredeus comps
uma cano homnima ao bairro. Tendo lhe
sido dada esta pista de roteiro, gravar sons
caractersticos das pequenas vilas e ladeiras
do bairro, correspondentes s imagens que
vira na moviola de Fritz. Ali, no bairro antigo,
os sons nos quais uma certa essncia da velha
Lisboa, em seu raciocnio romntico, parece
emanar so mais fceis de encontrar. Grava,
por exemplo, as lavadeiras, que esfregam a
roupa suja em tanques nas caladas. Phllip
Winter segue fiel sua procura dos sons
caractersticos da cidade, mas parece
desconsiderar a sugesto de Fernando Pessoa
que interessou Fritz a ponto deste destac-
la no livro: ouvir sem olhar. Desligar os sons
da, tentadora por que fcil, correspondncia
com as imagens. Winter tem como roteiro
dos sons que deve gravar apenas as imagens
que j v prontas. Mais ainda, tentar, sem
qualquer sucesso, fazer a sonoplastia da
imagens, dublando as aes enquanto v as
imagens na moviola.
Mais tarde, descobrir fitas gravadas onde
Fritz fala de seu projeto. Sua premissa est
em andar a esmo com a cmera gravando
sem controle. A voz de Friedrich que agora
passa a estar presente no filme instaura uma
dubiedade na narrativa. O personagem de
vrias formas ainda no est presente, Phillip
segue sem encontr-lo, ainda no o vimos,
mas ele j est presente pela sua voz,
acusmtica, segundo o conceito de Michel
Chion, ou seja, a voz que se ouve sem que
o corpo que a produz esteja em cena.
5
Aps
essa introduo do personagem apenas pela
voz gravada nas fitas, Wenders segue fazen-
do a apresentao de seu misterioso perso-
nagem de forma inusitada. Winter acha t-
lo visto em um caf. Comea uma persegui-
o em planos gerais das ladeiras pelas quais
o suposto Fritz caminha. Antes de termos um
plano prximo, que identificaria o persona-
gem, ouvimos sua voz colocada sobre os
planos gerais, voz que, entenderemos em
breve por meio de um plano de detalhe, ele
prprio grava enquanto anda. Seguimos
durante um tempo ouvindo a voz sem ter
certeza de sua fonte, se est sendo pronun-
ciada naquele momento da histria ou se
uma voz over, se est em quadro ou no.
Winter o alcana, e percebemos que o que
ouvimos vem sendo pronunciado, e gravado,
pelo alemo naquele mesmo momento. Ten-
do funcionado a brincadeira de Wenders,
estivramos ouvindo, por vrios planos, uma
voz sincrnica, em quadro, tratada como voz
over, graas diferena de escala entre os
sons e as imagens. Ouvamos a voz em
primeiro plano, enquanto o personagem era
mostrado extrema distncia. Essa relao
de voz em primeiro plano com imagens em
plano geral caracteriza um uso padro da voz
over, e com a inverso desse procedimento,
ou seja, uma voz sincrnica tratada dessa
forma, que Wenders brinca.
Finalmente havendo o encontro entre o
diretor e o tcnico de som, Fritz explica
melhor o seu projeto, assim como a falha
deste. Pretendia captar em imagens a velha
Lisboa, encarando a tarefa como um projeto
assumidamente poltico, tomando a cidade
antiga como um paradeiro da resistncia
contra a modernizao do velho continente.
No conseguira. Rodara, rodara e no cap-
tara, como ele a chama, a essncia da cidade.
A cidade parecia se afastar, diz ele. Cha-
mara Winter pois alimentava a iluso de que
o som daria conta da empreitada, onde as
659 COMUNICAO AUDIOVISUAL
imagens pareciam falhar. Como Winter
percebera, tambm com o som no era to
simples. A tese de Fritz era de que as imagens
cada vez mais passaram a estar a servio de
vender, e no de mostrar, e que esse modo
mercantil de produzi-las j estava assimilado
de modo quase irrefutvel. Assim, chegara
radical concluso de que apenas uma
imagem produzida sem que se visse o que
estava sendo captado estaria livre desse
potencial de ser um instrumento de venda,
pois no se pode vender aquilo que no se
sabe o que . Filmara a cidade sem ver o
que filmava, com a cmera nas costas, virada
para trs enquanto andava. A referncia a
Dziga Vertov, com relao confiana de-
positada na cmera quanto ao registro do
cotidiano, tornada explicita: achava que
podia andar filmando em preto e branco por
esta cidade velha, como Buster Keaton em
The cameraman. O homem com a cmera.
E viva Dziga Vertov!
6
Winter se mostra menos ctico com
relao presumvel morte da essncia
informativa da imagem, que haveria cedido
lugar explorao inexorvel suas propri-
edades mercantis. Grava sua prpria voz em
uma fita para Fritz, na qual aconselha-o a
voltar a produzir imagens olhando-as de
frente. Agora Fritz quem apenas ouve
Winter, revertendo a situao anterior. Vol-
taro a fazer filmes da forma tradicional,
como mostram as sequncias finais. Mas e
quanto ao som? O que pode fazer a gravao
de sons pela representao da, assim chama-
da, essncia da velha Lisboa, e a que con-
cluso chega a busca de Winter pelas ruas
da capital portuguesa? Wenders parece apro-
veitar o fechamento da poro romntica do
seu enredo, um ltimo encontro, ainda
platnico, de Phllip com Teresa Salgueiro,
ela de volta da longa ausncia provocada por
uma turn no Brasil, para reafirmar o que
a prpria presena do Madredeus no decor-
rer do filme j fizera intuir. Antecipando o
encontro, como se dissesse que Teresa est
por aparecer, a msica do grupo colocada
sobre as imagens de Winter descendo uma
escadaria. Essa ltima presena da msica
parece dizer mais uma vez: mais fcil e mais
direto encontrar na msica tradicional os
sons que guardam e reverberam a histria
de um lugar. Porm, Wenders mostra no
decorrer do filme, atravs das gravaes de
Winter, que rudos tambm podem, ainda,
produzir o mesmo efeito, embora haja uma
disputa pelo espao que sons tradicionais de
um lugar conseguem ocupar frente a uma
uniformizao crescente dos ambientes so-
noros das cidades.
660 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Bibliografia
Chion, Michel. Audio-vision: sound on
screen. New York: Columbia University
Press, 1994.
________. The voice in cinema. New
York: Columbia University Press, 1999.
Pessoa, Fernando. O eu profundo e os
outros eus. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
1980.
Schafer, Murray. O ouvido pensante. So
Paulo: Edusp, 1991.
Vertov, Dziga. Nascimento do Cine-
Olho. In: XAVIER, Ismail. A experincia
do cinema. Rio de Janeiro: Graal, 1991. p.
260-266.
__________. Resoluo do conselho dos
trs em 10-04-1923. In: XAVIER, Ismail.
A experincia do cinema. Rio de Janeiro:
Graal, 1991. p. 252-259.
_______________________________
1
Departamento de Cinema da Universidade
Estcio de S; doutorando em Comunicao pela
Universidade Federal Fluminense.
2
Michel Chion comenta o conceito de ponto
de escuta, como fenmeno anlogo, no que diz
respeito ao som de um filme, ao de ponto de vista.
Assim como escuta subjetiva estaria para o plano
subjetivo (Chion, 1994, p.89-91).
3
Primeiro verso do poema: Ouo sem ver,
e assim, entre o arvoredo /Vejo ninfas e faunos
entremear/As rvores que fazem sombra ou medo
E os ramos que sussurram de eu olhar/Mas que
foi que passou? Ningum o sabe/.Desperto, e ouo
bater o corao Aquele corao que no cabe/
O que fica da perda da iluso. Eu quem sou, que
no sou meu corao? 24/09/1932.
4
Verso final do longo, eis por que no o
transcrevo, Ode Triunfal, escrito em Londres, em
Junho de 1914, e que narra o fascnio do poeta
com a velocidade e com a pluralidade de est-
mulos da metrpole moderna.
5
Acusmtica, ou acusmtico, uma traduo
nossa para acousmatiques, o termo usado por
Chion em francs. A palavra francesa significa
sons invisveis, e viria do grego akousma. Sua
origem estaria ligada aos pitagricos. Os segui-
dores daquela Ordem ouviriam os ensinamentos
do mestre por trs de uma cortina, para que sua
imagem no os distrasse da mensagem. (Chion,
1999, p.18-19) Assim, haveria no cinema vrias
situaes em que um som poderia ser classificado
como acusmtico, sua fonte no estando visvel.
No caso desse som ser uma voz, o personagem
que fala pode estar simplesmente escondido em
algum lugar onde se passa a ao; pode estar
presente, como Fritz, por meio de aparelhos de
reproduo da voz; ou pode no estar naquele
espao digetico, caso de vozes over, apenas para
citar situaes mais comuns.
6
Realmente, lembrando os pressupostos que
guiavam o Cine-olho de Vertov, percebe-se que
a semelhana grande, bem como a importncia
do legado do polons (sim, polons e no russo)
para Wenders na construo da narrativa. Em
Resoluo do conselho dos trs em 10-04-1923,
Vertov ressalta a importncia da cmera que se
recusa a usar o olho humano como lembrete.
No cinema, antes do Cine-Olho, dizia ele, a
cmera era uma imitao imperfeita do olho.
Sua confiana no aparato mecnico tal que
chega a propor que o aparelho funcione liberto
do crebro estratgico do homem que dirige.
O Cine-Olho propunha, em seus termos, o seu
prprio eu vejo, e a organizao estrutural das
imagens se daria apenas na montagem. (in:
Xavier, 1991, p. 252-259). Em outro documento,
Nascimento do Cine-Olho, Vertov cunha uma
frase que parece poder ter inspirado diretamente
Fritz, o diretor dentro do filme de Wenders: Por
Cine-Olho entenda-se o olho que no v (idem,
p. 261).
661 COMUNICAO AUDIOVISUAL
Personalizao de Contedos Multimdia.
Anlise aos atributos relevantes para a sua anotao
Ins Oliveira
1
Introduo
Com o aparecimento dos acessos de banda
larga, a globalizao da informao multi-
mdia tornou-se uma realidade incontestvel.
No entanto, embora se verifiquem avanos
tecnolgicos significativos, nomeadamente
nas taxas de compresso, na velocidade e
capacidade das redes, persistem dificuldades
na recuperao da informao audiovisual
[Qun 2001, Dimitrova 2002].
A complexidade introduzida por algu-
mas das qualidades intrnsecas informao
audiovisual, nas quais se incluem a elevada
quantidade de dados, a diversidade de estru-
turas e heterogeneidade de tipos de media,
mas sobretudo pela prpria subjectividade da
indexao. Na verdade, embora exista um
conjunto diversificado de convenes e for-
matos com meta-dados [Koenen 2001, AAF
2002, Pro-Mpeg 2002] que abrangem um
leque alargado de atributos, a indexao
mantm-se subjectiva, quer seja manual ou
automtica:
quando manual, reflecte frequente-
mente a subjectividade de quem anota;
quando automtica, espelha as pro-
priedades da informao consideradas rele-
vantes por quem programa.
Por esta razo, a probabilidade da
indexao reflectir os critrios pelos quais
os utilizadores pesquisam e personalizam os
seus contedos torna-se reduzida.
Uma alternativa para aumentar a relevn-
cia dos atributos utilizados para indexar vdeo
passa pela sua contextualizao e
personalizao. A questo da contextualizao
dos contedos tem vindo a ser estudada com
algum detalhe no mbito das tcnicas de
anlise de contedo, sendo considerada uma
componente importantssima da anlise. Par-
tindo deste conceito, ser discutida neste artigo
a sua aplicabilidade no mbito da anotao
e recuperao de contedos multimdia.
Organizao do Documento
Na seco 2 so apresentadas as defini-
es de contedo e contexto, segundo a pers-
pectiva da anlise de contedos. Na seco
3 discutida a sua aplicao actual no mbito
da multimdia, e no seu seguimento, a seco
4 apresenta algumas sistemas e abordagens
actualmente existentes. Na seco 5 ana-
lisada a aplicabilidade da contextualizao
recuperao de contedos multimdia. Final-
mente, nas seces 6 e 7, encontram-se as
concluses e as referncias.
Contedos e contextos Os conceitos da
anlise de contedos
A necessidade de contextualizao dos
contedos apresentada por Krippendorff
[Krippendorff 2004] a partir da sua definio
de contedo como algo que emerge do
processo de anlise de um texto
2
relativa-
mente a um contexto particular. Esta abor-
dagem fundamenta-se essencialmente nos
seguintes aspectos que caracterizam os tex-
tos:
os seus significados so sempre rela-
tivos a contextos, discursos e objectivos par-
ticulares;
no tm qualidades independentes dos
leitores, e portanto no tm um significado
nico que possa ser descoberto, identificado
ou descrito;
no contm ou possuem os signi-
ficados, uma vez que estes informam os
leitores, invocam sentimentos e provocam
mudanas comportamentais.
O contexto alis parte integrante da
framework para a anlise de contedos
sugerida por Krippendorff (Figura 1).
Contedos e contextos em multimdia
Na rea de multimdia o entendimento
de contedo sobretudo que este inerente
662 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
ao formato, dai ter-se apostado no desenvol-
vimento de algoritmos de processamento e
extraco de caractersticas da informao
audiovisual [Oliveira 1997, Zhao 2002]. O
esforo efectuado tem-se centrado em con-
seguir uma representao objectiva e
consensual do contedo do vdeo [Davis
1995].
No que se refere questo propriamente
dita da contextualizao, esta tem sido abor-
dada por diversas vezes na rea de multi-
mdia, mas sobretudo relativamente
temporalidade do vdeo. Davenport et al.
[Davenport 1991], por exemplo, apresentam
j o contexto como o significado adicional
representado no shot
3
com base na sua
adjacncia com outros shots ou relacionado
com o domnio de conhecimento. Posterior-
mente, Davis [Davis 1995] fala do
distanciamento do contexto de utilizao
relativamente anotao utilizada pelos
editores de vdeo. Este autor sublinha a
influncia da montagem na semntica do
vdeo, e constri uma linguagem para ano-
tao icnica, mas que se destina unicamente
a representar os aspectos semanticamente
invariantes da informao, isto , indepen-
dentes de contexto.
Butler et al., [Butler 1996] definem tam-
bm contexto, ordem e significado no sen-
tido temporal do termo, apresentando o
sistema LIVE. Este sistema destina-se
construo de sequncias de vdeo com
significado a partir de uma base de dados
contendo segmentos de vdeo textualmente
anotados.
Abordagens e sistemas existentes
Nesta seco descrevem-se algumas
aproximaes que de formas diversas permi-
tem reduzir a distncia entre os contextos da
anotao e pesquisa.
Ontologias
A criao de ontologias (http://
www.w3.org/2001/sw/WebOnt) procura no
mbito da anotao garantir que contedos
semanticamente semelhantes sejam cruzados,
mesmo quando descritos por sujeitos distin-
tos com vocabulrios distintos. Isto permi-
tiria por exemplo que uma anotao fosse
pesquisada por critrios semanticamente
semelhantes, mas no iguais.
No entanto, as ontologias no resolvem
a questo dos diversos grupos de interesse
que podem criar e pesquisar meta-dados
segundo conceitos e objectivos distintos.
Neste mbito Shabajee et al. [Shabajee 2002]
apresentam uma abordagem com base em
comunidades de interesse, descrita no ponto
seguinte.
Anotao comunitria
A identificao das vrias comunidades
de interesse, que podero aceder ao um
Figura 1 - A framework da anlise de contedo por Kripendorff
663 COMUNICAO AUDIOVISUAL
determinado repositrio de informao ir
permitir ajust-lo melhor s suas necessida-
des especficas. Shabajee et al. [Shabajee
2002] propem ainda que essas comunidades
efectuem as suas prprias anotaes. Para
resolver o problema da qualidade, fiabilidade
e relevncia permitem quatro modos de
anotao, relacionados com diferentes tipos
de acesso:
Comunidades de Confiana (Trusted):
organizaes que fornecem e validam infor-
mao e que se consideram seguras sob o
ponto de vista da validade e relevncia.
Comunidades Moderadas: organiza-
es que fornecem e validam informao,
sendo responsveis pela sua prpria mode-
rao e administrao, por exemplo atravs
de um moderador de forma similar a um
frum moderado.
Anotaes Abertas: Podem ser feitas por
qualquer utilizador, e ser moderadas ou no.
Anotaes de Terceiros: Possibilidade
dos utilizadores produzirem sites externos com
as suas prprias anotaes, sobre os conte-
dos do sistema, no existindo neste caso um
controlo efectivo sobre essa informao.
A qualidade da informao a que os
utilizadores tero acesso, estar dependente
do tipo de anotao.
Normas e formatos com meta-dados
Apresentam-se de seguida algumas nor-
mas e formatos com meta-dados, que con-
tribuem de forma importante para a unifor-
mizao da anotao.
DCMI - Dublin Core Metadata Initiative
O DCMI (http://dublincore.org) um
frum aberto para o desenvolvimento de
normas interoperveis de meta-dados que
suportem um conjunto alargado de objecti-
vos e modelos de negcio.
Um dos princpios pelos quais esta norma
se rege faz aluso problemtica dos con-
textos de utilizao e anotao: As boas
prticas para um dado elemento ou
qualificador podem variar com o contexto,
[...] O requisito de utilidade para a sua
pesquisa no deve por isso ser esquecido.
Os termos principais que so utilizados pelo
DMCI so os seguintes:
MPEG - Moving Picture Experts Group
O MPEG uma famlia de normas no
proprietrias de compresso de vdeo. Den-
tro destas, o MPEG-7 convenciona mecanis-
mos para descrever a estrutura e a semntica
de contedos multimdia. O objectivo desde
formato aumentar a eficincia do acesso
informao audiovisual e tornar possvel
a sua pesquisa e filtragem. A informao que
pode ser guardada pelo MPEG-7 a seguinte
[Salembier 2001] (Figura 2):
O contexto de utilizao suportado por
este formato, atravs do descritor para
Interaco do utilizador com o contedo. As
preferncias podem ser descritas para dife-
rentes tipos de contedo e formas de nave-
gao, permitindo dependncias do contexto
em termos de temporais e espaciais.
O formato MPEG-21 tem como objec-
tivo principal permitir o acesso universal aos
contedos multimdia. Esta norma unifica a
descrio dos ambientes de utilizao, englo-
bando-se aqui redes, terminais e condies
de acesso, permitindo que um dado contedo
se adapte dinamicamente face a determina-
das circunstncias de consumo [Koenen
2001].
O MPEG-21 permite ainda expresses
sobre os direitos relativamente propriedade
intelectual, completando o MPEG-7, razo
664 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
pela qual existem j sistemas que utilizam
ambas as normas [Steiger 2003, Tseng 2004].
AAF - Advanced Authoring Format
O AAF [AAF 2002] foi lanado em 2000
e uma norma para a ps-produo e autoria
de contedos multimdia. Este formato
permite que os criadores dos contedos tro-
quem facilmente informao audiovisual e
meta-dados entre aplicaes e plataformas.
O modelo do AAF suporta as seguintes
categorias de meta-dados (Figura 3).
MXF - Material eXchange Format
O MXF [Pro-Mpeg 2002] um formato
no proprietrio muito recente, fundamental-
mente direccionado para a troca de conte-
dos audiovisuais associados com dados e
meta-dados.
Como a informao que pode ser guar-
dada sob a forma de meta-dados infindvel,
este formato permite filtrar o que relevante
para um determinado contexto operacional.
Inclui os seguintes tipos de meta-dados: a
estrutura de ficheiros, os prprios contedos,
palavras-chave ou ttulos, notas de edio,
localizao, tempo, data, verso, etc.
Modelos de domnio
Os modelos de domnio procuram repre-
sentar a informao multimdia com conhe-
cimento acerca do seu domnio. Estes mo-
delos restringem o contexto de utilizao,
sendo sobretudo utilizados para a
segmentao e/ou classificao.
Zhang et al. [Zhang 1994], por exemplo,
utilizaram o modelo do domnio dos noti-
cirios televisivos para segmentar e identi-
ficar os vrios segmentos vdeo que os
compem. Isto foi feito com base em co-
nhecimento sobre a estrutura espacial e
temporal tpica deste tipo de informao.
Fisher et al. [Fisher 1995] procuraram
classificar programas televisivos com base
nos chamados perfis de estilo, um gnero de
assinatura contendo aspectos caractersticos
de uma determinada classe de programas.
Mais recentemente, Xie et al. [Xie 2003]
apresentam algoritmos para a anlise da
estrutura de vdeos de jogos de futebol
utilizando conhecimento do domnio. com
base nestes algoritmos que estes autores
efectuam a segmentao temporal da infor-
mao e a classificao automtica dos
segmentos obtidos.
Pesquisas e anotaes em formato
audiovisual
Vrios autores referem as limitaes das
anotaes textuais quando utilizadas para
representar uma srie de aspectos que exis-
tem nos contedos multimdia [Davis 1995,
Elmagarmid 1997], pelo que existem alguns
sistemas que optaram por permitir anotaes
e pesquisas em formato audiovisual.
Davis et al. [Davis 1995], por exemplo,
criaram uma linguagem de anotao icnica
para o sistema MediaStreams, para descrever
os aspectos objectivos do contedo do vdeo.
Na rea do udio, Ghias et al. [Ghias 1995]
permitem a recuperao de uma dada melodia
simplesmente cantarolando-a (by humming).
Na rea da imagem, o sistema QBIC da
IBM (Query By Image Content) permite
Figura 2 - Informao que pode ser guardada nas descries MPEG-7
r o t i r c s e D e d o p i T o a m r o f n I e d s o l p m e x E
o u d o r p e o a i r c e d o s s e c o r P
o d e t n o c o d o a z i l i t U
. c t e , o l u t t , r o t c e r i d
e d o i r r o h , o a z i l i t u e d a i r t s i h , t h g i r y p o c
. . . , o s s i m s n a r t
o d e t n o c o d o t n e m a n e z a m r A o a c i f i d o c e o t a m r o F
s i a r o p m e t - o i c a p s e s e t n e n o p m o C o d o c e t e d , l a i c a p s e o a t n e m g e s , s e t r o C
. . . , o t n e m i v o m
l e v n o x i a b e d s e d a d e i r p o r P
a d a r u t p a c e d a d i l a e R
a i d o l e m a d o i r c s e d , s e r b m i t , s a r u t x e t , r o C
s e l e e r t n e o c a r e t n i a e s o t n e v e , s o t c e j b O
s a v i t a n r e t l a o a g e v a n e d s a m r o F
s o t c e j b o e d s e c e l o C
. . . , s e a i r a v , s o i r m u S
o d e t n o c o m o c r o d a z i l i t u o d o c a r e t n I o a z i l i t u e d a i r t s i h e s a i c n r e f e r P
665 COMUNICAO AUDIOVISUAL
pesquisar bases de dados de imagens (http:/
/wwwqbic.almaden.ibm.com/). Esta pesquisa
efectuada quer por objectos, quer por
imagens, utilizando propriedades como: cor
mdia, histogramas, textura, forma, esboo,
localizao e desenho.
Contextos na recuperao de contedos
Aplicando o conceito de contextualizao
recuperao de contedos observa-se logo
partida a existncia de trs contextos
distintos:
o do criador dos contedos, que os cria
num dado contexto e com determinado
objectivo;
o do anotador dos contedos, que os
anota num dado contexto e com determinado
objectivo;
e o do utilizador final que os pesquisa
num dado contexto e com determinado
objectivo.
Para a recuperao ser bem sucedida
preciso que exista pelo menos um contexto
de anotao que coincida com o contexto de
utilizao, podendo considerar-se irrelevante
o contexto do criador dos contedos. Este
processo contudo complexo, veja-se por
exemplo um caso simples ilustrativo: diga-
mos que o nosso utilizador, que por acaso
arquitecto, pesquisa a palavra planta. A
primeira interrogao que surge : Ser que
uma planta de um edifcio ou uma planta
no sentido biolgico do termo?
Mas as dificuldades no terminam por
aqui. Ser que o anotador teve em conta a
possibilidade de os utilizadores do sistema
pesquisarem as plantas dos edifcios? Qual
que ter sido o contexto da sua anotao?
Arquitectura? Cincias? O ideal seriam as
duas, mas qual ser o nmero de contextos
previsvel para os utilizadores do nosso
sistema?
Abordagens para a aproximao dos con-
textos
Existem algumas abordagens que se
podem conjugar para aproximar os contextos
de anotao e utilizao, nomeadamente:
contextualizar o utilizador no contexto
da anotao,
contextualizar a anotao no contexto
do utilizador,
e de acordo com a framework da anlise
de contedo, validar aos resultados obtidos
Tcnicas para Contextualizar o Utilizador
no Contexto da Anotao
A contextualizao do utilizador na ano-
tao pode acontecer em momentos distin-
tos:
antes da pesquisa, reforando, por
exemplo, as mensagens visuais do nosso
sistema e disponibilizando manuais on-line.
Partindo novamente do caso da pesquisa
por planta, uma das alternativas seria, por
exemplo, acrescentar uma breve introduo
sobre os objectivos da anotao (biologia ou
arquitectura), para o utilizador perceber logo
partida o seu contexto e aquilo que pode
esperar como resultado.
durante a pesquisa, por exemplo,
encaminhando o utilizador com base num
dicionrio de sinnimos e sugerindo-lhe
Figura 3 As categorias suportadas pelo modelo do AAF
a i r o g e t a C o i r c s e D
o a z i l a c o L e o a c i f i t n e d I o d a d m u r a z i l a c o l e r a c i f i t n e d i e t i m r e P
. s o d a d - a t e m u o s o d a d e l e a j e s o t n e m e l e
o a r t s i n i m d A , o s s e c a e d l e v n o , s o t i e r i d s o r i n i f e d e t i m r e P
. c t e , a n a r u g e s e d s e a c i f i s s a l c
o a t e r p r e t n I r o p o d n i u l c n i , l a u n a m o a t o n a e t i m r e P
. c t e , s e a z i n a g r o , s a t s i t r a o l p m e x e
l a u s s e c o r P o s s o d a d s o o m o c a m r o f a r e v e r c s e d e t i m r e P
. " s o d a t n o m "
l a n o i c a l e R e s o d a d e r t n e s e a l e r r e v e r c s e d e t i m r e P
. s o d a d - a t e m
l a r o p m e t - o i c a p s E o d n i u l c n i , o p m e t e s e r a g u r e v e r c s e d e t i m r e P
. c t e , s a t a d , s a d a n e d r o o c , s o l u g n
666 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
alternativas, ou mesmo utilizando mecanis-
mos de personalizao.
No caso da pesquisa por planta, por
exemplo, se a anotao do sistema incluir
de facto os contextos de Arquitectura e
Biologia, podem-se sugerir ao nosso
utilizador as alternativas de pesquisa vege-
tal e planta de edifcio, direccionando-o
e permitindo-lhe compreender melhor o
contexto da anotao.
depois da pesquisa (Ver seco).
Contextualizar a anotao no contexto do
utilizador
A contextualizao da anotao pode
tambm processar-se em trs momentos:
antes da anotao: Isto requer, por
exemplo, a prvia identificao dos tipos de
comunidades existentes e das suas necessi-
dades de anotao, e construir a anotao com
base nesta informao. A identificao das
comunidades e a classificao dos utilizadores
numa dessas comunidades, pode ser
conseguida por exemplo atravs de inquri-
tos prvios e fazendo com que todos os
utilizadores sejam registados.
Neste mbito, podem-se ainda fazer uso
de mecanismos de personalizao e tambm
permitir que os prprios utilizadores colabo-
rem na anotao.
durante a pesquisa, por exemplo,
solicitando de forma explicita ao utilizador
os objectivos da sua pesquisa. Neste mbito,
podem-se ainda utilizar dicionrios para que,
com base no perfil de utilizador, se tenha
acesso a um conjunto termos relacionados.
depois da pesquisa (Ver seco).
Validar os resultados da recuperao
A validao dos resultados obtidos pelo
sistema permite no s aferir o sucesso da
pesquisa, mas tambm afinar e enriquecer a
anotao, possibilitando a aprendizagem do
sistema. Neste mbito, podem-se por exem-
plo:
realizar inquritos para avaliao dos
resultados peridicos ou mesmo on-line;
solicitar a colaborao dos utilizadores
no enriquecimento da anotao;
e analisar a historia de utilizao do
sistema, verificando, por exemplo, as tenta-
tivas dos utilizadores e os caminhos por estes
adoptados.
Concluses e trabalho futuro
A definio de contexto e contedo
apresentada no ponto aplicvel recupe-
rao de contedos multimdia. O contexto
aflorado no mbito da multimdia, mas
sobretudo no que se refere sua
temporalidade. Actualmente existem vrias
abordagens que permitem de formas diversas
aproximar os contextos de utilizao e ano-
tao, mas em geral nesta rea o contedo
continua a ser tido como uma coisa inerente
ao formato.
A combinao destas abordagens com
alguns dos mecanismos referidos no ponto
anterior pode efectivamente aproximar os
contextos de utilizao e anotao, e deste
modo melhor os resultados das pesquisas. A
validao dos resultados obtidos e a utiliza-
o desta informao para refinar e afinar
o sistema , neste mbito, um aspecto im-
portante a considerar.
Com base nisto, e como trabalho futuro,
pretende-se desenvolver um prottipo para
o arquivo de vdeo da faculdade utilizando
algumas destas tcnicas. A comunidade ser
fechada consistindo numa primeira fase nos
professores e alunos da licenciatura de
Cinema, Vdeo e Multimdia. Pretende-se
deste modo elaborar inquritos prvios para
identificar as suas necessidades de anota-
o, verificar os resultados obtidos e soli-
citar a sua colaborao para a anotao do
sistema.
667 COMUNICAO AUDIOVISUAL
Bibliografia
[AAF 2002] AAF Association, Advanced
Authoring Format Specification, Version
V1.0.1, 2002.
[Butler 1996] S. Butler, A. P Parkes.
Automatic Vdeo Editing by Filmic
Decomposition of Non- Filmic Queries.
Multimedia Technology and Applicatios,
Springer, 1996.
[Davenport 1991] Gloriaana Davenport,
Thonas A. Smith, Natalio Pincever.
Cinematic Primitives for Multimedia.
Proceedings of IEEE Computer Graphics &
Applications, 1991.
[Davis 1995] Marc Davis. Media
Streams: An Iconic Visual Language for
Vdeo Representation. Reedings in Human-
Computer Interaction: Toward the Year
2000.Morgan Kaufman Publishers Inc., 1995.
[Dimitrova 2002] Nevenka Dimitrova,
Hong-Jiang Zhang, Behzad Shahraray,
Ibrahim Sezan, Thomas Huang e Avideh
Zakhor. Applications of Video-Content
Analysis and Retrieval, IEEE Multimedia,
2002.
[Elmagarmi d 1997] Ahmed K.
Elmagarmid, hatao Jiang, Abdelsalam Helal,
Anupam Joshi e Magdy Ahmed. Video
Database Systems:Issues, products and
Applications, Kluwer Academic Publications,
1997.
[Fisher 1995] Stephan Fisher, Rainer
Lienhart, Wofgag Effelsberg. Automatic
Recognition of Film Genres. Tecnhical Report
TR-95-006, University of Manhnheim, 1995.
[Ghias 1995] Asif Ghias, Jonathan Logan,
David Chaberlin, Brian S. Smith. Query By
Humming. Proceedings of ACM Multimedia
95, 1995.
[Koenen 2001] Rob Koenen. From
MPEG-1 to MPEG-21: Creating an
Interoperable Multimedia Infrastructure,
ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 N4518, Dezem-
bro 2001.
[Krippendor ff 2004] Klaus Krippendorff.
Content Analysis: An Introduction to Its
Methodology Second Edition. Sage
Publications, 2004.
[Oliveira 1997] Ins Oliveira, Nuno
Correia, Nuno Guimares. Image processing
Tecnhiques for Video Content Extraction.
Proceedings of 4
th
Dellos Workshop, San
Mineato, Itlia, Agosto 1997.
[Pro-Mpeg 2002] Pro-Mpeg Frum,
Working Together with MFX, 2002.
[Qun 2001] Li-Qun Xua, Jian Zhu e Fred
Stentiford. Video summarization and
semantics editing tools. Proceedings of
Storage and Retrieval for Media Databases
2001, vol. SPIE 4315, San Jose, EUA, 2001.
[Salembier 2001] Philippe Salembier,
MPEG-7 Multimedia Description Schemes.
748 IEEE Transactions on Circuits and
Systems for Video Technology, 2001.
[Shabajee 2002] Paul Shabajee, Libby
Miller. Adding Value To Large Multimedia
Collections Through Annotation Technologies
And Tools: serving Communities Of Interest,
Papers Museums and the Web, 2002.
[Steiger 2003] Olivier Steiger, Touradj
Ebrahimi e David Marimon Sanjuan.
MPEG-Based Personalized Content
Delivery. Proceedings IEEE Int. Conf. on
Image Processing, ICIP2003, 2003.
[Tseng 2004] Belle L. Tseng, ching-yung
lin e John R, Smith. Using MPEG-21 and
MPEG-7 for Personalizing Video, IEEE
Computer Society, 2004.
[Xie 2003] Lexing Xie, Peng Xu e Shih-
Fu Chang. Structure Analysis of Soccer
Video with Domain Knowledge and Hidden
Markov Models Elsevier Science, 2003
[Zhang 1994] H. ZHANG, g. Yihong, S.
Smoliar, T. Yong. Automatic Parsing of
News Video. Proceedings of IEE ICMS94
Conference, 1994.
[Zhao 2002] Rong Zhao, William I.
Grosky. Content-Based Retrieval and Image
Database Techniques, Bridging the Semantic
Gap- Part II, Wayne State University, USA,
2002.
_______________________________
1
Universidade Lusfona, Departamento de
Cincias da Comunicao, Artes e Tecnologias da
Informao.
2
Como texto entende-se um contedo qual-
quer, texto, imagem, vdeo, etc.
3
Como shot entende-se um segmento de vdeo
continuo, sem cortes ou quaisquer outras transies.
668 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
669 COMUNICAO AUDIOVISUAL
La eficacia del relato narrativo audiovisual
frente al discurso persuasivo retrico
Jess Bermejo Berros
1
La eficacia publicitaria se define por el
grado de cumplimiento de los objetivos de
comunicacin de la campaa o el anuncio.
Entre estos objetivos cabe citar el conseguir
que la audiencia vea, procese y recuerde
nuestra publicidad; lograr posicionar la marca
en la mente del receptor o persuadirle en
beneficio del producto entre otros.
Las variables que se han manipulado hasta
ahora para alcanzar esos objetivos persuasivos
han sido muy variadas y de diferente
naturaleza: variables de ejecucin del anuncio
(tamao; color; posicin;..); variables de
contenido (publicidad comparativa; humor;
msica; tipo de fuente y de mensaje;...);
variables del receptor (implicacin;
motivacin; habilidad; memoria;...).
Sin embargo, la investigacin publicitaria
no se ha ocupado hasta ahora del estudio de
la eficacia de un tipo de contenido emergente
en la actualidad: el spot narrativo. Este tiene
el inters de articular el texto audiovisual
publicitario como propuesta que pretende
conectar con los esquemas narrativos del
receptor. En la presente investigacin
presentamos el grado de eficacia de esta
variable independiente en comparacin con
el de los spots no narrativos construidos stos
a partir de elementos retricos. Como variable
dependiente hemos considerado la actitud del
sujeto hacia el anuncio que se ha manifestado
como una variable moderadora que incide
favorablemente hacia la actitud desarrollada
hacia la marca
2
.
1. Publicidad no narrativa vs publicidad
narrativa
Durante muchos aos la publicidad, a la
vanguardia en el mundo audiovisual en la
exploracin y utilizacin de los recursos
tecnolgicos (efectos especiales; infografa;
etc.), ha privilegiado el uso de stos para crear
impacto visual y sonoro de sus cdigos. Todo
ello desde una concepcin de la publicidad
no como fenmeno de la cultura sino como
pura herramienta del marketing, sin tomar en
consideracin la eventualidad de que
profundizando en el sentido cultural y
psicolgico de los textos que pone en
circulacin obtendra una mayor eficacia
comercial. Le ha interesado desde esta
perspectiva la medida del recuerdo, de las
actitudes en superficie (medidas a travs de
escalas de actitudes, el diferencial semntico
y otros).
En este tipo de publicidad destacan los
textos no narrativos que utilizan las frmulas
clsicas de apoyo en recursos visuales y
sonoros y desde el punto de vista del
contenido, comunican mera informacin sobre
el producto, presentan retazos de vida o en
muchos casos se construyen como puros
ejercicios retricos y poticos interesados en
explotar elementos meramente de recuerdo
e impacto emocional por condicionamiento
clsico.
Veamos tres ejemplos de spots No
Narrativos:
NoN4: Nokia:
Vemos la imagen de unas motos por
un circuito en un espacio no natural,
abstracto, de videojuego. A
continuacin vemos unas figuras
animadas recorriendo un laberinto en
un videojuego. Despus, la imagen de
un telfono Nokia y una voz en off:
<<Nokia, descarga tus juegos>>.
NoN9: Amena: Un jven va por la
calle bailando al ritmo de una msica
en off. Tiene un cartel en la mano
con el color verde corporativo de la
compaa de telefona Amena. Le da
la vuelta y lo muestra. Se ve una
persona animando con una camiseta
de ftbol. Se oye la frase <<Espaa,
campeona del mundo!>>. En el plano
siguiente, en otro lugar, una chica
670 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
tambin bailando. Muestra un cartel
con una foto de Marte. Se oye <<El
hombre llega a Marte>>. En el plano
siguiente otro joven bailando. Muestra
en su cartel tres embarazadas. Se oye:
<<Espaa triplica su ndice de
natalidad>>. En el ltimo plano vemos
un telfono mvil. Se oye: <<A partir
de hoy Amena te trae todo lo que pase
cuando pase>>.
NoN15: Cortefiel: Una mujer sentada
en un sof mira a cmara y dice
<<Qu hay detrs de la moda?>>
Vemos una serie de planos estticos
(telas al viento; imgenes del mar;
jvenes saliendo en la noche;...). Una
voz en off va diciendo <<hay misterio,
equilibrio; hay color, y diseo para
llevar>>. En el ltimo plano volvemos
al sof del principio donde la mujer
dice <<hay un lugar donde slo cabe
la moda: Cortefiel y t>>.
Estos tres spots estas construidos por
medio de elementos retricos que nos
presentan una ventaja producto o/y un
benefi ci o consumi dor. Los t el fonos
mviles Nokia incorporan juegos; Amena
te permite estar informado desde internet.
En Cortefiel tienes todo aquello que t
necesitas en moda.
En los ltimos tiempos asistimos a la
aparicin de un nmero, en significativo
aumento, de spots construidos como textos
narrativos, es decir, dotados de una
estructura narrativa mnima (en el sentido
greimasiano).
Los spots narrativos tienen como
propuesta central un relato susceptible de
conectar con el receptor mediante la
evocacin de algn esquema narrativo
referido bien a algn relato vivido, bien
imaginado o/y posible, bien deseado.
Veamos un ejemplo de spot narrativo:
N3: Peugeut 206.
(1) Enunciado de estado (S).
Situacin de Partida para un Sujeto
A.
Un joven indio tiene un coche.
(2) Enunciado transformativo (Tr):
El joven golpea su coche
reiteradamente contra un muro de tal
manera que se va deformando. Lo
hace con la intencin de darle un
aspecto al coche bien preciso. Abre
una revista en la que aparece la
fotografa de un Peugeut 206 y vemos
en segundo plano el coche deformado.
El joven sonre mostrando su
satisfaccin pues hay una gran
similitud entre el aspecto que ha
adquirido su coche tras los golpes y
la fotografa. Entendemos entonces
que la intencin que guiaba la accin
del joven no era la de abollar su coche
sino que su motivacin podemos
formularla como <<ya que no puedo
tener un Peugeut 206 me construyo
uno>>.
(3) Enunciado de estado (S).
Situacin de llegada para el Sujeto
A, transformado ahora en A.
Vemos al joven pasendose orgulloso
por la concurrida ciudad con su
nuevo coche acompaado de un
grupo de amigos. Aparecen contentos
y se mueven al ritmo de la msica.
En este breve relato, el Sujeto A tiene
un deseo (conducir un Peugeut 206). En su
situacin de partida (1) no tiene un Peugeut
206 pero lo quiere. Para ello pone en marcha
una accin intencional. La accin
transformativa (Tr) de abollar la chapa de
su coche le lleva a un nuevo estado (3) que
cierra el ciclo narrativo por cuanto ha
permitido alcanzar el objetivo de partida
como lo indica su muestra de satisfaccin
con el nuevo estado. Ahora si tiene un
Peugeut 206. Por tanto la accin que se
produce en (2) tiene el estatuto de
Acontecimiento narrativo pues ha
engendrado, entre (1) y (3), una
transformacin que ha afectado al Sujeto A
hacindole cambiar de un estado (S) a otro
(S), siendo ste ltimo la satisfaccin de su
Objeto de deseo. En el paso del Sujeto A
(de insatisfaccin) a su nuevo estado
transformado de Sujeto A (de satisfaccin)
el producto ha tenido un papel mediador
fundamental.
Este tipo de spots narrativos, al utilizar
tanto mecanismos inductores ya presentes en
la vida y cultura cotidianas del hombre
671 COMUNICAO AUDIOVISUAL
(desear, querer, poder,...) que le llevan a
proyectar su accin en estados futuros ms
completivos, como situaciones asimismo
susceptibles de producirse en nuestro mundo
diegtico, resulta pertinente para inducir y
activar un proceso de elaboracin cognitiva
en el receptor que puede conducirle a elaborar
los argumentos contenidos en el mensaje
publicitario. De esta forma, al provocar en
l un aumento de la elaboracin del texto,
la probabilidad de influir sobre sus actitudes
es mayor, como se postula desde las teoras
de la persuasin actuales (por ejemplo, el
ELM de R.E. Petty y J.T. Cacioppo)
3
. En
este caso, los spots narrativos, desde la ptica
publicitaria y marketiniana seran un buen
recurso para mejorar la actual eficacia
publicitaria. No obstante, no nos
interesaremos aqu por esta vertiente de
inters para el mrketing, sino por aquella
que se interroga por las razones
epistemolgicas que afectan al conocimiento
del texto, al funcionamiento de sus
estructuras, al sujeto, en la construccin de
la persona (de su self, de sus representaciones,
su imaginario, etc.). Nos interesa as la
eventual eficacia del spot narrativo por cuanto
sera una forma privilegiada de conectar el
mundo del texto y el mundo del lector (de
sus creencias, opiniones, representaciones,
scripts y comportamientos). Postulamos
asimismo que es, en los intersticios de ese
encuentro, donde aparecen y pueden ser
observadas las diferencias hombre/mujer en
general, y la diferencia sexual en particular.
Partiendo de esta hiptesis general diseamos
una investigacin en la que exploramos
alguno de los componentes de ese encuentro
y configuracin textual.
2. Metodologa
4
2.1. Hiptesis
1. Los spots narrativos se recuerdan mejor
que los no narrativos.
2. Las actitudes hacia los spots narrativos
son ms positivas que hacia los no narrativos.
3. Existen diferencias entre hombres y
mujeres en la percepcin de los spots
narrativos.
2.2. Sujetos.
185 sujetos, chicas y chicos, estudiantes
universitarios. Edades: 19-25 aos.
2.3. Tcnicas y procedimientos experimental.
Los sujetos participan en dos sesiones
experimentales de 1 hora y 30 minutos cada
una de ellas
5
. La segunda sesin tiene lugar
una semana despus de la primera.
2.3.1.- Primera sesin:
a) Visionado de un bloque de 23 spots.
La duracin total del bloque es de 916.
Nomenclatura y nmero de orden de
presentacin de los spots del Bloque I:
S = Spot narrativo de Seduccin;
NoN = Spot No narrativo.
S1 = Sandoz
NoN 2 = Samsung TV
NoN4 = Nokia 3410
S5 = Martini
No N6 = Pontomatic
NoN7 = Kinder
S8 = Buckler sin
NoN9 = Amena
N10 = Saab 93
NoN11 = Caldo Gallina Blanca
N = Spot narrativo excluidos los de
Seduccin;
S12 = Panasonic
NoN13 = Big Mac McDonalds
NoN15 = Cortefiel
S16 = Crunch
NoN17 = Pats de jabugo Sanchez Carbajal
N18 = Flex
NoN19 = Contexta A3
S20 = Nescaf
NoN21 = Mascara Maybelline
N22 = Galletas bisc & Twik
NoN23 = Antenas telefona mvil
La duracin total del bloque I es de 9
minutos y 16 segundos.
La duracin del bloque de spots narrativos
(S+N1) es la misma que la del bloque de
spots No narrativos (NoN).
672 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
b) Tras el visionado del bloque de spots
I, los sujetos cumplimentan un cuestionario
en el que se incluyen una serie de cuestiones
referidas al bloque de spots I que acaban de
ver. Con ellas se pretenden indagar los
siguientes indicadores: recuerdo inmediato;
gustos; preferencias y rechazos.
2.3.2.- Segunda sesin (una semana despus):
a) Prueba de recuerdo diferido del bloque
I de spots.
b) Visionado del bloque II de spots, en
el que hay 7 spots de tres categoras (R, S,
N). La duracin total del bloque es de 329.
Nomenclatura y nmero de orden de
presentacin de los spots del Bloque II:
R = Roles de gnero
S = Spot narrativo de Seduccin
N = Spot narrativo excluidos los de
Seduccin.
R24 = Scotch Brite
R25 = Nike
R26 = Fairy Ultra
S27 = Chicle Orbit
N28 = Fanta
S29 = Breil
N30 = Coca-cola.
c) Por ltimo, los sujetos cumplimentan
en esta Segunda sesin experimental un
cuestionario referido al bloque de spots II:
actitudes, categorizacin y opiniones.
La distincin, en el bloque II de esta
investigacin, dentro de la categora genrica
de spots narrativos, entre las categoras de
spots R (Narrativos de Roles de gnero), S
(Narrativos de Seduccin) y N (Narrativos
excluidos los de Seduccin y los R),
encuentra su justificacin tanto en el hecho
de la significativa presencia en la publicidad
actual de cada uno de ellos, en sus diferencias
de contenido, como en los resultados e
hiptesis de investigaciones anteriores.
En los spots R, se intentan neutralizar los
roles de gnero tradicionales. En unos casos
se procede mediante la presentacin de los
roles invertidos. Tal es el caso de los spots
R24 y R26 donde es el hombre quien lava
la vajilla y la mujer quien sanciona el
resultado. En otros casos se anula la diferencia
presentando al hombre y a la mujer en
actividades en igualdad como en el spot R25
donde hombre y mujer compiten entre s en
una actividad deportiva sin destacar el uno
sobre el otro. El inters aqu es conocer si
esas presentaciones publicitarias provocan
reacciones en los sujetos por cuanto estos
spots rompen con los estereotipos clsicos
de gnero.
Los spots narrativos N se caracterizan por
narrar cualquier tipo de relato exceptuando
los de contenido R o S. He aqu dos ejemplos
de spots narrativos N:
N14 (Adidas): unas zapatillas de
deporte Adidas corren solas por la
calle. Se oyen los gestos de esfuerzo
de alguien. Las zapatillas se detienen
y sale un caracol. Vuelve a meterse
en la zapatilla y sigue corriendo. El
personaje al que oamos resoplar de
esfuerzo era el caracol.
N18 (Flex): El dependiente de una
tienda de cmara de fotos dice usted
lo que necesita es una cmara de fotos
Reflex. Al decir esto todo el mundo
cae en un profundo sueo. Una voz
en off dice que todas aquellas palabras
que evocan la marca Flex provocan
un profundo y placentero sueo.
Aparece impreso el slogan: Un
dos,Flex(Descansa).
Por ltimo, la seduccin, una categora
muy utilizada en publicidad desde hace varias
dcadas, tambin aparece abundantemente
hoy en forma de relatos audiovisuales. El
anlisis de la seduccin presenta un inters
especial en la indagacin de la diferencia
sexual si tomamos en cuenta los datos que
habamos recogido en una investigacin
anterior y que indicaran que se trata de uno
de los territorios en los que aparecen
diferencias entre el hombre y la mujer en
la configuracin de los textos narrativos
audiovisuales (Bermejo y Couderchon,
2002)
6
.
La seduccin la entendemos aqu en
sentido amplio en esa relacin hombre/mujer
en la que interviene la atraccin del otro, el
erotismo, etc. Sin ser una clasificacin ni
673 COMUNICAO AUDIOVISUAL
mucho menos exhaustiva, he aqu tres tipos
de los que incluimos en esta investigacin:
a) Seduccin compartida o bidireccional.
He aqu tres ejemplos:
S5: (Martini): Una seductora mujer
aparece en un balcn regando un
limonero. Abajo, en la calle, sentados
en la terraza de un bar, un grupo de
amigos, chicos y chicas miran a la
joven. Se incorpora al grupo un chico.
El tambin dirige su mirada hacia ella.
En ese momento ella le hace un gesto.
Ambos se sonren. Los otros les miran.
El joven les muestra un limn. Vemos
unos vasos de Martini con limn. Los
jvenes brindan con Martini entre
ellos. Se ren y disfrutan del momento.
Aparece el slogan: Viva la vita.
Alguien coge un limn de un
limonero.
S27: (Orbit): En una cafetera. En una
mesa dos chicas miran a un chico
sentado en otra mesa. Una le dice a
la otra <<ves no est nada mal. Voy
a decirle algo>>. Se levanta y se dirige
hacia el chico. Le dice algo al odo.
Sonrisas de complicidad. Elle le pasa
por debajo de la mesa un paquete de
chicles Orbit. l lo abre y coge uno.
En los spots de seduccin compartida la
accin es bidireccional en el sentido de que
ambos participan y responden a la accin
seductora del otro.
b) Seduccin rechazada o malinterpretada.
He aqu dos ejemplos:
S8: (Buckler): Una mujer espera el
autobs en la parada. Llega un hombre
y espera tambin cerca de ella. En
silencio, ambos miran hacia el frente
sin cruzar sus miradas. De repente un
autobs pasa delante de ellos. l
comienza a emitir gruidos de
satisfaccin que van en aumento a
medida que el autobs se desplaza
delante de ellos. El sigue con la
mirada al autobs, de tal modo que
va girando su cabeza lo que hace que
pase su mirada por ella al tiempo que
emite sus gruidos y hace gestos de
satisfaccin. Ella le da un tortazo. En
la publicidad que apareca en el
autobs se anunciaba la cerveza
Buckler. Los gestos de l estaban
asociados al placer de la cerveza que
le evocaba la visin del anuncio en
el autobs. Ella, sin embargo, los
haba interpretado como intentos de
establecer un contacto de naturaleza
sexual.
S16: (Crunch): Un hombre est
haciendo pesas en su piso. En el piso
de enfrente hay dos chicas. l les
guia un ojo y les hace gestos
mientras sigue con las pesas. Ellas no
se sienten atradas por l. De repente
una de ellas coge los cereales Crunch
y al comer una cucharada el crujido
es tan fuerte que las ondas sonoras
rompen algo en la casa de l. Al darse
cuenta de ese efecto las dos comen
y comen Crunch de tal modo que todo
en la casa de l se rompe y salta en
mil pedazos. l ya no aparece seguro
y fuerte como al principio sino frgil,
dbil y atemorizado. Ellas ren y
disfrutan con la situacin.
En los spots de seduccin rechazada o
malinterpretada, a diferencia del caso
anterior, o bien el que inicia la seduccin
no es correspondido o bien hay una mal
interpretacin de las acciones del otro de
modo que la seduccin compartida no slo
no se produce sino que hay un rechazo
explcito de alguna de las personas implicadas
en las acciones de seduccin.
c) Seduccin no compartida o
unidireccional. He aqu un ejemplo:
S20 ((Nescaf): Es de noche. Un joven
se prepara un caf Nescaf. Sale a la
terraza de su casa. Hay un patio muy
grande con las ventanas de muchas
casas en silencio. Todas las luces estn
apagadas. Mira hacia una ventana
precisa. Su caf est humeante y sopla
en direccin hacia esa casa como para
dirigir su aroma hacia ella. El efecto
inmediato es que la luz se enciende
674 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
y el chico puede ver a una chica
desplazarse por la habitacin y
dirigirse al cuarto de bao donde se
desnuda para entrar en la ducha. l
est contento. Sonre. De repente las
luces de las otras casas tambin
comienzan a encenderse una tras otra.
Aparece gente. Vuelve el ruido y las
voces. l deja de sonrer. Parece
contrariado. Esconde su caf. Su
aroma ha sido el responsable de
haber despertado tambin al
vecindario. La chica, en ningn
momento, se haba apercibido de la
presencia de l. No hay ningn tipo
de contacto entre ellos.
En los spots de seduccin unidireccional
la accin seductora de un sujeto no recibe
respuesta alguna (ni de aceptacin ni de
rechazo) del otro sujeto al que dirige su accin.
3. Resultados
Sin entrar en el detalle de los datos y
anlisis estadsticos, presentaremos solamente
aqu los resultados globales que se desprenden
de ellos para cada una de las tres hiptesis:
3.1. Recuerdo inmediato y diferido:
Tomados en conjunto, es decir, todos los
spots narrativos por un lado y todos los no
narrativos por otro, ambas categoras de spots
generan ndices de recuerdo similares, tanto
en recuerdo inmediato como diferido (una
semana despus). Dicho de otro modo, los
spots no narrativos estn construidos con
claves que tambin generan recuerdo.
Sin embargo, considerados de forma
individual, es decir, tomando los ndices de
recuerdo de cada uno de los spots por
separado, observamos que algunos spots
narrativos concretos destacan muy
significativamente sobre los no narrativos. Por
ejemplo, el spot N3 (Peugeut 206) es el ms
recordado tanto en hombre como en mujeres.
3.2. Gustos y preferencias (actitudes):
a) Las actitudes hacia los spots narrativos
son mucho ms positivas que hacia los no
narrativos tanto en hombres como en mujeres
de forma estadsticamente muy significativa
(Nivel de significacin <.001).
b) Respecto al spot que ms gusta, el N3
(Peugeut 206), tanto hombres como mujeres
lo destacan porque <<narra una historia
original y divertida>>.
c) Justificacin de las Preferencias: Las
categoras ms citadas por hombres y mujeres
para elegir los spots son (en porcentajes de
mayor a menor): original; divertido;
gracioso; buena msica; buena idea.
d) Los spots que menos gustan, tanto a
hombres como mujeres, son aquellos no
narrativos que se limitan a presentar un
ventaja producto (NoN19; NoN11) o utilizan
una retrica clsica (NoN15). El spot que
menos gusta es el de Contexta A3 (NoN19),
seguido del spot de Caldo de Gallina Blanca.
El de Cortefiel (NoN15) aparece en tercer
lugar junto al NoN Antenas de telefona mvil.
Con relacin a todos ellos los sujetos dicen
que no les gustan porque <<son los de
siempre>> <<no aportan nada>>
<<aburren>>.
e) Justificacin de los Rechazos: Las
categoras ms citadas por hombres y mujeres
para rechazar los spots son (en porcentajes
de mayor a menor): poco original; aburrido;
simple; soso.
3.3. Diferencias entre hombres y mujeres:
a) Hombres y mujeres no difieren en la
percepcin de los spots no narrativos.
b) En cuanto a los spots narrativos de
gnero (spots R), hay una similitud entre
hombres y mujeres en la percepcin de las
categoras y estereotipos diferenciales
tradicionales (en cambio, hace aos, los
hombres estaban ms inclinados por spots de
coches y las mujeres por moda o perfumes,
etc., lo que provocaba efectos diferenciales
en el recuerdo).
Este resultado indicara que las diferencias
en los estereotipos de gnero tiende a
mitigarse en esta nueva generacin, de la que
los estudiantes universitarios representan una
de sus categoras (y una de las avanzadillas
en el cambio de estereotipos).
c) Sin embargo, si aparecen diferencias
significativas entre hombres y mujeres en la
percepcin de los spots narrativos de
seduccin. As, las mujeres recuerdan ms
675 COMUNICAO AUDIOVISUAL
spots narrativos de seduccin que los
hombres.
4. Discusin y conclusiones
1. La conclusin fundamental de esta
investigacin es que los spots narrativos
tienen un alto grado de eficacia publicitaria
comparados con los spots no narrativos
basados en construcciones retricas cuyo
objetivo es la presentacin de una ventaja-
producto o un beneficio-consumidor.
El grado de recuerdo ha sido
tradicionalmente uno de los ndices utilizados
para evaluar la eficacia publicitaria. Podra
argumentarse que, en la presente
investigacin, los spots narrativos no seran
tan eficaces por cuanto los niveles de recuerdo
global que provocan son similares a los de
los spots no narrativos. Sin embargo, el
recuerdo no es el mejor indicador para evaluar
la eficacia publicitaria por cuanto es un
indicador de superficie. No obstante, los spots
individuales ms recordados son los
narrativos. Dicho esto, los argumentos que
muestran el inters publicitario de los spots
narrativos se manifiesta en dos indicadores
de mayor profundidad. Por un lado, en los
grados de elaboracin cognitiva superiores
a los que da lugar. La publicidad no narrativa,
con el uso de recursos retricos visuales y
sonoros, con el despliegue de una atractiva
esttica, recurriendo al clincher, obtiene del
sujeto que siga preferentemente una ruta de
procesamiento perifrico
2
y, gracias a la
repeticin publicitaria, crear condicio-
namiento y recuerdo simple. En cambio, los
spots narrativos al conectar con los esquemas
previos del sujeto, de su vida y cultura
cotidiana, son susceptibles de provocar un
procesamiento ms central y por tanto ms
profundo de los argumentos del mensaje
publicitario.
En segundo lugar, un argumento
suplementario en beneficio del spot narrativo,
es el grado de eficacia publicitaria de los spots
narrativos que se manifiesta en que generan
claramente actitudes significativamente ms
positivas que para los spots no narrativos. Ello
es relevante si tenemos en cuenta que conseguir
que el sujeto tenga una actitud positiva hacia
la marca es una va privilegiada para que genere
a su vez una actitud positiva hacia la marca
7
.
2. Esta investigacin arroja tambin
resultados interesantes sobre las diferencias
hombre/mujer en su manera de procesar la
publicidad.
Dos resultados podran hacernos pensar
que las diferencias de gnero no existen por
cuanto:
a) No se manifiestan en la percepcin de
los spots no narrativos.
b) Si comparamos los resultados de esta
investigacin con aquellos de dcadas pasadas
observamos que las diferencias entre hombres
y mujeres, en cuanto a los estereotipos
clsicos de gnero, tienden a mitigarse con
el paso de los aos. Los jvenes estudiantes
universitarios, que constituyen una
avanzadilla de los cambios sociales en los
estereotipos de gnero, muestran claramente
esta tendencia.
Ahora bien, el que las diferencias
tradicionales se desdibujen no quiere decir
que tiendan a desaparecer. Bien al contrario,
se mantienen a lo largo del tiempo pero
transfiguradas unas veces, modificadas otras
(lo que no excluye incluso la aparicin de
nuevas diferencias). Un ejemplo de que la
diferencia sexual persiste hoy lo hemos
hallado en la percepcin diferencial de los
spots narrativos.
Puede parecer sorprendente que en esta
investigacin las mujeres recuerden ms spots
de seduccin que los hombres. La explicacin
de esa diferencia hay que buscarla en la
diferente concepcin que existira entre ellos
respecto a las relaciones de seduccin. Como
apoyo a esta interpretacin cabe citar una
investigacin anterior con relatos
cinematogrficos en la que habamos
descubierto que, en la relacin entre los
hombres y las mujeres, siendo un tema
importante para los jvenes de estas edades
entre 18 y 25 aos, haba una concepcin
distinta de esa relacin entre hombres y
mujeres. En la seduccin se incluyen, para
ellas, sobre todo componentes afectivos de
romanticismo, de relacin de pareja, (etc.),
mientras que para ellos sobresale un
componente fundamental de sexo (Bermejo
y Couderchon, 2002). Este factor diferencial
sera el que tambin se estara manifestando
en este otro tipo de relato audiovisual como
es el publicitario de la presente investigacin.
En los spots narrativos de seduccin
676 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
seleccionados aqu aparecen situaciones
propias de seduccin y no de carcter sexual
explcito. Por tanto, su contenido narrativo
est ms cerca de las percepciones y las
representaciones de la seduccin de las
mujeres que las de los hombres, segn la
distincin que hemos establecido a partir de
la investigacin anterior. Ello explicara el
que ellas tuvieran un nivel de elaboracin
cognitiva mayor de los spots de seduccin
y por tanto mayores ndices de recuerdo.
3. Los relatos y las narraciones son parte
de nuestra cultura, de nuestros intercambios
sociales. El relato aparece cuando el acontecer
de la cotidianeidad se ve alterado en algn
sentido y aparece el inters por dar cuenta
de ello, bien porque transgrede lo habitual,
bien porque lo enriquece de algn modo. Los
relatos de la realidad, que encontramos en
los intercambios sociales (las ancdotas, los
chismes), las narraciones que nos presentan
los informativos o los relatos del cine o la
publicidad, comparten todos ese principio de
alteracin de lo normal para dar paso a
algo nuevo, distinto o incluso
excepcional. Cuando alguien asiste a una
sala de cine desea que el relato que ve en
la pantalla le sorprenda, le emocione, le haga
salir, de alguna forma, de su cotidianeidad.
Pues bien, lo que muestran los sujetos en
la presente investigacin es que los spots
narrativos tienen eficacia publicitaria porque
ponen en marcha mecanismos similares a los
que intervienen en otras formas de relato
presentes en los media. A nuestros sujetos
los spots que les gustan son aquellos que les
sorprenden, les entretienen, les cuentan algo
que tiene que ver con ellos mismos, con su
vida, con sus deseos, sus anhelos y sus
esperanzas. Si rechazan un determinado tipo
de spots No narrativos es porque les parecen
aburridos y no les cuentan nada que les afecte.
La retrica y el clincher que manejan, en
una cultura saturada de todo ello, no les
sorprende ni atrae. Buscan otra cosa y los
relatos cumplen en parte esa funcin.
Por tanto, el spot narrativo es eficaz por
cuanto consigue conectar con los aspectos
culturales del espectador, siendo definida la
cultura no como algo colectivo que
transciende al individuo sino, por el contrario,
como la manifestacin en cada sujeto
individual de unos patrones de vida que nos
identifican como miembros de un colectivo
y que al mismo tiempo nos construyen como
personas.
En definitiva, el spot narrativo nos ha
revelado aqu su eficacia e inters porque
permite conectar, a travs del relato que
exhibe, con el mundo narrativo previo del
sujeto. Si el relato publicitario es una ficcin,
una puesta en escena del producto, y el
mundo del espectador en cambio est
ubicado en lo real, la narracin audiovisual
permite un encuentro e intercambio entre
ambos mundos.
677 COMUNICAO AUDIOVISUAL
Bibliografa
Bermejo Berros, J. La influencia de la
cultura y la personalidad en la respuesta
publicitaria del sujeto. Publifilia. Revista de
Culturas Publicitarias. 2001, 4-5, 23-35.
Bermejo Berros, J. Los lmites de la
persuasin publicitaria: entre la seduccin y
la propaganda. In R.Eguizbal Maza (Ed.).
Perspectivas y anlisis de la comunicacin
publicitaria. Sevilla: Comunicacin Social
Ediciones y Publicaciones. 2004
Bermejo Berros, J. Los marcadores de
la diferencia entre hombres y mujeres en su
encuentro con los relatos audiovisuales
publicitarios. Actas del II Congreso de
Anlisis Textual La Diferencia Sexual.
Madrid. Universidad Complutense. 15-19 de
noviembre. CD-ROM. 2004
Bermejo Berros, J. y Couderchon, P.
Cine, gnero e identidad: encuentros y
desencuentros. Trama & Fondo. 2002, 13,
95-105.
MacKenzie, S.B. y Lutz, R.J. An
empirical examination of the structural
antecedents of attitude toward the ad in an
advertising pretesting context, Journal of
Marketing, 1989, vol.53, 48-65.
Petty, R.E. y Cacioppo, J.T.
Communication and persuasion. Central and
Peripherical Routes to Attitude Change. New
York: Springer Verlag. 1986.
_______________________________
1
Facultad de Ciencias Sociales, Jurdicas y
de la Comunicacin, Universidad de Valladolid.
2
Bermejo Berros, J. (2001) La influencia de
la cultura y la personalidad en la respuesta
publicitaria del sujeto. Publifilia. Revista de
Culturas Publicitarias. 4-5, 23-35.
3
Petty, R.E. y Cacioppo, J.T. (1986)
Communication and persuasion. Central and
Peripherical Routes to Attitude Change. New York:
Springer Verlag.
Bermejo Berros, J. (2004). Los limites de la
persuasin publicitaria: entre la seduccin y la
propaganda. In R.Eguizbal Maza (Ed.).
Perspectivas y anlisis de la comunicacin
publicitaria. Sevilla: Comunicacin Social
Ediciones y Publicaciones.
4
Equipo de Investigacin que particip en la
aplicacin de las pruebas del procedimiento
experimental y en una parte del anlisis de
resultados: Esther Sampol Bibiloni; Ana Espinosa
de Frutos; Mar Coca Ulloa; Marta Ruiz Pea;
Benedicto de Miguel Rodrguez; Jaime Rodrguez
Sosa; Miguel Usera Ballester; Laura Castillo
Snchez.
Agradezco a Elias Garca Ledo su apoyo
tcnico en la edicin de los vdeos de la
investigacin.
5
Todos los spots citados en esta investigacin
pueden verse en: Bermejo Berros, J. (2004). Los
marcadores de la diferencia entre hombres y mujeres
en su encuentro con los relatos audiovisuales
publicitarios. Actas del II Congreso de Anlisis
Textual La Diferencia Sexual. Madrid. Universidad
Complutense. 15-19 de noviembre. CD-ROM
6
Bermejo Berros, J. y Couderchon, P. (2002)
Cine, gnero e identidad: encuentros y
desencuentros. Trama & Fondo. 13, 95-105.
7
MacKenzie, S.B. y Lutz, R.J. (1989) An
empirical examination of the structural antecedents
of attitude toward the ad in an advertising
pretesting context, Journal of Marketing, vol.53,
48-65.
Bermejo Berros, J. (2001). Cf. nota 1.
678 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
679 COMUNICAO AUDIOVISUAL
Portugal / Brasil: a telenovela no entre-fronteiras
Maria Lourdes Motter, Maria Ataide Malcher
1
A colonizao pelo colonizado acon-
teceu fortemente na exportao de telenove-
las brasileiras para a Europa. Em Portugal
no foi diferente. H registros que apontam
essa passagem e interesse por parte dos por-
tugueses pelo produto ficcional brasileiro. Em
uma descomprometida verificao de turis-
tas brasileiros nota-se, em restaurantes e
hotis, a televiso ligada e a telenovela sendo
assistida pelos locais os ndices de audi-
ncia comprovam esse interesse.
No h como desprezar o rompimento de
barreiras favorecido pelas facilidades
tecnolgicas (grandes redes de comunicao,
transmisso via cabo/ satlites) a dados e
programaes que transitam em tempo real,
incluindo os noticirios, mas tambm as
ficcionais e de lazer.
A inteno deste estudo investigar o
quanto a cultura local reage frente presena
de produtos importados em termos de acei-
tao e/ou rejeio, influncia e estmulo para
criao e comercializao da programao
ficcional televisiva. Se no passado o Brasil
exportava telenovelas para Portugal, e me-
taforicamente era o colonizado colonizando
o colonizador, hoje temos uma proposta
concreta que tenta reverter essa situao,
quando o Brasil pe no ar uma telenovela
portuguesa.
Tomamos conhecimento da emergncia da
telenovela Olhos Dgua em Portugal, in-
clusive do seu sucesso, obscurecendo a, at
ento, hegemnica telenovela brasileira.
O que torna um produto hegemnico? O
local tem preferncia para os nativos? Qual
o interesse que poder gerar uma telenovela
portuguesa, num pas que se caracteriza pela
excelncia do produto? Que inovaes pro-
mete a telenovela portuguesa? Que trocas ela
promove com a brasileira? Ou, que apropri-
aes ela faz do formato brasileiro?
Fazer uma anlise da telenovela Olhos
Dgua, nestas primeiras semanas de exibi-
o no Brasil, seria precipitado, mas a
questo que nos propomos: registrar a recep-
o desse novo produto ficcional quanto
insero de um novo horrio na grade
televisiva (16h), e observar o quanto ela traz
imbricada ou no a linguagem da telenovela
brasileira.
Olhos Dgua, estria no Brasil no dia
19 de janeiro, na TV Bandeirante (BAND),
s 16h. Faz parte da nova estratgia da
emissora, iniciada em 2000, com o objetivo
de disputar posies de liderana
2
. No Brasil,
o ranking de audincia das emissoras tem
como lder a Rede Globo de Televiso
(Globo) desde a dcada de 70, seguida pelo
Sistema Brasileiro de Televiso (SBT). Nesse
contexto, a disputa pelo terceiro lugar algo
almejado pelas demais emissoras que inte-
gram as televises de canal aberto no Brasil.
No caso da BAND, sua estratgia na
busca de audincia recai na diversificao,
j que durante anos, apostou em um nico
segmento: o esporte. Ao decidir pela mudan-
a com o objetivo de tornar-se mais com-
petitiva percebe a necessidade de apostar em
outros segmentos e isso que tem feito:
investido em contrataes de apresentadores,
diretores e estabelecido parcerias com pro-
dutoras como a NBP
3
.
Tendo se caracterizado como emissora
voltada aos esportes resgata sua participao
na teledramaturgia em 2004. Apesar de ter
inaugurado sua participao no gnero
teledramatrgico em 1967, suas investidas
foram assistemticas a exemplo das demais
emissoras nacionais, que no possuem tra-
dio na produo e mesmo veiculao sis-
temtica de telenovelas. Isto, se comparado
emissora lder que hegemnica nesse
segmento. Para esse retorno escolheu duas
obras de fico de grande audincia em
Portugal, pas de origem da produo, Ol
Pai! e Olhos Dgua. A primeira,
categorizada como srie, estreou no dia 18
de janeiro (2004), s 19h. J a segunda, objeto
principal deste texto, refere-se a uma teleno-
680 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
vela e teve, como mencionado anteriormen-
te, sua estria no dia seguinte a essa srie
4
.
Como parte da estratgia, ou por precau-
o, a BAND pretendendo atrair outro p-
blico que no aquele cativo do horrio nobre
5
,
lana Olhos Dgua no horrio vespertino
lembrando o incio da telenovela no Brasil.
Incio marcado pela veiculao dessa fico
em faixas horrias propcias a donas-de-casa
quando ainda a telenovela era considerada
como produto de menor prestgio na grade
das emissoras e, portanto, restrita ao horrio
vespertino no comprometendo assim a
programao da emissora. Era o comeo de
uma histria ainda distante do hbito coti-
diano, inaugurado em 1963, com a primeira
telenovela diria 2-5499 Ocupado, uma
adaptao de obra argentina que respeitou o
texto de origem.
A histria da teledramaturgia no Brasil
rica em tentativas, erros e acertos. At a
sua consolidao foram vrias as investidas
nesse gnero que, no comeo, seguia os
moldes das produes latino-americanas
tendo seus textos origem na Argentina, no
Mxico e em Cuba. Mesmo quando escritos
aqui, seus roteiristas, muitas vezes proveni-
entes desses pases, mantinham forte ligao
com o estilo cunhado por esses textos lati-
nos. Tais fatores determinavam a produo
das telenovelas como obras distantes da
realidade brasileira.
Nessas mais de quatro dcadas, o Brasil
j possui uma teledramaturgia consolidada e
essencialmente nacional, o que lhe vale estar
entre os respeitados produtores e exportado-
res desse gnero ficcional. Exportando, com
grande sucesso, suas telenovelas para inme-
ros pases, Portugal figura entre um dos
maiores consumidores, o que provocou um
movimento contrrio colonizao. De
colonizados, atravs das obras ficcionais
brasileiras, passou a colonizar o pas
descobridor e colonizador do Brasil. De
colnia que se mirava nos modelos vindos
da matriz europia, as telenovelas brasileiras
levaram para Portugal os costumes, a fala,
o ritmo, o jeito prprio brasileiro. Esse
momento pode demonstrar o esforo de
inverso do fluxo de consumo cultural, j que
esse cotidiano totalmente brasileiro toma
conta dos lares portugueses e torna-se modelo
para os hbitos lusitanos. Interferncia direta
em outra cultura que apesar de me se v
invadida pela presena marcante da
brasilidade. So vrios os exemplos da
apropriao do cotidiano brasileiro no dia-
a-dia portugus.
Mas o tempo foi passando e a hegemonia
das telenovelas brasileiras foi interrompida.
Em 2001, com a estria de Olhos Dgua
na TVI portuguesa, as telenovelas brasileiras
perdem a liderana. A repercusso e a
manuteno dessa obra como lder de audi-
ncia foi um dos objetos que mereceu a
investigao de Ferin-Cunha.
6
J no Brasil, interessante registrar o
momento que a televiso brasileira d espa-
o na grade de programao para uma te-
lenovela genuinamente portuguesa, por uma
de suas emissoras (BAND). O que se pode
perceber desse momento de experimentao?
Ser que o fluxo se inverter? Ser que as
razes lusas florescero e se identificaro com
a trama apresentada? prematuro responder
a esses questionamentos, mas poderamos
arriscar algumas observaes.
O processo desencadeado pela BAND
poderia ser enquadrado como uma das ex-
perimentaes promovidas por outras emis-
soras em busca de audincia. Ainda sem muita
certeza do caminho a seguir, investiram com
comprometimento comedido na
teledramaturgia. Evidente que esse no um
campo fcil para ousadas incurses, j que
no Brasil a tradio se fez pela TV Globo,
lder de audincia durante todas essas dca-
das. Difcil at mesmo ter uma posio
expressiva, principalmente se concorre no
horrio nobre, destinado aos produtos de
maior audincia da TV, com as telenovelas
da Rede Globo, o que no o caso. Cautela
respeitada pela equipe que montou a estra-
tgia da BAND. Ao optar pelo horrio
vespertino tentou garimpar um novo pbli-
co, no que parece no ter obtido sucesso
j que Olhos Dgua, no horrio das 16h,
esteve na faixa de 1 a 2% de audincia, no
ultrapassando os programas apresentados por
outras emissoras no mesmo horrio.
muito provvel que o horrio no deve
ter sido o nico elemento a provocar
insucesso dessa tentativa. Uma das razes
que, com certeza, provocaram a no aderso
a esse produto foi o distanciamento de ele-
mentos de identificao do pblico receptor.
681 COMUNICAO AUDIOVISUAL
Ou seja, o que determinou seu sucesso no
pas de origem foi a identificao dos por-
tugueses com sua herana histrica. Ao
resgatar momentos histricos da vida dos por-
tugueses Olhos Dgua configurou-se para
aquela cultura
7
como documento histrico e
lugar de memria. E sua aceitao e incor-
porao foram determinadas por uma visita
ao passado, um retomar das tradies, um
reconhecimento e para muitos um conheci-
mento das origens.
8
Nesse sentido, a telenovela, enquanto
produto cultural, passa a ser entendida no
apenas como um gnero, uma mercadoria,
um entretenimento, mas principalmente como
um componente do quadro histrico das
foras que se correlacionam no meio social
fora econmica, cultural, poltica e como
parceira de um jogo social mais amplo,
agindo sob diversos aspectos, que Munz
(1992: 235) assim organiza:
a) A telenovela tem sido, sobretudo,
um espao social e cultural. Um espao
de apropriao de saberes, uma vez
que as pessoas se relacionam em
diferentes grupos, e ela componente
social dessas relaes;
b) Ela tambm surge como um espao
de seduo, de interaes. Assim, essa
seduo da telenovela pode ser um
caminho de ida ao passado, s remi-
niscncias, de retomar e/ou reconstituir
imagens, desejos e sonhos;
c) A telenovela pode ser tambm um
espao de identificao pessoal e
social. As necessidades reais, quando
expostas s respostas que os meios
de comunicao social oferecem em
nvel de imaginrio, no significam
que trazem sempre a desiluso, a
impossibilidade de concreo de
sonhos e desejos em nvel real;
d) Ela desempenha tambm um es-
pao importante no jogo social de
poder. Seria difcil no aceitar que
o componente ideolgico est presen-
te em toda a sua narrativa, e que o
carter mercadolgico sempre fun-
damental.
Sobre essa questo, Motter (2000: 43)
complementa:
A interao que a telenovela estabe-
lece entre os cotidianos da fico e
da realidade constitui uma das pecu-
liaridades da telenovela brasileira,
que, ao desenvolver um cotidiano em
paralelo, dialoga com o real, numa
dinmica em que o autor colhe, a
partir de suas inquietaes, aspectos
da realidade a serem tematizados ou
tratados como questes de importn-
cia em sua fico. ... A simples fa-
miliaridade do telespectador com
discusses bem orientadas sobre pre-
conceitos, drogas, alcoolismo, violn-
cia, hbitos de higiene e sade sina-
liza um avano da telenovela e da
sociedade que incorpora novos dados/
informaes/conhecimentos e/ou com-
portamentos.
As convenes verbais produzidas em
comum acordo pela sociedade constituem o
quadro mais elementar e mais estvel da
memria coletiva.
O instrumento decisivamente socializador
da memria a linguagem. Ela reduz, unifica
e aproxima, no mesmo espao histrico e
cultural, a imagem do sonho, a imagem
lembrada e as imagens da viglia atual
(Bosi,1994: 56).
Motter (2001) acrescenta que possvel
delinear uma histria das transformaes da
vida cotidiana atravs da telenovela, ao longo
desses anos de sua existncia, e de sua
apropriao pela cultura brasileira. Nesse
sentido, afirma:
...a telenovela constri uma memria,
ao mesmo tempo documental por
sua permanncia fsica como produto
audiovisual gravado, mas, sobretudo,
por sua vinculao com o presente,
que a impregna com suas marcas
e coletiva, pelo compartilhamento dos
saberes que ela difunde para seu
amplo pblico.
Diferente da recepo em telas brasilei-
ras, o drama vivenciado pelos personagens
de Olhos Dgua estava distante dos apelos
histricos, do cotidiano brasileiro e mais ainda
do ritmo ficcional das telenovelas brasilei-
ras. No se estabeleceu o protocolo ficcional
682 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
e no houve elementos que permitissem o
que podemos chamar de verossimilhana. A
narrativa no envolveu aqueles que assisti-
am, distanciando-se at mesmo dos que
poderiam encontrar nela pontes de identifi-
cao como o caso das inmeras colnias
portuguesas que vivem no Brasil.
Nesse momento relevante considerar a
narrativa como fator determinante nesse
processo. Conforme destacado anteriormen-
te, o Brasil tem uma forte tradio na criao
dessas obras televisivas e os diferentes brasis,
durante dcadas, se especializaram em assis-
tir telenovelas. Os telespectadores daqui
possuem acuidade especifica sobre esse
produto pela forma do fazer brasileiro, que
caracteriza a produo da telenovela brasi-
leira. Essa telenovela brasileira reconhecida
por apresentar inmeras tramas em uma
mesma obra, com forte apelo no ficcional,
mas usando e abusando
9
do cotidiano real
cria, assim, em muitos momentos intersec-
es que dificultam a separao entre real
e ficcional. Explora ao mximo as riquezas
naturais do meio ambiente, da sensualidade
e do erotismo prprios do povo brasileiro,
prendendo o telespectador em tramas que so
desvendadas pouco a pouco, o que exige sua
assistncia diria ou pelo menos peridica,
por seu forte carter de pauta para as con-
versas do dia-a-dia, sobretudo por sua reper-
cusso nas diferentes mdias. Difcil concor-
rer com essa experincia acumulada. Essas
so hipteses, apenas incurses exploratrias
para futuras investigaes, que sero consi-
deradas no aprofundamento deste estudo.
A telenovela importada de alm-mar tem
sua narrativa centrada em uma nica trama.
Seu apelo tnue at mesmo para o mote
principal que conduz trama: duas irms
gmeas separadas na infncia reencontram-
se anos depois uma pobre e outra rica. Esse
posicionamento relembra mais uma vez o
incio da teledramaturgia no Brasil, pela
preocupao em distanciar-se de questes
contemporneas. Com narrativa leve, sem pre-
ocupao em amarrar as aes dramticas,
acaba distanciando o telespectador que
mesmo de origem ou de descendncia lusi-
tana foi alfabetizado pela produo brasileira
e, portanto, escolarizado em assistir teleno-
vela. A diferena est no ritmo do contar a
histria, nos elementos resgatados do cotidi-
ano brasileiro e inseridos nas tramas, nos dramas
sociais, polticos, culturais vividos e vivenciados
pelos habitantes desses tantos brasis.
A mudana em nossa teledramaturgia
decretada por Beto Rockefeller determinou
os rumos dessas obras ficcionais no Brasil.
Difcil para um leitor experiente de tele-
novela brasileira se enredar por outras obras,
que mantenham distanciamento considervel
das fortes razes da teledramaturgia nacional.
Difcil, mas no impossvel. importante
acompanhar essas experimentaes como o
incio de um processo deflagrado pelo
momento de contnua expanso da
globalizao. Nesse desmontar de barreiras,
os produtos de outras culturas cada vez mais
visitam outros portos e muitas vezes a re-
jeio inicial, aps ajustes e reajustes, se torna
um elemento que se aclimata cultura local.
J em outros momentos, em uma adaptao
menos invasiva, pode assumir novo signifi-
cado a partir das concesses, negociaes e
entendimentos com a cultura que visita.
Na visita realizada por Olhos Dgua ao
Brasil j houve a concesso ao acordo tcito
ditado e permitido pela especificidade pr-
pria desse tipo de produto que se caracteriza
como obra em aberto (Pallottini: 1998), o
que propicia, dessa forma, mudanas em seu
desenvolvimento. Foi o que aconteceu com
essa visitante, que teve sua trama modificada
na forma de apresentao ao pblico brasi-
leiro, diferenciando-se do original veiculado
em Portugal. Telenovela, como produto da
comunicao, tambm questo de cultura,
culturas e no s de aparatos, conforme
alerta Martn-Barbero.
impossvel conhecer novas praias sem
identificar seus contornos, suas nuances, os
locais de perigo e o melhor lugar para o
mergulho tranquilo e o emergir seguro. Ou
seja, preciso entender a especificidade do
pblico. Principalmente de um pblico que
tem, gostando ou no, forte tradio em ver
e fazer telenovela, sendo essa uma das
maiores expresses dessa cultura.
Pensar a telenovela portuguesa nos pro-
picia um olhar amoroso para nossa prpria
cultura, na medida em que faz ver como a
nossa formao multicultural nos abre para
as diferentes culturas e, ao mesmo tempo,
nos alerta para a especificidade resultante da
miscigenao e o grau de consolidao dessa
683 COMUNICAO AUDIOVISUAL
mescla. A multiplicidade da subjetividade
nacional consolidou nossa identidade
multifacetada em harmonia com seu prprio
ritmo de mudana. Assim, somos portugue-
ses, indgenas, africanos, italianos, rabes,
japoneses, judeus, alemes, franceses, espa-
nhis, holandeses, em outra faixa etria, em
outra clave, em outro espao.
Somos todos e nenhum, no Brasil do
terceiro milnio. Portanto, no a soma, mas
a sntese transformada. nossa brasilidade,
como essa sntese transformada, que rejeita
o que representa apenas o passado puro de
uma raiz conservada, que evoluiu segundo sua
prpria histria. Nossa portuguesidade a de
ontem, guardada como um elemento cultural
importante, mas apenas um dos traos cul-
turais de nossa formao. No a
portuguesidade europia de hoje, com a pureza
de sua tradio e com o lastro histrico que
s seu. Vivendo distante do mundo colonial
africano, sem nunca termos sido um pas
colonizador no temos razes histrico-afetivas
para nos envolver com uma semente de histria
que nasce de relaes colonialistas.
Tambm a linearidade narrativa da tele-
novela portuguesa se distancia da agilidade
assumida por nossas prprias narrativas e pela
dinmica multiplicidade de tramas, sons,
ritmos, cores, tons em meio tambm
mltipla e exuberante paisagem. Nossas
dimenses continentais, nossas diferenas
climticas e topogrficas caracterizam regi-
es com marcas identitrias que se expres-
sam nos tipos humanos, nos seus hbitos e
nos costumes como marcas que individua-
lizam, ao mesmo tempo em que concorrem,
com seus traos genuinamente brasileiros,
para integrar e fortalecer a mescla sntese de
nossa brasilidade.
Se no localizamos elementos identificadores
de partida em nossa primeira explorao das
razes que poderiam afastar ou no aproximar
o telespectador brasileiro da telenovela portu-
guesa, outras hipteses podem ser arroladas:
1. Como consequncia do que acabamos
de expor, no havendo razes de ordem
histrico-sentimentais ou de carter cultural
para motivar o interesse do telespectador
brasileiro, a novela pode ter se reduzido ao
melodrama e o grande drama que motivou
a separao das irms gmeas, despojado de
sua vinculao com uma realidade vivida,
resultado no mais desgastado (por sua rei-
terao no curso do tempo) dos temas ex-
plorados pelo gnero, tal como praticado
na maioria dos pases que produzem teleno-
vela. neste sentido que tambm podemos
remeter a telenovela portuguesa Olhos
Dgua aos primrdios da introduo do
gnero novela no Brasil.
2. O horrio em que a telenovela est
sendo exibida - cuidado decorrente de se
proceder experimentao em um espao
ficcional vazio na grade geral de programa-
o das emissoras brasileiras pode ter
contribudo para o baixo nvel de audincia,
seja por ter-se de criar tradio, seja por no
encontrar telespectadores, principalmente
telespectadoras, num mundo transformado,
onde o pblico feminino alvo preferencial
do gnero/estilo escolhido j no pode estar
disponvel para assistir televiso.
3. Ainda pensando a partir de nossas
consideraes iniciais, seria de se esperar que
a colnia portuguesa no Brasil pudesse cons-
tituir um alvo preferencial. Um elo fundamen-
tal para atar essas pessoas a elementos de sua
prpria cultura, como aspecto primordial no
seria atravs da identidade lingstica? A te-
lenovela dublada em portugus. Mant-la com
a fala de origem no seria a melhor opo.
Mas, os brasileiros j resolveram este proble-
ma mesclando duas lnguas. No caso, ao
portugus do Brasil se acrescentaria um pouco
da pronncia do portugus de Portugal. Afinal,
teramos a marca lingustica de portuguesidade,
ao mesmo tempo em que no se impediria a
compreenso das falas. Na histria da teleno-
vela brasileira existem exemplos de sobra.
bom lembrar que os portugueses que moram
no Brasil no chegaram ontem e que sua lngua
j sofreu influncia local.
4. Se antes pensamos nos portugueses que
vivem no Brasil, temos que lembrar, luz
de nossas consideraes anteriores, que ns
brasileiros temos um trao forte da cultura
portuguesa e que a musicalidade da lngua
daquele pas na nossa lngua de hoje poderia
resgatar, reavivando, lembranas arquivadas
pelo tempo nos pores de nossa memria.
Este poderia ser um forte apelo nossa
sensibilidade e uma forte motivao para
restaurar nossa herana portuguesa no contato
com a telenovela, capturando nossa ateno
para a audincia.
684 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
5. Uma outra hiptese possvel a do
natural estranhamento frente a algo novo.
Estranhamento que tem se manifestado quan-
do se processam mudanas na receita do que
denominamos telenovela brasileira, ou seja,
no jeito de ser da produo dramatrgica da
TV Globo, que construiu e imps seu modelo,
atravs de sucessivas experimentaes. Espe-
rar que um produto diferente possa gozar de
uma pronta aceitao, uma entrega sem re-
sistncia, nos parece ingenuidade. A prpria
TV Globo trava uma permanente luta entre
os modelos no ar e os ndices de audincia.
No h como prever o xito, que s vezes
ocorre por obra do puro acaso, como o que
fez com que o exotismo buscado por Glria
Perez ao construir um ncleo muulmano em
O Clone ganhasse proeminncia graas
tragdia provocada pelos atentados s torres
gmeas do World Trade Center em Nova York
e ao Pentgono. As Filhas da Me, de um
roteirista experimentado como Slvio de Abreu,
no alcanou a audincia esperada, assim como
Torre de Babel, do mesmo autor, encontrou
resistncia por parte do pblico e teve que
ser modificada. bom lembrar, voltando no
tempo, que Beto Rockefeller s foi um su-
cesso depois de uma experimentao fracas-
sada de outra telenovela que tentou inovar na
linguagem. Outras tentativas de inovao
tambm foram rejeitadas como a elaborada
Espelho Mgico, de Lauro Csar Muniz.
6. Por outro lado, no se pode negar
qualidades telenovela Olhos Dgua, que
representa um modelo de qualidade incompa-
rvel se tomamos como parmetro as teleno-
velas mexicanas que tm audincia suficiente
para mant-las no ar. Talvez, o maniquesmo
das personagens e o desempenho excessivamen-
te dramtico dos atores, beirando ao caricato,
esteja mais prximo do gosto de certos seg-
mentos do que a ingnua e suave novela Olhos
Dgua, mais contida como interpretao, mais
elaborada enquanto produto audiovisual e que
ainda luta pela captura da audincia.
Mas, estamos apenas formulando hip-
teses. Talvez se possa, futuramente, identi-
ficar quais so pertinentes, quais so mais
determinantes. Pode ser ainda que cada qual
concorra a seu modo para dificultar a via-
bilidade da proposta. Afinal, h brasileiros
envolvidos na roteirizao e na produo da
novela, certamente estamos diante de um
projeto maior. Se no agora, provvel que
o caminho ser encontrado. No h nada que
a associao de tempo, talento e persistncia,
no seja capaz de resolver.
Afinal, como dizem experientes roteiristas
de cinema e televiso, e que j se constitui
um aforismo, todas as boas histrias j foram
contadas. Assim, o desafio criativo desloca-
se do o que contar para o como contar.
o como que deve ser buscado na mescla do
dinamismo da telenovela brasileira, manten-
do-se a marca da diferena, que entendemos
deve consistir em manter a integridade da
histria (sem excesso de permeabilidade
mercadolgica) com apelos que podem nas-
cer da prpria histria. A incluso de uma
cenografia que mostre ao Brasil um pouco
da cultura portuguesa ou do mundo portu-
gus, para alm do cotidiano dramtico vivido
pelas personagens, pode ser um exemplo. Ou,
dito de outro modo, a ao dramtica deveria
se desenvolver, enquanto fico, com apoio
na concretude de um mundo real pleno de
atrativos, de encantos e peculiaridades, que
podem ser dados a conhecer associando-se
viagem ficcional a viagem pelo pas real
recortado pelo fazer ficcional.
Tais consideraes tm apenas o objetivo
de abrir um debate. Afinal, para alm dos
motivos dramatrgicos esto os de carter
mercadolgico, de importncia capital, em duplo
sentido, quando sabemos, de h muito, sobre
a ambivalncia da indstria cultural, onde
viabilidade do negcio e lucratividade esto em
tenso dialtica com o carter artstico e a
capacidade de inovar do bem produzido. Achar
a frmula questo de interesse para os que
pensam sobre e para os que produzem teleno-
vela, independentemente de onde se situam as
razes do local na proposta que visa a trans-
posio de fronteiras, sejam das culturas in-
ternas (ao nacional) ou das culturas externas
(ao nacional) em direo ao transnacional.
Como pesquisadores, nosso interesse est
na maior diversidade e na maior competi-
tividade para que se depure o gnero e se
apure a qualidade e a capacidade da fico
para que ela possa cumprir, enquanto hist-
ria, seu velho papel de a um s tempo nos
distrair e nos tornar melhores, explicao dos
habitantes de Marrakech para seu interesse
em se reunirem na praa e ouvir, por horas
a fio, o contador de histrias.
685 COMUNICAO AUDIOVISUAL
Bibliografia
Bosi, E. (1994). Memria e sociedade:
lembranas de velhos. So Paulo, Cia das
Letras, 1994. p. 56.
Canclini, N. (1997). Cultura y
comunicacin: entre lo global y lo local. La
Plata, Buenos Aires, Argentina: Ediciones de
Periodismo y comunicacin n 9.
Ferin-Cunha, I. (2002). Telenovelas
Brasileiras em Portugal: Indicadores de
aceitao e mudana (no prelo).
Martn-Barbero, J. (1997) Dos Meios s
Mediaes: comunicao cultura e
hegemonia. Rio de Janeiro: Universidade
Federal do Rio de Janeiro.
Motter, M. L. (2000). Fico e reali-
dade Telenovela: um fazer brasileiro. tica
& Comunicao FIAM, So Paulo, n. 2,
p. 43, ago/dez.
______ (2001). A telenovela: documen-
to histrico e lugar de memria. Revista USP,
n. 48.
Muoz, S. (1992). Mundos de vida y
modos de ver: Televisin y Melodrama.
Colombia: Tercer Mundo Ed.
Pallottini, R. (1998). Teledramaturgia de
Televiso. So Paulo: Moderna.
Rabaa, C.A.; Barbosa, G.G. (2001) Di-
cionrio de Comunicao. 2. ed. rev. e
atualizada. Rio de Janeiro: Campus.
_______________________________
1
Professora e doutoranda na ECA-USP, res-
pectivamente.
2
Entrevista concedida por Marcelo Parada,
vice-presidente da BAND, revista Contigo de
12 fevereiro de 2004, p.50.
3
Segundo material de divulgao da Emis-
sora, a produtora NBP a maior produtora de
TV em fico de Portugal.
4
Obras produzidas pela NBP.
5
No Brasil, perodo em que se registram as
maiores audincias e so mais caros os preos de
propaganda; compreendido, em geral, entre 19 e
22 horas e, no perodo diurno, entre 7 e 10 horas
(em ing., prime time). Rabaa, C.A.; Barbosa,
G.G. Dicionrio de Comunicao. 2. ed. rev. e
atualizada. Rio de Janeiro: Campus, 2001.
6
Conforme artigo apresentado no Seminrio
Telenovela: internacionalizao e intercultura-
lidade, realizado na ECA-USP, em 2002: Tele-
novelas Brasileiras em Portugal: Indicadores de
aceitao e mudana (no prelo).
7
Entendida como conjunto dos processos
sociais de produo, circulao e consumo da
significao na vida social. Ver, por exemplo,
Canclini, N. Cultura y comunicacin: entre lo global
y lo local. La Plata, Buenos Aires, Argentina:
Ediciones de Periodismo y comunicacin n 9, 1997.
8
Conforme observao da direo da NBP,
quando do lanamento da telenovela no Brasil.
9
Excesso de temticas sociais com tratamen-
to superficial como, por exemplo, a recente
Mulheres Apaixonadas, telenovela de Manoel
Carlos veiculada em horrio nobre na Rede Globo
de Televiso.
686 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
687 COMUNICAO AUDIOVISUAL
Regras de usabilidade para a produo
de aplicaes em televiso interactiva
Valter de Matos
1
1. Introduo
Historicamente, os dois grandes obstcu-
los implementao de um modelo bem
sucedido de iTV tm sido a insuficincia da
plataforma tcnica que a suporta, demasiado
lenta ou demasiado cara, e a natureza dos
contedos que esta deveria suportar. Grande
parte dos anteriores problemas tcnicos
encontra-se hoje ultrapassada, em parte gra-
as ao paradigma Web onde a actual iTV se
baseia. A usabilidade, enquanto disciplina
promotora da utilizao com eficincia de
aplicaes e sistemas, ganha nesta rea uma
importncia acrescida, j que os novos pro-
motores da iTV no se podem dar ao luxo
de os seus potenciais utilizadores no com-
preenderem as novas funes apresentadas,
que em ltima anlise sero as principais res-
ponsveis pelo aliciamento para o servio
prestado. Grande parte dos estudos de
usabilidade em iTV pode ser facilitada pela
experincia adquirida no domnio da Internet:
a aproximao destes dois meios facilita a
transposio dos princpios enunciados h j
largos anos para a produo de interfaces
Web, uma rea largamente explorada e
exaustivamente documentada. No entanto, a
criao de contedos iTV segundo as regras
de usabilidade retiradas do contexto Web,
dever ter em considerao as diferenas
existentes entre as duas plataformas, que a
actual convergncia no esmoreceu.
1.1 Convergncia iTV Web
Na sua metamorfose de acompanhamen-
to das tecnologias existentes, a iTV reajusta-
se WEB, tanto no que respeita plataforma
tecnolgica que a suporta como aos servios
que disponibiliza. A actual aproximao ao
modelo WEB, protagonizada por plataformas
como a MSTV da Microsoft baseadas no
Advanced Television Enhancement Forum
(ATVEF), pode-se explicar, no s pelo em-
prstimo dos meios de distribuio que a
primeira goza, mas tambm atravs do no
to novo e muito caracterstico problema de
produo de televiso: os seus contedos
sempre foram exigentes nos oramentos, e
uma nova camada de interactividade implica
sempre um acrscimo do custo financeiro,
ao ponto que por vrias vezes no so os
preos proibitivos do hardware necessrio que
ditam o fracasso da iTV, mas os valores
envolvidos na produo de programas
interactivos. Nos novos tipos de contedos
acedidos via WEB, a iTV encontra um
modelo de produo barato, capaz de jus-
tificar a to necessria mais valia que lhe
atribua um sentido de existncia.
2 Definio de usabilidade
Tradicionalmente, associamos ao estudo
da usabilidade de um determinado projecto
a maximizao da eficincia da sua utiliza-
o em contextos de trabalho individual ou
colectivo. Assim, uma das reas mais estu-
dadas na ltima dcada ter sido a Internet
e as interfaces desta e do computador para
com o seu utilizador humano (Nielsen, 1993).
A profundidade deste estudo deve-se de-
mocratizao do meio e sua massificao,
que obrigaram os diversos intervenientes
deste mercado altamente competitivo a
optimizar toda a sua relao com o cliente/
utilizador. Todos esses estudos legaram
actual verso de iTV uma herana rica em
guidelines de usabilidade e processos de
verificao e avaliao de interfaces, que alm
de optimizar a relao com o utilizador final
e reduzir a margem de erros, podero servir
para precipitar a consolidao de modelos de
produo de contedos e servios.
Na avaliao de usabilidade de qualquer
sistema existem dois factores chave a con-
siderar: o conhecimento das funes desem-
penhadas pelo utilizador, e a adequao s
diferenas e caractersticas de cada utilizador
688 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
individual. Esse conhecimento e adequao
ao utilizador final a base essencial do estudo
da usabilidade aplicada iTV. Diferentes
utilizadores realizam diferentes utilizaes da
mesma aplicao. A mesma aplicao apre-
senta diferentes curvas de aprendizagem para
utilizadores diferentes. Essas diferenas tm
de ser reflectidas no design do interface, com
opes para iniciados e experts, opes essas
que por vezes podem resultar na criao de
mais do que um interface.
A usabilidade de determinado sistema
pode ser avaliada de diversas formas,
seleccionadas em funo do que se pretende
avaliar. As duas abordagens mais usuais
podem ser enquadradas em dois grandes
grupos: testes de performance e question-
rios de atitude. No primeiro caso, os
utilizadores so convidados a efectuar deter-
minadas tarefas onde avaliada a sua
performance em termos de velocidade, erros
e preciso. No segundo tipo de avaliao, a
percepo dos utilizadores sobre o sistema
utilizado registado em entrevistas e ques-
tionrios.
Uma das dificuldades do estudo da
usabilidade reside na identificao de aspec-
tos que possam ser generalizados de um
sistema para outro. Na rea concreta da Web,
tm sido sugeridos vrios modelos de ava-
liao. Por um lado, alguns autores defen-
dem a identificao de critrios como o apelo
visual, a compreenso, navegao e utilidade
do website, entre outros, como factores
importantes na avaliao da sua usabilidade.
Estes autores afirmam que esses critrios
devem primeiro ser catalogados em catego-
rias que permitam identificar critrios mais
fidedignos de avaliao (Schneiderman 1997).
Essa categorizao pode ser bastante variada
e dependente de vrios factores, como a
identidade do originador dos contedos, a
quantidade de informao do site, os objec-
tivos do originador dos contedos depois de
interpretados pelo webdesigner e, finalmen-
te, pelo que determina a medida de sucesso
do site. Outras correntes de investigao
optam por identificar o que separa a Web
dos demais sistemas (Laskowski & Downey,
1997), salientando as caractersticas prprias
desta que a afasta dos interfaces tradicional-
mente considerados.
3 Guidelines de Usabilidade
O modelo de iTV actualmente em desen-
volvimento razoavelmente novo, e possui
caractersticas que indicam a possibilidade de
se poder aplicar ao mesmo muito do que se
aprendeu sobre o design de aplicaes Web.
deste processo que se podem retirar muitas
das concluses aqui apresentadas sobre a
melhor forma de estruturar informao em
iTV, bem como proceder sua avaliao.
Os utilizadores Web caracterizam-se por
um vasto conjunto de caractersticas hetero-
gneas, que dificultam uma medio exacta
das suas expectativas e reaces. Quando se
fala de iTV, a dimenso e diferenas internas
desse grupo aumenta de tal forma que o
anterior grupo de utilizadores Web se asse-
melha agora a um grupo bastante homog-
neo e coeso, essencialmente caracterizado
pela sua relao de conhecimento e
manuseamento das novas tecnologias e
objectivos a alcanar. Neste novo nvel da
relao telespectador televiso, muitos dos
pressupostos tcnicos e comportamentais
anteriormente tomados como base elementar
da relao entre utilizador e sistema pura e
simplesmente desaparecem, tornando ainda
mais difcil a avaliao e medio do suces-
so ou fracasso da usabilidade da aplicao,
e, por conseguinte, a qualificao de um bom
ou mau interface de iTV.
Ainda na Web, alm dos utilizadores deste
tipo de sistema serem vrios e diferentes nas
suas motivaes, experincias, conhecimen-
tos prvios, e objectivos a alcanar, tambm
os produtores de contedos resultam de um
conjunto variado e heterogneo de indivdu-
os. Esta particularidade resulta da facilidade
do processo de produo para a Web que a
massificao de ferramentas WYSIWYG
possibilitou, aliada prpria natureza open-
source da net. A diversidade dentro deste
grupo tende no entanto a ser nivelada por
prticas entretanto estabelecidas de constru-
o e manuteno de contedos. Extrapolando
esta realidade para a iTV, poderemos dizer
que o grosso nmero de pessoas que desen-
volvem interfaces para a televiso interactiva
provm de um background Web, ao invs do
restrito circuito profissional da edio vdeo.
Um ltimo aspecto particular a ter em conta
no estudo de usabilidade Web, deriva do facto
689 COMUNICAO AUDIOVISUAL
desta resultar de um conjunto tambm he-
terogneo de tecnologias, que engloba as mais
diversas solues proprietrias para alm da
j referida natureza open-source da net que
no limita o leque de opes disposio
do produtor de contedos. Esta proliferao
de formatos e tecnologias invade agora o
domnio dos audiovisuais, onde inmeras
plataformas lutam entre si para se tornar o
standard da televiso interactiva do futuro.
Uma aplicao de iTV no deve ser vista
como uma aplicao stand-alone que obe-
dece a certos critrios de apresentao de
contedo, mas como o culminar de uma srie
de experincias que o utilizador possui sobre
este, a sua motivao para o utilizar, e o
contexto em que o faz. Ou seja, a sua
construo dever ter em conta factores de
comportamento humano, e como os espec-
tadores interagem com a televiso e o con-
trolo das suas opes.
A primeira grande dificuldade ao traba-
lhar para televiso interactiva reside na
mudana de atitude que representa para com
o modelo de televiso tradicional. Conside-
rado um meio sit back, termo que refere
a passividade com que o espectador participa
no processo, espera-se que a multiplicidade
de opes e servios que a iTV proporciona
ao seu subscritor lhe confira uma atitude mais
activa, referida pelo conceito de lean
forward. Por isso, alm das principais
guidelines no que respeita ao desenho de
interfaces para iTV que se centram em torno
de questes tcnicas (a resoluo do ecr,
uso da cor, distancia de visionamento, etc.)
existem questes sociais ou comportamentais,
como a expectativa sobre os contedos
fornecidos e o modo de interagir com eles
a ser considerados.
Mais uma vez podemos retomar a dife-
rena entre TV e PC para melhor compre-
ender essas implicaes. Ao longo dos anos,
desenvolveu-se um elo de confiana entre os
espectadores e a televiso, que deriva do facto
de sempre que estes carregam num determi-
nado boto, a televiso responde com o
resultado pretendido e no tempo adequado.
A introduo da interactividade na televiso
deve respeitar essa relao, sobre risco de
destruir as expectativas do utilizador. E no
apenas o espectador que beneficia da relao
de confiana que se estabelece entre este e
o aparelho. Com os novos contedos
interactivos disponibilizados, a confiana
estende-se aos restantes intervenientes do
processo, desde a emissora operadora do
servio, consequentemente resultando numa
mais valia s empresas envolvidas, quando
comparadas com outras que prestam um mau
servio aos seus subscritores (que no tero
dificuldade em lhes apontar responsabilida-
des).
Assim importante compreender que as
falhas que nos habituamos a menosprezar
quando navegamos na WEB assumiro um
peso diferente na televiso e no passaro
despercebidas. O espectador de hoje j no
se lembra da ltima vez que viu a sua
programao interrompida por motivos tc-
nicos, e tambm no espera encontrar o erro
404 quando tenta aceder a um contedo
interactivo ou reiniciar a sua televiso quan-
do esta bloqueia. Mas a distino entre iTV
e o PC eleva-se muito alm das considera-
es tecnolgicas: o contexto de utilizao
radicalmente oposto, essencialmente domi-
nado pela temtica do entretenimento, e de
carcter extremamente social.
Essas diferenas do contexto de utiliza-
o tm de ser levadas em conta no desenho
dos interfaces, pois um espectador de tele-
viso no ser to facilmente absorvido
pelo que se passa no seu ecr como uma
pessoa sentada em frente a um PC, que
activamente interage com este, procura de
algo e voluntariamente conduzindo todo o
desenrolar de aces que se produzem no
monitor a uma distncia no muito maior do
que alguns centmetros de si. Ao contrrio
desta proximidade e intensidade de partici-
pao, a relao TV/espectador bastante
mais voltil. Ver televiso um processo
normalmente desleixado, marcado pela cons-
tante mudana de canais, e isso apenas
quando o espectador efectivamente se senta
frente desta para lhe dar o mnimo de
ateno, j que no anormal a televiso
apenas cumprir as funes de produzir ba-
rulho de fundo enquanto o suposto espec-
tador desenvolve uma srie de actividades
paralelas.
Mesmo quando existe uma inteno
declarada do espectador de se deixar absor-
ver pelo contedo do aparelho, esta em boa
690 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
parte das vezes uma aco colectiva, onde
mais do que uma pessoa partilham do even-
to. O carcter social da televiso contrasta
bastante com o hbito normalmente solitrio
da relao utilizador computador. Parado-
xalmente, a prpria interactividade dita iTV
pode ser outra causa de distanciamento entre
os dois ambientes. No computador o
utilizador est habituado a um constante vai
e vem de informao, e mesmo a desenvol-
ver vrias actividades paralelas no seu PC,
com duas, trs ou quatro aplicaes abertas
e saltando livremente entre elas como se de
um todo se tratasse. J na iTV, o fluxo do
vai e vem de informao no depende in-
teiramente de si, pelo menos no estado actual
de desenvolvimento que nos apresentado
pelas plataformas existentes. A emisso
contnua no interrompida pelo novo nvel
de interactividade oferecido ao espectador,
para este mais tarde poder retomar ao seu
momento inicial, pelo que ter de dividir a
sua ateno entre a emisso e os servios
que entretanto activou. Este novo problema
pode-se ainda somar ao anteriormente des-
crito carcter social do visionamento da
televiso: se ao espectador que desencadeou
a interactividade exigida uma duplicao
da sua ateno, a quem se encontra ao seu
lado necessrio oferecer uma explicao do
que est a acontecer, quais os passos que esto
a ser dados, etc.
Das guidelines tradicionalmente herdadas
dos estudos do Human -Computer Interaction
aplicados ao desenho de interfaces para iTV
podem-se salientar os seguintes:
Consistncia: as sequncias de aces
necessrias, os tipos de opes, termos uti-
lizados, cores, objectos, layouts, etc., devem
todos manter-se regulares ao longo da apli-
cao, para que o utilizador no tenha de
constantemente reaprender a navegar pelas
opes possveis. Esta regra no implica no
entanto que todas as aplicaes sejam iguais:
no o aspecto delas que se pretende em
ltima anlise sempre igual, mas a sua
utilizao. Num ambiente onde a ateno do
utilizador constantemente exigida em dois
streamings de informao separados, e com
um interface fsico limitado como o controlo
remoto (e o teclado extra quando esse exis-
te), o modelo de navegao deve manter-se
simples.
Possibilitar aos utilizadores mais frequen-
tes a utilizao de shortcuts, que os leve
directamente ao contedo procurado sem
terem de passar por todas as fases intermdias
que eles j no precisam de ver. Este um
aspecto essencialmente problemtico no que
respeita aplicao iTV, dada a necessi-
dade no menos importante de reduzir a
utilizao do teclado ao mnimo e mesmo
do controlo remoto a uma combinao fixa
de botes.
Possibilitar e evidenciar o feedback de
informaes entre as aplicaes e o utilizador.
necessrio tornar bvio ao utilizador que
as suas aces provocam reaces no siste-
ma, e assim lev-lo a compreender como este
funciona. Mesmo quando a sua aco no
desencadeia nenhum processo de
interactividade, seja porque ilegal no
contexto em que se encontra, ou porque os
contedos no esto l, ou por qualquer outro
motivo, mesmo assim dever haver algum
feedback do servido para que no hajam
dvidas no espectador que o seu comando
foi recebido pela televiso. Este feedback
tambm permite a quem assiste ao processo
mas no est na posse do controlo remoto
perceber e acompanhar o que se passa.
Representao contnua importante para
compreender:
a) o que se passa no ecr e criar no
espectador a sensao de controlo dos even-
tos e dos elementos mostrados. Os objectos
no devem simplesmente posicionar-se na
posio x ou y como o espectador comanda,
mas deslocar-se at essa posio, fortalecen-
do o sentido da aco. Tal como os menus
no devem simplesmente possuir um estado
aberto e fechado, mas crescerem gradual-
mente quando solicitados, para o espectador
nunca ter dvidas de onde veio aquele menu
e porque de repente apareceu no ecr. Estes
comportamentos animados podem ser enten-
didos muito luz do ponto anterior. Boas
representaes contnuas tornam claro ao
espectador que o boto que pressionou pro-
duziu um efeito no fluxo de informao do
ecr, mesmo que se tal efeito se reduz a um
breve piscar de cores sobre a opo pres-
sionada. Essa correspondncia refora a
relao entre o controlo remoto e a imediata
resposta do sistema, que por sua vez ajudam
o seu utilizador a compreender a aplicao
691 COMUNICAO AUDIOVISUAL
e a aprender com as suas aces. No ser
totalmente despropositado colocar mesmo
uma espcie de histrico de botes pressi-
onados, tal como ser bastante vantajoso (mas
depender sempre do tipo de projecto em
questo) representar de alguma forma no ecr
o boto pressionado. Dado que a aplicao
interactiva concorre com a emisso normal
da televiso pela ateno do espectador e a
sua compreenso, estas animaes e feedback
das aces do utilizador ajudam ao processo.
Mas por outro lado, quando demasiado
intrusivas, e sobretudo se
b) o espectador no estiver interessado
no contedo ou servio que oferecem, po-
dem ser irritantes, acabando por alienar o seu
pblico. Um mecanismo de temporizao que
automaticamente desactive essas funes deve
por isso ser tido em conta.
Oferecer formas simples de lidar com
erros. Idealmente dever-se-ia eliminar qual-
quer possibilidade deles existirem, mas tal
tarefa quando muito apenas pode ser levada
a bom termo ao nvel tcnico. Haver sem-
pre erros na compreenso e manuseamento
do sistema por parte do utilizador, por mais
simples e bvia que esta seja. E dado que
se trata de uma audincia pouco habituada
a lidar com erros, devem ser criados meca-
nismos de os ultrapassar ou anular.
Possibilidade de voltar atrs. Este aspec-
to prende-se muito com o ponto anterior. Para
qualquer aco que o utilizador possa desen-
cadear, a este deve-lhe ser sempre possibi-
litado o voltar atrs, tenha essa aco sido
um erro ou uma opo intencional. Opes
de navegao como undo, back e
forward ajudam os utilizadores a navegar
e a anular erros. A sua importncia aumenta
com a complexidade da aplicao em si. Se
tratar de um servio como o EPG, que mostra
uma listagem de programas e permite ao
utilizador aceder a um deles clicando sobre
ele, deveria haver a possibilidade de retornar
ao ltimo ecr do EPG mesmo depois de o
utilizador entrar no programa por si esco-
lhido, sem ter que reiniciar o EPG do seu
ecr inicial.
Transparncia: a capacidade de o
utilizador usar a ferramenta sem pensar nela
ou sequer olhar para ela. O utilizador de iTV
dever estar to vontade com o seu con-
trolo remoto e as opes que lhe so dadas
que no deveria ter necessidade de parar para
pensar no que lhe pedido ou proposto, ou
ter de olhar para o objecto que tem na mo
procura do boto A ou B. Este conceito
pode ser descrito com termos to caros ao
HCI como familiaridade, generalizao
consistncia, aprendizagem, relevncia,
eficincia ou atitude, etc.
Existem obviamente diferenas entre o
que se aprendeu com a Web e este novo meio,
pelo que os prprios especialistas de avali-
ao da utilizao de interfaces no podem
simplesmente transitar os seus conhecimen-
tos sem primeiro os modificar para englobar
os novos objectivos que se pretendem alcan-
ar. Nesse sentido, o estudo da usabilidade
para televiso interactiva deve ter em aten-
o outros elementos como o uso do remoto
e do teclado, inclusive o passar destes entre
indivduos, as mudanas de ateno que
ocorrem entre o televisor e o remoto (e
teclado), os comentrios dos intervenientes
activos no processo sobre as opes dispo-
nveis e a sua interaco com essas opes
e as interaces que se desenvolvem entre
si, alm dos comentrios comparativos entre
o que esto a utilizar e outras tecnologias,
nomeadamente atravs da nomenclatura que
utilizam para descrever funes e contedos.
Tendo em conta as especificidades
identificadas anteriormente na iTV, um es-
tudo de usabilidade em iTV levado a cabo
num laboratrio montado para o efeito de-
ver ter em conta as seguintes caractersticas
(Pemberton-Griffiths, 2003):
Caractersticas fsicas da interaco:
dever ser criada a distncia tpica a que o
telespectador v televiso, num ambiente
tradicionalmente relaxado e confortvel. Dado
que nesta plataforma, ao contrrio da Web,
muita da informao mais importante
apresentada na forma de udio, o espao em
que os testes de avaliao so realizados deve
captar todos os sons produzidos pela apli-
cao e pelos indivduos que esto a ser
observados no teste, alm de vistas claras dos
interfaces utilizados e respectivos perifricos
(controlo remoto mais teclado se for caso
disso).
Alguns estudos apontam que as mais
relevantes descobertas na utilizao de apli-
caes de iTV resultam de co-descobertas,
onde vrias pessoas que partilham laos de
692 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
amizade ou famlia se ajudam mutuamente
num processo de pensar em voz alta, e que
deve ser documentado na avaliao da apli-
cao.
Mltiplos canais de informao a cor-
rerem sobre o mesmo aparelho: a diviso
cognitiva que os utilizadores fazem entre o
stream normal da programao e a pea
interactiva a que acabam de aceder deve ser
levada em conta. Tradicionalmente, esta
diviso reflecte-se na disposio dos objec-
tos ao longo do layout apresentado, onde se
reserva normalmente uma rea para a colo-
cao do objecto tv. No entanto, por ques-
tes de facilidade, este objecto quase sempre
representado por uma imagem esttica du-
rante as fases de teste, pelo que o compor-
tamento do utilizador final poder ser bas-
tante diferente da presenciada no laboratrio.
A natureza embebida dos servios
interactivos: a interactividade de um progra-
ma no pode ser dissociada deste, pelo que
nos testes de usabilidade levados a cabo no
se pode ignorar o facto de que se o programa
no for convidativo, dificilmente algum
aceder parte interactiva do mesmo, ao
contrrio do que se passa no laboratrio, onde
o utilizador sabe partida que deve e tem
de participar no processo. Da mesma forma,
necessrio ter em conta que o f incon-
dicional de uma qualquer srie ou programa
sujeitar-se- a um nvel de interactividade que
outros utilizadores optaro por ignorar.
Aspectos relacionados com a transmis-
so do programa: embora certos servios
possam ser testados com maior fidelidade sem
qualquer dependncia altura exacta em que
sero disponibilizados, outros esto fortemen-
te ligados com o momento em que vo para
o ar. impossvel testar com toda a segu-
rana um servio que depende da motivao
do utilizador, quando esse depende por sua
vez do momento real da sua exibio na
televiso. Poder-se- testar e apresentar
cenrios de uma aplicao interactiva a ser
desenvolvida para uma final de um campe-
onato europeu de futebol, mas apenas no dia
deste jogo todas as condies que motivam
os utilizadores do programa estaro reuni-
das, com a dificuldade acrescida de que
impossvel repetir o evento. O exemplo mais
ilustrativo desta situao prende-se com a
interactividade dependente do tempo-real. S
durante a sua aplicao real que esta poder
ser devidamente estudada e avaliada, pois as
reaces do individuo sero bastante mais
genunas e menos foradas do que quando
em laboratrio instrudo que faa isto e
aquilo com antecedncia. Quando o tipo de
usabilidade a testar no depende do momen-
to da sua transmisso, pode-se recorrer a
prottipos para simular a interactividade.
Estes podem ser prottipos em papel, que
se debruam sobre elementos relacionados
com tarefas, e onde a fidelidade com o
produto final no tem que ser a mais precisa,
ou prottipos funcionais, recorrendo a apli-
caes como o Powerpoint ou o Director.
Apesar das vantagens acrescidas de utilizar
uma aplicao funcional mais prxima da
aplicao final, com alguns custos adicionais
em relao ao prottipo em papel nomeada-
mente no custo de execuo e elaborao,
mas mesmo assim inferiores ao produto
acabado, necessrio ter em ateno que este
prottipo pode funcionar melhor que a apli-
cao interactiva, pelo que pausas e demoras
na apresentao de contedos devem ser tidas
em conta e adicionados ao prottipo.
A televiso no obrigatria: como j
foi dito anteriormente, a nossa atitude para
com a tv influencia a nossa relao. Enquan-
to no pc estamos habituados a realizar ta-
refas conotadas como trabalho, motivo pelo
qual nos sujeitamos a determinado tipo de
situaes sem sequer as questionarmos, essa
atitude inexistente actualmente na sala de
estar frente ao televisor. Por esse motivo,
necessrio repensar a estratgia de definir x
tarefas ao utilizador do sistema de iTV
quando este entra no laboratrio para testes,
sobre risco mais uma vez das operaes e
comportamentos ai observados em nada se
assemelharem realidade, j que a vontade
de perseverana do utilizador est partida
condicionada pelo contexto em que se en-
contra.
Caractersticas sociais da interaco: este
ser o aspecto mais complexo de reproduzir
num laboratrio de iTV, j que as situaes
em que os telespectadores assistem a pro-
gramas de televiso na companhia de pes-
soas desconhecidas so bastante reduzidas e
pontuais, e normalmente ocorrem em lugares
pblicos nos quais no possuem qualquer
possibilidade de domnio sobre o processo
693 COMUNICAO AUDIOVISUAL
de interactividade. Quando no assistem
sozinhos, esto normalmente rodeados de
amigos ou familiares, motivo pelo qual os
testes de usabilidade devem tentar reproduzir
essas relaes em laboratrio. As pessoas tm
tendncia a realizar outras aces enquanto
vm tv, aces essas que podem depender
de quem lhes faz companhia nesse momento.
Tambm dependendo da presena especfica
que quem as acompanha, possvel assistir
a diferenas no tipo de interactividade de
desencadeado: os gneros de contedos a que
se acede ou quem possui o domnio sobre
o controlo remoto.
Na escolha dos elementos que compem
estes grupos de teste, tambm devem ser
levadas em conta as suas experincias e
atitudes para com outras tecnologias, como
os telemveis e a internet. Caractersticas
econmicas: finalmente, quem paga a
interactividade tambm a influencia. Os
resultados obtidos em laboratrio podero ser
bastante diferentes daqueles que os
utilizadores finais realizam em casa, onde o
custo da interactividade lhes retirado da
sua conta bancria, ao contrrio de ser
suportado pela empresa que realiza os testes.
4 Concluso
As tcnicas de observao tornaram-se
ferramentas base na avaliao da usabilidade
de sistemas interactivos, pelo que no de
estranhar que estas mesmas sejam utilizadas
aplicadas iTV quando esta comea a incor-
porar os mesmos elementos interactivos da
Web. Numa indstria como a de broadcast,
habituada aos seus prprios testes de
usabilidade baseados nos ratings dos pro-
gramas, o estudo da relao do telespectador
com o seu televisor preenche uma lacuna
anteriormente marginalizada. O novo desafio
que se coloca sobre o produtor de contedos
de iTV obriga-o a ir alm dos tradicionais
questionrios e sondagens sobre a aceitao
de um programa, para o estudo detalhado das
interaces que ocorrem entre o telespectador,
o televisor e o ambiente em que essa relao
consumada. No basta saber se o indivduo
v o canal A ou B, ou se v o que gosta ou
apenas o que est a ser difundido naquele
momento: preciso saber se ele compreende
a interactividade que lhe apresentada e se
faz uso dela ou no. Questes como avaliar
se o controlo remoto que fornecido ao
utilizador responde s suas necessidades ou
se demasiado esotrico para dele tirar al-
guma vantagem, constituem uma das reas de
investigao actual. No podemos no entanto
esquecer, que mais do que este ou aquele
medium, o que est em causa uma expe-
rincia subjectiva que determina em ltima
instncia o sucesso ou insucesso de cada nova
inovao tecnolgica que introduzida.
694 ACTAS DO III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBRICO Volume I
Bibliografia
Nielsen, Jakob, Usability Engineering,
Academic Press, 1993.
Pemberton, L. & Griffiths, R.N.,
Usability Evaluation Techniques For
Interactive Television, in HCI International
Conference 2003,Crete, 22-27 June.
Olsson, Charlotte, To measure or not to
measure: why web usability is different from
tradicional usability, in Proceedings of
WebNet 2000, Association for the
Advancement of Computing in Education,
Charlottesville, VA.
Krebs, P., Kindshi, C., Hammerquist,
J., Building interactive Entertainment and E-
Commerce Content for Microsoft TV,
Microsoft Press, 2000.
Schneiderman, B., Designing
information-abundant web sites: issues and
recommendations, International Journal of
Human-Computer Studies. No. 47, (1997).
Laskowski, S., Downey, L., L.,
Evaluation in the Trenches: Towards Rapid
Evaluation, in Proceedings of ACM
Conference on Human Factors in Computing
Systems, CHI97, 1997.
_______________________________
1
Departamento de Cincias da Comunicao,
Artes e Tecnologias da Informao - Universida-
de Lusfona de Humanidades e Tecnologias.
Vous aimerez peut-être aussi
- Actas Do III Sopcom, VI Lusocom e II Ibérico VOL 4Document736 pagesActas Do III Sopcom, VI Lusocom e II Ibérico VOL 4bytnick100% (2)
- Actas Vol 4Document736 pagesActas Vol 4Thiago CardosoPas encore d'évaluation
- 20110829-Actas - Vol - 4 Campos Da ComunicaçãoDocument734 pages20110829-Actas - Vol - 4 Campos Da ComunicaçãoDomingos Bezerra Lima FilhoPas encore d'évaluation
- Xii EpecomDocument1 011 pagesXii EpecomFerdtol CharberPas encore d'évaluation
- Luíz Eduardo Achutti - FotoetnografiaDocument113 pagesLuíz Eduardo Achutti - Fotoetnografialuacheia100% (2)
- Dinâmica Da Espiral - PreviewDocument49 pagesDinâmica Da Espiral - PreviewClaudianaMontenegroPas encore d'évaluation
- SANTAELLA, Lucia. Culturas e Artes Do Pós-Humano - OCRDocument180 pagesSANTAELLA, Lucia. Culturas e Artes Do Pós-Humano - OCRppgas fachPas encore d'évaluation
- Dossie Filme de Arquivo - Doc13Document319 pagesDossie Filme de Arquivo - Doc13Isabel ÁvilaPas encore d'évaluation
- José Alencar Diniz - A Recriação Dos Gêneros Eletrônicos Analógico-Digitais Radionovela, Telenovela e WebnovelaDocument255 pagesJosé Alencar Diniz - A Recriação Dos Gêneros Eletrônicos Analógico-Digitais Radionovela, Telenovela e WebnovelaEstefania AriasPas encore d'évaluation
- E-Book Narrativas AudiovisuaisDocument122 pagesE-Book Narrativas AudiovisuaisRONDINELE RIBEIROPas encore d'évaluation
- A Tela Global (Lipovetsky)Document165 pagesA Tela Global (Lipovetsky)lauragiordanimarquesPas encore d'évaluation
- BEVERNAGE, Berber. História, Memória e Violência de EstadoDocument175 pagesBEVERNAGE, Berber. História, Memória e Violência de EstadoWeslley GraperPas encore d'évaluation
- Sergio Henrique Carvalho Vilaca PDFDocument199 pagesSergio Henrique Carvalho Vilaca PDFLeticia de OliveiraPas encore d'évaluation
- Ensino de Historia Midias e TecnologiasDocument534 pagesEnsino de Historia Midias e TecnologiasgersoneunimPas encore d'évaluation
- Tese Maria Elizabeth MarquesDocument338 pagesTese Maria Elizabeth MarquesFernando PensadorPas encore d'évaluation
- Ecossistema JornalisticoDocument367 pagesEcossistema JornalisticoDenis RenoPas encore d'évaluation
- Cenas AudiovisuaisDocument473 pagesCenas AudiovisuaisDenis RenoPas encore d'évaluation
- Vitor Aguiar e Silva A Poetica CintilacaDocument195 pagesVitor Aguiar e Silva A Poetica Cintilacaservilio Vieira branco100% (1)
- LE GOFF - Documento - MonumentoDocument9 pagesLE GOFF - Documento - Monumentofernanda fehPas encore d'évaluation
- 2016 Livro Digital-Pesquisa em Comunicação Na América LatinaDocument636 pages2016 Livro Digital-Pesquisa em Comunicação Na América LatinaSandra MelēndezPas encore d'évaluation
- Revista GEMInIS - Ano 1 - N. 1 - Jul./dez. 2010Document351 pagesRevista GEMInIS - Ano 1 - N. 1 - Jul./dez. 2010Revista GEMInISPas encore d'évaluation
- Anais - XII Cong - Bras.Psicomotricidade PDFDocument144 pagesAnais - XII Cong - Bras.Psicomotricidade PDFFábio Efe100% (2)
- EoradioDocument647 pagesEoradioMarcos Paulo FurlanPas encore d'évaluation
- Anuario OBITELDocument556 pagesAnuario OBITELlucilabntPas encore d'évaluation
- ICCI Vol 2Document554 pagesICCI Vol 2JamerPas encore d'évaluation
- Cadernos de Resumos VI PainelDocument28 pagesCadernos de Resumos VI PainelJosé ErnestoPas encore d'évaluation
- Cadeia Do LimoeiroDocument152 pagesCadeia Do LimoeiroAnonymous xvEXgpxKPas encore d'évaluation
- Anais 2012Document306 pagesAnais 2012Natania NogueiraPas encore d'évaluation
- A Luz No CinemaDocument210 pagesA Luz No CinemaqueziamariaPas encore d'évaluation
- 30 PRIMEIRAS PÁGINAS - A Tela GlobalDocument29 pages30 PRIMEIRAS PÁGINAS - A Tela GlobalLucasPas encore d'évaluation
- Arte Que Inventa Afetos - Deisimer Gorczevski (Organizadora)Document377 pagesArte Que Inventa Afetos - Deisimer Gorczevski (Organizadora)Rafael Silveira100% (1)
- Inteligencia Artificial e A Aplicabilidade Pratica Web 2022-03-11Document368 pagesInteligencia Artificial e A Aplicabilidade Pratica Web 2022-03-11Amanda CPas encore d'évaluation
- Freitas. D.M.DDocument110 pagesFreitas. D.M.Daryelle.limaPas encore d'évaluation
- Povos Indígenas e SustentabilidadeDocument212 pagesPovos Indígenas e Sustentabilidadeatma12Pas encore d'évaluation
- As Humanidades Greco-Latinas e A Civilização Do Universal PDFDocument681 pagesAs Humanidades Greco-Latinas e A Civilização Do Universal PDFJosivaldo Gonçalves do NascimentoPas encore d'évaluation
- Todas As Artes Todos Os NomesDocument537 pagesTodas As Artes Todos Os NomesVenine VentaniaPas encore d'évaluation
- II&IIIDocument365 pagesII&IIIPaula PaschoalickPas encore d'évaluation
- DILMAR SANTOS DE MIRANDA - Historia Da Arte 1Document147 pagesDILMAR SANTOS DE MIRANDA - Historia Da Arte 1Alan Emmanuel Oliveira dos SantosPas encore d'évaluation
- Ecologia de Justicas Sul e NorteDocument564 pagesEcologia de Justicas Sul e NorteFernanda Costa da SilvaPas encore d'évaluation
- 1009621Document17 pages1009621Yan RibeiroPas encore d'évaluation
- GARCIA 2008 - Poeticas - Do - InsolitoDocument31 pagesGARCIA 2008 - Poeticas - Do - InsolitoKelly BarrosPas encore d'évaluation
- 2020 Livro Cibernética Jurídica Estudos Sobre Direito Digital ClaudioDocument293 pages2020 Livro Cibernética Jurídica Estudos Sobre Direito Digital ClaudioAdalberto Fraga Veríssimo JuniorPas encore d'évaluation
- Dinamica Da EspiralDocument546 pagesDinamica Da EspiralCarlos SiquPas encore d'évaluation
- Apostila De DendrologiaD'EverandApostila De DendrologiaPas encore d'évaluation
- Geografia E Ensino:D'EverandGeografia E Ensino:Pas encore d'évaluation
- Analise Grafotécnica Para IniciantesD'EverandAnalise Grafotécnica Para IniciantesÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (2)
- A Desescolarização Da SociedadeDocument36 pagesA Desescolarização Da SociedadeAmandaMorais30100% (1)
- Amêndoas - AmendoeiraDocument2 pagesAmêndoas - AmendoeiraRac A BruxaPas encore d'évaluation
- FII Alianza Renda RelatorioGerencial 2022 08 AgostoDocument15 pagesFII Alianza Renda RelatorioGerencial 2022 08 AgostoRenan Dantas SantosPas encore d'évaluation
- Manual de CondutaDocument6 pagesManual de CondutaCheirin BãoPas encore d'évaluation
- A Agenda Do LíderDocument2 pagesA Agenda Do Líderdani3d12Pas encore d'évaluation
- MANUAL Boulevard M800 2009Document37 pagesMANUAL Boulevard M800 2009Arthur Demah Bardos71% (21)
- Trombone InscricaoDocument2 pagesTrombone InscricaoAntónio BravoPas encore d'évaluation
- Projeto de Intervenção NPT 037 - PRDocument90 pagesProjeto de Intervenção NPT 037 - PRives barPas encore d'évaluation
- DicasCAD Arq Roberta VendraminiDocument25 pagesDicasCAD Arq Roberta VendraminiwalacefabPas encore d'évaluation
- 1 PROVA Shdias-2015-Secretario EscolaDocument8 pages1 PROVA Shdias-2015-Secretario EscolaIsabele SakuraPas encore d'évaluation
- CoelhosDocument4 pagesCoelhosLuiza MedeirosPas encore d'évaluation
- Yam Guia Alimentacao Consciente 10 Passos Plant BasedDocument18 pagesYam Guia Alimentacao Consciente 10 Passos Plant BasedVivian RodriguesPas encore d'évaluation
- Faculdade Da Aldeia de Carapicuíba - TCC KarlaDocument16 pagesFaculdade Da Aldeia de Carapicuíba - TCC KarlaKarla Cristina AlvesPas encore d'évaluation
- 樓宇內使用第三類液體燃料之儲存設施及輸送網Document7 pages樓宇內使用第三類液體燃料之儲存設施及輸送網Raymond Man PTMEPas encore d'évaluation
- Como Obter o Índice Radiônico de Uma Pessoa Ou Animal Usando Uma Máquina Radiônica SimplesDocument8 pagesComo Obter o Índice Radiônico de Uma Pessoa Ou Animal Usando Uma Máquina Radiônica Simplescmidsa100% (1)
- Raízes Mag N.º 2Document63 pagesRaízes Mag N.º 2Clara GageiroPas encore d'évaluation
- Prova 5S 1ºB 2010Document2 pagesProva 5S 1ºB 2010SandraGehardt100% (8)
- Colheitadeira New HollandDocument56 pagesColheitadeira New HollandALEXANDRE F VOLTAPas encore d'évaluation
- Fundamentos para ComputaçãoDocument16 pagesFundamentos para ComputaçãoMarcela CardinalPas encore d'évaluation
- Dimensionamento de Pavimento FlexívelDocument21 pagesDimensionamento de Pavimento FlexívelRamonPas encore d'évaluation
- Ponte SalinaDocument3 pagesPonte SalinaoliveiraferreiraPas encore d'évaluation
- 16 55 30 ApostilaDocument24 pages16 55 30 ApostilaElaine Cristina SilvaPas encore d'évaluation
- Tabela Tamanhos de UniformesDocument1 pageTabela Tamanhos de UniformesFabioRibeiroMarianoPas encore d'évaluation
- Gabarito - Lista de Exercícios - Validação de Métodos AnalíticosDocument15 pagesGabarito - Lista de Exercícios - Validação de Métodos AnalíticosPamella RobertaPas encore d'évaluation
- 02 - Mulher Que Faz Sexo Casual Não PrestaDocument14 pages02 - Mulher Que Faz Sexo Casual Não PrestaADC, desde 1936.Pas encore d'évaluation
- Ciencias 8anoDocument26 pagesCiencias 8anoSusana FradePas encore d'évaluation
- Cifras EspiritasDocument152 pagesCifras EspiritasJoaquim Teles de FariaPas encore d'évaluation
- 3206 4805 1 PBDocument7 pages3206 4805 1 PBRafael Baldo BorsoiPas encore d'évaluation
- Apostila Segurança de Dignatários - BOADocument117 pagesApostila Segurança de Dignatários - BOAalessandro100% (4)
- Progressão Aritimética - Aula MatemáticaDocument5 pagesProgressão Aritimética - Aula MatemáticaLuiza Mirele Alves Oliveira MotaPas encore d'évaluation