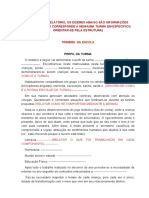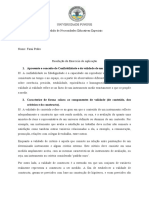Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Economia Dos Setores Populares
Transféré par
Willie Malavolta E SilvaCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Economia Dos Setores Populares
Transféré par
Willie Malavolta E SilvaDroits d'auteur :
Formats disponibles
1
Economia dos
Setores Populares:
Sustentabilidade e
Estratgias de Formao
Gabriel Kraychete
Katia Aguiar
(Orgs.)
OI OS
E D I T O R A
2007
2
CAPINA
Rua Evaristo de Veiga, 16
Sala 1601
20031-040 Rio de Janeiro/RJ
Colaboradores: Ada Bezerra, Jos Luis Coraggio, Francisco C. de
Oliveira, Marcos Arruda, Dbora Nunes e Inai Carvalho
Capa: Angela Santibanez e Eric Robert
Arte-finalizao: Jair de Oliveira Carlos
Impresso: Con-Texto Grfica e Editora
Editora Oikos Ltda.
Rua Paran, 240 B. Scharlau
Caixa Postal 1081
93121-970 So Leopoldo/RS
Tel.: (51) 3568.2848 / Fax: 3568.7965
www.oikoseditora.com.br
contato@oikoseditora.com.br
Economia dos setores populares: sustentabilidade e es-
tratgias de formao / Organizadores: Gabriel
Kraychete, Katia Aguiar. So Leopoldo: Oikos, 2007.
176 p.
ISBN 978-85-89732-72-7
1. Economia solidria Sustentabilidade. 2. Eco-
nomia Setor popular. 3. Educao popular. I. Ttulo.
II. Kraychete, Gabriel. III. Aguiar, Ktia.
CDU 334.7
E19
Catalogao na Publicao:
Bibliotecria Eliete Mari Doncato Brasil CRB 10/1184
3
O problema no afirmar
o fim do trabalho nem, ao contrrio,
anunciar que todo mundo trabalha,
mas mudar os princpios de avaliao,
modificar a maneira de conceber
o valor do valor(...).
Maurizio Lazzarato
sobre esses aspectos que
nossa anlise se deter sobre
essa novidade, que transforma
a teoria do valor a partir de baixo
a partir da vida.
Antnio Negri
4
5
Sumrio
Apresentao Gabriel Kraychete ............................................... 7
Introduo Ricardo Costa e Gabriel Kraychete ......................... 9
Educao Popular e Economia dos Setores Populares:
preocupaes e indagaes Ada Bezerra ............................ 19
Economia popular solidria: sustentabilidade e transformao
social Gabriel Kraychete............................................................ 32
Questes debatidas Gabriel Kraychete ................................. 61
Sustentabilidade e luta contra-hegemnica no campo da
economia solidria Jos Luis Coraggio...................................... 67
Questes debatidas Jos Luis Coraggio ................................ 90
Anlises divergentes ou complementares?
Francisco Jos C. de Oliveira ..................................................... 100
Economia dos Setores Populares: modos de gesto e
estratgias de formao Katia Aguiar........................................ 106
Estratgias de formao no campo da economia dos setores
populares Marcos Arruda.......................................................... 122
Formao: um outro mundo possvel e est em construo
Dbora Nunes ............................................................................ 161
Destacando algumas questes Inai Maria M. de Carvalho .... 170
Sobre os autores ........................................................................... 175
6
7
Apresentao
Os textos que compem este livro se originaram do seminrio
Economia dos setores populares: sustentabilidade e estratgias de
formao, realizado entre os dias 5 e 6 de dezembro de 2006, na
Universidade Catlica do Salvador UCSAL. Alguns textos foram
previamente preparados para subsidiar as discusses e foram revistos
pelos seus autores; os demais, resultaram de intervenes que foram
gravadas, transcritas, submetidas aos respectivos autores e includas
sob essa forma no livro.
A organizao do seminrio foi uma iniciativa da Cooperao
e Apoio a Projetos de Inspirao Alternativa CAPINA e do Ncleo
de Estudos do Trabalho/Mestrado em Polticas Sociais e Cidadania
da UCSAL, com o apoio da Secretaria do Desenvolvimento Territorial
do Ministrio do Desenvolvimento Agrrio MDA e da Coordenadoria
Ecumnica de Servios CESE.
A idia de um encontro semelhante vinha sendo acalentada
desde 2003, quando a CAPINA e a UCSAL passaram a realizar o curso
de extenso em Viabilidade econmica e gesto democrtica de
empreendimentos associativos. Ocorreram seis edies deste curso,
com a participao de 149 pessoas, de 16 estados, todas integrantes
ou assessoras de empreendimentos da economia dos setores
populares. Foram elas que inspiraram e incentivaram a realizao
deste seminrio.
Segundo a programao, os trabalhos ficaram divididos em dois
blocos: Sustentabilidade dos empreendimentos associativos e
Estratgias de formao na economia dos setores populares. Aps a
apresentao dos palestrantes e os debates em plenria, concernentes
a cada um destes blocos, o aprofundamento e a sistematizao de
8
questes foram realizados em grupos e seus resultados socializados.
Durante aqueles dois dias, representantes de organizaes eco-
nmicas populares, tcnicos de ONGs, de rgos governamentais,
estudantes e professores participaram, com vivo interesse, das ses-
ses do seminrio. A estas pessoas dirigimos, em primeiro lugar, os
nossos agradecimentos. E, alm da alegria do reencontro, agradece-
mos tambm a participao no seminrio de vrios ex-alunos dos
cursos de Viabilidade econmica e gesto democrtica de empreen-
dimentos associativos, procedentes de todas as regies do pas.
A equipe de coordenao do curso Ada Bezerra, Gabriel
Kraychete, Katia Aguiar e Ricardo Costa assumiu a responsabilidade
da realizao do seminrio. No mbito do Mestrado em Polticas
Sociais e Cidadania/Ncleo de Estudos do Trabalho da UCSAL, as
professoras ngela Borges e Elsa Sousa Kraychete tambm
participaram dos trabalhos para a realizao do seminrio, cuja
organizao contou com a dedicao de Anne Guiomar e Francisco
Mariano colaboradores do NET-UCSAL e da CAPINA , alm do
apoio de Camille Argolo, Camila Veloso e Patrcia Simes, estagirias
do programa de pesquisa e extenso Economia dos setores populares
da UCSAL.
Somos gratos, especialmente, professora Marize Marques, que,
de forma generosa, aceitou realizar a reviso final dos textos.
Por fim, agradecemos a confiana e o apoio da CESE e da Se-
cretaria de Desenvolvimento Territorial do MDA que viabilizaram a
realizao do evento; e, igualmente, reiteramos os nossos agradeci-
mentos Superintendncia de Pesquisa e Ps-Graduao da UCSAL
pelo amplo apoio oferecido.
Gabriel Kraychete
9
Introduo
Ricardo Costa
Gabriel Kraychete
Em novembro de 1999, quando o tema da economia solidria
no tinha a visibilidade de hoje, a CAPINA, a UCSAL, a CESE e o
CEADE organizaram o seminrio Economia dos setores populares:
entre a realidade e a utopia. Nessa oportunidade, reuniram-se, de
forma pioneira, os principais agentes, as instituies e os pesquisa-
dores vinculados ao tema emergente.
Tnhamos, ento, por objetivo debater propostas e conceitos
concernentes economia dos setores populares e as suas perspecti-
vas face aos processos de excluso social. O que almejvamos era ir
alm dos encontros para a troca de experincias, mais comuns po-
ca, e projetar a reflexo sobre as potencialidades, os impasses e os
desafios construo de empreendimentos econmicos populares
ancorados na cooperao e na busca da eficincia atravs de proces-
sos democrticos e solidrios.
A extensa e fecunda multiplicidade de aes ocorridas em di-
ferentes espaos organizaes econmicas populares, entidades de
apoio e fomento, universidades, instncias governamentais etc ao
longo desses ltimos sete anos, remodelaram e renovaram os cenrios
e abriram novas interrogaes e desafios.
Se grande a vitalidade poltica do movimento da economia
solidria, indicando mudanas nesse percurso, os seus empreendi-
mentos, quando observados de perto, apresentam grandes dificulda-
des e fragilidades ainda pouco analisadas e situam-se, por razes
histricas, num contexto reconhecidamente adverso. Assim, se no
10
seminrio anterior discutamos a economia dos setores populares,
entre a realidade e a utopia, neste, os debates deslocaram-se para a
sustentabilidade e as estratgias de formao.
Porm, convm um esclarecimento conceitual. A exemplo do
seminrio anterior, mantivemos, neste, a denominao Economia dos
setores populares. Isto porque acreditamos que, num pas como o
Brasil, preciso indagar sobre a situao de milhes de pessoas que
vivem de ocupaes precrias que, em seu conjunto, envolvem mais
de 55% da populao ocupada. Neste cenrio, qual a perspectiva
dos 8,2 milhes de desempregados e do contingente de mais de 1
milho de pessoas que ingressam no mercado de trabalho a cada
ano? Se verdade que o emprego assalariado regular uma possibi-
lidade cada vez mais remota e se o discurso da empregabilidade se
constitui numa miragem, o futuro dessas pessoas, agora, seria a cha-
mada economia solidria, entendida como empreendimentos asso-
ciativos?
Nestes termos, designamos por economia dos setores popula-
res as atividades que possuem uma racionalidade econmica anco-
rada na gerao de recursos (monetrios ou no) destinados a prover
e repor os meios de vida, e na utilizao de recursos humanos pr-
prios, agregando, portanto, unidades de trabalho e no de inverso
de capital. No mbito dessa economia dos setores populares, convi-
vem tanto as atividades realizadas de forma individual ou familiar
como as diferentes modalidades de trabalho associativo a inclu-
dos os empreendimentos da chamada economia solidria. Essa de-
signao pretende, assim, expressar um conjunto heterogneo de ati-
vidades, tal como elas existem, sem idealizar os diferentes valores e
prticas que lhe so concernentes. Portanto, no se trata de adjetivar
esta economia, mas de reconhecer que os atores nela inscritos so
vinculados principalmente aos setores populares.
Os textos contidos neste livro refletem o esforo de anlise para
captar as novas questes que emergem da prtica social vigente, e
apontam para novas pistas e sentidos capazes de responder aos de-
11
safios do presente. Com o risco de simplificar a riqueza dos conte-
dos abordados, destacaramos algumas questes que permeiam os
diferentes textos. Quais as principais caractersticas dos empreendi-
mentos da economia popular solidria, tal como eles existem hoje?
A anlise destas caractersticas permite quais concluses? O que se
entende por sustentabilidade dos empreendimentos da economia
popular solidria e quais os seus fatores condicionantes? Como cons-
truir estratgias de formao direcionadas para a sustentabilidade
destes empreendimentos? Numa realidade como a brasileira, quais
as perspectivas dos empreendimentos da economia solidria no
mbito de uma prtica social transformadora?
H uma convergncia entre os diferentes autores na compre-
enso de que a sustentabilidade dos referidos empreendimentos eco-
nmicos populares possui uma lgica peculiar. No podem ser ava-
liados nem projetados copiando ou tomando-se por referncia os cri-
trios de eficincia e planejamento tpicos empresa capitalista, como
indica Gabriel Kraychete no texto Economia popular solidria: sus-
tentabilidade e transformao social. No dizer de Coraggio em Sus-
tentabilidade e luta contra-hegemnica no campo da economia soli-
dria a sustentabilidade destes empreendimentos um problema
cultural, poltico e de valores. A sustentabilidade exige que o traba-
lho dos empreendimentos associativos seja valorizado socialmente,
no apenas do ponto de vista estritamente comercial, mas tambm
do ponto de vista cultural e ideolgico. Eles devem ser reconhecidos
e valorizados pela sociedade. No um tema tcnico e nem se resol-
ve com critrios tcnicos. No se reduz, portanto, garantia de que
os empreendimentos venham a obter receitas que sejam suficientes
para cobrir seus custos. Entre outros condicionantes, Coraggio assi-
nala que a sustentabilidade requer uma sociedade que apie estas
atividades e que as reconhea; requer um setor pblico que produza
bens pblicos e que tenha polticas pblicas orientadas nesse senti-
do; requer a auto-percepo e a subjetividade de que estamos fazen-
do histria e, no, que estejamos apenas sobrevivendo. Indica que o
12
desenvolvimento de uma economia social requer a captao de re-
cursos do modo de produo capitalista e isso no coisa que se
possa fazer sem poltica, e sim, com poder.
Gabriel tambm observa que, num horizonte mais amplo, a
sustentabilidade dos empreendimentos econmicos populares de-
pende, dentre outros fatores, de transformaes polticas, econmi-
cas e culturais. Nestes termos, a sustentabilidade dos empreendi-
mentos associativos no um problema estritamente econmico nem
se equaciona no curto prazo, mas pressupe aes polticas compro-
metidas com um processo de transformao social. O que est em
jogo no so aes pontuais e localizadas, mas intervenes pbli-
cas que, atravs do fortalecimento da cidadania, imponham direitos
sociais como princpios reguladores da economia.
Destas anlises, Katia Aguiar em Economia dos Setores Popu-
lares: modos de gesto e estratgias de formao infere que as
iniciativas de busca pela sustentabilidade dos empreendimentos
populares se inscrevem no tensionamento entre as foras de manu-
teno e conservao das condies que esto postas e as foras de
ruptura que procuram a transformao do existente.
Desenvolvendo uma anlise que considera as condies inter-
nas aos empreendimentos, o texto de Gabriel acrescenta que um pres-
suposto primordial sustentabilidade dos empreendimentos associ-
ativos que os seus integrantes conheam as condies necessrias
para que a atividade que desenvolvem, ou pretendam implementar,
tenha maior chance de xito. E, se isto verdade, conclui que um
instrumento essencial a ser utilizado o estudo de viabilidade ade-
quado lgica peculiar de funcionamento destes empreendimentos.
Tomando por referncia a experincia das atividades de for-
mao realizadas pela CAPINA, Gabriel indica que o estudo de via-
bilidade constitui-se num processo de aprendizado de todos os par-
ticipantes do empreendimento direcionado para o conhecimento de
todos os aspectos da atividade que realizam. um dispositivo que
instiga os integrantes do grupo a refletir sobre a organizao e o pro-
13
cesso de trabalho, sobre o que cabe a cada um fazer e por que, sobre
as relaes de cada um com os outros e sobre as relaes com o seu
entorno seja a comunidade local, a famlia, o mercado, as entida-
des de apoio e fomento, o Estado e as diferentes esferas do governo.
Entendido desta forma, o estudo de viabilidade no se restringe aos
aspectos econmicos e tem um carter essencialmente poltico. As-
sim, o que se pretende com o estudo de viabilidade aumentar a
capacidade do grupo de intervir e influir na realidade em que se si-
tua.
Neste passo, aparecem as possveis contradies entre as an-
lises de Coraggio e Gabriel, indicadas por Francisco Jos de Oliveira
(Anlises divergentes ou complementares?). Para Coraggio, situar a
sustentabilidade apenas ao nvel micro irrelevante quando se tem
em vista um projeto de transformao. Porque, seno, estaramos
aplicando o critrio do chamado individualismo metodolgico, pelo
qual, se cada unidade eficiente e cada unidade se sustenta, ento o
todo vai se sustentar. E coloca a hiptese de que se no h um todo
que sustente as unidades, no h sustentabilidade.
Para Coraggio, a idia de que a pequena empresa solidria tem
que contabilizar todos os custos uma idia utpica. Isto algo que
no pode ser feito pelos pequenos empreendimentos porque os pre-
os, para o clculo dos custos e das receitas, esto mudando o tempo
todo e os pequenos empreendimentos no tm nenhuma capacidade
de fixar preos. Alm disso, conforme Coraggio, os estudos empri-
cos indicam que, mesmo quando aqueles empreendimentos realmen-
te fazem os clculos para registrar os resultados ou para poder ante-
cip-los, o que se constata que eles no calculam quase custo ne-
nhum. O que incluem no clculo so somente aqueles itens que eles
tm que comprar no mercado. Se for um empreendimento que est
alugando um local para funcionar, eles incluem esse aluguel em seus
clculos. Mas no calculam este custo se o empreendimento funcio-
na na prpria casa. Tambm no incluem o seu prprio trabalho,
porque no esto comprando a fora de trabalho no mercado. Do
14
ponto de vista das receitas, o que eles incluem s o que entra como
dinheiro. Mas se h autoconsumo, isto no entra na conta.
Oliveira entende que no h uma contradio entre os discur-
sos de Gabriel e Coraggio. Talvez tenha razo. Mas, certamente exis-
tem diferenas que instigam a nossa reflexo, e nos remetem para
novas formulaes e indagaes em busca de respostas cada vez mais
adequadas voltadas para a sustentabilidade dos empreendimentos
da economia popular solidria. Um dos mritos do seminrio que
deu origem ao presente livro foi exatamente esse: proporcionar o
desenvolvimento de um profcuo dilogo entre diferentes aborda-
gens, anlises, dvidas e hipteses. Este rico contedo tambm pode
ser percebido na leitura das questes debatidas aps cada exposio,
referentes aos temas do consumo tico e solidrio, cadeias produti-
vas, processos de capacitao etc.
Se o que buscamos no so apenas alternativas ao desempre-
go, mas o desenvolvimento de relaes de trabalho que sejam, ao
mesmo tempo, economicamente viveis e emancipadoras, como im-
plementar estratgias de formao adequadas sustentabilidade dos
empreendimentos da economia popular solidria?
Ada Bezerra, com sua extensa experincia em educao po-
pular, indica em Educao popular e economia dos setores popula-
res: preocupaes e indagaes que, no mbito da economia dos
setores populares, o campo da formao ainda recente. H muito a
pesquisar, experimentar e criar em termos de dispositivos de apoio
interveno pedaggica, pois a bagagem acumulada insuficiente e
ainda pouco socializada para o tamanho do desafio. Observa que,
para muitos de ns, a confiana no sucesso de um trabalho est na
escolha da metodologia e no uso de tcnicas aparentemente adequa-
das. Mas a educao no uma tcnica, um instrumento. No exis-
tem metodologias em prateleiras, completamente ajustadas aos nos-
sos empreendimentos educativos, nem manuais de receitas tcnicas
que garantam o resultado esperado.
Katia Aguiar enfatiza que no se trata de encontrar e aplicar o
15
melhor mtodo, mas de colocar em questo o processo de trabalho e
as condies nas quais ele acontece, incluindo sua organizao. O
maior ilusionismo que a crena no bom mtodo promove talvez seja
o de supor que as pessoas envolvidas nos processos de trabalho e de
conhecimento cheguem vazias e que se limitem a ser meras executo-
ras do que lhes exigido.
No caso da economia dos setores populares, assinala Ada, es-
tamos presentes num campo de atuao de proteo institucional
precria, no dispomos de um currculo como roteiro e o nosso p-
blico diverso e disperso. Temos que tecer nossa prpria rede de
apoio e depender de nossa capacidade de leitura e interpretao das
condies em que o nosso trabalho vai se desenvolver. Os espaos
de interveno se confundem: estamos, ao mesmo tempo, num cam-
po de aprendizagem e de luta.
Deparamo-nos, segundo Ada, com o desafio de inovar no cam-
po das prticas educativas vinculadas s transformaes na esfera
da economia que, em ltima anlise, devem traduzir-se em transfor-
maes polticas. Mas os processos que tentamos implementar so,
na maioria das vezes, de resultados inseguros. Os grupos deixam
aparecer todas as seqelas que o sistema produziu: a baixa escolari-
dade, os vcios das prticas de dominao, a falta de credibilidade
em seu prprio potencial, a fragilidade da experincia de associao/
organizao, as marcas da submisso etc. O ritmo com que esses
grupos se deslocam lento, e no poderia ser diferente. Mas pedem,
em nome da sobrevivncia, uma urgncia nos resultados de seu es-
foro.
Concretizar uma pedagogia que priorize o fortalecimento da
economia dos setores populares , exatamente, garantir uma pers-
pectiva de restabelecimento das conexes entre economia e poltica,
trabalho e gesto. O poder, sublinha Aida, sempre foi matria de
aprendizado e no h prtica educativa que no se situe como uma
prtica poltica.
Katia Aguiar, em lugar de tratar do problema da gesto, prope
16
um modo de colocar a gesto como problema. Indica que o entendi-
mento do que a gesto tem uma variabilidade bastante importante,
sendo fonte de interferncias nas relaes entre tcnicos e trabalha-
dores, entre os prprios trabalhadores e entre os tcnicos e as entida-
des de apoio e fomento. E no so raros os estranhamentos gerados
entre os prprios produtores quando a questo a organizao do
trabalho. Da a importncia de interrogarmos a atividade, a forma
como se organiza o trabalho, e essa a proposta quando, no estudo
de viabilidade, se faz o convite elaborao das questes associati-
vas.
Katia observa que a dimenso gestionria diz respeito s
condies do trabalho vivo, do trabalho real. Inclui as normas
produtivas, as relaes do trabalhador consigo mesmo, com os outros,
com os usos que faz de si suas aspiraes, desejos, crenas; ou,
poderamos dizer, sua tica. Desse modo, a tendncia ou dimenso
gestionria supe a indissociabilidade, num modo de produo, entre
subjetividade e poltica. Observa que podem ser criados dispositivos
que favoream processos de autogesto mas, a autogesto entendida
como tomada de poder no passvel de ser ensinada ou transmitida.
Ela eminentemente uma atitude de recusa e de insurgncia.
Nestes termos, Katia pondera que quando falamos de um es-
tudo apropriado realidade dos grupos e empreendimentos popula-
res estamos nos referindo construo de instrumentos que favore-
am a potencializao das prticas em sua dimenso inventiva e nos
afastando de um necessrio ajustamento tecnicista. Menos a repro-
duo de modelos do que o uso da tcnica como dispositivo, para
com ela, a partir dela e apesar dela, verificar seus efeitos, sempre
polticos.
Nesta mesma linha, Ada indica que o estudo de viabilidade
econmica e gesto democrtica, feito pelos participantes do grupo,
com o apoio do educador, na perspectiva colocada pela CAPINA,
um instrumento de muita riqueza pedaggica. Considerando o seu
carter processual, os associados tero oportunidade para deixar
17
claro o que eles j sabem e podem a respeito do que querem, a expe-
rincia que acumularam em trabalhos coletivos e, ao mesmo tempo,
vo descobrir o que ainda precisam saber e fazer para, concretamen-
te, emprestar sentido ao seu trabalho e abrir espao para as relaes
que justificam o seu pacto de convivncia. Trata-se de um processo
que no programtico. Ou seja, as situaes de aprendizagem e de
vivncia democrtica que surgem ao longo do processo no so pre-
visveis nem pelo educador nem pelos grupos. Desse confronto en-
tre saberes e no saberes diferentes, imaginrios e prticas sociais
diversificadas, emergem outros elementos que vo retemperar a sen-
sibilidade de todos, inclusive a do educador. essa resultante do
confronto que nos interessa, em termos educativos. Portanto, o cen-
tro das preocupaes no mais a emisso e recepo de mensa-
gens, mas sim, aquilo que podemos reinventar coletivamente a fim
de ampliar a nossa liberdade de ser e de estar no mundo.
Marcos Arruda em Estratgias de formao no campo da eco-
nomia dos setores populares desenvolve uma ampla anlise sobre
o processo de educao solidria, e o seu papel crucial para o desen-
volvimento de uma economia responsvel, plural, solidria e sus-
tentvel. Trata-se de ajudar o ser humano a tornar-se sujeito pleno
do seu prprio desenvolvimento, enquanto pessoa e coletividade.
Defende que a formao, enquanto Educao da Prxis, fator essen-
cial para a passagem do senso comum ao bom senso, da solidarie-
dade espontnea solidariedade consciente, da alienao relaciona-
da com o mundo das necessidades materiais ao reino da liberdade.
Esta educao forma uma trade indissocivel com o trabalho na es-
fera cotidiana, e a luta social, na esfera utpica.
A Educao da Prxis, ou caminho emancipador de formao
para os setores populares, diferencia-se da formao homogeiniza-
dora que o sistema do Capital promove. Assim como os sistemas so
antinmicos, as respectivas educaes tambm o so. Um coloca na
frma e treina para a competio, a predao e a cobia, o outro edu-
ca para a liberdade, para a autogesto, para a criatividade e para a
18
solidariedade consciente. Um treina para o pensamento nico. O
outro libera a mente e o esprito para apreender, pesquisar, observar
participativamente, criticar, recriar, num movimento de crescente
autopoiese, em que o outro meu indispensvel complemento, a
quem respeito e acolho como outro, e no como projeo de mim.
Dbora Nunes destaca em Formao: um outro mundo pos-
svel e est em construo a preocupao em associar o tema da
economia solidria a outros temas e movimentos sociais, particular-
mente o ambientalista. Constata que, embora a simpatia e o interes-
se pelo tema da economia solidria estejam crescendo, ainda algo
que se limita a determinados setores. Indica a necessidade de o mo-
vimento da economia solidria interagir com outros movimentos, e
prope que associemos a discusso de uma nova forma de produo
questo do consumo consciente e da responsabilidade que cada
indivduo no planeta tem com relao a esse problema global a
questo ambiental causado pelo modo de produo capitalista. E
Dbora ainda nos interpela sobre a necessidade de estratgias de for-
mao que, sem se restringir a um modelo, sejam capazes de dar
conta de uma poltica nacional de formao em economia solidria.
Inai Carvalho Destacando algumas questes desenvolve,
de forma primorosa, a reflexo que lhe foi solicitada como atividade
de encerramento do seminrio, e nos estimula a refletir no apenas
sobre as indagaes que ficaram, contextualizando-as, mas tambm
sobre as que ela mesma foi se fazendo no percurso. Deixamos ao
leitor o exame destas indagaes, esperando que a leitura dos textos
aqui contidos seja um caminho vivo e palpitante, atravs do qual as
respostas e as indagaes fluam, se elucidem e se refaam, compon-
do uma prtica educativa transformadora, voltada para a economia
dos setores populares.
19
Educao Popular e Economia dos Setores
Populares: preocupaes e indagaes
Ada Bezerra
As armadilhas do nosso imaginrio
A inteno deste escrito no definir caminhos ou apresentar
alternativas de atuao, mas aproveitar a oportunidade para formu-
lar algumas indagaes e partilhar preocupaes com os educadores
que se encontram envolvidos, por escolha prpria ou em decorrn-
cia de seus vnculos institucionais, com as atividades econmicas
dos setores populares. Na maioria das vezes, essas atividades encon-
tram apoio nas convocaes dirigidas s comunidades como parte
de um programa de trabalho comprometido com propostas institucio-
nais ou com os seus financiamentos. Outras vezes, surgem do esfor-
o de organizao dos prprios trabalhadores manifestando, assim,
suas estratgias de sobrevivncia e de enfrentamento das estruturas
de um sistema que descuida das suas condies de vida.
A nossa insero nesse universo, enquanto educadores, vem
carecendo de uma caracterizao atenta que nos permita identificar
com maior segurana o nosso espao de interveno e o lugar que
ocupamos nessa trama de relaes. Estamos nos colocando, portan-
to, numa posio de quem explora os elementos que a prtica j nos
oferece e, ao mesmo tempo, estamos elegendo referncias que nos
ajudem a interpretar as nossas necessidades frente s demandas do
nosso campo de trabalho.
Inicialmente, preciso reconhecer que, pelos diferentes cami-
nhos de nossa atuao junto aos empreendimentos populares, depa-
20
ramo-nos sempre com os desafios postos nesse cenrio, seja aos tra-
balhadores, consideradas as enormes dificuldades de consolidao
de suas iniciativas, econmicas e associativas, seja aos educadores,
apontando a insuficincia de nosso preparo especfico para que pos-
samos, efetivamente, apoiar a dinamizao desses processos. Seria,
portanto, muita ingenuidade tentar responder j a questes que so-
mente agora, e ainda muito timidamente, comeamos a detectar nas
experincias econmicas dos setores populares, no que se refere
especificidade de uma contribuio educativa a esse campo de in-
terveno social.
Considerando que os desafios no esto postos para nos imo-
bilizar, mas para convocar a nossa vontade de responder aos mes-
mos, podemos traduzir essa energia em termos de deslocamento, de
movimento, na direo de identificar o que nos interroga. Precisa-
mos, para isto, de um ponto de partida e de um horizonte para nos
mover. O ponto de partida, sem dvida, constitudo pelas indaga-
es que j nos cercam. Podemos fazer vrias escolhas para eleger
uma indagao inicial mas, como estamos preocupados com a nossa
formao, parece que a primeira pergunta se debrua sobre ns mes-
mos, sobre os nossos prprios percursos: como fomos formados? O
que povoa as nossas idias? Quer dizer, em que referncias ns, edu-
cadores, nos apoiamos para interpretar esse campo de necessidades
ou para propor caminhos que abram espao manifestao efetiva
dos grupos populares e ao fortalecimento de sua presena poltica?
A grande tentao anunciar, na esperana de que tomemos
como uma sinalizao, que o nosso imaginrio, produzido com os
temperos de nossa formao histrica e social, est cheio de armadi-
lhas. Por exemplo, por mais que nos alinhemos vanguarda da luta
por igualdade, justia social e solidariedade, no conseguimos apa-
gar de nossa bandeira, de nossa memria, e talvez da nossa lgica, os
princpios de ordem e progresso a inscritos pelo Estado. Discursar
simplesmente sobre o anacronismo dessa herana positivista no
desfaz a sombra, em nossa mente, de um progresso que se projeta em
21
linha reta no tempo, em direo a um horizonte infinito de sucessos;
e de uma ordem que, perpendicularmente, pretende garantir as con-
dies de tranqilidade poltica para que o trem do progresso no
sofra nenhum atraso com paradas desnecessrias. No podemos dei-
xar de nos perguntar: quem estaria no comando da locomotiva desse
progresso e a quem ameaaria a alterao de sua velocidade? Sobre
isso, sem dvida, todos ns temos alguma clareza.
A supremacia da razo, como fonte de iluminao daquilo que
deve ser desvelado pelo conhecimento humano, empresta uma hie-
rarquia aos saberes: os saberes superiores que buscam a verdade, e
que por isto mesmo se legitimam, e os outros saberes, aparentemen-
te menos confiveis, que se apiam em outras lgicas de acumula-
o da experincia e de verificao da procedncia de suas desco-
bertas.
Assim, confunde-nos a idia de que a cincia detm o carimbo
da verdade. Quando algum diz que uma afirmao cientfica, ela
aparece como indiscutvel e definitiva. A questo no est na maior
ou menor consistncia de um conhecimento dito cientfico, essa no
a nossa discusso, mas na apropriao que dele se fez. Por decor-
rncia das conjunturas histricas, o progresso se assentou sobre o
seqestro dos saberes produzidos pelos trabalhadores e sobre os avan-
os da cincia. A inquietao dos homens por desvelar os mistrios
da vida que os cerca para reconhecer, com mais clareza, o que rege o
seu dinamismo e para se relacionar com as suas possibilidades, resi-
de na sua sede de apreender para transformar. Mas, quando a apro-
priao e o uso desses saberes se traduziram em concentrao de
poder, o progresso no se deu em favor de todos e de tudo. As seqe-
las disto esto a, explcitas.
A ns importa relativizar a produo cientfica, embora reco-
nhecendo que h lugar para as instncias que devem, necessaria-
mente, trabalhar a excelncia desses conhecimentos com a justifica-
tiva da universalizao de seus benefcios. Mas, ao mesmo tempo,
isto no significa que esta seja a nica fonte de produo de saberes,
22
como uma refinaria, que depois distribui o seu produto pelos diver-
sos postos de gasolina, onde se abastecem todos os veculos. Este
seria o caminho do pensamento nico. H uma diversidade de sabe-
res sendo produzidos nas prticas sociais e os trabalhadores tericos
deveriam, em princpio, apreender e interpretar a demanda dessas
prticas para vincular a sua produo s necessidades sociais. A iden-
tificao dessas necessidades vem se fazendo, em geral, de modo
seletivo e vinculada aos interesses hegemnicos. A fragilidade des-
se vnculo com o todo da sociedade claramente denunciada pela
insuficincia de estudos comprometidos com os interesses dos seto-
res populares.
A cincia nos legou, tambm, como parte de seus procedimen-
tos, a supervalorizao dos instrumentos, dos mtodos e das tcni-
cas. Para muitos de ns, a confiana no sucesso de um trabalho est
na escolha da metodologia e no uso de tcnicas aparentemente ade-
quadas. No por acaso que somos apresentados como tcnicos dis-
so, tcnicos daquilo, e, em nosso caso, como tcnicos em educao.
Ora, educao no uma tcnica, um instrumento. O instrumental
de que lanamos mo para ampliar as condies pedaggicas de atua-
o num determinado contexto , por sua vez, construdo pela arti-
culao de alguns fundamentos; e o uso desse conjunto articulado
de recursos expressa as referncias em que essa atuao se baseia. Se
no nos apropriamos desses fundamentos, estamos nos colocando
em posio de meros executores do pensamento de outros. E ns,
sem dvida, nos situamos entre os que batalham pela autonomia dos
sujeitos sociais. A margem de flexibilidade e reinveno das meto-
dologias, e mais ainda das tcnicas, ampla. No confronto com os
diversos contextos temos que nos perguntar, a cada vez, se o instru-
mental de que dispomos apropriado situao que se apresenta.
No existem metodologias em prateleiras, completamente ajustadas
aos nossos empreendimentos educativos, nem manuais de receitas
tcnicas que garantam o resultado esperado.
Outra marca que carregamos a culpa. Mas no vamos nos
23
embrenhar nos mistrios do pecado original nem do sangue de Cris-
to derramado em reparao nossa desobedincia inata. O lugar da
nossa solidariedade efetiva, aqui e agora, o que temos que avaliar.
s vezes, podemos dar a impresso de que somos culpados por no
ser to pobres ou ficamos confusos com a remunerao que recebe-
mos por nosso trabalho diante da enorme misria que nos cerca e
com que trabalhamos etc, etc. Definitivamente, no somos solidrios
nem cmplices com o desvio histrico do capitalismo que engen-
drou estruturas injustas e que resultaram nessa calamidade mundial,
ou planetria, se considerarmos as exatas dimenses do desastre em
que nos encontramos. Ns no queremos contribuir para que essa
situao se perpetue. Temos direito, sim, a sobreviver do nosso tra-
balho e queremos que todos possam ser includos, igualmente, nes-
sa condio de dignidade. nessa perspectiva que procuramos dar
sentido e justificar a nossa existncia pelo alinhamento tendncia
histrica de reinveno das relaes de trabalho e de convivncia
humana pelas quais todos possamos nos reconhecer e reconhecer o
mundo em que vivemos. esse o nosso campo de luta e de solida-
riedade.
Se continussemos nessa linha, conseguiramos, ainda, identi-
ficar um bom nmero de elementos que confundem as nossas esco-
lhas. Mas, o mais importante agora descongelar essas velhas ima-
gens, dando maior nitidez aos novos apelos que compem a moldu-
ra do cenrio que estamos construindo.
Os desconfortos de nossa tarefa
De onde vem esse sentimento incmodo de que a nossa ao
pedaggica tem mais gosto de descontinuidade e de desconstruo
do que sabor da gratificao que vem da positividade de uma luta
emancipatria da qual participamos?
A comea uma conversa que ainda no conseguimos aprofun-
dar, sobre o nosso distanciamento do perfil do educador cuja misso
24
est confinada ao recinto escolar, para nos descobrirmos presentes
num campo de atuao de proteo institucional precria. No dis-
pomos de um currculo como roteiro e o nosso pblico diverso e
disperso. Temos que tecer nossa prpria rede de apoio e depender de
nossa capacidade de leitura e interpretao das condies em que o
nosso trabalho vai se desenvolver. Os espaos de interveno se con-
fundem: estamos, ao mesmo tempo, num campo de aprendizagem e
de luta. Lidamos com foras em potencial e buscamos as suas alter-
nativas de expresso. O nosso lugar no confortvel mas de onde
conseguiremos abrir passagens para a transio rumo a um outro
tempo histrico.
Nesse sentido estamos, de fato, ajudando a descontinuar e a
desconstruir as bases do que est posto. O que est posto a explora-
o, a submisso, a expropriao em todas as esferas e, para que isso
funcione, foi necessrio separar o inseparvel: economia e poltica,
trabalho e gesto. Diramos que pensar e concretizar uma pedagogia
que priorize o fortalecimento da economia dos setores populares ,
exatamente, garantir uma perspectiva de restabelecimento dessas
conexes.
Os processos que, a duras penas, tentamos implementar so,
na maioria das vezes, de resultados inseguros. Os grupos, as pessoas,
deixam aparecer todas as seqelas que o sistema produziu: a baixa
escolaridade, os vcios das prticas de dominao, a falta de
credibilidade em seu prprio potencial, a fragilidade da experincia
de associao/organizao, as marcas da submisso etc. Enfim,
apresentam, ainda, um grande despreparo para ocupar seus lugares,
enquanto sujeitos sociais, para os quais nunca foram realmente
convocados. O ritmo com que esses grupos se deslocam lento, e
no poderia ser diferente. A consolidao dos seus ganhos pede um
acompanhamento cuidadoso e, alm disso, indispensvel a criao
de dispositivos de controle do processo de modo a que eles mesmos
possam se apropriar de seus percursos. Mais: a faixa da populao
com que estamos comprometidos pede, em nome da sobrevivncia,
25
uma urgncia nos resultados de seu esforo. E sabemos, ao mesmo
tempo, que so muitos os fatores condicionantes para nos
assegurarmos da sustentabilidade desse empreendimento coletivo
(do grupo e nosso). Mas no desistimos.
A nossa experincia poltica, ainda recente e de custo muito
alto, j comprovou a insuficincia dos discursos salvacionistas, mo-
bilizatrios, politicamente corretos, para mudar, fundamentalmen-
te, as estruturas que sustentam o funcionamento do sistema. No en-
tanto, no podemos negar que, ao longo desse perodo, conseguimos
algumas alteraes no campo das foras em presena na sociedade
atual. Seno no estaramos agora justamente empenhados na elabo-
rao de ferramentas mais adequadas e dotando-nos de uma dose de
realismo considervel para identificar estratgias de ao mais vi-
veis. No momento, no plano terico, tentamos atualizar a nossa an-
lise para apreender com maior clareza o acontecimento global e es-
colher a nossa direo. Mas, juntamente com esse esforo de leitura,
deparamo-nos com o desafio de inovar no campo das prticas educa-
tivas e, desta vez, deliberadamente vinculadas s transformaes na
esfera da economia que, em ltima anlise, devem traduzir-se em
transformaes polticas.
Se o cerne da tarefa educativa a socializao de saberes e
poderes, devemos estar convencidos de que, no fundo, o que nos
importa, prioritariamente, a qualidade das relaes que se
estabelecem entre os diversos sujeitos envolvidos nesse processo
educativo. Trata-se, parece simples, de um jogo de apreenso, partilha,
usos e exerccio dos poderes e saberes que se confrontam numa
mesma aventura de mais ser e mais estar. Mas isso no acontece sem
a negociao da proposta e das regras de convivncia necessrias.
A pergunta : de que proposta se trata e que regras de convi-
vncia vo direcionar a sua concretizao? Nessa viagem, tanto po-
demos fazer o caminho, nesses tempos de guerras, dos que se atm
construo da paz universal e o que fazemos tem seu rebatimento
nessa amplitude. A luta por uma economia partilhada deve tambm
26
criar condies concretas para que os interesses de uns no sufo-
quem a vida de outros, semeando a violncia. Assim como podemos
delimitar nossa esfera de atuao ao territrio deste pas e zona dos
que se movem, e sempre se moveram, no andar de baixo da econo-
mia capitalista.
Objetivamente, estamos, junto com os trabalhadores, nos pro-
pondo a impulsionar uma mudana radical nas relaes sociais e no
significado do trabalho que podem dar consistncia a uma qualida-
de de poder diferente da que nos fizeram crer como sendo a nica
expresso vivel da democracia. No estamos sozinhos: so muitos,
alm de ns, os que se reconhecem na convergncia dessa direo. A
aliana que tecemos com aqueles que, deliberadamente, ou
pressionados pelas circunstncias, rejeitaram ser submetidos mera
condio histrica de mercadorias, vendendo o que restava de sua
fora de trabalho, e tomaram a iniciativa de produzir os seus prprios
meios de vida. Como ns, eles tambm tm expectativas quanto aos
resultados de suas aes, mas no sabem muito, com segurana, do
que lhes pode acontecer. Em termos estratgicos, o que mais importa
num primeiro momento construir bem, e juntos, o ponto de parti-
da. No se trata de um projeto com comeo, meio e fim, como aque-
les com que burocraticamente estamos acostumados a lidar, presos
ao tempo e s contas que temos a prestar. Interessa-nos organizar, o
melhor possvel, as condies necessrias para dar os primeiros pas-
sos da caminhada. Porque, no fundo, o que queremos mesmo par-
ticipar do plantio das razes de um novo modo de sentir, pensar e
agir. Precisamos de tempo e cuidado com o terreno para que as ra-
zes adquiram profundidade e vio.
necessrio, porm, lembrar que no s por eles que mer-
gulhamos nessa tarefa. Tambm ns sofremos as limitaes impos-
tas pelos interesses hegemnicos. Estamos igualmente expostos
cultura difundida pelas grandes empresas de comunicao. Lutamos
para sobreviver num mercado de trabalho que sabe remunerar bem
as tarefas prioritrias ao sistema e submete, por exemplo, os traba-
27
lhadores da educao e da sade a condies injustas de trabalho.
Convivemos da mesma forma com um Estado dimensionado para
servir economia dos grandes capitais que, sendo assim privatiza-
do, subverte a ordem das suas atenes para com as questes pbli-
cas. Tambm ns temos que assumir nossa impotncia face ao estrei-
tamento das liberdades de opo. Com uma contundncia menor,
somos circunscritos pelo mesmo modelo. Ento, estamos exatamen-
te na mesma luta. S que descobrimos, muito devagar, que no
ocupando os postos de deciso do poder de Estado centralizado que
conseguiremos criar as condies necessrias de mudana. Giorda-
no Bruno descobriu, por experincia prpria, que o poder no trans-
forma o poder. A fora de mudana s pode vir de um outro lugar. A
onde ns queremos estar.
No mbito da economia dos setores populares, pelo menos para
os nossos tempos atuais porque j houve um tempo em que os
trabalhadores cuidavam de sua prpria formao o campo da for-
mao ainda recente. Na perspectiva em que nos colocamos, a pe-
dagogia e as metodologias tm uma bagagem acumulada insuficien-
te para o tamanho do desafio e, alm disso, a experincia que conse-
guimos reunir ainda pouco socializada. H muito a pesquisar, ex-
perimentar e criar em termos de dispositivos de apoio interveno
pedaggica. Da sistematizao das prticas, do acompanhamento dos
trabalhos e da indispensvel contribuio de todos os interessados
podem surgir inmeras indicaes. Sem dvida, o fervor da militn-
cia nos alimenta, mas no basta. indispensvel ir mais longe, criar
instrumentos que apiem o andamento dos empreendimentos cole-
tivos e que se prestem tambm coleta dos resultados para anlise e
avaliao das experincias em nome de uma maior eficcia das aes.
Como este terreno ainda pouco explorado, precisamos assegurar-
nos da trilha que percorremos. Essa a parte construtiva de nossa
interveno. No fundo, o que est em jogo uma mudana de para-
digma.
A nossa aposta est, sem dvida, assentada no desejo das pes-
28
soas. Se a subjetividade dos participantes dos empreendimentos no
for tocada pelo sonho de se ampliar, se no for instigada pela neces-
sidade de ocupar um lugar atuante na sociedade, que nico para
cada pessoa, se no for movida pela dignidade de se sentir capaz de
escolher e decidir seus destinos, como parte de um coletivo respon-
svel, ainda estaremos nadando no raso, agitando as guas, sem to-
mar uma direo.
O poder como matria de aprendizagem
A importncia da transmisso de conhecimentos, devidamen-
te ordenados e dosados para serem difundidos entre ouvintes quase
passivos, definiu, durante muito tempo, o lugar e o espao de atua-
o do educador. Caricaturando: a relao que se administrava era a
que deveria se estabelecer entre o sujeito da aprendizagem e o objeto
de conhecimento. Facilitar o acesso entre esses dois plos era a gran-
de arena de desempenho do educador. Os recursos mais importantes
para isto eram uma didtica que facilitasse a emisso e a recepo
dos contedos e uma pitada de psicologia que ajudasse a apreender
o movimento dessa cognio. Mas a educao no estaria completa
se no se cuidasse da disciplina e dos comportamentos, socialmente
convenientes, que deveriam ser adquiridos. Essa era a moldura pe-
daggica. O clima da aprendizagem era dado por uma ordem disci-
plinar. O reconhecimento da hierarquia das autoridades e a desej-
vel submisso aos seus estatutos constituam o campo de exerccio
de poder dos aprendizes. Tudo ficava muito visvel: o educador con-
centrava o poder disciplinar e detinha o poder dos saberes. Para qual-
quer insurgncia, havia um cdigo de represso, para recolocar a
pessoa no bom caminho da educao. Alguns educadores sempre
foram mais doces e permissivos (porque tiveram a intuio do prin-
cipal) e ficaram, por isto mesmo, guardados entre as nossas boas
lembranas. Outros se compraziam com a regncia de todos os tem-
pos da partitura autoritria. Tentamos esquec-los, mas tambm nos
ajudaram porque despertaram a nossa capacidade de insurgncia.
29
O que queremos dizer, com esse rascunho de memria, que o
poder j era, desde ento, matria de aprendizado e que no h pr-
tica educativa que no se situe como uma prtica poltica. a pers-
pectiva em que se ordenam as aes pedaggicas que faz a diferena.
Uma coisa pensar o poder centrado na ocupao de lugares, a par-
tir dos quais se organiza o tecido social e se submete a dinmica da
sociedade a um controle calculado. Numa sociedade conservadora,
esses lugares tendem a se reproduzir. Eles so atribudos em funo
de uma misso previsvel. Quando o controle tende a enfraquecer-
se, por alteraes conjunturais (ou mesmo estruturais), a fora da
represso ou da persuaso que bloqueia os desvios possveis. Outra
coisa o poder como inscrio de possibilidades nas relaes sociais.
As relaes sociais so criativas porque pressupem uma comple-
mentaridade inventiva dentro das circunstncias concretas em que
se estabelecem. O jogo de interesses, os desejos, as diferenas se
confrontam porque normal que assim ocorra uma vez que nem
somos iguais nem acabados. Estamos em construo e reinventan-
do nossos caminhos de aproximao uns dos outros. Mas para que
o confronto se d numa perspectiva produtiva, necessrio nego-
ciar um pacto coletivo que possa reger esse movimento em muta-
o permanente.
A ocorrncia de conflitos no , portanto, estranha convivn-
cia entre diferentes. O que no podemos deixar de explor-los, no
plano educativo, fazendo com que os seus motivos venham tona
para que, uma vez explicitados, possam ser trabalhados pelo coleti-
vo como elementos de fortalecimento do grupo. Ao invs do medo
das fragilidades, o seu enfrentamento. Abafar, esconder o conflito
um apelo ao faz de conta; ou seja, o retorno s velhas dinmicas de
grupo que perseguiam o consenso, a paz aparente. Identificar as ten-
ses um tipo de exerccio que torna as relaes mais reais, mais
sintonizadas com as suas possibilidades, ampliando o espao de ex-
presso de cada um e do grupo; so ganhos de liberdade. Poderamos
dizer que o que sustenta a permanente negociao das regras de con-
30
vivncia o reconhecimento do outro como indispensvel ao cresci-
mento do conjunto.
Considerando que estamos tratando principalmente com em-
preendimentos econmicos de formato associativo, tudo isso tem
muito a ver com as nossas tarefas. Uma grande preocupao, em ter-
mos de formao, recai sobre a constituio dos processos decisri-
os, a montagem da estrutura de funcionamento e de seus dispositi-
vos de controle, enfim, tudo que envolve a distribuio de tarefas, os
lugares de exerccio da responsabilizao. Tradicionalmente, as ins-
tncias organizacionais desses empreendimentos sempre estiveram
atreladas a um arcabouo jurdico que formalizava, de maneira qua-
se definitiva, as atribuies dos associados. Assim, uma vez reco-
nhecido o seu estatuto, a associao passava a ter uma existncia
institucional, mas nunca foi a partir desse documento que se instau-
rou alguma dinmica associativa. Na maioria das vezes, esse instru-
mento legal se impe como alguma coisa externa vida do grupo,
mantendo at mesmo uma linguagem pouco acessvel para a maioria
dos associados. So pouqussimos os grupos que tm uma prtica de
gesto mais coletiva e, nesse sentido, carecem de autonomia para
instituir a sua prpria formalidade de modo a refletir as especificida-
des de seus empreendimentos.
Para dar organicidade ao potencial scio-econmico que guar-
dam, os associados precisam saber com clareza o que querem, co-
nhecer muito bem a atividade produtiva que escolheram, para con-
seguir identificar as estratgias que possam abrir caminho consoli-
dao de seu empreendimento. O estudo de viabilidade econmica
e gesto democrtica, feito pelos participantes do grupo, com o apoio
do educador, e na perspectiva em que o colocamos, um instrumen-
to de muita riqueza pedaggica. Se levarmos em conta o seu carter
processual, os associados tero oportunidade para deixar claro o que
eles j sabem e podem a respeito do que querem, a experincia que
acumularam em trabalhos coletivos e, ao mesmo tempo, vo desco-
brir o que ainda precisam saber e fazer para, concretamente, em-
31
prestar sentido ao seu trabalho e abrir espao para as relaes que
justificam o seu pacto de convivncia.
bom desconfiar que no o educador que vai levar aos gru-
pos um saber novo, a partir do qual eles vo reorientar suas vidas. O
saber do educador vai servir para que os saberes e os no saberes dos
participantes do empreendimento venham tona, possam ser apro-
priados por eles mesmos de uma forma articulada. As situaes de
aprendizagem e de vivncia democrtica que surgem ao longo do
processo no so previsveis nem pelo educador nem pelos grupos.
Este processo no programtico. Desse confronto entre saberes e
no saberes diferentes, imaginrios e prticas sociais diversificadas,
uma srie de outros elementos vo surgir e vo retemperar a sensibi-
lidade de todos (inclusive a do educador). essa resultante do con-
fronto que nos interessa, em termos educativos. Portanto, o centro
das preocupaes no mais a emisso e recepo de mensagens,
mas sim, aquilo que podemos reinventar coletivamente a fim de
ampliar a nossa liberdade de ser e de estar no mundo.
32
Economia popular solidria:
sustentabilidade e transformao social*
Gabriel Kraychete
Projetando-se no mbito de uma prtica social transformadora,
o tema da economia solidria vem despertando o interesse de
diferentes instituies. Cresce, sensivelmente, o nmero de
organizaes no-governamentais, universidades e de rgos
governamentais que se voltam para este assunto. Alm de inmeros
fruns municipais e regionais, foi criado o Frum Brasileiro de
Economia Solidria, universidades desenvolvem pesquisas e
implantam incubadoras de cooperativas populares e o governo federal
criou, em 2003, a Secretaria Nacional de Economia Solidria no
mbito do Ministrio do Trabalho. Tudo isto ocorre, sobretudo, a
partir do final da dcada de 1990.
Apesar dos avanos conquistados pelo movimento da econo-
mia solidria, os empreendimentos associativos, quando observados
de perto, quase sempre revelam grandes dificuldades e fragilidades
ainda pouco analisadas. Considerando-se a atividade em si, e para
alm de indicadores meramente econmicos, pode-se dizer que um
empreendimento associativo adquire condies de sustentabilidade
quando os seus associados se encontram habilitados para assumir a
sua conduo.
* Este texto tem por referncia as reflexes efetuadas no mbito da equipe da CAPINA
(Ricardo Costa, Aida Bezerra e Katia Aguiar), responsvel pelo curso de extenso em
Viabilidade econmica e gesto democrtica de empreendimentos associativos, promo-
vido em parceria com a UCSAL, e os debates com os integrantes do programa Economia
dos setores populares vinculado ao Ncleo de Estudos do Trabalho (NET-UCSAL).
33
Num horizonte mais amplo, entretanto, a sustentabilidade dos
empreendimentos da economia popular solidria depende de trans-
formaes polticas, econmicas, culturais etc.
1
, envolvendo a natu-
reza dos investimentos, o sistema tributrio, o acesso habitao, os
servios bsicos de saneamento e infra-estrutura, o financiamento, a
pesquisa etc. Ou seja, dadas as condies atuais, aqueles empreen-
dimentos enfrentam, por razes histricas, um contexto reconheci-
damente adverso. Nestes termos, a sustentabilidade dos empreendi-
mentos associativos no um problema estritamente econmico nem
se equaciona no curto prazo, mas pressupe aes polticas compro-
metidas com um processo de transformao social. O que est em
jogo no so aes pontuais e localizadas, compensatrias, filantr-
picas, caritativas, ou de empresas denominadas socialmente respon-
sveis, mas intervenes pblicas que, atravs do fortalecimento da
cidadania, imponham direitos sociais como princpios reguladores
da economia
2
.
Do ponto de vista interno aos empreendimentos, entretanto,
um pressuposto primordial sua sustentabilidade que os seus in-
tegrantes conheam as condies necessrias para que a atividade
que desenvolvem ou pretendam implementar tenha maior chance
de xito. Ou seja, uma das condies indispensveis sustentabili-
dade das organizaes econmicas populares reside no conhecimento,
1 Ainda mais quando se considera que, como indica Coraggio (2006) a sustentabilidade
no pode ser pensada de forma esttica, mas dinamicamente. Ou seja, no se trata
apenas de os empreendimentos associativos resolverem problemas particulares que
estejam enfrentando, mas de ampliarem continuamente o alcance de suas prticas.
2 A viabilidade de um empreendimento no significa que ele tenha que dar conta, desde
o primeiro momento, de todas a condies necessrias sua sustentao, o que no
ocorre nem mesmo ou, sobretudo, com as grandes empresas. Como indica Braudel
(1996), o entendimento entre capital e Estado atravessa os sculos da modernidade.
Para o capital, o Estado uma fonte ressurgente de recursos da qual nunca se mantm
muito longe. Mas, no andar inferior da economia, os empreendimentos populares,
em sua maior parte, esto reduzidos aos seus prprios recursos, exceo do apoio
pontual e localizado das atuais instituies de assessoria e fomento, com alcance reco-
nhecidamente limitado.
34
por parte dos seus integrantes, das condies necessrias viabili-
dade econmica e associativa das atividades que realizam. anali-
se deste aspecto que eu vou me deter.
Desde j deve estar claro que os empreendimentos da econo-
mia popular solidria possuem uma lgica peculiar. No podem ser
avaliados nem muito menos projetados copiando ou tomando-se por
referncia os critrios de eficincia e planejamento tpicos empre-
sa capitalista. Tradicionalmente, os instrumentos de gesto e os es-
tudos de viabilidade reportam-se s caractersticas das empresas de
mdio ou grande porte, notadamente a concentrao do conhecimento
pleno sobre a atividade nas mos da alta administrao e a hierar-
quia nas relaes de gesto. Essa perspectiva se distancia das reali-
dades encontradas nos empreendimentos econmicos populares e
de uma proposta de transformao poltica nas relaes de trabalho,
que, no caso das iniciativas populares, se impe como condio ne-
cessria sua sustentabilidade.
Neste sentido, grande a responsabilidade das instituies de
apoio e fomento em estimular a reflexo sobre a viabilidade dos em-
preendimentos associativos. Trata-se da sistematizao de um co-
nhecimento novo que permita equacionar, de forma apropriada, as
condies que, uma vez atendidas, aumentem as possibilidades de
xito destes empreendimentos. Contribuir para esta percepo o
objetivo do presente texto, e deste seminrio.
Tendo por ponto de partida alguns dilemas enfrentados pelos
empreendimentos associativos relacionados formao e aos apoios
que vm recebendo, apresento, em seguida, um perfil destes empre-
endimentos a partir dos dados disponveis no site do Ministrio do
Trabalho e Emprego MTE, referentes pesquisa nacional em eco-
nomia solidria realizada pela Secretaria Nacional de Economia So-
lidria SENAES.
3
No item seguinte, apresento uma metodologia de
3 No final de 2003, a SENAES constituiu o Grupo de Trabalho de Estudos e Banco de
Dados (ou GT do Mapeamento) que, a partir do consenso estabelecido em torno das
concepes bsicas sobre a Economia Solidria, elaborou um instrumento de pesquisa
35
estudo de viabilidade dos empreendimentos associativos, tomando
por referncia o acervo acumulado pela Cooperao e Apoio a Proje-
tos de Inspirao Alternativa CAPINA no campo da formao. Por
fim, busco fornecer alguns elementos para se examinar, numa reali-
dade como a brasileira, o lugar e as possibilidades dos empreendi-
mentos da economia solidria no mbito de uma prtica social trans-
formadora.
Para iniciar, convm formular as seguintes indagaes: quais
as principais caractersticas dos empreendimentos associativos, tal
como eles existem hoje? A anlise destas caractersticas permite quais
concluses?
1. Empreendimentos da economia popular
solidria: constataes iniciais
Em geral, a grande maioria dos grupos enfrenta dificuldades
para tocar os seus prprios negcios e os seus integrantes no pos-
suem os conhecimentos adequados viabilidade econmica e asso-
ciativa das atividades que realizam. No mais das vezes, superficial
o conhecimento sobre os diversos aspectos prticos que compem
(ou que deveriam compor) a atividade. Se verdade que um grande
desafio enfrentado pelas organizaes econmicas populares o de-
senvolvimento de formas de trabalho que sejam economicamente
viveis e emancipadoras, so relativamente poucos os grupos que
vm conseguindo desenvolver tais relaes.
comum os empreendimentos contarem com o apoio de algu-
ma assessoria: so agentes de pastorais, tcnicos de ONGs, de r-
gos governamentais etc. Trata-se de profissionais extremamente
abrangendo questes relativas a: identificao, abrangncia e caractersticas gerais; ti-
pificao e dimensionamento da atividade econmica; investimentos, acesso ao crdi-
to e apoios; gesto do empreendimento; situao de trabalho no empreendimento e
dimenso sociopoltica e ambiental. O trabalho de campo foi realizado durante o ano
de 2005, e os seus resultados foram divulgados no primeiro semestre de 2006.
36
dedicados ao seu trabalho mas que, em sua grande maioria, no
receberam qualquer formao que os preparasse para lidar com
questes econmicas e gestionrias peculiares aos empreendimen-
tos associativos.
As atividades de formao, descoladas da organizao e dos
processos de trabalho concretos peculiares a cada empreendimento,
constituem-se numa abstrao. Em geral, as atividades de formao
para o associativismo atm-se aos princpios do cooperativismo e do
trabalho associativo. Estes princpios so uma declarao do dever
ser. Expressam uma meta, um ponto de chegada, um enunciado com
o qual todos concordam, mas que vale tanto para as primeiras coope-
rativas na Europa do sculo XIX, para um empreendimento associa-
tivo de grande porte, como para um pequeno grupo de mulheres que
se organiza numa associao de costureiras. As condies concretas
do processo de trabalho e das condies em que ele ocorre so muito
diferentes em cada um destes empreendimentos, com evidentes im-
plicaes para a gesto cotidiana dos mesmos.
Se nos atemos apenas aos princpios e no nos deixamos inter-
pelar pela realidade, podemos enfrentar problemas incontornveis.
Por exemplo: o primeiro princpio do cooperativismo a associao
livre e voluntria. Mas sabemos que, numa realidade como a brasi-
leira, a busca de uma alternativa de trabalho face ao desemprego se
constitui na principal motivao para a organizao dos empreendi-
mentos associativos.
Deve-se considerar tambm que, geralmente, os empreendimen-
tos so formados por pessoas que j se conhecem. Em princpio, nin-
gum manda em ningum todos so iguais. Produzir quase todos
sabem, mas comum uns saberem mais do que outros. Se h dife-
rena de saberes, h diferena de poderes. Mas se todos so iguais,
como lidar com isso?
insuficiente, portanto, afirmar que a gesto democrtica se
caracteriza pela ausncia de separao entre os que decidem e os
que executam. H decises que podem resultar de uma discusso
37
coletiva. Mas existem outras que precisam se tomadas na hora, sob o
risco de um prejuzo maior. Um exemplo ilustra o que quero dizer:
um empreendimento associativo do setor mecnico produzia peas
que, antes de serem entregues ao cliente, necessitavam passar por
um controle de qualidade para ter a garantia de que no estavam
com defeito. Como fazer este controle de qualidade? Todos so res-
ponsveis? Haver uma pessoa responsvel? Uma equipe? Este gru-
po decidiu que haveria uma pessoa responsvel. Ora, o trabalho des-
ta pessoa expressa um ato de poder sobre os demais associados en-
carregados da produo. E, ao vetar uma pea, poderia gerar tenses
ou conflitos com os outros trabalhadores. A deciso do grupo foi que
o encarregado de controle teria o poder de vetar ou liberar a pea,
mas a sua deciso estaria sujeita avaliao nas reunies semanais
do conjunto dos trabalhadores.
Esta foi a regra do jogo do trabalho associativo estabelecida
por aquele grupo. O que quero acentuar exatamente o fato de que
no existem receitas e de que incua uma declarao de princpios
descolada do processo de trabalho peculiar a cada grupo.
Se o que buscamos so formas de trabalho economicamente
viveis e emancipadoras, a eficincia econmica e o modo de gesto
no podem ser pensados separadamente. A eficincia econmica no
um fim em si mesmo, no uma meta que se autovalide, mas pres-
supe a indagao: eficincia econmica para quais objetivos? Nes-
tes termos, nos deparamos com o seguinte desafio: como implemen-
tar estratgias de formao em que os integrantes dos empreendi-
mentos associativos construam, simultaneamente, a compreenso das
condies necessrias viabilidade econmica e autogestionria dos
empreendimentos, considerando as relaes tcnicas e sociais de
produo peculiares a cada empreendimento?
Recentemente tem se expandido o nmero de instituies, in-
clusive empresas, que destinam recursos para a implementao de
atividades voltadas para a gerao de trabalho e renda de forma as-
sociativa. Em relao a este apoio, pode-se constatar que:
38
em sua maioria, os empreendimentos no so precedidos do
estudo de viabilidade, mas apenas de uma lista de compras refe-
rente ao valor dos investimentos. Ou, ento, quando realizados, es-
tes estudos nem sempre consideram a lgica peculiar de funciona-
mento dos empreendimentos associativos. Desta forma, o grupo no
se apropria dos conhecimentos necessrios para conduzir, com se-
gurana e maior chance de xito, a atividade a ser implementada.
Quando o estudo realizado exclusivamente por um tcnico, sem a
participao do grupo, cria-se uma relao de dependncia do grupo
em relao ao saber do tcnico. Alm disso, o estudo tem grandes
chances de ter pouca utilidade prtica, mesmo porque, quem vai
tocar o projeto o grupo e no o tcnico. O estudo, desta forma,
transforma-se em mais um documento a ser muito bem guardado e
esquecido em alguma prateleira;
em alguns casos, este apoio financeiro prev a contratao
de encarregados de produo e/ou administrao. Por um perodo, o
empreendimento parece funcionar bem, inclusive com resultados
econmicos aparentemente positivos. Enquanto dura o projeto, os
recursos permitem pagar as despesas e garantem uma remunerao
aos associados. Durante algum tempo, como usualmente se diz, pa-
rece que o projeto contribuiu para elevar a auto-estima do grupo.
A instituio financiadora publica fotos e folders e divulga em seu
site os resultados alcanados. Infelizmente, no so poucos os exem-
plos em que esta situao termina por estabelecer, no interior do
grupo, relaes de hierarquia que reforam antigos e novos laos de
dependncia, comprometendo, com o passar do tempo, os objetivos
inicialmente declarados, inclusive em termos econmicos;
so conhecidos tambm os exemplos de projetos muito boni-
tos e teoricamente viveis, s vezes envolvendo uma soma relativa-
mente elevada de recursos, mas concebidos sem a participao das
pessoas para as quais se destina. Esta situao tanto mais preocu-
pante quando as pessoas a serem convocadas para participar do pro-
jeto, denominadas de beneficirias, possuem um baixo nvel de
39
escolaridade, no tm experincia anterior na atividade proposta,
nem experincia prvia em alguma outra atividade associativa. E, o
mais grave: em geral, a execuo destes projetos prev um cronogra-
ma que desconsidera as condies necessrias para que o pblico ao
qual se destina obtenha o mnimo de conhecimento e de informa-
es para que possa decidir, com segurana e um mnimo de conhe-
cimento de causa, sobre as implicaes da atividade que est sendo
proposta.
Nestes termos, mesmo recebendo um apoio financeiro, muitos
empreendimentos apresentam resultados frustrantes para si e para
as instituies financiadoras , pois o grupo no estimulado a re-
fletir, de maneira apropriada, sobre o conjunto das condies neces-
srias ao xito da atividade. Mas ateno: situaes como estas no
devem obscurecer o fato de que, em geral, os grupos se ressentem
exatamente da ausncia do apoio de diferentes instituies e de as-
sessores educadores que contribuam para superar questes difceis
de serem enfrentadas pelo grupo sozinho.
Outra grande fragilidade dos empreendimentos associativos
a ausncia de conhecimentos e prticas adequadas comercializa-
o dos seus produtos e servios. comum, sobretudo no caso dos
agricultores familiares, os trabalhadores falarem que entendem da
produo, mas no sabem como comercializar da melhor forma. Nos
empreendimentos associativos, muito comum as pessoas pensa-
rem que, para iniciar uma atividade produtiva, basta saber produzir
bem. Quando o produto est pronto para ser vendido, todos os gas-
tos necessrios sua produo j foram realizados. Portanto, se a
comercializao no for bem sucedida, as perdas, nesta fase, saem
muito caras e tm sido motivo de muita frustrao.
Uma grande dificuldade que, ao realizar a comercializao, o
empreendimento associativo estabelece, simultaneamente, dois ti-
pos de relaes: externamente, com o mercado (diferentes tipos de
compradores) e suas exigncias em relao ao produto (qualidade,
classificao, quantidade mnima, preos etc.); e internamente, en-
40
tre os associados, na definio das regras do jogo, ou seja, as impli-
caes, os ganhos, os riscos e as responsabilidades que cabem a cada
um no processo de comercializao.
Assim, a comercializao promovida pelo empreendimento as-
sociativo envolve relaes mais complexas do que aquelas realiza-
das por uma empresa privada. Ou seja, ao realizar a comercializa-
o, o grupo deve conhecer os caminhos do mercado e, simultanea-
mente, promover novas relaes entre os associados. A relao com
o mercado mais amplo no o mais difcil de ser alcanado. nas
relaes internas entre os associados que residem os maiores desafios
para o xito da comercializao coletiva.
2. Um perfil dos empreendimentos da
economia solidria
Uma primeira informao mais abrangente sobre o estado da
arte dos empreendimentos da economia solidria foi proporciona-
da pela pesquisa realizada pela SENAES. Conforme o Termo de Re-
ferncia do Sistema Nacional de Informaes em Economia Solid-
ria
4
, foram considerados como empreendimentos da economia soli-
dria as organizaes que possuam as seguintes caractersticas:
a) organizaes coletivas (associaes, cooperativas, empresas
autogestionrias, grupos de produo, clubes de trocas etc.), supra-
familiares, cujos scios so trabalhadores urbanos e rurais. Os que
trabalham no empreendimento devem ser, na sua quase totalidade,
proprietrios ou coproprietrios, exercendo a gesto coletiva das ati-
vidades e da alocao dos seus resultados;
b) organizaes permanentes (no so prticas eventuais). As
atividades econmicas devem ser permanentes ou principais, ou seja,
a razo de ser da organizao;
4 MTE-SENAES. Sistema nacional de informaes em economia solidria. Termo de re-
ferncia. 2004. Disponvel no site www.mte.gov.br
41
c) organizaes que podem dispor ou no de registro legal, pre-
valecendo a existncia real ou a vida regular da organizao.
As primeiras tabulaes deste levantamento, disponveis do
site do MTE, permitem delinear as seguintes caractersticas dos em-
preendimentos associativos:
foram identificados quase 15.000 empreendimentos em 2.274
municpios do Brasil (o que corresponde a 41% do total de munic-
pios), envolvendo mais de 1,2 milho de pessoas;
a maior parte dos empreendimentos est organizada sob a
forma de associao (54%), seguida dos grupos informais (33%) e
cooperativas (11%). A recuperao por trabalhadores de empresa
privada que faliu foi citada por apenas 1% dos empreendimentos;
a maior parte dos grupos se estruturou a partir dos anos 1990,
tendo por principal motivao a busca de uma alternativa de traba-
lho face ao desemprego (citado por 45% dos empreendimentos), se-
guida pela busca de uma fonte complementar de renda (44%) e pela
possibilidade de obter maiores ganhos atravs de um empreendi-
mento associativo (39%). Desenvolver uma atividade onde todos so
donos foi citado por 31% dos empreendimentos;
5
predominam os empreendimentos que atuam exclusivamente
na rea rural (50%). Os empreendimentos que atuam exclusivamen-
te na rea urbana correspondem a 33% do total, e 17% atuam tanto
na rea rural como na rea urbana;
predominam as atividades de produo e comercializao de
produtos da agropecuria, extrativismo e pesca (mais de 40%), se-
guidas pela produo e servios de alimentos e bebidas e produo
de artesanatos;
os recursos para iniciar a atividade provm, sobretudo, dos
5 A resposta ao formulrio de pesquisa admitia um mesmo grupo apresentar mais de um
motivo para a organizao do empreendimento
42
prprios associados (71%) e de doaes (34%). Boa parte dos empre-
endimentos (41%) tambm funciona em espaos emprestados;
os produtos e servios dos empreendimentos destinam-se,
predominantemente, aos espaos locais, e apenas 6% produzem ex-
clusivamente para o auto-consumo dos scios. A maior parte dos
empreendimentos vende a sua produo no comrcio local e muni-
cipal. Apenas 7% dos empreendimentos afirmaram que o destino de
seus produtos o territrio nacional e 2% que realizam transaes
com outros pases;
quanto forma de comercializao, predomina a venda dire-
ta para o consumidor, citado por 69% dos empreendimentos. A troca
e a venda com outros empreendimentos solidrios ocorre em apenas
9% dos empreendimentos;
em 64% dos empreendimentos a matria-prima provm de
empresas privadas e, em 30%, a matria-prima adquirida dos pr-
prios associados. Apenas 6% adquirem de outros empreendimentos
solidrios;
do total de empreendimentos, 8.870 (59,3%) informaram a
remunerao dos scios que trabalham no empreendimento. Deste
total, 50% apresentam remunerao com valor at meio salrio-m-
nimo (SM). Em 26,1%, a remunerao de meio a um SM, totalizan-
do 76,1%;
apenas 38% dos empreendimentos obtiveram uma receita
capaz de pagar as despesas e ter alguma sobra. 33% conseguiram
pagar as despesas sem obter sobras e 16% no conseguiram pagar as
despesas. 13% dos empreendimentos no so organizados com vis-
tas obteno de resultados financeiros ou no informaram;
a maior parte dos grupos j recebeu algum tipo de assessoria
(73%), voltadas, sobretudo, para os aspectos tcnicos dos empreen-
dimentos e para os princpios do cooperativismo e do associativis-
mo. As assessorias sobre viabilidade econmica, entretanto, situam-
se entre as de menor incidncia (apenas 8% dos grupos receberam
este tipo de assessoria);
43
Em geral, os grupos exercitam, de alguma forma, princpios
democrticos de participao, com prestao de contas aos associa-
dos e renovao das coordenaes ou diretorias; e
60% dos empreendimentos tm alguma relao ou partici-
pam de movimentos populares, destacando-se os movimentos co-
munitrios, sindical, de luta pela terra e de agricultores familiares;
Alm disso, as informaes disponveis no banco de dados da
CAPINA-UCSal
6
e da pesquisa sobre Empreendimentos solidrios na
Regio Metropolitana de Salvador e no Litoral Norte da Bahia
7
, indi-
cam que:
a quase totalidade dos grupos no realiza qualquer tipo de
reserva destinada manuteno ou depreciao das mquinas e equi-
pamentos que possuem;
so relativamente poucos os grupos que conhecem o ponto
de equilbrio da atividade que realizam (quantidade mnima a ser
produzida e vendida para que a atividade no apresente prejuzo); e
em quase todos os empreendimentos os associados j se co-
nheciam antes de iniciar a atividade, sobretudo atravs das relaes
de famlia /vizinhana.
As informaes fornecidas por estas pesquisas permitem afir-
mar que:
parece existir uma maior tradio e facilidade de organiza-
o dos empreendimentos associativos no meio rural, que possuem
caractersticas peculiares em relao aos tipicamente urbanos. Se,
6 Informaes armazenadas em banco de dados referente aos empreendimentos associ-
ativos assessorados pelos participantes do curso de extenso em Viabilidade econmi-
ca e gesto democrtica de empreendimentos associativos, promovido conjuntamente
pela CAPINA e pela UCSal. O formulrio de pesquisa que capta o perfil dos empreen-
dimentos foi respondido pelos alunos das seis turmas do curso, realizadas no perodo
de 2003 a 2006, compondo um total de 96 empreendimentos em 16 estados do pas.
7 Pesquisa promovida pela Superintendncia de Estudos Econmicos e Sociais da Bahia
SEI, em parceria com o Ncleo de Estudos do Trabalho da UCSal, em julho de 2003,
e publicada pela SEI, Srie Estudos e Pesquisas, n 69, 2004.
44
por exemplo, uma atividade de agricultores familiares voltada para a
comercializao coletiva ou para o beneficiamento de seus produtos
no obtm xito, os mesmos tm a opo de retornarem forma tra-
dicional em que se inseriam no mercado, mesmo que isto signifique
vender para o atravessador local. No caso dos empreendimentos ur-
banos, a obteno de resultados positivos adquire uma urgncia bem
mais intensa para os associados, sobretudo na situao em que os
mesmos no possuem outra fonte de renda;
o trabalho associativo tem sido majoritariamente decorrente
do esforo e dos recursos exclusivos dos prprios trabalhadores, que
j se conheciam atravs das relaes de famlia ou vizinhana. Estas
relaes pr-existentes de conhecimento certamente traspassam os
mecanismos de gesto cotidiana do grupo, manifestando-se nas rela-
es de poder, gnero etc;
a dependncia de recursos dos prprios associados e de doa-
es constitui-se numa grande limitao e revela a ausncia de um
sistema de financiamento adequado ao fomento dos empreendimen-
tos associativos. Embora recentemente venha se expandindo o mi-
cro-crdito, este se destina ao trabalhador por conta prpria e no
aos empreendimentos associativos;
pode-se supor que a dependncia de doaes ou de recur-
sos dos prprios associados cerceia o surgimento e o desenvolvi-
mento dos empreendimentos associativos e compromete as condi-
es necessrias sutentabilidade dos mesmos. Vrios grupos se
organizam mas no conseguem os recursos necessrios para o in-
cio da atividade. Ou, ento, conseguem recursos para os equipa-
mentos, mas no dispem de capital de giro. A longa demora na
obteno dos recursos necessrios ao incio da atividade certamen-
te dilui a capacidade do grupo se manter coeso. A distncia e os
percalos entre os passos iniciais para a organizao da atividade e
a sua entrada em operao constitui-se numa travessia no deserto,
na qual plausvel supor a existncia de iniciativas que sucum-
bem durante o percurso;
45
a ausncia de reservas para a manuteno e depreciao pode
suscitar a iluso de uma rentabilidade aparente que, com o correr do
tempo, pode comprometer ou criar srias dificuldades para a conti-
nuidade do empreendimento. provvel que a maior parte dos em-
preendimentos desconhea o clculo dessas reservas, considerando
qualquer sobra como sendo um resultado positivo;
se as principais razes que motivam a criao dos empreen-
dimentos associativos so a busca de alternativas de trabalho diante
do desemprego, a obteno de maiores ganhos e de uma fonte com-
plementar de renda, os resultados obtidos revelam-se extremamente
frgeis, como demonstram os dados referentes ao nmero de empre-
endimentos que obtm sobras e o valor da remunerao dos scios
que trabalham no empreendimento;
arriscado supor que o reduzido ganho econmico dos scios
deve ser relativizado pelo fato de muitos empreendimentos terem
declarado que a razo de sua existncia reside na possibilidade de
obteno de uma fonte complementar de renda para os seus associa-
dos. plausvel supor que esta renda seja a complementao de ou-
tra igualmente precria;
as assessorias recebidas abordam mais os aspectos tcnicos
dos empreendimentos e os princpios do cooperativismo e do asso-
ciativismo, o que, certamente, contribui para a formao inicial do
grupo e para o aperfeioamento das atividades realizadas. Parece claro,
entretanto, que os grupos se ressentem de um maior apoio de insti-
tuies e agentes que estimulem a elaborao e o entendimento co-
letivo das condies necessrias viabilidade dos empreendimen-
tos, considerando, simultaneamente, os aspectos econmicos e as-
sociativos. Se isto verdade, o desenvolvimento e a sustentabilida-
de dos empreendimentos associativos colocam-se diante do seguin-
te desafio: como promover, no mbito de polticas especialmente
dirigidas ao fomento da economia popular solidria, a preparao
de instituies pblicas e de ensino visando formao de educa-
dores ou agentes de desenvolvimento desta economia aptos a pres-
46
tarem uma capacitao apropriada a este tipo de organizao social?
Neste ponto, entretanto, cabe uma indagao: se o emprego
regular se apresenta como uma possibilidade cada vez mais remota,
o que levaria, sobretudo nos espaos urbanos, opo pelo trabalho
associativo, em vez da atividade individual ou familiar, que j mais
extensivamente utilizada como uma alternativa de trabalho? Ainda
mais considerando que o trabalho associativo pressupe um apren-
dizado e relaes mais complexas do que aquelas requeridas pela
atividade por conta prpria. Certamente possvel encontrar vrias
respostas. Embora a busca de trabalho face ao desemprego se consti-
tua numa forte motivao para a organizao dos empreendimentos
associativos, existem outras motivaes. Ou seja, possvel identifi-
car a busca de alternativas que permitam ganhos econmicos atra-
vs de prticas e relaes sociais que viabilizem uma reapropriao
pelos trabalhadores das condies de existncia do seu trabalho. At
agora, entretanto, esta busca acontece em condies extremamente
adversas aos objetivos que pretende alcanar.
3. A viabilidade dos empreendimentos
associativos populares
Do exposto, parece evidente a necessidade de se pensar as con-
dies necessrias sustentabilidade dos empreendimentos da eco-
nomia popular solidria de forma adequada, posto que a lgica des-
tes empreendimentos mais complexa do que a busca do lucro.
Partimos do pressuposto de que a produo, fora do seu con-
texto, uma abstrao. Qualquer processo de trabalho, seja de uma
empresa privada, de um agricultor familiar ou de um empreendi-
mento associativo da economia solidria, possue os mesmos elemen-
tos constitutivos, ou seja: i) a fora de trabalho; ii) o objeto de traba-
lho (matrias-primas) sobre o qual o trabalho atua; e iii) os meios de
trabalho (instrumentos de trabalho) atravs dos quais o trabalho atua.
Na realidade, o que existe so formas concretas de produo que
47
supem uma determinada combinao de relaes tcnicas e rela-
es sociais de produo. Concretamente, um mesmo contedo tc-
nico assume diferentes formas sociais de produo, que expressam
diferentes relaes de propriedade dos meios de produo e de apro-
priao do resultado do trabalho. As relaes tcnicas descrevem o
processo de produo em seu sentido formal, como inter-relaes
entre o ser humano e a natureza, para mudar a forma desta. As rela-
es sociais de produo do conta da trama que se estabelece entre
seres humanos no processo produtivo, como resultado da maneira
como esto distribudos os meios de produo (Foladori, 2001).
Na empresa capitalista o processo de trabalho manifesta-se
como um meio do processo de valorizao do capital. o local onde
o capital produz e produzido e, por isso mesmo, requer o controle,
abusivo ou refinado, sobre os trabalhadores.
Para os empreendimentos associativos, conceitos tpicos da eco-
nomia capitalista, como salrio e lucro, tornam-se inapropriados e
perdem o seu significado, pois no expressam as relaes sociais de
produo que caracterizam aqueles empreendimentos. A racionali-
dade da economia dos setores populares
8
est ancorada na gerao
de recursos (monetrios ou no) destinados a prover e repor os meios
de vida e na utilizao dos recursos humanos prprios, englobando
unidades de trabalho e no de inverso de capital.
9
Numa empresa
capitalista, o empresrio que decide sobre as tcnicas de produo
e de gesto que vai utilizar. Ele realiza os investimentos (instalaes,
mquinas e equipamentos pertencem a ele) e contrata os trabalhado-
res, que recebem um salrio. Assim, a prpria fora de trabalho
8 No mbito dessa economia dos setores populares convivem tanto as atividades realiza-
das de forma individual ou familiar como as diferentes modalidades de trabalho asso-
ciativo. Essa designao pretende expressar um conjunto heterogneo de atividades,
tal como elas existem, sem idealizar os diferentes valores e prticas que lhe so concer-
nentes. No se trata, portanto, de adjetivar esta economia, mas de reconhecer que os
atores que a compem e que a movem so essencialmente populares.
9 O capital aqui entendido no como a existncia de mquina e equipamentos, mas como
uma relao social, caracterizada pelas relaes de trabalho assalariado.
48
uma mercadoria, cujo uso o empresrio compra em troca de um sal-
rio. O lucro pertence ao empresrio. As normas de gesto e adminis-
trao so estabelecidas pela empresa. A avaliao das alternativas e
as decises so tomadas visando ao maior lucro.
Em um empreendimento associativo, instalaes, mquinas e
equipamentos pertencem ao conjunto dos associados, bem como os
resultados do trabalho. As relaes que eles estabelecem entre si so
diferentes daquelas existentes numa empresa. Para que a atividade
funcione preciso que cada um dos envolvidos assuma, de comum
acordo, compromissos e responsabilidades. So estas regras de con-
vivncia estabelecidas pelos prprios associados que determinam a
forma e a qualidade da gesto do empreendimento.
Se verdade que um pressuposto primordial sustentabilida-
de dos empreendimentos associativos que os seus integrantes co-
nheam as condies necessrias para que a atividade que desenvol-
vem ou pretendam implementar tenha maior chance de xito, um
instrumento essencial a ser utilizado o estudo de viabilidade.
Para que este estudo tenha uma utilidade prtica e contribua
efetivamente para uma maior consistncia dos empreendimentos da
economia popular solidria necessrio que o mesmo considere a
lgica peculiar de funcionamento destes empreendimentos. Nestes
termos, sintetizo, a seguir, uma metodologia que resulta da sistema-
tizao dos conhecimentos proporcionados pela atividade de asses-
soria desenvolvida pela CAPINA, nos ltimos 18 anos, nas reas de
viabilidade econmica, comercializao e gesto democrtica, abran-
gendo mais de 120 empreendimentos associativos em 20 estados do
pas
10
. A partir de 2003, esta metodologia vem sendo aperfeioada
com a contribuio dos alunos do curso de extenso em Viabilidade
10 Uma sistematizao inicial deste conhecimento encontra-se nos fascculos Puxando
o fio da meada: viabilidade econmica de empreendimentos associativos I e Reto-
mando o fio da meada: viabilidade econmica de empreendimentos associativos II,
disponveis no site www.capina.org.br. Sua leitura oferece uma boa avaliao sobre a
aplicabilidade de seu contedo e a efetividade da metodologia adotada.
49
econmica e gesto democrtica de empreendimentos associativos,
promovido pela CAPINA em parceria com o Ncleo de Estudos do
Trabalho da Universidade Catlica do Salvador.
Na perspectiva aqui apresentada, a realizao do estudo de
viabilidade envolve, necessariamente, a participao dos integran-
tes dos empreendimentos associativos. Ou seja, no se trata de um
trabalho tecnocrtico, realizado por especialistas externos ao grupo,
mas de uma construo coletiva de conhecimentos em que os inte-
grantes dos grupos e assessores descobrem juntos as condies ne-
cessrias sustentabilidade do empreendimento. Nestes termos, a
realizao do estudo de viabilidade assume uma perspectiva total-
mente distinta de um trabalho exclusivamente tcnico, hierarquica-
mente superior, realizado por terceiros e que desconsidera o contex-
to cultural e a lgica peculiar de funcionamento dos empreendimen-
tos populares.
O que e para que serve o estudo de viabilidade e gesto de-
mocrtica? O estudo um processo de aprendizado de todos os parti-
cipantes do empreendimento, direcionado para o conhecimento de
todos os aspectos da atividade que realizam. um dispositivo que
instiga os integrantes do grupo a refletir sobre a organizao e as pecu-
liaridades do processo de trabalho, sobre o que cabe a cada um fazer e
por que, sobre as relaes de cada um com os outros e sobre as rela-
es com o seu entorno seja a comunidade local, a famlia, o merca-
do, as entidades de apoio e fomento, o Estado ou as diferentes esferas
do governo. Ele no se restringe, portanto, aos aspectos estritamente
econmicos. Entendido desta forma, o estudo de viabilidade tem um
carter essencialmente poltico. O que se pretende, atravs do estudo,
aumentar a capacidade do grupo de intervir e influir na realidade em
que se situa. Nestes termos, o estudo de viabilidade permite: identifi-
car e fortalecer as condies necessrias para que a atividade tenha
xito; e que todos os participantes conheam a fundo a atividade que
realizam ou esto por iniciar, para que possam se comprometer, com
conhecimento de causa, com as suas exigncias e implicaes. Por si
50
s, no uma garantia de xito da atividade, mas indica as condi-
es necessrias para que a mesma tenha maior chance de xito.
No caso dos empreendimentos da economia popular solidria,
todos precisam ter todas as informaes necessrias para avaliar e
decidir, com segurana, sobre a atividade que pretendem implemen-
tar. Este o maior desafio para o sucesso do projeto. O estudo de
viabilidade, realizado de forma apropriada, constitui-se num instru-
mento indispensvel ao enfrentamento deste desafio.
A anlise de viabilidade de empreendimentos associativos, para
ser eficaz, envolve, necessariamente, as questes gestionrias. So
estas questes que definem as relaes que as pessoas envolvidas no
projeto vo estabelecer entre si, as tarefas, os compromissos e as res-
ponsabilidades a serem assumidas por cada um, tomando por refe-
rncia o processo de trabalho peculiar a cada atividade. Ou, em ou-
tras palavras, as condies para a gesto democrtica do empreendi-
mento. O bom tratamento dessas questes uma condio essencial
para o sucesso do empreendimento. Mesmo quando o projeto vi-
vel do ponto de vista estritamente econmico, surgem muitas ten-
ses e conflitos pelo fato de as regras do jogo no terem sido
previamente combinadas.
11
Do exposto, pode-se concluir que de extrema importncia
elaborar o estudo de viabilidade antes de se iniciar a atividade. Mas
isso o ideal. Na realidade, o que se pode constatar a existncia de
muitos empreendimentos que iniciam as suas atividades sem o estu-
do de viabilidade. O fato de a atividade encontrar-se em operao
no reduz a necessidade do estudo, ao contrrio, torna-a mais urgen-
te, na medida em que o mesmo contribui para fortalecer o que j est
funcionando bem, identificar os aspectos desfavorveis ao xito da
atividade e promover os ajustes necessrios.
11 A construo coletiva destas regras no suprime os conflitos, mas facilita o equacio-
namento das inevitveis tenses, atravs da sua avaliao e dos ajustes necessrios a
partir da vivncia cotidiana do grupo. Agradeo esta observao a Anne Guiomar e
Francisco Mariano, colegas do NET-UCSal e que desenvolvem um belo trabalho de
assessoria junto aos empreendimentos associativos populares.
51
O que se busca com o estudo conferir, sistematizar e aperfei-
oar o conhecimento do grupo sobre a atividade que realizam. Um
caminho para isso o grupo formular, para si mesmo, todas as per-
guntas que devem ser respondidas, pelos prprios associados, sobre
os diversos aspectos necessrios ao bom funcionamento da ativida-
de. Estas perguntas envolvem tanto as relaes tcnicas como as re-
laes sociais de produo. O ponto de partida, portanto, o conhe-
cimento sobre o processo de trabalho peculiar a cada atividade.
Para no esquecer nenhuma pergunta importante, elas podem
ser classificadas considerando os vrios aspectos do empreendimento.
No basta, por exemplo, o grupo saber o que quer produzir, mas in-
dagar sobre a quantidade a ser produzida, os investimentos, o pro-
cesso de produo, a matria-prima a ser utilizada, os custos de pro-
duo, a comercializao, a administrao e as questes financeiras.
Na prtica, cada grupo deve formular as perguntas mais adequadas
ao seu tipo de atividade.
Respondendo a essas perguntas, o grupo estar identificando
boa parte das condies necessrias para que a iniciativa tenha xi-
to. O importante saber escolher bem as perguntas. E, depois, bus-
car as respostas. Este procedimento fora o grupo a conferir e, se for
o caso, aperfeioar o seu conhecimento sobre a atividade.
da resposta a estas perguntas que surgiro os nmeros que
sero utilizados, num segundo momento, nas contas que devem ser
feitas. Ou seja, trata-se de ordenar e interpretar os nmeros encon-
trados. Por isso o conhecimento proporcionado por esta primeira parte
essencial. Sem ele no ser possvel dar os passos seguintes. Feito
desta forma, o estudo de viabilidade tambm desmistifica a aparente
complexidade das contas. O bom termo do estudo de viabilidade de-
pende mais do profundo conhecimento sobre a prpria atividade do
que de contas complicadas.
claro que, ao listar as perguntas e buscar as respostas, podem
surgir algumas dvidas. Mas, ao localizar essas dvidas, o grupo es-
tar conferindo o seu prprio grau de conhecimento sobre o projeto
52
e poder, antes de inici-lo, buscar os meios para aperfeioar esse
conhecimento.
Nesta fase, muito importante visitar e conhecer a experincia
de outros grupos que j estejam trabalhando com um empreendi-
mento semelhante ao que se pretende iniciar. Para ser proveitosa,
essa visita deve ser muito bem preparada. importante, por exem-
plo, que antes o grupo faa um roteiro de observao bem adequado,
envolvendo todos os aspectos do projeto.
Como j indicado, o outro componente do estudo de viabilida-
de a discusso e construo das regras do jogo, ou das relaes
associativas do projeto, vislumbrando no apenas os benefcios es-
perados da atividade econmica, mas antevendo o trabalho, as exi-
gncias e as responsabilidades que dela emanam.
Um caminho para que estas regras de convivncia sejam cole-
tivamente construdas o grupo tambm formular algumas questes
para serem discutidas entre todos os seus membros. Por exemplo:
quem vai participar do projeto? Participam scios e no scios? Em
que condies? Quem vai ser o responsvel pela manuteno dos
equipamentos? Qual o critrio para remunerao dos scios? No caso
de beneficiamento de produtos agrcolas, a matria prima vai ser
fornecida pelos prprios scios? Como ser o pagamento? Somente
aps o beneficiamento e a venda do produto final ou antecipada-
mente? Quem vai cuidar das vendas: uma pessoa ou o grupo todo?
Se tiver uma pessoa responsvel, ela ser remunerada ? De que for-
ma ? Quais so as tarefas de administrao? Quem vai cuidar delas?
Que anotaes e registros fsicos e financeiros so necessrios? Quem
vai fazer e como sero feitas essas anotaes? Como repassar os re-
sultados para todos de forma compreensvel? Qual ser o destino
das sobras? Sero distribudas entre os scios? Sero destinadas
formao de um fundo? Com que objetivo? E no caso de haver um
prejuzo? Como sero tomadas as decises?
Estes procedimentos contribuem para que a percepo e a im-
plementao dos procedimentos necessrios a uma gesto democr-
53
tica do empreendimento sejam tratadas de forma prtica, o que pare-
ce ser mais eficiente do que discusses isoladas e abstratas sobre os
princpios do cooperativismo e do associativismo.
Estes procedimentos tambm contribuem para a reflexo so-
bre o lugar do assessor como educador, em contraposio ao asses-
sor exclusiva ou essencialmente tcnico, no por um ato de vontade
ou mera declarao de princpios, mas pelos procedimentos e dispo-
sitivos inerentes prpria execuo do estudo. A formulao das
perguntas e a busca das respostas conduz sistematizao de um
conhecimento novo, que resulta de saberes diferentes. Nestes ter-
mos, os procedimentos adotados marcam uma diferena entre uma
simples transferncia de contedos e uma atividade formativa mais
ambiciosa, na qual os sujeitos do processo se descobrem mais for-
talecidos no que so, no que fazem e no que podem.
4. Economia solidria e transformao social
Num pas como o Brasil, preciso indagar sobre a situao de
milhes de pessoas que vivem de ocupaes precrias e, sobretudo,
do trabalho realizado de forma individual ou familiar. Aqui, o em-
prego regular assalariado nunca foi uma perspectiva realista para
um grande contingente de trabalhadores e, nos tempos que correm,
torna-se uma possibilidade cada vez mais remota. Diferentemente
do que ocorreu durante o perodo desenvolvimentista, a fora de tra-
balho no Brasil est se deslocando do plo dinmico e moderno para
outras formas de insero, precarizadas e que trazem menores rendi-
mentos ou, ento, simplesmente, para o desemprego aberto.
Em 2004 segundo dados do IBGE-PNAD , o Brasil possua
uma populao economicamente ativa (pessoas trabalhando ou pro-
curando trabalho) de 92,8 milhes. Deste total, 84,5 milhes esta-
vam ocupadas e 8,2 milhes desempregadas. Os trabalhadores com
carteira assinada correspondiam a apenas um tero do total da popu-
lao ocupada. Ou seja, de cada dez trabalhadores ocupados apenas
54
trs possuam um emprego regular assalariado
12
. Os trabalhadores
por conta prpria somavam mais de 18,5 milhes, correspondendo a
22% da populao ocupada. Contrastando com o discurso do empre-
endedorismo
13
, as informaes disponveis sobre o trabalho por con-
ta prpria revelam uma realidade marcada pela precariedade. O ren-
dimento mdio proporcionado por este tipo de trabalho inferior ao
do trabalhador assalariado com carteira assinada
14
. Cerca de 21,6%
dos trabalhadores por conta prpria auferiam uma renda de, no m-
ximo, at meio salrio-mnimo e 22,1% entre mais de meio a 1 SM.
Em grande parte, o trabalho por conta prpria realizado no prprio
domiclio e os clientes so os moradores do prprio bairro, constitu-
indo um circuito de pessoas pobres interagindo com outras pessoas
pobres. Ao invs de um espao que viabilize e estimule o desenvol-
vimento de prsperos empreendedores, o trabalho por conta prpria
o lugar onde vai sendo despejada uma parcela crescente da popu-
lao, num quadro marcado pela escassez do emprego regular assa-
lariado.
Considerando-se como trabalho precrio o conjunto formado
pelos empregados sem carteira assinada, pelos trabalhadores por
conta prpria, pelos no remunerados e pelos que produzem para o
prprio consumo, tem-se um total de 48 milhes de trabalhadores,
correspondendo a 57% da populao ocupada. Neste cenrio, qual a
12 Isto significa que a maior parte da populao no possui nenhum amparo frente ao
desemprego. Uma condio para o acesso ao seguro-desemprego ter trabalhado du-
rante o mnimo de seis meses com carteira assinada. Em muitas famlias, a obteno
de alguma renda depende exclusivamente de programas de transferncia de renda, a
exemplo do Bolsa-famlia.
13 Face s possibilidades cada vez mais distantes do emprego regular assalariado, uma
certa viso, compatvel com a crena ultraliberal, prope aos desgarrados do mercado
regular de trabalho que adquiram uma tal de empregabilidade; que montem os seus
prprios empreendimentos. Tudo dependeria do esforo, do grau de instruo e do
esprito empreendedor de cada um. Se no conseguem empregos, que sejam empre-
srios de si mesmos!
14 Em 2004, o rendimento mdio do trabalhador por conta prpria era de R$ 421,00 e
dos assalariados (inclusive os sem carteira) era de R$ 652,00 (IBGE, PNAD, 2004).
55
perspectiva dos 8,2 milhes de desempregados e do contingente de
mais de 1 milho de pessoas que ingressa no mercado de trabalho a
cada ano?
At os anos 1970, predominava a viso que explicava a pobre-
za, sobretudo a pobreza urbana, como algo residual ou transitrio a
ser superado pelo desenvolvimento da economia capitalista. Desse
ponto de vista, no haveria razo para se perder tempo discutindo a
situao das pessoas no-integradas ao mercado capitalista de traba-
lho. Trs dcadas depois, cresceu o nmero de trabalhadores imer-
sos num circuito inferior da economia, do qual j nos falava Mil-
ton Santos (2004), abrangendo modalidades de trabalho que tendem
a se reproduzir com a prpria expanso dos setores modernos
15
. Por
sua magnitude e carter estrutural, o crescimento dessas formas de
trabalho j no pode ser explicado como um fenmeno residual, tran-
sitrio ou conjuntural. Em outras palavras, parece que no se trata
de um contingente que, algum dia, ser engatado ao processo de cres-
cimento proporcionado pelos investimentos no circuito superior
da economia, mas da presena de um futuro a ser recriado em escala
ampliada.
Se verdade que o emprego assalariado regular uma possibi-
lidade cada vez mais remota e se o discurso da empregabilidade se
constitui numa miragem, o futuro dessas pessoas, agora, seria a cha-
mada economia solidria? Os empreendimentos associativos proje-
tados pelo(s) iderio(s) da economia solidria seriam, agora, um novo
ponto de chegada, o horizonte que se vislumbra, ou uma iniciativa,
ao lado de outras, que converge para a promoo de prticas sociais
transformadoras?
Os dados do mapeamento nacional em economia solidria re-
gistram a existncia de quase 15.000 empreendimentos, envolvendo
15 Este circuito inferior da economia possui razes histricas e foi amplificado, como um
fenmeno urbano massivo, pelas polticas econmicas implementadas a partir da
dcada de 90.
56
mais de 1,2 milho de trabalhadores. Certamente estes nmeros so
maiores, pois o mapeamento no abarcou todos os municpios. Mes-
mo admitindo-se este fato, as caractersticas dos empreendimentos
associativos anteriormente analisadas sugerem concluses cautelo-
sas sobre o lugar atualmente ocupado por estes empreendimentos
como uma alternativa em larga escala para os mais de 8 milhes de
desempregados e 48 milhes de trabalhadores que exercem trabalho
precrio.
Neste passo, pode-se chegar seguinte indagao: o movimen-
to da economia solidria representaria, como indicam alguns analis-
tas crticos da economia capitalista, um simples modismo, usado para
amortecer esperanas impossveis de ser satisfeitas pelo mercado
capitalista de trabalho?
Sobre esta indagao, deve-se observar que:
at o incio da dcada de 1990, atribua-se pouca importn-
cia poltica s iniciativas populares que se dedicavam produo/
comercializao de bens e servios. Pode-se dizer que existia um
certo preconceito, como se os grupos populares se maculassem ao
entrar em contato com o mercado. Ou, ento, eram vistos como uma
expresso das aes assistencialistas destinadas a amenizar o aumento
da pobreza. possvel que a forma de se olhar para estes grupos
tenha sido eclipsada pela relevncia conferida luta sindical, ou
pela perspectiva de que somente as mudanas polticas nas relaes
de poder permitiriam pensar um mundo melhor. Nesta tica, a res-
ponsabilidade pela gerao e pela gesto dos investimentos econ-
micos seria de competncia dos empresrios e do Estado. Isto est
mudando. Ou seja, no mais plausvel supor que as formas e as
possibilidades de trabalho sejam ditadas exclusivamente pelos in-
vestimentos no circuito superior da economia;
a recente expanso do movimento da economia popular soli-
dria contm uma novidade: mesmo que de forma ainda incipiente e
no explcita, a percepo dos mercados pelos movimentos sociais
como uma realidade simultaneamente econmica e social contesta a
57
viso liberal do mercado como um regulador sem reguladores, e apon-
ta para a resistncia e proposies, desde o interior da economia de
mercado, contra a excluso imposta pela ordem capitalista. So pr-
ticas que se vinculam aos mercados e enfrentam temas como traba-
lho, renda e polticas pblicas; e
deve-se admitir que os empreendimentos associativos, hoje
denominados de economia solidria, antecedem a qualquer esque-
ma terico
16
, nem sempre ou apenas parcialmente claro ou avocado
pelos trabalhadores que, por iniciativa prpria, organizam-se em for-
mas de trabalho que antecedem o que, agora, os novos conceitos
17
buscam denominar ou projetar. Trata-se, portanto, de uma forma so-
cial de produo que historicamente se desenvolve contestando a
organizao capitalista do trabalho. Nestes termos, no existem ra-
zes para rejeitar o movimento da economia solidria, sob o argu-
mento de tratar-se de um novo devaneio concebido para abrandar
uma inexorvel excluso social.
Com o risco de reafirmar o bvio, convm insistir que no se
trata de idealizar os empreendimentos da economia popular solid-
ria como se fossem regidos por valores e prticas assentados exclusi-
vamente em relaes de solidariedade, e que estas se constituiriam
na motivao determinante dos seus integrantes para a organizao
e gesto cotidianas destes empreendimentos. Os seres humanos no
so movidos apenas por necessidades, mas tambm por desejos. E
podem encontrar motivos para a cooperao, mesmo quando bus-
cam o auto-interesse. A suposio restrita e simplificadora de que os
empreendimentos da economia popular solidria se assentam num
nico princpio motivador e organizador gera a iluso sedutora de
16 Como se sabe, as experincias cooperativistas surgem no sculo XIX como uma resis-
tncia produo capitalista.
17 Economia solidria, economia popular solidria, scio economia solidria, economia
do trabalho, etc.
58
aparentes solues perfeitas, mas frustrantes, transformando paisa-
gens socialmente vivas e factveis em miragens.
18
Para concluir, pode-se formular algumas hipteses concernen-
tes sustentabilidade e ao lugar dos empreendimentos associativos
num processo de transformao social:
dadas as condies atuais, os empreendimentos associativos,
por si ss, no dispem de condies para superar as principais difi-
culdades e fragilidades que enfrentam. A sustentabilidade dos em-
preendimentos da economia solidria depende de aportes econmi-
cos e sociais que no so reproduzveis atualmente no seu interior e
que limitam o seu desenvolvimento. Essa transformao transcende
os aspectos estritamente econmicos, requerendo uma ao conver-
gente e complementar de mltiplas instituies e iniciativas nos cam-
pos poltico, econmico, social e tecnolgico, envolvendo ONGs, sin-
dicatos, igrejas, universidades, rgos governamentais etc.;
num plano mais imediato, o enfrentamento de muitas das
atuais dificuldades das organizaes econmicas populares pressu-
pe um trabalho educativo diferenciado e permanente junto s mes-
mas, voltado para a construo de um conhecimento, por parte dos
seus integrantes, sobre as condies necessrias viabilidade eco-
nmica e gestionria destas organizaes. O processo de constuo
deste conhecimeno, nos termos aqui descritos, um ato essencial-
mente poltico, que contribui para potencializar a compreenso e a
capacidade de interveno dos empreendimentos populares sobre a
realidade em que se situam. Trata-se, portanto, de formar assessores
educadores ou agentes de desenvolvimento da economia popular so-
lidria aptos a prestarem uma capacitao apropriada aos empreen-
dimentos. Isto requer o desenvolvimento e a amplificao de conhe-
cimentos e prticas adequadas realidade especfica dos empreen-
18 Alm disso, como observam ASSMANN e SUNG (2000, p.158) Quando se busca a
solidariedade perfeita, ou solues definitivas, impe-se sobre as pessoas e grupos
sociais um fardo pesado demais para se carregar
59
dimentos da economia solidria, para que se transforme num saber
coletivo o que alguns grupos j conseguiram. evidente que isto
implica um esforo em larga escala, que permita ir alm da ao
pontual e localizada que vem sendo atualmente desenvolvida por
algumas instituies de apoio e assessoria; e
em termos de perspectivas, no se trata de discutir se a cha-
mada economia solidria, entendida como os empreendimentos as-
sociativos populares, se constitui numa alternativa no capitalista
ao desemprego, como afirmam alguns autores. cedo ainda para
dizer qual a trajetria e o espao que esta forma social de produo
poder alcanar, num processo de transformao de uma sociedade
como a brasileira, face s mudanas centrais do capitalismo nestes
tempos que correm. Mas talvez seja possvel afirmar que, num pas
como o Brasil, onde um grande contingente de trabalhadores sempre
esteve fora do emprego assalariado regular, a expanso consistente
dos empreendimentos da economia popular solidria pode somar-se
ao processo mais amplo de transformao do trabalho: do estatuto
de carncia para o estatuto poltico de produtor e produto da cidada-
nia. Representaria, portanto, um passo e uma forma de caminhar, ao
lado de outros, no itinerrio pela desmercantilizao da fora de tra-
balho. no mbito desse processo maior que mais plausvel ante-
ver as potencialidades emancipadoras dos empreendimentos as-
sociativos e as expectativas em relao economia popular solid-
ria, no como algo que expresse um novo ponto de chegada ou que
se revele como um novo demiurgo que recria e remodela a socieda-
de, mas convergindo com outras iniciativas, antigas e novas, suscita-
das pela vivncia de prticas sociais transformadoras.
60
Referncias
ASSMANN, H. e SUNG, J.M. Competncia e sensibilidade solidria. Edu-
car para a esperana. Petrpolis, RJ: Vozes, 2000
BRAUDEL, F. O tempo do mundo. So Paulo: Martins Fontes, 1996.
CORAGGIO, J. Sobre la sostenibilidad de los emprendimientos mercantiles
de la economa social y solidaria. Disponvel em < http://
www.coraggioeconomia.org.>. Acesso em 20/05/2006.
FOLADORI, G. Limites do desenvolvimento sustentvel. Campinas, SP: Edi-
tora da Unicamp, So Paulo: Imprensa Oficial, 2001.
IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios 2004. Disponvel em
<http// www.ibge.gov.br >. Acesso em 20/05/2006.
______ Economia Informal Urbana 2003. Disponvel em <http//
www.ibge.gov.br >. Acesso em 20/05/2006.
KRAYCHETE, G., COSTA, B., LARA, F. (Orgs.). Economia dos setores popu-
lares: entre a realidade e a utopia. Petrpolis, RJ: Vozes; Rio de Janeiro:
Capina; Salvador: CESE: UCSAL, 2000.
MTE-SENAES. Sistema nacional de informaes em economia solidria.
Termo de referncia. 2004. Disponvel em <http//www.mte.gov.br>. Aces-
so em 20/07/2006.
MTE-SENAES. Sistema nacional de informaes em economia solidria.
Relatrio nacional 2005. Disponvel no site <http//www.mte.gov.br>. Aces-
so em 20/07/2006.
SANTOS, M. O Espao dividido: os dois circuitos da economia urbana dos
pases subdesenvolvidos. So Paulo: Editora da Universidade de So Paulo,
2004.
SINGER, P. Economia solidria: um modo de produo e distribuio. In:
SINGER, P.; SOUZA, A. (Orgs.). A economia solidria no Brasil. A autoges-
to como resposta ao desemprego. So Paulo: Contexto, 2000.
SEI. Empreendimentos solidrios na Regio Metropolitana de Salvador e
Litoral Norte da Bahia. Superintendncia de Estudos Econmicos e Sociais
da Bahia. Srie Estudos e Pesquisas, n. 69, 2004.
61
Questes debatidas
Gabriel Kraychete
Consumo tico e solidrio e cadeias produtivas
Qual a importncia do consumo tico e solidrio para a sus-
tentabilidade dos empreendimentos da economia popular solidria?
Sabemos que as decises de consumo envolvem a produo e a re-
produo de valores, ou seja, envolvem a forma como vemos (ou no
vemos) o mundo. Comportamentos dirios e decises cotidianas de
consumo podem resultar, por exemplo, em maior ou menor agresso
natureza, numa atitude de protesto contra as empresas que utili-
zam o trabalho infantil, no reconhecimento de empresas que reali-
zam atividades filantrpicas ou toda uma srie de atividades tidas
como socialmente responsveis , e podem afirmar, tambm, a pre-
ferncia pelos bens e servios da economia solidria. Neste ltimo
caso, a compra de um produto ou servio se traduziria num estmulo
ao desenvolvimento de novas relaes de trabalho, nas quais a fora
de trabalho no se constitui numa mercadoria, ao contrrio do que
ocorre nas empresas capitalistas (mesmo nas socialmente respon-
sveis ou ecologicamente corretas).
As decises dos consumidores, portanto, no so irrelevantes
e podem exercer diferentes impactos. Mas convm problematizar o
real alcance destas decises num processo mais amplo de transforma-
o social. Os consumidores, por exemplo, podem incluir a varivel
ambiental em suas decises de compra, dando preferncia aos pro-
dutos e servios que no agridam o meio ambiente o que, sem dvi-
da, pode pressionar as empresas para uma produo mais limpa em
termos ambientais. Vrias empresas, sem deixarem de ser capitalis-
62
tas, passaram a oferecer produtos para pessoas com um certo poder
aquisitivo e que tm a preocupao com o impacto ambiental do
consumo, percebendo-as como uma nova fonte para realizarem os
seus lucros. Em resposta maior sensibilidade dos consumidores s
questes sociais e ambientais, as empresas buscam vincular as suas
marcas ao desenvolvimento de aes socialmente responsveis,
mesmo que estas aes no sejam to verdadeiras ou consistentes.
Assim, at mesmo instituies financeiras ou empresas poluidoras
buscam aparecer aos olhos do consumidor como empresas verdes
ou socialmente responsveis.
Valorizar demasiadamente a responsabilidade dos consumido-
res como meio de mudana social pode eclipsar a necessidade in-
substituvel de polticas pblicas direcionadas para a produo, dis-
tribuio e para o consumo. Existem mudanas essenciais que no
dependem das decises dos consumidores individuais. Por exem-
plo: importante que existam polticas pblicas orientadas para as
compras governamentais de produtos da agricultura familiar. Mas
isto pressupe a existncia de programas governamentais que me-
lhorem a insero dos agricultores familiares no mercado (reforma
agrria, crdito, pesquisa, assistncia tcnica etc). Sabemos que o
beneficiamento de produtos agrcolas realizado pelas cooperativas
de agricultores familiares tambm encontra barreiras, porque os pa-
dres da legislao sanitria no so adequados ao porte destes em-
preendimentos. Ou seja, o problema no reside na deciso dos con-
sumidores, mas em aes que envolvem opes polticas, inclusive
de mudanas na legislao.
Outro exemplo: vamos admitir que os consumidores com po-
der de compra para adquirir automveis optem por tecnologias e
combustveis menos poluentes. Isso no substitui os investimentos
em polticas pblicas visando melhoria dos transportes coletivos e
o incentivo ao uso desse meio de transporte e no do transporte indi-
vidual.
Vamos admitir, agora, que a maior parte dos consumidores opte
63
pelos produtos da economia solidria. O que nos diz o mapeamento
nacional em economia solidria? Os empreendimentos desta econo-
mia apresentam uma reduzida escala de produo concentrada em
poucas atividades e produtos: predominam as atividades de produ-
o e comercializao de produtos da agropecuria, extrativismo e
pesca, seguidas pela produo e servios de alimentos e bebidas e
produo de artesanato.
Ou seja, de forma resumida, eu diria que, dadas as condies
atuais, o problema prioritrio no reside no consumo, mas no inves-
timento. A questo primeira e determinante no mudar a estrutura
do consumo, mas da produo. Quais so as condies de investi-
mento e produo dos empreendimentos da economia solidria? Os
recursos para iniciar a atividade provm, sobretudo, dos prprios
associados e de doaes. Boa parte dos empreendimentos funciona
em espaos emprestados. So problemas que no se resolvem a par-
tir de uma deciso individual dos consumidores nem, tampouco,
por um desejo dos trabalhadores em produzirem de forma associa-
da. Por si ss eles no tm condies de mudar esta situao. Em
minha exposio eu me detive nas condies de sustentabilidade
interna aos grupos, mas a minha primeira observao foi que a sus-
tentabilidade dos empreendimentos solidrios depende de fatores e
condies externas, enfatizadas pelo Coraggio em toda a sua fala.
Nem mesmo as empresas investem com recursos prprios, mas be-
neficiam-se de auxlios, emprstimos, pesquisas, infra-estrutura e
isenes proporcionadas pelo Estado. O desenvolvimento do agro-
negcio no Brasil, por exemplo, foi ancorado em pesquisas e tecno-
logias desenvolvidas por alguns rgos pblicos. Aos empreendimen-
tos da economia popular solidria faltam condies mnimas das
quais usufruem as empresas capitalistas: financiamento, pesquisa,
infra-estrutura bsica (saneamento, urbanizao adequada, seguran-
a, vias de acesso etc), que impedem, inclusive, o acesso dos consu-
midores a estes empreendimentos.
Mas existe uma outra razo para no valorizarmos demasiada-
64
mente a deciso dos consumidores como meio de transformao so-
cial: o poder de consumo no uma varivel independente, no
algo que levite no espao descolado de estruturas sociais e econmi-
cas. Ele depende, por exemplo, da renda das pessoas. Sabemos que o
Brasil, por razes histricas, possui uma estrutura de repartio da
renda extremamente concentrada. Em nosso pas, do total de 87 mi-
lhes de pessoas ocupadas, 70% recebem, no mximo, uma renda
equivalente a at 2 salrios-mnimos (SM) e 41% recebem, no mxi-
mo, at 1 SM. Menos de 1% tm renda equivalente a mais de 20 SM.
Apenas 17% se situam na faixa de 3 a 20 SM. Isto significa que a
maior parte da populao brasileira no tem renda suficiente para
um consumo adequado. Os pobres tm um consumo insuficiente e
fragmentado. Acreditar em mudanas significativas atravs do con-
sumo seria depositar as nossas esperanas nas decises de uma pe-
quena parcela da populao com poder de consumo suficiente, in-
clusive para fazer escolhas. O n da questo, portanto, no reside no
consumo, mas na estrutura extremamente injusta e desigual de repar-
tio da renda. Em outras palavras, mudanas efetivas, atravs das
decises de consumo, pressupem que todos tenham o mesmo poder,
caso contrrio o poder de mudana estar concentrado nas mos dos
que tm renda suficiente para influir no padro de consumo.
Quando falamos em cadeias produtivas dos empreendimentos
da economia solidria, temos que ter a mesma cautela. Apenas 6%
dos empreendimentos econmicos solidrios adquirem matrias-pri-
mas de outros empreendimentos solidrios. O funcionamento das
redes, portanto, pressupe mudanas estruturais nas condies de
investimento e produo dos empreendimentos solidrios. No se
trata apenas do consumo individual/domstico, mas do consumo de
bens e servios intermedirios (matrias primas, insumos, mquinas
e equipamentos etc) entre os prprios empreendimentos da econo-
mia solidria. Ou seja, o funcionamento das redes no depende es-
sencialmente das decises dos consumidores finais, mas de mudan-
as estruturais nas condies de investimento e produo daqueles
empreendimentos.
65
Existem algumas iniciativas que podem ilustrar as possibilida-
des de integrao das cadeias produtivas. Um exemplo sempre cita-
do o da Justa Trama, integrando vrios processos produtivos, des-
de o algodo orgnico produzido no Cear at a produo de confec-
es no Rio Grande do Sul. Para tirarmos ensinamentos destas expe-
rincias preciso ir alm da descrio da forma como funcionam e
dos resultados que vm obtendo. Uma anlise das condies que
esto permitindo o desenvolvimento destas redes, confrontando-a
com as condies vivenciadas pela maior parte dos empreendimen-
tos associativos, pode contribuir para elucidar as condies necess-
rias para que se transforme numa realidade extensiva a todos, o que
alguns grupos j esto conseguindo.
s vezes, criamos a iluso de solues fceis, recorrendo a cer-
tos termos: cadeia produtiva um deles. Certa vez, presenciei um
tcnico de uma instituio de fomento s pequenas empresas propor
a integrao da cadeia produtiva do geladinho como soluo para
os parcos rendimentos das mulheres que vivem, h anos, da produ-
o e venda deste produto, com uma renda mensal de R$70,00 num
bairro popular de Salvador.
Mas, saindo da periferia da cidade do Salvador e olhando para
o cenrio internacional, o que vemos? 1,4 bilho de pessoas ganham
menos de um dlar por dia. Dois bilhes de pessoas tm dificuldade
de acesso at mesmo gua potvel. Estima-se que 800 milhes de
pessoas sejam afetadas pela fome
19
. E, certamente, estes nmeros
podem ser ampliados, pois, como nos ensina Milton Santos, ser po-
bre no apenas ganhar menos do que uma soma arbitrariamente
fixada, mas participar de uma situao estrutural com uma posio
relativa inferior dentro da sociedade como um todo. Qual o poder de
deciso destas pessoas sobre o consumo?
A maior parte do comrcio internacional realizada no ape-
19 Cf. Santos, Milton. Por uma outra globalizao: do pensamento nico conscincia
universal. Rio de Janeiro: Record, 2000.
66
nas entre os prprios pases desenvolvidos, mas entre as empresas
sediadas nestes pases. Os 47 pases menos avanados participam
apenas com 0,3% do comrcio internacional. Os grandes atores des-
te mercado so as empresas globais. O faturamento de uma nica
empresa (General Motors) superior soma do PIB de 11 pases da
Amrica Latina.
20
Concluso: convm ponderar e colocar no seu de-
vido lugar as possibilidades de mudanas globais atravs do consu-
mo. Caso contrrio, estaremos depositando nossas expectativas nas
intenes das empresas e nas decises de consumo (consciente, ti-
co, solidrio) de uma pequena parcela os mais ricos da populao
mundial. Os pobres seriam expectadores ou atores passivos desta
mudana. Resta saber se isto possvel...
20 Cf. Beinstein. Jorge. Capitalismo senil: a grande crise da economia global. Rio de Ja-
neiro: Record, 2001.
67
Sustentabilidade e luta contra-hegemnica
no campo da economia solidria*
Jos Lus Coraggio
Estou muito feliz por estar aqui, de volta, oito anos depois...
No s pela qualidade das instituies e das pessoas que fizeram
esta convocao, mas, especialmente, pelo tema proposto. Creio que
muito oportuno debater o tema da sustentabilidade: a sustentabili-
dade dos empreendimentos na economia popular, ou na Economia
dos Setores Populares conforme o ttulo deste seminrio. Creio que
este um tema crtico.
Dentro do tempo de que disponho, vou procurar fazer uma
sntese dos pontos principais, para que possamos perceber as con-
vergncias e tambm as diferenas que temos na maneira de encarar
a questo proposta, de modo a que possamos abrir um debate fecun-
do sobre esse tema.
I - Introduo
No podemos idealizar a economia popular solidria
O texto de convocao deste seminrio fala em uma econo-
mia popular solidria. Ora, sabemos todos que este no o nico
nome ou o nico ttulo que, aqui na Amrica Latina, nos convoca a
fazer nascer uma outra economia, a fazer pensar uma outra econo-
mia. De qualquer forma, ao aceitar esta convocao, estamos j fa-
* Traduo: Francisco Lara.
68
lando das atividades econmicas dos setores populares. Assim, tera-
mos, ento, que definir o que sejam esses setores populares.
Em princpio, quando nos referimos a setores populares, es-
tamos falando daqueles setores que so trabalhadores, ou seja, da-
queles que tm como meio principal para reproduo de suas vidas
apenas o seu prprio trabalho. No se trata, portanto, dos que so
proprietrios de meios de produo e que usam desses meios para
explorar o trabalho dos outros; mas de setores que at podem dispor
de algum meio de produo como seu meio de vida, mas que no so
ricos, que no podem viver de renda, que no podem viver da mais-
valia extrada do trabalho alheio.
Quando falamos em uma economia dos setores populares, que-
remos dizer que h uma outra economia que aquela dos setores
no populares. E muito importante que tenhamos sempre pre-
sente que a economia dos setores populares se desenvolve dentro
desta outra economia, que mais ampla, e que, sobretudo, uma
economia hegemonicamente capitalista. Na verdade, poderamos nos
contentar com estar apenas dizendo estas coisas ou, ento, podemos
incorporar isto nossa anlise, o que, acredito, o que devemos
fazer.
H uma economia que pblica e h a economia do capital. A
economia popular parte dessa economia capitalista. preciso afir-
mar que o sistema econmico capitalista no um sistema homog-
neo, formado apenas por empresas de capital. Nele se incluem tam-
bm as formas todas que, um dia, foram chamadas de informais;
todas aquelas formas populares de reproduo da fora de trabalho.
Neste momento, o sistema capitalista no est mais precisando do
trabalho de toda a populao e, por isso, ele vem excluindo as pesso-
as de forma massiva. Entretanto, para que se realize a funo de re-
produo da populao, faz-se necessria a utilizao de vrias ou-
tras formas de produo, e todas essas formas fazem parte desta mes-
ma sociedade capitalista.
No podemos idealizar a economia popular existente hoje.
69
verdade que, nela, podemos encontrar atores que so solidrios, mas
isso no quer dizer que ela seja solidria. Pois vamos encontrar tam-
bm, no meio dela, vrios atores que so altamente competitivos;
podemos encontrar, dentro da prpria economia popular, setores que
so altamente destrutivos da vida dos outros.
Quero crer que devemos olhar as atitudes e os valores dos mem-
bros da nossa sociedade, e dos setores populares em particular, como
resultado de uma construo histrica, como resultado do processo
civilizatrio capitalista: e no como se fosse a expresso da nature-
za humana. Vendo as coisas por a, por este critrio, no podera-
mos chegar a explicar o comportamento atual dos setores populares.
E nem eu mesmo compartilho com essa idia, de que haveria uma
verdadeira natureza humana, que seria por si mesma solidria e
voltada reciprocidade e ao esprito de doao.
Creio que devemos nos referir sempre a uma construo hist-
rica. Assim, deste ponto de vista, hoje ns enfrentamos uma econo-
mia popular subordinada, que traz valores que so prprios de uma
sociedade capitalista particular, com variaes entre as diversas cul-
turas e pases, mas que participam todos de uma mesma cultura ba-
sicamente impregnada pela civilizao capitalista. E o que ns esta-
mos implantando uma luta para construir uma outra economia,
uma outra sociedade, outros valores. E isso contradiz a, pelo menos,
boa parte da economia popular atualmente existente.
Assim, com esta viso da economia popular, que tem um setor
solidrio e um no solidrio, dentro de uma economia efetivamente
no solidria, estamos falando como se mencionou aqui de em-
preendimentos que apresentam solidariedade interna; ou seja, que
tm as regras de jogo internas baseadas na reciprocidade e na solida-
riedade para com os outros; mas que estas caractersticas so apenas
internas a cada empreendimento. Cada empreendimento, interna-
mente, pode ser mais ou menos solidrio, pode apresentar um maior
ou menor grau de reciprocidade interna, mas, ao enfrentar o merca-
do, ao enfrentar outros empreendimentos, pode ser muito pouco so-
70
lidrio. Isto pode acontecer, por exemplo, com uma Unidade Doms-
tica, que pode ser muito solidria internamente, pode apresentar uma
grande dose de reciprocidade entre seus membros, mas pode estar
disputando com outras Unidades Domsticas por um posto de traba-
lho ou por um lugar no mercado.
O conceito de empreendimento
Nesta apresentao da economia popular, apareceu o conceito
de empreendimento, palavra que diferente de empresa, mas
que muitas vezes quer dizer a mesma coisa. Quando falamos em
empreendimento, estamos falando em obteno e organizao de
recursos a fim de se conseguir uma entrada de receitas, ou um deter-
minado resultado. Se comparados com uma definio de empresa
mais sociolgica, como aquela de Max Weber, um empreendimento
desses, que chamamos de empreendimento popular, seria uma esp-
cie de empresa subdesenvolvida; uma empresa que no sabe bem
como fazer as contas, que ento nem procura fazer os clculos e que,
por isso, no pode ter indicadores claros para controlar seus resulta-
dos, como se disse aqui. So empreendimentos que esto expostos
s imposies das condies externas muito alm do que seria o
normal; que tm poucas possibilidades de chegar a ter e a desenvol-
ver um projeto prprio, de trabalhar um projeto prprio de modo a
que se antecipem os diversos resultados nos diversos cenrios poss-
veis, permitindo que se tomem decises conforme essa racionalida-
de instrumental.
Essa idia, de se ver um empreendimento a partir da perspec-
tiva da verdadeira empresa econmica que seria aquela empresa
do capital , algo que vai estar o tempo todo ameaando o nosso
pensamento e a nossa compreenso; vamos estar o tempo todo intro-
jetando os valores da empresa de capital ou, seno, lutando para que
eles no nos invadam. Esta uma luta contnua. E no adianta tentar
chegar a um acordo quanto a uma definio mais correta, porque
71
isso, na prtica, vai estar sempre espreita, como se fosse um senso
comum derivado do sistema capitalista.
Uma caracterstica desses empreendimentos de trabalhadores
associados (como foi dito aqui muito bem, e que encontramos tam-
bm em recente estudo que acaba de ser feito na Argentina, chegan-
do mesma constatao) que um percentual majoritrio desses
trabalhadores, antes de se associarem, mantinham j, previamente,
relaes entre si. No caso da Argentina, em que trabalhamos com um
conjunto selecionado por corte porque so empreendimentos asso-
ciados; porque tiveram os melhores promotores; porque tm durado
ao menos trs anos (esto se sustentando) todos eles tinham rela-
es prvias, ou porque foram trabalhadores numa fbrica que faliu
e que agora uma empresa recuperada, ou porque eram campone-
ses, ou eram vizinhos, familiares, ou eram membros de grupos tni-
cos.
Isto quer dizer que, nas periferias de nossos pases, apesar de
tudo, a economia capitalista no conseguiu desencaixar a economia
da sociedade. Em nossos pases, uma parte muito importante da eco-
nomia ainda no se separou da sociedade, como pretende a proposta
de mercado auto-regulado que o liberalismo e o neoliberalismo im-
plementaram. O que muito importante, porque, s vezes, reivindi-
camos a necessidade de re-encaixar a economia na sociedade, quan-
do, no entanto, setores da economia ainda seguem mantendo esse
encaixe.
Mas esta no necessariamente a boa sociedade. Esta a socie-
dade capitalista que inclui a famlia como instituio, que inclui as
associaes como instituies, mas que, muitas vezes, nem essas ins-
tituies e nem a famlia mesma podem ser vistas como ideais. Elas
tm que ser criticadas: so lugar de explorao de gnero, de explo-
rao infantil, e de muitas coisas mais. No d para idealizar, mas
constatar esta relao me parece importante.
72
II - Sustentabilidade dos empreendimentos
da economia solidria
O conceito de sustentabilidade no mundo do capital
Agora, vou entrar no tema especfico a que fomos convocados.
Venho de uma experincia que, na Argentina, ao que me parece, no
se d tal e qual no Brasil. Aqui, vocs tm o programa Fome Zero, de
assistencialismo que, creio, no ainda universal, colocado como
um direito de todo cidado; implica superar ainda o problema da
fome. E quero crer que esse programa no impe condies, no sen-
tido de que ainda que receber este subsdio possa vir acompanha-
do de demandas de lealdade poltica e clientelismo haja necessida-
de de alguma contrapartida econmica.
No caso da Argentina, desde a crise de 2001, houve um progra-
ma chamado Chefas e chefes do lar desempregados que distribuiu
subsdios equivalentes a 45 dlares para cada chefe de lar, sob con-
dio de que ele desse uma contrapartida laborativa, uma contrapar-
tida econmica, ou seja, que trabalhasse. Isto, que como se fosse
uma espcie de Workfare (estado de trabalho) e que pode ser visto
como uma forma de explorao adicional, eu no estou vendo assim.
Como temos em vista um projeto de construir uma outra economia,
estamos vendo isso como uma oportunidade. Caso consegussemos
redirecionar esta atividade laboral no sentido do desenvolvimento
de formas associativas, de formas mais autnomas, de formas pelas
quais no se reproduzisse a relao patro-trabalhador, poderamos,
ento, fazer algo numa escala para a qual, normalmente, no tera-
mos como fazer.
Quando me falam da histria da CAPINA, que uma institui-
o conhecida, com 17 anos de atividade, e que vem trabalhando
com 120 associaes, no podemos deixar de reconhecer que esta
uma escala muito reduzida, mesmo que sua interveno seja de qua-
lidade extraordinria; mas a quantidade tambm importa. Do con-
73
trrio, como fazemos para poder encarar um programa com a magni-
tude do que se exige para se enfrentar o resultado da atual excluso
do mercado de trabalho, se no contamos com a participao do Es-
tado, redistribuindo recursos e impulsionando com sua fora um tal
projeto? Em sociedades como as nossas, sem o concurso de polticas
pblicas que redistribuam recursos, podemos ter muitos mais ope-
radores, como CAPINA, mas no conseguiramos resolver a proble-
mtica social da excluso.
Ento, no caso da Argentina, temos uma poltica pblica que
no tem a inteno de desenvolver a economia associada solidria,
mas sim, de atender uma emergncia, no tendo outra estratgia se-
no a da governabilidade. Mas, desde que a sociedade tenha a possi-
bilidade de ver se afirmar, nesse contexto de mobilizao de recur-
sos, a proposta dos empreendimentos associativos (os trabalhadores
que ocuparam as fbricas, as fraes do movimento dos trabalhado-
res desempregados que preferiu juntar os planos de subsdio e geri-
los coletivamente, etc.), no temos porque no faz-lo.
Foi assim que se conseguiu fazer passar a seguinte advertn-
cia: de que o programa no poderia ser efetivo se no fosse acompa-
nhado de um programa de subsdios de insumos para ferramentas,
para mquinas, assessoramento, crdito para capital de trabalho
etc., com a condio de que as pessoas se organizassem em associa-
es de pelo menos trs pessoas. E ainda se pede que, dentro de uma
mesma associao, essas pessoas no sejam familiares, ou seja, con-
vm que se trate de uma cooperao entre indivduos livres que de-
cidam se associar para trabalharem juntos.
E este no um valor fundamental que o Estado Argentino
tenha reivindicado, porque seus valores so capitalistas. Mas o siste-
ma no monoltico: ele tem contradies. E, s vezes, as polticas
abrem espaos para iniciativas que, mesmo no sendo um desafio ao
sistema, permitem que se possa criar, desde as bases, um impulso
para uma outra coisa, ainda que de dentro do mesmo marco das po-
lticas pblicas.
74
Ento, ao mesmo tempo em que a figura do empreendimento
associativo aparece, aparece tambm a figura do empreendedor: que
tem que ser um pequeno empresrio, que ele tem que ter um projeto,
que queira implement-lo, e que tem que se sustentar. assim, por-
tanto, que aparece aqui o critrio da sustentabilidade, que no foi
uma inveno dos solidaristas. Ele foi tomado da ideologia domi-
nante. Por isso, quando tomamos algum critrio ou algum conceito
da ideologia dominante, temos que ressignific-lo.
bvio que h um conceito de sustentabilidade no mundo do
capital. As empresas que tm competncia, que so competitivas,
que inovam, que acumulam, que, por ganharem as competies, ga-
nham tambm sempre mais competncia, essas se sustentam. Por
outro lado, so tambm muitssimas as que fracassam... E ns temos
que levar isto em conta. Porque, s vezes, camos no erro de achar
que as empresas so eficientes, enquanto os empreendimentos com
os quais trabalhamos so ineficientes. E, no entanto, as empresas
no so eficientes. Certamente que, nas empresas, h um critrio de
eficincia, mas elas tm muitos problemas para cumprirem com aque-
la utopia weberiana de empresa de capital e para se sustentarem no
mercado. De toda maneira, este o mundo da competio, o mundo
dos negcios e dos intercmbios, o mundo do dinheiro, que aquilo
de que tm que se sustentar as empresas de capital.
Temos que ter muito cuidado quando trazemos esse conceito
de sustentabilidade para o mundo da economia associativa solid-
ria, quando trazemos os critrios tericos ideais da boa empresa de
capital e os queremos aplicar aos empreendimentos associativos. Uma
coisa fazer isso como um exerccio, para poder comparar as possi-
bilidades diferenciais que tem a economia associativa, a economia
popular. Outra coisa pretender que a economia popular cumpra o
mesmo princpio que nem as prprias empresas capitalistas conse-
guem cumprir.
75
Uma questo cultural, poltica e de valores
Estamos falando particularmente da sustentabilidade de for-
mas no capitalistas que, mesmo se esto dentro de uma sociedade
capitalista, essas formas micro-socioeconmicas no so capitalis-
tas. No vamos encontrar nelas ningum que seja o dono dos meios
de produo, que contrate fora de trabalho e que extraia mais-valia
atravs desse processo, como fazem os capitalistas.
No entanto, estes empreendimentos vo estar submetidos a
todas as formas de intercmbio desigual que existem no mercado e
vo estar submetidos hegemonia do sistema capitalista; mas, como
forma econmica, eles no tomam a forma de uma empresa capita-
lista.
Discutir sustentabilidade no um tema tcnico e nem se re-
solve com critrios tcnicos: um problema cultural, um problema
poltico, um problema de valores. Sem dvida, para discutir a sus-
tentabilidade temos que levar em conta a questo tcnica, relativa
racionalidade instrumental, a buscar os melhores meios para deter-
minados objetivos e a produzir tecnicamente um produto, de uma
maneira ou de outra. Mas isso no quer dizer que se possa reduzir o
problema da sustentabilidade a uma questo de tcnica, o que quan-
to a isso, provavelmente, o menos importante.
Mas, como ns temos que discutir com o pensamento hegem-
nico, temos que fazer aqui, ento, um jogo astuto: aquele de assumir
a agenda do outro para mostrar a irracionalidade de sua proposta.
Nossa anlise tem que ser crtica: propositiva, mas crtica. Quer
dizer, temos que estar o tempo todo iluminando nossas propostas
com a crtica ao sistema existente. No pode ser apenas, creio, uma
proposta alternativa ao desemprego. Eu, ao menos, no participaria
de um programa que tivesse por objetivo buscar apenas integrar os
excludos no mesmo sistema que os exclui. Se fazemos tudo isso
somente como se fosse uma resposta ao desemprego, precarizao
e alienao, e se estamos, atravs de empreendimentos associati-
76
vos, querendo incorporar as pessoas ao sistema, ento, no esse o
meu programa.
A economia solidria, quando mal entendida, pode se pr como
um programa de integrao social que trata de minimizar e reduzir a
falta de coeso da sociedade. Mas, assim, estaramos querendo inte-
grar os excludos na mesma sociedade capitalista que os excluiu;
agora, como micro empreendedores, mas com as mesmas regras de
jogo do sistema, que vai continuar reproduzindo essa excluso e re-
produzindo, sobretudo, a desigualdade extrema. Isso sim, o que
temos que discutir.
Superar a anlise micro econmica
A pergunta da sustentabilidade pode ser feita no nvel microe-
conmico e creio que como normalmente se faz. Por exemplo, quan-
do Gabriel fala em ponto de equilbrio, preciso dizer que este um
clculo que se faz para uma empresa e que se prope a um micro
empreendimento: quanto temos que produzir e a que preo (no so-
mente o quanto, mas a que preo) para se poder ter um balano entre
o que se gasta e o que se recebe. E, da em diante, supe-se que tudo
vai estar melhor (porque qualquer receita acima deste ponto de equi-
lbrio representa lucro).
Esta uma anlise microeconmica. Uma das coisas que vou
reivindicar discutir que temos que superar a anlise microecon-
mica. Temos que pensar em termos de conjuntos completos de em-
preendimentos. Temos que pensar que situar a sustentabilidade ape-
nas ao nvel micro irrelevante quando se tem em vista um projeto
de transformao. Dentro de um projeto de transformao, um con-
junto amplo de empreendimentos pode estar organizado de tal ma-
neira que alguns deles no sejam sustentveis do ponto de vista de
seu equilbrio financeiro, mas que outros produzam um excedente
que subsidie os demais. Porque, seno, estaramos aplicando o crit-
rio do chamado individualismo metodolgico, pelo qual, se cada
77
unidade eficiente e cada unidade se sustenta, ento o todo vai se
sustentar. S que no bem assim: se no h um todo que sustente
as unidades, no h sustentabilidade. Esta uma hiptese para ser
discutida.
Portanto, no apenas a nossa anlise, mas tambm as nossas
intervenes tm que superar o micro e tm que se colocar no nvel
meso econmico.
Sustentabilidade, ento, no s um conceito, mas tambm
um valor. E um valor que faz parte tambm da tica do mercado. A
sustentabilidade implica que algum, que proprietrio privado de
meios de produo de bens, v ao mercado, participe do mercado e
consiga produzir todas aquelas coisas que os outros desejam. E, a
partir da, que contratos se estabeleam e que sejam cumpridos, para
que, atravs deles, cada um possa reproduzir a si mesmo nesse inter-
cmbio.
Assim, a sustentabilidade depende muito do que os outros
possam decidir a respeito do que eu produzo. Por isso, o problema
da comercializao aparece sempre como o grande problema dos em-
preendimentos. E acredito que esta tambm se tivermos tempo
de debat-lo uma forma equivocada de se colocar o tema da articu-
lao.
Olhar a sustentabilidade como valor, implica uma mudana
de esquema mental. Ou seja, exige uma re-significao do conceito
de sustentabilidade e isso vai implicar que mudemos o esquema men-
tal e a viso que temos da economia social, solidria. E vai implicar
tambm que os outros nos vejam de uma outra maneira. A sustenta-
bilidade vai exigir que o trabalho dos empreendimentos associativos
seja valorizado socialmente, no apenas do ponto de vista estrita-
mente comercial e do desejo de que as coisas sejam compradas, mas
tambm do ponto de vista cultural e do ponto de vista ideolgico.
No suficiente que se faam as contas e que elas tenham um resul-
tado positivo, para que haja sustentabilidade. Temos que ser reco-
nhecidos pela sociedade e, como tais, valorizados pela sociedade.
78
No caso da Argentina (no posso falar do Brasil), muito dessa
economia que se vai gestando, a partir desta poltica pblica, est j
estigmatizado pela sociedade. Ela vista como uma economia de
pobres, como uma economia pobre, vista como um programa de
assistncia, disfarado de economia dos pobres. Isto marca muito
a auto-percepo e o tipo de relaes sociais que se podem estabele-
cer. Ento, desse ponto de vista, no que se refere sustentabilidade,
o que est em jogo no apenas um critrio tcnico.
A racionalidade instrumental
Bom, se procuramos ver em Max Weber, ou em outros autores,
o que uma empresa, Weber coloca que, para o mundo moderno, a
racionalidade de uma empresa dada pela sua capacidade de clcu-
lo, pela sua capacidade de calcular os custos, de calcular as receitas,
calcular tudo o que tem que ser calculado, e ter rentabilidade. Ter o
que aqui se mencionou como um excedente, digamos, um saldo po-
sitivo resultante da conta de entradas menos sadas, ou o resultado
monetrio entre receitas e despesas.
Portanto, isto supe capacidade de clculo. Sem capacidade
de clculo, se estaria comprando, vendendo, fazendo coisas, mas sem
saber que resultado esperar. O pior que s se vai dar conta disso
medida que se v fracassando. Mas essa a idia da antecipao
racional, a idia do projeto que est sendo colocada aqui, ou seja,
que haja uma antecipao, que haja um clculo etc., como condio
da racionalidade. Alis, a racionalidade se define por isso mesmo:
essa a racionalidade instrumental de que estamos falando.
Lamentavelmente, ns tomamos muitas vezes este conceito e
o aplicamos aos nossos empreendimentos. O raciocnio parece cor-
reto. No podemos ser irresponsveis a ponto de propor s pessoas
que sejam empreendedoras, trabalhando por conta prpria ou de
modo associado, e que se ponham a projetar um produto, a produzir
algo para o mercado, sem que estejam seguras de que vo poder se
sustentar no mercado. Ora, se fazemos com que as pessoas iniciem
79
atividades que esto fadadas ao fracasso, estamos sendo irrespons-
veis. Ento, temos que passar a elas algum conhecimento, de modo
que no fracassem. E este conhecimento parece ser a capacidade de
clculo, parece ser exatamente que possam calcular bem os custos,
que possam calcular o ponto de equilbrio, que possam calcular o
tamanho de seu mercado, que possam, enfim, antecipar seus resulta-
dos futuros. No vou querer discutir isso aqui. No porque seja intil.
Mas porque seria extremamente difcil, seno impossvel, faz-lo.
Ento, estamos propondo algo que no pode ser feito, porque
qualquer clculo de custos um clculo das quantidades de insu-
mos multiplicadas por seus preos. E qualquer clculo das receitas
o clculo das quantidades dos bens ou dos servios que vou vender,
multiplicadas por seus preos. S que os preos esto mudando o
tempo todo. E nossos pequenos empreendimentos, por si ss, no
tm nenhuma capacidade de fixar preos.
No entanto, a capacidade que se espera que algum possa ter
para poder demonstrar seriamente a factibilidade do negcio prati-
camente infinita. Ora, nem as empresas exceto algumas grandes
empresas, com muita capacidade de clculo, com muitos computa-
dores podem faz-lo. E os clculos que se fazem so sempre proba-
bilsticos, nunca so exatos. preciso ter em conta que, para alguns
empreendimentos solidrios, conforme este critrio, pequenas dife-
renas podem significar a falncia, porque eles so muito vulner-
veis. Eles no tm a capacidade, que pode ter uma grande empresa, de
perder durante um certo perodo de tempo, inclusive por uma questo
de estratgia, de tal modo que se venha a ganhar mais depois.
Ento, vamos ter que considerar aqui a incerteza e teremos que
considerar tambm o que j se mencionou: os determinantes exter-
nos. Ainda que do ponto de vista micro econmico se tenha feito
todo o clculo e que o resultado me diga que vou me dar bem, isso
tem uma tal quantidade de pressupostos de comportamentos dos
outros que no podem ser controlados. S vamos poder comear a
control-los se trabalharmos com a comunidade, se o externo esti-
80
ver dentro da unidade de interveno, se estamos calculando, esti-
mando no apenas o resultado de uma unidade micro em relao a
um mundo desconhecido, mas se estamos trabalhando com uma
comunidade local. A sim, vou poder internalizar uma boa quantida-
de desses fatores: por exemplo, se aquilo que eu produzo vai ser
comprado ou no.
Se, para vender o que eu fao, eu dependo da vontade livre dos
demais, ento, o tema da comercializao j est presente antes mes-
mo que eu venha a oferecer o meu produto. Mas, se eu decido produ-
zir algo simplesmente porque s aquilo o que eu sei fazer, ou por-
que me disseram que isso deve ter mercado e depois descubro que
no tem, ento, que o problema est mal colocado. Temos que vol-
tar a unir produo e reproduo; quer dizer, vamos ter que fazer
encaixar as necessidades e tambm os desejos, em alguns casos, com
as nossas capacidades de produo.
Se ns trabalhamos apenas a partir das capacidades que as
pessoas tm para produzir, ento, depois vamos ter problemas com
relao aos desejos que os outros vo querer ver satisfeitos. J, se eu
parto daquelas que so as nossas necessidades em uma comunida-
de, daquilo que ns mesmos estamos priorizando se estamos preci-
sando de alimentos, se estamos precisando de uma infra-estrutura
melhor , se produzimos o que estamos dizendo que necessitamos,
ento esse equilbrio entre produo e reproduo estar muito mais
assegurado (e esse ns que existe aqui muito importante).
A caixa preta dos empreendimentos
A idia de que a pequena empresa solidria tenha que contabi-
lizar todos os custos uma idia utpica. Em nossos estudos empri-
cos, quando queremos abrir a caixa preta da lgica e das decises
dos empreendimentos, e perguntamos a eles o que incluem nos cus-
tos e como calculam os preos, a que concluses ns chegamos? Que,
mesmo quando eles realmente fazem os clculos para registrar os
resultados ou para poder antecip-los, o que constatamos que eles
81
no calculam quase custo nenhum. Se entendemos por custos tudo
aquilo que realmente necessrio e utilizado para produzir o pro-
duto, eles, na verdade, no esto calculando custo quase nenhum. O
que incluem no clculo so somente aqueles itens que eles tm que
comprar no mercado: incluem o preo da madeira, porque tm que
comprar fora; incluem o preo dos pregos e da tinta porque tm que
comprar fora, no mercado.
Eles calculam o que tem que ser comprado fora, mas no esto
calculando, por exemplo, o valor da habitao onde se desenvolve a
atividade. Se for um empreendimento que est alugando um local
para funcionar, eles vo incluir esse aluguel em seus clculos por-
que um dinheiro que pagam no mercado. Mas, se o empreendi-
mento funciona na prpria casa, ento, j no incluem. E mais, no
incluem a eletricidade, porque a conta de luz vem para a residncia;
no incluem nem o gs, mesmo se vo gastar mais gs quando se tem
uma produo que necessita energia. No incluem nem o seu pr-
prio trabalho, porque no esto comprando a fora de trabalho no
mercado. E quando tem algum que inclua isso em seu clculo,
porque est comprando fora de trabalho no mercado: a sim, ele
coloca isso entre os custos.
Ento, o que esto calculando como custos somente aquilo
que custa dinheiro, aquilo que requer dinheiro; no o que tecnologi-
camente venha includo na produo.
Tambm, do ponto de vista das entradas, ou receitas, o que
eles incluem s o que entra como dinheiro. Assim como, do ponto
de vista do produto, eles incluem apenas o que foi produzido para
ser vendido. Por exemplo, se h auto consumo, isto no entra na
conta. A empresa no tem como atividade prpria o consumo (exce-
to aquele consumo produtivo, como Marx chamava, quer dizer, o
consumo de insumos etc.). Isto , para os trabalhadores de nossos
empreendimentos populares, se uma parte do que foi produzido for
para auto consumo, para eles isto tem a ver com a famlia, e no
com a economia da produo de alimentos.
82
Esta uma maneira de calcular que tem mais a ver com o equi-
lbrio financeiro, com o equilbrio monetrio entre o que entra e o
que sai. E, se continuamos com esse tipo de anlise e aceitamos isso,
a sustentabilidade fica reduzida a que o empreendimento possa ter
receitas que sejam suficientes para cobrir seus custos. E mais: quan-
do mantemos esse enfoque, o que pretendemos alm disso, claro,
que o empreendimento possa dispor de algo a mais, de um plus, de
algo mais que fique, depois de tudo pago.
E isto que fica, como visto: como rentabilidade? difcil cha-
mar assim, porque, normalmente, isso representa uma mnima parte
do trabalho que foi posto na produo; representa apenas uma parte
da habitao que foi disponibilizada para local de trabalho; repre-
senta somente uma parte dos muitos insumos que, por outro lado,
foram pagos. Mas, sobretudo, uma parte apenas de seu prprio tra-
balho. Ento, o que fica como receita lquida (como aquele plus), in-
clusive se pudermos contabilizar os outros custos de produo (local,
eletricidade, gs, etc.) vai ficar geralmente muito abaixo do que seria
um salrio normal, tendo em vista uma economia na qual houvesse
um standard daquilo que compe uma cesta bsica, compreendendo
tudo que necessrio para a vida e que um salrio deveria cobrir.
Pagando juros com suas condies de vida
s vezes, quando se diz, como o sr. Yunus, do Grameen Bank
o maravilhoso Yunus, que diz , que os pobres podem pagar, e no s
que podem pagar, mas que pagam melhor, vamos ficar atentos. Pois,
o Banco Mundial e o BID pegam isto e convertem esse micro-crdito,
o crdito para os setores populares, num gigantesco negcio finan-
ceiro. Porque, quando o BID ou o Banco Mundial abrem uma linha
de crdito para que possa existir micro-crdito, todos os que partici-
pam disso esto realizando um trabalho para que o capital chegue
at os setores aos quais as empresas bancrias nunca poderiam che-
gar, porque no podem pagar os custos de administrar tantos peque-
nos crditos e nem teriam como calcular os riscos. Ento, ns temos
83
uma viso muito distinta do que significa a solidariedade das cinco
pessoas que esto recebendo um crdito (e que se vigiam entre si,
grtis), ou do trabalho de tantas ONGs que so intermedirias de
micro-crdito.
E quando se pagam juros, quando se pagam custos operacio-
nais, como o caso da Argentina, de at 60% e creio que vocs
esto mais ou menos em situao parecida , estamos , simples-
mente, fazendo com que as pessoas paguem. Foi por conta disso que
agncias da Europa, como a Misereor, mudaram seus critrios. An-
tes, o crdito era grtis, subsidiado. Depois, os doadores europeus de
Misereor disseram: se continuarmos a dar dinheiro para vocs em-
prestarem s pessoas que no podem pagar nem sequer os juros, en-
to, essas pessoas no vo se sustentar nunca. E ns, os doadores,
vamos ter que continuar emprestando sempre, vamos ter que conti-
nuar emprestando ou dando dinheiro, doando para eles. Ora, eles
tm que, pelo menos, poder pagar os juros. Pois isto iria querer dizer
que eles esto produzindo e que esto sendo eficientes; que, um dia,
chegaro a ser autnomos...
No entanto, esses juros que o empreendimento popular paga
no so o resultado de um excedente econmico: so o resultado de
uma reduo de suas condies de vida. Para poderem pagar os ju-
ros, eles passam a ganhar menos, a comer menos etc., exceto se tive-
rem um resultado muito bom. Isso o que, no geral, os nossos estu-
dos mostram: que eles esto pagando os juros com a sua condio de
vida: esto consumindo menos, no esto melhorando sua moradia,
esto andando a p em vez de viajar de transporte pblico, para po-
derem pagar os juros. Ento, certo que pagam, mas isto no quer
dizer que tenham lucro, no quer dizer que tenham algum exceden-
te sobre o valor de seu trabalho.
Portanto, temos que analisar tudo isso quando fazemos a con-
tabilidade de uma empresa para ver se sustentvel ou no.
Como vem, estou entrando um pouco em problemas tcni-
cos. Poderamos desenvolver muito isto, mas no o momento de
84
faz-lo. S diria o seguinte. Se quisssemos aplicar aos nossos em-
preendimentos os critrios estritos de sustentabilidade, que impli-
cam em que se possa cobrir todos os custos, inclusive aqueles da
fora de trabalho, e ainda v sobrar alguma coisa ou, pelo menos,
que eles esto se dando trabalho para si mesmos, estaramos sendo
absolutamente inequitativos: porque este um critrio que no se
aplica sequer s empresas de capital.
Pois, se h alguma coisa subsidiada na economia capitalista,
so as empresas de capital: elas so subsidiadas pelo Estado. Notem
que cada vez que o sistema financeiro quebra, o Estado vem e, com
os nossos recursos, o levanta. Quando h empresas que o Estado
considera, ou havendo grupos de presso que as considerem impor-
tantes, se fraquejam, o Estado as sustenta. As empresas so direta e
indiretamente subsidiadas, por exemplo, porque no pagam os im-
postos que deveriam pagar. Ou so subsidiadas pela prpria classe
trabalhadora, que no cobra o que seria o valor dos bens necessrios
para se ter uma vida digna dentro deste sistema. Portanto, elas so, e
muito, subsidiadas.
O desenvolvimento de uma economia social
Assim, um grande erro pretender aplicar aos nossos empre-
endimentos o que a teoria diz que as empresas fazem. Os nossos
empreendimentos tm que ser, digamos, no apenas subsidiados, eles
tm que ser suportados, apoiados com a transferncia de recursos,
e de recursos produtivos. No d para imaginar que eles vo se le-
vantar a partir apenas de suas receitas. Tem que haver reforma agr-
ria para que se possa recuperar a terra; tem que haver empresas recu-
peradas, com mquinas e equipamentos novos, alm daqueles que o
capital desvalorizou. E tem que haver uma produo de bens pbli-
cos de alta qualidade, o que faz parte da funo redistributiva do
Estado: educao, sade, previdncia etc.
Tem que haver uma educao sria, no a que normalmente
temos. A educao que temos no forma empreendedores, no for-
85
ma pessoas capazes de organizar; ao contrrio, forma pessoas passi-
vas. Pode at haver excees quanto a isso, e algumas dessas pessoas
venham a se revelar, mas o sistema educacional no est formando
este trabalhador autnomo, cooperante, capaz de reciprocidade. Pelo
contrrio, est formando algum que diz: prefiro ter um patro a ter
que empreender por conta prpria. Portanto, o sistema educacio-
nal, o sistema de sade, os sistemas de seguridade social, a infra-
estrutura, todas estas condies no podem ser produzidas pelo mi-
cro-empreendimento.
Do ponto de vista terico, teramos que dizer que o desenvol-
vimento de uma economia social requer algo parecido com a acumu-
lao original do capital, quando surgiu o capitalismo. Necessitamos
captar recursos do modo de produo capitalista para desenvolver
esta economia. H que se recuperar a terra, com mais MST; h que se
recuperar o conhecimento, que fundamental, hoje, o conhecimento
cientifico e tcnico; h que se recuperar o controle do dinheiro; h
que se voltar a desenvolver um sistema financeiro que capte a pou-
pana popular e a direcione para a atividade econmica popular, no
deixando que ela v parar nos grandes monoplios internacionais.
Ora, a recuperao de todos esses recursos no coisa que se
possa fazer sem poltica; todas essas recuperaes s podem ser fei-
tas com poder. No iro nunca resultar apenas do livre jogo do mer-
cado. Por mais exitosos que sejamos em vender nossas mercadorias,
o sistema financeiro no vai mudar, o sistema jurdico no vai mu-
dar, o sistema de propriedade da terra no vai mudar. Isto requer
fora poltica e requer um sujeito poltico ou sujeitos polticos.
III - Compartilhar a utopia para uma
estratgia comum
Surge aqui, ento, um outro problema, que : quem impulsio-
na isso tudo, uma vez que no temos o sujeito histrico, no temos
vista, neste momento, a verdadeira classe trabalhadora?
86
Estamos vivendo um momento de transio, estamos num
momento de transio de pocas histricas, num momento de tran-
sio da civilizao. um momento muito complexo esse que nos
cabe viver, no qual o mnimo que podemos ter seria o cho firme de
uma classe social definida como sujeito histrico. Estamos falando
de uma articulao de mltiplos movimentos, de mltiplas iniciati-
vas, mas que tm de compartilhar uma estratgia comum, tm que
pelo menos ter uma viso de para onde vamos. Para isto, necessita-
mos de utopia.
E esta utopia que muito difcil de se visualizar. Se for uma
utopia de trabalhadores livremente associados, mas que com isso
apenas resolvem as suas necessidades, sem, alm disso, tomando
conscincia, chegarem a reconhecer que sua vida no faz sentido se
os outros todos no tm tambm o mesmo direito a viver bem, no
suficiente. Agora, se, ganhando esta conscincia, passarem a lutar
no apenas por um lugarzinho no qual se vejam bem acomodados
neste sistema, mas passem a lutar e a participar de um movimento
coletivo que tenha como finalidade que todos possam viver bem;
ento, sim, a onde se d a ruptura fundamental, entre uma econo-
mia solidria associativa mas, em ltima instncia, capitalista e
uma economia que, realmente, quer transformar a totalidade social.
Se nesta utopia que estamos pensando, muito difcil convert-la
hoje em aes imediatas; muito difcil realiz-la. Alm do que, hoje,
se supe que as utopias no se podem realizar.
Ento, teremos aqui um trabalho muito importante: sobre como
vinculamos os diversos lugares e as dimenses dentro desta viso
utpica. Mas, para isto, temos que ter uma viso utpica comparti-
lhada, diante da qual possamos definir o que fazer na Bahia, o que
fazer em So Paulo, o que fazer em Buenos Aires, ou em Jujuy; o que
fazer com as comunidades tnicas; o que fazer com as fbricas recu-
peradas; o que fazer com os setores que no tiveram educao ne-
nhuma e com os que no tiveram nenhuma experincia trabalhista;
o que fazer com os jovens entre 15 e 25 anos que no tiveram nenhu-
87
ma experincia de trabalho e com a escola que no os formou para
t-la...
Assim, temos um monto de desafios empricos e cada um de-
les pode ser encarado como se fosse isolado da problemtica global.
Mas este um erro poltico grave. O que temos que fazer estar o
tempo todo articulando os distintos desafios, os distintos problemas,
construo de uma outra economia, que o lema que finalmente
foi surgindo do Frum Social Mundial. Que um outro mundo seja
possvel implica, entre outras coisas, que uma Outra Economia seja
possvel.
Em conseqncia, devemos (vocs me perdoem se estou sendo
to afirmativo, mas o que penso; depois vocs podem debater) pen-
sar no em como resolver o problema de um grupo em um determi-
nado bairro, isoladamente, ou em como conseguimos melhorar sua
condio com respeito ao resto dos setores populares... Mas deve-
mos pensar que temos que fazer isto sabendo que estamos, com os
outros, construindo um caminho para uma outra economia; no para
um rinco, ou um nicho dentro da economia capitalista, onde se v
ser solidrio ali dentro apenas.
Vejam s o que aconteceu com o movimento cooperativo: por
se ter tornado corporativo, encerrou-se em si mesmo e perdeu seu
iderio de transformao social. Em muitos casos, as suas unidades,
que seriam de cooperao, se converteram em empresas que so usa-
das pelas prprias empresas capitalistas para melhor explorarem os
trabalhadores. Por qu? Porque, como movimento, ele no manteve
a fora e o impulso de transformar a sociedade.
A mesma coisa pode vir a acontecer tambm com os empreen-
dimentos solidrios: eles podem formar redes, podem comercializar
juntos, e podem ter lucros ainda maiores, mas ficariam por a alm
de no deixarem de apresentar alta vulnerabilidade.
A sustentabilidade requer uma sociedade que apie estas ati-
vidades e que as reconhea; requer um setor pblico que produza
bens pblicos e que tenha polticas pblicas orientadas nesse senti-
88
do; requer a auto-percepo e a subjetividade de que estamos fazen-
do histria e, no, que estejamos apenas sobrevivendo. Estas e mui-
tas outras condies so necessrias sustentabilidade.
No podemos deixar de ver que uma problemtica to comple-
xa como essa exige ser tratada com enfoques multidisciplinares j
que estamos dentro de uma universidade, entre profissionais de di-
versas reas requer enfoques de antropologia econmica etc... Creio
que ns, economistas, servimos muito pouco para entender esta pro-
blemtica, a no ser se deixamos de ser economistas, ou seja, se nos
envolvemos mais com a antropologia, com a filosofia, com a sociolo-
gia, com a cincia poltica. O que podemos aportar uma viso crti-
ca, porque at agora estivemos dentro deste mundo da chamada eco-
nomia. Isto muito importante para evitar que outros caiam no mes-
mo engodo, de pensar que a economia pode ser tratada em separado
da sociedade...
Bom, creio que melhor parar por aqui. Creio que a idia cen-
tral aquela de que no podemos continuar a manter o contexto, de
que Gabriel falava, apenas como se fosse o contexto: temos que in-
ternaliz-lo em nossas prticas. Ou seja, temos que atuar sobre o
contexto.
Assim, desse ponto de vista, necessitamos da construo de
sujeitos polivalentes, de sujeitos que se articulem. No podemos, na
poca atual, conforme me parece, pensar em organizaes rgidas.
Politicamente, temos que pensar em movimentos que se articulem
rapidamente, diante das mudanas de conjuntura, e que tenham um
efeito de massa importante; que aprendam sempre algo mais a cada
vez e que, logo, voltem a se separar.
como no gosto muito da figura usada por Bauman (o soci-
logo alemo Zygmunt Bauman), de que o slido volta ao lquido,
mas como se estivssemos flutuando no mar. Ora, se estou sozi-
nho, flutuando no mar, lamento dizer que me afogo. Eu no me agen-
to. Mas se estou segurando na mo de outros, agentamos. Sozinho,
no posso. s vezes, me agarro a outros; no estamos com as mos
89
atadas. Temos possibilidade de armar outras redes, de participar junto
com os outros companheiros e, assim, finalmente, chegaremos a ou-
tra terra firme.
Muito obrigado.
90
Questes debatidas
Jos Luis Coraggio
Bem, obrigado pelas perguntas. Vou tratar de, mais do que res-
ponder, elaborar sobre elas.
1. Capacitao e sustentabilidade
Uma primeira questo sobre um tema que apareceu vrias
vezes: aquele da formao e de sua relao com a sustentabilidade.
Creio que, neste campo de prticas de promoo de empreendimen-
tos e de iniciativas de trabalho auto gestionado, solidrio, h uma
forte quota de capacitao. Quase todos os programas tm uma di-
menso de capacitao. Creio que no deve ter sobrado mais ne-
nhum programa que se restrinja somente a dar acesso ao crdito, ou
que somente ajude na comercializao. Alis, muitos programas, hoje,
so s de capacitao.
Atualmente, a capacitao est em toda parte: ser que boa?
til? Atinge seus objetivos? Em princpio, a capacitao que se faz
hoje curta, demasiadamente curta. O paradigma que a UNESCO
tem para a educao diz que, agora, a educao tem que ser ao longo
de toda a vida. E que essa aprendizagem ao longo de toda a vida no
s aquela de aprender fazendo, mas tem que ser tambm de apren-
der estudando e incorporando conhecimento cientfico: para seguir
avanando.
Ser que em quinze dias ou um ms, ou em trs meses, que a
durao que os programas de capacitao costumam ter hoje, vamos
poder garantir o acesso ao conhecimento que necessrio, de modo
91
a que no v fazer falta ao longo de toda uma vida empreendedora?
Absolutamente, no. impossvel. Seria o mesmo que pr um chip
com toda a informao do passado na cabea de uma pessoa, mas
para no conseguir nada, porque essa pessoa vai estar o tempo todo
enfrentando situaes novas. Porque o mundo est mudando, verti-
ginosamente: as tecnologias, os gostos, as pessoas, as condies, tudo
est mudando.
Ao contrrio, esta uma economia da aprendizagem. O funda-
mental poder incorporar a capacidade de aprender com a prpria
experincia e continuar a estudar e a se formar. Uma capacitao
pode servir como uma injeo inicial, de estmulo; ou, ento, pode
atender ausncia de alguma capacidade que o empreendedor no
tenha tido oportunidade de adquirir at ento.
Na Argentina, o problema de capacitar algum que no tenha
tido uma boa base de conhecimentos to srio que os que do capa-
citao acabam tendo muitas vezes que fazer, eles mesmos, o que
devia ser feito pelos que esto sendo capacitados: por exemplo, o
projeto. Em muitos casos, ao ensinar a fazer o projeto, terminam por
faz-lo aqueles mesmos que esto ensinando, porque, em to pouco
tempo, no se pode ensinar como fazer um instrumento to comple-
xo, como um projeto para o futuro.
Assim, creio que temos que fazer a crtica da capacitao exis-
tente e ver como podemos melhor-la. Nisto, eu creio que o que falta
so instituies como a CAPINA, que tm uma longa histria e que
esto a sempre presentes, acompanhando os empreendimentos, as
associaes com as quais trabalham, com uma plataforma firme de
apoio e de assessoria contnua, e no apenas com uma injeo mo-
mentnea. O problema como fazer isto na escala que seria necess-
ria. Porque uma das razes pelas quais os empreendimentos no se
sustentam que no h outros empreendimentos que tenham o mes-
mo projeto. Fazemos tudo pequeno e vamos enfrentar o mercado de
capitais, vamos enfrentar as necessidades dos mais pobres. Isto no
ajuda a sustentabilidade.
92
Para mim, o sistema educativo formal, o sistema pblico de
educao fundamental. Necessitamos de uma reforma do sistema
de educao. Mesmo porque temos todos os dias muito trabalho para
juntar umas trinta pessoas para fazer capacitao e que, muitas ve-
zes, nem bem aquilo o que elas querem. Outro dia, eu estava numa
favela, no Rio de Janeiro, onde as pessoas faziam um curso de capa-
citao. E, o tempo todo, elas perguntavam: tudo muito bem, mas
quando vo me dar o crdito? Ou seja, queriam mesmo comear
logo a produzir, assim que terminasse a capacitao. E eu me per-
guntava: mas ser que esta capacitao algo de to fundamental
assim, para que depois eles venham a produzir mesmo?
Bom, algum havia perguntado algo que aproveito para reto-
mar agora: o que acontece se estivermos propondo alguma coisa que
no aquilo que as pessoas desejam? Ser que legtimo que lhes
ofereamos capacitao se no foram elas que demandaram? Pois eu
creio que temos a responsabilidade de fazer a elas essa proposta,
transmiti-la e debat-la, mostrando que essa uma proposta poss-
vel e valiosa. No se trata, contudo, de imp-la.
No temos dvida de que, para o futuro, necessitamos de um
outro patamar, mas, para isso, precisamos de um outro sistema edu-
cacional. Ora, uma reforma educacional leva vinte anos. Uma refor-
ma educacional sria, que forme uma nova gerao com outros valo-
res, com outro esprito, com valores mais solidrios e com outras
capacidades, com capacidade de aprender, leva vinte anos. Portanto,
urgente. Temos que comear ontem.
Desenvolver uma economia solidria, uma economia social,
uma economia de transio para uma outra economia, isso vai levar
uns vinte anos. Portanto, temos que comear j a reforma educacio-
nal. Se nos distramos apenas com esses cursos de capacitao, no
vamos conseguir o impacto de que necessitamos, creio.
93
2. Como fazer a luta contra-hegemnica?
Nosso segundo tema com respeito a como fazer a luta contra-
hegemnica. Ou seja, cada conceito, cada relao, cada avaliao
que fazemos, cada proposta tcnica pode ser desqualificada, e, como
bem se disse aqui, pode ser re-significada pelos intelectuais orgni-
cos do capital ou pelos tecnocratas. E eles podem tambm re-signifi-
car os nossos valores. Pois, no tiraram eles de ns a bandeira da des-
centralizao, que uma bandeira progressista? O Banco Mundial se
tornou descentralizador, mas fez isso como parte de uma reforma que
reduziu o Estado e os recursos de que deveria dispor para uma des-
centralizao efetiva.
O que temos que fazer tratar de re-significar e reorientar esses
recursos, e no continuar fazendo somente a discusso terica. Esta
uma luta contnua, por recursos, por possibilidades, por sentido.
Que direitos ns temos de propor para os setores populares
uma alternativa ao que esses mesmos setores esto querendo hoje?
Ao que hoje o seu desejo? Quatro anos atrs, numa zona de extre-
ma pobreza em Buenos Aires, onde fica minha universidade, na pe-
riferia da cidade, as pessoas diziam: No quero ser um empreende-
dor. Quero ter um patro, quero ter algum que me d um salrio e
que me diga o que tenho que fazer. Este era o desejo das pessoas.
Ora, se eu fosse respeitar este desejo, o que estaria fazendo? Teria me
convertido, ento, em parte do pensamento neoliberal, porque esse
desejo faz parte do senso comum legitimador do sistema capitalista:
que os trabalhadores tm que continuar sendo trabalhadores, no
podendo pretender organizar a produo, pois no tm capacidade
para isso. Devem deixar isso para os capitalistas...
A responsabilidade dos intelectuais
Pois estamos falando, justamente, da responsabilidade dos in-
telectuais (e intelectuais aqui no apenas no sentido de acadmi-
cos, mas me refiro a todos os dirigentes etc.) em propor uma viso
94
global, uma viso da histria, da macro-histria, e ver como se cons-
truiu e se naturalizou esta sociedade de classes e em que momento
ns estamos. E que necessrio e possvel modificar esta situao.
Ora, os desejos no so algo legtimos por si mesmos, porque
desejos so uma construo social; ou seja, o desejo dos consumido-
res um desejo pessoal sim, mas ele sobre-conformado pelos meios
de comunicao de massas, pela competio por status, pela presso
dos pares, pelos sentimentos negativos para com o outro, incluindo
nesse outro as futuras geraes. Se eu tenho que respeitar o desejo
dos consumidores, ento, no posso ter nenhuma plataforma de de-
fesa ecolgica, por exemplo.
Sendo assim, tenho que contradiz-los em seu desejo. Posso
contradiz-los mal, com o poder, com o poder do saber, com o poder
da poltica pblica que se impe... Ou posso contradiz-los dialo-
gando, conversando, mostrando resultados alternativos, e recupe-
rando a histria. Isto, me parece, fundamental. Ns temos uma
histria muito rica de outros modos de organizar as necessidades e
os desejos. Essa economia capitalista uma economia que, em nome
da liberdade, multiplica ao infinito os desejos, mas permite que ape-
nas uns 5% da populao possa realiz-los. O resto fica de fora, con-
denado a estar sempre insatisfeito: e isto eu no posso aceitar. Em
nome do direito que as pessoas tm de fazer o que querem, eu tenho
que contradiz-los.
E tenho que contradizer, fraternal e publicamente, a esses com-
panheiros que lutam sinceramente por uma economia mais solid-
ria. Eles, por sua vez, tm que levantar suas ponderaes e fazer as
suas colocaes.
Por exemplo, se o que estamos defendendo uma economia
centrada no trabalho autnomo, no trabalho criativo, no trabalho
livre, e definimos trabalho de uma maneira distinta do trabalho pe-
noso, quase animal, ento, inclumos a as atividades e todo o tipo
de uso do nosso tempo, de nossas capacidades e pensamos isso como
uma forma de desenvolvimento pleno de todas as nossas capacida-
95
des. Ao mesmo tempo, vemos que os trabalhadores incluem a, por
um lado, os trabalhadores integrados ao sistema, com direito ou no
previdncia, precrios ou no e, por outro lado, os excludos.
Unidade entre Unidade Domstica e o empreendimento
Ora, se eu tomo como unidade de anlise o trabalhador indivi-
dual que deseja um patro, e no a Unidade Domstica a famlia, a
comunidade, o grupo que busca a reproduo da vida dos seus mem-
bros , vou encontrar que h, no apenas outros desejos, mas tam-
bm outras formas de realizar o trabalho, muitas delas ocultas e sub-
jugadas por esse homem obreiro, o empreiteiro e provedor de horas
de trabalho.
Assim, do meu ponto de vista, um erro estudar s os empre-
endimentos. Eu estive outro dia em Porto Alegre e me mostraram um
levantamento dos empreendimentos solidrios que foi feito no Bra-
sil. Parece-me valiosssimo e se apresenta numa escala muito signifi-
cativa. Mas creio que se esqueceram de levar em conta a unidade
entre Unidade Domstica e empreendimento, o que fundamental
para entender a lgica desses empreendimentos de que estamos fa-
lando.
Quando estudo a Unidade Domstica, o que encontro? Que ela
tem uma estratgia mista: tem gente fazendo empreendimentos au-
tnomos, tem trabalhadores por conta prpria, tem trabalhadores as-
salariados e tem trabalho domstico de reproduo direta da vida de
seus membros. E mais: tomando o ciclo de vida de uma famlia, num
determinado momento, vejo que, ao longo dos ciclos de sua vida, ele
teve muitas formas de insero. Ento, eu tenho que trabalhar com
uma unidade que no aquela de um puro trabalho dependente do
capital, com patro, ou de um puro trabalho autnomo. A tem di-
versas histrias, conjunturas diversas e diversas estratgias.
96
Um passado que no volta mais
Deste ponto de vista, o que hoje estamos colocando, est situa-
do num momento de crise social e de crise de legitimidade do siste-
ma capitalista, mas no necessariamente de crise da acumulao de
capital. As pessoas que acreditam que ainda vo poder voltar a se
integrar naquele antigo modelo de acumulao e reproduo de ca-
pital, porque no tm uma viso do que est acontecendo com o
sistema de acumulao de capital e com a sociedade em seu conjun-
to. As vises de longo prazo, de Arrighi, Wallerstein e outros, nos
permitem ver que estamos em um momento de transio entre po-
cas histricas. O sistema no vai voltar a se integrar como antes. Ele
nunca foi integrado totalmente, mas no vai voltar sequer intensi-
dade anterior.
Como Dante, ao entrar no inferno, deixemos fora todas as es-
peranas. Porque essa esperana, de que o capitalismo vai voltar a
integr-los, falsa. Tem muito trabalhador popular, hoje, que conse-
gue um trabalho precrio e j se sente como integrado e quer se dis-
tinguir do desempregado: ele passa a ver o desempregado como es-
tigmatizado. Isso acontece em meu pas: em meu pas, um taxista
num engarrafamento de uma rua que foi fechada pelo movimento
dos piqueteiros fala muito mal dos trabalhadores desempregados que
esto ocupando as ruas, lutando por emprego. Diz, muitas vezes:
Esses a no querem trabalhar! E se considera integrado, porque
trabalha 16 horas por dia, sentado num automvel, tirando apertado
apenas o suficiente para viver
Ns temos que recuperar a unidade do protesto e da proposta
da classe trabalhadora. E num sentido que no mais aquele da clas-
se operria, da classe operria anterior, mas de todos os trabalhado-
res. A legitimidade se consegue democraticamente. No se pode cons-
truir outra economia democratizando o capital, como prope Her-
nando de Soto, do Peru: se todos tm casa regularizada, tero acesso
a crdito, quer dizer a capital! Francamente, no acredito nisto.
Estamos falando de construir uma economia que tem e que
97
requer uma poltica democrtica; no de uma ditadura, nem do pro-
letariado nem dos cooperativistas. Isso, portanto, requer poltica de-
mocrtica, que implica discutir.
O oramento participativo
Aqui no Brasil, em Porto Alegre, vocs tm uma proposta his-
trica, que tem corrido o mundo todo e que j se espalhou por mui-
tos lugares: o oramento participativo. Eu acompanhei essa experin-
cia durante dez anos, fui vrias vezes a Porto Alegre, porque me inte-
ressava muito. No comeo, cada um, cada grupo pedia para si mes-
mo: quero iluminao da rua, quero pavimento, quero um centro de
sade... Mas, em dez anos, j estavam discutindo a cidade. Estavam
discutindo o que nossas cidades necessitam, j estavam levando em
conta a totalidade.
Isto foi um processo de aprendizagem. E tambm os tcnicos
tiveram que aprender, j que, em geral, eles rejeitam a participao
dos cidados. As prprias pessoas tiveram que aprender a se comu-
nicar com a linguagem dos tcnicos e a pensar que h outros deter-
minantes que no os prprios particulares, mas que, por fim, aca-
bam por afet-los.
Portanto, isto teve a ver com valores, teve a ver com uma outra
maneira de definir interesses, etc.
Necessidades na Amrica Latina
Para terminar, eu creio que h contradies sobre o sistema de
necessidades. Se o sentido da economia atender s necessidades, e
se assim vamos defini-lo, quem que define as necessidades? Como
legitimamos os desejos como necessidades? Como fazemos diferen-
a entre desejo (que infinito) e necessidade? No vamos esperar
que nenhum filsofo v resolver isso. Poderia at resolver, mas, mes-
mo que sua contribuio possa ser muito til, no importa. O impor-
tante que entremos em acordo. A sociedade pode debater quais as
98
necessidades que todo mundo tem que ter resolvidas e quais, neste
momento, no se tem condio de resolver.
Isto uma contradio, porque, dentro dos setores populares,
vai haver particularidades e diferenas muito grandes com respeito
a isso, inclusive culturais. Um setor de povos originais do continen-
te, no mundo andino, vai ter uma concepo de necessidades muito
distinta daquela de um setor urbano branco. E vamos ter que traba-
lhar com essas diferenas, buscando uma universalidade, talvez; ou
buscando e aceitando as diferenas.
Ento, no campo popular, h contradies e, neste ponto de
vista, a legitimidade de nossas propostas est sempre sendo posta
prova. uma hiptese que deve ser legitimada no debate.
Eu creio que ns temos que nos situar na Amrica Latina, te-
mos que nos situar na periferia, e teremos sempre que ter muito pre-
sente o que se passa nos demais pases. O Brasil, hoje, est se abrin-
do muito Amrica Latina. Em geral, ns no o vamos muito aber-
to; como a Argentina tambm no. Mas devemos reconhecer a expe-
rincia da Venezuela, reconhecer a experincia da Bolvia, dos ind-
genas equatorianos; mas reconhec-las tambm criticamente, com
esperana, mas analisando bem o que acontece.
Porque a Venezuela criou quarenta mil cooperativas em um ano:
agora, preciso ver o que so essas cooperativas. Seguramente, mui-
tas delas esto j dissolvidas, muitas delas se formaram apenas para
conseguir recursos. H coisas que no se pode fazer por decreto.
Estamos lidando com questes que so culturais, que levam
muito tempo. Mas a inteno est a e o sentido est a. O que
preciso fazer nos ajudar para que possamos fazer melhor. E quer-
me parecer que estamos sim abertos. Quanto experincia da Bol-
via, ela me parece muito valiosa, porque uma etnia, um povo origi-
nal deste continente que, agora, finalmente, se encontra representa-
do na forma mais elevada na cultura ocidental, que aquela da Pre-
sidncia da Repblica.
99
Ento, me parece que essa uma prova muito importante de
como se pode transformar a sociedade com os nossos valores.
Perdoem-me, se me estendi muito, mas as perguntas eram muito
complicadas.
100
Anlises divergentes ou complementares?
Francisco Jos C. de Oliveira
Bom, gente, mesmo comeando tarde, bom dia a todos e a to-
das. Me pediram para fazer alguns comentrios e eu acho que o pri-
meiro que tenho a fazer o sentimento que eu tive, depois que o
Coraggio falou: ferrou pessoal, ferrou! Mas eu queria tambm dizer
que fico muito contente de estar ao lado carinhoso, viu, gente
de dinossauros do pensamento econmico e social nesse pas, e ain-
da mais do Coraggio, que j se agregou h muito tempo tambm nes-
sa discusso. Tambm quero dizer que acho que o momento muito
feliz. O momento foi feliz em 1999
21
, e o momento hoje tambm
muito feliz, quando se apresenta a discusso em torno desse tema.
At h dvida, quando as pessoas falam: economia solidria, ou eco-
nomia dos setores populares? At porque acho que algumas das ques-
tes que o Coraggio levantou esto presentes. Nem toda economia
dos setores populares solidria, e essa uma reflexo que a gente
deve fazer, exatamente para retomar o caminho certo.
O que significa economia solidria? Ela o marco de transfor-
mao, realmente, para o modelo que a gente quer? E parece que, no
primeiro momento, com o sentimento de ferrou!, h uma certa con-
tradio entre os discursos... e eu acho que no h... de fato.
O Gabriel chama ateno para uma questo que absoluta-
mente, ao meu ver, importante. No deve a nossa anlise se prender
21 O autor refere-se ao seminrio Economia dos setores populares: entre a realidade e a
utopia, realizado em 1999, em Salvador, por iniciativa da CAPINA, da UCSAL e da
CESE.
101
s anlise micro, ela no suficiente, se ns queremos andar na
perspectiva da transformao para um outro modelo, mas ela abso-
lutamente importante para aquele grupo que est produzindo. Eu
acho que ela importante, mas ela no suficiente, ela no deve se
restringir ao marco da anlise dos custos, da anlise do marco micro-
econmico. Mas ele tambm coloca em sua fala toda a questo do
territrio, do local. Ele coloca a questo do Estado em torno das pol-
ticas pblicas, de intervenes pblicas que, atravs do fortaleci-
mento da cidadania, imponham direitos sociais como princpios re-
guladores da economia. E ele coloca uma das coisas que comum
entre os dois que, quando se fala de economia dos setores popula-
res, est se falando de trabalho. Eu acho que est se falando do traba-
lho, recriar trabalho, recriar formas de trabalho, mesmo que ele no
seja o nico eixo articulador... ele o principal eixo articulador. Mas
me parece que ele no o nico valor a ser levado em conta em
antagonismo ao capital, mas tambm a noo de cidado, de cidada-
nia, de direitos sociais. Existe o que est colocado internamente quela
atividade dos setores populares, mas existe o externo, que exata-
mente em que espao econmico, sob que articulao hegemnica
esses empreendimentos esto surgindo.
Ento, eu acho que ele fala da viabilidade econmica, mas com
as peculiaridades de um empreendimento popular. De novo, cuida-
do para essas palavras empreendimento e popular. Fala da falta do
apoio tcnico, do suficiente e adequado apoio tcnico, do desconhe-
cimento das relaes comerciais, que significa, de uma certa forma,
tambm conhecer sob que marco essas relaes comerciais esto se
dando. Fala da falta de recursos. Quando se fala em colocar recursos
pblicos est se chamando ateno exatamente para isso tambm.
Isso tudo dentro de um contexto de que sustentabilidade ges-
to democrtica de um empreendimento da economia solidria.
Ento me parece que alguns pontos so comuns s falas, mas
acho que Coraggio avana sobre questes que dizem respeito ao es-
pao da produo e da reproduo. Ele avana na discusso sob que
102
marcos a gente deve constituir a discusso desses chamados empre-
endimentos populares.
Alis, bom ressaltar que, nessa viso do empreendimento
social, ns temos experts tambm no Brasil. O SEBRAE um dos
experts em tratar a questo do empreendimento social, e vrias
experincias, chamadas experincias no campo solidrio, tambm
esto se organizando sob a viso do empreendedor social competiti-
vo. Ento, essa uma questo que eu acho que uma disputa que
tambm tem quer ser feita, e uma disputa que leve em conta o apoio,
por exemplo, que esses setores tm e o apoio que os setores da cha-
mada economia solidria tm. O SEBRAE, hoje, recebe recursos pa-
rafiscais enormes para tratar, inclusive, desse apoio tcnico, dessa
possibilidade de estar ao lado dos empreendimentos chamados po-
pulares. Para mim, tambm o que est colocado, quando se fala deste
subsdio, exatamente esta disputa. A eu vou l para trs, quando
se falou em quem tem medo do trabalho
22
, e do que se trata. Trata-se
de disputar o fundo pblico. Eu acho que essa uma questo coloca-
da. Quando a gente fala em subsdio, exatamente isso. E uma das
formas de subsidiar, exatamente alocar fundo pblico, que no
mais do que recurso vindo da prpria produo, do nosso prprio
trabalho, em torno de um novo modelo. O FAT
23
, que um fundo
pblico, um financiador dos recursos do BNDES, o banco que eu
aqui no estou representando, mas do qual hoje fao parte. A atua-
o hoje do BNDES uma clara explicitao dessa opo: empresta
ao capital privado, a juros de TJLP
24
, a longo prazo, sete, oito, dez
anos, e faz um microcrdito, repassando para entidades que cobram
trs, quatro porcento, dos chamados empreendimentos populares.
22 O autor refere-se ao texto de Francisco de Oliveira A crise e as utopias do trabalho ,
apresentado no seminrio Economia dos Setores populares: entre a realidade e a uto-
pia, realizado em novembro de 1999, na UCSAL, que iniciava com a seguinte indaga-
o: quem tem medo do trabalho?
23 Fundo de Amparo ao Trabalhador
24 Taxa de Juros de Longo Prazo
103
Ento, este um exemplo de uma disputa que deve ser travada, e
que significa, exatamente, sob que marco a gente deve discutir as
polticas pblicas neste pas. Ou seja, recuperar recursos da econo-
mia capitalista. Quais so os recursos que a gente pode recuperar e
em que direo eles devem ser utilizados?
Eu acho, tambm, que tm coisas no marco comum de discus-
so das alianas que devem ser construdas. Se no se d conta, na
economia capitalista, de mais de um tero dos trabalhadores do tipo
assalariado com carteira assinada, eles sim, podem ser aliados na
construo de um outro mundo, de uma outra economia. A organi-
zao dos sindicatos, oriunda dos trabalhadores assalariados, deve
ser uma aliana possvel com os setores populares, com a economia
solidria. E a eu acho que os pequenos tambm, porque os peque-
nos empreendimentos, os empreendimentos mesmo que estejam
numa lgica de organizao que no a da economia solidria, tam-
bm podem ser aliados naquilo que se configura como alianas lo-
cais, alianas regionais, alianas hoje, at internacionais.
A gente est vivendo uma situao na Amrica do Sul que acho
que propcia para pensar em alianas internacionais tambm. Essa
situao se coloca, exatamente, porque no existe um sujeito hege-
mnico e porque o trabalho no o centro dessa economia capitalis-
ta. Embora se fale tanto na questo do trabalho, ele no o eixo
central. A agenda do trabalho no uma agenda colocada no movi-
mento neoliberal, no liberalismo econmico.
Parece-me que tambm importante est na fala dos dois
tambm a articulao desses empreendimentos em razo de um
projeto estratgico, de um projeto que chamamos de utopia. No mo-
vimento da economia solidria, isso est se tratando muito como
rede, como redes de economia solidria que podem, inclusive, chegar
a discutir conceitos prprios de um sistema de trocas. Como exemplo,
bom recordar a discusso da moeda, como que a gente pode discu-
tir a questo da moeda. bom discutir como que vo estar valoradas
as trocas, ou seja, a questo do valor de troca versus valor de uso.
104
Enfim, esta a opinio de quem tem acompanhado alguns em-
preendimentos coletivos, principalmente no Nordeste. Existe no
BNDES uma linha chamada Programa de Investimento Coletivo
PROINCO, que uma tentativa de financiamento desses empreendi-
mentos. parte do fundo social do banco, que muito pequenini-
nho, que deve ser alocado nos projetos de economia solidria, e que
devem ser disputados... devem ser disputados e devem ser aumenta-
dos, e devem, mais do que isso, seguir a lgica que foi colocada aqui.
Porque a lgica ainda hoje presente a capitalista. Coloca recursos a
fundo perdido em projetos pequenos, em espaos que no se articu-
lam, e que vo mostrar viabilidade somente naquele espao, para
aquelas pessoas que esto agrupadas ali. De toda forma, j um ins-
trumento que conseguiu avanar dentro de uma poltica de um ban-
co que olha muito mais para os grandes investimentos.
Eu acho que outra coisa importante e que se falou muito da
formao, da necessidade da formao, porque como bem disseram
Coraggio e Gabriel, trata-se tambm de questes culturais. No s
uma mudana de ambiente econmico, mas uma mudana de ambi-
ente cultural, de aquisio de direitos sociais, de fazer o Estado ser
redistributivo, de questes que so muito mais amplas do que s a
anlise dos empreendimentos.
O tamanho dessa discusso no Estado brasileiro deve ser re-
sultante dessa reflexo que ns fazemos aqui. Por isso eu acho que
essa discusso veio no momento propcio: ou isso permanece defini-
tivamente como moda, ou se transforma realmente em uma nova
opo. O tamanho desta discusso nas estruturas do setor pblico
reflete exatamente a viso que se tem sobre essa economia: se uma
economia dos alternativos, ou se uma economia alternativa.
Essa discusso vem num momento muito propcio, no incio,
inclusive, de um novo governo, e que a gente tem que apostar na
disputa do Estado, na disputa do fundo pblico, na disputa dos di-
reitos sociais. uma disputa que est presente em todas as falas,
alm da questo da viabilidade e da sustentabilidade dos empreen-
dimentos econmicos. E cuidado, de novo, com a palavra empreen-
105
dimento, porque tem muita gente usando empreendimento social
pensando que est falando a mesma coisa, ou seja, o capital tem suas
formas tambm de tratar estas novidades, ele capaz de retrabalhar
conceitos, e ele capaz de recolocar de novo na direo do acmulo,
na direo da excluso, da concentrao, ou de um papel subalterno,
como tem hoje a economia dos setores populares.
Esses so alguns pontos importantes que eu consegui captar,
embora a discusso seja muito mais rica. Acho que interessante a
gente abrir o espao para a discusso de todo mundo. Obrigado.
106
Economia dos Setores Populares: modos de
gesto e estratgias de formao*
Katia Aguiar
Acreditar no mundo o que mais nos falta; ns perde-
mos completamente o mundo, nos desapossaram dele.
Acreditar no mundo significa principalmente suscitar
acontecimentos, mesmo pequenos, que escapam ao
controle, ou engendrar novos espaos-tempos, mes-
mo de superfcie e volume reduzidos. o que voc
chama de piets. ao nvel de cada tentativa que se
avaliam a capacidade de resistncia ou, ao contrrio, a
submisso a um controle. Necessita-se ao mesmo tem-
po de criao e de povo. (Gilles Deleuze, Conversa-
es)
A inteno desse ensaio apresentar algumas reflexes extra-
das de nossos percursos e implicaes, bastante singulares, no cam-
po da educao/formao popular. A possibilidade de rever, avaliar
e sistematizar o acumulado das experincias anteriores de cada um
de ns, de partilharmos nossas inquietaes sobre as propostas de
formao, presentes em diferentes frentes do chamado trabalho so-
cial, foi aberta pela idealizao e realizao dos Cursos de Extenso
que ministramos desde 2003, principal motivador da realizao des-
te encontro.
Recordando o que apontava Gabriel Kraychete em seu texto de
* Este texto tem por referncia as reflexes efetuadas no mbito da equipe da Capina
(Ricardo Costa, Ada Bezerra e Gabriel Kraychete), responsvel pelo curso de extenso
em Viabilidade econmica e gesto democrtica de empreendimentos associativos, pro-
movido em parceria com a UCSAL, e o dilogo com as contribuies dos integrantes do
NUTRAS Ncleo de Estudos e Intervenes em Trabalho, Subjetividade e Sade.
107
abertura deste seminrio, trabalhamos com o entendimento de que a
sustentabilidade dos empreendimentos populares se constri no cru-
zamento de diferentes vetores de transformao. Intervenes p-
blicas apoiadas nos direitos sociais enquanto princpios reguladores
da economia, conquistas tecnolgicas, poltica fiscal e normas jur-
dicas, se encontram imbricadas com a exigncia de conhecimento,
por parte dos integrantes dos grupos, das condies necessrias para
assumirem a conduo de seu empreendimento.
Destaca-se ainda, em acordo com Coraggio (2006), que a sus-
tentabilidade daquelas iniciativas se apia na ampliao contnua
do alcance de suas aes. A partir dessas consideraes, afirmamos
que as iniciativas de busca pela sustentabilidade dos empreendi-
mentos populares se inscrevem no tensionamento entre as foras de
manuteno e conservao das condies que esto postas e as for-
as de ruptura que procuram a transformao do existente.
Embora seja bvio o que da se conclui, no demais reafirmar
que essa forma de abordar a sustentabilidade a torna uma questo
eminentemente poltica. O que exige a retomada dos debates sobre
os caminhos da transformao social, nos termos do poder e da li-
berdade. Coloca-se como desafio e, talvez, como condio formu-
lao de proposies e de aes, junto aos setores populares, a obser-
vao do modo como funciona o poder e as resistncias em nosso
presente.
Isso nos parece especialmente importante se consideramos que
so aqueles setores os mais violentamente atingidos pelas atuais po-
lticas de ajuste. Assolados pelo sucateamento dos equipamentos que
deveriam lhes servir e pela precarizao das condies mais imedia-
tas de reproduo da vida, so convocados mobilizao para trans-
formar a prpria sorte. Numa operao de inverso que os torna co-
operadores dessas mesmas polticas.
Apontada essa atitude de prudncia em relao s iniciativas
de empreendimento popular, queremos partilhar esse trabalho com
aqueles que, de alguma forma, se encontram envolvidos, por esco-
108
lha prpria e/ou em decorrncia de seus vnculos institucionais, com
as atividades econmicas dos denominados setores populares. Na
maioria das vezes, essas atividades se organizam a partir de convo-
caes mais diretas dirigidas s populaes como parte de um pro-
grama ou projeto de trabalho comprometido com propostas institu-
cionais ou com os seus financiamentos. Tambm encontramos ini-
ciativas, que surgem do esforo de organizao dos prprios traba-
lhadores, manifestando as suas formas de sobrevivncia e de en-
frentamento num sistema que descuida das suas condies de exis-
tncia
25
.
De um modo ou de outro, o conjunto dessas atividades e inicia-
tivas hoje constitui um campo de trabalho que exige diferentes sabe-
res e competncias, atraindo profissionais de diversas reas de atua-
o. Um campo de trabalho que, mesmo marcado em suas condies
de emergncia por processos de precarizao da vida, tem apresen-
tado vitalidade poltica frente aos reiterados procedimentos de ajus-
te e de extermnio que caracterizam as formas de controle do sistema
do capital, no contemporneo.
Essa vitalidade poltica pode ser percebida, de modo mais ime-
diato, na proliferao de fruns e de conselhos, formas j conheci-
das e legitimadas de participao e de reconhecimento no que hoje
identificamos como um regime democrtico. certo que a capacida-
de organizativa para o exerccio da presso, da reivindicao e da
participao propositiva frente ao Estado , ainda, o principal indi-
cativo na avaliao do acumulado de poder de um movimento social.
Mas entendemos que as novas formas de controle no contempor-
neo, esto a exigir de ns um exerccio de pensamento que recolo-
que, em outros termos, o problema da resistncia.
nesse caminho que propomos incitar a vitalidade poltica
que tambm se espreita no cotidiano de trabalho de tcnicos/asses-
sores e produtores que, por caminhos diferentes, tm se lanado ao
25 Ver texto de Aida Bezerra, neste livro.
109
desafio de constituir mirades de associaes. Nesses exerccios o
que observamos, e que tomaremos como eixo norteador de nossas
consideraes, a importncia estratgica do tcnico/assessor na
abertura e no acolhimento aos processos de singularizao, nas ex-
perincias, que favoream a instituio de outras polticas de forma-
o no campo da economia dos setores populares.
Diante dos limites de nossa fala, vamos privilegiar dois eixos
considerados, por ns, fundamentais:
a gesto enquanto tema catalisador de foras dispersas e que,
a depender de seu uso, pode acessar vetores de mutao social; e
a formao afirmando seu carter estratgico na constituio
das resistncias.
Modos de Gesto: entre os riscos e a inveno
Nos debates sobre os rumos dos empreendimentos e de outras
organizaes da economia dos setores populares, notria a centra-
lidade das denominadas questes de gesto. Observamos essa cen-
tralidade nos mapeamentos disponveis realizados por entidades de
apoio e fomento economia solidria, bem como nos registros ela-
borados por pesquisadores que, por diferentes caminhos investigati-
vos, se interessam pela diversidade de estratgias e tticas cotidia-
nas daquelas populaes.
A abordagem desse tema/conceito , para ns, problemtica e
complexa. Problemtica por envolver inmeros aspectos e conheci-
mentos oriundos de diversos campos de saber poder. E complexa,
pela opo que fazemos por uma abordagem interessada em detectar
e apreender as articulaes, as conexes e as ressonncias entre es-
ses aspectos. No se tratando, portanto, de uma abordagem apenas a
servio da soluo de problemas. Desse modo, sem pretender esgo-
tar o tema, propomos um caminho para abord-lo. Em lugar de tratar
do problema da gesto, arriscamos um modo de colocar a gesto como
problema.
110
A nfase nas preocupaes com as questes de gesto, se con-
firma nas sondagens que realizamos, atravs de fichas de inscrio,
entrevistas e mapeamentos das preocupaes de tcnicos e grupos
populares, nos Cursos de Extenso em Viabilidade econmica e ges-
to democrtica de empreendimentos associativos com profissionais
que desenvolvem atividades de assessoria, apoio e acompanhamen-
to daquelas iniciativas. Nesses registros, as preocupaes/desafios
identificados como de gesto, se referem a aspectos bastante diver-
sos da vida dos empreendimentos; e essa diversidade ainda maior
se cotejadas as preocupaes dos tcnicos/assessores com as preocu-
paes dos produtores diretos.
Apenas a ttulo de exemplificao dessa variedade de concep-
es, poderamos citar: a falta de referencial e de capacitao para a
gesto; o escoamento da produo ou comercializao; a falta de re-
cursos, como capital de giro e linhas de crdito; a resistncia cultu-
ra da cooperao; a limitao de tempo para o trabalho de acompa-
nhamento; a falta de identidade de grupo; as dificuldades com os
instrumentos de gesto e com a capacitao das pessoas; o no co-
nhecimento acerca dos processos administrativos comercial, con-
tbil e de produo; as dificuldades com o marketing; o baixo retor-
no da produo; as resistncias implementao de normas e proce-
dimentos; as lideranas centralizadoras; a tendncia reproduo
do modelo de emprego; as dificuldades na interao entre os objeti-
vos do grupo e os objetivos dos tcnicos/assessores. Todas essas si-
tuaes a apontadas se vinculam a uma mesma interrogao: como
chegar autogesto?
O entendimento do que a gesto tem uma variabilidade bas-
tante importante e que deve ser levada em conta, j que fonte de
interferncias nas relaes entre tcnicos e produtores diretos, entre
os prprios produtores e, em especial, entre os tcnicos e as entida-
des de apoio e fomento. So freqentes os impasses gerados, por
exemplo, pelos descompassos entre as exigncias dos projetos (seus
objetivos, metas e necessrios impactos) e a temporalidade dos pro-
111
cessos (seus impasses, suas conquistas, as histrias e experincias
que neles se atualizam); como so freqentes os equvocos entre as
necessidades e os desafios concretos que enfrentam os produtores e
aquilo que lhes oferecido como fomento e apoio ao seu trabalho.
Tambm no so raros os estranhamentos gerados entre os prprios
produtores quando a questo a organizao do trabalho.
No entanto, as interferncias provocadas pela variabilidade no
entendimento da gesto no so, em si, algo negativo e nem mesmo,
necessariamente, implicam dificuldades ou defeitos nos processos
de produo. Trabalhamos com a leitura de que elas podem sinalizar
efeitos de modos de gesto que co-existem nas organizaes. E nessa
perspectiva que queremos trazer alguma contribuio aos debates.
Uma primeira considerao a fazer se refere ao fato de que a
centralidade desse tema no exclusiva do campo sobre o qual trata-
mos aqui. Ela aparece nos discursos da administrao pblica, nas
propostas das ongs, na capacitao de diretores, agora gestores, de
escolas, hospitais, penitencirias. Mais que um tema central, a ges-
to parece ter se tornado o remdio para qualquer mal ou condio
para o sucesso de qualquer iniciativa. A disseminao de estratgias
de gesto tem sido, muitas vezes e no apenas em nosso pas, garan-
tida legalmente e incorporada como condio de produtividade e de
investimento (Michael Apple, 2005).
Por isso, cabe lembrar que essa disseminao tambm se ins-
creve no processo de avano das polticas neoliberais e seus com-
promissos com a privatizao e a mercantilizao expansiva. Proce-
dimento que inclui, no dizer de Leys (2003), a destruio de esferas
no-mercado da vida, das quais sempre dependeram a solidariedade
social e a cidadania ativa.
Os arranjos neoliberais se ancoram numa concepo de gesto
que denominamos administrativa-empresarial, manejando tcnicas
e procedimentos prescritivos, capturando e desqualificando saberes
acumulados na atividade prtica cotidiana das populaes em favor
de maior produtividade e lucro. Nas disputas pela instaurao de
112
um pensamento nico, a homogeneizao ou estandardizao dos
processos, de trabalho e de conhecimento, se valem de novas formas
de vigilncia e de fiscalizao, de instrumentos de avaliao e de
controle sobre os riscos. A defesa da eficincia atribui um tom de
neutralidade a tais procedimentos, tornando-os necessrios.
Diante disso, parece importante que a gesto seja considerada
num campo de disputas polticas, tirando-a de seu abrigo e dis-
tanciamento tecnicista e reconduzindo-a a sua condio de emer-
gncia, qual seja: as prticas scio-histricas. Nelas, podemos captar
os processos, ainda em curso, de disseminao dessas formas con-
temporneas de controle no sistema do capital e, ao mesmo tempo,
contribuir para a desmistificao da magia da tcnica e para o for-
talecimento das estratgias de criao e de resistncia dos setores
populares.
No caso do estudo de viabilidade proposto, por exemplo, tem
sido freqente a constatao, durante o exerccio, por parte de tcni-
cos e de produtores, de que o grande desafio no so os nmeros ou
as contas. Existe, ento, um deslocamento do problema e a percep-
o da centralidade da gesto ou das relaes entre as pessoas. Isso
poderia soar de imediato como um alvio, mas a gesto oferece um
novo campo de desafios, novos problemas e riscos no modo de colo-
c-los.
No entanto, podemos passar das contas gesto, sem mexer na
magia da tcnica. Nesse caso, alguns efeitos podem ser observados:
como momentos de longos silncios, desnimo entre os integrantes
dos grupos, irritao, perda de estmulo, um esvaziamento. Pode-
mos tirar como lio da experincia que, a depender de como utili-
zamos a tcnica, ela pode soterrar os saberes em presena ou favore-
cer a potncia de ao e processos de autonomia.
O que queremos enfatizar que no se trata de encontrar e
aplicar o melhor mtodo, mas de colocar em questo o processo de
trabalho e as condies nas quais ele acontece, incluindo sua organi-
zao. O maior ilusionismo que a crena no bom mtodo promove
113
talvez seja o de supor que as pessoas envolvidas nos processos de
trabalho e de conhecimento, cheguem vazias e que se limitem a ser
meras executoras do que lhes exigido.
Pode-se argumentar que essas preocupaes tm como refe-
rncia as relaes tradicionais de trabalho e que no so pertinentes
aos empreendimentos populares. Mas o que encontramos, em mui-
tas situaes, a permanncia dessa lgica. Embora no exista a fi-
gura do patro ou do gerente, os projetos, as polticas, os estatutos ou
os conselhos dos especialistas, mesmo quando discutidos e aceitos
por um coletivo, veiculam prescries. E tanto nas formas tradicio-
nais de trabalho quanto nas experincias que propem a autogesto,
o que (pre)escrito no d conta da realidade de trabalho, ele pode
ser um norte, uma referncia a ser considerada.
Por isso, reiteramos que no se trata da aplicao de um bom
mtodo, j que o prprio processo de trabalho e de conhecimento,
no se d sem deslocamentos e incertezas. O que est em jogo a
forma como abordamos essas desestabilizaes que so acionadas
por qualquer dispositivo, seja ele tcnico, artstico ou jurdico.
Podemos dizer que, quando a face da estabilidade da tcnica
se torna pregnante e domina a cena temos, pelo menos, duas pistas a
investigar: ou no estamos tendo a sensibilidade para captar o movi-
mento inerente a qualquer experincia (suas contradies, conflitos,
dissidncias e resistncias) ou o movimento cessou e temos um esta-
do de dominao.
Seguindo esse caminho, fazemos uma segunda considerao
sobre o modo de colocar a gesto como problerma. bastante fre-
qente que, em um mesmo grupo, apaream diferentes concepes
ou entendimentos sobre gesto. Essa variabilidade sobre a qual nos
referamos anteriormente , em geral, identificada como uma difi-
culdade ou deficincia na formao dos integrantes do grupo. Em
lugar disso, propomos explorar a idia da co-existncia de diferentes
modos de gesto nos grupos.
Ao apontarmos que as prescries, embora importantes, no
114
do conta da realidade de trabalho, estamos agregando quilo que
est institudo, ao que dever ser feito, uma outra dimenso da expe-
rincia que se refere quilo que cada trabalhador mobiliza de si e
dos outros para dar conta da vida do trabalho (Brito, Athayde e Ne-
ves, 2003). Ou seja, cada um trz consigo um modo de gesto, uma
maneira de fazer.
Sendo assim, a variabilidade os imprevistos, as surpresas
implica modificaes nos modos de ser e antecipaes; sendo no s
parte do processo de trabalho, mas condio para o exerccio da cria-
o. E, sabemos, que no dia a dia, a criao fundamental para que a
atividade se realize; em muitos casos, sem o chamado jeitinho ou os
macetes, o trabalho no aconteceria.
Quando tratamos de gesto no estamos, portanto, colando o
termo a uma escala hierrquica ou administrao. Com a admi-
nistrao, nos aproximamos de um plo no qual os princpios de
gesto se explicitam medida que nos afastamos da prpria ativida-
de. H, na perspectiva administrativa-gerencial, dissociao entre
atividade e gesto da atividade. Em geral, s h reconhecimento da
legitimidade da gesto e de gestores, quando se opera essa dissocia-
o (Schwartz, 2000).
Ora, o que queremos afirmar caminha na contramo dessa tese.
Quando falamos em gesto, estamos nos referindo a uma questo
humana presente em qualquer experincia, onde necessrio fazer
alguma coisa funcionar sem se fixar a formas padronizadas, que ra-
pidamente se tornam obsoletas (Schwartz, 2000). Os modos de ges-
to, engendrados no campo social e disseminados no cotidiano de
trabalho, se referem s formas como os humanos produzem suas ati-
vidades e inventam modos de ser.
Dessa forma, falamos de dimenses ou de diferentes foras pre-
sentes na organizao do trabalho. A dimenso administrao/ge-
rncia pautada na padronizao, se ancora em situaes quase ideais
e produz, pela repetio e pela submisso, subjetividades amorfas,
moldadas segundo os interesses do sistema do capital. Enquanto a
115
dimenso gestionria, agregando o improviso aos modos operatrios
prescritos pelas normas, favorece a inventividade e a produo de
subjetividades astuciosas.
Da a importncia de interrogarmos a atividade, a forma como
se organiza o trabalho, e essa a proposta quando, no estudo de
viabilidade, se faz o convite elaborao das questes associativas.
Com essa atitude de pesquisa, podemos ter acesso s estratgias que
obstruem os processos criativos ou identificamos a priorizao de
procedimentos tutelares e normatizadores que caracterizam o estilo
gerncia. Podemos, ainda, abordar os erros ou as falhas como consti-
tuintes das experimentaes que resistem padronizao, que reve-
lam informaes sobre um modo de trabalhar, de gerir.
A dimenso gestionria diz respeito s condies do trabalho
vivo, do trabalho real. Nessas condies se incluem variados recur-
sos como: as relaes do trabalhador com os outros, com as normas
produtivas ou as instrues operacionais. E, ainda, as condies in-
cluem as relaes do trabalhador consigo mesmo, dos usos que faz
de si suas aspiraes, desejos, crenas; ou, poderamos dizer, sua
tica. Desse modo, a tendncia ou dimenso gestionria supe a in-
dissociabilidade, num modo de produo, entre subjetividade e po-
ltica.
O oferecimento de uma forma-modelo de organizao pode ser
um dispositivo, mas no alimentar movimentos de ruptura com a
lgica hegemnica de padronizao, presente nos processos de tra-
balho e de conhecimento, se no tomar como ponto de partida os
modos de gesto em presena nos grupos. A questo que nos coloca-
mos a de como disparar processos para tornar compatveis gestes
heterogneas?
Concluindo, afirmamos que, para a pergunta como chegar
autogesto?, no temos respostas prontas e acabadas. Mas, o modo
que propomos colocar a gesto como problema, indica uma tendn-
cia: a de acolher processos de autonomia que so ativados perma-
nentemente. Esses graus de autonomia no pressupem um estado
116
de libertao, mas a ampliao dos espaos de liberdade frente aos
constrangimentos, coeres e limitaes impostos, muitas vezes de
forma implacvel, pelo sistema do capital. Entendemos, assim, que
podem ser criados dispositivos que favoream processos de autoges-
to, mas a autogesto, entendida como tomada de poder, no pass-
vel de ser ensinada ou transmitida. Ela eminentemente uma atitu-
de de recusa e de insurgncia.
Estratgias de Formao
A maneira pela qual problematizamos o tema da gesto nos
inscreve no campo da educao popular, entendida enquanto um
conjunto de prticas sociais que tendem a dar relevo ao aconteci-
mento educativo, caracterizando-o como espao/tempo de socializa-
o, valorizao e aperfeioamento do que a sociedade sente, pro-
duz, inventa e descobre (Bezerra, 1999). Essa perspectiva uma to-
mada de posio frente subordinao e fixao de uma ordem
disciplinar que, conjugada a outras formas de poder, ainda vinga em
nosso presente.
Recorremos ao termo estratgias de formao, para afirmar que
o modo pelo qual nos inscrevemos nas relaes de foras polticas
corresponde ao modo como produzimos conhecimento. Ou seja, os
processos que nos constituem como sujeitos de conhecimento esto
em conexo direta com os processos que nos constituem como sujei-
tos que atuam sobre outros sujeitos. O termo estratgias sugere a
indissociabilidade entre o problema, o modo de coloc-lo e as ferra-
mentas conceituais que utilizamos nesse processo (Silva, 2005).
A opo pelo termo estratgias de formao quer colocar em
questo a crena obstinada nos bons mtodos e nas boas tcnicas.
Uma crena construda nas condies bem especficas de emergn-
cia das cincias, no curso da modernidade. Em sua lgica e em seus
princpios, a modernidade tem como pressupostos para a compreen-
so do homem, do mundo e de suas relaes, a estabilidade, a ordem
117
e a regularidade como valor.
Prigogine (1990), evidencia que uma aliana entre mundo hu-
mano e mundo natural, vinculada consolidao de leis universais,
serviu de suporte s cincias modernas. As normas de cientificidade
permitiram conferir autoridade e veracidade aos saberes que se cons-
tituram por meio da burocracia dos clculos e das medidas mate-
mticas. Nessas condies, as prticas educativas so, ao mesmo tem-
po, reguladas e reguladoras de cdigos e modelos naturalizados que
classificam e ordenam as populaes. Instala-se uma lgica determi-
nista e circular que, mesmo quando incorpora originalidades, o faz
em favor da atualizao do que est posto no funcionamento da es-
trutura, no colocando em questo seu estatuto de Verdade, sua cons-
truo, sua gnese (Aguiar e Rocha, 1992).
De forma sucinta, esses so alguns elementos constituintes do
paradigma racionalista que sustenta a maior parte das prticas sociais
e suas instituies, entre elas a instituio da formao. Da a impor-
tncia de considerar a atuao dos trabalhadores sociais sejam eles
pesquisadores ou profissionais que atuam de forma continuada jun-
to aos setores populares. Percorrendo a histria de suas prticas, ob-
serva-se, ainda, a predominncia, em suas ferramentas de anlise e
de interveno, de heranas daquele paradigma e da racionalidade
poltica que lhe corresponde.
Mesmo sem a inteno de abrir esse polmico tema no mo-
mento, no se pode desconsiderar a implicao direta das cincias,
em especial das cincias humanas e sociais, na constituio de uma
imagem do popular marcada pela carncia, pela falta e pela previsi-
bilidade de desvios. Uma imagem que tem justificado, ao longo dos
sculos, aes preventivas e prescritivas frente aos perigos e as ma-
zelas das quais, seus filhos, so portadores naturais.
Romper com essas referncias e seus efeitos requer, de imedia-
to, um deslocamento do lugar comumente ocupado por tcnicos/as-
sessores junto aos setores populares, o que no se dar por uma ques-
to de vontade ou de qualquer identificao seja pela ideologia,
118
pela causa ou pela culpa... O deslocamento do qual falamos implica
a anlise de nossos lugares nos jogos de verdade ou, dito de outro
modo, exige a anlise de nossas implicaes polticas-econmicas-
afetivas nas relaes de foras que permitem que certas coisas se-
jam tomadas como verdadeiras.
Isso no fcil, sabemos, j que nessa empreitada precisa-se,
antes de tudo, aceitar a variabilidade nas relaes que se estabele-
cem entre necessidade, interesse e desejo, como resistncias s nor-
matizaes e capturas efetuadas pela forma de controle no contem-
porneo. Uma das artimanhas desse controle a de operar o poder
numa modulao contnua, de modo que as coisas nunca terminam,
nunca se constituem totalmente. Um controle contnuo e ilimitado
que nos leva a achar que estamos sempre em dvida, e que fabrica a
necessidade de uma formao permanente (Deleuze, 1992).
Diante disso que afirmamos a importncia dos profissionais
que atuam junto aos setores populares e de um necessrio desloca-
mento do lugar de assessor/tcnico para o de assessor/educador en-
tendendo que:
Eles se encontram numa encruzilhada poltica e mi-
cropoltica fundamental. Ou vo fazer o jogo de repro-
duo de modelos que no nos permite criar sadas para
os processos de singularizao, ou, ao contrrio, vo
estar trabalhando para o funcionamento desses proces-
sos na medida de suas possibilidades e dos agencia-
mentos que consigam por para funcionar(Guattari,
1986).
nesse sentido, que pensamos a formao de assessores/edu-
cadores, o desempenho de suas prticas e os rebatimentos destas no
conjunto de iniciativas que investem na construo de caminhos para
uma efetiva transformao social. As estratgias de formao se ins-
crevem em prticas sociais concretas que so, a um s tempo, modos
de atuar e de pensar; de enfrentar o desafio de saber se possvel
constituir uma nova poltica de verdade (Foucault, 1981).
O que se espreita nas experincias postas em marcha nos mo-
119
vimentos populares, para alm das formas consentidas de participa-
o? Que resistncias e escapes se colocam frente ao modo de subje-
tivao presente nas propostas que se veiculam na educao popu-
lar?
com esse olhar que nos aproximamos das prticas que com-
pem uma economia dos setores populares. Nesse minsculo cam-
po localizamos nossas tentativas, nele arriscamos um exerccio que
favorea a abertura da experincia aos processos de singularizao/
inveno da vida. Uma proposta, ou uma aposta, que implica: a an-
lise permanente das injunes entre estratgias e tticas; a observa-
o apurada do que acontece e, ainda, de como se conjugam as pr-
ticas dos grandes enfrentamentos, espao e domnio das formaliza-
es e das representaes, e a temporalidade dos processos, das ex-
perimentaes, daquilo que ainda no ganhou forma e que no te-
mos ainda como nomear.
Prenhe de movimento, as estratgias observam o estabeleci-
mento de certos domnios de saber-poder e suas implicaes nos
processos de constituio de sujeitos. Dito de outro modo, o que se
coloca uma nova relao teoria-prtica que rompe com as idias de
aplicao da teoria sobre a prtica e de inspirao da prtica para a
teoria. Hoje, isso se torna ainda mais relevante, pelo simples fato de
assistirmos a um ressurgimento, talvez de forma ainda mais contun-
dente, porque global, de procedimentos de testagem, da valorizao
de escores, da disseminao e homogeneizao de instrumentos de
monitoramento. Procedimentos que visam selecionar privilegiados
e, sob a capa da meritocracia, justificar investimentos financeiros,
polticos, subjetivos. Assistimos, com as novas formas de gerencia-
mento, consolidao de uma sociedade administrvel (Castel,
1987).
Diante disso, importante destacar que, quando falamos de
um estudo apropriado realidade dos grupos e empreendimentos
populares (Kraychete, 2006), estamos nos referindo construo de
instrumentos que favoream a potencializao das prticas em sua
120
dimenso inventiva e nos afastando de um necessrio ajustamento
tecnicista. Menos a reproduo de modelos do que o uso da tcnica
como dispositivo, para com ela, a partir dela e apesar dela, verificar
seus efeitos, sempre polticos.
O estudo de viabilidade e gesto democrtica proposto se faz
na conjugao de diferentes dispositivos, no se tratando de um traba-
lho a mais, um acrscimo ao que j feito. Trata-se de um questiona-
mento e um deslocamento na natureza do trabalho. A interrogao
sobre a atividade mobiliza a ateno para o que se faz, para o que os
outros integrantes fazem e, para alm, questiona as relaes daquele
pequeno grupo com o entorno seja ele a comunidade local, a
famlia ou o mercado. Ele convoca (re) organizao dos saberes j
existentes e a novas conexes e conseqente ampliao do conheci-
mento.
A experincia que temos vivenciado nos Cursos de Extenso
em Viabilidade Econmica e Gesto Democrtica de Empreendimen-
tos Associativos se apia no recurso a dispositivos de ampliao da
interveno dos participantes no prprio Curso. Um exemplo desses
dispositivos, a constituio de equipes de co-gesto do processo
equipe de coordenao, de avaliao, de registro, de infra-estrutura
e de animao.
Com essa proposta temos, pelo menos, duas intenes:
a de criar, efetivamente, um campo de experimentao no
qual os modos de gesto, suas contradies e convergncias encon-
trem espao de expresso, enfrentamento e negociao;
a de que os temas que nomeiam cada equipe (coordenao,
avaliao, registro, etc.), se tornem matria a ser problematizada por
cada grupo e pelo coletivo, favorecendo a (re)criao de modos de
sentir, pensar e agir.
Em ltima anlise, isso se traduz no exerccio e na aprendiza-
121
gem do poder e na afirmao da potncia da vida.
Referncias
APPLE, M. Para alm da lgica do mercado: compreendendo e opondo-se
ao neoliberalismo. Rio de Janeiro: DP&A editora, 2005.
BARROS, M.E.B. Modos de Gesto. In: Revista do Departamento de Psico-
logia Universidade Federal Fluminense, v.14 n 2, p.59-74, 2002.
BEZERRA, M.A. Educao alternativa hoje. 1999. mimeo.
BRITTO,J., ATHAYDE,M. e NEVES,M.Y. (orgs.) Programa de formao em
sade, gnero e trabalho nas escolas. Caderno de Textos. Paraba:Editora
Universitria, 2003.
CASTEL, R. A gesto dos riscos. Rio de Janeiro: Francisco Alves Editora,
1987.
CORAGGIO, J.L. Sobre la sostenibilidad de los emprendimientos mercanti-
les de la economia social y solidria. Disponvel no site < http://
www.coraggioeconomia.org >
DELEUZE, G. Conversaes. Rio de janeiro: Editora 34, 1992.
FOUCAULT, M. Microfsica do poder. 2ed. Rio de Janeiro: Graal,1981.
GUATTARI, F. e ROLNIK,S. Microploltica cartografias do desejo. Petrpo-
lis: Vozes, 1986.
LAEYS, C. Market-driven politics: neoliberal democracy and the public inte-
rest. New York: Verso, 2003.
122
PRIGOGINE, I. O nascimento do tempo. Lisboa: Edies 70, 1990.
SCHWARTZ,Y. Le paradigme ergologique ou um mtier de philosophe.
Toulouse:Octans Editions, 2000.
Estratgias de formao no campo da
economia dos setores populares
Marcos Arruda
A Carlos Rodrigues Brando,
Educador da Prxis,
companheiro e irmo de caminhada.
O educador
A tradio chinesa nos ensina a relao entre o ser humano e
os elementos da natureza. Na formao dos setores populares para
fazerem a transio da economia popular para a economia solidria,
existe um personagem que essencial: a educadora e o educador
popular. Inicio esta reflexo relacionando-me enquanto educador com
os seis elementos da Natureza na sabedoria chinesa.
Terra Esta a minha conexo como educador com o cho, a
terra, as possibilidades e os limites do meu corpo, em condies de
trabalho feitas por seres humanos, num planeta em que uma ao
tem influncia sobre tudo que existe. A Terra me sugere, como edu-
cador:
* ser humilde, reconhecendo meus limites e no atribuindo os
avanos somente a mim;
* estar conectado aos outros minha volta e s realidades que
estamos construindo com base num projeto comum; a reconhecer os
123
limites de cada situao, no sendo perfeccionista nem me exaurin-
do inutilmente;
* resistir s tentaes egocntricas de impor aos outros meus
prprios caminhos, alienando-os e perdendo a eficcia;
* reconhecer o peso dos oponentes, as classes proprietrias e
usar a fora delas contra elas e a nosso favor;
* ser responsvel por cuidar da Terra, assegurar que nossa ge-
rao passe s prximas a me Terra to ntegra quanto nossas foras
e inteligncia permitam.
gua Minha fluidez, minha capacidade de trabalhar com a
incerteza e de adaptar-me aos desafios medida que a vida os coloca
no meu caminho e na caminhada do movimento da economia soli-
dria. A gua me ajuda, como educador:
* a trabalhar com o inesperado, que a regra na educao li-
bertadora;
* a ficar ligado ao povo em todas as suas adversidades, e na sua
diversidade;
*a encontrar o riso e o sentido misterioso do mundo ao redor e
nos meus prprios esforos;
*a trabalhar no somente na luz, mas tambm na sombra das
minhas emoes, no apenas na coragem e na honra, mas tambm
no temor e na dvida;
*a ouvir o Outro, dando-lhe minha ateno mesmo quando
no compartilhamos da mesma opinio;
*a trabalhar com paixo, mesmo quando no temos a resposta
(no me importa saber o que voc sabe at eu saber o que lhe impor-
ta); e
*a aliviar a secura das lutas dirias e curar as feridas infligidas
pela injustia.
124
Madeira o combustvel que mantm aquecido o meu inte-
rior, a raiz que me sustenta nos momentos de frustrao, impotncia
e desespero. A madeira me ajuda, como educador:
*a me renovar e nutrir para que eu d o melhor de mim, a
cuidar de mim para que eu seja um exemplo da educao que eu
partilho com outros;
*a lembrar-me das estaes h um tempo para construir e
um tempo para destruir; um tempo para rir, um tempo para chorar;
*a estimular equilbrio e integralidade nos outros; sem eles, s
ensinamos que o trabalho social um caminho para uma lenta quei-
mada que me consome; e
*a ser persistente e perseverante, com a pacincia de uma r-
vore que afunda suas razes no solo de estaes to diversas.
Fogo Este a minha raiva contra a injustia, a opresso e a
alienao, minha paixo pela dignidade e pela paz verdadeira. O
fogo me ajuda, como educador:
*a inspirar outros com a convico de que cada um deles
nico e o que eles fazem tem valor;
*a agir na minha e nossa defesa contra as provocaes e as
injustias de fora e de dentro do movimento da economia solidria;
*a manter acesa a paixo pelo meu trabalho, em vez de apenas
realizar tarefas burocraticamente e tratar os educandos como nme-
ros;
*a apoiar toda ao ousada em favor da justia, mesmo quan-
do no tenho certeza de que vai dar certo;
*a canalizar minha raiva recusando o dio, pois a raiva cheia
de energia potencial e de informao, ao passo que o dio estril e
s destri; e
*a gerar luz do calor do dilogo crtico.
125
Metal coragem. o reconhecimento de que preciso definir
meus princpios como pessoa e como educador da economia solid-
ria, e estar pronto a pagar um preo por vivenci-los. O metal me
ajuda, como educador:
*a saber onde me situo, de modo a no cair com qualquer
tranco;
*a ser duro, quando necessrio, sem perder a ternura jamais;
*a apoiar o Outro quando, mesmo atemorizado, encontra co-
ragem de fazer alguma coisa; e
*a lidar com as ofensas, desiluses, traies, feridas pessoais
que provm das lutas no interior da economia solidria.
Ar a imaginao e o esprito. a viso e a criatividade que
vitalizam o movimento. O ar me ajuda, como educador:
*a recordar os que vieram antes de ns na luta pela justia
econmica e social e imaginar caminhos de interpretar o esprito dos
ancestrais nas condies atuais;
*a ter presente e valorizar a dimenso espiritual do meu tra-
balho;
*a pensar grande frente ao cinismo que domina;
*a imaginar a vitria mesmo diante de tamanhos obstculos
dos poderosos e da grande mdia tentando paralizar ou erradicar o
movimento.
26
I. Da economia popular economia solidria
26 Inspirado no texto canadense citado na bibliografia (Burke et al., 2002:15-17).
27 Tendo a respeitar a escolha de nome feita por cada um, e dialogar, sim, sobre o con-
tedo de que o nome portador. Por esse motivo, embora respeitando a nomenclatura
de economia popular aplicada ao que chamamos comumente economia solidria ou
economia do trabalho, mantenho esta distino por me parecer prtica e mais prxi-
ma da realidade.
126
Diferentemente de Nuez (2002), Ana Mercedes Sarria e Lia
Tiriba (2003) e outros autores,
27
prefiro limitar o termo economia
popular economia espontnea daqueles e daquelas que no encon-
tram lugar no mercado de trabalho e tomam iniciativas econmicas
voltadas para garantir a sobrevivncia fsica prpria e de suas fa-
mlias. Emprego o termo economia solidria (que usarei neste artigo
para fins de simplificao) ou socioeconomia solidria (PSES
28
), ou
economia social solidria (Ripess)
29
, ou ainda economia do trabalho
(Coraggio, 2003: 88) para me referir a um modo de relaes sociais
de produo centrado no trabalho, saber e criatividade do ser huma-
no, voltado para a satisfao das suas necessidades materiais e ima-
teriais, num intercmbio sustentvel e harmnico com o meio natu-
ral, e tendo como modo predominante de relao a cooperao e
como valores fundantes a solidariedade consciente para com todos
os seres, o respeito diversidade, a reciprocidade e o amor (entendi-
do como atitude de acolhimento do outro como outro e como parte
essencial do meu prprio existir)
30
. Neste trabalho proponho o uso
do termo Economia Social para incluir a Economia Popular e a Eco-
nomia Solidria.
31
Colocada nestes termos, a Economia Solidria :
*uma economia centrada no ser humano situado no seu meio
natural e, portanto, subordinada poltica da partilha e tica da
28 Plo de Socioeconomia Solidria (www.socioeco.org).
29 Rede Intercontinental de Economia Social e Solidria (http://www.ripess.net).
30 Vejamos o que diz o bilogo chileno Humberto Maturana a respeito do amor: A emo-
o fundamental que torna possvel a histria da hominizao o amor. Isto pode
parecer chocante, mas, insisto, o amor (...) O amor constitutivo da vida humana
mas no nada especial. O amor o fundamento do social, mas nem toda convivn-
cia social () O amor a emoo que funda o social: sem aceitao do outro na
convivncia no h fenmeno social (Maturana, 1990: 22).
31 Economia Social quer dizer o setor da economia de um pas que no estatal nem
privada. Portanto, o uso que proponho para a expresso fica restrito a este texto, pois
no o melhor, dado que, como explico em seguida, considero que a Economia Popu-
lar em geral faz parte, ainda que marginal, da economia do Capital em termos de
relaes sociais e de valores e expectativas.
127
sustentabilidade da vida (Arruda, 2006);
*um meio de gerao de trabalho e renda para a gente exclu-
da do mercado capitalista;
*um modo de resgatar a economia da posse, em que ser dono
dos bens produtivos uma situao transitria, funo do trabalho
oferecido, e no do capital que se investe;
*uma economia do suficiente, em que s se toma da natureza
o necessrio e s se consome bens materiais suficientes para susten-
tar o desenvolvimento da vida;
*uma economia cujas atividades esto subordinadas a objeti-
vos eco-sociais;
*um caminho de emancipao do trabalho humano das cadei-
as da mera sobrevivncia material e da relao social assalariada ou
precarizada;
*um caminho para a democratizao dos ganhos da produtivi-
dade, que leva reduo do tempo de trabalho necessrio sobrevi-
vncia fsica, liberando-o para o desenvolvimento dos potenciais
humanos superiores;
*a viso de um sistema econmico inseparavelmente associa-
do ao social, ao cultural, ao simblico e ao espiritual.
32
Kraychete tem razo ao dizer que, ao longo do ltimo sculo e
meio, coletivos de trabalhadoras e trabalhadores desenvolveram di-
versas formas de trabalho que contestam a organizao capitalista
do trabalho, e que estas formas antecedem os nomes hoje adotados
como referncias de uma outra economia. Os nomes atuais buscam
dar coerncia diversidade de prticas que contrariam a lgica e a
tica do capital e tateiam em busca de convergncia. Considero que
no por acaso que expresses como economia solidria ou social
solidria e economia do trabalho tm se difundido amplamente, ao
32 Ver Dobradura do PACS sobre Socioeconomia Solidria, 2006. Ver tambm o eco-
testamento de Philippe Amouroux em www.socioeco.org/documents.
128
ponto de serem hoje mais ou menos mundializadas. Elas correspon-
dem busca concreta, sobretudo depois do fracasso do social-esta-
tismo na Europa Central e Oriental, de uma outra prxis econmica
coerente com o projeto de emancipao social e humana.
O corao do sistema da propriedade privada e excludente o
lucro e a iluso do crescimento exponencial da produo e consumo
sempre maior de bens materiais. Portanto, um corao material e
mecnico. um corao economicista, que coisifica o ser humano e
o reduz ao mero homo oeconomicus ou homo consumens. Tal viso
se funda num conceito equivocado de ser humano: o do indivduo
individual, absoluto, superior a tudo e a todos, desconectado de to-
dos e do mundo, com direito a subordinar para seu uso outros indi-
vduos e a prpria natureza. Este economicismo nutre a iluso de
que o crescimento exponencial da produo e do consumo de bens
materiais possvel e desejvel. A cegueira em relao destruio
humana e ambiental que geram tais prticas, e as ameaas de extin-
o da prpria vida no Planeta que dela derivam, parece ter contami-
nado a quase totalidade dos dirigentes empresariais e polticos do
mundo de hoje. Da a ausncia de vontade poltica para tomar medi-
das eficazes de modificao do padro de consumo, produo e pro-
priedade que est na raiz de desastres cada vez mais iminentes.
A meu ver, a economia espontnea dos setores populares ain-
da est povoada pelo homo oeconomicus e consumens. A educao
que o sistema do Capital realiza tem por finalidade treinar as pesso-
as a tomar este paradigma como natural e comportar-se de acordo
com ele. Os mais importantes educadores deste sistema so os espe-
cialistas em marketing, em propaganda. Vejamos o que diz um bri-
lhante economista noruegus-estadunidense do comeo do sculo
20, Thorstein Veblen, a este respeito:
A produo de uma clientela atravs da publicidade se rela-
ciona, decerto, com uma produo sistemtica de iluses estrutura-
das em virtude de modelos de ao julgados teis. O termo til tem
a ver aqui com o vendedor em benefcio de quem se faz a produo
129
da clientela. Segue-se que os tcnicos realizando este trabalho (...)
so por assim dizer peritos e experimentadores em psicologia aplica-
da e tm uma tendncia profissional a uma espcie de psiquiatria
criativa. Suas atividades cotidianas visam necessariamente mani-
pulao criativa de hbitos e de desejos, e eles estimulam efeitos de
choque, reaes tropismticas, baixos instintos, comportamentos for-
ados, idias fixas, envenenamentos verbais. um trabalho que tem
por alvo todo um leque de fraquezas humanas leque que floresce
na obedincia servil e conduz seus frutos s instituies para psico-
patas. (Veblen, 1923).
Por sua vez, o corao do sistema socioeconmico da posse
compartilhada e do trabalho humanizado como valor central o pr-
prio ser humano e seus potenciais de ser, saber e fazer.
33
Portanto, o
corao poltico e tem a ver com quem deve ter o poder de possuir
os bens produtivos e de gerir o processo de produo e reproduo
ampliada da vida. O ser humano, nesta perspectiva, entendido como
indivduo social, portanto, pessoa indissocivel dos seus contextos
sociais e histricos, interconectada com todos e com tudo, desafiada
a desenvolver com os outros relaes de sinergia, cooperao, parti-
lha e reciprocidade, e com a Natureza uma relao de co-participa-
o, de solidariedade e de interdependncia material e espiritual
profunda.
A evoluo da economia e do prprio ser humano no depen-
de mais de um processo automtico, mas de um ser consciente, re-
flexivo, com um sentido de altrusmo recproco (na linguagem dos
bilogos Gribbin) cada vez mais depurado. O corao da economia
do trabalho, da solidariedade e da sustentabilidade da vida o ser-
33 Trabalho entendido como toda ao e processo transformador, criativo, libertador,
orientado para o desenvolvimento da prpria pessoa, de outras e da sociedade huma-
na, pessoal e socialmente responsvel, num sentido integrador de cada um consigo
mesmo, com cada outro, com a sociedade e com a natureza (Pacs e Casa, 1998:6-8).
Ou, no sentido freireano, toda ao intencional e consciente que transforma o mundo
da natureza em mundo da cultura, em mundo humano.
130
relao que ns somos, o ser multidimensional, capaz de atos de
liberdade, de generosidade, de partilha e de mutualidade. Estas so
as relaes que viabilizam a passagem do homo consumens ao homo
convergens (Arruda, 2005: 58); da economia popular para a econo-
mia solidria; da economia do lucro e do mercado auto-regulado
economia das necessidades e da produo de valores de uso, ao de-
senvolvimento a servio do social e do humano, em harmonia com o
meio natural; do emprego ou do trabalho precarizado, como nica
via para garantir a sobrevivncia fsica, ao trabalho autogestionrio,
solidrio, livre, emancipado; da solidariedade como eufemismo,
solidariedade consciente, que inspira a escolha do altrusmo rec-
proco, da generosidade, da amorosidade. Este desafio se destina no
apenas aos trabalhadores da economia popular, mas tambm a ns,
educadores.
II. Economia solidria no Brasil: etapa ainda inicial
A realidade dos empreendimentos do campo da Economia So-
lidria no Brasil muito ainda precria. o que revela o mapeamen-
to desses empreendimentos realizado pela SENAES com a participa-
o do FBES. A realidade que a ES no Brasil, e talvez na maior
parte do hemisfrio Sul, ainda se encontra na infncia.
Gabriel Kraychete analisa atentamente os resultados do mapea-
mento e observa duas debilidades a serem enfrentadas: uma, que os
grupos se ressentem [da ausncia] de um maior apoio de instituies
e agentes que estimulem a elaborao e o entendimento coletivo das
condies necessrias viabilidade dos empreendimentos, conside-
rando simultaneamente os aspectos econmicos e associativos. O
outro, a urgncia de promover, no mbito de polticas pblicas espe-
cialmente dirigidas ao fomento da ES, a preparao de instituies
34 Ver texto de Gabriel Kraychete, neste livro.
131
pblicas e de ensino visando formao de educadores ou agentes
de desenvolvimento desta economia aptos a prestarem uma capaci-
tao apropriada a este tipo de organizao social.
34
Dificuldades e contradies neste estgio
O estgio inicial do desenvolvimento da Economia Solidria
no Brasil marcado por dificuldades tanto objetivas quanto subjeti-
vas, tanto externas quanto internas aos empreendimentos e s redes.
Enunciamos as mais prementes, com base na anlise de Kraychete e
na nossa prpria prxis:
a) No campo da prxis socioeconmica:
*Consumo tico e sustentvel ainda muito limitado: h poucas
iniciativas e redes de consumidores solidrios, que tenham adotado
um padro de consumo frugal, consciente, sustentvel; as dificulda-
des de criar pontes entre produtores do campo e consumidores da
cidade incluem comunicao, transporte, custos e pouca capacida-
de de gesto; a participao das redes de economia solidria em cam-
panhas nacionais e internacionais de movimentos de consumidores
ainda dbil ou nula; falta entre os setores que consomem bens e
servios conhecimento e informao sobre a relao entre crescimento
econmico, consumo e meio natural; assim, o consumo ainda no
tem fora suficiente para influir na mudana dos rumos da produ-
o, do comrcio e da tecnologia;
*forma de organizao ainda precria: a maior parte dos em-
preendimentos so associaes (54%), seguidas de grupos informais,
sem protees e garantias legais (33%) e s depois cooperativas (11%),
que so a forma mais evoluda e institucionalizada de iniciativa eco-
nmica alternativa; apenas 1% corresponde a fbricas recuperadas
dos donos capitalistas em estado de falncia, que passaram para o
campo da autogesto;
*a motivao predominante ainda a fuga da precariedade:
132
busca de alternativa de trabalho face ao desemprego (45%), busca de
fonte complementar de renda (44%), possibilidade de obter maiores
ganhos (39%), e busca de atividade em que todos so donos (31%);
*pouca diversidade de atividades e de produtos: as atividades
de produo e comercializao de produtos da agropecuria, extrati-
vismo e pesca predominam (40%), seguidas pela produo e servi-
os de alimentos e bebidas e produo de artesanato;
*debilidade ou ausncia do mercado solidrio: apenas 9% dos
empreendimentos realizam trocas e vendas com outros empreendi-
mentos ou redes solidrias, revelando que a grande maioria depende
dos mercados do capital para a comercializao dos seus produtos;
*carncia de empreendimentos de finanas solidrias: uma vez
resolvida a questo da produo, os dois maiores problemas so o
acesso ao crdito e a comercializao: nossa experincia que h
uma diversidade de formas solidrias de gerao de recursos finan-
ceiros para viabilizar a produo e a comercializao, desde a cria-
o de iniciativas de poupana e crdito solidrio at as trocas soli-
drias diretas ou utilizando moedas complementares para estimul-
las. Mas tais iniciativas ainda so poucas e incipientes no caso do
Brasil; a mais bem sucedida, o Banco Palmas em Fortaleza, Cear,
tem servido de referncia para a multiplicao de bancos comunit-
rios em outros estados;
*deficincias na ao de redes e fruns, e carncia de cadeias
produtivas solidrias: todas indispensveis para o xito dos empre-
endimentos para alm do mercado capitalista, e para o desenvolvi-
mento de um sistema socioeconmico solidrio;
*falta de acesso a recursos pblicos: a maior parte dos recur-
sos pblicos que percolam para a sociedade so dirigidos a empresas
privadas grandes e mdias; os empreendimentos populares esto
geralmente reduzidos aos seus prprios recursos ou so beneficia-
dos por aes pontuais e localizadas;
*falta de acesso comunicao: a informao reflete a estru-
133
tura cada vez mais oligoplica da economia como um todo, ofere-
cendo uma leitura enviezada da realidade, naturalizando e banali-
zando a competio, a violncia, o estado de guerra, a suspeita e a
desconfiana, o medo e o egosmo extremado. As entidades popula-
res e de assessoria so desafiadas a construir seus prprios meios e
redes de comunicao, a atuar elas prprias como centros irradiado-
res de uma viso complexa, dinmica e evolutiva da vida, do ser
humano e das relaes sociais, e a facilitar o empoderamento das
camadas populares para o exerccio ativo e crtico da cidadania e do
autodesenvolvimento;
*falta de legislao democrtica para a economia solidria e o
cooperativismo: o trabalho para criar marcos legais que protejam,
estimulem e promovam a economia social comea a dar resultados
em alguns municpios e estados, mas est longe de ver correspondi-
dos todos os seus esforos.
b) No campo da formao
evidente que, por trs de quase todas as dificuldades e obst-
culos mencionados existe a carncia de formao adequada para que
trabalhadoras e trabalhadores das economias popular e solidria te-
nham xito sustentvel nas suas iniciativas, na formao de redes de
colaborao solidria e na construo da Economia Solidria centra-
da no Trabalho e na Criatividade humanos como sistema:
*gesto democrtica e viabilidade socioeconmica e ambien-
tal: a maioria dos empreendimentos carece de noes essenciais de
gesto democrtica e viabilidade socioeconmica para garantir a
sustentabilidade. O desconhecimento do ponto de equilbrio, a au-
sncia de reservas para manuteno e depreciao, as dificuldades
ligadas gesto do oramento e soluo de conflitos internos re-
lacionados com a autogesto, a viso localista e imediatista, o des-
conhecimento dos problemas scio-ambientais que ameaam a hu-
manidade, e cuja soluo tem a ver com o comportamento de cada
pessoa, famlia e comunidade, so algumas evidncias dessa debi-
134
lidade;
*compreenso da importncia da tecnologia: a apropriao de
conhecimentos cientficos e tcnicos pelo mundo do trabalho per-
mitir a gerao de tecnologias adequadas s suas necessidades, que
geram valor agregado, aumentam a produtividade do trabalho e, em
contexto democrtico, participativo e solidrio, constituem caminhos
de emancipao do trabalho e de sustentao da vida;
*conhecimento dos direitos individuais e sociais garantidos pela
Constituio e por outras peas de legislao;
*superao da prtica dos valores da sociedade dominante: a
maioria dos processos de formao ainda ignoram o fato de que os
valores que permeiam a cultura do Capital egocentrismo, competi-
o como forma principal de relao interpessoal e social, apetite
para acumular ou desejar bens materiais como se este fosse o cami-
nho da felicidade etc. esto presentes tambm no campo das eco-
nomias popular e solidria e se manifestam no cotidiano da vida dos
trabalhadores e dos empreendimentos. Uma mudana de esquema
mental se faz necessria! No temer a contradio, o conflito, a crise,
o sofrimento e a luta, pois elas so condio de renascimento. Assu-
mir o desafio de considerar-se como uma arena de luta permanente
entre o velho e o novo homem, a velha e a nova mulher. Desenvolver
a atitude de trabalho interior para ir sempre mais alm da conscin-
cia atual, no sentido de cada vez maior coerncia entre o discurso e
a prtica, entre a inteno e a ao. Ser humilde na relao com os
outros e com a Natureza. Todas estas so condies indispensveis
da prxis emancipadora, mas esto geralmente ausentes dos progra-
mas de formao.
III. Economia e educao solidrias
como vias de autodesenvolvimento
Formao e Educao solidria
135
O termo formao, que significa dar forma, pode tambm ser
entendido como colocar na frma. Prefiro falar em educao coope-
rativa, ou educao solidria, para referir-me a uma educao que
visa contribuir para o empoderamento e a emancipao dos partici-
pantes. Trata-se da educao que parte dos saberes e da prtica dos
educandos, e tem trs objetivos complementares:
*apropriao do saber acumulado e j sistematizado atravs
da transmisso da informao e das habilidades (habilitao);
*desenvolvimento das capacidades necessrias para fazer a
crtica daqueles conhecimentos (capacitao); e
*apropriao dos instrumentos, conhecimentos e atitudes que
propiciam a criao de novos conhecimentos para um novo fazer do
mundo e de si prprio (poiese e autopoiese).
A educao solidria, nesta perspectiva, consiste na constru-
o de sujeitos individuais e coletivos do seu prprio desenvolvimen-
to e educao. Mesmo usando o termo formao para nos referirmos
a esta educao, importante explicitar que ele significa um proces-
so educativo que visa emancipao, e no domesticao dos par-
ticipantes.
Educao e desenvolvimento
Na minha opinio, a economia e mesmo a educao, embora
possuam fins em si, em termos estratgicos no passam de meios
para um fim maior e mais sublime, que o desenvolvimento dos
potenciais, capacidades, talentos, recursos, atributos e sentidos de
que so portadores os participantes e, mais adiante, do povo e da
Nao. Portanto, o desenvolvimento integral pessoal, comunitrio,
social o objetivo maior e mais abrangente da educao emancipa-
dora. Ligada ao processo de desenvolvimento, esta educao no pode
35 O conceito de indivduo social, usado por Karl Marx ao longo de suas obras, expressa
bem a realidade do ser-relao que somos, um ser ao mesmo tempo individual e social.
136
ser concebida como um espao separado do da prxis social e pro-
dutiva dos participantes.
Desenvolvimento , pois, um processo endgeno, que precisa
de condies ambientais propcias, mas cuja fora motriz est no
prprio sujeito o indivduo social
35
e no no seu exterior. Tendo o
ser humano o potencial de desenvolver-se sempre mais alm de onde
j chegou, para Paulo Freire o desenvolvimento uma vocao on-
tolgica e histrica do ser humano. A educao prov os meios
gnosiolgicos para que a pessoa e as comunidades humanas possam
gerir o seu prprio desenvolvimento.
Desenvolvimento econmico e desenvolvimento humano e social
No vamos discutir aqui a iluso intencional promovida pelo
sistema do Capital de identificar crescimento econmico com de-
senvolvimento. Digamos somente que, para a Economia Solidria, o
desenvolvimento econmico e tecnolgico,
36
to importantes para
elevar sempre mais a qualidade da vida humana e reduzir o dispn-
dio de energia na manuteno e reproduo da vida, no so toma-
dos como fins, mas somente como meios para tornar sempre mais
pujante e pleno o desenvolvimento humano e social. O desenvolvi-
mento humano tem a ver com os potenciais de cada pessoa; o social,
com as capacidades, recursos, potenciais dos coletivos humanos. O
desenvolvimento social parte, portanto, de duas realidades interli-
gadas: a de que a diversidade de capacidades, recursos e potenciais
dos seres que constituem aquele coletivo social imensa e deve ser
respeitada e cultivada; e a de que, em consequncia dessa diversida-
36 Desenvolvimento um processo distinto do mero crescimento econmico. Cresci-
mento tem a ver com quantidade de riquezas e bens materiais produzidos e consumi-
dos. Est relacionado com as necessidades bsicas do corpo humano. Desenvolvi-
mento tem a ver com a qualidade, com o desdobrar dos potenciais fsicos, mentais,
psquicos e espirituais de cada pessoa e coletividade. Tem a ver com liberdade. So
duas noes e processos distintos, dialeticamente interligados. O primeiro marcado
pelos limites que lhe impe a Natureza. O segundo ilimitado.
137
de, o coletivo pode considerar-se possuidor de uma imensa riqueza
humana, dado que a riqueza de cada um complementar riqueza
de cada outro membro daquela sociedade.
O mundo est cada vez mais perto do entendimento de que
uma condio indispensvel para que o desenvolvimento humano e
social se realizem de modo sustentvel, ao longo do tempo e das
geraes, que a economia no cresa indefinidamente, como se
estivesse com cncer, mas apenas at o ponto da maturidade aque-
le em que ela produz e distribui equitativa e sustentavelmente a quan-
tidade suficiente de bens materiais para suprir as necessidades de
todas as pessoas que compem a sociedade. Na situao de profun-
da desigualdade em que o mundo se encontra hoje, no h outro
caminho seno que o Norte rico pare de crescer e as classes ricas do
Sul parem de acumular riquezas materiais; que ambos invistam em
manter e aumentar o bem-viver prprio e do conjunto da sociedade,
e contribuam para a partilha adequada dos recursos e saberes capa-
zes de garantir a manuteno e a reproduo ampliada e harmnica
da vida em todo o planeta.
37
A chave para que ningum sofra de
carncias e necessidades no supridas que todos cuidem de todos.
E este cuidado vem da atitude de cada um pessoa, comunidade,
povo de dar ateno s necessidades do outro, renunciar ao que
possui em excesso para suprir o que carncia do outro. O retorno
certo, e geralmente ultrapassa o valor material do que dado!
aqui que emerge, com toda a clareza, o papel crucial da edu-
cao, da formao para o desenvolvimento de uma economia res-
ponsvel, plural, solidria e sustentvel. Trata-se de ajudar o ser
humano a tornar-se sujeito pleno do seu prprio desenvolvimento,
37 A Educao da Prxis, afirmando a natureza simultaneamente individual e social do
Homo, promove um ambiente cognitivo e social em que prevalece o altrusmo, no
apenas como valor e como tica, mas tambm como o modo natural, racional e mais
inteligente de preocupar-se consigo mesmo: ver-se como parte de uma totalidade mais
ampla (...) entende que, sendo cooperativo e solidrio, cada um d ateno e se preo-
cupa com o bem estar dos outros e, ao mesmo tempo, se beneficia da ateno e da
preocupao de todos os outros com o seu prprio bem estar. Este o chamado jogo
ganha-ganha da teoria dos jogos. (Arruda, no prelo).
138
enquanto pessoa e coletividade, sujeito da atividade econmica, por-
que possui os meios e os recursos para responder s necessidades
prprias e alheias, e para garantir a reproduo ampliada e sustent-
vel da vida; e porque tem a liberdade para aplicar nesses meios o seu
trabalho, saber e criatividade.
Desenvolvimento e luta pela sobrevivncia
Na vida dos trabalhadores dos setores populares, desenvolvi-
mento um desafio aparentemente transcendental. A situao atual
do mundo do trabalho dramtica e, para muitos, crtica. Quem est
empregado com carteira assinada trabalha geralmente sob presso e
com medo da demisso, dedicando horas-extras nem sempre remu-
neradas, a fim de garantir o emprego; 57% da populao ocupada
est na informalidade (IBGE) e grande parte dos trabalhadores da
economia popular e da economia solidria esto presos mera so-
brevivncia. Levando em conta a situao ainda incipiente e prec-
ria da maioria dos empreendimentos, a formao teria que concen-
trar-se, inicialmente, na construo das condies bsicas para a ge-
rao de rendimento e, simultaneamente, para a garantia da susten-
tabilidade dos empreendimentos.
O horizonte dessa formao, porm, grandioso. Trata-se de
motivar e estimular os educandos para a luta por duas grandes me-
tas: uma, a superao do sistema de propriedade excludente dos bens
produtivos; a outra, a democratizao dos ganhos da produtividade.
No sistema da propriedade excludente, quem se apropria destes gan-
hos so os donos do capital, medida que substituem trabalho hu-
mano por mquinas cada vez mais inteligentes. No sistema da posse
compartilhada dos bens produtivos, a substituio do trabalho hu-
mano por mquinas (que resulta na mesma ou maior produo com
menos tempo de trabalho necessrio) permite, por um lado, que se
compartilhem os ganhos monetrios ampliados, seja com todos que
contriburam para ger-los no interior da empresa, seja com a socie-
dade atravs de contribuies fiscais ou investimentos sociais diver-
139
sos; e, por outro, que os trabalhadores compartilhem entre si a quan-
tidade de tempo liberado do trabalho produtivo; isto quer dizer re-
duo do tempo de trabalho necessrio sem perda de remunerao
ou, noutros termos, crescente emancipao do trabalho, do saber e
da criatividade dos trabalhadores.
Desenvolvimento solidrio e sustentvel
A compulso do crescimento da produo, do consumo, dos
rejeitos e do desperdcio so marcas da economia do Capital. Aque-
cimento global, quebra do equilbrio delicado e complexo dos ecos-
sistemas, resultando na sempre mais acelerada destruio da biodi-
versidade, tendncia ao esgotamento dos combustveis fsseis mais
acelerada do que o desenvolvimento de fontes alternativas e renov-
veis de energia, desmatamento e outras formas de destruio de ma-
nanciais aqferos, resultando em escassez crescente de gua pot-
vel para uma populao mundial em ascenso exponencial, deserti-
ficao, poluio industrial dos solos, guas, ar e oceanos, tudo isto
forma um quadro ameaador para a sustentabilidade da vida. De novo,
uma mudana de esquema mental necessria e urgente, no sentido
de tornar possvel o que parece impossvel:
a) a definio de metas de decrescimento econmico no triplo
sentido da ecologia profunda:
i. economizar bens naturais consumindo menos ou apenas o
suficiente;
ii. reutilizar, e no descartar, tudo aquilo que ainda esteja em
condies de uso;
iii. reciclar tudo aquilo que j no est em condies de uso.
38 Desafio interessantes para ns, economistas: o desenvolvimento de outra teoria de
preos, tendo como pressupostos a solidariedade entre parceiros do intercmbio e a
harmonia com o meio natural.
140
b) livrar-nos do apego aos bens de consumo;
c) adotar novos padres de consumo e produo, concentran-
do na gerao de energia a partir de fontes renovveis;
d) desenvolver sistemas de preos que levem em considerao
os custos totais (financeiros, laborais, fiscais, sociais e ambientais);
38
e) vivenciar a tica da co-responsabilidade, que postula ser bom
tudo que ajuda a vida a se manter e a evoluir, e matriz de um novo
comportamento para as pessoas, as empresas, os governos, e as insti-
tuies financeiras;
f) recuperar o sentido de comunidade: compreendermos que
somos um com os outros e o meio natural nos leva a cuidar do outro
e do ambiente no apenas pelo altrusmo recproco, mas tambm
porque sabemos que o outro e o ambiente vo cuidar de ns;
g) desenvolver a ecoespiritualidade, ou a espiritualidade do
lar e dos habitantes do lar, aquela que promove a harmonia comigo
prprio, com os outros e com a Natureza, aquela que emana de um
interior pacificado e que serve de base para uma ecologia exterior
fecunda (Egger, 2005: 25).
Educao da Prxis: do senso comum ao bom senso
39
Como bem explica Kraychete, a lgica dos empreendimentos
populares diferente da lgica do capital e do mercado. Na perspec-
tiva que mencionei, da formao como elemento-chave na transio
da economia popular para a Economia Solidria, os empreendimen-
39 A Educao da Prxis oferece viso e metodologia para o educando e o educador que
desejam construir-se sempre mais alm. uma educao voltada para a integralidade
do Homo e do seu ecossistema. Est referida no apenas sua realidade atual, mas aos
seus potenciais e atributos subjetivos e objetivos a desenvolver, enquanto indivduo e
coletividade. A diversidade de aspectos e dimenses do seu ser pessoa e sociedade
abre possibilidades infinitas ao ser ser mais, porm tambm fonte de conflito e
contradio. (Arruda, no prelo)
141
tos populares ainda manifestam uma viso apenas ttica da sua in-
sero econmica. O senso comum que lhes peculiar inspira
iniciativas que geram trabalho e renda para melhorar no imediato
suas condies de existncia. Um salto de conscincia no sentido de
um autoconhecimento que v alm do mero corpo fsico e das suas
necessidades materiais, e alm do espao-tempo de sua existncia
pessoal, geralmente resulta da prxis do trabalho e da luta social.
Prxis no sentido de prtica refletida criticamente, situada nos di-
versos contextos espao-temporais que a envolvem. Na linguagem
de Gramsci, o bom senso, ou sentido crtico e criativo, e a viso es-
tratgica do desenvolvimento humano e social emergem desta edu-
cao da prxis, (Arruda, 2005: 169
40
. E so eles condies indispen-
sveis para a subjetivao dos educandos o tornar-se sujeitos cons-
cientes, crticos e criativos do seu prprio desenvolvimento. Este ,
em ltima instncia, o grande objetivo da educao emancipadora,
que aqui estamos chamando de formao.
IV. Estratgias de formao em economia
solidria e desenvolvimento
Na discusso acima, propus que o desenvolvimento da pessoa,
da coletividade e da Nao o sentido maior tanto da ao econmi-
ca e do trabalho formativo. Para falar de estratgias de formao,
temos, portanto, que ter claro que toda atividade formativa, na pers-
pectiva emancipadora, deve focalizar o autodesenvolvimento inte-
40 Trata-se da apropriao da educao como relao de mtuo ensino e aprendizagem
e como caminho de construo de sujeitos histricos. A Educao da Prxis supera os
conceitos meramente funcionais ou estruturais da educao (...) prope uma prxis
educativa de carter permanente, omnilateral (...) e monidimensional. (168) Sobre o
educador da prxis: seu objetivo que os educandos desenvolvam sua prpria capa-
cidade de conhecer e agir criativamente no seu respectivo campo de saber, trabalho e
vida at o ponto em que possam igualar ou mesmo superar o prprio educador. Este
seria, talvez, o critrio mais apropriado para avaliar o xito ou fracasso de uma ao,
processo e agente educativos. (169)
142
gral e sempre mais pleno da pessoa da trabalhadora e do trabalha-
dor, dos seus coletivos familiar e de trabalho e, mais adiante, das
coletividades humanas mais abrangentes, at a Nao e o planeta. O
objetivo abrangente , portanto, triplo:
1. a construo de empreendimentos formados por pessoas im-
budas do esprito cooperativo e solidrio e das capacidades e co-
nhecimentos para levar prtica uma economia da partilha, da jus-
tia e da solidariedade;
2. o desenvolvimento de cadeias produtivas e redes de colabo-
rao solidria, que sirvam de contexto relacional cada vez mais de-
terminante das atividades dos empreendimentos;
3. a construo de um sistema orgnico de economia social
que ganhe espao na realidade e no imaginrio da sociedade at tor-
nar-se a forma mais desejvel de relaes sociais de consumo, de
produo e de reproduo ampliada da vida.
A formao enquanto Educao da Prxis, conforme explica-
mos h pouco, fator essencial desta passagem do senso comum ao
bom senso, da solidariedade espontnea solidariedade consciente,
da alienao relacionada com o mundo das necessidades materiais
ao reino da liberdade. Esta educao forma uma trade indissocivel
com o trabalho na esfera cotidiana, e a luta social, na esfera utpi-
ca
41
. H uma questo inescapvel: a transio predominar de forma
gradual, ou preparar um momento de ruptura e morte, como condi-
o do renascimento?
Estratgias mltiplas de formao
As estratgias de formao variam conforme o tipo de partici-
pantes dos cursos e seus contextos espao-temporais ou scio-hist-
41 Para mim a Utopia como projeto transformador a guia da autntica Poltica, que
defino como a arte de tornar real o possvel e tornar possvel o sonho impossvel (Arru-
da, no prelo, Introduo).
143
ricos. No pode haver uma s estratgia que sirva para todos. Traba-
lhadores da economia popular tm um nvel de escolaridade frequen-
temente muito baixo, alguns chegam a ser analfabetos em termos
lingusticos. Alm disso, esto em geral to absorvidos com a luta
pela sobrevivncia que no encontram tempo e disposio para par-
ticipar de cursos de formao. A motivao pode vir de familiares ou
amigos. Os cursos tm que estar vinculados sua situao de traba-
lhadores informais e s suas necessidades mais prementes. O mto-
do tem que consistir numa ntima interao entre a educao, o tra-
balho e a vida que levam. Trabalhadores da Economia Solidria, por
sua vez, ainda que tendo escolhido o caminho da cooperao e da
partilha, tambm precisam de formao, de capacitao e de recicla-
gem de conhecimentos e aptides. Jovens e adultos anseiam por avan-
ar para graus sempre mais elevados de formao de competncias.
O desafio da formao em Economia Solidria e desenvolvimento ,
na verdade, permanente.
O conhecimento geral relativo situao atual do Brasil e do
mundo, bem como dos fatores objetivos e subjetivos responsveis
pelas desigualdades sociais, pelas injustias e pela precariedade da
vida da maioria da populao so todos essenciais. Mas a tentativa
de iniciar com eles a formao de trabalhadores da economia dos
setores populares levou ao esvaziamento de algumas experincias
formativas. A presso da luta pela sobrevivncia pesou mais do que
a sede de saber mais. So inmeras as ocasies em que participantes
deixam de vir a sesses de formao por falta de dinheiro para o
transporte. Para outros, porm, este tem sido o melhor ponto de par-
tida, em particular quando tratado de forma participativa, toman-
do como referncia a prtica dos participantes.
Incentivo material e ligao com o cotidiano facilitam a formao
Entidades de assessoria tm conseguido realizar atividades de
formao oferecendo aos participantes um pequeno subsdio na for-
ma de transporte e alimentao. Isto viabiliza a continuidade dos
144
cursos e o avano na conscincia, no conhecimento e na motivao
para a ao cresce na mesma proporo. Quando h subsdio e a
formao no pesa no minguado oramento domstico, a participa-
o entusiasta em temas como a economia das mulheres, e como as
polticas econmicas do governo e a ao do grande capital incidem
na vida delas. Este o caso de mulheres que ainda no esto organi-
zadas em empreendimentos produtivos.
42
A incidncia da realidade
macro sobre o cotidiano delas permite que trabalhem as vrias di-
menses da realidade, transcendendo, sem maior dificuldade, a vi-
so apenas local e imediata. O curso serve de motivao para que
cheguem a apropriar-se do desafio de tornar-se protagonistas do seu
desenvolvimento pessoal e comunitrio, da sua prpria economia
familiar e da economia do pas. O resultado tem sido mltiplo: no
plano pessoal e familiar, elas ganham um protagonismo que nunca
tiveram e comeam a liderar aes de desenvolvimento que antes
no chegavam a cogitar; no plano econmico, unem-se a outras para
iniciar atividades que contribuem para a manuteno prpria e da
famlia; no plano organizativo, ingressam em movimentos populares
mais abrangentes, como a Marcha Mundial das Mulheres e a Assem-
blia Popular.
A situao como ponto de partida
O Brasil de hoje faz parte de um mundo em convulso. De
todos os lados se levantam as crises, ou tendncias a crises: social,
financeira, da violncia armada, do meio ambiente
43
, da educao,
da sade, da tica, do sentido da vida, da prpria civilizao. No
42 Esta prtica, desenvolvida pelo PACS, est sistematizada em diversos registros e fi-
chas, disponveis a pedido, pela internet: mulheres@pacs.org.br ou pelo telefone, 21
2210 2124 falar com Duda Quiroga ou Sandra Quintela.
43 Esta uma das tendncias de crise global mais prementes, envolvendo uma acelera-
o exponencial do aquecimento global, a poluio e a destruio de mananciais e
aquferos, a contaminao dos solos, o desflorestamento acelerado, e a ameaa de
crise energtica com a aproximao do fim dos combustveis fsseis em trs ou quatro
dcadas. Ver Arruda, 2006: 13; 18-24.
145
momento mesmo em que a direita mais perniciosa ao Brasil e ao
povo derrotada nas urnas, surgem os sinais de que o segundo man-
dato de Lula pode ser ainda pior para o Brasil do que o primeiro: a
promessa de crescimento econmico vem amarrada sinalizao de
uma poltica de industrializao acelerada e a qualquer custo via
grandes projetos, a acusaes contra os indgenas, contra os que exi-
gem polticas de defesa do meio natural, contra os que lutam pela
auditoria das contas pblicas com o exterior, contra os que defen-
dem o territrio e a economia nacionais contra a presena predadora
de capitais estrangeiros, contra os que desejam um projeto democr-
tico e sustentvel de desenvolvimento para o Brasil. Este o ponto
de partida: recusar e resistir ideologia do crescer a qualquer custo,
mesmo que aprofundando a dependncia de capitais externos, mes-
mo destruindo o patrimnio pblico e natural do pas.
A economia dos setores populares tem sido, em muitas situa-
es, uma economia do desespero. Trata-se de sobreviver a qualquer
custo, com ou contra o outro, adaptando-se s regras que dominam a
economia atual: regras que favorecem quem proprietrio de capi-
tal, a fim de que aumente sempre mais suas propriedades, privando
e excluindo do direito de possu-las. Competir, olhar o outro como
adversrio ou inimigo, esmag-lo ou ele me esmaga, esta a regra
que domina as relaes na sociedade brasileira, em especial nas gran-
des cidades. Sobreviver com violncia violncia que me cerca. As
crianas e jovens aprendem diariamente estas lies no rdio e na
televiso, vem-se foradas a saber como so feitos os crimes mais
brbaros, a praticar corrupo quando detiverem cargos pblicos e
ou ocuparem uma gerncia de uma grande empresa ou de um banco,
a aprender nos jogos eletrnicos a atirar e matar, a tomar toda violn-
cia como natural e, diante de qualquer desentendimento, a pegar
uma arma e apont-la contra o Outro... Este o contexto em que um
trabalhador ou uma viva iniciam uma atividade econmica fora do
mercado de trabalho dominado pela sede de lucro, a fim de garanti-
rem sua sobrevivncia com suas famlias.
146
O governo Lula no parece ter-se dado conta de que redistri-
buir renda e riqueza no um desafio apenas conjuntural, que se
resolve com programas benevolentes. Erradicar a fome, a misria, o
analfabetismo, a pobreza, exige a coragem e a ombridade de quem
est disposto a correr risco para realizar um ideal superior: preciso
adotar trs polticas complementares, capazes de compor uma cons-
telao transformadora e libertadora primeira, uma reforma fiscal e
tributria progressiva, que d prioridade s dvidas social e ambien-
tal e que obrigue a cidadania a pagar impostos em proporo direta
do seu patrimnio e da renda que aufere; segunda, a democratizao
da propriedade dos bens produtivos (terra, fbricas, usinas, empre-
sas, lojas para quem nelas trabalha!) e do acesso aos recursos natu-
rais para a garantia da vida; e terceira, a autogesto e cogesto do
desenvolvimento pelos prprios portadores dos potenciais, sentidos e
recursos a desenvolver.
Estas so propostas que fazem parte da agenda do movimento
pela economia solidria. A primeira dirigida aos trs poderes da
Repblica e depende deles para concretizar-se; a segunda um com-
promisso estruturante da prpria Economia Solidria, ainda que ne-
cessite do apoio do governo para institucionalizar-se em pleno direi-
to; a terceira depende da prpria sociedade tomando em mos seu
desenvolvimento. A primeira realiza a funo redistributiva do Esta-
do sem tocar nas bases do sistema de propriedade privada que carac-
teriza o capitalismo. A segunda e a terceira, porm, substituem justa-
mente duas das suas vigas-mestras, a propriedade e a gesto exclu-
dentes, institucionalizadas e naturalizadas pelo sistema do Capital,
que do direito de acumulao ilimitada de propriedade a uns em
prejuzo e excluso de muitos outros. Situa-se a o fundamento sist-
mico das desigualdades sociais. E o que tem sido chamado Economia
Solidria, ou Economia do Trabalho, tem a virtude de introduzir uma
nova racionalidade nas relaes sociais de produo, praticando for-
mas partilhadas de posse e gesto da produo, distribuio, finanas
e consumo. Por isso, sabemos que s ser tolerada pelo sistema domi-
147
nante enquanto no ameaar sua existncia enquanto sistema. E pre-
cisamos de estratgias claras e consensuadas para avanar nessa luta.
O estudo da situao do Brasil e do mundo, das instituies e
das relaes sociais e ambientais, que so o contexto scio-histrico
no qual se situam os educandos, suas famlias e comunidades , pois,
um bom ponto de partida de qualquer processo formativo. Associa-
do a ele, a pesquisa da situao concreta dos educandos nas esferas
familiar e comunitria , como veremos adiante, um passo metodo-
lgico importante. Aprendem a observar e interpretar sua realidade
imediata e, mais tarde, a situ-la nos contextos mais abrangentes
que influem sobre ela.
Desconstruindo e reconstruindo conceitos
Nossa prtica de educao popular, inclusive com trabalhado-
res do campo, tem comprovado que o trabalho de desconstruir e re-
construir conceitos essencial para a formao de agentes da Econo-
mia Solidria. A condio buscar, atravs do dilogo com os parti-
cipantes, o contedo que eles do a cada conceito, a partir da sua
vida e trabalho. Cabe ao educador gui-los nesta reflexo, contextua-
lizando-os histrica e sociologicamente e, assim, abrindo horizontes
para outros sentidos possveis a serem estabelecidos pelo dilogo
coletivo. O principal objetivo ajud-los a romper com a dimenso
simblica do paradigma dominante, desvelando que o mundo dos
conceitos que marca a cultura do Capital naturaliza relaes que so
culturalmente produzidas, como:
*a Economia, reduzida atividade de acumular lucros e ri-
quezas materiais, e promovida ilusoriamente a finalidade e sentido
da vida humana;
*o Trabalho Humano, reduzido mercadoria e a mero fator de
produo;
*a Propriedade, tornada dogma intocvel e direito de alguns
contra a privao dele para a maioria;
148
*o Desenvolvimento como a corrida sem fim pela mxima in-
dustrializao e pelo mximo lucro realizado no Mercado total que
o mundo;
*o Ser Humano, como indivduo absoluto, que nasce rico ou
pobre pela vontade de Deus e tem que competir com todas as armas
por um lugar de destaque, ou ser um perdedor;
*o Capital e o Mercado, apresentados como personalidades e
seres pensantes;
*a Democracia, reduzida ao ato de escolher representantes em
tempos de eleies.
Apesar de ser, muitas vezes, um exerccio emocionalmente di-
fcil e mesmo doloroso, porque revela o grau de fechamento da cons-
cincia para o mais profundo e concreto do Real, tem um potencial
criativo e empoderador. A formao tem que pautar estes e outros
conceitos, examinando-os a partir da vida dos participantes e do edu-
cador, a fim de romper com seu sentido comum e estimular os parti-
cipantes a redefini-los.
Gesto e viabilidade econmica
No caso de participantes de empreendimentos econmicos po-
pulares que iniciam a formao, o primeiro passo tende a ser neces-
sariamente a gesto e a viabilidade dos empreendimentos de econo-
mia popular e solidria. Esta estratgia integra dois campos simult-
neos do programa formativo: a capacitao tcnica para levar adian-
te a iniciativa de forma sustentvel, e as questes associativas, isto ,
aquelas relacionadas com a propriedade familiar ou coletiva do em-
preendimento, a autogesto, a soluo de conflitos e contradies,
os valores do trabalho em cooperao, da partilha, e da solidarieda-
de, e os conceitos de direitos econmicos, de democracia econmi-
44 O texto de Kraychete apresenta com riqueza de detalhes a metodologia da formao
em gesto democrtica e viabilidade econmica desenvolvida pela CAPINA ao longo
de muitos anos.
149
ca, de economia solidria.
44
Alm do aspecto prtico, de partilhar,
num tempo relativamente curto, conhecimentos essenciais para o
xito dos empreendimentos e a melhora da vida e do trabalho dos
participantes, este contedo formativo abre portas para uma diversi-
dade de outros campos, sem se descolar da prtica de trabalho dos
educandos.
Metodologia da Prxis na formao solidria
Na formao formal e, sobretudo, no formal de jovens e
adultos que participam de empreendimentos de Economia Solid-
ria, tenho utilizado a estratgia que associa a formao em Economia
Solidria com a formao para o desenvolvimento comunitrio e para
a autoformao. O objetivo das trs a crescente autonomia, auto-
gesto e solidariedade dos sujeitos e entre eles. Metodologia signifi-
ca estabelecer um conjunto de objetivos em comum e os meios para
realiz-los na prtica. Sua construo envolve um acordo ou contra-
to social, no qual cada um e todos os membros assumem responsabi-
lidades por tarefas e contribuies especficas, e co-responsabilida-
de no cuidado de cada outro e do conjunto. Chamo Metodologia da
Prxis aquela que se baseia numa combinao dinmica e criativa
de ao e reflexo, prtica e teoria, cotidiano e histria, pessoa e
sociedade. Ela prope caminhos para articul-las de forma progres-
siva e inovadora. Em todo o processo, a interao dialgica entre
educador e educando permanente, pois ambos buscam aprender
do processo educativo compartilhado. Esta formao tem por finali-
dade prtica, para alm da aprendizagem terica e vivencial, a ao
transformadora.
A aprendizagem se d em dois ciclos. Um, que articula na
esfera do pensamento: viso, objetivos, pesquisa, planejamento,
ao, avaliao, sistematizao. O outro, que se inicia com a situa-
o da comunidade ou da empresa no momento em que ela se re-
ne para pensar e planejar junto e, atravs de aes cotidianas coe-
rentes com estratgias guiadas pelo objetivo geral, constri na pr-
150
tica aquilo que a comunidade visualiza como seu projeto abstrato.
Ambos os ciclos podem ser representados por espirais que se mo-
vem para a frente e para cima, num movimento no linear, que
envolve fluxos e saltos para a frente, mas tambm s vezes para
trs. Sua resultante, porm, ou o resultado desejado, o desenvol-
vimento sempre mais pleno dos potenciais e atributos e do bem
viver de cada participante e da comunidade como um todo, em
harmonia com seus contextos maiores, a Nao, o meio natural, o
planeta.
Campos de atividade econmica responsvel, plural e solidria
Enunciemos os campos interconectados a incluir em um pro-
cesso de educao solidria:
1. consumo tico e responsvel;
2. produo autogestionria;
3. distribuio e comercializao eqitativa;
4. finanas solidrias e moedas complementares;
5. pesquisa e desenvolvimento de tecnologias apropriadas, de-
mocratizadas e ecologicamente sustentveis;
6. educao solidria;
7. informao e comunicao em dilogo;
8. legislao, marco jurdico e regulaes nacionais e interna-
cionais de fomento e proteo economia social;
9. polticas pblicas e relao Estado-Sociedade em contexto
de democracia direta: direitos e deveres das Sociedades Poltica, Ci-
vil e Militar;
10. tica, cultura e transformao pessoal e interpessoal.
Passos do processo de economia-educao-desenvolvimento
A aprendizagem da solidariedade na educao, na atividade
econmica e no desenvolvimento pessoal e comunitrio se d, como
151
vimos acima, em dois ciclos interligados: um, do pensamento, que
articula viso, objetivos, pesquisa, planejamento, monitoramento,
avaliao e sistematizao, desdobrando-se na esfera do projeto abs-
trato; o outro, da ao, que articula o pensar, planejar e executar
aes coerentes com a estratgia e os objetivos definidos no pri-
meiro ciclo, para transformar em concreto o projeto abstrato. Eis os
passos desta formao para a ao transformadora, seja a atividade
econmica do empreendimento, sejam as aes de desenvolvimen-
to comunitrio:
1. Compartilhar uma viso: a viso do projeto de longo prazo
de atividade econmica, de desenvolvimento comunitrio ou de edu-
cao solidria que una os participantes do empreendimento e o
educador, a comunidade e os trabalhadores sociais que a apiam.
Ela servir de holofote que lana luz sobre o caminho a seguir para
alcan-lo. Construir coletivamente esta viso, atravs da pesquisa,
da intuio e do dilogo provoca um encontro de intencionalidades,
e a construo de um consenso negociado o passo inicial indispen-
svel.
2. Estabelecer os objetivos gerais: a definio consensuada
dos pontos de chegada mais abrangentes, que aproximaro no espa-
o-tempo a realizao da viso; a prtica empreendedora, do traba-
lho do desenvolvimento ou da formao, combinando ao e refle-
xo, estudo e trabalho, teoria e prtica, sero os meios para a realiza-
o das transformaes que se pretende.
45
3. Pesquisa da situao: deve ser participativa, buscando en-
volver cada participante, ou cada membro ativo da comunidade, a
comear pelos lderes naturais; deve ser planejada em funo dos
objetivos do desenvolvimento do empreendimento ou da comunida-
45 Para Emmanuel NDione a verdadeira mudana provm do interior das sociedades e
marcada por um avano no sentido de uma maior integrao de todas as dimenses
da vida: a criadora de sinergia e de sentido includente (NDione 2001:48). E o
socilogo africano acrescente um elemento essencial : a mudana no um fenme-
no unilateral: porque ns mudamos que os outros tambm mudam.
152
de; deve envolver aspectos objetivos e subjetivos, e empregar indica-
dores quantitativos e qualitativos; deve identificar atores, cenrios e
espaos de ao dos mesmos; no caso do empreendimento, implica
a apropriao do conhecimento mais profundo da prpria iniciati-
va econmica atravs do estudo de gesto democrtica e viabilida-
de socioeconmica e ambiental; a pesquisa de campo deve ser arti-
culada com a pesquisa histrica, bibliogrfica, terica e de outras
experincias em contextos semelhantes; a interpretao dos dados
recolhidos deve ser feita luz da viso e dos objetivos gerais, atravs
de anlise e sntese e vai ser a base emprica para o plano da ao.
46
4. Estabelecer objetivos especficos e as estratgias para a ao:
depois desses trs pr-requisitos, este o primeiro estgio do plane-
jamento da ao. o momento da discusso dos resultados da pes-
quisa com todos os participantes, a fim de definirem juntos os obje-
tivos especficos da ao, distinguindo os prioritrios dos secundrios
e estabelecendo um desenho estratgico das aes a empreender, os
indicadores que sero usados para o monitoramento e a avaliao, e
um cronograma para sua realizao. o momento, portanto, da to-
mada de decises estratgicas.
5. Misso/compromisso: depois de consensuadas a viso e os
objetivos, o momento de focalizar, no contrato social que unir os
empreendedores na ao econmica, a comunidade em torno das
aes de autodesenvolvimento e os educandos em torno do progra-
ma de estudo. Estas aes esto relacionadas com procedimentos
concretos, mas tambm com tomadas de deciso autogestionrias e
coletivas. o momento de definir quem fica responsvel por que, e
como sero tomadas as decises operativas. Os termos do compro-
misso ou do acordo devem especificar o alcance e os limites do pa-
pel do assessor, do trabalhador social ou do educador, assim como o
46 Merece referncia a obra coordenada por Carlos R. Brando, 1999, Repensando a
Pesquisa Participante, Editora Brasiliense, So Paulo, de vrios autores, em particular
os captulos de Carlos Brando e Vera Gianotten com Ton de Wit.
153
mtodo de sua interveno.
6. Concluir o plano de ao: este o momento de elaborar o
plano de ao econmica, de desenvolvimento comunitrio, ou da
prpria formao. Na perspectiva da prxis, todos os aspectos e di-
menses do educando como pessoa e coletividade devem ser con-
templados. Desdobra-se em duas dimenses: uma, estratgica e de
mdio prazo; a outra, ttica, envolvendo as aes e os procedimen-
tos imediatos que os participantes iro realizar. Sua referncia so
sempre os objetivos e a viso, e seu fundamento tico o acordo
feito entre os participantes do projeto. O plano deve abranger todos
os aspectos da realidade do empreendimento, da comunidade ou da
turma em formao. No caso do empreendimento, todas as questes
definidas pelo estudo de gesto e viabilidade, assim como as dificul-
dades, obstculos e desafios analisados e sintetizados no Passo 3.
47
7. Ao: este o momento de levar prtica as aes e os pro-
cedimentos previstas no plano. a dimenso prtica da ao socioe-
conmica, do processo de desenvolvimento ou de formao, em opo-
sio aos momentos anteriores, mais relacionados ao pensamento,
reflexo, teorizao. A nfase aqui no processo, no movimento do
agir solidariamente.
48
o espao real de mudana, nas condies
objetivas da situao, que tem o poder, inerente a ela, de realizar
tambm transformaes subjetivas: momento de poiese e autopoiese
ao mesmo tempo.
8. Avaliao e nova pesquisa: feito a meio percurso, e de novo
no final de cada etapa, e do projeto inteiro, este o momento de
questionar a ao, as realizaes, o mtodo, o envolvimento dos seus
47 As dificuldades e os desafios enunciados no incio deste texto tambm devem ser
contemplados pelo plano de ao.
48 As atividades enquanto finalidades importam menos do que aquilo que elas podem
ensinar aos atores. (...) o domnio do processo que vai da questo resposta, isto ,
o descobrimento de uma soluo, desde sua identificao e das escolhas que se im-
pem at sua experimentao que determinante e libertador. O caminhar importa
tanto quanto o resultado. (NDione 2001:48)
154
protagonistas luz dos objetivos e viso acordados. Avaliar critica-
mente a nova situao objetiva e subjetiva gerada pela ao realiza-
da abre o espao para um novo ciclo de ao, desenvolvimento ou
formao. Ajuda a tornar os protagonistas mais conscientes dos seus
prprios potenciais e capacidades, a avaliarem o grau de empodera-
mento alcanado e seus limites. Tem como sentido maior mostrar
que o desenvolvimento um processo sempre em marcha, nunca
completo: o caminho no tem fim, posto que nossos potenciais so
ilimitados, no h ponto de chegada!
Resumindo, a Educao da Prxis um caminho de empodera-
mento de pessoas e comunidades com o apoio de educadores da pr-
xis.
49
A Metodologia da Prxis um roteiro terico de abordagem edu-
cativa emancipadora. Ela se aplica tanto formao quanto ativida-
de econmica solidria, quanto ao desenvolvimento comunitrio.
Formao cooperativa
Os movimentos cooperativos, a meu ver, fazem parte, pelo
menos virtualmente, da economia solidria. Digo isto porque consi-
dero que, embora limitados em relao aos da Economia Solidria,
os princpios do cooperativismo
50
so consistentes com os da econo-
mia solidria. Quando a prtica de uma cooperativa nega aqueles
princpios, ela prpria est se excluindo do autntico cooperativis-
mo. Existe uma multiplicidade de estratgias de formao no coope-
rativismo, que merecem ser conhecidas e aproveitadas na formao
para a economia dos setores populares. Menciono duas pela sua re-
levncia para a nossa discusso.
49 Uma rica reflexo feita por Carlos R. Brando a respeito do papel do educador da
libertao no pensamento de Paulo Freire se encontra no captulo Memrias de Paulo:
o Professor Reflexivo na Escola Cidad, em Brando, Carlos R., 2002, A Educao
Popular na Escola Cidad, Vozes, Petrpolis.
50 Livre acesso, adeso voluntria e consciente; base democrtica de organizao; juro
limitado ao capital; distribuio proporcional das sobras; educao constante; e inter-
cooperao (Sicredi/Unisinos, 1995: 25-26). Merecem ser comparados com os Princ-
pios da RBSES enunciados na Carta de Guarapari, 2004. www.redesolidaria.com.br.
155
* Educao cooperativa: a unio faz a vida O prprio nome
j significativo, pois expressa a vida como diversidade em busca
de unio, e prope a cooperao, o dilogo e a participao plena
como os caminhos para unanimizar a diversidade humana. Consi-
dero a incurso da educao cooperativa na instituio da escola e
da universidade de importncia estratgica para a superao do pa-
radigma da propriedade, do lucro, do egosmo e da competio. O
objetivo do programa Sicredi/Unisinos (1995) praticar a educao
cooperativa, participativa e solidria, nas escolas de 1 grau. O di-
logo e a convivncia com as contradies so vistos como caminhos
para a construo de uma sociedade democrtica e cooperativa.
* Colacot programa de reflexo e ao com trabalhadores A
Confederao Latino-Americana de Cooperativas e Mutuais de Tra-
balhadores, Colacot, articula cooperativas e mutuais de trabalhado-
res em 21 pases da Amrica Latina e Caribe. Tem estratgias de for-
mao de jovens e adultos em educao bsica secundria, educa-
o mdia e graduao universitria. As unidades escolares esto
baseadas em Bogot, Colmbia.
Nos dois casos, os programas expressam a viso abrangente
que marca estas estratgias de formao, e a relao omnipresente
das diferentes disciplinas e campos de conhecimento com os valores
da cooperao, da mutualidade e da solidariedade.
V - Concluindo
A situao do mundo moderno se compara com a de um ho-
mem engolido por um monstro...
Ou errando num labirinto que , em si mesmo. O smbolo dos
Infernos...
E, todavia, aos olhos do primitivo, essa experincia terrvel
indispensvel para o nascimento de um novo homem.
Nenhuma iniciao possvel sem o ritual de uma agonia, uma
morte e uma ressurreio...
156
A angstia do mundo moderno o sinal de uma morte iminen-
te, mas de uma morte que necessria e redentora, pois ela ser
seguida por uma ressurreio e pela possibilidade de alcanar um
novo modo de ser, o da maturidade e da responsabilidade.
Mircea Eliade (1975: 237)
Desafios estratgicos polticos, econmicos e ticos desta etapa
Para alm das dificuldades, existem contradies mais abran-
gentes, que levantam desafios para o movimento:
* o desafio de mudar de escala: tanto empreendimentos como
redes solidrias ainda operam em espaos muito limitados do terri-
trio geoeconmico, no caso brasileiro; um desenvolvimento em
muitos planos necessrio para que a economia solidria mude de
escala, seja setorialmente (servios, agricultura, indstria, tecnolo-
gia, finanas), seja em relao aos biomas ou aos ecossistemas que
compem o territrio (que no se limitam s fronteiras polticas esta-
belecidas!), seja economia como um todo, seja tambm na relao
com empreendimentos e redes solidrias da Amrica Latina e Cari-
be, e noutros continentes;
*o duplo desafio da comercializao: por um lado, os empre-
endimentos tm que comprar e vender quase sempre no mercado do
Capital; como competir neste mercado sem ser cooptado e afinal tra-
ir os princpios da cooperao? Por outro lado, a Economia Solidria
s cresce se as redes de empreendimentos desenvolverem mercados
solidrios, mtodos cooperativos de formao de preos e trocas so-
lidrias; como conseguir isto sob a presso de vender a produo o
mais rpido possvel e, muitas vezes, a qualquer custo?
*converter os sindicatos de oponentes em aliados: a luta pela
defesa do emprego e de nveis mais justos de salrio complementar
luta por uma economia hegemonizada pelo mundo do trabalho.
Mas os sindicatos, principalmente as lideranas, no vem assim e
ainda opem resistncia ao cooperativismo e economia solidria.
157
No percebem que o sindicalismo, na era da globalizao neoliberal,
s tem futuro na Economia Solidria! Como transformar oponentes
em aliados e criar as sinergias necessrias para se expandir?
*desafio de construir e implementar um plano estratgico de
superao do sistema privatista e competitivo do capital: um sistema
de propriedade socializada, cooperativo e fundado em associaes
voluntrias de trabalhadores possvel? Que condies objetivas e
subjetivas so necessrias para a sua realizao?
socialistas revolucionrios dizem que s com estado centra-
lizado ou movimento revolucionrio;
socialistas evolucionrios respondem que o socialismo ser
fruto da evoluo do capitalismo at o seu limite;
qual a nossa viso ou intuio, enquanto educadores da soli-
dariedade?
com a experincia histrica acumulada dos social-estatismos,
qual seriam as formas e o contedo autntico do Socialismo?
*contradies no seio da Economia Solidria: esta evidencia a
emergncia de um novo modo de produo dentro do velho sistema
do Capital. Mas, como enfrentar a tendncia a reproduzir os defeitos
do atual sistema:
competio entre scios por prestgio e poder;
competio entre empreendimentos pelos mesmos mercados;
competio entre empreendimentos por contratos com go-
vernos;
conflito entre a viso egocntrica de ser humano e as formas
sociais de organizao solidria da produo e do consumo;
a lgica do lucro se ope lgica do valor de uso e da satisfa-
o das necessidades;
em contexto de relaes competitivas, como adotar compor-
tamento consciente e coerente com os desafios da harmonia com o
ambiente?
158
como combinar presena no Estado com protagonismo da
sociedade civil organizada?
*como combinar a luta por transformaes:
objetivas sistema da propriedade e da indstria, institui-
es, relaes sociais de produo e com o meio ambiente;
subjetivas revoluo intelectual, moral, cultural, tica, es-
piritual; relaes pessoais e interpessoais, com a espcie, com a na-
tureza?
*atual governo brasileiro preso no antagonismo: o Estado di-
rigido por um governo que enuncia um projeto social, mas insiste
que o protagonismo seja do capital e do mercado; mantm uma rea
de governo dedicada Economia Solidria (a SENAES), mas opta
por uma poltica econmica neoliberal e uma poltica social apenas
assistencial e compensatria; como pression-lo em favor da radica-
lidade democrtica e da subordinao do econmico ao social e ao
poltico?
*economia e Estado democratizado: que fazer com a economia
quando tomado o poder do Estado?
Em sntese
H que diferenciar entre a formao homogeinizadora, que o
sistema do Capital promove, da educao emancipadora que parte
integrante e essencial da Economia Solidria. Assim como os siste-
mas so antinmicos, as respectivas educaes tambm o so. Um
coloca na frma e treina para a competio, a predao e a cobia; o
outro educa para a liberdade, para a autogesto, para a criatividade e
para a solidariedade consciente. Um treina para o pensamento ni-
co. O outro libera a mente e o esprito para apreender, pesquisar,
observar participativamente, criticar, recriar, num movimento de
crescente autopoiese, em que o outro meu indispensvel comple-
mento, a quem respeito e acolho como outro, e no como projeo de
159
mim. A este sistema eu chamo Educao da Prxis, ou caminho eman-
cipador de formao para os setores populares.
A Educao da Prxis promove o auto-empoderamento para
ser mais. O empoderamento para o auto-desenvolvimento e o co-
desenvolvimento um desafio no mbito do amor. Maturana e Vare-
la dizem o amor, ou se no queremos usar uma palavra to forte, a
aceitao do outro junto a si na convivncia, o fundamento biolgi-
co do fenmeno social: sem amor, sem aceitao do outro junto a si
no h socializao, e sem socializao no h humanidade (Matu-
rana e Varela, 1984: 163). Com base nesta noo, proponho que amor
sinnimo de empoderamento de si prprio e, igualmente, respeito,
apoio e reconhecimento do direito do Outro ao seu prprio empode-
ramento. Educar, portanto, na perspectiva da prxis libertadora,
apoiar o educando no seu processo de desalienao e de empodera-
mento para o pleno auto e co-desenvolvimento. Ao fazer isso, o edu-
cador tambm se educa e se desaliena um pouco mais.
Na sua humilde impecabilidade, o educador da emancipao
deseja que o educando o alcance, e mesmo o supere, nas trs artes de
ser, saber e fazer. Um tal educador pratica a educao amorosa. E
quando esta educao est a servio de uma economia solidria, ela
informa as relaes que tecem a economia com um contedo social,
solidrio, amoroso. E do amor brota, naturalmente, o fim maior da
nossa existncia na Terra: a vida sempre mais plena, a felicidade.
Referncias
ARRUDA, Marcos, 2006, tica, Espiritualidade e Sustentabilidade, mono-
grafia, CNBB e PACS, Rio de Janeiro. Disponvel em <www.pacs.org.br>.
ARRUDA, Marcos, 2005, Humanizar lo Infra-Humano La formacin del
ser humano integral: homo evolutivo, praxis y economa solidaria. Icaria
Editorial, Barcelona
ARRUDA, Marcos, no prelo, Tornar Possvel o Sonho Impossvel a forma-
o do ser humano integral: Educao da Prxis e Economia Solidria. Edi-
160
tora Vozes, Petrpolis.
BURKE, Bev et al, 2002, Education for Changing Unions, Between the Li-
nes, Toronto.
CORAGGIO, Jos Luis, 2003, Economia do Trabalho, in A Outra Econo-
mia, Veraz Editores, Porto Alegre.
EGGER, Michel-Maxime, 2005, Vers une ecospiritualit, in Choisir, Lau-
sanne.
ELIADE, Mircea, 1975, Myths, Dreams and Mysteries, Harper&Row, Nova
York.
MATURANA, Humberto, 1990, Emociones y Lenguaje en la Educacin y
Poltica, Hachette/CED, Santiago de Chile.
MATURANA, Humberto e Varela, Francisco, 1984, El rbol del Conocimi-
ento: Las Bases Biolgicas del Entendimiento Humano, Editorial Universi-
taria, Santiago de Chile.
NUEZ, Orlando, 2002, La Economa Popular Asociativa y autogestiona-
ria, Editorial Cipres, Managua.
161
PACS E CASA, 1998, Construindo a socioeconomia solidria do espao lo-
cal ao global, Srie Semeando Socioeconomia, Pacs, Rio de Janeiro.
SARRIA, Ana Mercedes e TIRIBA, Lia, 2003, Economia Popular, in A Ou-
tra Economia, Veraz Editores, Porto Alegre.
SICREDI/UNISINOS, 1995, A Unio Faz a Vida, coordenao de Miriam
Zelzer Fialkow, Porto Alegre.
VEBLEN, T., 1923, Absentee Ownership and Business Enterprise in Recent
Times, New York, Reprints of Economic Classics, 1964, p. 306-7.
Formao: um outro mundo possvel
e est em construo
Dbora Nunes
Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de
debater com dois nomes importantes da discusso sobre formao
em economia solidria no Brasil: Marcos Arruda e Ktia Aguiar.
Marcos algum que esteve na base da criao do Frum Brasileiro
de Economia Solidria que nasceu do movimento de economia
solidria , do qual participou desde seu surgimento. Ele tem larga
produo sobre o tema e um nome querido, inspirador. Ktia Aguiar
traz aqui essa experincia pioneira no Brasil, extremamente respei-
tada, que so os cursos de Viabilidade econmica e gesto democr-
tica de empreendimentos associativos, da CAPINA. J aconteceram
seis turmas com cerca de 150 alunos, oriundos de mais de dezesseis
estados do pas, e a reflexo de Ktia se baseia nesse processo de
formao, no qual ela est envolvida desde 2003.
A fala de Marcos Arruda foi uma fala de educador, extrema-
mente clara, muito organizada, que nos ajuda a acompanh-lo no
seu raciocnio sobre quais so os desafios atuais da formao face a
162
tudo o que j foi construdo no Brasil, em termos de economia soli-
dria. O que Marcos elencou como sendo o que nos falta desenvol-
ver, o que a gente precisa focar, nos mostra tambm o quanto avana-
mos. Se por um lado preciso avanar na autonomia dos empreen-
dimentos, na sua formalizao, na diversificao dos setores de pro-
duo e de servios, na construo de um mercado consumidor vin-
culado economia solidria, nas finanas solidrias, nos fundos
pblicos, no desenvolvimento das redes, como disse Marcos, tudo
isto nos mostra, tambm, ao mesmo tempo, que a etapa atual de
aperfeioamento, que ela , nitidamente uma etapa superior.
importante identificar que ns temos uma base da economia
solidria no Brasil, que ns j construmos resultados, para que a
gente possa se orgulhar deles e se animar e perseverar para dar pas-
sos adiante nas nossas conquistas. Ao mesmo tempo, preciso estar
claro que, face ao outro mundo que queremos construir, e que pos-
svel, estas conquistas so pequenas. A fala de Marcos nos mostra
que os empreendimentos de economia solidria esto engatinhando
no Brasil, mas precisamos lembrar que, em termos de acelerao,
quando voc passa do zero ao cem, uma dificuldade enorme, e
muito maior do que passar dos cem aos duzentos. Por isso eu acho
que a gente precisa olhar essa fala de Marcos como um desafio para
todos ns e confiar, como ele mesmo confia, que a gente vai mesmo
cumprir estes desafios que esto diante de ns, pois j mostramos
competncia em tempos recentes.
Eu gostaria, muito mais do que comentar a fala de Marcos, de
provoc-lo e ao pblico, a todos ns aqui, para a discusso sobre
algo que da tradio do pensamento do Marcos Arruda mas que
ele no teve tempo hoje de abordar que a questo ambiental.
Como poderemos, enquanto formadores da economia solidria, nos
abrir sociedade, ajudar o movimento da economia solidria a se
abrir a outros movimentos, pois ele ainda um movimento muito
minoritrio. Embora a simpatia e o interesse pelo tema da economia
solidria estejam crescendo, ainda algo que se limita a determina-
163
dos setores. E eu imagino que h possibilidades de ns linkarmos a
discusso da economia solidria, ou seja, de uma produo, distri-
buio e consumo mais justos e includentes, com a questo ambien-
tal que aflige hoje o planeta e, com isto, nos associarmos a outros
movimentos sociais, particularmente o ambientalista.
Cada vez fica mais evidente que a vida no planeta a vida
como ns a conhecemos hoje est em risco. O problema do aqueci-
mento global atual, embora suas conseqncias mais catastrficas
estejam apontadas para daqui a trinta, cinqenta anos. E esses lti-
mos dois anos demonstram que os efeitos dessa mudana climtica
global j so claros: o furaco Katrina, nos EUA, e a apario de um
furaco aqui mesmo, no sul do Brasil, pela primeira vez na histria,
demonstram que a questo no s atual, como urgente.
Diante deste quadro, muito importante para ns, que esta-
mos envolvidos na luta por um mundo mais justo, refletirmos que a
gente talvez no tenha tempo de construir o mundo que a gente gos-
taria de ver, se o problema ambiental no for enfrentado. O que pro-
ponho que juntemos a discusso de uma nova forma de produo,
uma nova forma de relao social, de uma nova economia, de uma
nova forma de ser no mundo, com a questo do consumo consciente
e da responsabilidade que cada indivduo no planeta tem com esse
problema global, que causado pelo modo de produo capitalista.
O que ns propomos com a economia solidria um modo de
organizao da produo e da sociedade, onde os humanos tenham
possibilidades de uma vida plena, convivendo repeitosamente com
o meio ambiente. A economia solidria, essa nova economia do tra-
balho, a socioeconomia, a possibilidade real de ns frearmos a ca-
tstrofe que se mostra cada vez mais iminente. Na medida em que o
consumo volte a ser uma atividade de apoio existncia humana e
no a simbologia total do ser humano, que o consumismo tenta im-
por medida em que se freia esta mercantilizao de tudo, que o
consumo volte a ter aquele sentido de favorecer a existncia e no de
simbolizar status, ns estaremos mais prximos da sustentabilidade
164
e mais prximos da economia solidria.
vital que percebamos que o efeito dos nossos atos cotidianos,
como o de comprar objetos com vida til curta, de no separar o lixo
para a reciclagem, de seguir modas e descartar roupas em bom esta-
do, de consumir muitas embalagens, copos descartveis, etc. esto
contribuindo para que o planeta esteja nessa situao. So centenas
e centenas de pequenas aes do cotidiano que se somam nefasta-
mente. O consumismo e o desperdcio que exaurem o planeta so
problemas certamente criados pelo sistema capitalista, mas ns fa-
zemos parte dele, ns consumimos, de certa forma cada um de ns
sustenta o sistema capitalista. Dar-nos conta de que ns fazemos parte
do problema, j um pequeno grande passo para que o planeta con-
siga resistir a essa grave ameaa, ainda mais porque somos formado-
res. Como formadores no podemos apenas estar envolvidos em um
projeto de mundo diferente, precisamos construir este mundo a cada
dia, dar exemplo. Como diria Gandhi, Ns precisamos ser a mudan-
a que queremos ver.
essencial, do meu ponto de vista, que a abordagem de Mar-
cos Arruda com este jeito de falar que lhe peculiar, essa discusso
da economia da posse compartilhada, essa economia das necessida-
des, o ser humano como o centro da economia seja vinculada
discusso de que cada pessoa portadora dessas transformaes.
No apenas os empreendimentos de economia solidria, tambm ns,
como consumidores, somos portadores dessa transformao nos pe-
quenos gestos cotidianos. Precisamos ajudar a que nossa utopia co-
mece a se realizar, atravs da idia de consumo consciente, de con-
sumo tico, para que milhares de pessoas, e no apenas aquelas s
quais ns estamos dedicando mais particularmente nosso trabalho
de formao, possam participar desta construo.
O que eu estou querendo dizer aqui que importante pensar
a formao tambm para a sociedade como um todo, pensar cada vez
mais como que a gente consegue levar essa conceituao, que a
gente usa tanto, que a gente discute tanto na formao dos empreen-
165
dimentos populares, para todos os aspectos e em todos os momentos
da nossa vida. Ns aqui somos todos formadores, ns tambm atua-
mos como formadores em outras reas e podemos levar este projeto
de sociedade e vincul-lo como uma sada aos problemas do aqueci-
mento global, como algo que tem a ver com a vida e com a existncia
diria de todas as pessoas.
Queria finalizar este comentrio fala de Marcos Arruda e eu
sei que ele adora esta abordagem e s no tocou no tema porque o
foco que ele pretendeu para sua fala foi outro perguntando como
que a gente pode inserir nas estratgias de formao um outro pbli-
co, um pblico muito mais ampliado do que simplesmente este do
ambiente da economia solidria: empreendimentos, formadores, ges-
tores pblicos... Como poderemos atingir, neste nosso trabalho de
formao, a sociedade como um todo.
A fala de Ktia Aguiar est vinculada sua experincia como
formadora nos cursos e trabalhos diversos da CAPINA, do PACS, etc.
A forma como ela aborda essa experincia vivida nos traz uma imen-
sido de conceitos, de novas abordagens e a coragem do formador de
entender o seguinte: se ns estamos pensando em construir um novo
mundo, ns no temos os instrumentos amarrados e formados para
essa construo e para a formao para a construo, exatamente
porque este um mundo em construo. Ns tambm estamos nos
formando. preciso o tempo todo entender que no h modelos.
Ns no podemos, para construir um mundo novo, nos basear nos
modelos com os quais ns fomos formados. E isso num sentido de
muita radicalidade, porque ns falamos, muito constantemente, na
transformao da formao, na transformao do prprio formador,
no sentido de construir um novo tipo de formao, mas nem sempre
a gente se permite sair dos modelos.
fato que, como os empreendimentos de economia solidria
necessitam de uma certa formao tradicional porque eles tm pela
frente um mercado tradicional, lgicas tradicionais, legislao, mar-
co legal atual, que eles precisam conhecer ns, formadores, somos
166
pressionados a ajud-los a conhecer este modo de organizao da
sociedade que queremos superar. Ento, esse tensionamento entre
conservao e ruptura de que nos fala Ktia nos atinge em cheio.
Ns estamos neste tensionamento e, s vezes, a gente acaba por ficar,
comodamente, nos modelos, apenas questionando, mas sem revolu-
cionar a prpria metodologia de formao. Experincias como a da
CAPINA mostram que h pessoas tentando se superar, tentando ou-
tros caminhos.
Quando Ktia fala de superar os modelos e respeitar a inventi-
vidade, os macetes, a criatividade, o jeitinho, ela vai completamente
na contramo do que se costuma dizer nos processos formativos
menos revolucionrios. De um modo geral, na sociedade dominante,
na sociedade includa, todas essas coisas, o jeitinho, os macetes, es-
sas coisas inventadas na hora, so desprezadas. Aqui, na Bahia, a
gente tem uma palavra muito engraada para falar disso, a gambiar-
ra, mas ela tem em geral um sentido negativo, de coisa mal feita.
Estas coisas esto fora dos modelos, elas no servem produtividade
e produo do lucro, portanto, segundo a lgica dominante, elas
devem ser superadas pelos modelos organizados, pelas lgicas mui-
to claras, pelos conceitos formatados. E a proposta que Ktia traz
para a gente a de inventar com as pessoas, construir um mundo
novo com os empreendimentos, construir uma gesto de uma for-
ma completamente diferente.
A gesto que a gente fala no ambiente da economia solidria
aquela gesto que faz com que no se separe mais o trabalho intelec-
tual do trabalho manual. O prprio empreendedor, seja de que rea
for, ao mesmo tempo intelectual e trabalhador braal. Ele participa
da atividade de produo e tambm participa da gesto, pois ele
intelectual no sentido de Gramsci ou seja, tem capacidade de glo-
balizao e sntese e por isto capaz de gerir o empreendimento do
qual participa. Portanto, a gente supera algo que extremamente
forte na nossa sociedade, inclusive uma das bases da desigualdade
social, que a diviso entre trabalho manual e trabalho intelectual.
167
Como que a gente vai ajudar os empreendimentos a gerirem
uma nova forma de fazer economia com instrumentos do passado, e
sem que eles sejam atores, sem que eles inventem e sem observar
como que eles inventam? Sem observar e sem respeitar como que
eles esto conseguindo sobreviver! A dvida, a curiosidade, que qual-
quer pessoa que se preocupe com as questes da pobreza tem : como
que eles sobrevivem com to pouco dinheiro, com to poucos ser-
vios pblicos, como que essas pessoas conseguem organizar suas
vidas para sobreviver e para ser feliz? Esta pergunta precisa ser aberta
ao encantamento.
Essas pessoas tm a ensinar, enormemente, elas conseguem
gerar, gerir, auferir renda com seus empreendimentos, sem ter os ins-
trumentos que so passados nas escolas, nas academias. Portanto
elas esto fazendo gesto, s que um outro tipo de gesto. Isso tam-
bm no quer dizer e eu tenho certeza de que Ktia e a equipe
tambm no esto querendo dizer isto que a gesto de empreendi-
mentos solidrios prescinde de elementos, instrumentos e ferramen-
tas que so do conhecimento dos acadmicos, dos tcnicos e asses-
sores. O que ela pretende dizer, na minha interpretao, que a gen-
te precisa no levar modelos, mas estar construindo, conjuntamen-
te, modelos que, inclusive, combinem lgicas que vm de universos
diferentes.
Esta atitude do formador estar aberto a ser formado, que a
mxima e o clssico do nosso grande Paulo Freire, essa educao
baseada no dilogo, ela algo que difcil de fato, de ser exercida e
que preciso um aprofundamento... No Congresso das Incubadoras
Tecnolgicas de Cooperativas Populares ITCPs, em Pernambuco,
de onde eu acabei de chegar, eu vi dois exemplos que me parecem
maravilhosos, desse tipo de prtica de formao: um deles a expli-
cao sobre o funcionamento da cadeia produtiva chamada Justa
Trama, que talvez muitos de vocs j conheam: so agricultores fa-
miliares do Cear que produzem algodo orgnico, que descem esse
algodo para ser fiado em So Paulo, numa empresa recuperada au-
168
togestionria, que depois vai ser tecido no Rio de Janeiro, tambm
por trabalhadores da Economia Solidria, e que, por fim, vai ser cos-
turado por uma cooperativa no Rio Grande do Sul. O slogan da Justa
Trama, que produz roupas, Vestindo a Conscincia. Quando a
gente fala deste exemplo de cadeia produtiva da economia solidria,
as pessoas perguntam logo: Como? Como que eles conseguem ter
preo, se eles tm essa cadeia de gente produzindo em tudo quanto
canto do Brasil, um pas imenso, continental?. Eles encontraram
uma soluo que interessantssima: eles tm uma coisa que se cha-
ma Cmara de Preo, onde cada um diz olha, o meu preo justo
para pagar as atividades e ter uma remunerao decente para as pes-
soas envolvidas na produo do algodo tanto. A outro diz que
tanto, e o outro diz que tanto. Depois eles se dizem , mas para o
nosso consumidor... se ficar nesse preo, a gente vai fazer produo
para os ricos, ento a gente tem que baixar o preo. E eles criaram
uma negociao com aquele objetivo de que todo mundo fique satis-
feito e inventaram um novo modo de produzir e comercializar, res-
peitando o consumidor e respeitando o produtor. So coisas que es-
to sendo inventadas no Brasil agora, do ano passado para c!
Uma outra coisa que me encantou uma incubadora l do Sul,
que trabalha com histrias de vida. Como eles trazem alunos de Con-
tabilidade, Administrao, Economia etc., com essa formao extre-
mamente tradicional, cheia de modelos, eles querem introduzir es-
ses estudantes na vida dessas pessoas. E eles criaram um mtodo,
atravs da histria oral, onde as pessoas contam sua vida aos estu-
dantes, que a registram. E eles aprendem, antes mesmo de ir cam-
po, quem so aquelas pessoas e qual a trajetria de vida delas e isso
faz com que a impossibilidade de usar os modelos aprendidos na
escola fique muito evidente, porque aquelas pessoas no so as pes-
soas ideais dos modelos ideais que eles aprenderam, do funciona-
mento que eles acham que acontece no mercado. Desta forma, eles
conseguem aprender de um outro modo. Portanto, a gente est in-
ventando muita coisa no Brasil. A gente est, a partir da demanda
169
que a economia solidria coloca, inventando o tempo todo uma srie
de coisas, e esse respeito inventividade me parece que essncia
do que Ktia diz.
Para finalizar, eu queria colocar para Ktia Aguiar uma preocu-
pao sobre como que a gente pode enfrentar, no com um modelo,
mas com uma vontade de fazer diferente, com algumas balizas, a
perspectiva de se construir no Brasil uma poltica nacional de for-
mao em economia solidria. No momento em que se organiza um
Encontro Nacional de Formao em Economia Solidria, seguindo
uma Oficina que se realizou em 2005, como que a gente no perde
essa coisa que muito tpica de quem trabalha em pequenos grupos,
como que a gente consegue manter esse respeito inventividade e
criatividade, em maior escala? Para vocs que tm um trabalho
muito respeitvel do ponto de vista do nmero de pessoas e de seis
edies de um mesmo curso, como que se consegue transformar
esse novo tipo de formao, essa interao diferente entre formador
e formando e essa capacidade de criar juntos, numa escala nacional?
No momento de se construir uma poltica pblica de formao em
170
economia solidria provavelmente com milhares de cursos sendo
feitos, simultaneamente, em todo o Brasil , como sair da pequena
escala, da liberdade completa de inveno que a gente ainda est
tendo nas incubadoras, nos cursos da CAPINA, etc., para se transfor-
mar numa poltica pblica? Sei que a fica um desafio mais compli-
cado, e eu gostaria de propor para o pblico e para a prpria Ktia,
esta discusso, e vou encerrando aqui, para que tenhamos tempo
para o debate. Muito obrigada.
Destacando algumas questes
Inai Maria Moreira de Carvalho
Sistematizando as discusses deste Seminrio pode-se dizer
que elas conduzem a poucas certezas, em meio a muitas interroga-
es. H um novo interesse em torno da economia solidria, que se
manifesta pelo nmero de rgos pblicos, organizaes no gover-
namentais e universidades envolvidos com a mesma (realizando pes-
quisas, implantando incubadoras, acompanhando projetos), pela im-
plementao de polticas pblicas orientadas para o seu desenvolvi-
mento e pela prpria criao da Secretaria Nacional de Economia
Solidria, no mbito do Ministrio do Trabalho e Emprego no Brasil.
Como se sabe, o carter desigual e excludente do desenvolvi-
mento brasileiro no lhe permitiu assegurar melhores condies de
ocupao e subsistncia para o conjunto da populao. Contudo, at
a dcada de 1970, o extraordinrio desenvolvimento do pas, com
taxas de crescimento de PIB sempre superiores ao crescimento da
PEA, ampliou as oportunidades de integrao e mobilidade social. A
elevao do nvel de escolaridade da populao e a diversificao da
estrutura ocupacional propiciaram um aumento das oportunidades
171
de trabalho e de emprego formal (com a proteo e benefcios a ele
associados), amortecendo os conflitos e a tenso social e viabilizan-
do a reproduo de uma sociedade bastante desigual.
Discutindo a concentrao de renda constatada pelo Censo de
1970, o ento professor Edmar Bacha escreveu uma fbula em que a
situao do Brasil era associada de um pas que ele denominou
como Belndia: um pas com uma populao e condies similares
s da Blgica, em meio a uma grande ndia. Na poca, havia a expec-
tativa de que o crescimento continuado da Blgica terminaria por
incorporar a ndia, mas a tendncia a uma maior integrao atravs
do mercado de trabalho se reverteu na dcada de 1980 (a chamada
dcada perdida), com o esgotamento do modelo de financiamento
e do padro de desenvolvimento at ento implementado. Com a
acentuao da crise econmica, a crise fiscal do Estado e uma inten-
sa acelerao do processo inflacionrio, os caminhos do pas termi-
naram por ser reorientados, com a implementao de um conjunto
de polticas convergentes, recomendadas pelas agncias multilate-
rais. Denominadas como ajuste estrutural, reformas estruturais
ou reformas orientadas para o mercado, elas agravaram o quadro
social do Brasil da dcada de noventa at o presente, perodo que
vem sendo marcado por a) baixos nveis de crescimento econmico;
b) deteriorao das condies de trabalho e renda da populao; c)
persistncia ou agravamento das desigualdades sociais e espaciais e
d) uma reorientao regressiva das polticas sociais.
Rompeu-se o que alguns estudiosos tm qualificado como a
promessa integradora do mercado formal de trabalho, segundo a
qual a economia em crescimento constante incluiria, com o tempo,
todos os trabalhadores em relaes de emprego reguladas pelo poder
pblico, garantindo tanto direitos trabalhistas como a representao
de interesses em negociaes coletivas. E, com o ajuste e a reestrutu-
rao produtiva, ocorreu uma expressiva destruio de postos de tra-
balho, ampliando o excedente de mo-de-obra, intensificando a se-
letividade patronal, a competio e as dificuldades de acesso ao re-
172
duzido nmero de vagas disponveis. Com a precarizao das rela-
es de trabalho, o crescimento do desemprego e a queda dos rendi-
mentos dos que permaneceram ocupadas, agravou-se a vulnerabili-
dade e a crise social.
Nessas circunstncias, conforme assinalado ao longo deste Se-
minrio, iniciativas econmicas dos setores populares, que antes eram
desprezadas como meras estratgias de sobrevivncia, associadas ao
atraso econmico e pobreza urbana, passaram a ser valorizadas
como alternativas frente ao desemprego, carncia de renda e cri-
se social. No por acaso que instituies como o Banco Mundial
comearam a ressaltar a importncia dos ativos (casas, ferramen-
tas, famlias, redes sociais...) e do empreendedorismo dos pobres para
enfrentar os efeitos perversos do ajuste e seus impactos polticos e
disruptivos.
Isto nos remete heterogeneidade e prpria variedade de
denominaes das referidas iniciativas (economia solidria, econo-
mia do trabalho, economia popular), que nem sempre tm um car-
ter efetivamente solidrio e progressista. Como bem foi assinalado,
nem todo o conjunto de atividades econmicas (de produo, distri-
buio, poupana ou crdito) que constituem o que pode ser deno-
minado como uma economia dos setores populares est fundamen-
tado em princpios e polticas de solidariedade, cooperao e justia
social, nem organizadas sob a forma de auto-gesto. significativo
que, durante os debates deste prprio Seminrio, o trabalho de Ga-
briel tenha analisado a economia solidria de uma maneira mais in-
dividualizada, a partir das caractersticas e formas de organizao
dos empreendimentos, enquanto o texto de Coraggio se prope a con-
sider-la de uma perspectiva mais ampla, como um setor da econo-
mia, um conjunto de micro-empreedimentos inseridos em um proje-
to de transformao, vinculados entre si por laos de solidariedade e
cooperao. Nessas circunstncias, pode-se considerar que tanto o
conceito como a prpria economia solidria encontram-se ainda em
construo.
173
Ao longo do Seminrio, foi igualmente ressaltado, por exem-
plo, que, mesmo sob a hegemonia do capitalismo, necessrio ir
construindo critrios diferenciados e antecipadores do novo, que at
agora no existe plenamente; que as concepes relativas econo-
mia solidria podem refletir mais uma posio utpica que a realida-
de, ou que seu carter transformador ainda no se faz presente. En-
tre outros fatores, pelas prprias condies e fragilidades dessas ati-
vidades e dos que se dedicam s mesmas.
A economia solidria subsiste nos interstcios da economia ca-
pitalista, estando submetida a todas as formas de intercmbio desi-
gual que existem no mercado e hegemonia da produo dominante
e enfrentando srios obstculos, tanto em termos econmicos quan-
to em termos de valores e relaes sociais. Como foi visto, os traba-
lhadores envolvidos nessas atividades geralmente possuem um bai-
xo nvel de escolaridade e um reduzido capital cultural, pouca expe-
rincia prvia nas atividades que se propuseram a desenvolver, e
menos ainda, nas prticas de associativismo. Na medida em que no
existem tecnologias mais apropriadas para essa realidade, nem sem-
pre as assessorias tm como apoiar esses trabalhadores no enfrenta-
mento de complexos desafios... esta uma questo da mais impor-
tantes, pois no se pode esquecer, por exemplo, como o desenvolvi-
mento do agro-negcio no Brasil foi ancorado em pesquisas e tecno-
logias desenvolvidas por alguns rgos pblicos, que viabilizaram,
entre outros aspectos, a explorao agrcola dos cerrados.
Uma vez que no existe um mercado solidrio ou uma rede
articulada desses produtores, tambm so notrias suas dificulda-
des de comercializao e financiamento. Como disputar mercados
muito competitivos e conformados por uma distribuio de renda e
padres de consumo que lhes so desfavorveis? Como ultrapassar
os pequenos mercados locais que esto ao seu alcance? Como supe-
rar as limitaes de financiamento e de gerao de excedente? E como
assegurar a construo de novos valores, a cooperao e a solidarie-
dade, em uma sociedade que estimula crescentemente o individua-
174
lismo e a competio?
preciso considerar que a economia popular no formada
por anjos. So pessoas comuns, premidas pelo desemprego, pela
pobreza e por toda a sorte de carncias. Seus empreendimentos, na
melhor das hipteses, mal lhes permitem escapar de uma condio
de pobreza. Nessas circunstncias, como reconstruir subjetividades
e valores, conformar uma nova tica e contribuir para a transforma-
o social?
Este, certamente, constitui o grande n, o maior dos desafios
para aqueles envolvidos com os princpios, os ideais e os empreen-
dimentos da economia solidria. Levando em conta os nveis atuais
de excluso e pobreza que prevalecem nos nossos pases (que o jogo
das foras do mercado no tende a reverter), no se pode minimizar
a importncia de iniciativas orientadas para reduzir, pelo menos, a
sua perverso. Mas, conforme ressaltado ao longo do Seminrio, isto
no suficiente. preciso ir alm. Ento, como articular micro pro-
175
jetos que possam ter uma sustentabilidade e efetividade a mais curto
prazo com projetos mais amplos, de longo prazo? Como responder
s carncias e urgncias dos setores populares, conjugando essas ini-
ciativas com um trabalho educativo e transformador? Como articu-
lar o presente, o emergencial e o cotidiano com a utopia?
So respostas que tm que ser buscadas e encontradas ao longo
do prprio caminho; que as reflexes efetuadas ao longo desses dias
possam encurtar e suavizar esse caminho o que todos esperamos.
Sobre os autores
Ada Bezerra
Sociloga, educadora e pesquisadora do SAP Servios de
Apoio Pesquisa em Educao.
Dbora Nunes
Professora titular da UNIFACS e da UNEB. Coordenadora de
Extenso Comunitria da UNIFACS e pesquisadora do EPADE
Escritrio Pblico de Apoio ao Desenvolvimento Local e Re-
gional.
Francisco Jos C. de Oliveira
Economista, chefe do Departamento Regional Nordeste do
BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e
Social.
Gabriel Kraychete
Professor titular da Universidade Catlica do Salvador. Coor-
176
denador do Programa Economia dos Setores Populares e pes-
quisador do Ncleo de Estudos do Trabalho UCSAL. Colabo-
rador da CAPINA.
Inai Maria Moreira de Carvalho
Professora do Mestrado em Polticas Sociais e Cidadania da
Universidade Catlica do Salvador. Pesquisadora do Centro de
Recursos Humanos da Universidade Federal da Bahia.
Jos Luis Coraggio
Professor titular no Instituto del Conurbano e Diretor Acad-
mico do Mestrado em Economia Social da Universidad Nacio-
nal de General Sarmiento, Argentina.
Katia Aguiar
Professora adjunta do Departamento de Psicologia da
Universidade Federal Fluminense. Integrante do NUTRAS
Ncleo de Estudos e Intervenes em Trabalho, Subjetividade
e Sade/UFF
Marcos Arruda
Economista e educador do PACS Instituto de Polticas Alternati-
vas para o Cone Sul, facilitador da UNIPAZ Universidade Inter-
nacional da Paz e scio do Instituto Transnacional (Amsterdam)
Ricardo Costa
Secretrio executivo da CAPINA
9 788589 732727
Vous aimerez peut-être aussi
- O.banquete PlataoDocument37 pagesO.banquete PlataoPaulo Victor Dorneles100% (1)
- Reescrita - Resenha - A Formação Do Professor de PortuguêsDocument2 pagesReescrita - Resenha - A Formação Do Professor de PortuguêsRodrigo GonçalvesPas encore d'évaluation
- Encontro Rosacruz de Pais e Filhos.Document48 pagesEncontro Rosacruz de Pais e Filhos.Haroldo BertrandPas encore d'évaluation
- Universidade Guarulhos Proj CarlosDocument11 pagesUniversidade Guarulhos Proj Carlossarah messiasPas encore d'évaluation
- Patologias Que Dão Direito Ao Bilhete Único Deficiente.Document39 pagesPatologias Que Dão Direito Ao Bilhete Único Deficiente.columbu50% (2)
- Histeria Nasio PDFDocument2 pagesHisteria Nasio PDFjamelli warpechowskiPas encore d'évaluation
- Esboço - Esperança para A FamíliaDocument3 pagesEsboço - Esperança para A FamíliaVarãodaNinaPas encore d'évaluation
- Revisitando o Enfoque Das Epistemologias Da Política Educacional - Tello e MainardesDocument26 pagesRevisitando o Enfoque Das Epistemologias Da Política Educacional - Tello e MainardesNiteri VieiraPas encore d'évaluation
- Gestão Do AbsenteísmoDocument1 pageGestão Do AbsenteísmoIsabella NPPas encore d'évaluation
- Emergências e Urgências PsiquiátricasDocument53 pagesEmergências e Urgências Psiquiátricasapi-3718658100% (5)
- Oração Elementais para ConsagraçãoDocument1 pageOração Elementais para ConsagraçãoKaren HennigPas encore d'évaluation
- SD LP D20 Diferentes Formas de Tratar Uma Informação Gêneros Textuais ProfessorDocument6 pagesSD LP D20 Diferentes Formas de Tratar Uma Informação Gêneros Textuais ProfessorCristiana ApolonioPas encore d'évaluation
- Alexander Voger Ebook Como Fazer Alguem ResponderDocument58 pagesAlexander Voger Ebook Como Fazer Alguem ResponderAllan Monteiro100% (1)
- Foucault e A Teoria Do Poder - Guilhon de AlbuquerqueDocument6 pagesFoucault e A Teoria Do Poder - Guilhon de AlbuquerqueBelaLunPas encore d'évaluation
- Relatório Modelo Perfil Da TurmaDocument2 pagesRelatório Modelo Perfil Da TurmaMaria Loiza IzidóroPas encore d'évaluation
- Prüfung Modulo 1Document4 pagesPrüfung Modulo 1Luiz Matheus BergaminPas encore d'évaluation
- Como Funciona Um Conselho de ClasseDocument6 pagesComo Funciona Um Conselho de ClassePéricles VilelaPas encore d'évaluation
- Maus Tratos Na InfanciaDocument65 pagesMaus Tratos Na InfanciaclaudiamarquesPas encore d'évaluation
- Conceito de Sociedade Teoricamente ObsoletoDocument9 pagesConceito de Sociedade Teoricamente ObsoletoSandro SantosPas encore d'évaluation
- Escola Superior Aberta Do Brasil DiscauculiaDocument67 pagesEscola Superior Aberta Do Brasil DiscauculiaCarla MartinsPas encore d'évaluation
- Previsivelmente IrracionalDocument3 pagesPrevisivelmente IrracionalRafael MagalhãesPas encore d'évaluation
- A Linguagem de Winnicott Jan AbranDocument236 pagesA Linguagem de Winnicott Jan AbranCamila Amorim100% (3)
- 01 - Introdução de Introdução A EnfermagemDocument15 pages01 - Introdução de Introdução A EnfermagemeliovaldomedeiroscarPas encore d'évaluation
- IV&A AMB Conceito e PraticaDocument13 pagesIV&A AMB Conceito e PraticaIlton VieiraPas encore d'évaluation
- 32 Tapas Na Cara - Vinicius TonioliDocument40 pages32 Tapas Na Cara - Vinicius TonioliSeja FitnessPas encore d'évaluation
- O Que Esperam de MimDocument3 pagesO Que Esperam de MimRoger AlvesPas encore d'évaluation
- Como Ensinar A Criança A Amarrar Seu CadarçoDocument2 pagesComo Ensinar A Criança A Amarrar Seu CadarçoSergio PaschoalPas encore d'évaluation
- Viva Paulo Freire! Olavo de CarvalhoDocument3 pagesViva Paulo Freire! Olavo de CarvalhosemmoraesPas encore d'évaluation
- Universidade Pungue Módulo de Necessidades Educativas EspeciaisDocument3 pagesUniversidade Pungue Módulo de Necessidades Educativas EspeciaisMiguel DomingosPas encore d'évaluation
- Prefere Poupar A Ganhar DinheiroDocument3 pagesPrefere Poupar A Ganhar DinheiroFelipe Antonio de SousaPas encore d'évaluation