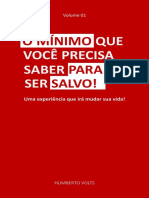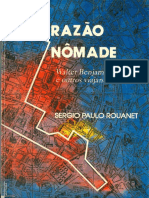Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Simone de Beauvoir - A Cerimônia Do Adeus PDF
Transféré par
gabilaymeTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Simone de Beauvoir - A Cerimônia Do Adeus PDF
Transféré par
gabilaymeDroits d'auteur :
Formats disponibles
Titulo original LA CRMONIE DS ADIEUX
SUIVI DE ENTRTINS A AVEC J EAN-PAUL SARTRE (Aot-septembre 1974)
(c) ditions Gailimard, 1981
Direitos adquiridos para a lngua portuguesa, no Brasil, pela EDITORA NOVA
FRONTEIRA S/A.
Rua Maria Anglica, 168 - Lagoa - CEP: 22.461 - Tel.: 286-7822 Endereo telegrfico:
NEOFRONT' Rio de J aneiro - RJ
Capa VICTOR BURTON
Reviso J ORGEURANGA NILDON FERREIRA
Aos que amaram Sartre, que o amam, que o amaro.
FICHA CATALOGRFICA dp _ Brasil. Catalogao-na-fonte Sindicato Nacional dos
Editores de Livros, RJ .
Beauvoir, Simone de. , " B3S2c A Cerimnia do adeus,
seguido de Entrevistas com J ean-Paul Sartre, agosto-setembro
1974 / Simone de Beauvoir; traduo de Rita Braga. - Kio de J aneiro: Nova Fronteira;
1982.
Traduo de: La Crmonie ds adieux, suivi de Entretiens avec J eanPaul Sartre, aot-
septembre 1974.
l. Sartre, J ean-Paul, 1905-1980 I. Ttulo
82-0385
CDD-921.4
CDU-92 Sartre
#SUMRIO
A cerimnia do adeus
Prefcio ....................................11
1970 .......................................13
1971 .......................................25
1972 .......................................38
1973 .......................................58
1974 .......................................91
1975 .......................................106
1976 .......................................126
1977 .......................................132
1978 .......................................146
1979 .......................................151
1980 .......................................157
Entrevistas com J ean- Paul Sartre
Prefcio ....................................171
#A cerimnia do adeus
#PREFCIO
Eis aqui meu primeiro livro - o nico certamente - que voc no leu antes que o
imprimissem. Embora todo dedicado a voc, ele j no lhe concerne.
Quando ramos jovens e, ao final de uma discusso apaixonada um de ns triunfava
ostensivamente, dizia ao outro: "Voc est enclausurado!" Voc est enclausurado;
no sair da e eu no me juntarei a voc: mesmo que me enterrem ao seu lado, de suas
cinas para meus restos no haver nenhuma passagem.
Este voc que emprego um engodo, um artifcio retrico. Ningum me ouve; no falo
com ningum. Na realidade, dirijo-me aos amigos de Sartre: queles que desejam
conhecer melhor seus ltimos anos. Relatei-os tal como os vivi. Falei um pouco de
mim, porque a testemunha
faz parte de seu testemunho, mas fiz isso o menos possvel.
Primeiro, porque no esse meu tema; e depois, conforme observava ao responder a
amigos que me perguntavam como aceitava as coisas: "Isso no pode ser dito, isso
no pode ser escrito, isso no pode ser pensado; isso se vive, e tudo."
Este relato baseia-se essencialmente no dirio que mantive durante esses dez anos. E
tambm em inmeros testemunhos que recolh. Obrigada a todos aqueles que, com
seus escritos ou de viva voz, ajudaram-me a descrever o fim de Sartre.
11
#1970
Durante toda a sua existncia, Sartre jamais cessou de questionar-se; sem desconhecer o
que denominava seus "interesses ideolgicos", no queria que o alienassem,
optando assim frequentemente por "pensar contra si", fazendo um difcil esforo para
"espremer os miolos".
Os acontecimentos de 1968, com os quais se envolveu e que o tocaram profundamente,
foram para ele motivo de uma nova reviso; ele se sentia contestado enquanto
intelectual e, atravs disso, foi levado, no decurso dos anos que se seuiram, a refletir
sobre o papel do intelectual e a modificar sua concepo a respeito.
Sobre isso ele explicou-se com frequncia. At ento,1 Sartre concebera o intelectual
como um "tcnico do saber prtico" que rompia a contradio entre a universalidade
do saber e o particularismo da classe dominante da qual era produto: encarnava assim a
conscincia infeliz, tal como Hegel a define; satisfazendo sua conscincia
atravs dessa prpria m conscincia, julgava que ela lhe permitia situar-se ao lado do
proletariado. Agora, Sartre julgava que era preciso ultrapassar esse estgio:
ao intelectual clssico contrapunha o novo intelectual, que nega em si o momento
intelectual, para tentar encontrar um novo estatuto popular; o novo intelectual
procura fundir-se com a massa, para fazer triunfar a verdadeira universalidade.
1. Especialmente nas conferncias que fez no J apo.
13
#Sem ainda hav-la traado claramente, Sartre tentou seguir essa linha de conduta. Em
outubro de 1968, assumira a direo do boletim Interiuttes que, ora mimeografado,
ora impresso, circulava entre os comits ativistas. Ele estivera muitas vezes com Alain
Geismar e interessara-se profundamente por uma ideia que este lhe expusera
no incio de 1969: editar um jornal no qual as massas falariam s massas, ou melhor, o
povo, ali onde suas lutas o haviam parcialmente reconstitudo, falaria s
massas, para engaj-las nesse processo. Aps iniciar-se, o projeto tomou outra direo.
Mas realizou-se quando Geismar aderiu Esquerda Proletria (G.P.)* e maostas
criaram com ele La Cause du Peuple. O jornal no tinha proprietrio. Era escrito, direta
ou indiretamente, por trabalhadores e sua venda se fazia atravs de militncia.
Visava a dar uma ideia das lutas realizadas na Frana plos operrios a partir de 1970.
Muitas vezes, mostrou-se hostil aos intelectuais e ao prprio Sartre, por
ocasio do processo de Roland Castro.2
Entretanto, por intermdio de Geismar, Sartre entrou em contato com vrios membros
da G. P. Quando, por haverem alguns artigos de La Caue du Peuple atacado
violentamente
o regime, seu primeiro diretor, L Dantec, e depois o segundo L Bris, foram presos,
Geismar e outros militantes propuseram a Sartre que os substitusse. Ele aceitou,
sem hesitar, porque achava que o peso de seu nome poderia ser til aos maostas.
"Cinicamente, coloquei minha notoriedade na balana", diria ele mais tarde, durante
uma conferncia realizada em Bruxelas. A partir
* Gache proltarienne. (N. do T.)
2. Roland Castro, militante de Vive Ia Rvolution (V.L.R.), junto com Clavel Leins,
Genet e alguns outros, ocupara o escritrio da C.N.P.F. (Confderation Nationale
du Patrona Franais) para protestar contra a morte de cinco trabalhadores imigrados,
asfixiados pelo gs de calefao. Eles foram seviciados plos C.R.S. (Compagnie
Republicaine de Scurit), presos, depois soltos, exceto Castro que, num sinal vermelho
descera do veiculo, tentando fugir. Capturado plos policiais, foi acusado
de violncia para com estes. Foi condenado, porque o juiz recusou-se a situar o processo
no nico terreno vlido, o terreno
poltico. Sartre deps a favor dele,
e seu depoimento foi malevolamente comentado por La Cause du Peuple.
14
da, os maostas foram levados a fazer uma reviso de seu julgamento e de sua ttica em
relao aos intelectuais.
Relatei em Tout compte fait* o processo de La Dantec e de L Bris, que transcorreu a
27 de maio, e no qual Sartre foi citado como testemunha. Nesse dia, o governo
anunciou a dissoluo da Esquerda Proletria. Pouco antes tinha havido um comcio na
Mutualit, onde Geismar conclamara o pblico a sair s ruas no dia 27 de maio,
para protestar contra o processo: falou apenas oito minutos e foi preso.
O primeiro nmero de La Cause du Peuple dirigido por Sartre saiu a 1 de maio de 1970.
O poder no o molestou, mas o Ministro do Interior mandou apreender todos
os nmeros: felizmente, o impressor pde fazer sair a maioria dos exemplares antes da
apreenso. O governo ento se voltou contra os vendedores, que foram julgados
por um tribunal de exceo, acusados da reconstituio da liga dissolvida. Contei
tambm como Sartre, eu mesma e inmeros amigos vendemos o jornal no centro de
Paris
sem grandes inquietaes. Um dia, as autoridades se cansaram desse combate intil e La
Cause du Peuple foi distribudo nas bancas. Foi criada uma Associao de Amigos
de La Cause du Peuple cujos diretores ramos eu e Michel Leiris. De incio, o
comprovante de registro da associao nos foi recusado; foi preciso um recurso perante
um tribunal administrativo para que nos fosse concedido.
Em junho de 1970, Sartre contribuiu para a fundao do Socorro Vermelho cujos
principais sustentculos foram ele e Tillon. O objetivo da organizao era lutar contra
a represso. Num texto, em grande parte redigido por Sartre, o comit de ao nacional
declarava entre outras coisas:
* Edio brasileira publicada em 1982 pela Editora Nova Fronteira com o ttulo Balano
Final. (N. do T.)
15
#O Socorro Vermelho ser uma associao democrtica, legalmente declarada,
independente; seu objetivo essencial ser o de assegurar a defesa poltica e jurdica
das vtimas da represso e de proporcionar-lhes apoio material e moral, bem como s
suas famlias, sem qualquer excluso...
...No possvel defender a justia e a liberdade sem organizar a solidariedade popular.
O Socorro Vermelho, surgido do povo, servi-lo- em seu combate.
A organizao englobava os principais grupos esquerdistas, o Testemunho Cristo e
diversas personalidades. Sua plataforma poltica era muito ampla. Desejava,
essencialmente,
opor-se onda de prises desencadeada por Marceilin aps a dissoluo da G. P. Um
nmero muito elevado de militantes estava preso. Era preciso reunir informaes
sobre esses casos e criar formas de ao. O Seguro Vermelho contava com vrios
milhares de membros. Foram constitudos comits de base em diversos bairros de Paris
e no interior. Entre os comits departamentais, o de Lyon era o mais ativo. Em Paris, a
organizao ocupou-se particularmente dos problemas dos imigrados. Embora,
em princpio, esses grupos fossem politicamente muito eclticos, foram os maostas que
dentro deles desenvolveram a maior atividade e, mais ou menos, se encarregaram
deles.
Ao mesmo tempo que cumpria zelosamente suas tarefas militantes, Sartre dedicava a
maior parte de seu tempo a seu trabalho literrio. Terminava o terceiro volume
de sua grande obra sobre Flaubert. Em 1954, Roger Garaudy lhe propusera: "Tentemos
explicar um mesmo personagem, eu de acordo com os mtodos marxistas, voc segundo
os existencialistas." Sartre escolhera Flaubert, a quem criticara em Qu'est-ce-que Ia
littrature?, mas que o seduzira quando lera sua correspondncia: o que o atraa
nele era a preeminncia atribuda ao imaginrio. Sartre tinha preenchido uma dezena de
cadernos e depois
16
redigido um estudo de mil pginas que abandonara em
1955. Retomou-o e reformulou-o inteiramente de 1968 a
1970. Intitulou-o L'idiot de Ia famille e escreveu-o ao correr da pena com muito
entusiasmo. "Tratava-se de mostrar um mtodo e de mostrar um homem."
Ele justificou vrias vezes suas intenes. Falando, em maio de 1971, com Contat e
Rybalka, especificou que no se tratava de uma obra cientfica, porque no utilizava
conceitos, mas noes, sendo a noo um pensamento que nela introduz o tempo: a
noo de passividade, por exemplo. Em relao a Flaubert, ele adotava uma atitude
de empatia. " esse meu objetivo: provar que todo homem perfeitamente conhecvel,
contanto que se utilize o mtodo apropriado e que se disponha dos documentos
necessrios." Dizia tambm: "Quando mostro como Flaubert no se conhece e como, ao
mesmo tempo, ele se compreende admiravelmente, indico o que denomino o vivido,
ou seja, a vida em compreenso consigo mesmo, sem que seja indicado um
conhecimento, uma conscincia ttica."
Seus amigos maostas de certa maneira condenavam esse trabalho: teriam preferido que
Sartre escrevesse algum tratado militante ou um grande romance popular. Mas
nesse terreno ele no pretendia ceder a nenhuma presso. Compreendia o ponto de vista
de seus companheiros, mas no o partilhava: "Se vejo o contedo," dizia a propsito
de L'idiot de Ia famille, "tenho a impresso de uma fuga, e se vejo, ao contrrio, o
mtodo, tenho o sentimento de ser atual."
Ele voltou ao problema na conferncia que fez mais tarde em Bruxelas. "Estou ligado h
dezessete anos a uma obra sobre Flaubert que no interessaria aos operrios
porque est escrita num estilo complicado e certamente burgus... Estou ligado a ela, o
que signica: tenho sessenta e sete anos, trabalho nela desde os cinquenta
anos e sonhava com ela anteriormente... Na medida em que escrevo Flaubert, sou um
enfant terrible da burguesia que deve ser recuperado."
17
#Sua ideia profunda era que em qualquer momento da histria, qualquer que fosse o
contexto social e poltico, continuava a ser essencial compreender os homens e
que, para isso, seu ensaio sobre Flaubert poderia ajudar.
Sartre estava satisfeito com seus diversos engajamentos, quando, aps uma agradvel
temporada em Roma, retomamos a Paris, em setembro de 1970. Ele morava num
pequeno
e austero apartamento, no dcimo andar de um prdio do Bulevar Raspail, em frente ao
cemitrio de Montparnasse e bem perto de minha casa. Gostava de l. Levava uma
vida bastante rotineira. Via regularmente velhas amgas: Wanda K., Michle Vian e sua
filha adotiva Arlette Elkam, em casa de quem dormia duas noites por semana.
As outras noites, passava-as em minha casa. Conversvamos, ouvamos msica: eu
constitura uma discoteca respeitvel, que eu enriquecia todos os meses. Sartre se
interessava muito pela escola de Viena - sobretudo Berg e Webern - e por compositores
atuais:
Stockhausen, Xenakis, Berio, Penderecki e muitos outros. Mas retomava com prazer aos
grandes clssicos. Gostava de Monteverdi, de Gesualdo, das peras de Mozart
- sobretudo Cosi fan tutte -, das de Verdi. Durante esses concertos em casa, comamos
um ovo duro ou uma fatia de presunto e bebamos um pouco de usque. Moro num
"ateli de artistas com loggia", segundo a definio dada pelas agncias de aluguel.
Passo meus dias numa pea ampla de p-direito alto; por uma escada interna
tem-se acesso a um quarto, ligado ao banheiro por uma espcie de sacada. Sartre dormia
em cima e descia pela manh para tomar ch comigo; s vezes, uma de suas amigas,
Liliane Siegel, vinha busc-lo e levava-o para tomar caf num pequeno bistr prximo
casa dele. Ele frequentemente via Bost, na minha casa, noite, com muita
frequncia tambm, Lanzmann, com o qual tinha muitas afinidades, apesar de alguns
desacordos quanto questo palestino-israelense. Apreciava particularmente as
noites de sbado que Sylvie passava conosco e os almoos de domingo que reunia a ns
trs no La Coupole. De
18
quando em quando, encontravamo-nos, tambm, com diversos amigos.
tarde, eu trabalhava na casa de Sartre. Aguardava a publicao de La Vieillesse e
pensava num ltimo volume de minhas memrias; ele revia e corrigia, em L'idiot
de lafamille, o retrao do doutor Flaubert. Era um outono magnfico, azul e dourado. O
ano3 anunciava-se muito bem.
Em setembro, Sartre participou de um grande comcio organizado pelo Socorro
Vermelho para denunciar o massacre dos palestinos pelo rei Hussein da J ordnia. Seis
mil pessoas estavam presentes. Sartre encontrou-se a com J ean Genet, a quem no via
h muito tempo. Genet estava ligado aos Panteras Negras, sobre os quais escrevera
um artigo no L Nouvel Observateur, e preparava-se para ir para a J ordnia, onde queria
passar algum tempo num campo palestino.
H muito tempo que a sade de Sartre no me preocupava. Embora fumasse dois maos
de Boyards por dia, sua arterite no piorara. Foi brutalmente que, no final de
setembro, fiquei tomada de medo.
Uma noite de sbado, jantamos com Sylvie no Dominique, e Sartre bebeu muita vodca.
De volta minha casa cochilou e depois dormiu de vez, deixando cair seu cigarro.
Ajudamo-lo a subir a seu quarto. No dia seguinte, pela manh, parecia em perfeito
estado e foi para sua casa. Mas, quando s duas horas, Sylvie e eu fomos busc-lo
para almoar, ele esbarrava em todos os mveis. Ao sair do La Coupole, embora tivesse
bebido muito pouco, cambaleava. Levamo-lo de txi casa de Wanda, na rua du
Dragon, e ele, ao descer do carro, quase caiu.
J lhe acontecera sentir vertigens: em 1968, em Roma, ao sair do automvel na praa
Santa Maria de Trastevere, vacilara tanto que Sylvie e eu tivemos de sustent-lo;
sem dar muita importncia ao fato, eu ficara surpresa, porque ele no havia bebido
nada! Mas nunca esses
3. Havamos conservado o hbito de contar por anos escolares.
19
#transtomos tinham sido to manifestos e adivinhei sua gravidade. Anotei em meu
dirio: "Este estdio, to alegre desde meu regresso, mudou de cor. O bonito tapete
escuro evoca um luto. assim que ser preciso viver, talvez ainda com felicidade e
momentos de alegria, mas com o peso da ameaa, a vida colocada entre parnteses."
Ao transcrever estas linhas surpreendo-me: de onde me veio esse negro pressentimento?
Penso que, apesar de minha aparente tranquilidade, havia mais de vinte anos
que vivia em estado de alerta. O primeiro aviso fora em
1954, no final de sua viagem U.R.S.S.: a crise de hipertenso que levara Sartre ao
hospital. No outono de 1958 fui tomada de angstia;4 por pouco Sartre escapara
de um ataque; a partir da, a ameaa permanecia: suas artrias, suas arterolas estavam
muito estreitas, haviam-me dito os mdicos. Cada manh, quando ia despert-lo,
precisava assegurar-me de que respirava. No sentia uma verdadeira preocupao; era
mais uma fantasia, mas que significava algo. As novas indisposies de Sartre
me obrigaram a tomar, dramaticamente, conscincia de uma fragilidade que, na
realidade, eu no ignorava.
No dia seguinte, Sartre mais ou menos recuperara seu equilbrio e foi ver seu mdico
habitual, o doutor Zaidmann. Este prescreveu exames e recomendou a Sartre que
no se fatigasse enquanto esperava a consulta com um especialista no domingo
seguinte. Este - o professor Lebeau - no quis opinar: o desequilbrio podia ser
proveniente
de uma perturbao do ouvido interno ou de uma perturbao no crebro. A seu pedido
foi feito um eletroencefalograma que no acusou qualquer anomalia.
Sartre estava cansado: um abscesso na boca, uma ameaa de gripe. Mas foi com grande
alegria que, a 8 de outubro, enviou Gailimard o enorme manuscrito do Flaubert.
Os maostas haviam organizado para ele uma viagem a Fos-sur-Mer e a outros centros
industriais, para que ali
4. Ver La force ds choses.
20
estudasse as condies de trabalho e de vida dos operrios. No dia 15 de outubro, seus
mdicos proibiram-lhe que a fizesse. Alm de Zaidmann, ele estivera com especialistas
que haviam examinado seus olhos, seus ouvidos, seu crnio, seu crebro: no menos de
onze consultas. Haviam detectado srias perturbaes circulatrias na regio
esquerda do crebro (a zona da linguagem) e um estreitamento dos vasos sanguneos.
Ele deveria fumar menos e submeter-se a uma srie de injees revitalizadoras.
Dentro de dois meses seria feito um novo encealograma. Certamente estaria ento
curado. Mas no devia estafar-se, sobretudo fisicamente. Na realidade, agora que
Flaubert estava terminado, no tinha razo alguma para fatigar-se. Lia manuscritos,
romances policiais e pensava vagamente numa pea. Durante esse ms de outubro,
escrevia tambm uma apresentao para a exposio de Rebeyrolle que este intitulara
Coexistences. Aprecivamos muito seus quadros. Ele fora passar dois dias conosco
em Roma e nos despertara a maior simpatia. Quando o conhecemos, tambm
simpatizamos muito com sua mulher, uma pequena armnia, vivaz e engraada. Revimo-
los muitas
vezes nos anos seguintes. Eram ligados a Franqui, o jornalista que nos convidara para ir
a Cuba em 1960 e que depois se exilara por opor-se poltica pr-sovitica
de Castro.
Apesar dos problemas de sade, Sartre continuava suas atividades polticas. Foi nessa
ocasio que ocorreu, em casa de Simon Blumenthal - o impressor de La Cause
du Peuple -, a operao que relatei em Tout compte fait. Atravs de Geismar, Sartre
conhecera Glucksmann:
concedera-lhe uma entrevista, na qual retomava a anlise feita para La Cause du Peuple
sobre as lutas operrias na Frana (entrevista que foi transmitida a 22 de
outubro pela Hersischer Rundfunk).
A 21 de outubro, ocorreu o processo de Geismar. No comcio do qual este participara
para protestar contra a priso de L Dantec e L B ris, houvera cinco mil assistentes
que gritavam: "Dia 27, todos na rua!" Muitos ora-
21
#dores haviam falado: somente Geismar fora preso, em virtude, evidentemente, de
pertencer G. P. Alm disso, a manifestao do dia 27 no fora sangrenta: os C.R.S.
haviam utilizado gs lacrimogneo, os manifestantes atirado algumas cavilhas; ningum
fora ferido. Ainda assim, esperava-se um veredicto severo. Sartre tinha sido
citado como testemunha. Mas, ao invs de representar perante a justia burguesa o papel
convencional que lhe fora consignado, preferiu ir falar aos operrios de
Bilancourt. A direo no lhe permitiu entrar na fbrica. Por outro lado, o Partido
Comunista distribura, s oito horas da manh, um panfleto que colocava os operrios
da Renault em guarda contra ele. Ele falou do lado de fora, trepado num tonel, atravs
de um megafone, perante um pblico bastante restrito: "So vocs que tm que
dizer se a ao de Geismar boa ou no", disse ele. "Quero dar meu testemunho na rua,
porque sou um intelectual e acho que a ligao do povo e dos intelectuais,
que existia no sculo dezenove - nem sempre, mas que deu resultados muito bons -,
deveria voltar a existir
atualmente. H cinquenta anos que o povo e os intelectuais
esto separados; preciso agora que sejam um s."
Os adversrios de Sartre dedicaram-se a ridicularizar sua interveno. O P. C. retrucou-
lhe que a ligao entre o povo e os intelectuais estava garantida, j que
grande nmero destes se inscrevia no partido. Entretanto, Geismar foi condenado a
dezoito meses de deteno.
Sartre participou da criao de um novo jornal, fAccuse, cujo nmero zero surgiu a 1
de novembro. Estava ligado equipe que o dirigia: Linhart, Glucksmann, Michle
Manceaux, Fromanger, Godard, entre outros. Este jornal no era redigido por militantes,
mas publicava grandes reportagens feitas por intelectuais. Sartre a escreveu
alguns artigos. Apenas dois nmeros se seguiram ao primeiro: um foi publicado a 15 de
janeiro de 1971, o outro, a 15 de maro. Liliane Siegel, usando seu nome de
solteira, Sendyk, era diretora de publicao. Continuou no cargo quando J 'Accuse
fundiu-se
22
com La Cause du Peuple. com Sartre, tomou-se co-diretora de La Cause du Peuple -
J 'Accuse. E como o governo no queria prender Sartre, foi ela quem ocupou por
duas vezes o banco dos rus, com Sartre testemunhando em sua defesa.
No entanto, sua sade continuava a preocupar-me. Quando passava momentos
desagradveis - e no eram poucas as tarefas pesadas que infligia a si prprio -, bebia
muito. noite e mesmo durante o cHa, frequentemente estava sonolento. O professor
Lebeau, que ele consultou a 5 de novembro, disse que essa sonolncia era decorrente
da medicao que lhe haviam receitado contra suas vertigens: diminuiu as doses dos
remdios. A 22 de novembro, fez-se um novo encefalograma em Sartre, inteiramente
satisfatrio, e pouco depois o professor Lebeau garantiu-lhe que estava completamente
curado, que no estava mais ameaado de vertigens do que qualquer outra pessoa.
Ele ficou feliz com isso, mas restava-lhe uma preocupao: seus dentes. Precisava
colocar uma dentadura, coisa que temia, por medo de j no poder falar em pblico
e por evidentes razes simblicas. Na verdade, o dentista realizou um excelente trabalho
e Sartre se tranquilizou.
Estava satisfeito por ver publicado o livro de Contat e Rybalka intitulado Ls crits de
J ean-Paul Sartre. Corrigia as provas de L'idiot de Ia famille. Estava muito
bem disposto quando presidiu, em dezembro, o processo das Hulheiras.
Relatei esse processo em Tout comptefait, mas, como Sartre lhe deu muita importncia,
quero voltar ao assunto aqui. Em fevereiro de 1970, dezesseis mineiros foram
mortos e muitos outros ficaram feridos por uma exploso de grisu em Hnin-Litard.
Sendo a responsabilidade das Hulheiras evidente, alguns rapazes, no identificados,
atiraram, por represlia, coquetis Molotov nos escritrios da direo, provocando um
incndio. A polcia prendeu, sem prova alguma, quatro maostas e dois ex-sentenciados.
Seu processo deveria realizar-se na segunda-feira, 14
23
#de dezembro, e o Socorro Vermelho convocou, no sbado
12, um tribunal popular em Lens.
Para preparar esta sesso, no dia 2 de dezembro Sartre, acompanhado de Liliane Siegel,
foi colher informaes entre os mineiros. Dirigiu-se a Bruay, onde se hospedou
em casa de um antigo mineiro, Andr, militante muito ligado aos maostas. Sua mulher,
Marie, preparara para o jantar um prato que Sartre detestava, coelho, que ele
engoliu polidamente e que lhe provocou uma crise de asma de duas horas. No dia
seguinte, esteve com J oseph, um militante idoso, tambm conhecido na regio, e outros
mineiros. Depois, no subrbio de Douai, falou com J uly, importante membro da ex-
G.P., que Sartre apreciava, embora seu triunfalismo o irritasse. Viu tambm Eugnie
Camphin, uma velha semicega, me e esposa de mineiros da Resistncia fuzilados plos
alemes.
O processo se realizou ento a 12 de dezembro, na prefeitura de Lens, e mostrou, com
uma evidncia fulminante, a responsabilidade das Hulheiras. Sartre resumiu
os debates num vigoroso requisitrio, que terminava assim: "Apresento-lhes, pois, as
seguintes concluses: o Estado-patro culpado do assassinato de 4 de fevereiro
de 1970. A direo e os engenheiros responsveis pela fossa
6 so seus executores. Conseqentemente, so igualmente culpados de homicdio
intencional. intencionalmente que escolhem o rendimento em lugar da segurana, isto
, que colocam a produo das coisas acima da vida dos homens." Na segunda-feira
seguinte realizou-se o processo dos dezesseis supostos incendirios e eles foram
absolvidos.
Pouco tempo antes, Sartre aceitara dirigir, alm de La Cause du Peuple, dois outros
jornais esquerdistas:
Tout, que era o rgo do V.L.R.* e La Parole au Peuple.
* Vive Ia Rvolution. (N. do T.)
24
1971
No incio de janeiro desenrolavam-se, na U.R.S.S. e na Espanha, dois processos que
tiveram muita repercusso: o de Leningrado e o de Burgos. A 16 de dezembro de
1970, onze cidados soviticos- um ucraniano, um russo, nove judeus - compareceram
perante o tribunal de Leningrado. Eles haviam projetado desviar um avio a fim
de deixar seu pas. Mas algo transpirou e, na noite de
15 para 16 de junho, antes de qualquer comeo de ao, foram presos em diferentes
cidades. Dois deles foram condenados morte: Kuznetsov, que organizara o compl,
e Dymschitz, um piloto comercial que deveria tomar os comandos do avio, depois que
a tripulao tivesse sido imobilizada e desembarcada. Sete acusados receberam
de dez a quatorze anos de trabalhos forados; dois outros, quatro e oito anos.5 A 14 de
janeiro de 1971, realizou-se, em Paris, um grande comcio em favor deles,
do qual Sartre participou; estavam presentes tambm Laurent Schwarz, Madaule, nosso
amigo israelense Eli Ben Gal. Todos denunciaram o anti-semitismo da U.R.S.S.
Ao processo de Burgos compareceram bascos pertencentes ao E. T. A. e acusados por
Franco de compl contra o Estado. Gisle Halimi esteve presente como observadora
e fez um resumo do processo num livro publicado pela Gaiimard. Ela pediu a Sartre um
prefcio, que prazerosamente ele aceitou escrever. Ele definiu o problema dos
bascos, relatou sua luta e, em particular, a histria do E. T. A. Indignava-se contra a
represso franquista de um modo geral e, em particular, contra a maneira
pela qual transcorrera o processo de Burgos. Nesta ocasio, ele desenvolveu, sobre um
exemplo preciso, uma ideia que o interessava sobremodo: a oposio de um universal
abs-
5. Dymschitz e Kuznetsov no foram executados, sem dvida graas presso exercida
pelo lyse. Em 1973, conseguiu chegar a Paris, e foi editado em francs, o manuscrito
de Kuznetsov, J oumal d'un condamn mort, que teve enorme repercusso. Em abril de
1979, Kuznetsov, Dymschitz e trs outros conjurados foram trocados por dois
espies soviticos presos nos Estados Unidos.
25
#trato - aquele ao qual se referem os governos - e do universal singular e concreto, tal
como se encarna nos povos constitudos por homens de carne e osso. E este
- afirmava ele - que as revoltas dos colonizados querem promover - a partir do exterior
ou do interior - e este que vlido, porque capta os homens em sua situao,
sua cultura, sua linguagem e no como conceitos vazios.
Contra o socialismo centralizador e abstrao, Sartre preconizava "um outro socialismo,
descentralizador e concreto: assim a universalidade singular dos bascos,
que o E. T. A. ope justamente ao centralismo abstrao dos opressores". Seria preciso,
dizia ele, criar "p homem socialista com base em sua terra, sua lngua e mesmo
seus costumes renovados. somente a partir da que o homem deixar, pouco a pouco,
de ser o produto de seu produto, para tomar-se finalmente o filho do homem".
Nessa mesma perspectiva Sartre dedicou, dois anos depois um nmero de Ls Temps
Moderns (agosto-setembro de 1973) s reivindicaes dos bretes, dos occitnicos,
de todas as minorias nacionais oprimidas pelo
centralismo.
Geismar estava detido na Sant. Embora gozando de um regime relativamente
privilegiado, solidarizou-se com os outros presos polticos que haviam encetado uma
greve
de fome, reivindicando para os presos comuns e para si prprio condies de
encarceramento mais suportveis. Alguns esquerdistas decidiram jejuar tambm, para
apoiar
suas reivindicaes. Foram alojados na capela Saint-Bernard - na Gare Montparnasse -
por um padre progressista. Michle Vian fazia parte dos grevistas, a quem Sartre
visitava com bastante frequncia. Acompanhou-os quando, ao cabo de vinte e um dias,
interromperam seu jejum e tentaram uma entrevista com Pleven. Muito enfraquecidos
para fazerem uma longa caminhada, foram de carro at a Praa de 1'Opra, de onde
atingiram a p a Praa Vendme. Postaram-se em frente ao Ministrio da J ustia,
mas Pleven recusou-se a receb-los. Depois, Pleven capitulou; concedeu um regime
26
especial aos detentos que haviam feito greve de fome e prometeu melhorar as condies
dos presos comuns: promessa esta que no foi cumprida.
A 13 de fevereiro, Sartre deixou-se convencer por seus amigos maostas a participar de
uma empresa bastante tola: a ocupao do Sacr-Coeur. Durante uma manifestao
do Socorro Vermelho, um militante do V. L. R., Richard Deshayes, ficara desfigurado
por uma granada de gs lacrimogneo. Para alertar a opinio pblica, a G. P.
decidiu ocupar a baslica; esperava o consentimento de monsenhor Charles. Sartre,
acompanhado de J ean-Claude Vernier, Gilbert Castro, Liliane Siegel, entrou na igreja
- onde se encontravam alguns fiis - e pediu para ver monsenhor Charles. O padre a
quem se dirigiu disse-lhe que transmitiria seu pedido. Passaram-se quinze minutos
sem que ele retomasse. E depois todas as portas se fecharam, excetouma, e os
manifestantes, cujo nmero se tomara significativo, sentiram que tinham cado numa
armadilha. Castro e Verner agarraram Sartre e Liliane e os esconderam num canto,
enquanto os C.R.S., penetrando pela sada que permanecera aberta, batiam
indistintamente
em todo mundo. Castro e Vernier conseguiram fazer com que Sartre e Liliane sassem,
fizeramnos tomar o carro desta e os instalaram num caf. Quando retomaram, um
pouco mais tarde, disseram que o embate tinha sido muito violento; um rapaz tivera a
coxa perfurada pelo ferro de uma grade. Sartre, que vi noite com Sylvie,
achava toda essa histria deplorvel: s podia desmoralizar militantes j duramente
agredidos, alguns dias antes, ao final de uma manifestao. A 15 de fevereiro,
comJ ean-Luc Godard, ele concedeu uma entrevista imprensa sobre esse caso, que os
jornais comentaram muito. A 18 de fevereiro, retirou-se do Socorro Vermelho, no
qual, em sua opinio os maostas tinham assumido um lugar excessivamente
importante.6
6. Retirou-se do Comit Dirigente, mas ainda participou de muitas aes organizadas
pelo Socorro Vermelho.
27
#Poucos dias depois estourou o caso Guiot: tratava-se de um estudante de liceu
falsamente acusado de haver agredido um policial e que havia sido preso como se em
flagrante delito. Os estudantes de liceu protestaram maciamente: eram milhares
sentados na calada do Quartier Latin, onde havia um sem-nmero de carros de polcia
estacionados. Por fim, Guiot foi posto em liberdade. Mas, nas ruas de Paris, a atmosfera
continuava pesada: por todos os lugares viam-se nas paredes fotos de Deshayes,
desfigurado. Em meados de maro houve um choque extremamente violento entre os
esquerdistas e a Ordem Nova: muitos policiais foram feridos.
Sartre acompanhava de perto toda essa agitao. Sua sade parecia muito boa.
Continuava a corrigir as provas de L'idiot de lafamille. Assistia a todas as reunies
de Ls Temp Moderns que se reaizavam em minha casa.
No incio de abril, fomos a Saint-Paul-de-Vence. Sartre, de trem, com Arlette, e eu, de
carro, com Sylvie. O hotel onde ficamos era na entrada da cidadezinha,
superlotada de turistas durante o dia, mas calma pela manh e noite, e bem igual,
ento, preciosa lembrana que havamos guardado dela. Arlette e Sartre ficaram
num anexo. Eu me instalei com Sylvie numa pequena casinha, ao fundo de um jardim
plantado de laranjeiras. Havia l um grande quarto, que dava para um terrao
minsculo,
e uma ampla sala de estar, de paredes caiadas e vigas aparentes e com bonitos quadros
de Calder em cores vivas. Estava mobiliada com uma comprida mesa de madeira,
um div, um bufe, e dava para o jardim. Era l que eu passava a maioria de minhas
noites com Sartre. Bebamos usque e conversvamos. J antvamos um pouco de
salsicho
ou uma barra de chocolate. No almoo, em compensao, eu o levava aos bons
restaurantes das redondezas. s vezes, a nos reunamos os quatro.
Na primeira noite espantaram-nos grandes iluminaes na colina em frente a Saint-Paul:
eram estufas que noite eram violentamente iluminadas com luz eltrica.
28
tarde, frequentemente lamos, cada um por seu lado. Ou fazamos passeios, revendo
os lugares que havamos amado: entre outras coisas, nos deu prazer tomar a ver
Cagnes e o hotel encantador onde, muitos anos antes, havamos passado uma temporada
deliciosa. Uma tarde, estivemos na fundao Maeght, que j conhecamos. Havia
uma exposio Char; os quadros, agrupados em torno de seus manuscritos e de seus
livros, eram muito bonitos: quadros de Klee, de Vieira da Silva, de Giacometti e
muitos de Miro, cujos trabalhos se tomavam cada vez mais ricos medida que ele ia
envelhecendo.
No ltimo dia, Sartre encomendou ao hotel um aoli que - no havendo sol - comemos
no chauffoir, uma pea ampla e agradvel com uma grande lareira e uma biblioteca.
Ele foi embora noite com Arlette. Sylvie e eu pegamos a estrada, no dia seguinte, pela
manh. Sartre ficara encantado com suas frias.
Ficou tambm feliz quando, de regresso a Paris, recebeu da Gailimard uma caixa
enorme cheia de exemplares de L'idiot de lafamille: duas mil pginas impressas. Disse-
me
que isso lhe proporcionara tanto prazer quanto a publicao de La nause. Houve,
imediatamente, crticas muito calorosas.
No incio de maio, Pouillon comunicou-nos a morte do amigo que em minhas Mmoires
chamei de Pagniez. Segundo ele, Pagniez, aposentado, se entediava tanto que se
deixara morrer: tivera uma hepatite que degenerara em cirrose. com ele, havendo a Sra.
Lemaire falecido alguns anos antes, era todo um momento feliz de nosso passado
que desaparecia. Mas havia muito que Pagniez se tomara um estranho para ns e
recebemos a notcia com indiferena.
Foi tambm no incio de maio que, com uma voz trmula de emoo, Goytisolo
telefonou a Sartre, para pedir-lhe que assinasse uma carta muito violenta, dirigida a
Fidel Castro, a propsito do caso Padilia. Esse caso incluiu vrios momentos: 1 a
priso de Padilia, poeta muito conhecido em Cuba, acusado de pederastia; 2 uma
29
#carta delicada de protesto assinada por Goytisolo, Franqui, Sartre, eu prpria e alguns
outros; 3 Padilia foi solto e redigiu uma autocrtica delirante, na qual
acusava Dumont e Karol de serem agentes da C. I. A. Tambm sua mulher fez sua
autocrtica, proclamando que a polcia a tratara "com ternura". Essas declaraes
provocaram
inmeros protestos. Nosso ex-intrprete cubano, Arcocha, que optara pelo exlio,
escreveu em L Monde que, para obter tais confisses, era preciso que tivessem
submetido
Padiia e sua mulher tortura. Por trs de toda essa histria atuava Lyssendro Otero, que
nos acompanhara em 1960, durante quase toda a nossa viagem: ele era no
momento o homem forte em relao a toda a Cultura. Goytisolo achava que uma
verdadeira gangue de policiais controlava Cuba. Soubemos que Castro, no momento,
considerava
Sartre como um inimigo: estava sujeito, dizia ele, nefasta influncia de Franqui. Num
discurso pronunciado nessa poca, Castro atacou a maioria dos intelectuais
franceses. Sartre no se abalou com isso, porque h muito tempo j no tinha iluses
sobre Cuba.
Aps o regresso alm de seus familiares e seus companheiros esquerdistas, Sartre e eu
estivemos com alguns amigos. Tito Gerassi, nos falava do underground americano.
Rossana Rossanda descrevia-nos as dificuldades e as possibilidades de seu jornal, o
Manifesto, que ia passar de semanrio a dirio. Robert Gaiimard explicava-nos
o que ocorria nos bastidores das editoras. Almoamos com o jornalista egpcio Ali, que
nos ciceroneara, em 1967, durante nossa viagem pelo Egito. No incio de maio
estivemos com nossa amiga japonesa Tomikp; contou-nos a longa viagem que acabava
de fazer pela sia.
A 12 de maio, Sartre participou de uma manifestao que se realizou diante da
prefeitura de Ivry: Behar Behala, um imigrado um tanto dbil, roubara um pote de
iogurte
numa caminhonete; policiais haviam atirado nele, deixando-o gravemente ferido. Aps
um trabalho de informao, o Socorro Vermelho organizara uma ao contra a polcia.
30
Sartre vivia muito em minha casa nessa poca, porque seu elevador estava quebrado;
quando era obrigado a subir seus dez andares, isso o cansava muito.
Na tera-feira 18 de mai, como todas as teras, Sartre chegou minha casa noite:
passara a noite de segunda na casa de Arlette. "Como vai?", perguntei-lhe de
maneira rotineira. "Pois l No muito bem." De fato, vacilava, balbuciava, tinha a boca
um pouco torta. Na vspera, eu no percebera que ele estava fatigado, porque
tnhamos ouvido discos e falado pouco. Mas, noite, ele chegara casa de Arlette em
mau estado; e acordara pela manh tal como o via: evidentemente, sofrera um
pequeno ataque durante a noite. H muito tempo que eu temia um acidente dessa
natureza e prometera a mim mesma que conservaria meu sangue-frio; evocava o
exemplo
de amigos que haviam passado por isso e sado indenes. Alis, Sartre ia ver seu mdico
no dia seguinte: isso me tranquilizava um pouco, mas no muito. Tive de fazer
um grande esforo para no mostrar meu pnico. Sartre fez questo de beber sua dose
habitual de usque, de modo que, meia-noite, j nada articulava e teve dificuldade
em arrastar-se at a cama. Durante toda a noite, lutei contra a angstia.
No dia seguinte, pela manh. Liliane Siegel acompanhou-o ao doutor Zaidmann. Ele me
telefonou, dizendo que tudo corria bem: estava com 18 de presso - o que nele
era normal - e comeariam imediatamente um tratamento srio. Um pouco depois,
Liliane, ao telefone, foi menos otimista. Segundo Zaidmann, a crise era mais grave
do que a de outubro, e preocupava-o que as perturbaes tivessem reaparecido to
depressa. Uma das causas era certamente o fato de que, desde maro, ele j no tomava
seus remdios; tambm tinha sido prejudicial ter de subir de quando em quando dez
andares. Mas o essencial consistia numa grande dificuldade de circulao sangunea
numa determinada zona do crebro, esquerda.
Estive em casa de Sartre tarde e no o achei nem melhor nem pior. Zaidmann o
proibira rigorosamente de
31
#caminhar. Felizmente seu elevador funcionava. noite Sylvie levou-nos de carro
minha casa e cou um pouco conosco. Sartre s bebeu suco de fruta. Ela estava
consternada
com seu aspecto. Suponho que - sem que talvez se desse conta - o ataque tivesse sido
um choque sofrido para ele; parecia muito abatido. A todo momento o cigarro
caa de seus lbios; Sylvie o apanhava, dava-o a ele, Sartre o pegava e o cigarro
escapava de seus dedos. Essa manobra repetiu-se no sei quantas vezes durante essa
noite fnebre. Como no era o caso de conversar, coloquei discos, entre outros o
Rquiem de Verdi, que Sartre aprecava enormemente e que ouvamos com frequncia.
"E apropriado ocasio", murmurou ele, o que nos deixou, a mim e a Sylvie, geladas.
Ela se foi pouco depois, e logo Sartre se deitou. Ao acordar, parecia-lhe que
mal podia mexer o brao direito, de tal forma o sentia dormente e pesado. Quando
Liliane veio busc-lo para tomarem o caf da manh, sussurrou-me: "Acho que est
pior do que ontem." To logo saram, telefonei ao professor Lebeau, no hospital. Ele
no podia vir, mas mandaria um outro especialista. Encontrei-me com Sartre
em sua casa e, s onze e meia, o doutor Mahoudeau chegou. Examinou Sartre durante
uma hora e me tranquilizou. A sensibilidade profunda no fora atingida, a cabea
estava intacta, o ligeiro balbucio era decorrente do repuxamento da boca. A mo direita
estava fraca: Sartre continuava a ter dificuldade para segurar um cigarro.
Tinha 14 de presso: era uma queda ruim, devida aos remdios que ingeria. Mahoudeau
passou uma nova receita e recomendou grandes precaues durante quarenta e oito
horas. Sartre devia repousar bastante e no ficar nunca sozinho. Assim fazendo, estaria
inteiramente restabelecido dentro de dez ou vinte dias.
Sartre submetera-se docilmente a todos os exames, mas recusou-se a ficar em repouso.
Sylvie - liberada do Liceu pela Ascenso - levou-nos ao La Coupole, onde almoamos
os trs. Sartre estava nitidamente melhor. No entanto, sua boca continuava torta. No dia
seguinte, co-
32
mo estivesse almoando no mesmo lugar com Arlette, Franois Prier o viu e, vindo
minha mesa, disse-me: " lastimvel isso que ele est tendo, essa boca epuxada;
isso muito grave." Felizmente eu sabia que desta vez no era muito grave. Os dias
seguintes correram bem e, na segunda-fira pela manh, Zaidmann comunicou que
logo iria suspender o tratamento; mas acrescentou, que, a seguir, o retomo vida normal
seria bastante demorado;
chegou mesmo a dizer a Arlette que talvez Sartre nunca ficasse totalmente curado.
No entanto, quando, na quarta-feira 26 de maio, passamos a noite com Bost, ele
recuperara totalmente o andar, a linguagem e retomara seu bom humor. Na presena
dele, comentei com Bost, a rir, que me veria obrigada, sem dvida, a brigar com ele
para que moderasse seu consumo de lcool, de ch, de caf, de excitantes. Sartre
subiu para deitar-se e, da sacada do meu estdio, cantarolou: "No quero afligir minha
Castor, nem de leve..." Isso me emocionou. E fiquei tambm emocionada, quando,
almoando comigo no La Coupole, ele me mostrou uma moa morena de olhos azuis, o
rosto meio redondo, e perguntou-me: "Sabe quem ela me lembra?" "No." "Voc,
quando
tinha a idade dela."
S uma coisa falhava: sua mo direita continuava fraca. Era-lhe difcil tocar piano - o
que fazia com prazer em casa de Arlette - e difcil, tambm, escrever. Mas,
no momento, isso no tinha importncia. Enquanto esperava poder voltar ao trabalho,
corrigia as provas de Situations VIII e IX e isso o mantinha bastante ocupado.
Em junho, criou com Maurice Clavel a Agncia de Imprensa Libration. Assinaram em
conjunto um texto, no qual definiam os objetivos dessa agncia, que contava poder
publicar diariamente um boletim de informao:
Desejamos, todos juntos, criar um novo instrumento para a defesa da verdade... No
basta conhecer a verdade, preciso ainda fazer com que ela seja ouvida. com
rigor, verificando tudo o
33
#que diz, a Agncia Libration difundir regularmente as noticias que receber... A
Agncia de Imprensa Libration quer ser uma nova tribuna que dar a palavra aos
jornalistas que querem dizer tudo, s pessoas que querem saber tudo. Dar a palavra ao
povo.
No final de junho, Sartre comeou a sentir dores atrozes na lnua. No conseguia comer,
nem falar sem sofrer. Eu lhe disse: "O ano est mesmo pssimo: o tempo todo
voc teve problemas." "Oh!, isso no tem importncia", respondeu ele. "uando se est
velho, isso j no tem importncia." "Como assim?" "Sabe-se que isso j no
vai
durar muito tempo." "Est querendo dizer, porque se vai morrer?" "Sim. normal que
se v decaindo pouco a pouco. Quando se jovem, diferente." O
tom com que
disse isso me perturbou: parecia j do outro lado da vida. Alis, todo mundo notava esse
desapego; ele parecia indiferente a mutas coisas, certamente porque estava
desinteressado por seu prprio destino. Muitas vezes mostrava-se, se no triste, pelo
menos ausente. Eu s o via realmente alegre durante nossas noites com Sylvie.
Em junho, comemoramos na casa dela o sexagsimo sexto aniversrio de Sartre e ele
estava radiante.
Voltou a consultar seu dentista e parou de sentir dores. Ao mesmo tempo, notavam-se
os progressos que zera desde maio. Zaidmann constatou que estava inteiramente
restabelecido. E muitas vezes Sartre me repetiu que estava muito satisfeito com seu ano.
Ainda assim, sentia-me angustiada por deix-lo. Ele ia passar trs semanas com Arlette,
duas com Wanda, enquanto eu viajaria com Sylvie. Gostava dessas viagens
mas a separao de Sartre era sempre um pequeno choue para mim. Desta vez, almocei
com ele no La Coupole, onde Sylvie iria buscar-me s quatro horas. Levanteime
trs minutos antes. Ele sorriu, de maneira indefinvel, e disse: "Agora, a cerimnia do
adeus!" Toqueilhe o ombro, sem responder. O sorriso, a frase me per-
34
seguiram durante muito tempo. Atribua palavra "adeus" o sentido supremo que ela
teve alguns anos depois: mas na poca eu era a nica a pronunci-la.
Fui para a Itlia com Sylvie. No dia seguinte, noite, dormimos em Bolonha. Pela
manh, tomamos a autoestrada que nos levaria costa leste; uma bruma tpida encobria
a paisagem; em toda a minha vida, jamais experimentei um tal sentimento de absurdo,
de desamparo: que fazia eu l? Por que estava ali? Logo recuperei meu amor pela
Itlia; mas todas as noites, antes de adormecer, chorava durante muito tempo.
Entrementes, Sartre passeava pela Sua; de quando em quando, um telegrama me
assegurava que estava bem. Mas, ao chegar a Roma, onde ele deveria reunir-se a mim,
encontrei uma carta de Arlette. Sartre tivera uma recada, dia 15 de julho; como da
primeira vez, constatara o fato ao despertar; a boca estava ainda mais retorcida
do que em maio, a articulao, embaralhada, o brao, insensvel ao frio e ao calor. Ela o
levara a um mdico em Berna, e Sartre a proibira veementemente de avisar-me.
Trs dias depois, a crise passara; mas ela telefonara a Zaidmann, que lhe dissera: "Para
ter espasmos dessa natureza, suas artrias devem estar muito cansadas."
Fui busc-lo na Estao Termini. Ele me fez sinal, antes que o tivesse visto. Vestia um
terno claro e tinha um bon na cabea. O rosto estava inchado por um abcesso
em um dos dentes, mas parecia gozar de boa sade. Instalamo-nos em nosso pequeno
apartamento, no sexto andar do hotel; inclua um terrao, de onde tnhamos uma vista
imensa sobre o uirinal, o teto do Panteon, So Pedro, o apitlio, cujas luzes vamos
apagar-se, todas as noites, meia-noite. Naquele ano, o terrao fora em parte
transformado num salo que uma janela envidraada separava da rea descoberta:
podamos ficar l o tempo todo. O abcesso de Sartre desaparecera e ele j no teve
nenhum incmodo. Sartre nunca se mostrava ausente, estava animado e risonho. Ficava
acordado at uma da
35
#manh e se levantava por volta das sete e meia: quando saa de meu quarto, por volta
das nove horas, encontrava-o sentado no terrao, apreciando a beleza de Roma
e lendo. Dormia duas horas durante a tarde, mas jamais cochilava. Em Npoles, com
Wanda, fizera longas caminhadas: entre outras, revisitara Pompia. Em Roma, j
no tnhamos vontade de passear: sem nos mexermos, estvamos em todos os lugares.
Por volta das duas horas, comamos um sanduche perto do hotel; noite, amos a p,
jantar na Praa Navona ou num restaurante prximo. s vezes, Sylvie nos levava
de carro ao Trastevere ou Via Appia Antica. Sartre, ajuizadamente, colocava seu bon,
quando atravessava uma zona ensolarada. Tomava pontualmente seus remdios,
bebia apenas um copo de vinho branco no almoo, cerveja no jantar e, depois, dois
usques no terrao. Nada de caf e ch, somente no desjejum (nos outros anos, ingeria
s cinco horas infuses extremamente fortes). Corrigia o terceiro volume de L'idiot de
Ia famille e distraa-se lendo gialli, os romances policiais italianos. De
quando em quando, estvamos com Rossana Rossanda e, uma tarde, recebemos a visita
de nosso amigo iugoslavo Dedijer.
Vendo Sartre, tal como estava durante essas frias romanas, ter-lhe-iam vaticinado vinte
anos de vida. Alis, era o que ele imaginava. Como me queixasse, um dia,
que voltvamos sempre aos mesmos gialli, ele me disse: " normal. H apenas uma
quantidade determinada deles. No h que esperar poder ler novos durante os prximos
vinte anos."
De regresso a Paris, Sartre continuou a passar muito bem. Tinha 17 de presso, bons
reflexos. Deitava-se em torno da meia-noite, levantava-se s oito e meia, j
no dormia durante o dia. Restava-lhe um qu de paralisia na boca que lhe dificultava a
mastigao e, s vezes, o fazia cecear.
36
No controlava inteiramente sua escrita. Mas isso no o preocupava. Estava novamente
muito atento s coisas e s pessoas. A calorosa acolhida que receberam os dois
primeiros volumes de L'idiot de Ia famille sensibilizou-o sobremaneira. Enviou o
terceiro Gailimard e dedicou-se ao quarto, no qual contava estudar Madame Bovary.
Lia e criticava cuidadosamente o manuscrito de meu prximo livro, Tout compte fait, e
dava-me muito bons conselhos. Anotei em meados de novembro: "Sartre vai to
bem, que estou quase instalada na tranquilidade."
No final de novembro, ele participou, com Foucault e Genet, de uma manifestao
realizada no bairro de Ia Goutte d'0r, para protestar contra o assassinato de Djelalli,
um jovem argelino de quinze anos. O porteiro de seu prdio o abatera, no dia 27 de
outubro, com um tiro de carabina; ele fazia muito barulho - explicava ele - e,
sem preocupao de contradizer-se, sustentava hav-lo tomado por um ladro.
Sartre precedeu, na Rua Poissonire, Foucault e Claude Mauriac que carregavam uma
faixa na qual se lia um apelo aos trabalhadores do bairro. Foi reconhecido plos
policiais e estes no intervieram. Tomou a palavra, falando por um megafone, e
anunciou a criao de um planto permanente de Comit Djelalli; ele se instalaria,
a partir do dia seguinte, na sala paroquial de Ia Goutte d'0r, enquanto se aguardava um
outro local. O cortejo prosseguiu at o Bulevar Ia Chapelle, tendo Foucault
tomado a palavra vrias vezes. Sartre desejava participar do planto, mas Genet, com
quem almoou dias depois, o desaconselhou: achava-o muito cansado.
No sei se Sartre sentia esse cansao, mas na noite de
1 de dezembro, disse-me, abruptamente: "Esgotei meu capital-sade. No passarei dos
setenta anos." Protestei. E ele: "Voc mesma me disse que de um terceiro ataque
difcil escapar." No me lembrava de ter dito isso. Era certamente um alerta contra
possveis excessos. "Os que voc teve foram muito leves", respondi. Ele continuou:
"Creio que no terminarei Flaubert." "Isso o aborrece?"
37
37
#"Sim, isso me aborrece." E falou-me de seu enterro. Desejava uma cerimnia muito
simples e desejava ser cremado. Sobretudo, no queria ser colocado no Pre Lachaise
entre sua me e seu padrasto. Desejava que grande nmero de maostas acompanhasse
seu caixo. No pensava nisso com frequncia - disse-me -, mas pensava.
Felizmente, sobre esse ponto seu humor era verstil. A 12 de janeiro de 1972, disse-me
com ar alegre: "Talvez vivamos por muito tempo ainda." E no final de fevereiro:
"Ohl Espero muito estar ainda aqui dentro de dez anos." De quando em quando, aludia,
rindo, sua "mini-invalidez', mas no se sentia de forma alguma em perigo.
2972
Como as promessas de Pleven, em relao modificao do regime carcerrio, no
tivessem sido cumpridas, Sartre decidiu dar uma entrevista coletiva no Ministrio
da J ustia. A 18 de janeiro de 1972, acompanhado de Michle Vian, encontrou-se, no
Hotel Continental, com membros do Socorro Vermelho e alguns de seus amigos:
Deleuze, Foucault, Claude Mauriac. Estavam presentes duas viaturas de radiodifuso, a
R.T. L. e Europa l. A delegao dirigiu-se Praa Vendme e penetrou no Ministrio
da J ustia. Foucault tomou a palavra e leu o relatrio enviado plos prisioneiros de
Melun. Gritavam:
"Pleven! demisso. Pleven ao mitard*. Pleven! assassino." Os C.R.S. dispersaram o
ajuntamento. Prenderam J aubert, um jornalista que, na tentativa de intervir contra
a agresso a um imigrado, fora selvagemente espancado e tivera de ser hospitalizado.
Sartre e Foucault interferiram para solt-lo. Dali, os manifestantes se deslocaram
7. Todos os jornalistas de Paris se haviam unido para protestar. Organizaram uma
grande manifestao em frente ao Ministrio do Interior.
* Gria: solitria, cela de presdio. (N.do T.)
38
para a Agncia de Imprensa Libration. Havia l uns trinta militantes que no tinham
estado na Praa Vendme e, entre estes, Alain Geismar que acabava de sair da
priso. Sartre sentou-se numa mesa, ao lado deJ ean-Pierre Faye. Contou com humor o
desenrolar dos fatos: "Os C.R.S. no foram particularmente brutos", disse ele.
"Tambm no foram particularmente delicados, iguais a eles mesmos." Quando
terminou de falar, a reunio se dissolveu e ele regressou sua casa.
Uma realizao qual se deu com prazer foi o filme que Contat e Astruc lhe dedicaram.
Cercado por seus colaboradores de Ls Temps Modernes, e respondendo s suas
perguntas, ele falava, ele se descrevia. Filmavam em geral na casa dele, s vezes na
minha. Talvez fosse um pouco montono v-lo todos os dias s voltas com os
mesmos interlocutores, mas foi graas sua familiaridade com eles que se exprimiu
com tanta naturalidade e segurana. Estava animado, risonho, na melhor forma.
No dera continuao a Mots por temor de entristecer a Sra. Mancy e porque outros
trabalhos o haviam absorvido: ali ele contou o novo casamento de sua me, sua ruptura
interna com ela, suas relaes com seu padrasto, sua vida em La Rochelle onde,
considerado parisiense e mais ou menos rejeitado por seus condiscpulos, fizera
o aprendizado da violncia e da solido. Aos onze anos, percebera bruscamente que j
no acreditava em Deus e, por volta dos quinze, a imortalidade terrena substitura,
para ele, a ideia de sobrevivncia eterna. Fora tomado, ento, pelo que denominava "a
neurose de escrever" e, sob a influncia de suas leituras, comeara a sonhar
com a glria, que nessa poca associava com fantasias de morte.
Descrevia, a seguir, sua amizade com Nizan, sua emulao, sua descoberta de Proust e
de Valry. Foi nessa poca, por volta dos dezoito anos, que ele comeou a transcrever
suas ideias, por ordem alfabtica, num livreto editado plos supositrios Midy e que
encontrara no
8. Exceto Lanzmann que se encontrava em Israel.
39
#metro. A principal era j a da liberdade. Ele narrava depois, resumidamente, os anos
passados na Escola Normal,* anos felizes, quando com seus companheiros executava
benignas violncias contra os talas. ** Chegara filosofia atravs de uma leitura'de
Bergson e, da em diante, ela permanecera essencial para ele: "A unidade do
que fao a filosofia."
Relembrou a seguir sua estada em Berlim, a influncia exercida sobre ele por Husseri;
seu trabalho de professor, a resistncia a assumir a idade adulta, a neurose,
engendrada ao mesmo tempo por essa resistncia e por sua experincia com a
mescalina, ligada a suas pesquisas sobre o imaginrio. Ele explicava, tambm, o que
haviam
representado para ele La nause e L mur.
A sequncia das entrevistas girou em torno de sua passagem pelo Stalag XII D, a
criao de Banna, seu regresso a Paris, Ls mouches. Depois, sobre a voga do
existencialismo,
os ataques de que fora alvo no fim dos anos 40, o sentido do engajamento literrio, suas
posies polticas: sua adeso ao R.D.R.***, sua ruptura com este, sua
deciso de aproximar-se dos comunistas em 1952, em decorrncia da onda de
anticomunismo que grassava na Frana e, especialmente, do caso Duelos e dos
pomboscorreios.
Fez aluso a De Gaulle, "personagem nefasto na Histria", e denunciou a abjeo da
sociedade atual.
Exps as preocupaes morais que sempre teve e disse o prazer que sentia ao encontrar,
sob uma outra forma, a mesma inquietao entre seus amigos maostas que ligavam
a moral poltica. Definiu longamente seu moralismo: "No fundo, o problema, para
mim, consistia em saber se escolhamos poltica ou moral, ou bem se a poltica
e a moral eram uma s coisa. E ento agora retomei a minha posio inicial, mas mais
enriquecido, colocando-me ao nvel da ao das massas. Existe neste momen-
* Escola Normal Superior. (N. do T.) ** Catlicos militantes. (N. do T.) ***
Rassemblement Dmocratique Rvolutionnaire. (N. do T.)
40
to, um pouco em todos os lugares, uma questo moral, questo moral que no seno a
questo poltica, e neste plano que estou inteiramente de acordo, por exemplo,
com os maostas... No fundo escrevi duas morais, uma entre 1945 e 1947,
completamente mistificada... e depois anotaes de 1965, mais ou menos, sobre uma
outra
Moral, com o problema do realismo e o problema
da moral."
Para encerrar, ele voltou ao tema ao qual atribua a maior importncia: a oposio entre
o intelectual clssico e o novo intelectual que atualmente ele escolhera
ser.
O filme ainda so estava terminado quando, a 24 de fevereiro, um advogado belga,
amigo seu, Lailement, 9 fez com que Sartre fosse convidado por jovens advogados
de Bruxelas para realizar uma conferncia sobre a represso. Partimos por volta de uma
hora da tarde, pela auto-estrada, com Sylvie dirigindo. Fazia um lindo sol
e paramos no caminho, para comer croissants de presunto que ela preparara. Chegamos
s cinco e meia e logo encontramos o hotel onde nos tinham reservado acomodaes.
Uma vez instalados, fomos tomar um aperitivo no bar, onde Lailement e Verstraeten10
vieram ter conosco. Verstraeten conservava seus bonitos olhos azuis, mas estava
de uma magreza que o fazia parecer-se a Conrad Veidt. J antamos com eles e outros
amigos no Cygne, na GrandPlace que mais uma vez admiramos. Passeamos um pouco
pelas
ruazinhas prximas e fomos para o Palcio do Congresso.
com um rpido olhar, pudemos ver que o pblico era inteiramente burgus: as mulheres,
muito empetecadas, visivelmente acabavam de sair do cabeleireiro. Sartre,
que desde 1968 no usava ternos clssicos e grava-
9. Lailement participara da luta pela F.L.N.: com amigos, ajudou alguns argelinos a
cruzar a fronteira. Organizara para Sartre, em Bruxelas, uma grande conferncia
sobre a guerra da Arglia.
10. Verstraeten era professor de filosofia sartriana. Escreveu um livro sobre Sartre e
dirigia com ele a coleo de filosofia, criada por Sartre e Merleau-Ponty,
e publicada pela Gailimard, com o nome de Biblioteca de Filosofia.
41
#ta, naquela noite vestia um pulver preto, que a assistncia olhou com censura. Na
verdade, ele no tinha nada a ver com aquelas pessoas e no compreendemos bem
por que Lailement o convidara.
Sartre leu, sem muito entusiasmo, seu texto sobre "J ustia de classe e justia popular".
Na Frana, dizia ele, "existem duas justias: uma, burocrtica, que serve
para prender o proletariado sua condio, a outra, selvagem, que o momento
profundo pelo qual o proletariado e a plebe afirmam sua liberdade contra a
proletarizao...
A fonte de toda justia o povo... Escolhi a justia popular como a mais profunda e a
nica verdadeira". Ele acrescentava: "Se um intelectual escolhe o povo, precisa
saber que o tempo das assinaturas de manifestos, dos tranquilos comcios de protesto ou
dos artigos publicados por jornais reformistas terminou. Ele no tem tanto
que falar, mas antes tentar, atravs dos meios sua disposio, dar a palavra ao povo."
A esse respeito, exps o que era La Cause du Peuple e seu papel pessoal
no
jornal.
Para mostrar a deformao das leis burguesas citou o caso de Geismar, o de Roland
Castro e o caso dos 'Amigos de La Cause du Peuplef Descreveu o regime carcerrio
que h dez anos no cessara de degredar-se e denunciou as presses considerveis a que
estavam submetidos os juizes.
Nada disso penetrou no pblico. Houve algumas perguntas pertinentes feitas por
esquerdistas e grande quantidade de perguntas idiotas, s quais Sartre respondeu com
desenvoltura. O nico episdio divertido dessa sesso foi ver Astruc arrastar-se pelo
cho com sua mquina para filmar Sartre falando: suas calas caam pelas pernas,
deixando mostra as ndegas. A primeira fila do pblico teve muita dificuldade em
manter a seriedade.
Na sada, uma senhora resmungou, olhando para Sartre: "No valeu a pena arrumar-se."
E uma outra:
"Quem fala em pblico faz um esforo, veste-se." Na casa de Erasmo, muito bonita,
muito bem mobiliada, onde os advogados haviam organizado um coquetel, o
42
tema foi retomado por uma ouvinte que atacou Sartre diretamente. Ela se alara da
classe operria para a burguesia, e o primeiro cuidado dos operrios que sobem
assim usar uma gravata.
No dia seguinte, Sartre regressou de trem com Arlette, que chegara pouco antes do
jantar; e eu, pela estrada, com Sylvie...
Em Paris, tomamos conhecimento do assassinato de Overney. Era o trgico desfecho de
uma longa histria. Em consequncia de dispensas arbitrrias - motivadas, na
realidade, por razes polticas -, dois empregados demitidos pela Renault - o tunisiano
Sadok, o portugus J os - haviam iniciado uma greve de fome, qual se associara
o francs Christian Riss. Haviam encontrado asilo numa igreja da Rua du Dome, em
Boulogne. A 14 de fevereiro, no fim da tarde, Sartre fora Renault, nas oficinas
da Ilha Seguin, para debater com os empregados. Acompanhado pela cantora Colette
Magny, por membros do Comit Gacem Alin e por alguns jornalistas penetrou l
clandestinamente,
atravs de um estafeta. Haviam distribudo panfletos, protestando contra a dispensa de
militantes maostas - em particular daqueles que faziam greve de fome. Tinham
sido brutalmente expulsos plos guardas. Sartre comentou o incidente numa entrevista
coletiva: "Fomos Renault para falar aos operrios. J que a Renault foi estatizada,
deveramos poder andar por l. No pudemos falar com os operrios. O que prova que a
Renault o fascismo. Os guardas se tomaram violentos, quando viram que j
no havia operrios para defender-nos. Vrias pessoas foram violentamente espancadas
e uma mulher jogada escada abaixo."
Diariamente, desde o final de janeiro, militantes maostas distribuam na porta mile-
Zola de Biliancourt panfletos do Comit de Luta Renault. A 25 de fevereiro,
convocaram uma manifestao, que deveria realizar-se
11. Comit criado em Boulogne, para denunciar todo ato racista ou repressivo contra
imigrados.
43
#noite em Charonne, contra as dispensas, a inatividade e o racismo. Entre eles
encontrava-se Pierre Overney, dispensado da Rgie* um ano antes, e, na poca, chofer-
entregador
numa lavanderia. Os oito guardas uniformizados que protegiam a porta estavam
nervosos. Era a hora em que os operrios comeavam a sair e a grade estava aberta.
Houve
uma discusso entre maostas e guardas, depois um tumulto. De uma guarita, um
homem em trajes civis observava a cena. Como os maostas avanassem alguns passos
para
o interior da fbrica, ele gritou: "Caiam fora ou atiro...". Overney, que estava a dois
metros dele, recuou. Tramoni atirou: a bala no saiu. Atirou uma segunda
vez, abatendo Overney. Depois, fugiu para dentro da fbrica.
Depois desse assassinato houve manifestaes, tumultos por parte dos operrios; da
parte da direo, novas dispensas. Sartre foi fazer um levantamento em frente
s fbricas Renault. "O senhor sente necessidade de fazer um levantamento
pessoalmente?", perguntou-lhe um jornalista. "No confia na justia oficial?" "No, de
maneira alguma." "E que acha da atitude do P.C.?" " absurda. Dizem: a prova de que
eles so cmplices que Se matam uns aos outros. Isso me parece um argumento
pouco vlido. E so antes os comunistas que esto com o governo contra os maostas."
A 28 de fevereiro, levados por Michle Manceaux, Sartre e eu participamos de uma
grande manifestao organizada para protestar contra o assassinato de Overney. Havia
uma quantidade enorme de gente. No ficamos muito tempo, porque Sartre caminhava
com dificuldade. Em virtude de uma reunio do Choisir,13 no pude acompanh-lo
ao enterro. Ele compareceu com Michle Vian. Por causa de suas pernas, no pde
acom-
* Rgie Renault: rgie designa correntemente algumas empresas nacionalizadas (N. do
T.)
12. com eles, o P.C. designava os esquerdistas e a burguesia.
13. Grupo feminista do qual era co-diretora e onde minha presena naquele dia era
indispensvel.
44
panh-lo at o fim, mas achou extraordinria aquela imensa aglomerao. Nunca, desde
maio de 1968, a nova esquerda revolucionria reunira tantas pessoas nas ruas
de Paris. Segundo os jornais, havia pelo menos 200.000 pessoas. Falavam todos de um
renascimento do esquerdismo e enfatizavam a importncia desse fato.
No entanto, Sartre no aprovava o sequestro de Nogrette, o homem incumbido das
dispensas da Rgie, sequestro levado a cabo pela Nova Resistncia Popular, alguns
dias depois do assassinato. Ele se perguntava, aborrecido, que declarao faria se
viessem solicitar-lhe uma. Os seqestradores tambm estavam embaraados. Libertaram
logo Nogrette, sem haver formulado nenhuma reivindicao.
A Nova Resistncia Popular (N.R.P.) era o rgo militante da Esquerda Proletria,
qual sobrevivera clandestinamente. Aps o sequestro de Nogrette, encontrava-se
numa encruzilhada: devia lanar-se decididamente no terrorismo ou dissolver-se.
Contrria ao terrorismo, optou pela segunda soluo. O que provocou, pouco depois,
o desaparecimento do Socorro Vermelho; esta organizao, na realidade, estava nas
mos dos maostas, que deixaram de interessar-se por ela quando decidiram dispersar-
se.14
Foi nessa poca que Sartre escreveu um prefcio para o livro de Michle Manceaux, Ls
Mos em France, em que ela reunira entrevistas de alguns de seus dirigentes.
Ele a explicava como os via e as razes de sua concordncia com eles. O
"espontanesmo dos maostas", precisava, "significa simplesmente que o pensamento
revolucionrio
nasce do povo e que s o povo o conduz, pela ao, a seu pleno desenvolvimento. O
povo ainda no existe na Frana: mas em todos os lugares onde as massas passam
praxis, elas j constituem o povo..." Insistia muito na dimenso moral da atitude
maosta: "A violncia revolucionria imediatamente moral, porque os tra-
14. Ela, no entanto, subsistiu ainda por algum tempo.
45
#balhadores se tomam os sujeitos de sua histria." Segundo os maostas, dizia Sartre, o
que as massas desejam a liberdade, e isso que transforma suas aes em
festas, por exemplo, os sequestros dos patres em suas fbricas. Os trabalhadores
tentam constituir uma sociedade moral, isto , "onde o homem desalienado possa
encontrar-se a si mesmo em suas verdadeiras relaes com o grupo".
A violncia, a espontaneidade, a moralidade - so esses os trs caracteres imediatos da
ao revolucionria maosta. Suas lutas so cada vez menos simblicas e pontuais,
cada vez mais realistas. "Os maostas, com sua praxis antiautoritria, surgem como a
nica fora revolucionria capaz de adaptar-se s novas formas da luta de classes
no perodo do capitalismo organizado."
No entanto, embora repudiasse o papel do intelectual clssico, Sartre no cessara de
assinar manifestos, quando solicitado. No incio de maro, lanou com Foucault,
Clavel, Claude Mauriac, Deleuze, um apelo em favor do Congo.
Era a primavera: uma primavera brutal e esplndida. De um dia para outro, o sol se
transformara num sol de vero; os botes explodiam, as rvores enverdeciam, e,
nas praas, as flores eclodiam e os pssaros cantavam; as ruas cheiravam a relva fresca.
De um modo geral, nossa vida seguia a mesma rotina agradvel do ano anterior; vamos
os mesmos amigos e, algumas vezes, pessoas ligadas a ns, mas menos intimamente.
Almoamos com Tito Gerassi, que regressava da Amrica. Ele descreveu-nos
longamente os conflitos que separavam os dois chefes dos Panteras Negras, Cleaver e
Huey.
Apesar de sua simpatia por Cleaver - mais inteligente, mais vivaz -, apreciava mais a
seriedade de Huey. Teria gostado que Sartre o apoiasse. Mas, sem informaes
suficientemente slidas, Sartre recusou-se a tomar partido.
Almoamos tambm com Todd que, aps uma longa busca, encontrara seu pai: parecia
que este era muito importante para ele. No o vamos desde que se separara
46
de sua mulher, a filha de Nizan, de quem gostvamos muito. Como ele estava sempre
procura de um pai, Sartre, cuja profunda bondade convertia-se frequentemente
em gentileza fcil, dedicara-lhe um livro: "A meu filho rebelde." Mas, na verdade, a
ideia de ter um filho jamais lhe aflorara. Ele disse a Contat, "Autoportrait
soixante-dix ans": "Nunca desejei ter um filho, nunca, e no procuro em minhas
relaes com homens mais jovens do que eu um substituto da relao paternal."15
Em seguida, fomos a Saint-Paul-de-Vence, com Sylvie e Arlette, e l levamos mais ou
menos a mesma vida do ano anterior. Lamos, passevamos, ouvimos a France-Musique
em nosso transistor. Estivemos novamente em Cagnes, na galeria Maeght. Sartre
parecia muito feliz.
Ao regressar, retomou imediatamente suas atividades militantes. Nessa ocasio, havia
na regio parisiense
165.000 habitaes desocupadas. Os moradores do bairro de Ia Goutte d'0r - em sua
grande maioria imigrados norte-africanos - se haviam instalado numa delas, no Bulevar
de Ia Chapelle. S permaneceram l durante dois dias. A polcia cercou o imvel. Os
sitiados se haviam refugiado no ltimo andar. Os policiais estenderam uma grande
escada e quebraram todos os vidros. Obrigaram todos os ocupantes a evacuar os locais.
Os homens foram conduzidos a lugar ignorado, as mulheres e as crianas reunidas
num centro de alojamento.
Para protestar, o Socorro Vermelho organizou uma entrevista coletiva dirigida por
Roland Castro. Estavam presentes Claude Mauriac, Faye, J aubert. Sartre participou
dessa reunio. Sintetizou o conjunto de aes levadas a efeito desde o caso Djelalli,
colocando em evidncia o sentido poltico de tais aes. Denunciou "o que
preciso denominar aqui o inimigo", isto , as foras da ordem contra as quais tais aes
tinham sido dirigidas. Em primeiro lugar, disse ele, essas moradias so
inabitveis,
15. Sartre considerava Todd menos ainda como um filho, por no ter nenhuma simpaia
por ele e mantinha com ele apenas relaes muito superficiais, ao contrrio do
que Todd tenta insinuar em seu livro.
47
#preciso realmente no ter teto alum para conformar-se com elas. Em segundo lugar,
expulsar os infelizes ocupantes demonstrao de um racismo caracterizado: a
famlia Djelalli, por exemplo, no obteve apartamento decente; e por isso que essas
pessoas, sem eira nem beira, se refugiaram nesse miservel pardieiro. Este
foi comprado por uma sociedade que, um dia destes, vai demoli-lo, para construir um
imvel para renda: isso constitui uma operao desumana contra a qual a populao
do bairro reagiu espontaneamente. Estamos, uma vez mais, no terreno da luta de classes:
no capitalismo que esbarramos. "Observem", acrescentou, "que quando a polcia
desaloja os ocupantes, destri moradias ainda utilizveis."
Sartre se interessava por coisas muito diversas, mas, em sua opinio, todas interligadas.
Escreveu, em abril, uma carta-prefcio para um trabalho redigido plos
membros da equipe dos pacientes de Heideiberg sobre a doena mental. Felicitava-os
por haverem posto em prtica "a nica radicalizao possvel da antipsiquiatria",
partindo da ideia de que "a doena a nica forma de vida possvel do capitalismo", j
que a alienao, no sentido marxista, encontra sua verdade na alienao mental
e na represso a que est sujeita.
Como de hbito, nossa distrao preferida era estar com amigos. Naquela primavera,
almoamos com os Cathala.Eles nos disseram que, na U.R.S.S., a situao dos
intelectuais estava pior do que nunca. Quatro anos antes, Cathala publicara no L
Monde um artigo sobre o ltimo romance de Tchakowsky (o diretor do hebdomadrio
mais importante de Moscou); ele prprio o traduzira e. a seguir, declarava que era um
livro no somente muito ruim, mas stalinista. Em Moscou, no lhe ofereceram
mais traduo alguma. Ele viveu, traduzindo para
16. Estivemos com eles todas as vezes que fomos a Moscou. "Ex-companheiro de Sartre
na Escola Normal, Cathala fora gauilista durante a guerra e se tomara omunista
em 1945. Ocupava-se da traduo de obras russas para o francs... Sua mulher era
russa... e trabalhava numa revista." (Tout compte fait.)
48
a Frana, uma obra de Alexis Toistoi. Foi recusado a Lcia, sua mulher, um visto para a
Frana, a no ser que ela rompesse com seu marido. Por isso, h quatro anos
no vinham a Paris. Finalmente, ela perdera seu emprego e encontrava-se agora sem
funo. Graas embaixada da Frana, obtivera um passaporte. Pensavam retomar
definitivamente a Paris dentro de um ano. Soijenitzyn continuava malvisto, agora mais
do que nunca, por causa de seu ltimo romance que seria publicado na Frana,
mas no na U.R.S.S.
Sartre sofria novamente com seus dentes. O dentista disse-lhe que, em outubro, seria
preciso colocar-lhe uma dentadura completa e que ele teria dificuldade de falar
em pblico. Isso o afetou profundamente. Se no podia mais falar nos comcios, nem
mesmo em reunies pouco numerosas, seria obrigado a retirar-se da vida pblica.
Qeixava-se tambm de estar perdendo a memria, o que era verdade em relao a
pequenas coisas. Mas no sentia medo da morte. Bost, cujo irmo mais velho, Pierre,
estava em vias de extinguir-se, perguntou-lhe se o sentia s vezes: "Sim, algumas vezes"
disse Sartre. "Nos sbados tarde, quando devo estar com Castor e Sylvie
noite, digo-me que seria estpido sofrer um acidente." Por acidente, queria significar
um ataque. No dia seguinte, perguntei-lhe: "Por que sbado?" Ele me respondeu
que aquilo s lhe acontecera duas vezes, e que ele no pensara na morte, mas no fato de
ser privado de sua noite.
Concedeu a Goytisolo uma entrevista para Libre, uma revista em lngua espanhola
editada em Paris. Nela analisava os problemas polticos que se colocavam em
1972 e retomava questo que considerava fundamental: o papel dos intelectuais. Em
maio, em La Cause du Peuple, explanou suas ideias sobre a justia popular.
La Cause du Peuple ia mal, deixou mesmo de ser publicado. Sartre participava todas as
manhs de reunies, nas quais os responsveis pelo jornal debatiam os meios
de salv-lo. Ele se levantava muito cedo e cansava-
49
#se muito. noite, ouvindo sica, dormia. Uma vez, tendo bebido um nico usque,
comeou a balbuciar. uando subiu para deitar-se, cambaleava. No dia seguinte,
levantou-se
por conta prpria s oito e meia e parecia inteiramente normal. Ainda assim, eu me
sentia ansiosa no avio que me levava a Grenoble, onde tinha que fazer uma conferncia
para Choisir; ao regressar a Paris no dia seguinte temia ms notcias. E, de fato: s onze
e meia da manh, Arlette me telefonou; ela tambm estivera ausente de
Paris na noite de quinta-feira e Sartre passara a noite sozinho na casa dela, para ver
televiso (ele no possua televisor). Chegando l, pouco antes da meia-noite,
Puig encontrara Sartre deitado no cho e embriagado. Levara uma meia hora para p-lo
de p. Acompanhara-o casa dele, caminhando. Sartre no morava longe, mas cara,
e tivera um sangramento nasal. Pela manh, telefonara a Arlette e parecia lcido. Fui
v-lo por volta das duas horas. Tinha uma equimose no nariz, os lbios um pouco
inchados, mas a cabea estava desanuviada. Por insistncia minha, prometeu ir ver
Zaidmann na segunda-feira. Almoamos no La Coupole, onde Michle foi ter com ele
para tomar o caf; regressando casa dele, telefonei a Zaidmann. Ele pediu que Sartre
no esperasse at segunda feira, mas que fosse imediatamente. Voltei ao restaurante.
Depois de ranzinzar um pouco, Sartre foi com Michle consultar o mdico. Voltou por
volta das seis horas. Os reflexos estavam bons, nada parecia errado, exceto
a presso: 21. Mas isso era consequncia de sua libao notuma. Zaidmann prescreveu
os mesmos remdios de antes e marcou uma consulta para a quarta-feira seguinte.
A noite de sbado com Sylvie foi encantadora. Sartre s comeou a cair de sono meia-
noite, dormiu de um sono s at as nove e meia e acordou bem disposto. J unho
terminou muito bem. La Cause du Peuple ressurgiu, e o primeiro novo nmero foi um
xito.
No incio de julho, Sartre partiu com Arlette para uma rpida viagem pela ustria.
Estive com Sylvie na
50
Blgica, na Holanda, na Sua. Sartre me telegrafava, falvamos por telefone, sua sade
parecia excelente. A 12 de outubro, em Roma, fui busc-lo na estao, mas
desencontrei-me dele. Voltando ao hotel, vi-o chegar de txi pouco depois; estava
ceceando, mas disse-me logo: "Dentro de um momento isso passar." Aproveitara sua
solido para beber duas meias garrafas de vinho no vago-restaurante. Recomps-se
imediatamente, mas eu me perguntava por que razo, sempre que podia, ele abusava
assim do lcool. " agradvel", dizia-me ele. Mas essa resposta no me satisfazia.
Supus que, se fugia de si mesmo assim, era porque no estava contente com seu
trabalho. No quarto volume de L'idiot de Ia famille ele se propunha a estudar Madame
Bovary e, sempre preocupado em renovar-se, queria utilizar mtodos estruturalistas.
Mas no gostava do estruturalismo. Explicou-se a esse respeito: "Os linguistas querem
tratar a linguagem em exterioridade e os estruturalistas, sados da lingustica,
traduzem tambm uma totalidade em exterioridade; para eles, trata-se de utilizar os
conceitos o mais longe possvel. Mas eu no posso utilizar-me disso, porque me
coloco num plano no cientfico, mas filosfico, e por isso que no tenho necessidade
de exteriorizar o que total." Portanto, o projeto que concebera, em certa
medida desagradava-lhe. Talvez percebesse tambm que os trs primeiros volumes de
L'idiot de Ia famille continham, implicitamente, a explicao de Madame Bovary
e que, tentando, no momento, remontar da obra a seu criador, corria o risco de repetirse.
Ele refletia, fazia anotaes, mas no tinha uma ideia de conjunto do que
ia fazer. E trabalhava pouco, no sentia entusiasmo. Em 1975, disse a Michel Conta:
"Este quarto volume era, ao mesmo tempo, o mais difcil para mim e o que menos
me interessava."
Nem por isso deixamos de passar, primeiro com Sylvie, depois sozinhos, frias
excelentes. Em junho, Sartre ficava, s vezes um pouco distrado, um pouco ausente:
em Roma, de modo algum. Ocupvamos sempre aquele apartamento-terrao que nos
encantava, E, como de h-
51
#bito, conversvamos, lamos, ouvamos msica. No sei por que motivo, naquele ano
comeamos a jogar damas e isso logo nos fascinou.
Ao regressar, no final de setembro, Sartre mostravase admiravelmente bem. Sentiu-se
satisfeito por encontrar-se na minha casa. "Estou contente por estar aqui", disse-me.
"O resto me indiferente. Mas agrada-me estar aqui." Ali passamos noites felizes e eu,
mais ou menos, voltara a sentir-me despreocupada.
No por muito tempo. Em meados de outubro, novamente tomei conscincia da
irreversibilidade da degradao da velhice. Tinha observado que, em Roma, quando,
aps
o almoo, amos ao Giolitti para degustar sorvetes maravilhosos, Sartre corria ao
banheiro. Uma tarde, voltando ao hotel com Sylvie, pelo Panteo, caminhando muito
rpido nossa frente, ele, de repente, parou e nos disse: "Uns gatos mijaram em mim.
Aproximei-me da balaustrada e me senti mido." Sylvie pensou que ele estivesse
gracejando. Quanto a mim, percebi o que ocorrera, mas no disse nada. Em Paris, na
minha casa, no incio de outubro, quando Sartre se levantou de onde estava sentado,
para ir ao banheiro, havia uma mancha em sua poltrona. No dia seguinte, eu disse a
Sylvie que havia derramado ch. "Dir-se-ia que uma criana se distraiu", observou
ela. No dia seguinte, noite, nas mesmas circunstncias, havia novamente uma mancha
na poltrona. Ento falei sobre isso com Sartre: "Voc est com incontinncia
urinria. Tem que falar com o mdico." Para grande surpresa minha, ele me respondeu
com toda a naturalidade: "J falei com ele. H muito tempo que isso acontece:
so essas clulas que perdi." Sartre fora sempre extremamente puritano; jamais aludia a
suas necessidades fisiolgicas e procedia sempre com a maior discrio.
Por isso, perguntei-lhe, no dia seguinte pela manh, se essa falta de controle no o
constrangia. Ele me respondeu, sorrindo: " preciso ser modesto, quando se
velho." Fiquei emocionada com sua simplicidade, com essa modstia to nova nele; e,
ao mesmo tempo, sen-
52
tia-me triste por sua falta de agressividade, por sua resignao.
Na verdade, sua maior preocupao naquele momento eram seus dentes.
Frequentemente, tinha abscessos que o faziam sofrer. S ingeria alimentos muito
pastosos. E no
podia evitar que lhe colocassem uma dentadura. Na vspera do dia em que o dentista
iria terminar de arrancar-lhe os dentes do maxilar superior, ele me disse:
"Passei um dia triste. Sentia-me deprimido. Fazia esse tempo horrvel. E, alm disso,
meus dentes..." Nessa noite, no coloquei discos, temia que ele ficasse ruminando.
Examinamos minha correspondncia e jogamos damas. Na manh do dia seguinte,
todos os seus dentes superiores haviam desaparecido. Ele veio para minha casa e sentia
vergonha de andar na rua. Na verdade, de boca fechada, estava muito menos
desfigurado do que quando tinha um abscesso. Servi-lhe, de almoo, pur, guisado,
compota
de ma. No dia seguinte, tarde, o dentista colocou a dentadura. Disse-lhe que, durante
uma semana, ela certamente o incomodaria um pouco, mas que estaria livre
de todas aquelas infeces que o atormentavam antes. Sartre estava aliviado por se estar
realizando a operao e visivelmente menos deprimido do que na vspera.
Dois dias depois, por volta das cinco e meia da tarde, chegou a sua casa todo alegre.
Seus novos dentes absolutamente no o incomodavam; nenhuma dificuldade de
elocuo,
mastigava melhor do que antes. noite, quando chegou a minha casa por volta da meia-
noite, perguntei-lhe como passara uma noite que previra ser desagradvel: "Foi
maante," disse-me ele, "mas eu s pensava em meus dentes e estava to contentei"
Imediatamente ele se mostrou mais vivo, mais alegre do que nunca. A 26 de novembro,
assistimos a uma projeo do filme sobre ele; e mostrava-se tambm na vida tal
como aparecia na tela: em alguns momentos, parecia-me transbordar de juventude. (O
que houve de extraordinrio em Sartre, e de desconcertante para seu en-
53
#tourage, foi que, do fundo dos abismos onde parecia enterrado para sempre, ressurgia
bem disposto, intato. Eu chorara por ele durante todo o vero e ele voltara
a ser totalmente ele mesmo, como se jamais tivesse sido tocado pela "asa da
imbecilidade". Suas ressurreies, ao sair dos limbos, justificam que, a seguir, eu possa
dizer entre uma pgina e outra: "Ele estava muito mal. Ele estava muito bem." Havia
nele um cabedal de sade fsica e moral que resistiu, at suas ltimas horas,
a todos os golpes.)
Ele continuava a ocupar-se de La Cause du Peuple. Em outubro, escreveu um texto com
seus amigos do jornal: "Nous accusons l President de Ia Republique", que foi
divulgado em cartazes e reproduzido no suplemento do nmero 29 do jornal. Em
dezembro, assinou com cento e trinta e cinco outros intelectuais um apelo, "L nouveau
racisme", que foi publicado em La Cause du Peuple e reproduzido em L Nouvel
Obervateur: Foi tambm La Cause du Peuple que imprimiu, a 22 de dezembro, sua
entrevista
com Aranda. Aranda, assessor tcnico do Ministro do Equipamento, publicara em L
Cnra Enchain documentos que comprovavam a corrupo e as presses exercidas por
determinadas personalidades do regime. Ele entregou seus dossis J ustia e foi o
nico inculpado. Sua personalidade intrigava Sartre, que desejava ter uma entrevista
com ele. Tendo Aranda aceito, Sartre tentou convenc-lo de que, ao denunciar os erros
da administrao, ele atacava o Estado e que, para evitar as malversaes,
era preciso estabelecer "um governo sustentado e controlado por um povo capaz de
recusar tal ato injusto". Embora magoado, porque Pompidou queria abafar o caso,
Aranda no desejava colocar o Estado em causa e invocava as fraquezas da natureza
humana. Sartre sustentava que, querendo ou no querendo, Aranda era, a seu modo,
"um agente da democracia direta".
Em novembro, ele se lanou num empreendimento que o seduzia muito: uma srie de
entrevistas feitas com amigos esquerdistas, Pierre Victor e Philippe Gavi. A
54
precisaria seu itinerrio poltico; eles tentariam definir o pensamento esquerdista tal
como este se desenvolvera depois de 1968. O conjunto seria publicado com
o ttulo:
On a raison de se rvolter.
Seus dois interlocutores lhe haviam sido apresentados por Geismar, dois anos antes.
Pierre Victor - cujo nome verdadeiro era Benni Lvi - era um jovem judeu egpcio,
que estudara filosoa e frequentara a Escola Normal. Fora um dos principais
responsveis pelo movimento marxista-leninista, e depois, com Geismar, dirigira a G.
P. at sua dissoluo. J tivera inmeras conversas com Sartre, que muito o apreciava;
Sartre se sentia seduzido por sua juventude e por sua militncia. Ele esclareceu
isso em
1977, num dilogo com Victor, que Libration publicou:
"'. X..
Sartre: Almocei um dia com voc na primavera de 1970.
Victor: ... Quem voc achava que ia encontrar?
Sartre: Um personagem estranho que me parecia um pouco como Milorde, o
Malandro... Tinha bastante curiosidade em v-lo, naquela manh, pelo que me haviam
dito...
Um personagem misterioso.
Victor: Voc est me vendo...
Sartre: Vejo voc, e o que me agradou de imediato que voc me pareceu muito mais
inteligente do que a maioria dos polticos com que eu estivera at ento, especialmente
os comunistas, e muito mais livre. Digo mesmo: voc no se recusava a tratar de
assuntos menos polticos. Voc tinha, em suma, o tipo de conversa, fora do tema
principal,
que osto de ter com as mulheres: sobre a conjuntura, coisa que raramente temos com os
homens.
Victor: Voc no me considerou inteiramente um chefe, nem inteiramente um duro.
Sartre: De qualquer forma, voc era um duro, mas um duro com qualidades femininas.
Sob esse aspecto, eu achava voc simptico.
55
#Victor: Quando foi que voc se interessou por uma discusso terica fundamental entre
ns?
Sartre: Isso foi paulatino... Tive contatos com voc que se transformaram pouco a pouco
...Entre ns realmente havia liberdade: a liberdade de colocar sua posio
em risco.
Gavi era um jovem jornalista que escrevera artigos muito interessantes em Ls Temps
Modernes. Pertencia ao V. L. R. - movimento menos dogmtico, mais anarquista do
que o maosmo - cujo jornal, Tout, Sartre dirigira durante um tempo. Sartre tambm
simpatizava bastante com ele. E estava feliz por concretizar, num livro, suas
ligaes com os maostas, graas aos quais renovava seu pensamento poltico. com ar
feliz, disse-nos uma noite, a mim e a Bost, que sua amizade com eles o rejuvenescia.
S lamentava ser um pouco velho demais para que ela fosse inteiramente frutfera.
Disse isso, durante uma de suas primeiras entrevistas, em dezembro de 1972:
"1968 chegou um pouco tarde para mim. Fora melhor se tivesse acontecido quando eu
tinha cinquenta anos ...Para esgotar as exigncias que se podem ter com um intelectual
conhecido preciso que ele tenha quarenta e cinco... cinquenta anos. Por exemplo, no
posso ir at o final das manifestaes, porque tenho uma perna que me falha.
Por exemplo, no enterro de Overney, s pude fazer um pequeno trecho do percurso...
"Disse e repetirei as razes objetivas pelas quais estou com vocs. Uma das razes
subjetivas que os maostas me rejuvenescem por suas exigncias... S que, a
partir dos setenta anos, se persistimos em misturar-nos com pessoas que agem, somos
transportados aos lugares de carro com uma cadeira de abrir e fechar, somos
um incmodo para todo mundo e a idade nos transforma em ornamento. Digo isto sem
melancolia: preenchi bem minha vida, estou satisfeito ...
"E estou satisfeito com suas vinculaes comigo. E bvio que s existo para vocs na
medida em que lhes sou
56
til. Aprovo isso inteiramente. Mas quando se trata de realizar ao em comum, existe
amizade, isto , uma relao que ultrapassa a ao empresa, uma relao de
reciprocidade ...Eis o sentido profundo de minha relao com vocs. Creio que, se me
questionam, e me contesto para estar com vocs, ajudo na medida de minhas
possibilidades a criar uma sociedade onde ainda haver filsofos, homens de um tipo
novo, braais-intelectuais, mas que se faro a pergunta: Que o homem?"
O nico inconveniente desses encontros que, para prolong-los at as duas horas da
tarde, Victor e Gavi comiam sanduches, bebendo vinho tinto; Sartre, que almoava
mais tarde, tambm bebia, sem nada comer. Sem dvida, era por isso que,
frequentemente, se sentia fatigado e sonolento noite. Em janeiro, Liliane Siegel - que
era amiga deles - pediu a Victor e Gavi que tivessem cuidado, sem que ele o percebesse,
para que Sartre bebesse menos. Foi o que fizeram e, em janeiro, Sartre parou
de dormitar.
Estava interessado num projeto que apaixonava Victor e Gavi, e que o atraa ao
mximo: o lanamento de um jornal que deveria intitular-se Libration. A 6 de
dezembro,
na nova sede da Agncia de Imprensa Libration, Rua Bretagne 14, houve uma
reunio preparatria, da qual Sartre participou. Gavi exps o programa do jornal que
devia aparecer em fevereiro. Sartre falou sobre o papel que nele pretendia representar:
"Quando me pedirem artigos, eu farei." Tambm criticou a manchete do ltimo nmero
de La Canse du Peuple: "A guilhotina, mas para Touvier."17 Realmente era
inadmissvel
que Touvier tivesse sido libertado. Mas ele fora condenado a priso, no morte, e no
havia razo alguma para se exigir que fosse guilhotinado.
l7. Touvier era um ex-miliciano, autor, ou cmplice de assassinatos de membros da
Resistncia e de judeus. Condenado morte em 1945 e 1947, depois, por rubos duas
vezes a cinco anos de priso e dez anos de banimento em 1949, acabava de ser
indultado por Pompidou. Para os crimes de guerra havia prescrio, mas no para os
crimes
comuns. No se podia pois, exigir sua morte, mas apenas a priso e o banimento.
57
#1973
A 4 de janeiro, houve uma nova reunio preparatria. E, a 7 de fevereiro de 1973, Sartre
aceitou conceder uma entrevista a J acques Chancel, na srie Radioscopie,
para apresentar Libration. Chancel tentou faz-lo falar sobre sua vida, sobre sua obra,
como conviria s diretrizes do programa, Sartre se esquivava e retomava
ao nico assunto que o interessava: Libration. Pouco depois, sempre para apresentar o
jornal, compareceu a um comcio em Lyon, de onde voltou bastante satisfeito.
Acompanhei-o a um outro comcio em Lille. A reunio se realizou numa grande sala
dando para a grand-place. Havia muita gente sobretudo jovens. Sartre e dois outros
oradores expuseram o que se propunha ser Libration. O pblico participou
entusiasticamente da discusso e apontou diversos escndalos, pedindo ao Libration
que
os denunciasse.
No incio de fevereiro, inaugurou-se Libration, nas instalaes do jornal, perto da Porta
de Pantin. Sartre enviara oitenta convites, e fora preparado um grande
bufe, mas - jamais entendemos o porqu - quase ningum compareceu. S estavam
presentes os colaboradores do jornal. Por volta das sete horas, apareceram Cuny, Blain
e Moulodji.
Sartre tinha muitas outras atividades. Em janeiro de
1973, a propsito das prises, enviou uma mensagem, publicada em L Monde, sobre
"este regime que nos mantm a todos num universo concentracional". Deu uma
entrevista
revista bruxelense Pr J ustitia, na qual falou do caso Aranda, do caso de Bruay-en-
Artois, das posies de Michel Foucault e da justia na China. Escreveu um prefcio
para o livro de Olivier Todd,18 Ls paumes, que era a reedio de Une demi-campagne,
publicado em
1957 porjuiliard. Descrevia a seu plano de fundo histrico: a situao no Marrocos em
1955-1956.
18. Assim era sua gentileza: jamais recusava um favor, mesmo se sentia pouca simpatia
por quem lho pedia.
58
Concedeu a M. A. Burnier uma entrevista que foi publicada em Actuei em fevereiro de
73: "Sartre parle ds mos." Analisava sua ao poltica a partir de maio de
1968, em particular sua ligao com La Cause du Peuple "Acredito na ilegalidade",
dizia ele. Continuava a ocupar-se assiduamente de Ls Temps Moderns. A publicou
um artigo em janeiro: "lections, pige cons"; nele rejeitava o sistema da democracia
indireta que deliberadamente nos reduz importncia: este sistema atomiza
e serializa os eleitores. Todos os artigos desse nmero seguiam a mesma linha e
atestavam a unidade poltica da equipe: teve muito sucesso junto aos leitores e Sartre
ficou muito satisfeito com isso. Retomou sua anlise da poltica francesa numa
entrevista dada em fevereiro a Der Spiegel.
Nesse mesmo ms, junto com jornalistas de Libera tion, foi fazer uma enquete sobre os
grandes conjuntos de Villeneuve-la-Garenne. No considerou essa expedio
muito frutfera. Ela ocasionou uma discusso, publicada em junho no Libration, onde
jovens se manifestaram, mas onde Sartre, que estava presente, no tomou a palavra.
No final de fevereiro teve uma bronquite, da qual se curou logo, mas que o deixou
bastante cansado. Domingo, quatro de maro, era o primeiro turno das eleies
legislativas.
Libration lhe pedira um texto sobre a questo e, noite, Michle Vian e eu o
acompanhamos ao jornal. Havia muita gente na redao e acompanhavamse os
resultados
em meio a uma grande zoeira: barulho do rdio, discusses. Sartre redigiu num canto de
mesa um bom texto para o nmero zero. Estava orgulhoso por haver escrito
to rpida e eficazmente, apesar da confuso. Quanto a mim, estava preocupada. A noite
fora muito pesada para ele. No dia seguinte, almoou no La Coupole com Michle,
que sempre o fazia beber muito, e retornou com ela a Libration para uma entrevista.
Havia ngarrafamento: trs quartos de hora num txi para ir, outro tanto para
voltar. Quando o vi rapidamente, noi-
59
#te, por volta das sete horas, ele me disse que fora muito penoso. Foi casa de Arlette,
por volta das oito horas, para ver um filme na televiso; ela me disse
depois que ele, ao chegar, no parecia bem disposto. Telefonou-me no dia seguinte
perto do meio-dia: "Sartre no est muito bem." Na vspera, em
tomo das dez horas,
sofrera um ataque, seu rosto se crispara, o cigarro cara-lhe dos dedos, e, sentado em
frente televiso, ele perguntava:
"Onde est a TV?" Parecia um velho de oitenta anos, senil. Por trs vezes, tivera o brao
paralisado. Zaidmann, alertado, mandara que se comeasse imediatamente
com injees de pervincamine. A primeira injeo j fora aplicada. Ele recuperara o
movimento do brao, e seu rosto j no estava crispado, mas a cabea no estava
muito bem. Telefonei ao Professor Lebeau, no La Salptrire, e ele me disse que veria
Sartre dois dias depois.
Essa noite, Bost vinha ver-nos. Sartre chegou antes dele. Falei-lhe de seu ataque; no se
lembrava de quase nada. Discutimos com Bost sobre as eleies. Sartre
insistiu em beber dois usques, e, por volta de onze horas, sentiu-se mal. Mandei-o
dormir. Bost foi embora perto de meia-noite, e eu me estendi, toda vestida, em
meu div.
Sartre apareceu por volta de nove horas na sacada de meu estdio. Perguntei-lhe:
"Como est?". Ele tocou na boca: "Melhor. Meu dente j no est doendo." "Mas voc
no estava com dor de dentes"... "Sim, voc sabe que sim. Durante toda a noite com
Aron." Enfiou-se no banheiro. Quando desceu para tomar um suco de frutas, eu
lhe disse: "No foi Aron quem esteve aqui ontem noite: foi Bost." "Ah! sim. o que
queria dizer." "Voc se lembra. Passamos um bom comeo de noite. E, aps ter
bebido um usque, voc se sentiu fatigado." "No foi por causa do usque: foi porque eu
tinha esquecido de retirar meus protetores de ouvidos."
Eu estava em pnico. Liliane veio busc-lo para lev-lo a tomar um caf e, perto das dez
horas, telefonoume: a coisa ia muito mal. Sartre lhe dissera: "Passei uma
60
noite agradvel comGeorges Michel.19 Estou contente por estar reconciliado com ele;
era uma bobagem estarmos brigados. Eles foram muito amveis: deixaram que me
deitasse s onze horas." (Sartre no estava absolutamente brigado com Georges Michel.)
Continuava a divagar.
Telefonei ao Professor Lebeau, pedindo-lhe que visse Sartre naquele mesmo dia. Ele
respondeu que, afinal, aquilo no era caso para ele, que ia conseguir-me uma consulta
com um neurologista, o doutor B. E a consulta foi marcada para as seis horas da tarde.
s cinco e meia fui com Sylvie buscar Sartre em casa de Arlette. Ele tinha uma
aparncia normal. Levei-o, de txi, ao doutor B., a quem expus os fatos. Ele examinou
Sartre, deu-lhe uma receita e o endereo de uma doutora que deveria procurar
imediatamente para fazer um eletroencefalograma. Sylvie, que nos esperara num caf,
acompanhou-nos. Deixamos Sartre no hall de um grande prdio moderno e nos
sentamos num caf sinistro, de luzes vermelhas, onde uma ave assobiava e gritava
ininterruptamente:
"Bom-dia, Napoleo!" Ao fim de uma hora, subimos ao consultrio da doutora e
aguardamos num salo confortvel e silencioso. Sartre veio ter conosco por volta das
oito horas. O eletroencefalograma no assinalava nenhuma anomalia sria. Regressamos
a minha casa de txi, depois de deixar Sylvie na dela. Sartre dizia que a doutora
tinha sido muito gentil; levara-o a uma sacada para mostrar-lhe a vista e lhe oferecera
um usque: isso, evidentemente, no era exato. O doutor B. prescrevera remdios,
recomendara a Sartre que ingerisse muito pouco lcool e proibira-lhe o fumo. Mas
Sartre decidira no dar ouvidos. Passou-se a noite a jogar damas Deitamo-nos cedo.
No dia seguinte, Sartre parecia bem. Mas, por volta das onze horas, Liliane telefonou,
para dizer-me que, tomando o caf da manh com ela, Sartre comeava a di-
19. Escritor auor dramtico cujas peas Sartre muito apreciava. Era um grande amigo de
Liliane.
61
#vagar. No a reconhecia; tomava-a ora por Arlette, ora por mim. Ela lhe dissera que
era Liliane Siegel. "Liliane Siegel, eu a conheo," respondera. "Mora num prdio
vizinho e professora de ioga." Perguntou tambm:
"uem ento a jovem que veio ontem comigo e com Castor?" "Certamente era Sylvie."
"No, no era Sylvie:
era voc."
Almocei com ele. Falou-me do copo de usque que a doutora lhe oferecera. Respondi
que se tratava, certamente, de uma lembrana ilusria. Ele o admitiu. Passei a
tarde em sua casa. Ele lia. Eu tambm.
No dia seguinte pela manh tinha consulta s oito e meia com o doutor B. no La
Saiptrire. Quando cheguei porta de Sartre, s oito horas, Arlette, que deveria
ir conosco, estava chamando sem obter resposta. Abri a porta com minha chave: Sartre
dormia a sono solto. Vestiu-se rapidamente e um txi nos levou ao hospital,
onde um enfermeiro se encarregou de Sartre. Enquanto procurvamos um txi, Arlette e
eu, ela sugeriu que Sartre passasse uns dias com ela em J unas, para restabelecer-se
inteiramente; propus que ele se encontrasse comigo, depois, em Avignon. Mas ele
aceitaria? Ela observou que muitas vezes ele dizia um no que significava um sim
e que no se zangava se forvamos a mo. Ao meio-dia, estive com o doutor B. no La
Saiptrire. Explicou-me que Sartre tivera uma anoxia, isto , uma asfixia do
crebro, devida em parte ao fumo, mas sobretudo ao estado das artrias e das arterolas.
Aprovou o projeto de uma temporada no campo, com o qual Sartre concordou
sem resistncia. B. pediu-lhe que escrevesse seu nome e seu endereo, o que Sartre fez
sem dificuldades. Ento, B. disse com segurana: "Cur-lo-emos."
Revi Sartre tarde e, noite, ele foi para a casa de Wanda, onde o flho de Liliane Siegel
foi busc-lo para traz-lo a minha casa. Ela me disse, depois, que Sartre
tomara a divagar: falara-lhe longamente de uma negra sentada nos seus joelhos...
62
No dia seguinte, sbado, nossa noite com Sylvie no foi agradvel: Sartre teimava em
beber e fumar e ns nos sentamos arrasadas. Recriminamo-lo durante o almoo
do dia seguinte, coisa que o embaraou. Seu elevador estava novamente com defeito,
mas ele insistiu em subir os dez andares para trabalhar em sua casa. O que ele
chamava trabalhar, naquele momento, consistia em preparar um artigo que lhe haviam
solicitado sobre a resistncia grega; lia e relia um livro excelente, Ls kapetanios,
mas creio que no conseguia reter nada. noite, em minha casa, jogamos damas. Ele
estava nitidamente melhor, mas suas lembranas ainda estavam confusas.
Segunda-feira noite, aps ter lido ainda, durante todo o dia, Ls kapetanios, partiu para
J unas. Arlette me telefonou no dia seguinte. O tempo estava bom, Sartre
estava satisfeito por encontrar-se no Midi, lia romances policiais. Mas ainda tinha
difculdades. Perguntara: "Por que exatamente estou aqui? Ah! por causa de meu
cansao. E tambm estamos aguardando Hercule Poirot." Ela achava que os romances
policiais o incitavam a fabular e levava-o a passear o mais frequentemente possvel.
Na sexta-feira, disse-me que ele estava de timo humor, que se divertia escalando
rochedos nas pedreiras da garrigue. * Mas, quando seu secretrio Puig foi passar
dois dias com eles, aps sua partida, Sartre perguntou a Arlette com precauo: "Dedijer
esteve aqui?" (Dedijer no se parecia nada com Puig, mas tambm era ntimo
de Arlette.) No sbado ela me confirmou que ele estava bem; coisa curiosa, quinta e
sexta, antes de ir dormir, ele se esquecera de pedir seu usque habitual. Soube,
depois, que tambm o esquecera no sbado. uando lembrei isso a Sartre, ele me disse
em tom irritado: " porque estava caducando."
No domingo pela manh, no trem que me levava a Avignon, sentia-me angustiada: no
sabia que Sartre ia encontrar. uando revi, depois de Valence, as rvores em
Terreno rido e calcrio da regio mediterrnea; lande. (N. do T.)
63
#flor, os ciprestes, pareceu-me que o mundo oscilava para sempre: oscilava na morte.
Sartre desceu de um txi, diante do hotel de 1'Europe onde eu o esperava: mal barbeado,
os cabelos muito compridos, pareceu-me muito envelhecido. Levei-o at seu
quarto, dei-lhe livros (uma vida de Raymond Roussel, e a correspondncia dejoyce).
Falei um pouco com ele e deixei-o repousar.
Samos ao cair da noite e caminhamos para a Praa de 1'Horloge, muito prxima.
"Temos que virar esquerda" - disse-me ele, o que estava certo. Acrescentou,
mostrando-me
um hotel: "Esta manh esperei-a em frente a este hotel, enquanto voc entrava numa
loja." Respondi que ainda no tnhamos passeado por Avignon. "Ento era Arlette."
Mas Arlette no sara do txi. Sartre no conseguia situar essa lembrana enganosa, mas
apegavase a ela. Tivemos um jantar excelente, regado a Chteauneuf-du-Pape.
Em seu quarto, servi-lhe um usque com muito gelo e jogamos damas um pouco: mas
ele tinha dificuldade de fixar a ateno.
Na manh seguinte estava muito bem disposto, quando tomamos o caf da manh em
seu quarto. Um txi nos levou a Villeneuve-ls-Avignon. Alguns anos antes, eu passara
trs semanas no hotel onde almoamos e a dona me reconheceu. Ela disse a Sartre que
seu filho de sete anos teria ficado muito feliz em v-lo, porque na escola ensinavam-lhe
poemas seus: isso nos surpreendeu. Quando nos levantamos para ir embora ela estendeu
a Sartre o livro de ouro: "Por favor, sua assinatura Senhor Prvert." "Mas eu
no sou Sr. Prvert," disse Sartre, deixando-a perplexa. Revisitamos o Forte Saint-
Andr; soprava um vento orte que desgrenhava os cabelos de Sartre: como ele me
parecia vulnervel! Sentamo-nos por um momento na relva, depois na porta do forte,
num banco de onde se via o Rdano e Avignon; a primavera estava magnfica: uma
profuso de rvores em flor. O tempo estava agradvel; assemelhava-se felicidade.
64
Da Praa de Villeneuve um txi nos conduziu ao hotel. O porteiro nos levou a umas
freiras que tinham que aplicar uma injeo diria em Sartre. Era a uns vinte metros
do hotel e eu o deixei l; ele retornou sozinho, sem dificuldade. Depois de jantar na
Praa de 1'Horloge, jogamos damas e Sartre mostrava toda a sua presena de
esprito.
No dia seguinte pela manh, alugamos um carro com chofer, para ir rever Baux. A
chegada foi magnfica: um deserto de pedras com um tempo maravilhoso. Sartre sorria
de prazer e me dizia com ar feliz: "Quando ns dois viajarmos este vero ..." Eu corrigi:
"Voc quer dizer: quando estivermos em Roma." "Sim," disse ele. Mas repetiu
vrias vezes: "Quando ns dois viajarmos ..." Tomamos um aperitivo, sob o sol, no
Oustau de Baumanire, onde almoamos. Passeamos pela cidade morta.
Retomamos por
Saint-Rmy e por um belo campo florido. Sartre olhava o relgio. Disse-lhe brincando:
"Tem um encontro?" "Sim, voc sabe, com a mulher que encontramos esta manh numa
brasserie". Disse-lhe que no havamos estado numa brasserie. " Mas claro que sim,
ao partir, junto estrada." Ele hesitou: "Ou ento foi ontem." Convenci-o de que no
tnhamos nenhum encontro marcado. Ele me disse depois que se tratava de uma
impresso vaga, que mesmo que tivesse ficado a ss, teria retomado diretamente ao
hotel. A seguir, ficamos lendo lado a lado em seu quarto. Ele lia muito lentamente.
Leyou dois dias para terminar o Nouvel Observateur. No entanto, estava outra vez
completamente presente ao mundo. A noite ele me disse: "De qualquer maneira,
preciso
que voc recomece a escrever." "Certo," disse eu, "quando voc estiver inteiramente
bem."
O dia seguinte, 21 de maro, estava mais deslumbrante: " a primavera!", disse-me
Sartre, alegremente. Fomos, de carro, rever a Ponte du Gard. Quando bebamos um
usque no terrao ensolarado do Albergue du Vieux Moulin, ele me perguntou: " uma
ponte do sculo XIX?" Retifiquei, com o corao apertado. Depois
65
#do almoo caminhamos um pouco pelas alias que se estendem por trs da ponte.
Sartre se sentava em todos os bancos: a comida deixara-o pesado, dizia ele.
Retomando
a Avignon, como novamente olhasse o relgio, eu lhe disse: "Ns no temos
compromisso algum." "Mas, sim", respondeu-me. "Com esta moa..." Mas no insistiu.
Na vspera,
ao sair para tomar sua injeo, encontrara um casal de professores que pertencia ao
comit Libration;
ao regressar, a jovem mulher o aguardava na esquina e ele falara com ela. A ideia de
compromisso ligava-se a esse episdio. noite fiz com que Sartre recapitulasse
seu dia e ele se lembrava muito bem. J ogamos damas e conversamos.
No dia seguinte, levantou-se s dez horas, bem no momento em que nos traziam o caf
de manh. "Passamos uma noite agradvel ontem," disse-lhe. Ele hesitou:
"Sim. Mas, ontem noite, eu estava achando que era invisvel." "Voc no mencionou
isso." "Foi depois que cheguei. Sentia-me em perigo com relao s pessoas.
Ento, pensei que era invisvel." Como eu insistisse, disse-me que no tinha medo de
ningum em particular, mas que tinha a impresso de ser um objeto, sem relao
com as pessoas. "Mas voc tem relaes com elas." "Sim, eu as fao existir." Ele
afirmou, o que era falso, que, tirante o vinho, era sempre eu quem escolhia as
refeies. Conclu da que ele estava inteiramente confuso, que no compreendia o que
se passava consigo mesmo. Minimizava seus lapsos de memria e suas pequenas
divagaes - no entanto, dizia-se 'fatigado' seno doente. Durante essa temporada, ele
repetiu duas vezes com ar acabrunhado:
"Vou completar sessenta e oito anos!" Uma vez em Paris, pouco antes de seu ataque, ele
me dissera: "Vo acabar cortando-me as pernas." E, como eu protestasse, acrescentara:
"Oh! as pernas! Poderia abrir mo delas." Evidentemente, experimentava uma
inquietao difusa em relao a seu corpo, a sua idade, morte.
Naquele dia estivemos em Aries. Depois de almoar no J ules Csar, revimos Saint-
Trophime, o teatro, as are-
66
nas. Sartre parecia abatido. Nas arenas, perguntou-me:
"Encontrou-se essa coisa que havamos perdido?" "O qu?" "Essa coisa que necessria
para ver as arenas. Esta manh estava perdida." Ele se enredava e remoa. Em
Saint-Trophime pegramos um tquete vlido apenas para a igreja, depois, no teatro, um
tquete completo: era nisso que ele estava pensando? De qualquer forma, estava
desorientado. Voltamos por Tarascon, cujo castelo revimos. Na chegada, Sartre disse ao
chofer: "Ento, est combinado, pagamos-lhe amanh." "Mas no", disse eu,
"vamos partir amanh, no nos veremos mais." Sartre pagou, dando uma enorme
gorjeta. A religiosa que lhe aplicava as injees dissera-lhe que ele poderia pagar todas
as aplicaes no ltimo dia; sem dvida, houvera uma confuso em seu esprito.
No dia seguinte, pela manh, disse-me que estava encantado com sua estada, mas que
retomar a Paris lhe parecia 'normal'. No deixara endereo comMichle Vian e
eu lhe perguntei se ela no teria ficado zangada por isso: "Claro que no," disse-me ele,
"ela sabe muito bem que voc tem que partir sem deixar endereo, por causa
desse homem que a incomodou." "A mim?" "Sim." Porque queria umas notas sobre
minha doena." Eu neguei e Sartre me disse com ar de espanto: "Sempre pensei que isso
fosse verdade." Essas lembranas enganosas que remontavam aos primeiros dias do
ataque no me inquietavam muito.
Naquela manh, jornalistas telefonaram e Sartre recusou-se a receb-los. Tomamos um
aperitivo ao sol, na Praa de 1'Horloge e comemos no primeiro andar de um restaurante:
Sartre se divertia, olhando as pessoas que passavam na rua. Demos um grande passeio
pela cidade, sem que ele mostrasse sinal de cansao. s seis horas, instalamo-nos
no trem e nele jantamos. Liliane Siegel e seu filho nos aguardavam na estao s onze e
meia e levaram-nos para minha casa.
No dia seguinte, Sartre cortou o cabelo, coisa que o rejuvenesceu muito, e almoou com
Arlette. Disse-me que
67
#ela no estava contente com ele, mas sem explicar-me o porqu. Ela me explicou por
telefone. Sartre lhe contara que seus maos de cigarros haviam ardido no riacho;
e como ela o olhasse com ar de dvida, ele acrescentara:
"Voc acha que estou gaga, mas, no entanto, verdade." Afirmou tambm ter dado uma
entrevista a um ingls.
A tarde, levei-lhe sua valise. Ele abriu sua correspondncia e examinou livros que lhe
haviam sido enviados. Na minha casa, noite, na companhia de Sylvie, mostrou-se
incapaz de manter uma conversa. Subiu para deitar-se por volta das onze e meia.
Ao acordar, lembrava-se perfeitamente do dia anterior. Estava satisfeito, porque iria
encontrar-se, em
tomo do meio-dia, com uma jovem grega que redigira um estudo
sobre ele e de quem gostava muito. Parecia inteiramente presente, mas eu me
perguntava quando teria condies de voltar a trabalhar.
A noite, na minha casa, no percebeu que Sylvie colocara gua na garrafa de usque;
essa pequena traio me era desagradvel: mas no via outra maneira de reduzir
sua dose de lcool. Ele tornou a repetir-me durante a noite: "Vou completar sessenta e
oito anos!" Perguntei-lhe por que isso o mobilizava tanto: "Porque pensava
que s completaria sessenta e sete."
No dia seguinte, revimos o doutor B. Falei-lhe dos estados confusos de Sartre, na
presena deste, que ouvia com indiferena. Depois, B. conduziu-o ao seu laboratrio
para examin-lo. No o achou mal. Sua escrita estava bem melhor do que na vez
anterior. Disse-lhe que o lcool e o fumo eram os seus maiores inimigos, mas que, tendo
que escolher, preferia proibir-lhe o lcool que ameaava danificar seu crebro. S lhe
permitia um copo de vinho ao almoo. Receitou remdios. Ao sair, Sartre estava
bastante acabrunhado por ter que abrir mo do lcool. "Estou dizendo adeus a sessenta
anos de minha vida." Um pouco mais tarde, na sua ausncia, telefonei ao doutor
B. Ele me disse que, em caso de novo ataque, no estava seguro de que fosse possvel
seu restabelecimento.
68
"Ele est em perigo?", perguntei-lhe. "Sim", disse-me. Eu o sabia, mas mesmo assim foi
um choque. Mais ou menos claramente, Sartre se sentia ameaado, j que me
disse noite: "Um dia tem que acabar. Afinal, foi feito o que se pde. Foi feito o que
havia a fazer."
Ao acordar, tornou a divagar um pouco. Falou-me de um prefcio que tinha de escrever
para uns gregos, o que era exato, mas tambm de um outro, para um rapaz que
quisera suicidar-se porque seus pais o mantinham prisioneiro; j no se lembrava de seu
nome, mas era um amigo de Horst e de Lanzmann. Em realidade, nunca se falara
de tal rapaz. No entanto, noite, parecia em perfeito estado; dava a impresso de estar
inteiramente resignado a no mais beber e me ganhou nas damas.
Breve trgua. Arlette me telefonou dois dias depois, pela manh, dizendo que Sartre
tinha vertigens, tombava para a direita, caa. O doutor B., consultado por telefone,
mandara diminuir as doses dos remdios: se, no entanto, as perturbaes continuassem,
seria preciso que ele ficasse em observao no La Saiptrire. Na minha casa,
no final da tarde, ele cambaleava.
Seu equilbrio estava melhor no dia seguinte. Mas, tomando o caf da manh com
Liliane, mais uma vez divagara: mencionara um encontro que teria tido com operrios...
No entanto, passamos uma noite muito agradvel com Sylvie. Ele nos declarou
alegremente: "uando completar setenta anos, voltarei a beber usque." Isso me
reconfortou,
porque parecia significar que se absteria durante dois anos.
Durante esse incio de abril, apesar de uma certa fraqueza nas pernas e certa confuso
mental, ia bastante bem. Estava lendo um pequeno livro de crtica sobre L
mur que o estava interessando. Comeava a ressentir-se por no trabalhar. Escreveu
uma carta, publicada por The New York Review o f Books, pedindo a anistia dos
americanos que haviam desertado durante a guerra do Vietnam.
69
#Passou alguns dias em J unas com Arlette: Sylvie e eu fomos busc-lo de carro, para
lev-lo a Saint-Paul-deVence. uando chegamos em frente casa, Sartre desceu
da varanda onde tomava sol. Como todas as vezes em que o revia, aps uma ausncia,
impressionou-me mal:
tinha o rosto intumescido, algo de entorpecido e desajeitado nos gestos. Partimos os
quatro, pelas bonitas paisagens do Languedoc; garrigues e vinhedos, rvores
frutferas e flor, colinas azuis ao longe. Atravessamos a Crau, passamos pela Camargue,
entrevimos Aries e paramos para almoar num agradvel hotel s portas de
Aix. Sylvie ficou dormindo no carro. Ns partimos para Brignoles, por esse campo de
Aix que tanto amo. A um determinado momento, Sartre disse: "Mas que aconteceu
com esse rapaz que tnhamos trazido? Esquecemo-lo?" Ele no insistiu. Explicou-me
depois que tinha sido a ausncia de Sylvie, durante o almoo, que o confundira.
Durante a estada em Saint-Paul, ele no mais manifestou confuso mental, mas faltava-
lhe energia. Fazia um lindo sol, o campo resplandecia. Agradava-lhe passear
de carro, rever Nice, Cagnes, Cannes, Mougins. Mas, em seu quarto, arrastava-se
indefinidamente a ler Ls kapetanios; mal conseguia ler romances policiais. "Ele
no pode continuar assim" - disse-me Arlette com voz assustada. Ele se dava conta de
seu estado. Uma manh, acendendo seu primeiro cigarro, disse-me: "No posso
mais trabalhar... Acho que estou gaga..." No entanto, conservava o gosto de viver.
Falando de Picass, morto aos noventa e dois anos, eu lhe disse: "E uma boa idade:
voc ainda teria vinte e quatro anos de vida." "Vinte e quatro anos no muito",
respondeu-me.
Ele retornou com Arlette, eu, com Sylvie. Qjuando almocei com ele, no dia de meu
regresso, estava vivaz e caloroso; ouviu com prazer o relato de minha viagem
de Saint-Paul a Paris. tarde, em sua casa, mostrou prazer ao abrir sua correspondncia
e folhear os livros recebidos. Mas, em outros dias, parecia-me declinante,
70
desligado, sonolento. Essas oscilaes de esperana e de angstia me esgotavam.
Voltamos a consultar o doutor B. Enquanto examinava os reflexos de Sartre na sala
contgua a seu consultrio, ouvia-o dizer: "Bem... muito bem..." Tudo estava bem,
exceto a presso: 20-12. Quando voltaram ao escritrio, Sartre queixou-se de seu
entorpecimento mental. com uma espcie de ingenuidade encantadora, precisou:
"No estou bobo. Mas estou vazio." B. prescreveu um estimulante e diminuiu a
dosagem de todos os remdios. Depois, aconselhou a Sartre: j que no podia mais
escrever
um trabalho srio, que tentasse a poesia. Ao deix-lo, Sartre, que comeava a recuperar
sua agressividade, exclamou: "Esse idiota no fez nada por mimi" Eu protestei
e ele me respondeu: "Zaidmann teria feito o mesmo." Na verdade, ele achava que se
teria curado sozinho, o que absolutamente no era verdade.
Continuava a ter altos e baixos. Dormia um pouco tarde e, ao acordar, frequentemente
dizia palavras confusas. Um dia, contando-lhe Arlette que fora ver, em sesso
privada, o filme de Lanzmann, Pourquoi Israel?, ele lhe disse: "No foi s voc, Arlette
tambm esteve l." "Arlette?" "Sim, isso lhe interessa, porque ela uma
judia pied-noir. "* Ento ela perguntou: "E eu? Quem sou eu?" Sartre caiu em si: "Ah!
Eu queria dizer que voc tinha levado uma amiga com voc." Ela disse a Sartre
que, no incio da sesso, tinha havido um alarme de bomba e a sala fora revistada. Ele
me contou apenas que a projeo comeara com atraso: esquecera o porqu.
As coisas no penetravam nele e, como todos os seus amigos observavam, estava
distante, um pouco entorpecido, quase empanado, tendo nos lbios um sorriso fixo de
gentileza universal (sorriso devido a uma ligeira paralisia dos msculos da face).
No entanto, frequentemente passava boas noites com ele. Bebia com prazer suco de
frutas. As refeies de
* Francs da Arglia. (N. do T.)
71
#domingo, com Sylvie, eram muito animadas. Tito Gerassi
- que desejava escrever uma biografia poltica de Sartre
- almoou conosco no La Coupole, depois conversou com ele a ss: encontrou-o em
excelente forma. A 21 de maio, Sartre retomou suas entrevistas com Pierre Victor
e Gavi, que disseram a Liliane Siegel: "Ele se mostrou extraordinariamente inteligente;
exatamente como antes." No final de maio, participou de uma reunio de Ls
Temps Modernes: Horst, Lanzmann - a quem, a seu regresso do Midi, dera a pior
impresso - acharam-no to vivo, to inteligente como no passado. Sua memria era
ainda
hesitante com respeito a nomes prprios, e ele se lembrava pouco dos momentos de sua
doena, em particular de suas vertigens. Aludia, s vezes, a sua 'miniinvalidez'
e disse-me um dia: "Isso no deve ter sido agradvel para voc." "No", respondi. "Mas
menos ainda para voc." "Oh! Eul No me dava conta."
Estava muito satisfeito por ter retomado suas entrevistas com Victor e Gavi. Durante
nossas noites com Sylvie, mostrava-se alegre e at engraado. A 17 de junho,
teve uma entrevista com Francis J eanson sobre sua adolescncia. Especificou sua
posio em face da violncia.
O nico ponto negativo eram seus olhos. Procurara, como todos os anos, um
oftalmologista: este constatara que ele perdera quatro dcimos de sua viso. Quase a
metade.
E ele s tinha um olho vlido. Tinha que submeter-se a tratamento durante quinze dias
e, caso no se obtivesse resultados, seria preciso cogitar de uma pequena operao.
Quinze dias depois, o oculista no soube bem o que diagnosticar. O fato que Sartre via
mal e se preocupava. Lembro-me dele inclinado sobre uma lupa grossa que
nossa amiga japonesa lhe dera, olhando ansiosamente artigos de jornais; mesmo com a
lupa no conseguia ler tudo. Repetiu vrias vezes essa tentativa, sempre sem
xito.
Poucos dias depois, Arlette me telefonou: Sartre voltara a sentir vertigens, cara ao
levantar-se da cama. Na-
72
quela tarde, procurou um especialista muito conhecido:
ao relatar-me essa consulta, noite, mostrava-se muito abatido: o oculista detectara uma
trombose de uma veia temporal e uma trplice hemorragia no fundo do olho.
Em compensao, o doutor B. - com quem marcara uma hora - foi otimista. As
vertigens haviam cessado, a marcha voltara a ser correta. A presso continuava alta -
20-12 - mas, sob o aspecto neurolgico, estava tudo normal. B. me deu uma carta para o
oftalmologista, na qual especificava que Sartre sofria de uma "arteriopatia
cerebral, com manifestaes alternantes," que era hipertenso e pr-diabtico. No fundo,
eu j sabia tudo isso, mas v-lo escrito me transtomou. Vendo minha perturbao,
Lanzmann telefonou a um mdico amigo seu, o doutor Cournot. Este explicou que seria
preciso pelo menos um ano para que Sartre se restabelecesse completamente. Mas,
uma vez curado, poderia viver at os noventa anos. Em caso de novo ataque, impossvel
prever se este seria benigno ou trgico.
Consultado novamente, o oculista disse que duas das trs hemorragias estavam curadas
e dois dcimos da viso recuperados. Seriam necessrias ainda duas ou trs semanas
para recuper-la por inteiro. Sartre continuava preocupado. Num almoo com amigos de
quem gostava muito - Robert Gailimard e J eannine, a viva de Michel - no abriu
a boca. Ao deix-los, perguntou-me um pouco ansioso: "Isso no pareceu esquisito?"
Mas, de um modo geral, suportava bem seu problema. Nas entrevistas com Victor
e Gavi no falava muito, mas acompanhava atentamente as discusses e intervinha
apropriadamente. Participou de uma conversa com jovens trabalhadores de VilIpneuve-
la-Garenne,
onde fizera uma enquete, publicada a meados de junho no Libration. Assinou um apel
para a interdio de um comcio da Ordem Nova; realizado o comcio a 21 de junho,
ele atacou, no Libration, a deciso de Marceilin. Estava muito alegre na reunio de
27 de junho de Ls Temps Modernes, e permaneceu assim nos dias subsequentes. O
doutor B. estava muito sa-
73
#tisfeito com a sade dele; e Sartre achava que sua viso estava melhorando.
Como de hbito, passou trs semanas com Arlette. Eu viajava pelo Midi com Sylvie, e
Arlette enviava notcias dele, que eram boas; no entanto, caminhar cansava-o
logo e ele lia com dificuldade. Fomos busc-lo em J unas, 29 de julho, para lev-lo a
Veneza, onde deveria encontrar-se com Wanda. Ainda desta vez, rever Sartre
foi para mim uma felicidade mesclada de tristeza. Por causa de seu lbio repuxado e de
sua viso deficiente, seu rosto tinha uma expresso hirta, ele parecia idoso
e sem energia.
No entanto, os quatro dias que passamos de J unas a Veneza foram agradveis. Sartre
estava um pouco aturdido, um pouco ausente, mas muito alegre. Apesar de sua viso
deficiente, distinguia as paisagens e o movimento o entretinha. Atravessamos Nimes e
acompanhamos o Durance, evitando Aries e Aix, por causa dos engarrafamentos.
Almoamos muito bem no castelo de Meyrargues e Sartre bebeu um copo de velho
Chteauneuf. Eu reservara acomodaes na Bastide du Tourtour, onde chegamos por
pequenas
estradas encantadoras. De nossas varandas tnhamos uma vista sensacional: bosques de
pinheiros e, ao longe, montanhas azuladas.
Na manh do dia seguinte, quando me encontrei com Sartre, fazia uma hora que estava
sentado em seu terrao, de frente para a admirvel paisagem provenal. No se
entediara? No. Gostava de olhar o mundo sem fazer nada. Em J unas, sentava-se na
varanda e, durante longo tempo contemplava a cidade. Alegrava-me que o cio no
lhe pesasse, mas tinha o corao um pouco apertado, porque para comprazer-se nisso
era preciso que estivesse realmente 'vazio' como dissera ao mdico.
Bost nos recomendara que comssemos em Menton, no Chez Francine, uma sopa de
peixe ao alho e leo:
Sartre estava com muita vontade de faz-lo. Instalamonos no terrao do pequeno
restaurante, trouxeram-nos a sopa e, no ato, Sartre derrubou o prato sobre seus ps.
74
No houve grande estrago. Limpamos seus sapatos e a garonete trouxe nova poro.
Ele sempre fora desajeitado, mas agora, com o problema da viso, parecia inteiramente
desorientado. Encarou o incidente com uma indiferena anormal, como se j no se
sentisse responsvel por seus gestos, nem interessado com o que lhe acontecia.
Chegamos a Gnova por uma auto-estrada apinhada de caminhes, e a entrada na cidade
foi demorada e cansativa: ao invs de impacientar-se, Sartre estava de excelente
humor. Instalamo-nos num hotel prximo estao e l fizemos um jantar leve.
Pela manh, por volta das nove horas, novamente encontrei Sartre janela: tendo-se
levantado s sete e meia, distraa-se observando o local da estao e seu trnsito.
Sentia-se na Itlia, eisso o encantava. Almoamos em Verona um delicioso presunto, e
fomos para um hotel de quartos um pouco barrocos e muito bonitos, no qual estivera
com Sartre dez anos antes Enquanto ele fazia sua sesta, passeei com Sylvie. Depois, os
trs fomos beber qualquer coisa num dos inmeros cafs da grandplace, junto
s arenas. Como Sylvie estivesse cansada, jantei sozinha com Sartre num pequeno
restaurante perto do hotel. Ele caminhava devagar, mas sem muita dificuldade, e
parecia muito feliz.
Em Veneza, Sylvie deixou o carro na enorme garage da Piazza Roma e tomamos uma
gndola. Depois de deixar Sartre em seu hotel, no Grande Canal, instalamo-nos no
Cavaletto,
atrs da Praa So Marcos. Depois fomos buscar Sartre. Demos-lhe o transistor, para
que pudesse ouvir msica pela manh, enquanto Wanda dormisse ainda num quarto
ao lado. Ele nos levou ao Fenice para almoar, quase sem errar o caminho. Para
proteger-se do sol - perigoso para ele - usava um chapu de palha que detestava. "Sinto
vergonha com esse chapu," disse-me depois em Roma. Depois de tomarmos coquetis
na Praa So Marcos, retomamos ao hotel de Sartre, de onde uma lancha a motor
o conduziu ao aeroporto para receber Wanda. De p na lancha, acenou-nos, com aquele
sorri-
75
#s to gentil, quase excessivamente entil, que estava em seus lbios quase que
permanentemente. Sentia-me apreensiva, sem razo precisa: ele me parecia to
vulnervel!
Dois dias depois, a 3 de agosto, encontrei-me com ele, s nove da manh, num caf da
Praa So Marcos. E novamente nos trs dias subsequentes. s vezes, ele chegava
antes de mim. Duas vezes, por no enxergar a hora em seu relgio, levantou-se s
quatro da manh e vestiuse. S ento percebeu que ainda estava escuro e voltou a
deitar-se. Wandalhe dava seus remdios escrupulosamente. Passeavam muito juntos, s
vezes durante quase uma hora. Ele estava satisfeito por estar em Veneza.
E depois, uma manh, eu o deixei. No queria obrigar Sylvie a estagnar em Veneza, que
ela j quase conhecia de cor. E, ainda que nossos encontros matinais agradassem
a Sartre ("Vou sentir falta de voc", disse-me ele), atrapalhavam-no um pouco. Deixei
endereos com Wanda. Fui para Florena.
Cheguei a Roma dia 15 de agosto, e, na tarde de 16, fui com Sylvie esperar Sartre em
Fiumicino. Reconhece mo-Io imediatamente atravs do vidro: por seu chapu,
seu corpo e, sobretudo, seu modo de andar. Segurava numa das mos sua pequena
maleta de viagem, na outra o transistor. No hotel, sentiu muito prazer em reencontrar
nosso terrao. Estava muito bem, mas ainda assim continuava um pouco desajustado.
Sylvie colocou o transistor na mesa. Ele perguntou: "No quer ficar com ele?"
"Claro que no, para voc." "Oh! Eu no preciso dele." Ao passo que, depois, passava
horas a ouvir msica e reconhecia que lhe teria sido penoso abrir mo dele...
No dias seguintes, quando me levantava, por volta das oito e meia, Sartre j estava no
terrao, muitas vezes tomando o caf da manh e olhando vagamente o mundo.
Nesse dia, ento, sua viso estava muito pior do que no incio de agosto. No conseguia
ler, nem escrever. Fiz com que Michle telefonasse a seu oculista: este
lhe disse que, certamente, havia uma nova hemorragia e aconselhou que se consultasse
um especialista l mesmo. O hotel me
76
indicou um que tinha fama de ser o melhor de Roma:
tinha curado Cario Lv de um descolamento de retina. Ele marcou uma consulta para o
dia seguinte tarde. Morava no bairro de Prati, um bairro arejado e alegre,
do outro lado do Tibre. Era jovem e simptico. Constatou uma hemorragia no centro do
olho: no havia o que fazer, a no ser esperar. Havia, tambm, um incio de
glaucoma e a presso ocular estava muito acentuada. Receitou gotas de pilocarpine e
diamox. Na outra consulta, a presso diminura, mas eu dera a Sartre diamox naquela
mesma manh. Quando voltou l, sem haver tomado o remdio, a presso tinha
aumentado, mas no excessivamente. O oculista esperava que a pilocarpine fosse
suficiente
para neutralizar o glaucoma. Na ltima consulta, no aceitou que Sartre lhe pagasse seus
honorrios. Pediu apenas um livro com dedicatria. Sartre levou-lhe trs,
nos quais escrevera algumas palavras s cegas. Gostava muito desse mdico,
tranquilizador e amigvel.
A rotina de nossos dias nos agradava. Pela manh, eu lia para Sartre (esse ano li estudos
sobre Flaubert, um nmero de Ls Temps Moderns sobre o Chile, o livro de
Roy Ladurie, dois grossos volumes apaixonantes sobre o J apo, La vie chre sous Ia
terreur, de Mathiez, o ltimo livro de Horst20). Aps uma rpida refeio, ele
dormia mais ou menos durante duas horas. Eu passeava com Sylvie, ou lamos lado a
lado, na parte coberta do terrao. Fazia calor, apesar do ar condicionado, mas
eu gostava desse calor, da penumbra, do cheiro de couro sinttico. uando Sartre
acordava, lia para ele os jornais franceses e italianos. noite, jantvamos com
Sylvie.
Era durante as refeies que Sartre mais me preocupava. J no sofria de incontinncia
urinria. Quanto a lcool, caf e ch, s bebia o que lhe era permitido. Mas
sentia-me desolada ao v-lo ingerir tantas massas, sobretudo sorvetes, uma vez que era
pr-diabtico. E, alm dis-
20. Horst se assinava Gorz em seus trabalhos e aparecia com esse nome no comit de
redao de Ls Tfnps Modernes. Mas, em meu relato, conservo sempre seu
nme verdadeiro.
77
#sua prtese dentria, da quase insensibilidade de seus lbios, de sua semicegueira,
comia de forma inconveniente: a boca ficava suja de comida e eu temia irnt-lo,
dizendo-lhe que a limpasse. Ele lutava com os espauetes, levando boca enormes
bocados e dexando-os cair. Dificilmente aceitava que o ajudasse a
Intelectualmente, mostrava-se muitas vezes inteiramente alerta; sua memria, ntegra.
Mas, de vez e quando, desligava-se. As vezes isso me irritava. Outras vezes,
quase chorava de compaixo, por exemplo, quando me disse: "Sinto-me
envergonhado com este chapu e quando el e, ao sair de um restaurante, murmurou: "As
m par mim!"' num tom que ficava:
Acham-me bem desprezvel." Mas, ao mesmo tempo
surpreendia-me com seu bom humor, com sua pacincia'
com sua preocupao de no nos molestar: jamais se queixava de j no enxergar bem.
Traduzi para Sartre o nmero da revista Aut Aut dedicado a ele; nesse nmero sara o
texto da interven ao que fizera sobre "Subjectivism et marxism", em
1961, no Instituto Gramsci, bem como artigos sobre ele De quando em quando,
estvamos com Leiio Basso' Rossana Rossanda. No dia subsquente ao que Sylvie nos
deixou,
levando o carro para Paris - 5 de setembro recebemos a visita de Alice Schwarzer, uma
jornalista ale:
m que eu conhecera nas reunies do M.L F e com quem Sartre e eu simpatizvamos
muito. Ela fez um cur-metragem sobre mim para a televiso alem e nos lmou, a
mim
e a Sartre, num m de tarde em nosso terrao. Tivemos um jantar agradvel com ela.
Tambm nossos amigos Bost vieram passar alguns dias em Roma Na partida sentia-me
ansiosa: "Retomaramos algu-
' d" um ltimo olhar para
r da? s que termmaram ts frias romanas e sua triste doura - escrevia eu de volta a
Paris O
outono
era magnfico, mas eu temia, por Sartre, as fadigas de
78
Ele mudou de domiclio, por ser muito pequeno o do Bulevar Raspail. Arlette e Liliane
haviam encontrado, para ele, um apartamento muito maior, num dcimo andar tambm,
mas com dois elevadores. Havia l um grande escritrio que dava para a Rua du Dpart,
com a nova torre de Montparnasse no primeiro plano e, ao longe, a Torre Eiffel;
Sartre ocupava um dos dois quartos cujas janelas se abriam para um jardim interno;
qualquer pessoa podia dormir no outro, de maneira que j no ficasse sozinho
noite. Ele foi ver essa moradia, antes que a arrumassem, e gostou.
Seu humor estava excelente; dizia que enxergava um pouco melhor; no tinha condies
de ler, mas era capaz de jogar damas. Referia-se, com certa complacncia, ao
que denominava "minha doena". "Estou muito gordo", disse-me. " por causa de
minha doena." Na rua, saindo para almoar: "No ande to depressa; no posso
acompanh-la,
por causa de minha doena." Respondi: "Mas voc j no est doente." E ele: "Ento
estou o qu? Diminudo?" Essa palavra me doeu: "Claro que no", respondi. "Voc
est apenas com as pernas um pouco fracas." Mas no sabia bem o que pensava ele de
seu estado.
No entanto, poucos dias depois, ele se sentiu cansado: "Vi gente demais. Em Roma, no
vamos ningum." Como conseguiria suportar as tenses do processo que se realizaria
a 8 de outubro? Era uma histria antiga. Em maio de 71, Mnute exigira a priso de
Sartre. Por artigos selecionados de La Cause du Peuple e de Tout, o Ministro da
J ustia e o Ministro do Interior acusaram-no, em junho, de difamao. Indiciado, em
liberdade, passou suas frias na Itlia. O sumrio de culpa se realizou em outubro
e terminou rapidamente. Em fevereiro de 72, ainda no se sabia quando se realizaria o
julgamento. Agora, a data estava fixada.
A 8 de outubro, Sartre compareceria perante o Tribunal de Paris, citado por oito
redatores do Minute, que exigiam dele 800.000 francos por danos e perdas por di-
79
#famao, insultos e ameaas de morte. preciso dizer que La Cause du Peuple no os
poupara. Qualificava-os de "scia de esprios da Libertao, inativos da O.A.S.
e profissionais do apelo ao assassinato". Os responsveis por La Cause du Peuple
haviam ignorado as citaes recebidas, Sartre perdera o prazo. Para contra-atacar,
tinha que convocar testemunhas, afirmando que ele tinha o direito de pensar de boa f o
que seu jornal imprimira. No final de setembro, comeamos a examinar o dossi
do Minute, que nos conseguira a advogada de Sartre, Gisle Halimi, e elaboramos as
linhas gerais da declarao que ele faria perante o tribunal.
Mas ele no andava bem. Seu elevador estava novamente enguiado, ele subira a p,
sentia dores na nuca. Procurou o doutor B., que no o achou nem pior, nem melhor,
e pediu um check-up completo. Ao levantar-se, no dia seguinte, parecia um pouco
confuso, coisa que no acontecia h muito tempo. Disse-lhe eu: "Hoje voc vai ao
oculista." "No, no ao oculista." "Claro que sim." "No, you ao mdico que trata de
mim, alm do doutor B." " o oculista." "Ah, ?" Perguntou se era B. quem
lhe receitava a pilocarpne. Desagradava-lhe examinar seus olhos, pensar em seus olhos.
Arlette e Liliane acompanharam-no ao oculista e, ao regressar, ele me disse
que jamais recuperaria inteiramente a viso e que durante muito tempo no poderia ler.
Acolhia o fato com uma espcie de apatia morna. Soube por Zaidmann que ele
tinha uma trombose que fatalmente provocava hemorragias.
Ficou muito em minha casa durante sua mudana, da qual se encarregaram Arlette e
Liliane. A 26 de setembro assinou um apelo da Unio de Escritores contra a represso
no Chile e outro contra o silncio da informao oficial a respeito desse pas. Ns
aprimorvamos sua declarao sobre Minute e ele a decorava; a no ser o incio,
no conseguia fix-la na memria, e eu me perguntava como se sairia. Nossas noites
eram agradveis, mas durante a tarde dormia pesadamente.
80
A 8 de outubro, Gisle Halimi e um de seus jovens colaboradores vieram buscar-nos de
carro e levaram-nos a almoar na Praa Dauphine. Disseram que estavam com um
pouco de medo; Sartre no, estava distante, como ocorria frequentemente agora. Fomos
para a Dcima Stima Vara e, durante uma hora, assistimos a rpidos julgamentos
sobre pequenos delitos. s duas horas foi chamado o caso Sartre. Nenhum dos
colaboradores do Minute estava presente. Tinham chamado Biaggi, alm de seu
advogado
habitual. Comeou-se com discusses de procedimento, depois foram chamadas as
testemunhas e Sartre falou. Fez a acusao do Minute, de acordo com o que ficara
combinado, e o fez com bastante segurana. Mas cometeu o erro de aludir ao sequestro
de Nogrette e, nesse ponto, o presidente o deixou em posio difcil. Depois,
foram ouvidas as testemunhas. Daniel Mayer esteve timo em sua altercao com
Biaggi. Este ousara dizer que atacava Sartre por causa de sua pea Ls mouches. Deb-
Bridel
respondeu que grande nmero de resistentes, entre estes Paulhan, considerava que, sob a
Ocupao, havia razo de se exprimir em pblico, se fosse isso eficaz, o
que era o caso de Ls mouches. Claude Mauriac no se mostrou seguro: comparecera
por amizade a Sartre, mas no sem desagrado. A seguir, houve ainda discusses de
procedimento. O Minute desistira de processar Sartre por injrias e difamao e s
mantinha, contra ele, ameaas. Seu jovem advogado nos infligiu um discurso veemente
e vazio: o presidente pediu-lhe secamente que parasse de golpear a mesa, porque estava
quebrando o equipamento de som. Depois, Biaggi desfez-se em insultos; visivelmente
no conhecia o dossi, do contrrio teria podido apontar diversos desazos em La Cause
du Peuple, ao invs de limitar-se a invectivas e citaes literrias. Gisle
Halimi falou durante mais de uma hora; fez uma acusao implacvel contra o Minute:
as referncias O.A.S., os apelos ao assassinato, o racismo. O presidente advertia-a,
de quando em quando, que no era esse o problema, mas deixava-a falar. Antes de
levantar a sesso, deu a enten-
81
#der que, para no condenar o Minute uma vez mais, o processo seria anulado, porque a
citao que amalgamava injrias e difamao no era aceitvel.21 Retiramo-
nos muito satisfeitos por haver encerrado o assunto.
noite, Gisle Halimi telefonou-me, dizendo que tinha sido abordada por jornalistas do
France-Soir que lhe perguntavam: "Mas
afinal o que h com Sartre? No parece
bem" - com ar de canibais. "Est em convalescena," respondeu ela. E eles, sem o
menor pudor: "Se acontecesse alguma cosa, a senhora nos avisaria?" O fato que
Sartre dava uma impresso penosa, com suas pernas que se arrastavam, sua corpulncia,
seu olhar nublado. Simone Signoret, com quem cruzamos na Praa Dauphine,
parecera chocada ao v-lo. Ele desconfiava um pouco. Um dia, na Rua Delambre, como
caminhssemos devagar para ir almoar no Dome, perguntou-me: "No estou dando
muito a impresso de um invlido?" Menti para tranquiliz-lo.
No dia do processo, no final da tarde, foi com Arlette ao oftalmologista, que lhe
declarou, sem rodeios, que a retina tinha sido atingida - em parte, na direo
do centro - e que no havia, portanto, esperana de cura. Um opticista lhe forneceria um
aparelho especial que, utilizando a viso lateral, lhe permitiria ler talvez
uma hora por dia. No dia seguinte, pela manh, Sartre parecia arrasado. Eu lhe disse: "O
processo o esgotou." "No, no foi o processo: foi a ida ao mdico." Em
si, a consulta no fora cansativa, mas o oculista lhe infligira um golpe terrvel. noite,
quando Bost apareceu e eu lhe falei do processo, Sartre no abriu a boca
e foi deitar-se meianoite em ponto.
A 12 de outubro, submeteu-se a um exame completo no La Saiptrire: Arlette o levou
at l e eu fui busc-lo perto do meio-dia. O doutor B. disse-me que ele no
poderia trabalhar durante muitos meses. Isso era evi-
21. Na verdade, Sartre foi finalmente condenado a l franco por perdas e danos e
400 francos de multa.
82
dente. Em mdia, apenas trs horas por dia estava realmente bem; depois dormia ou
mostrava-se ausente. Ao sair dos exames, parecia arrasado.
Na quarta-feira, 16 de outubro, acompanhei-o ao opticista. Tambm este no dava
esperanas. Talvez, com o equipamento especial que amos encomendar-lhe, Sartre
pudesse ler uma hora por dia, em condies pouco confortveis. noite, pela primeira
vez, falamos um pouco de sua quase-cegueira, e ele me parecia sincero quando
disse que no sofria tanto assim com isso. (Mas, exceto com algumas dores de dente,
jamais admitira que estava sofrendo, mesmo quando, sujeito a clicas nefrticas,
torcia-se de dor.) O resultado dos exames do La Saiptrire, que recebi no dia seguinte,
no era bom. Sartre estava com diabetes e seu encefalograma estava alterado.
A alterao provinha, sem dvida, do diabetes, disse-me depois o doutor B. por
telefone. Talvez fosse ento reversvel?, pensei, esperanosa. Haviam sido detectadas
em seu crebro ondas lentas que podiam explicar sua sonolncia. (Mas ainda hoje
continuo convencida de que era uma defesa contra a ansiedade que sentia em relao
a seus olhos.)
O opticista emprestou-lhe o aparelho de que nos falara: mas para ele era intil. As
palavras desfilavam de forma to lenta que ele preferia que lhe lessem em voz
alta e lhe seria impossvel rever e corrigir seus prprios textos. No ficou decepcionado
porque no tivera iluses a respeito. Devolvemos o aparelho.
Sartre retomou suas entrevistas com Victor e Gavi. Ouvia-os, criticava um pouco, mas
de um modo geral no intervinha. Um domingo de manh, recebeu a equipe de Ls
Temps Moderns, para discutir um editorial sobre um problema importante para ele e
sobre o qual falvamos com frequncia: o conflito rabe-israelense. No pronunciou
uma palavra e, no dia seguinte, disse a Arlette que achava que tinha dormido. Lanzmann
e Pouillon estavam consternados. Ele dormia frequentemente enquanto eu lhe
lia, mesmo quando se tratava do
83
#Libration que, no entanto, lhe interessava. No se dava conta de seu estado. Disse a
uma de suas velhas amigas, Claude Day: "Os olhos no vo bem; mas quanto ao
crebro, tudo vai muito bem."
Durante as noites com Sylvie, mostrava-se alegre e at - o que era muito raro agora -
chegava a rir. Mas quando almoamos um domingo com ela e nossa amiga Lna,
que chegava de Moscou e que ele sentia prazer em rever, manteve-se silencioso,
apagado. Ela estava tristonha, eu cansada. S Sylvie, no sem esforos, transmitiu
um pouco de animao. Felizmente, passamos depois uma noite mais desanuviada com
Lna.
No final de outubro, Sartre comeou a se aprumar. Interessava-se por nossas conversas.
Uma manh, como uma nova locatria se estivesse instalando no andar de cima,
havia tanto barulho, que ele me disse ao deixarme: " a primeira vez que me sinto
contente por sair de sua casa!"
Nossas discusses giravam em torno da guerra do Kippur e, desta vez, nossas opinies
eram exatamente as mesmas. Ele explicou sua posio a esse respeito numa de
suas entrevistas com Victor e Gavi: "No sou a favor de Israel em seus moldes atuais.
Mas no aceito a ideia de sua destruio... Devemos lutar para que esses trs
milhes de indivduos no sejam expulsos ou reduzidos escravido ... No se pode ser
pr-rabe sem ser tambm um pouco pr-judeu, como o , alis, Victor, e no
se pode ser pr-judeu sem ser pr-rabe, como sou eu. Isso gera, ento, uma posio
estranha..."
A 26 de outubro, concedeu, por telefone, uma entrevista a Eli Ben Gal.22 No fim da
guerra do Kippur, declarou entre outras coisas: "Meu desejo que os israelenses
compreendam que o problema palestino o motor que impele o esprito de guerra
rabe." Ditou-me, para o
22. Publicada em Al Hamishmar, a 26 de outubro, e, em francs, a 5 de novemro
notulletm do Mapam. Publicaram-se excertos em L Monde e em Ls Cahiers ternara
Lazare.
84
Libration, uma declarao que o jornal imprimiu a 29 de outubro mas sem
absolutamente aderir a ela. "Esta guerra s pode contrariar a evoluo do Oriente Mdio
para o socialismo", dizia ele. E analisava as responsabilidades dos dois campos. A 7 de
novembro, Sartre, Clavel e Deb-Bridel confirmaram a apresentao em juzo
de suas queixas abertas contra X por escutas telefnicas e violao de correspondncia
contra a Agncia de Imprensa Libration. (Esta queixa, obviamente, no foi
levada adiante.)
Pelo fato de estar melhor, a doena comeava a pesar-lhe. Suportava com dificuldade
que lhe aplicassem injees pela manh e noite: "Ser que vo continuar a
tratar-me assim pelo resto da vida?", perguntou-me, irritado. Acompanhei-o ao
diabetlogo, que diagnosticou um pouco de glicemia; prescreveu para Sartre umas
cpsulas
e um regime sem acar; proibiu-lhe os sucos de frutas que tomava noite. O doutor B.
achou-o melhor e suprimiu alguns remdios. Saindo de seu consultrio, Sartre
observou com ar descontente: "No se interessa por mimi" E verdade que o mdico
tratava conscienciosamente de sua doena, mas pouco se preocupava com Sartre
o escritor, j que sugerira que escrevesse poemas.
Nos dias que se seguiram, com Arlette, comigo, Sylvie, Lna, mostrou-se presente e
alerta. J no assistia a nenhum espetculo; no entanto, uma noite, fomos com
Michle Vian ao pequeno teatro da Rua Mouffetard, para ver uma pea muito boa,
inspirada no caso Thvenin: J 'ai confante en Ia justice de mon pay23 Sartre aplaudiu
entusiasticamente. No dia seguinte, durante a reunio de Ls Temps Moderns, realizada
em sua casa, uviu atentamente a leitura do editorial de Pouillon sobre o conflito
rabe-israelense. Comentou-o, discutiu. E tambm noite, com Bost, estava muito
animado.
23. Um jovem prisioneiro chamado Thvenin foi tido como suicida, quando
evidentemente o haviam suicidado. Seus pais haviam tentado, em vo, esclarecer sua
morte.
85
#Mas na manh do dia seguinte, a propsito do estupro de uma estudante de origem
vietnamita por um de seus colegas, teve ma discusso que o cansou muito, com Tulv
o diretor do Libration. uando fui v-lo, s cinco horas fiz com qu dormisse. Dormiu
tambm no dia seguinte, tarde, nquanto, a pedido seu, eu lhe lia as duas verses
de ui captulo de Madame Bovary. A noite, com Sylvie, mostrava-se inteiramente
desperto e ficou satisfeito com o boito casaco forrado de pele que lhe oferecemos.
Para substituir os sucos de frutas proibidos, ela preparara ch geldo aromatizado, que
ele achou excelente. No dia seguinte pela manh, reviu, com prazer, sua jovem
amiga grea que vinha instalar-se por algum tempo em Paris pari seguir cursos de
filosofia na Sorbonne. Mas tarde,
tornou a dormir pesadamente.
Na manh seguinte tinha que reler com J uly sua entrevista sobre o estupro. s nove e
meia fui ao caf onde habitualmente tomava seu desjejum com Liliane;
ela estava l, J uly tambm, mas Sartre, no. Olhei o texto trazido por J uly, que no tinha
p nem cabea. E Sartre no aparecia. Liliane telefonou-lhe s dez horas:
ele acabava de acordar. Finalmente chegou e, depois que tomou um caf e comeu
alguma coisa, levei-o para minha casa. Em duas horas e eia redigimos um texto
adequado,
que foi publicado a 15 de novembro no Libration. Nele, Sartre refletia sobre as
implicaes morais e polticas do estupro da vietnamita. noite, li para ele um
artigo muito bom, escrito por Oreste Puciani,24 sobre seu pensamento esttico, o qual
muito o interessou. Depois, tentamos jogar damas, mas ele j no enxergava
suficientemente e tivemos qe desistir. O que mais me angustiava naquele momento,
que ele acreditava - ele queria acreditar - que dentro de trs meses seus olhos
estariam curados.
24. Um amio americano aue conheci atravs de Lise. No momento, era pro fessor
universitrio na Calirnia e especialista em Sartre.
86
O novo apartamento estava pronto; at o telefone j tinha sido instalado. Ele estava
gostando de ir morar l. Dali em diante, passei a ficar na casa dele noite
e dormir cinco noites por semana no quarto contguo ao dele. Arlette dormia l nas
outras duas noites.
Ele continuava dormindo pesadamente durante as tardes e - mesmo depois de longas
noites de bom sono - acontecia-lhe dormir pela manh, enquanto eu lia para ele.
Decididamente, ficara indiferente a muitas coisas. Uma manh, ao despertar, como eu
enxugasse um pouco de saliva em sua roupa, ele me disse: "Sim, eu babo. H quinze
dias que babo." Eu no lhe dissera nada, com medo de constrang-lo: mas ele no dava
importncia ao fato. O que o incomodava um pouco, eram suas sonolncias: "
tolo dormir assim!" Disse-me, tambm, com tristeza: "No estou melhorando." Um
sbado noite, Sylvie, ele e eu fomos convidados para comer um cuscuz em casa de
Gisle Halimi: ele no abriu a boca. Tambm no falou, quando almoamos no
restaurante com Lna.
Decidi marcar uma consulta com o Professor Lapresle, que o doutor Cournot
enfaticamente me recomendara. Fomos v-lo em Bictre, dia 23 de novembro. Ele se
espantou
com o contraste entre a histria vascular de Sartre e os resultados que constatou, que
eram muito bons. Segundo ele, o encefalograma nada tinha de patolgico. Quando
s sonolncias, no conseguia explic-las. Pediu um exame de crebro denominado
gama-encefalograma. Insistiu veementemente para que Sartre no mais fumasse: isso
tem a ver com sua viso e com sua inteligncia, disse-lhe.
Ao sair, Sartre me declarou que continuaria a fumar. Mas, apesar disso, fumou menos
no dia seguinte, e Sylvie e eu tivemos a surpresa de uma noite excelente, como
no passvamos havia muito tempo. Sartre falou de Flaubert, dos problemas de
passividade, e comunicounos: "Em quinze dias, terei deixado de fumar radicalmente."
Depois disso, reservou-se o direito de fumar trs cigarros por dia; nos dias subsequentes
fumou oito, depois
87
#sete, depois seis, e chegou aos trs. Portanto, fazia questo de viver e estava pronto
para lutar.25
E realmente parecia ter recuperado o gosto de viver. Via frequenteente sua jovem amiga
grega que dava alegria a seus dias. Uma noite, jantou muito alegremente no
La Cloche d'0r com Tomiko, Sylvie e eu. E passvamos momentos felizes em tte--
tte. Li para ele uma compilao de artigos que lhe eram dedicados e que ele achou
muito sensatos.
Comunicou-me que ia contratar Pierre Victor como secretrio: Puig permaneceria seu
secretrio rotineiro, Victor leria para ele e trabalharia com ele. Liliane telefonou-me
para dizer que estava encantada com essa deciso, enquanto Arlette dizia-se furiosa:
pensava nas relaes de Schoenmann26 com Russell e temia que Victor se tomasse
o Schoenmann de Sartre. Mas Sartre estava satisfeito em trabalhar com Victor. E,
quanto a mim, isso me possibilitava no mais ter que ler todas as manhs, dispor
de um pouco de tempo livre.
No incio de dezembro, ele no piorara; mas no estava melhor: dormia. Dormia at
pela manh, quando Victor lia para ele. Estou certa de que era uma fuga: no conseguia
aceitar sua quase-cegueira. Muitos outros indcios manifestavam essa recusa. Como lhe
perguntasse:
"Que fez esta manh?" "Li, trabalhei." Insisti: "Por que diz que leu?" "Bem, repensei
Madame Bovary, Charles. Lembro-me de muitas coisas ..."
Uma quinta-feira acompanhei-o ao doutor Ciolek, um jovem oftalmologista muito
simptico. Ele no deu nenhuma esperana: a hemorragia cicatrizava, mas o meio da
retina
conservava marcas indelveis, estava necrosado. Sartre me disse ao sair; "Ento j no
poderei ler?" Encolheu-se no txi que nos conduzia de volta e
25. Pouco depois, recomeou a fumar muito.
26. Ver Tout compte fait, no que se refere ao tribunal Russell. Schoenmann era um dos
principais secretrios da Fundao Russell. No Tribunal, do qual era secretrio-geral.
pretendia representar Russell e reger tudo. Quando queria impor sua
vontade declarava: "Lorde Russell exige que..."
88
ps-se a cochilar. Nos dias seguintes, no se mostrou mais triste do que antes. J ouvira
esse veredicto e, embora fugisse da verdade, tinha conhecimento dela. Agora,
embora a conhecesse, continuava a fugir. "No, no leve o Libration: you dar uma
olhada amanh de manh", dizia-me, por exemplo. Um dia, eu afastara a lmpada de
sua poltrona: ele me pediu que a trouxesse de volta. "Voc diz que a luz o incomoda"...
"Mas preciso dela quando leio." Corrigiu-se: "Bem, quando folheio um livro."
Na verdade no podia j folhear um livro ou llo. Embora quisesse sempre reter por um
momento, em suas mos, os novos volumes que eu lhe trazia. Estava muito entorpecido
intelectualmente para sofrer muito com sua invalidez. Este equilbrio duraria? E valeria
a pena desej-lo?
De acordo com o gama-encefalograma, no havia nenhuma anomalia em seu crebro.
No entanto, s vezes deixava escapar palavras estranhas. Uma manh, enquanto lhe
dava seus remdios, disse-me: "Voc uma boa esposa." Na quarta-feira, 12 de
dezembro, na reunio do Ls Temps Moderns, cochilava. Ainda assim, ouviu-me
atentamente,
noite, quando lhe li, no L Monde, uma crtica de diversos livros sobre ele.
A 15 de dezembro, um sbado, ao chegar a sua casa, encontrei-o sentado a sua mesa de
trabalho, e ele me disse em tom desolado: "No tenho ideia algumal" Tinha que
redigir um apelo em favor do Libration, qe ia muito mal. Aconselhei-o a dormir um
pouco; e depois trabalhamos juntos. Ele tinha dificuldade em concentrar-se, mas,
de toda maneira, deu-me as indicaes necessrias. Gavi veio buscar o texto e aprovou-
o. Um pouco depois, li para Sartre, que estava muito satisfeito com este,
o fim de um pequeno livro muito bom de Genevive Idt sobre Ls mots. Contudo, uma
vez mais, ele me partiu o corao. Olhou para seu escritrio: " estranho pensar
que este apartamento meu." "Ele muito bom, sabe." "No gosto mais dele." "Como?
Agradava-lhe tanto." "A gente se cansa das coisas." "Voc se cansa rpido: eu
estou no
89
#meu h dezoito anos e sempre me sinto bem l." "Sim, mas aquele o lugar onde j
no trabalho. " Alguns dias depois, lendo-lhe uma passagem da correspondncia
de Baudelaire, disse-lhe que era preciso ler uma obra sobre Louise Colet. "F-lo-ei to
logo retome a Paris", respondeu-me ele. Depois, retificou: "Depois que estiver
instalado em minha vida." O apartamento novo, sua nova forma de existncia, tudo isso
fazia com que j no se sentisse ele mesmo.
Ele, que sempre se considerou to lcido, continuava a negar a evidncia no que se
referia a sua viso. Como, a uma de suas perguntas, respondesse, com precauo,
que jamais a recuperaria completamente, ele me disse: "No quero pensar nisso. Alis,
acho que estou enxergando um pouco melhor." Almoando com ele, Contat
perguntoulhe
como aceitava a situao, ele respondeu: "Evidentemente, ela s suportvel se
considerada provisria."
De um modo geral, fazia o possvel para que essa preocupao no transparecesse.
Passamos em minha casa, ele, Sylvie e eu, um rveillon muito feliz. Ele andava melhor
nesse final de dezembro, cochilava menos e, por momentos, eu reencontrava
inteiramente o Sartre de antes: por exemplo, na reunio do Ls Temps
Modernes de
2 de janeiro de 74. Outras vezes, tornava a ficar aptico. A 8 de janeiro, por volta das
sete e meia, quando chegou a sua casa, tinha uma expresso apagada, to
esttica, que Lanzmann, que passara um momento para ver-nos, ficou aterrado. Ao
partir, beijou Sartre, e Sartre lhe disse: "No sei se voc beija um pedao de tumba
ou um homem vivo" - coisa que nos deixou petrificados. Dormiu um pouco, depois
ouviu France-Musique. No fim da noite perguntei-lhe o que tinha querido dizer: "Nada.
Era uma brincadeira." Insisti. Ele se sentia vazio, no momento no tinha vontade de
trabalhar. E depois, dirigiu-me um olhar ansioso e quase encabulado: "J amais
recuperarei meus olhos?" Respondi-lhe que temia que no. Era to dilacerante que
chorei a noite inteira.
90
1974
Alguns dias depois, o Professor Lapresle repetiu-me por telefone que Sartre ia muito
bem, que no tinha necessidade de
tornar a v-lo antes de trs meses, e era
normal que ele, para no encarar uma verdade muito penosa, se refugiasse no sono.
Relatei a Sartre que, segundo Lapresle, sua sade estava excelente. "E meus olhos,
que disse de meus olhos?" Havia em sua pergunta uma mistura pungente de angstia e
de esperana. "Os olhos no so assunto dele", disse-lhe. "Mas tudo esta ligado",
disse Sartre. E dormiu. Eu estava arrasada. terrvel assistir agonia de uma esperana.
Continuou a dormir nos dias seguintes, enquanto eu lhe lia a correspondncia de
Baudelaire, depois L fils de Ia servante de Strindberg. Durante um almoo com Sylvie,
estava to silencioso que lhe perguntei: "Em que est pensando?" "Em nada. No estou
presente." "Onde est?" "Em nenhum lugar. Estou vazio." Esse tipo de ausncia
era frequente. No final de janeiro, trabalhei com ele uma manh, revendo uma de suas
entrevistas com Victor e Gavi: ele pegou no sono. Estava cada vez mais pessimista
no que se referia sua viso. Disse-me que a nvoa tornava-se mais espessa. Durante
um almoo no La Coupole disse-me tambm: "Tenho a impresso de que minha viso
no ter cura." Continuou: "Quanto ao resto, you bem." E com ar tmido: "Continuo to
inteligente quanto antes?" "Sim, claro que sim", disse eu. E acrescentei:
"Meu querido, voc no est alegre!" "No h razo para alegria."
Deixara de fumar quase que inteiramente e, um outro dia, perguntei-lhe: "Isso o
incomoda muito?" "Isso me deixa triste." Outra vez, disse-me: "Bost falou com seu
amigo Cournot. Ele disse que, depois do que eu tive, so necessrios dezoito meses para
recuperar-se completamente." "Veja s! A mim ele havia dito doze meses."
Ento, Sartre respondeu com voz um pouco seca: "Voc no
91
#acha que em dois meses terei recuperado a viso."27 "Ele confundia a viso com seu
estado geral.
Eu marcara uma hora com o doutor Ciolek. Ele me havia dito que Sartre no ficaria
cego, mas que nunca recuperaria a viso em sua totalidade. Pedi-lhe que no lhe
contasse a verdade de maneira muito brutal. Quando fomos v-lo, no final de janeiro,
ele disse a Sartre que sua viso no piorara. Mas quando este lhe perguntou
se voltaria a poder ler, Ciolek foi evasivo. No corredor do prdio, Sartre me disse: "Ele
no parece pensar que poderei voltar a ler e a escrever." Fez uma pausa,
como que assustado por suas palavras, e acrescentou: "Durante muito tempo."
No dia seguinte, conversamos sobre a maneira pela qual poderia tentar trabalhar
enquanto esperava. E subitamente, logo antes de deitar-se, proferiu em tom duro:
"Meus olhos esto perdidos ...pelo que todo mundo me diz." No dia seguinte, em sua
casa, pegou um livro da Srie Noir, colocou-o debaixo de sua forte lmpada:
"Quero ver o ttulo." Decifrou-o corretamente, quando frequentemente no podia sequer
ler as manchetes dos jornais: infelizmente, isso no provava grande coisa.
Conservava certa margem de viso, mas muito reduzida. No dia seguinte, perguntei-lhe
se desejava que tentssemos trabalhar. "No ainda, no imediatamente." Ele,
que normalmente era to pouco suscetvel, no que se referia a seus olhos, adotava
rapidamente uma atitude obstinada. Percorrendo a passagem coberta do jardim interno
de seu prdio, percebi ao longe nossa imagem numa porta de vidro: "Somos ns!",
exclamei, irrefletidamente. "Ah Por favor, no faa maravilhas ticas", disse-me
mal-humorado.
Os mdicos o enchiam de remdios que provocaram novamente sua incontinncia
urinria e fizeram com que perdesse o controle dos intestinos. Ao voltar para casa uma
tarde, sujou-se. Ajudei-o a contornar a situao,
27. O ataque ocorrera dez meses antes.
92
mas temia que esses problemas se agravassem e ele sofresse com isso. Zaidmann disse
tratar-se do efeito normal de determinados remdios, que a presso de Sartre
estava excelente, seus reflexos, perfeitos.
Uma coisa me espantava: ele, que antes no queria nunca consultar mdicos, queixava-
se agora de que Ciolek, Lapresle no se ocupavam suficientemente dele. Desejava
rever em Roma o oculista que o tratara no vero anterior: gostava muito dele, porque
alimentara suas esperanas.
Intelectualmente, no incio de fevereiro, comeou a reagir. Por no poder ver as pessoas,
quando estas eram numerosas, fechava-se em si mesmo. Mas, na reunio do
Ls Temps Moderns em fevereiro, surpreendeu todo mundo, por sua presena, sua
inteligncia. Deu boas ideias quanto a artigos e pesquisas.
No meio dessa reunio, Vidal-Naquet telefonou para protestar contra dois artigos do
Libration, publicados a
20 e 21 de fevereiro, sob o ttulo: "Um point de vue sur ls prisionniers syriens en
Israel." Eles acusavam a mim e a Sartre por havermos assinado um apelo "pela
liberao dos prisioneiros israelenses na Sria", publicado no L Monde e assinado,
tambm, por Frdric Dupont, Max Lejeune, Ceccaldi-Raynaud. Ns tnhamos enviado,
imediatamente, um esclarecimento, repudiando qualquer solidariedade com esses co-
signatrios. O Libration tambm nos atacava. Sartre respondeu incontinenti, no
prprio Libration, aos autores dos artigos, acusando-os de m f.
Nessa poca, aceitou dirigir com L Dantec e L Bris A ambos, como ele, ex-diretores
de La Cause du Peuple - uma coleo, La France Sauvage, que foi iniialmente
editada pela Gailimard, depois pelas Presses de hoje. Redigiram, em conjunto, um texto
de apresentao.
A Frana selvagem. De certa maneira o pas 'real' face ao pas 'legal'. Ou ainda:
selvagem como se diz que uma greve selvagem. O que no impli-
93
#ca arcasmo, nem necessariamente violncia: no fundo, trata-se de um processo de
efervescncia, num ponto da superfcie social, que leva um grupo social a erguer-se,
a afirmar-se na agitao, como comunidade livre, fora de todo marco institucional que o
coagisse ...
Ns escolhemos a esperana. Ousamos apostar numa ruptura possvel, um movimento
de conjunto da humanidade para a liberdade - que s pensvel a partir das
confluncias
das selvagens da plebe ...
Isso significa que o objetivo desta coleo , ao mesmo tempo, modesto e ambicioso.
Modesto, porque nos propomos partir de fatos e retomar permanentmente a estes.
Ambicioso, porque nos parece que esta uma via de acesso a um pensamento possvel
da liberdade.
O primeiro volume da coleo era um trabalho de L Bris sobre a Occitnia, que li para
Sartre e que nos apaixonou. Em La France Sauvage deveria ser publicado - e
o foi - o conjunto das entrevistas de Sartre com Victor e Gavi, as ltimas das quais se
realizaram em maro. Faziam o balano de suas discusses. O lucro para Sartre
foi que "reaprendera" a teoria da liberdade. Reencontrava a "possibilidade de conceder
uma luta poltica dirigida para a liberdade". Para ele, "o dilogo, do incio
ao fim, foi a captao cada vez mais precisa, cada vez mais progressiva, da ideia de
liberdade".
No entanto, o equilbrio moral de Sartre continuava precrio. De tempos em tempos
tentava trabalhar: isso consistia em traar no papel sinais ilegveis. No final
de fevereiro, almoamos em casa dos Rybeirolle. Num beco sem sada que dava para a
Rua Falguire, eles tinham um amplo ateli, parte do qual estava agradavelmente
arranjado para moradia; na outra parte, Rybeirolle trabalhava. Antes do almoo,
mostrou-nos suas ltimas telas, e Sartre disse com tristeza: "No posso v-las."
E acrescen-
94
tou: "Espero que dentro de alguns meses possa v-las." Ele sabia agora que isso era
falso; mas queria acreditar que o tempo trabalharia a seu favor.
A 17 de maro, almoamos com Sylvie no L'Esturgeon, um restaurante de Poissy do
qual gostvamos em nossa juventude por causa de seu terrao fechado que se inclinava
sobre o Sena e no qual crescia uma grande rvore. Sartre estava satisfeito por estar ali.
Estava achando a comida excelente, o que era raro. No entanto, como ocorria
to frequentemente, estava ausente. noite, foi para J unas com Arlette, que me
telefonou nos dias seguintes: ele estava bem e dormia muito.
"Agora sim, minhas verdadeiras frias vo comear" - disse-me ele, alguns dias depois,
quando nos encontramos em Avignon. Em companhia de Sylvie, amos partir para
Veneza. Fomos de trem para Milo, onde ficmos, como de hbito, no Hotel de Ia
Scala: foi l que tnhamos ficado em 1946, quando havamos descoberto a Itlia, com
tanta felicidade. Um outro trem levou-nos a Veneza. Uma gndola conduziu-nos ao
Hotel Mnaco, no Grande Canal, perto do desembarcadouro da Praa So Marcos.
Instalamo-nos
em quartos que davam para o canal. Pela manh, tomava o caf com Sartre, em seu
quarto, e lia para ele. Por volta da uma hora, comamos um sanduche, no cais, em
pleno sol, ou dentro do Florian, conforme o tempo: era um tempo incerto, ora muito
bonito, ora encoberto; muitas vezes, noite, uma bruma espessa envolvia inteiramente
a Praa So Marcos. Enquanto Sartre fazia a sesta, eu passeava com Sylvie e, em torno
das cinco horas, saamos os trs juntos; mostrei a Sartre o antigo gueto,
revimos o bairro de Rialto; estivemos no Lido:
odos os hotis estavam fechados; tivemos diculdades em encontrar um pequeno
restaurante, na praia, e ali, envoltos por uma bruma agradvel, almoamos frugalmente.
A noite, os trs jantvamos num dos lugares de que gostvamos e tomvamos um
usque no bar do hotel.
Em Veneza, Sartre sempre se sentia bem; mas, de quando em quando, ficava
intranqilo. Uma manh em
95
#que eu lia em seu quarto, o tempo estava to bonito, que decidimos descer para o
terrao beira d'gua; eu quis levar o livro: "Mas por qu?", disse ele. E acrescentou:
"Antes, quando eu era mais inteligente, no se lia: conversava-se." Protestei, dizendo
que, se eu lia para ele, era por causa de seus olhos; e, no terrao, ao sol,
falamos. Na verdade, ele conservava sua inteligncia, comentava nossas leituras,
discutia-as. Mas muito rapidamente deixava morrer a conversa, no fazia perguntas,
no emitia ideias. No se interessava por muita coisa, em plano algum. Em
compensao, obstinava-se em rotinas, em hbitos que mantinha por princpio,
substituindo
o verdadeiro prazer por fidelidades rgidas.
Um jornal publicou uma fotografia nossa e deu o nome de nosso hotel. Alguns
importunos tentaram encontrar-nos. Mas tivemos, tambm, o prazer de receber um
telefonema
de Mondadori28, que veio tomar um aperitivo conosco no bar do hotel: deixara crescer
a barba, envelhecera e gaguejava muito. Separara-se da mulher, a bonita Virgnia.
Estava acompanhado de um amigo, um maestro que dirigia, no Fenice, a ltima pera
de Donizetti, Maria di Rohan. No dia seguinte, um domingo tarde, realizar-se-ia
o espetculo. O teatro estava lotado, mas ainda assim eles nos conseguiram trs lugares
no camarote real. Ficamos encantados com o magnfico belcanto e com os
admirveis intrpretes. Mas, para Sartre, o palco era um buraco escuro, o que o
entristeceu. De um modo geral, preocupava-se mais do que nunca com seus olhos,
talvez
porque sentisse mais desejo de ver. uando lhe perguntei, na hora da partida, se tivera
uma boa estada, respondeu-me com entusiasmo: "Oh! Sim." E acrescentou: "Salvo
quanto a meus olhos."
Na tera-feira, 2 de abril, noite, instalamo-nos num vago-leito, em cabines contguas
e comemos croissants de presunto regados a merlot. Os ferrovirios italianos
esta-
28. O filho de nosso editor, com quem, em 1946, viajamos pela Itlia e que revimos
muitas vezes depois (ver La force ds choses).
96
vam em greve e partimos com uma hora de atraso. Pela manh, o camareiro nos trouxe
ch completo e anunciou-nos a morte de Pompidou. Alguns viajantes estavam em
pnico: viam desencadear-se a anarquia. Presa de violenta agitao, uma senhora se
lamentava: "A Bolsa vai quebrar!"
Para no retomar imediatamente seus hbitos parisienses, Sartre ficou alguns dias na
minha casa. No sbado pela manh, acompanhei-o ao consultrio de Ciolek: a presso
ocular estava boa, j no havia hemorragia; era normal que, no teatro, mergulhado na
escurido, tivesse ficado muito ofuscado pelas luzes do palco, no podendo,
assim, enxergar nada. Ao sair, Sartre parecia bastante contente: "Em suma, estou bem,
tudo est em ordem", disse-me. E acrescentou, mas sem abatimento: "Ele parece
dizer que nunca recuperarei totalmente a viso." "No, voc no a recuperar
totalmente", disse eu, deixando vago o que seria ou no recuperar. No entanto, pela
primeira vez, Sartre falava de Ciolek sem antipatia. Creio que, em Veneza, sentira medo
de ficar totalmente cego e ficara aliviado ao saber que sua viso estava
estabilizada. Ainda assim, depois de ver o diabetlogo e o Professor Lapresle, ambos
satisfeitos com seu estado geral e tendo simplificado sua medicao, disse-me
mais uma vez numa voz desolada: "Meus olhos? No os recuperarei!"
Apesar de um tempo primaveril, e at mesmo estival, ele estava bastante sombrio:
"Tenho a impresso de viver sempre o mesmo dia: vejo voc, vejo Arlette, mdicos
...e isso se repetel" Acrescentou: "Mesmo no que diz respeito s eleies ...Vm
procurar-me, fazem-me falar, mas bem diferente da uerra da Arglia." Disse-lhe
que tinha um pouco a mesma impresso em relao s feministas. " a idade", concluiu
ele sem muita melancolia.
A 13 e 14 de abril, Sartre deu uma entrevista ao Libration sobre as eleies. Desejava a
candidatura de Charles Piaget (o incentivador da luta de Lip, cujas peripcias
ele acompanhava atentamente); declarava no
97
#querer votar em Mitterrand. "Acho que a Unio da Esquerda uma brincadeira."
Numa entrevista com Victor e Gavi posicionou-se contra a esquerda clssica: "No
acredito que os governos de esquerda possam tolerar nossa maneira de pensar. No vejo
por que votar em pessoas que pensam apenas em destruir-nos." Disse ento que
votaria com prazer em Piaget, porque tinha certeza de que no seria eleito. "No sei se
votaria em Piaget se ele pudesse eleger-se", concluiu rindo.
A 28 de abril, em companhia de Gavi e Victor foi apresentar em Bruay On a raison de
se rvolter, o livro - ainda indito - que acabavam de terminar. Havia em Bruay
um comit J ustia e Liberdade que os convidara. Reviu ex-militames, mas o encontro
no foi frutfero. O livro foi publicado nos primeiros dias de maio, na coleo
La France Sauvage. No L Monde apareceram, imediatamente, duas crticas muito
favorveis. Sartre as discutiu com Victor, Gavi e Marcuse, com quem se encontrava
pela primeira vez. Sua amiga grega estava presente a entrevista e a relatou num artigo
para Libration. A 24 de maio, ele enviou uma mensagem a esse jornal, demitindo-se
de suas funes de diretor. Por motivos de sade, abdicava de todas as
responsabilidades que assumira na imprensa esquerdista.
Ele assinara muitos textos desde o incio de 1974. Em janeiro, no Libration, um texto
redigido pelo G. I.A. (Groupe d' informations asiles) sobre o caso J erme
Duran, um antilhano vtima, em Amiens, de um internamento abusivo. No mesmo
jornal, a 27 de maro, junto com Alam Moreau, um comunicado referente queixa
apresentada
por Alexandre Sanguinetti contra uma entrevista de Alain Moreau, publicada a 9 de
janeiro no Lbration.
No incio de junho, Sartre ia realmente bem. Achava-o mesmo 'transformado'. J no
cochilava, refletia sobre um livro que queria escrever sobre ele mesmo. Conversvamos
como antes. Passvamos noites muito animadas com Sylvie e uma vez jantamos muito
alegremente
98
com Alice Schwarzer. Um dia, sugeri que, durante as frias, gravssemos entrevistas
sobre ele: literatura, filosofia, vida privada. Ele aceitou. "Isso remediar
isto", disse-me, apontando seu olho com um gesto comovente.
Sylvie nos levou uma noite pera, para ouvir As vsperas sicilianas. Sartre vestia uma
camisa branca e uma gravata comprada adrede: isso constitua para ele uma
espcie de disfarce que o divertia. Apreciou o espetculo; continha falhas de
distribuio, mas rias muito bonitas e coros magnficos. A mise-en-scne, os cenrios,
os trajes eram notveis. Infelizmente, sua beleza mais ou menos escapou a Sartre,
embora ali estivesse vendo melhor do que em Veneza. Apesar de tudo, estava muito
alegre quando fomos, depois, cear no La Cloche d'0r.
Na noite das eleies, Sartre passou antes na minha casa e deu de presente a Sylvie uma
gravao da pera de Verdi. Depois, fomos at casa de Lanzmann, para acompanhar
os resultados pela televiso. Alis, estes no nos emocionaram muito. O fato de caber a
Giscard a desastrosa herana de Pompidou no constitua uma tragdia.
Durante este final de junho, Sartre continuava a passar muito bem. Parecia quase
resignado com respeito a sua semicegueira. Comemoramos com Sylvie seu sexagsimo
nono aniversrio e ele comeu com apetite o delicioso jantar que ela preparara.
Brindamos com prazer.
S uma coisa o preocupava; sua amiga grega parecia-lhe, no apenas muito exaltada,
mas em vias de enlouquecer, no sentido literal da palavra. Fez um escndalo pblico
numa rua de Auteuil e foi enviada para Sainte-Anne, de onde saiu para internar-se no
hospital da Cite Universitaire. O psiquiatra nos disse que talvez se tratasse
de um "surto delirante", mas ela parecia muito atingida, quando no sbado, 5 de julho,
acompanhei Sartre, pela manh, ao Bulevar J ourdan. Aguardei numa salinha,
enquanto ele ia v-la em seu quarto. Uma hora depois, vieram ter comigo. Vestindo um
camisolo branco, os cabelos soltos, o rosto emagrecido, era a imagem
99
#clssica da louca, tal como a mostra o cinema. Cumprimentou-me com a cortesia
habitual. Sartre e eu chamamos um txi e fomos almoar no Balzar. A entrevista com
Melina o deixara bastante mobilizado. Ela se mostrara hostil em relao a ele. Acusava-
o de ser responsvel por sua internao e exigia que a fizesse sair. Ele protestara.
"Voc fez com que trancafiassem Althusser", retorquiu ela. (Na Sorbonne, seguira
cursos de Althusser que acabava de ser hospitalizado em consequncia de uma
depresso
nervosa.) Seu pai, chamado a Paris, deveria lev-la para a Grcia dentro de alguns dias.
"Creio que no voltarei a v-la nunca mais", disse-me Sartre confrangido.
Eu me sentia desolada por separar-me dele nessas condies. Sylvie veio buscar-nos.
Deixamos Sartre junto ao prdio de Arlette, com quem partiria, noite, para
J unas. Segurava na mo uma sacola de plstico na qual eu colocara seus apetrechos de
toalete. Viu-nos partir atravs de uma cortina de chuva e de suas prprias brumas.
Percorri a Espanha com Sylvie, tranquilizada quanto sade de Sartre por telegramas de
J unas, de Paris, de Florena, onde passava uma temporada em companhia de
Wanda. A viagem terminou mal. Regressando da Espanha para a Itlia, em Montpeilier,
Sylvie recebeu a notcia da morte de seu pai, fulminado por uma crise cardaca.
Aps deixar-me em Avignon, partiu para a Bretanha e eu fui de trem at Florena.
Quando me encontrei com Sartre, uma manh, no hall de seu hotel, quase no o
reconheci, por causa de seu bon e de um espessa espuma branca que lhe escondia o
queixo:
j no conseguia barbear-se e no queria, de forma alguma, recorrer a um barbeiro. No
trem para Roma, cochilou. Mas quando nos vimos na manh seguinte em nosso
apartamento-terrao,
constatei com alegria que ele estava muito bem. O barbeiro do hotel soubera conquistar
sua confiana: Sartre barbeou-se com ele, o que o remoou bastante. Depois
disso, passou a barbear-se sozinho, muito corretamente, graas a um barbeador eltri-
100
co que Sylvie lhe comprou quando veio ter conosco al-
guns dias depois.
Ela ensinou-me como utilizar um gravador, e comecei com Sartre a srie de entrevistas
de que havamos falado em Paris. Ele se dedicava a isso com entusiasmo, a
no ser em determinados dias em que se sentia um pouco cansado e nos quais no
fazamos progressos.
Afora esta inovao, nossa vida seguia mais ou menos o mesmo ritmo dos anos
anteriores: passeios curtos, msica, leitura de jornais e de alguns livros. Entre outros,
li para Sartre O Arquiplago Gulag, de Soijenitzyn, o Htler, de Fest. noite,
jantvamos no terrao de nossos restaurantes prediletos.
Uma noite, quando voltvamos a p por ruelas escuras, uma mo sada de um carro que
passava por ns segurou minha bolsa; tentei conserv-la, ainda assim a arrancaram
de mim e ca estendida no cho. Sartre e Sylvie ajudaram-me a chegar ao hotel que
estava bem prximo. Foi chamado imediatamente um mdico que disse que meu brao
esquerdo fora deslocado; fez uma bandagem, e, no dia seguinte, engessei-o. Tais
agresses eram muito frequentes naquele ano, e nunca mais samos
a p noite.
Sylvie levou de volta o carro para Paris. Os Bost nos fizeram uma visita rpida. Quando
ficamos sozinhos, gravamos vrias entrevistas. Saamos pouco, porque em meados
de setembro desencadearam-se temporais e chuva.
Retornamos a Paris a 22 de setembro, e Sartre instalou-se novamente, sem prazer,
naquela moradia onde "j no trabalhava". Tendo Sylvie ido passar uma noite com
ele, Sartre lhe disse: "Veio ver a casa do morto?" E, como pouco depois eu o
interrogasse: " isso mesmo! Sou um morto-vivo", respondeu-me. Isso foi antes que
retomasse
uma atividade. Depois, passou a sentir-se muito mais vivo do que morto. Continuamos
nossas entrevistas e ele se dizia inteiramente feliz. Mesmo em relao a sua
semicegueira, resolvera resignar-se e sentia-se orgulhoso por haver conseguido adaptar-
se to bem. Uma de suas
101
#primeiras providncias consistiu em enviar uma carta a Giscard d'Estaing, pedindo-lhe
que Benni Lvi (Pierre Victor) fosse naturalizado o mais rapidamente possvel.
Giscard respondeu-lhe a 30 de setembro, com uma carta de prprio punho, na qual
evitava cham-lo de mestre, prometendo-lhe obter muito rapidamente a naturalizao
desejada e concluindo: "Pelo que escreve, tudo nos separa. No estou to certo disso.
J amais pensei que os seres s se distinguissem por suas concluses. Existe
tambm sua busca e o senhor bem o sabe." A naturalizao foi obtida muito rpido, e
Sartre escreveu uma carta breve de agradecimento.29 Victor quis comemorar o
acontecimento
dando uma festa, para a qual convidou todos os seus ntimos, e como Sartre e eu
pretendamos comparecer, Liliane Siegel emprestou seu apartamento, para facilitarnos
as coisas.
Ele recomeou a assistir s reunies de Ls Temps Moderns. A 2 de outubro, todos os
que estavam presentes - Etcherelli, Pouillon, Horst - o acharam transformado.
Revia os colaboradores do Libration. A 15 de outubro, foi publicado no L Monde um
apelo de Sartre ejuly, redigido por este ltimo: "Salvem o Libration. "O jornal,
afogado em dvidas, tivera que suspender sua publicao; Sartre e J uly apelavam ao
pblico para que levantasse os 77 milhes de francos antigos necessrios sua
sobrevivncia. Continuava suas discusses com Victor;
tinha muitos encontros; eu lia para ele, durante a tarde e em algumas noites, os livros de
que queria tomar conhecimento (os escritos polticos de Gramsci, uma reportagem
sobre o Chile, os ltimos Ls Temps Modernes, um estudo sobre L Surralisme et ls
Revs, La vie de Virgnia Woolf por Quentin Bell). Ele j no cochilava: para
comer, fumar, dirigir-se, sua adaptao motora era quase perfeita. "Vai tudo bem,
garanto-lhe", dizia-me gentilmente. "Voc l para mim, trabalha-se, vejo o suficiente
29. A isso se limitou a correspondncia entre Sartre e Giscard, alardeada por alguns
jornais aps a morte de Sartre.
102
para dirigir-me. Vai tudo bem." Admirava essa serenidade reconquistada. (Em verdade,
que serenidade? Seria o orulhoso consentimento do sbio? A indiferena de um
homem velho? A vontade de no ser um peso para os outros? Como decidir? Sei, por
experincia, que tais estados d'alma no so formulveis. Orgulho, sabedoria, e
preocupao com seu entourage no permitiam a Sartre queixar-se, mesmo em seu foro
ntimo. Mas que sentia em seu interior? Ningum poderia responder, nem mesmo
ele.)
A 16 de novembro, Sartre assinou uma declarao de rompimento com a Unesco que se
recusava a incluir Israel numa regio determinada do mundo. Foi nesse momento
que Clavel lhe props que fizesse, na televiso, uma srie de entrevistas sobre si prprio.
De incio, recusou: at ento, com uma ou duas excees, recusara qualquer
participao pessoal na televiso, para no afianar um organismo do Estado.30 Mas,
discutindo com Victor e Gavi, veio-lhe a ideia de produzir programas sobre a
histria deste sculo, tal como a vivera ou acompanhara desde seu nascimento. Eu
estava de acordo. Ele esperava agir sobre o pblico, renovando profundamente a viso
de nossa histria recente; Mareei J uilian, diretor-presidente da Antenne 2 parecia
encarar este projeto com bons olhos: assim, a televiso giscardiana provaria
que se liberalizava. A 19 de novembro, Sartre deu uma entrevista a Libration sobre a
questo. No tinha iluses: "Vamos ver at onde se pode ir", declarava.
No momento, tinha outros focos de interesse. No Libration de 21 de novembro
publicou uma carta na qual protestava contra a recusa das autoridades alems ie
permitir-lhe
que se encontrasse com Andreas Baader. Era um caso no qual se sentia engajado. Numa
entrevista dada ao Spiegel, em fevereiro de 1973, justificara em certa medida,
as aes da R.A.F. Em maro de 1974, tinha sido publicado no Ls Temps Modernes
um artigo
Ele tomara esta resoluo por ocasio das greves da televiso e do rdio.
103
#de Sjef Teuns sobre "a tortura por privao sensorial" que era infligida a Baader e a
seus companheiros; no mesmo nmero fora publicado um artigo annimo sobre
"os mtodos cientficos de tortura" e um outro, do advogado de Baader, Klaus
Croissant: "A tortura por isolamento." A seguir, Klaus Croissant tinha solicitado licena
para constatar pessoalmente as condies de deteno de Baader, e decidira faz-lo. A 4
de novembro, solicitara o direito de encontrar-se com Baader em sua priso,
tendo como intrprete Daniel Cohn-Bendit. Sua resoluo foi reforada ao ser
anunciada a morte, na priso, de Holger Meins, consecutiva a uma greve de fome. A
carta
de Sartre, em Libration, considerava a recusa alem como "puramente dilatria".
Pouco depois de sua publicao, Alice Schwarzer pediu-lhe uma entrevista para Spiegel
sobre a questo, a qual foi publicada a 2 de dezembro. Sartre obtivera finalmente
permisso para falar com Baader e explicou os motivos de sua interveno: desaprovava
as aes violentas da R.F.A. no contexto alemo atual, mas fazia questo de manifestar
sua solidariedade a um militante revolucionrio encarcerado e de protestar
contra o tratamento que lhe era infligido.
A 4 de dezembro, foi, pois, a Stuttgart; acompanhado por Pierre Victor, Klaus Croissant
e Cohn-Bendit falou durante mais ou menos meia hora com Baader. O automvel
que o conduziu priso de Stammheim era dirigido por Bommi Bauman, um terrorista
repeso, que relatou sua experincia em La France Sauvage. 31 No mesmo dia, Sartre
deu uma entrevista coletiva imprensa (cujos excertos foram publicados no Libration e
no L Monde); com Heinrich Boll, lanou um apelo, por televiso, pela constituio
de um comit internacional que protegesse os presos polticos. Sua interveno suscitou
uma violenta campanha contra ele na R.F.A. Deu uma outra entrevista coletiva
imprensa em Paris, a 10 de dezem-
31. Ele retomou esse relato, completando-o, alguns anos depois, sob o nome de Klein: o
titulo desse novo livro La mort mercenaire. As duas verses foram prefaciadas
por Cohn-Bendit.
104
bro, com a participao de Klaus Croissant e de Alain Geismar. Mais tarde, consagrou
uma entrevista a Baader, televisionada, para Sateilitte e transmitida a 22
de maio de 1975. Ele no tinha iluses sobre o alcance de sua visita a Stammheim:
"Penso que esta visita foi um fracasso", disse. "A opinio alem no se modificou.
Talvez at a tenha levado a obstinar-se contra a causa que eu pretendia defender. Por
mais que dissesse que no estava considerando os atos de que Baader era acusado,
mas que apenas considerava as condies de sua deteno, os jornalistas julgaram que
eu apoiava a ao poltica de Baader. Creio que tudo isso foi um fracasso, o
que no impede que, se tivesse que repeti-la, eu a repetiria.32 Em outra ocasio,
afirmou: "O que me interessa so os motivos da ao do grupo, suas esperanas,
suas atividades e-de maneira geral - seu pensamento poltico."
Pouco antes de partir para a Alemanha, a 2 de dezembro, Sartre, Victor e Gavi haviam
apresentado On a raison de se rvolter no curso de um debate que se desenrolou
na Cour ds Miracles. Tratava-se de um lugar de reunio financiado por um amigo de
Georges Michel que lhe confiara sua direo artstica. Georges Michel descobrira
o lugar e o arrumara, com ajuda de dois arquitetos amigos seus. Havia l um cinema,
uma sala de teatro, lojas de artesos, uma cafeteria muito barata. Nessa ocasio
- e depois em muitas outras - Georges Michel colocou a sala de teatro disposio de
Sartre.
Este tinha ento inmeras atividades. A 17 de dezembro, entrevistou-se, na Casa do
J apo, com estudantes desejosos de compreender os vnculos de sua filosofia com
sua poltica. O texto, coligido por Michel Contat, foi publicado em 1975 num jornal
japons. Assinou um apelo exigindo a libertao de soldados presos por haverem
reivindicado direitos democrticos no seio do exrcito. A
28 de dezembro, aps um acidente que fez 43 mortos na mina de Livin, Sartre
reproduziu em Libration o requi-
32. Em sua entrevista com Michel Conta: "Autoportrait soixante-dix ans".
105
#sitrio que pronunciara em Lens contra as Hulheiras. Acrescentou um texto curto, pelo
qual transmitia esse documento ao juiz Pascal, encarregado da instruo do
processo. J unto com Foucault deu uma entrevista coletiva imprensa a respeito do
assunto.
O essencial de suas ocupaes eram as discusses que tinha, trs vezes por semana, com
Victor, Gavi e eu em relao aos programas que queramos preparar para a
televiso. Tnhamos interrompido nossos dilogos - que uma datilgrafa comeava a
transcrever, com muitas dificuldade, em consequncia da rapidez de nossa maneira
de falar e da interveno barulhenta dos sinos de Roma durante nossas conversas. O
projeto dos programas nos absorvia inteiramente. Alm de nossas reunies de trabalho,
Sartre e eu falvamos muito sobre o assunto; com sua escrita quase ilegvel, ele anotava
reflexes, sugestes. Victor, por sua vez, entre um e outro encontro, lanava
ideias no papel e estabelecia contatos. Pensvamos apresentar dez programas sobre a
histria do sculo; cada um teria a durao de setenta e cinco minutos e seria
seguido de uma sequncia de quinze minutos, dedicada a problemas da atualidade
ligados ao tema principal. Em menos de dois meses conseguimos esboar seis sinopses,
cujo desenvolvimento exigiria a colaborao de grupos de historiadores. Havamos
procurado jovens pesquisadores, muitos dos quais eram companheiros de Victor e de
Gavi.
1975
A primeira pergunta que se colocou dizia respeito ao realizador. Sartre desejaria que
Truffaut trabalhasse com ele. Acompanhado de Liliane Siegel, que o conhecia
bem, a 31 de dezembro, Truffaut subiu ao apartamento de Sartre. Ele no estava
disponvel; aconselhou a Sartre que se dirigisse a Roger Louis, que dispunha de meios
106
substanciais. Roger Louis, grande reprter e realizador da televiso, demitira-se em
1968; explicara-se a respeito num pequeno livro muito vigoroso, O.R.T.F., mon
combat. Fundara, ento, uma cooperativa de produo independente, Scopcolor, que
possua amplas instalaes em Belleville. Aceitou ajudar-nos em nosso
empreendimento,
que assim escapava tutela da televiso oficial. Negociamos com deline nossa recusa
de sua equipe de tcnicos, e obtivemos nossa autonomia. Faltava-nos escolher
os metteurs en scne. Pensei em Luntz, cujo Ls coeurs verts muito apreciara. Ele
organizou para ns uma projeo de seu ltimo filme: este descrevia o dia de um
dos heris de Coeurs verts, Loulou, que saa da priso aps cinco anos de deteno.
Sartre, que via um pouco, quando bem perto da tela, e ajudado pelo texto, gostou
bastante do filme e eu tambm; Gavi e Victor no o achavam suficientemente poltico,
mas no se opuseram. Roger Louis sugeriu Claude de Givray e, depois de ver alguns
dos programas que ele realizara na televiso, concordamos. Ambos aceitaram, embora
sem nenhuma garantia de nossa parte, prestar sua colaborao.
No final de dezembro, J ulhan filmara, no escritrio de Sartre, um curta-metragem de
seis minutos, no qual Sartre, Victor, Gavi e eu anuncivamos nosso projeto: isso
nos tomou uma manh inteira; ficamos satisfeitos quando vimos sua projeo alguns
dias depois. Deveria ser exibido a 6 de janeiro, durante uma emisso na qual J uilian
apresentaria pomposamente seu programa do ano: no foi exibido. Um ms antes, Gavi
cometera uma gafe que nem Sartre nem eu conseguimos entender: escrevera no
Libration
que, se Sartre aceitava trabalhar para a televiso, era no intuito de ridiculariz-la. J uilian
disse a Sartre que no podia mostrar Gavi no vdeo, to pouco tempo
depois desse artigo. Afirmamos to enfaticamente nossa solidariedade a Gavi, que
J uilian desistiu de suprimir sua interveno. Finalmente, nossa apresentao foi
projetada, a 20 de janeiro, mas censurada.
Entrementes, houvera, a 5 de janeiro, uma reunio de historiadores, muitos dos quais
vindos do interior; na
107
#ausncia de Sartre, Victor a presidiu. A 7, encontramonos, em casa de Liliane, com
J uilian e seu brao direito, Wolfromm, para precisar determinados pontos. Entre
outros, problemas de dinheiro: Victor e Annie Chnieux eram assistentes de produo e
ainda no tinham recebido nada; Sartre teve que pag-los do prprio bolso.
As seis primeiras sinopses haviam sido enviadas a J uilian a 20 de janeiro, apesar disso,
a 22, ele depositou uma "remunerao de 13.500 francos, como adiantamento,"
constituindo um pagamento parcial sobre o preo da cesso, cujo conjunto de condies
ficava por negociar. Foram necessrios quinze telefonemas para obter este
adiantamento.
Alm dos encontros do grupo dos quatro', na casa de Sartre, trs vezes por semana,
vrias outras reunies se realizaram. A 28 de janeiro, Sartre se entrevistou com
Lumz e Givray; tornou a v-los a 18 de fevereiro. A 1 de fevereiro, os historiadores
estavam reunidos e, depois disso, encontraram-se em sesso plenria uma vez
por ms, nas instalaes de Scopcolor. Estavam divididos em vrios grupos, que
trabalhavam separadamente, sobre os diversos temas que lhes havamos proposto;
durante
essas A.G.* expunham os resultados obtidos. Havia especialmente um grupo de
mulheres que desejava esclarecer o papel das mulheres durante esses setenta e cinco
anos,
papel muito importante que, no entanto, fora mais ou menos encoberto. Como sabamos
que o material muito rico que nos traziam no podia ser todo ele utilizado, pensamos
em faz-lo publicar em livros que acompanha riam cada programa. Foi combinado com
Path que nos dariam gratuitamente todos os documentos de que tnhamos necessidade.
Para resolver todos os problemas administrativos e econmicos, precisvamos de um
advogado. Escolhemos Me.* Klejman, que conhecamos muito bem, e a quem, a
* Assembleias-Gerais. (N. do T.)
* Abreviatura de matre. (N. do T.)
108
20 de fevereiro, Sartre e Victor expuseram nossos problemas. Entre outras coisas, ele os
aconselhou a exigir, o quanto antes, a assinatura de um contrato. A 6 de
maro, Sartre se encontrou, em casa de Liliane, com J uilian e Wolfromm, mas no
conseguiu estabelecer um contrato; obteve dele apenas um segundo cheque, cujo
montante
foi dividido entre os grupos de historiadores, que Kiejman ajudou a constituir-se em
uma 'sociedade civil' que devia ser considerada como o quinto autor dos programas.
J disse que, constrangido por no ver seus interlocutores, Sartre se manifestava pouco,
quando estes eram numerosos. Nas assemblias-gerais era sobretudo Victor
quem tomava a palavra, com uma autoridade que intimidava uns e exasperava outros.
No entanto, a 13 de abril, Sartre fez uma longa interveno. Foi uma sesso bastante
tumultuada. Estava combinado que os programas se organizariam em torno de Sartre e
que, se houvesse algum impasse por resolver, era ele quem decidiria em ltima
instncia. No entanto, os historiadores questionavam suas relaes com o 'grupo dos
quatro'. No queriam limitar-se a reunir documentos cujas concluses tericas
seriam tiradas por outros. Sartre tentou convenc-los de que, sendo o objetivo visado
uma obra 'esttico-ideolgica', esta exigia uma sntese que somente um grupo
muito restrito poderia realizar. Os historiadores compreendiam em parte este ponto de
vista, mas de um modo geral se sentiam frustrados. Felizmente, Scopcolor organizara
aquele dia um suntuoso almoo-bufe que desanuviou a atmosfera. Comendo e bebendo,
os participantes puderam conversar em pequenos grupos ou em tte--tte. As
discusses
da tarde foram muito mais amigveis.
No entanto, a A.G. de 10 de maio no foi muito animada. No dia eguinte, almoamos
todos juntos, distribudos em pequenas mesas, em Scopcolor, mas sem retomar a
discusso.
Ningum conservava o mesmo entusiasmo, porque o contrato continuava no tendo sido
assinado e duvidvamos um pouco que esse trabalho chegas-
109
#se a realizar-se. Apesar disso, o grupo de historiadores foi casa de Sartre uma manh,
para encontrar-se com o grupo dos quatro: mostraram-se muito cooperadores
e interessantes.
O problema de dinheiro tornava-se agudo. Na segunda-feira, 12, encontramo-nos, os
quatro, em casa de Sartre, comjuilian, a quem cada um de ns atacou enfaticamente:
evidentemente, ele no tinha boa vontade. Aparentemente, todo o problema girava em
torno da classificao da programao. Se dramtica, concedernos-iam a quantia
de que necessitvamos; sendo um documentrio, s teramos direito a um tero da
quantia. J uilian tinha de convencer Alain Decaux, presidente da Sociedade de Autores
e Compositores de Televiso, a classific-la como dramtica. Marcamos uma hora com
ele para a quarta-feira seguinte, e Sartre definia sua posio numa carta a J uilian:
J ean-Paul Sartre
Paris, 15 de maio de 1975 Sr. Mareei J uilian Presidente de Antenne 2 Rua de
1'Universit 158 Paris, 7
Ficara combinado entre ns que eu faria um trabalho de televiso; um trabalho, isto ,
um conjunto regido por uma ideia sinttica, produzido a partir de imagens,
de dilogos, de comentrios falados por aores da histria destes setenta anos (dos quais
fao parte) ou por atores representando um papel histrico.
Deve ficar claro que no pretendemos explicar todos os fatos desta histria; no
visamos ao tipo de objetividade do documentrio. Realizamos escolhas no material
histrico, e este trabalhado em funo de uma histria singular, subjetiva - a minha.
Para ser exato, fazemos um relato e com ele esperamos que o telespectador possa
discernir, a
110
partir de sua prpria histria, verdades e mentiras. Pensamos conferir um carter pico a
este trabalho, que seria como que uma saga deste sculo.
Para tal, recorremos a operaes estticas: - procedimentos simblicos (por exemplo,
uma sequncia de evocao do tema de La nause, no 3 programa),
- escrita lrica (por exemplo, a evocao da Espanha no 3 programa),
- reconstituies (por exemplo, um conselho de guerra em 1917, no 1 programa),
- cenas (Sartre representando seu papel, atores representando seu papel),
- desvios de materiais (por exemplo, materiais russos sobre Cronstadt desviados de seu
destino inicial no 2 programa).
Essas operaes so dadas a ttulo de exemplo e no so limitativas.
Para mim, conseqentemente, esse trabalho para a televiso s pode ser considerado
como dramtico, em hiptese alguma como documentrio.
Decaux foi casa de Sartre a 22 de maio; mostrouse muito amvel e compreensivo;
classificou a programao como dramtica, o que permitia esperar sua prxima
realizao.
Victor transmitiu, por carta, a boa nova aos historiadores
No entanto, as conferncias com a Antenne 2 continuavam. A 11 de junho, houve uma
reunio em casa de Wolfromm, da qual participaram pelo menos quatorze pessoas,
entre as quais, J uilian, deline, um representante de Path, Roger Louis e Pierre
Emmanuel, diretor do Institut Audovisuel. Deparvamo-nos com um problema
constrangedor:
se o filme realizado por Contat e Astruc, Sartre par lui-mme, fosse passado, poderia
desqualificar a programao para Antenne 2. A dificuldade foi
contornada graas
a uma carta dirigida por Seligmann - produtor do filme - a J uilian, na qual ele se
comprome-
111
#tia a no liber-lo antes da transmisso da srie dos dez programas, produzida por
Sartre para Antenne 2. Por outro lado, nosso advogado, Me. Kiejman, encontrou-se
a 18 de junho com M. Bredin, advogado de Antenne 2, e eles elaboraram um projeto de
protocolo de acordo, que Sartre e J uilian assinariam. Os realizadores e os historiadores
estavam, portanto, otimistas quando tiveram suas ltimas assembleias no fim de junho.
Sartre estava menos otimista quando deixou Paris a 5 de julho: a 30 de junho
escrevera uma carta a J uilian para marcar um encontro com ele; J uilian no respondera.
Embora muito ocupado com esse projeto, no decorrer do ano Sartre tivera muitas outras
atividades. Eu continuava a ler para ele; de um modo geral, eram leituras
referentes histrias destes ltimos setenta e cinco anos. Ele ouvia, gravava. Sua
inteligncia estava intata, sua memria excelente com respeito a tudo o que
lhe interessava. Mas muitas vezes mostrava-se desorientado no tempo e no espao, e
desatento ao ramerro quotidiano da vida que antes o ocupava tanto quanto a mim.
com vistas a um nmero do L'Arc sobre "Simone de Beauvoir et Ia lutte ds femmes",
interroguei-o sobre sua relao com o feminismo. Ele me respondeu com bastante
boa vontade, mas muito superficialmente.
De 23 de maro a 16 de abril, estivemos em Portugal, onde ocorrera um ano antes, a 25
de abril de 1974, o que se denominou 'a revoluo dos cravos'. Aps cinquenta
anos de fascismo, oficiais - desgostosos, entre outras coisas, pela guerra da Angola - se
haviam revoltado. Mas no se tratava apenas de um golpe de Estado militar:
era o povo inteiro que despertara e apoiava o M.F.A. (Movimento das Foras Armadas).
Sartre desejava conhecer de mais perto esse acontecimento singular. Ao partir,
preocupava-se: "Ser que verei Lisboa?" Mas logo esqueceu essa preocupao. Ficamos
num hotel central, muito barulhento, perto de um grande mercado ao ar livre.
O tempo estava bonito, mas soprava um vento muito forte e no podamos demorar-nos
nas sacadas para onde davam
112
nosso quartos; caminhvamos pelas ruas, nas quais perambulava uma multido alegre,
sentvamo-nos nos terraos do Rossio. Para Sartre, tratava-se, sobretudo, de uma
viagem de informao. Em companhia de Pierre Victor, e s vezes, de Sergejuly, teve
inmeras conversas com membros do M. F. A. Almoou na 'caserna vermelha', que
pouco tempo antes oficiais golpistas haviam tentado tomar de assalto. Fez uma
conferncia para estudantes, que o decepcionaram por sua falta de reao s suas
perguntas.
Teve a impresso de que mais se submetiam revoluo do que a faziam. Em
compensao, teve contatos muito bons com os operrios de uma fbrica em sistema de
autogesto
nas proximidades do Porto. Participou de uma reunio de escritores que se
perguntavam, com perplexidade, que papel representariam dali em diante.
Na volta, Sartre fez por rdio uma boa entrevista sobre Portugal e, de 22 a 26 de abril,
foi publicada no Libration uma srie de entrevistas, redigidas por J uly,
entre Sartre, Victor, Gavi e eu: 1? "Revoluo e militares"; 2 "As mulheres e os
estudantes"; 3 O povo e a autogesto"; 4 "As contradies"; 5 "Os trs poderes".
Sartrc concluiu, expressando seu apoio crtico ao M.F.A.
Em maio, o filsofo tcheco Karel Kosik enviou-lhe uma carta aberta, para denunciar a
represso exercida contra os intelectuais de seu pas. Relatava as persegui
coes que sofrera pessoalmente, inclusive o confisco de seus manuscritos. Sartre
garantiu-lhe seu apoio em outra carta aberta: "Denomino pseudopensamento," - escrevia
- "as teses defendidas por seu governo, que nunca foram produzidas ou examinadas pelo
pensamento de um hoem livre, mas que so feitas de palavras recolhidas na Rssia
sovitica e jogadas sobre as atividades para encobri-las e no para descobrir seu
sentido." Publicou tambm, a 10 de maio, no L Monde, uma declarao sobre a
atividade
passada do Tribuna] Russell; ela lhe fora solicitada a propsito do fim da guerra do
Vietnam. Deu uma entrevista a Tito Grassi, que foi publicada numa re-
113
#vista de Chicago. Dizia, entre outras coisa: "Cada uma de minhas escolhas ampliou
meu mundo. De tal maneira, que j no considero suas implicaes como limitadas
Frana. As lutas com as quais me identifico so lutas mundiais." Assinou vrios textos
esse ano. Um apelo para que fossem respeitados os acordos de Paris sobre
o Vietnam (L Monde, 26-27 de janeiro). Uma alerta contra J ean-Edern Hailier, que era
acusado, com ou sem razo, de haver desviado fundos destinados defesa de
prisioneiros chilenos. Um apelo em favor dos nacionalistas bascos (L Monde, 17 de
junho de 1975).
Passvamos noites excelentes com Sylvie. Um dia, jantamos em casa de Maheu, com
quem havamos reatado, h alguns anos, contatos muito espaados, mas regulares
e agradveis. Simpatizvamos com sua companheira, Nadine, e com seu filho, Franois.
Desses jantares, ela fazia uma verdadeira festa. Mas, nesse momento, Maheu
estava seriamente doente: uma espcie de leucemia; e ele sabia que a morte o
espreitava. Vimo-lo na clnica, para onde fora transportado aps uma crise muito grave:
vestindo um suntuoso robe de chambre, era pele e osso. Na noite em questo, em seu
bonito apartamento decorado com preciosos souvenirs, pareceu-nos ainda mais magro
e muito envelhecido. Por comparao, fiquei espantada com a juventude de Sartre, que
se
tornara novamente esbelto e alerta. Na verdade, era a ltima vez que vamos
Maheu: morreu pouco depois.
Sartre sentia-se cheio de vitalidade durante esse ms de junho. Estudantes iam v-lo;
alguns lhe comunicavam trabalhos, teses de terceiro ciclo, livros que lhe eram
dedicados. A imprensa falava muito nele: "Dir-se-ia que me estou tornando clebre!",
disse-me ele com humor. Como Contat tivesse passado trs dias com ele em J unas,
em maro, Sartre concedeu-lhe uma longa e comovente entrevista, publicada em parte
por L Nouvel Observateur, por ocasio de seu septuagsimo aniversrio e que lhe
valeu calorosas felicitaes: telefonemas, telegramas, cartas. Nessa
114
entrevista,33 intitulada "Autoportrait soixante-dix ans," Sartre passava em revista toda
a sua vida, mais ou menos em todos os planos, e descrevia o sentimento
ambguo que experimentava no momento, quanto a si mesmo e a sua relao com o
mundo. "Como vai?", perguntavalhe Contat; e Sartre: " difcil dizer que estou bem.
Mas tambm no posso dizer que v mal... Minha profisso de escritor est
completamente destruda ...Em certo sentido isso me tira toda razo de ser: fui e no sou
mais, por assim dizer. Mas deveria estar muito acabrunhado e, por uma razo que
ignoro, sinto-me bastante bem: nunca experimento tristezas, nem momentos de
melancolia,
pensando no que perdi ... assim e nada posso fazer, ento, no tenho razes para
desolar-me. Tive momentos penosos ...Agora, tudo o que posso fazer adaptar-me
ao que sou. Daqui por diante, o que no posso ter ... o estilo, digamos a maneira
literria de expor uma ideia ou uma realidade."
Mais adiante, fala de sua relao com a morte: "No que pense nisso, no penso jamais;
mas sei que ela vir." Ele pensava que ela no chegaria antes de dez anos.
A partir de clculos obscuros, com respeito longevidade de seus ascendentes, disse-me
um dia que contava viver at os oitenta e um anos. Repetiu a Contat que
estava satisfeito com sua vida: "Bem. Fiz o que tinha que fazer ...Escrevi, vivi, no h o
que lamentar." Disse-lhe tambm:
"No tenho o sentimento da velhice." Dizia no ser indiferente s coisas, mas admitiu:
"J no h mais muita coisa que me excite. Coloco-me um pouco acima." O que
ressaltava do todo que se sentia bastante satisfeito com seu passado, para poder aceitar
serenamente seu presente.
Liliane Siegel deu uma festa em sua homenagem a
21 de junho: l estavam, entre outros, Victor, Gavi, Geismar, Georges Michel, eu.
Estvamos todos muito alegres e Sartre ria s gargalhadas. A 25 de junho, assistimos,
33. Que foi retomada em sua totalidade em Situations X.
115
#com vrios amigos, a uma projeo privada do filme Sartre par lui-mme. E
novamente - apesar da limitao de viso - eu o achava, a meu lado, igual ao que era
na tela.
amos sair de frias. Nesse ano inovvamos: trocvamos a Itlia pela Grcia, o que
agradava muito a Sartre. O contrato com J uilian no estava assinado, o que nos
incomodava, mas estvamos otimistas; e nos sentamos satisfeitos com o trabalho
fornecido por nossos colaboradores durante o ano e por ns mesmos. Sartre esboava
com Victor um trabalho que intitularia Pouvoir et liberte sobre o qual pensava refletir
durante o vero.
Inicialmente, passou um perodo em casa de Arlette, depois esteve em Roma com
Wanda, e em agosto - depois de uma viagem pela Grcia com Sylvie - fomos as duas
busc-lo no aeroporto de Atenas. Ele parecia estar em excelente forma. No caminhava
muito bem, mas mesmo assim, nos dias seguintes, pde descer a p a Colina das
Musas, flanar pelas ruelas que denominam 'a feira das pulgas'. Reviu sua amiga grega
que estava completamente curada e trabalhava como assistente na Faculdade de
Atenas. Em consequncia dos remdios que tomava, engordara dez quilos e mostrava-se
to calada quanto fora falante antes de sua crise. Mas continuava bonita e Sartre
sentia-se bem com ela. Quando saam juntos, eu passeava por Atenas com Sylvie.
Quase imediatamente, tomamos um navio para Creta, levando o carro conosco. Eu
reservara cabines confortveis e fizemos uma travessia excelente. Era potico estarmos
s sete horas da manh, enquanto o sol nascia, num caminho desconhecido que
acompanhava o mar. O Hotel de Elounda Beach pareceu-me um verdadeiro paraso,
com seus
bangals caiados, espalhados beira-mar, ou um pouco retirados, entre plantas
perfumadas e flores de cores vivas. O que eu ocupava com Sylvie ficava a pique sobre
o mar; o de Sartre ficava uns vinte metros mais para trs. Seu interior era confortvel e
agradvel, com o frescor do ar refrigerado. Em geral, pela manh, Sylvie
tomava banho de mar; Sartre e eu ouvamos msica: ha-
116
vamos levado um gravador e cassetes; ou lamos: lembro-me, entre outros, de um
trabalho grande sobre Thorez, e Ls mmoires d'un nvropathe do presidente Schreber.
Comia-se numa sala de refeies ao ar livre, protegida do sol: cada um se servia
vontade num grande bufe frio e quente. Fizemos algumas excurses de carro: uma,
belssima, pela extremidade oriental da ilha; uma a Herklion e a Cnossos; uma outra,
um pouco mais longa e cansativa, at a Cania. Normalmente, ficvamos no hotel
tarde, com nossos livros e nossos cassetes. No havia um bar agradvel, mas tnhamos
geladeiras e Sylvie nos preparava deliciosos usques-sours 34 noite. J antvamos
no quarto, muito frugalmente, ou, raramente, numa taberna junto ao hotel, rstica e
agradvel. Sartre gostava de tudo; passava maravilhosamente bem e se sentia alegre,
sem preocupao alguma.
Doze dias depois, regressamos a Atenas; a volta foi penosa. Tnhamos reservado duas
cabines, mas recusaram-se a entregar-nos as chaves; em vo, Sylvie e eu brigamos
na recepo para receb-las, em meio a uma multido, uma algazarra e um calor
infernais. Acabaram colocando-nos, aos trs, numa cabine de quatro leitos, muito
desconfortvel.
J dormamos, quando, em plena noite, um oficial abriu a porta: "O senhor o Sr.
Sartre? no o sabamos: suas cabines esto sua disposio." Recusamo-nos a mudar-
nos.
Mergulhamos com alegria na tranquilidade de nosso hotel ateniense. Almovamos por
volta das duas horas, no bar gelado pelo ar refrigerado, um coquetel e um sanduche
quente. Frequentemente, aps passear a p ou de carro, tomvamos outro coquetel no
sexto andar do Hilton; de l tinha-se uma vista imensa de Atenas e do mar ao longe.
J antvamos aqui e ali, muitas vezes num restaurante ao ar livre, ao p da Acrpole.
34. O Professor Lapresle dera a Sartre permisso para beber um pouco de
lcool.
117
#A 28 de agosto, acompanhei Sylvie ao navio que deveria lev-la de volta a Marselha,
de onde alcanaria Paris de carro.
Dois dias depois, Sartre e eu voamos para Rodes. Um voo rpido. No conseguia
acreditar em meus olhos, quando comeamos a descer. Ficamos em dois quartos
contguos,
ladeados de amplas varandas, no sexto andar de um hotel situado beira-mar a menos
de dois quilmetros da cidade velha. O bar, o restaurante onde almovamos
diariamente
cavam localizados num terrao que dava para o mar. Ao cair da noite, um txi nos
conduzia s portas da Rodes antiga. Caminhvamos pelas velhas ruas, to bonitas
e movimentadas, e era para mim uma alegria j esquecida descobrir com Sartre lugares
novos. Parvamos num desses pequenos cafs ao ar livre que, nas cidades gregas,
abrigam rvores magncas. s vezes comamos algo num restaurante agradvel ao p da
muralha. Um txi nos levava de volta ao hotel e eu lia para Sartre, durante uma
ou duas horas, em minha varanda. O tempo estava esplndido, o mar deslumbrante;
a imensa praia, a nossos ps, lembava-me um pouco Copacabana.
Fizemos duas excurses de txi. Uma a Lindos, cidadezinha de ruas caiadas,
admiravelmente situada por sobre o mar. O lugar famoso sobretudo por sua acrpole,
mas
para subir a ela teramos que ir montados em burros e no tivemos coragem. A outra, a
Kamiros, uma grande cidade antiga, bastante bem conservada. No caminho, vimos
um belssimo mosteiro construdo na montanha.
Em Atenas, l permanecemos dez dias. E se era agradvel caminhar, Sartre ainda -
at subiu Acrpole. s vezes, j que no dispunha de tempo durante o um caf,
onde se reuniam intelecturetomar, ele tomava um usque comigo
De regresso a tava quase fresco era capaz de faztava com Melina, dia. Ela o levava ais
atenienses. Ao
em seu quarto.
118
Deu duas entrevistas durante essa estada, uma a um dirio de esquerda, a outra a um
boletim anarquista.
Durante esse vero, J uilian enviara a Sartre uma carta, na qual propunha que se
realizasse um "programapiloto", o que era insultante e absurdo, j que a srie de
programas constitua um conjunto que no podia ser julgado por uma s parte. Alguns
dias depois de retomar a Paris, 23 de setembro, Sartre, Victor e eu - Gavi estava
nos Estados Unidos - nos encontramos com J uilian em casa de Liliane Siegel. Sartre
atacou-o ardorosamente. J no estava em idade - disse - para submeter-se a exames.
Ora, o programa-piloto que lhe propunham era na verdade um exame que conceituariam
de: medocre, sofrvel ou bom. E o nico juiz aceitvel teria sido o pblico,
mas no era a este que o programa seria submetido: a 'especialistas'. O que significava
que se tratava de uma medida de censura. O problema de dinheiro, que J uilian
pretendia colocar como prioritrio, no era o verdadeiro problema, j que para um
programa de uma hora e meia, classificado como dramtico, honorrios de um milho
de francos eram normais: casos similares eram inmeros. A verdade era que as sinopses
haviam sido colocadas na mesa do Primeiro-Ministro, Chirac, por Andr Vivien,
relator junto O.R.T.N., a quem J uilian as comunicara. Desde janeiro, Vivien e Chirac
se haviam oposto radicalmente ao nosso projeto, e J uilian, submisso autoridade
deles, s nos iludira. Quando nos separamos, a ruptura estava consumada.
A 25 de setembro, com Victor e comigo, Sartre deu uma entrevista coletiva imprensa
na Cour ds Miracles. Logo que tomou conhecimento, dia 24, J uilian telefonou
Sartre concordando com uma soma de 400 milhes antigos. Seis meses antes, ainda
teria sido possvel modificar os cenrios de maneira a diminuir seus custos;35 no
momento j era muito tarde e J uilian o sabia: queria apenas
35. Deixo claro que estava previsto um oramento de cem milhes de francos antigos
para cada transmisso. Portanto, a srie de dez programas somaria um bilho de
francos antigos. J uilian oferecia menos do que a metade disso.
119
#evitar que o caso chegasse ao conhecimento do pblico. E chegou. Havia muita gente
na Cour ds Miracles. Sartre, em plena forma, reconstituiu toda a histria, em
sua plena verdade e de maneira totalmente convincente. Ele dera um subttulo
entrevista: "Un problme censure- tl". Comentou: "Foi dito: Sartre desiste. No.
Fizeram-me desistir, um caso de censura formal e no direta." Especificou quejuilian
lhe prometera total liberdade de expresso. uando lhe propusemos as primeiras
estimativas, ele declarara: "Ainda que isso ultrapasse oitocentos milhes (antigos) ns o
faremos." E depois, houve um conchavo com o governo a respeito disso,
tendo nossas sinopses ido parar, inexplicavelmente, em mos de Chirac que no as
aceitara. Ento, J uilian tentara desgastar-nos e finalmente se refugiara na proposta
inaceitvel de um programapiloto. Os jornalistas ouviram atentamente essa exposio e,
no fim, alguns perguntaram: "Por que no trabalha para as televises estrangeiras?"
Sartre respondeu: "Trata-se da histria dos franceses e aos franceses que quero falar."
A uma outra pergunta: "Por que no utilizar circuitos do cinema?" - ele
objetivou : "Dez horas muito tempo; por outro lado, esta srie constituiria, pela
primeira vez, uma viso dinmica da televiso. Eu me perguntava se era posvel
trabalhar com esta televiso. Mareei J uilian me fizera hesitar. Agora est encerrado. J
no aparecerei na televiso. Nem na Frana nem em outro lugar." A seguir,
Sartre observou: "Michel Droit, este gozou de toda a liberdade em relao s suas
crnicas de
1946 a 1970."
De um modo geral, a imprensa relatou com fidelidade essa reunio, e J uilian
desencadeou uma campanha de calnias contra Sartre. De incio, reconhecera: "O Sr.
Sartre
no um homem de dinheiro, mas gostaria de reunir o mximo de meios para realizar
seu sonho." Apesar disso, insinuou que Sartre recebera enormes somas por seus
direitos de autor, o que era falso, j que tais direitos basicamente tinham que ser
divididos pelo numeroso grupo de historiadores. Queixou-se, tambm, de que Sar-
120
tre entregara o trabalho a seus jovens colaboradores, o que tambm era uma mentira,
porque Sartre era muito atuante no 'grupo dos quatro' e assistia a todas as assembleias
gerais. Para finalizar, a televiso lanou um boato, que repercutiu at Estocolmo, de
onde um telegrama foi transmitido para a agncia da France-Presse: Sartre teria
exigido o montante do Prmio Nobel de literatura que recusara em 1964. Ele deu aos
jornais um desmentido violento.
R.T. L. props-lhe redigir, comigo e com Victor, o J oumal Inattendu de 5 de outubro de
1975. Ele aceitou e preparamos nossas intervenes. Mas esse caso o aborrecera.
Arlette telefonou-me durante a semana, dizendo que o achava muito cansado e, uma
noite, em minha casa, teve muita dificuldade de falar: o canto da boca e a ponta
da lngua estavam quase paralisados. Isso passou em quinze minutos, mas ele me disse
que era algo que lhe acontecia frequentemente e fiquei preocupada.
Estava desanimado quando fomos ao estdio de R.T. L. e tropeava nos degraus da
escada. O jornalista que nos recebeu estava, visivelmente, de m vontade e eu me
sentia tensa. Sartre parecia exausto, falava lentamente e quase sem entonao. Eu
morria de medo que, durante a emisso, sofresse uma ausncia. Tomei a palavra,
a maior parte do tempo, cortando mesmo nosso interlocutor, para explicar-me sobre
J uilian. Cohn-Bendit falou simultaneamente da Sua, de maneira muito incisiva.
Assim que, de um modo geral, essejoumal inattendu foi
um sucesso.
Dali, fomos para a casa de Liliane, que preparara um pequeno bufe. L encontramos
alguns historiadores, muito decepcionados com a ruptura com Antenne 2. Por volta
das cinco horas, levei Sartre para sua casa e ele dormiu um pouco. Confessava que
estava exausto. "H mais de cinco horas que estamos trabalhando", disse-me com
cansao. Passou a noite na casa de Wanda, e no dia seguinte pela manh, 5 de outubro,
Arlette me telefonou. "No muito grave", disse-me. "Mas mesmo assim ..."
121
#Na casa de Wanda, Sartre mais ou menos cara. Ela o colocara num txi; em frente ao
L Dome, Michle o auardava para lev-lo para casa; ali, novamente, ele perdera
vrias vezes o equilbrio. Pela manh, ela o levara para a casa de Arlette e ele
tornara a cair. Zaidmann foi chamado e aplicou injees em Sartre, prescrevendo
um longo repouso. Falei com Sartre por telefone: sua voz estava clara, mas cansada.
Ficou para almoar com Arlette, que o levou para casa no carro de um amigo.
Quase o carregaram at o apartamento e o colocaram na cama. Passei a tarde com ele, e
Zaidmann veio noite. A presso de Sartre subira de 14 a 20. Era preciso
ajudlo quando tinha que dar os quatro passos que separavam seu quarto do banheiro.
Dormi no quarto ao lado, com as portas abertas.
Ficou de cama segunda e tera. Na tera noite, o Professor Lapresle veio com
Zaidmann. Sartre estava com
21,5 de presso. Eles conferenciaram por muito tempo. Alm dos remdios habituais
prescreveram um hipotensor forte e valium, para ajud-lo a fumar menos.
Aconselharam-no
a levantar-se da cama e sentar-se numa poltrona, mas fazer a sesta durante a tarde.
E a vida se organizou. Sartre fazia as refeies na sua casa. Aos domingos, Sylvie trazia
o almoo; quinta-feira, Liliane; segunda e sexta, Michle e, nos outros
dias, Arlette. Quanto ao jantar, nos dias em que ficava na sua casa, eu comprava coisas
leves.
Zaidmann voltou na manh de quarta-feira, 15. A presso baixara para 16. Diminuiu a
dosagem dos remdios e disse a Sartre que sasse um pouco, coisa que ele fez.
Parecia to bem quanto antes da crise. Mas, em consequncia dos remdios que lhe
administravam, acontecia-lhe novamente ter incontinncia urinria e, at mesmo,
sujar seu pijama noite. Aceitava esses incidentes com uma indiferena que eu tinha
dificuldade de suportar.
Apesar de tudo, dizia com obstinao que voltaria a fumar. Protestei energicamente: se
ficasse gaga, no per-
122
cebia que eu sofreria com isso? T-lo-ei convencido? Ou ficou impressionado por um
artigo que Michle lhe leu, dizendo que, ocorrendo arterite, o fumo podia provocar
a amputao da perna? Praticamente, parou. Fumava apenas quatro cigarros por dia, e,
s vezes, esquecia-se de fumar o quarto cigarro.
Por vezes, parecia sofrer com sua situao. Um domingo noite, falvamos que no era
desejvel ser centenrio. "De toda maneira", disse-me ele, "eu apenas represento."
Como lhe repetsse essa frase, no dia seguinte, ele explicou; estava irritado, porque Gave
lhe extorquira uma entrevista sobre a Espanha para o Libration.
Essa entrevista foi publicada a 28 de outubro de 1975 enquanto Franco agonizava.
Sartre referia-se a sua "figura abominvel de latino asqueroso". A expresso indignou
muitos leitores. Sartre a comentou: "Foi um erro - opinies emitidas no entusiasmo de
uma conversa assumem outro sentido quando transcritas ao p da letra -, mas
um erro que assumo plenamente. Franco tinha o aspecto que merecia, era realmente
um asqueroso, e ningum negar que fosse latino."
Na verdade, sua sade no se restabelecia e ele percebia isso. "Fisicamente, no estou
muito bem" - disse uma manh a Liliane, enquanto tomavam o desjejum num caf
prximo, o Liberte. Queixava-se de sentir, pela manh, a boca, e sobretudo a garganta,
semiparalisadas, o que explcava sua grande dificuldade de engolir: levava
pelo menos uma hora para conseguir terminar uma xcara de ch ou um suco de laranja.
Sua taxa de glicemia estava normal. Mas ele caminhava cada vez pior. Na quinta-feira,
19 de novembro, teve a maior diculdade para chegar at o Liberte, a cem metros de sua
casa, e para ir, por volta de duas horas, ao restaurante brasileiro, onde almovamos
frequentemente, junto torre Montparnasse. Zaidmann o viu no dia seguinte e mostrou-
se preocupado com esta regresso. O Professor Lapresle, que se apresentou no
final da tarde, achou Sartre melhor do que por ocasio de sua ltima visita e at bem
123
#de um modo geral. Mas em relao a suas atividades motoras (marcha, deglutio)
disse-me que "Sartre descera um degrau que jamais
tornaria a subir novamente". Lembrava-me
dele, dois meses antes, escalando a Acrpole, e perguntava a mim mesma se chegaria
um dia em que j no poderia mover-se de todo. E depois, como controlasse mal
seus reflexos, teve mais um acidente intestinal. terrvel, esse corpo que nos deserta,
quando a cabea est ainda slida.
Porque, intelectuaLnente, Sartre se recuperara por completo. "O importante trabalhar",
dizia. "Felizmente, a cabea est ben" Disse-me, tambm: "Estou mais inteligente
do que h muito tempo." Era verdade. Trabalhava assiduamente com Victor em seu
projeto de um livro: Pouvoir et liberte; interessava-se pelas obras que eu lia para
ele e por tudo o que ocorria no mundo: particularmente pelo caso Goldman, do qual
conhecia os menores detalhes. A meados de novembro, achvamos que o recurso de
Goldman para obter anulao ia ser rejeitado, e Sartre redigiu - auxiliado por Victor -
um texto a esse respeito que queria que aparecesse no L Monde. No o publicou,
porque o julgamento que condenava Goldman foi anulado, para grande alegria de todos
os seus amigos.
Graas s suas atividades, Sartre sentia novamente alegria de viver. Liliane perguntou-
lhe uma manh: "No o incomoda muito depender das pessoas?" Ele sorriu:
"No. Isso tem at um pequeno lado agradvel." "Ser mimado?" "Sim." "Por que voc
sente que o amam?" "Oh, j o sabia antes. Mas agradvel." A 10 de novembro, a
edio europeia de Newsweek publicou uma entrevista de Sartre concedida a J ane
Fridman. Ela lhe perguntava:
"ual a coisa mais importante em sua vida hoje?" Ele respondeu: "No sei. Tudo.
Viver. Fumar." Ele sentia a beleza deste outono azul e dourado e regozijava-se com
isso.
Frequentemente, solicitavam-lhe que assinasse manifestos, apelos, e, em geral, ele
aceitava. J unto com Mal-
124
raux, Mendes France, Aragon e Franoisjacob, assinou um apelo para que fosse
impedida a execuo, na Espanha, de onze condenados morte. 36 Como estes tivessem
sido executados, assinou um protesto e um apelo por uma marcha sobre a Espanha.
Protestou, com Mitterrand, Mendes France e Malraux, contra a resoluo da O. N.U.
equiparando o sionismo ao racismo (L Nouvel Observateur de 17 de novembro).
Assinou um apelo em favor de soldados presos que foi lido na Mutualit a 15 de
dezembro.
Tinha uma nova distrao. Arlette lhe alugara um aparelho de televiso, e quando havia
um bom western, ou qualquer outro filme interessante, o assistamos. Sentando-se
bem perto da tela, Sartre mais ou menos distinguia as imagens. Uma manh de segunda-
feira fomos ver juntos um excelente filme grego: L voyage ds comdiens. O diretor
da sala o colocara a nossa disposio;
somente alguns amigos estavam presentes, de maneira que eu podia ler as legendas para
Sartre sem incomodar
ningum.
A 1 de dezembro, Sartre recebeu uma carta de ameaas assinada G.I.N. Gisle Halimi
afirmou que era preciso lev-la a srio, j que o G. I.N. era um grupo de extrema
direita que se vangloriava de haver explodido Photo-Libration. Ela preveniu a
delegacia mais prxima e eu mandei colocar uma porta blindada. Estava realmente
preocupada,
mas Sartre no levou o caso a srio. Sua serenidade no se alterava. "Passei um
excelente trimestre", disse-me no final de dezembro, com ar radioso. E, como lhe
perguntassem no incio do ano o que gostaria que lhe desejassem, "que eu viva durante
muito tempo", respondeu com entusiasmo.
Fizemos com Sylvie uma pequena viagem a Genebra que, apesar do frio e da neve,
agradou muito a Sartre. Passeamos a p pela cidade velha; vimos Coppet, visita-
36. Esse apelo, publicado no L Nouvel Observateur de 29 de setembro, foi levado
diretamente a Madri por Foucault, Rgis Debray, Claude Mauriac, Yves Montand ...
125
#ms Lausanne. Ao regressar, Sartre recomeou a trabalhar com Victor. Recomeou at
a escrever; eram umas garatujas ilegveis, mas que Victor, mais ou menos, conseguia
decifrar. Escrevia sobre os limites de sua adeso a seus prprios valores: "No creio no
que escrevo," diziame. Mas percebeu que se criticava a partir de L'tre
et l nant e da Critique, provando assim que acreditava naquilo.
1976
No incio de maro, ditou-me um artigo sobre Pasolini. Encontrara-se com ele em
Roma, apreciava alguns de seus filmes - sobretudo a primeira parte de Medeia, na
qual via uma extraordinria evocao do sagrado. Em seu artigo, refletia sobre as
condies da morte dele. Inicialmente, redigiu-o, com sua escrita ilegvel, depois
recitou-o de cor para mim. Era um bom artigo, que foi publicado no Corriere delia Ser.
Estava satisfeito por haver conseguido termin-lo em menos de trs horas.
Victor achava, como eu, que fazia muito que Sartre no se encontrava em to boa forma
intelectual. verdade que s vezes parecia desligado: mas isso ocorria em
presena de muita gente ou de pessoas que o aborreciam. Acontecia-lhe estar
inteiramente alerta e presente:
por exemplo, durante a noite que passamos com Alice Schwarzer. E tambm verdade
que, se podia escutar, responder, discutir, no era mais inventivo. Havia uma espcie
de vazio nele e, por isso, beber, comer assumiam para ele maior importncia do que no
passado. Adaptava-se com dificuldade a novidades. Era-lhe custoso suportar
que o contradissessem, coisa que eu quase nunca fazia, embora ele se equivocasse
enormemente com respeito a acontecimentos passados.
A 20 de maro, partimos com Sylvie para Veneza, de onde nenhum de ns trs se
cansava. Andando bem de-
126
vagarinho, Sartre fez comigo passeios bastante longos:
"No a aborrece ter um companheiro que caminha to lentamente?", perguntou-me uma
vez. Respondi que no, com sinceridade. J me sentia bastante feliz pelo fato
de que pudesse caminhar. Acontecia-lhe, ainda, dizer com melancolia: J amais
recuperarei meus olhosi" E deprimiase quando, na chegada do vaporetto, um passageiro
segurava seu brao para ajud-lo a descer: "Pareo realmente um invlido?",
perguntava-me. "Voc parece enxergar mal, no h vergonha nissol", dizia-lhe. Mas
essas
nuvens se dissipavam rpido. Como eu sofria de uma espcie de nevrite no brao
direito, disse-lhe: "Que se pode fazer! a velhice. Tem-se sempre algum problema."
"Eu no", disse-me com convico. "Eu no tenho nada." Ri e, caindo em si, ele riu
tambm. Mas, espontaneamente, sentia-se indene. Estava muito mais adaptado a
sua situao do que no ano anterior.
De regresso a Paris, continuou seu trabalho com Victor. Era uma bela primavera: sol,
verdor, flores em seu jardim, onde pssaros cantavam. Leituras, msicas, filmes
preenchiam nossas tardes e nossas noites. No incio do ano, fora publicado Situations X
que reunia quatro estudos polticos, uma entrevista sobre L'idiot de Ia famille,
a entrevista comigo sobre o feminismo e a longa entrevista que concedera a Conta:
"Autoportrait soixante-dix ans". Gailimard reeditou L'tre et l nant na coleo
Tel e Situations I na coleo Ides. Critique de Ia raison dialetique foi traduzido em
Londres (j o fora na Alemanha em 1967). Entrevistas que Sartre dera na rdio
australiana - sobre o marxismo, sobre Laing, sobre o papel do intelectual - foram
reunidas num volume puhlirado em Nova Iorque. A 1 de maio, ele concedeu uma
entrevista
para o press-book do filme Sartre par lui-mme; nela se referia a seus desentendimentos
com a Televiso francesa. Em julho, publicou em Lbraton uma carta a respeito
do Larzac: lamentava no ter podido assistir aos encontros realizados sobre o Larzac em
Pentecostes. No mesmo ms, publicou em L Nouvel Ob-
127
#servateur um texto curto sobre a segurana do trabalho nas empresas.
Assinou, tambm, um manifesto de solidariedade para com o grupo Marge, que, a 20 de
janeiro, ocupara uma dependncia da embaixada da U.R.S.S. Em Libration, a 28
de janeiro, assinou um apelo ao Presidente da Repblica em favor dejean Papinski:
professor primrio exercendo o cargo de P.E.G.C.* num colgio de ensino geral,
fora inspecionado em 1966, quando dava um curso de ingls, por um inspetor que
ignorava esta lngua, e que, no entanto, dera uma opinio desfavorvel sobre ele e
o fizera retornar ao primrio; Papinski solicitara reparao e no a obtivera; em 1974,
publicou um panfleto, Boui-Boui, onde atacava a inspeo, os jris, as injustias;
foi afastado em definitivo e encetou uma greve de fome (que duraria noventa dias).
Em Libration de 17 de fevereiro e L Monde de 18, Sartre assinou, junto com
cinquenta prmios Nobel e comigo, um apelo pela libertao do doutor Mikhail Stem.
Fizemos juntos uma campanha em seu favor e obtivemos ganho de causa. A 12 de maio,
Sartre assinou, com outros intelectuas, um comunicado no qual manifestava seu
horror ante o fim de Uirike Meinhof numa priso alem.
Naquele vero, aps um ms de separao, tendo Sartre passado esse perodo em J unas
com Arlette, depois em Venea com Wanda, enquanto eu viajava novamente pela
Espanha com Sylvie, fomos a Capri, Sartre, Sylvie e eu. L passamos cerca de trs
semanas felizes no Hotel (uisisana: Capri era um lugar que Sartre amava especialmente.
Todos os dias, no incio da tarde, amos tomar um drinque no Salotto. Sartre fez at dois
longos passeios nessa parte da ilha onde proibida a entrada de carros:
descansava num banco de quando em quando; mas suas pernas no o incomodavam.
Gostava de sentar-se ao sol para almoar num restaurante ao ar livre. De sua janela,
* Professor d'Enseignement General et Collge. (N. do T.)
128
sentia a beleza da paisagem que descia suavemente at o azul do mar.
Retornamos a Roma no carro que havamos deixado numa garagem napolitana e
ficamos em nosso apartamento-terrao habitual. Sylvie nos deixou no dia seguinte e
passei
duas semanas sozinha com Sartre. Foi a mesma rotina agradvel dos outros anos. Uma
parte da Praa do Panteo e das ruas vizinhas transformara-se em rua de pedestres
e frequentemente passevamos por l. Almoamos na Praa Navona com Basso e sua
mulher; J ose Dayan e Malka Ribowska - que havamos encontrado por acaso em
Veneza
e que eu depois revira - foram discutir comigo a adaptao para a televiso de La femme
rompue. Sartre simpatizava com elas e jantamos juntos. No final de nossa
permanncia recebemos a visita dos Bost; eles nos acompanharam ao aeroporto de onde
voamos para a Grcia.
Sartre prometera a Melina ir v-la em Atenas; l ficamos uma semana. Ele passava os
dias comigo, noite ia ter com ela. No conseguimos acomodaes no hotel de
que gostvamos; o lugar em que nos instalamos, bem prximo, era lgubre. Tnhamos
que manter a luz acesa, da manh noite, embora brilhasse um sol deslumbrante.
Felizmente eu tinha trabalho para fazer: retoquei a adaptao e escrevi os dilogos de La
femme rompue.
De regresso a Paris, em meados de setembro, a vida recomeou mais ou menos como no
ano anterior, com pequenas diferenas de horrio. At o meio de outubro fez um
tempo magnfico, o que nos inclinava ao otimismo. Alis, Sartre estava timo e as
coisas lhe corriam bem. Desistira de assistir s reunies de Temps Modernes, mas
trabalhava com muito entusiasmo com Victor e de todas as partes continuavam a
solicit-lo. Em outubro, associou-se a uma reunio em favor dos presos polticos
soviticos e pediu a libertao de Kuznetsov. J unto com L Bns e L Dantec, assinou
um pequeno prefcio para o livro de Bommi Bauman37 intitulado Tupamaros Berlin-
37. J mencionei que ele servira de chofer para Sartre por ocasio da visita deste a
Baader.
129
#Ouest, publicado em La France Sauvage. Esta autobiografia de um ex-terrorista
alemo fora confiscada em novembro de 1975 pela polcia de seu pas. Sartre unira-se
a Heinrich Boll para exigir que fosse republicada. E, agora, estava editada em francs.
"As teses de Bommi Bauman no so necessariamente as nossas", escreveu Sartre,
"mas elas interpelam diretamente a Frana selvagem."
No ms de setembro foi novamente apresentada, no Teatro ds Mathurins, Ls mains
sales. Houve cinquenta representaes seguidas de uma tourne pelo interior. A crtica
- com exceo da de Marcabru - foi excelente. O filme Sartre par lui-mme estreou no
fim de outubro;
a tambm a crtica elogiou Sartre entusiasticamente e o pblico afluiu. L Magaine
Littraire publicou uma longa e interessante entrevista de Sartre com Michel
Sicard,38 a respeito de L'idiot de Ia famille. Dois nmeros de Politique-Hebdo lhe
foram dedicados, incluindo artigos de Chtelet, de Horst, de Victor.
"Que belo come-back!", disse-lhe. "Um come-back funerrio", respondeu, mas rindo.
Na verdade, estava todo contente com isso. Sartre era muito orgulhoso para ter
jamais sucumbido vaidade. Como todo escritor, preocupava-se com o sucesso de seus
trabalhos e com a influncia destes. Mas, para ele, o passado era imediatamente
ultrapassado; era o futuro - seu prximo livro, sua prxima pea - que ele mirava.
Agora, no esperava muito do futuro. Evidentemente, no se voltava ansiosamente
para seu passado. Repetiu muitas vezes: tinha feito o que tinha a fazer e estava satisfeito
com isso. No entanto, no teria gostado de sentir-se - ainda que por
um tempo - relegado, esquecido. J no sendo capaz de engajar-se com o mpeto de
antes em projetos novos, ele coincidia no momento com aquilo que j realizara.
Considerava sua obra como terminada; era atravs dela que podia ser reconhecido como
desejava.
38. Um jovem professor de filosofia que conhecia muito bem a obra de Sartre.
130
No domingo, 7 de novembro, recebeu na Embaixada de Israel o diploma de doutor
honoris
causa da Universidade de J erusalm. Em sua alocuo - cuidadosamente preparada
e decorada - declarou que aceitava esse diploma para facilitar o dilogo palestino-
israelense: "De h muito que sou amigo de Israel. Se me ocupo aqui de Israel,
ocupo-me, tambm, do povo palestino que muito sofreu." O texto foi publicado em Ls
Cahiers Bernard Lazare. Pouco depois, Sartre concedeu uma entrevista a dith
Sorel,3t>que foi publicada em La Tribune J uive no final de novembro. Dizia que,
naquele momento, j no escreveria da mesma maneira as Rfiexions sur Ia
questionjuive.
Evocava sua viagem de 1967 ao Egito e a Israel e declarava que aceitaria um diploma
da Universidade do Cairo se este lhe fosse oferecido.
Em novembro, a New Left Review iniciou a publicao de um longo fragmento do
volume II de Ctique de Ia raison dialectique. Sartre reletia sobre a sociedade sovitica,
sobre "o socialismo num s pas". Estas pginas eram mais filosficas do que histricas
e assim prolongavam o volume I, enquanto o segundo volume se propunha abordar
o terreno da histria concreta.
A 12 de novembro, ele publicou em Libration uma carta de apoio aos cinco presos
corsos de Lyon. A 13 de dezembro, denunciou, numa entrevista concedida a Pohtique-
Hebdo,
o perigo que constitua a hegemonia germano-americana na Europa. Participava ento
das atividades do "Comit d'action contre 1'Europe germano-americaine", estimulado,
entre outras pessoas, por J .-P. Vi-
gier. .
Melina veio passar uma semana em Paris e ele a viu
muito. No se entendeu to bem com ela como em Atenas, achava-a 'vazia'; mas
conservava sua afeio por ela. O comit de Ls Temps Moderns encontrava-se muito
reduzido.
Bost, que ouvia mal, j no comparecia;
Lanzmann tinha seu tempo todo tomado pelo filme que
39. Ex-mulher de Ren Depestre, que havamos conhecido em Cuba.
131
#estava realizando sobre o holocausto. Achamos que era necessrio admitir novos
membros. Escolhemos Pierre Victor, graas a quem Sartre recomeou a assistir s
reunies,
Franois George, que colaborara muitas vezes para a revista, Rigoulot, um jovem
professor de filosofia, que fora publicado em Ls Temps Moderns e era o autor de
uma carta que muito nos tocara, e Pierre Goldman, por quem sentamos a maior estima.
Ele foi casa de Sartre uma noite, em companhia de Lanzmann, e senti muita
simpatia por ele; Sartre tambm, mas, como lhe acontecia frequentemente diante de
estranhos, no disse uma palavra. Ao ficar a ss comigo, preocupou-se com isso.
Eu o tranquilizei o mximo que pude. Na noite em que Horst e sua mulher foram tomar
um drinque conosco, porque eram pessoas conhecidas, mostrou-se, ao contrrio,
muito presente.
1977
De um modo geral, ele ia extremamente bem. Mais nenhum acidente de sade. Tinha
dificuldade de caminhar, e fumava excessivamente, para que se pudesse esperar uma
melhora nesse terreno; tambm tinha diculdade de engolir. Mas estava de excelente
humor. "Neste momento sinto-me muito contente", dizia-me. Embora os considerasse
seu come-back funerrio, os artigos que se publicavam sobre ele davam-lhe grande
prazer. Sua inteligncia estava intata:. se pudesse ler, reler-se, estou certa de
que teria desenvolvido ideias novas. N momento, trabalhava com Victor num dilogo
sobre o sentido e as razoes de sua colaborao, dilogo que foi publicado em Libration
a 6 de janeiro de 1977.
Especificava que a forma nova de seu futuro livro, Pouvoir et liberte, no se devia
somente a suas enfermida ds, mas que desejava profundamente que ali se manifestasse
um ns. Esse livro era para ele "a moral e a pol-
132
tica que eu gostaria de haver concludo no fim de minha vida". Hesitava ante a
perspectiva de que se trataria ali de um pensamento comum, quando ainda acreditava
que s se podia pensar sozinho. Mas esperava poder chegar a um pensamento do ns:
"Seria necessrio um pensamento que fosse verdadeiramente formado por voc e eu
ao mesmo tempo, na ao do pensamento, com as modificaes que provoca em cada
um de
ns o pensamento do outro, e seria preciso chegar a um pensamento que fosse
nosso, isto , no qual voc se reconhece mas ao mesmo tempo voc me reconhece e eu
me reconheo, reconhecendo voc ...
"Mnha situao, apesar de tudo, curiosa: de um modo geral, encerrei minha carreira
literria. O livro que fazemos atualmente um livro para alm das coisas escritas.
No exatamente um ser vivo, um ser vivo mais velho, que falaria com voc; estou um
pouco separado de minhas obras... Quero com voc... fazer uma obra que est
para alm de minha obra prpria.
"...Em verdade, no estou morto: como e bebo; mas estou morto no sentido de que
minha obra est terminada... Meus vnculos com tudo o que escrevi at aqui j no
so os mesmos: trabalho com voc, voc tem ideias que no so as minhas e que me
faro tomar determinadas direes que eu no tomava, fao, portanto, algo de novo;
fao-o como uma ltima obra e, ao mesmo tempo, como uma obra parte, que no
pertence ao conjunto, embora tendo, naturalmente, traos comuns: a captao da
lberdade,
por exemplo."
Visivelmente, a ambiguidade da situao incomodava Sartre, mas ele tentava adaptar-se
a ela; ou seja, conseguia persuadir-se de que ela tinha lados positivos para
ele.
No entanto, tornara-se quase incapaz de caminhar. Sentia dores na perna esquerda:
panturrilha, coxa,
tornozelo. E cambaleava. O professor Lapresle nos garantiu que
no havia nenhum agravamento dos distrbios vasculares, mas apenas uma citica.
Sartre ficou recolhido
133
#durante quinze dias e, ao final desse perodo, no melhorara. A perna doa-lhe noite
e, durante, o dia, sentia dores no p. Para ir at o restaurante brasileiro,
bem prximo, ao qual ia sem dificuldade at dezembro, teve que parar trs vezes em
janeiro: ao chegar, estava exausto e sentia dor.
Quando passvamos a noite com Sartre, tanto Arlette como eu dormamos na sua casa.
Mas, aos sbados, ficava com Wanda at onze horas e era complicado, para ns
duas, ir ter com ele to tarde. Michle se oferecera para vir passar a noite no quarto
contguo ao dele, aps a sada de Wanda. Esses arranjos eram convenientes
para todo mundo e foram mantidos durante muito tempo.
No entanto, um domingo, almoando com Sylvie e comigo no La Pallette, Sartre nos
pareceu estranho: inteiramente entorpecido. noite, por volta das nove horas,
sentia-se to mal que chamei um mdico: 25 de presso. Depois de uma injeo, ela
baixou para 14. Sartre sentia-se cansado em consequncia dessa queda brutal. O
doutor Cournot foi v-lo e perguntou, em particular, a Liliane que estava l: "Ele no
bebeu?" Ela respondeu afirmativamente: no ousara prevenir-me, mas Sartre
lhe confessara que, nos sbados noite, com Michle, bebia meia garrafa de usque.
Confessou-o a mim tambm. Telefonei a Michle, explicando-lhe por que ela no
viria mais para a casa de Sartre aos sbados. Alguns dias depois ela lhe disse: "Queria
ajud-lo a morrer alegre. Pensava que era o que voc desejava!" Mas ele no
desejava de modo algum morrer. Dali em diante, ao deix-lo nos sbados noite, eu lhe
servia uma dose de usque e escondia a garrafa. Depois que Wanda ia embora,
ele bebia e fumava um pouco e ia deitar-se tranquilamente.
No incio de janeiro, tivemos em casa de Sylvie um alegre almoo. O texto integral do
filme Sartre par luimme foi publicado pela Gailimard com muito sucesso. Ele
concedeu a Catherine Chaine uma entrevista sobre suas relaes com as mulheres que
foi publicada por L
134
Nouvel Observateur a 31 de janeiro. Assistia s reunies de Temps Modernes, que
agora se realizavam em sua casa nas manhs de duas quartas-feiras por ms, e
participava
das discusses. Levado por seu hbito de dizer sempre "sim", aceitou assinar um artigo
publicado em L Monde a 10 de fevereiro de 1977, que, na realidade, aps uma
discusso com ele, fora escrito por Vigier. Constatando que a "social-democracia ale ,
desde sua reconstituio em 1945, um dos instrumentos privilegiados do
imperialismo americano na Europa", ele pedia aos militantes socialistas que
"combatessem a hegemonia germano-americana" opondo-se a uma determinada
construo da
Europa. O estilo no se parecia em nada ao de Sartre e, de sua parte, um apelo aos
socialistas espantava. Lanzmann, Pouillon, Victor e outros mais no esconderam
sua desaprovao.
Ele prometera a Melina fazer uma conferncia na
Universidade de Atenas - onde ela trabalhava - em meados de fevereiro. Tomou o avio,
na quarta-feira, 16 de fevereiro, em companhia de Pierre Victor. L permaneceu
durante uma semana, almoando com Victor, jantando com Melina, preparando em sua
cabea a conferncia. Realizou-a na tera-feira 22, sobre o tema: "O que a filosofia?"
Havia mil e quinhentas pessoas numa sala com capacidade, em princpio, para
oitocentas. Falou durante mais ou menos uma hora e foi aplaudido estrepitosamente.
Victor
achou a conferncia um pouco 'fcil', mas como a maioria dos estudantes compreendia
muito mal o francs, admitia que teria sido intil introduzir dificuldade. Fui
busc-los no dia seguinte no Aeroporto de Orly. Vi desfilarem os passageiros, e um
deles me tranquilizou: "J esto vindo." E, de fato, eles foram os ltimos a aparecer,
Sartre um pouco cansado pela longa caminhada desde o avio, mas encantado com sua
viaem.
A 9 de maro, Melina veio a Paris. Na manh do dia
seguinte, antes das nove horas, telefonou-me em pnico. Sartre a levara para jantar no
restaurante brasileiro: na
135
#'
volta, suas pernas mal o sustentavam e, por duas vezes quase cara; viinhos o haviam
praticamente carreado at o elevador, ele estava lvido, empapado de suor sem
flego. Chamei Zaidmann40 e fui correndo para a casa de Sartre. Estava com 22 de
presso. Melina me afirmou que ele no havia bebido muito, e eu sabia que, em relao
a isso, ela sempre o vigiava intensamente. Alis sua cabea estava muito lcida. Passei a
tarde com ele O doutor Cournot veio noite e falou de espasmo numa perna.
No dia seguinte, Arlette me disse por telefone que Sanre cara vrias vezes, sobretudo
ao ir deitar-se.
O doutor Cournot veio novamente. Embora a presso de Sartre tivesse baixado muito,
pediu-lhe que fosse ao Hospital Broussais para fazer um check-up. Dormi em sua
casa, como todas as teras-feiras, e, pela manh, s oito e mea, Liliane veio buscar-nos;
ajudamos Sartre a atravessar o jardim e a descer de elevador at o carro:
mal caminhava. No Broussais, um enfermeiro levou-o numa cadeira de rodas. Os
mdicos decidiram que ele ficaria l at a tarde do dia seguinte. Fiquei em seu quarto,
ocupei-me das formalidades de entrada no hospital, en quanto ele era submetido a
mltiplos exames. Serviramlhe um almoo que pouco comeu. Sua presso estava boa
direita, no to boa esquerda: uma assimetria muito pronunciada. Fiquei at as trs e
meia, lendo ao lado de Sartre, que dormia. Depois chegou Arlette.
Retornei ao hospital no dia seguinte pela manh. Sartre havia jantado, assistido um
pouco de televiso e dormido bem. Estavam a fazer-lhe uma longa radiografia:
trax, pernas, mos etc. Tornaram a acomod-lo em sua cama e o professor Housset se
apresentou. Falou energicamente. Sartre s salvaria suas pernas se deixasse o
fumo. Era possvel melhorar muito suas condies, garantir-lhe uma velhice tranquila e
uma morte normal, se no
Ruael001? j "o figurar "este relato: morre" subitamente, na Kua Uelambre, vitima de
uma crise cardaca.
136
fumasse mais. Do contrrio, haveria que amputar-lhe os artelhos, depois os ps, depois
as pernas. Sartre pareceu impressionado. Conduzi-o a sua casa, com Liliane,
sem muita dificuldade. Quanto ao fumo, disse que queria refletir. Esteve com Melina,
Arlette e, no dia seguinte, com Pierre e Michle. Quando cheguei, no nal da
tarde, ele caminhava um pouco melhor. Mas no dia seguinte, no final do dia, disse-me
que todas as noites sua perna lhe doa durante cerca de uma hora.
No domingo, Sylvie, ele e eu fomos visitar nossa amiga Tomiko em sua bonita casa de
Versailles. Comemos um pato recheado e bebemos um excelente vinho. Na volta,
no carro, Sylvie, que bebera um pouco alm da conta, fez declaraes calorosas a Sartre,
o que o encantou. (Ela nem sempre era amvel com ele. Recusando-se a admitir
que estava doente, ela se irritava com alguns de seus comportamentos e ele ento a
censurava pelo que chamava de seu 'mau humor'. Mas isso em nada alterava suas
relaes.)
Passamos a noite lendo e conversando. Ele decidira parar de fumar no dia seguinte,
segunda-feira. Pergunteilhe: "No se sente triste ao pensar que est fumando seu
ltimo cigarro?" "No. A bem dizer, esses cigarros agora me repugnam um pouco."
Certamente os associava a ideia de ser cortado pouco a pouco. No dia seguinte,
entregou-me
seus cigarros e seus isqueiros para que os desse a Sylvie. E noite disse-me estar
surpreendentemente de bom humor porque havia parado de fumar. Foi uma parada
definitiva e que nunca pareceu pesar-lhe. Mesmo se amigos fumavam diante dele, isso
no parecia afealo e at os encorajava a faz-lo.
Na quinta-feira seguinte, Liliane e eu o levamos a uma consulta particular com o
professor Housset que examinou um enorme dossi a seu respeito. Felicitou-o por
haver aberto mo do fumo e receitou-lhe uma srie de injees endovenosas. menor
cibra, Sartre deveria parar de caminhar, do contrrio corria o risco de um acidente
cardaco ou de um ataque cerebral. Desaconselhou
137
#formalmente a pequena viagem a J unas que projetava fazer. Entregou-me um envelope
grosso que eu deveria dar ao doutor Cournot. Levamos Sartre para sua casa e uma
vez na minha casa, Liliane e eu abrimos, no vapor', a carta de Housset. Era um relatrio
minucioso do qual no compreendemos grande coisa. Liliane ficou com ele
para mostr-lo a uma amiga sua que era mdica.
Telefonou-me no dia seguinte. A amiga achava o relatrio muito pouco tranquilizador:
apenas 30% de circulao nas pernas. "Com precaues, pode viver ainda alguns
anos", conclura. Alguns anos: a palavra assumiu um sentido trgico para mim. Sabia
bem que Sartre j no viveria por muito tempo. Mas o prazo que me separava de
seu fim era to impreciso que este me parecia distante. De repente tornava-se prximo:
cinco anos? sete anos? De toda maneira, um tempo finito, definido. Inevitvel,
a morte j estava presente, Sartre lhe pertencia. Minha angstia difusa transformou-se
em desespero radical.
Tentei encarar a situao. Levei para a casa de Sartre a carta, novamente fechada, que
alis o doutor Cournot deixou aberta sobre a mesa. Recomendou a Sartre que
caminhasse muito pouco durante os quinze dias seguintes. amos partir para Veneza e
convenci Sartre a que peisse uma cadeira de rodas no aeroporto.
Em Veneza, ocupamos os mesmos quartos que nos outros anos e Sartre estava muito
feliz por encontrar-se l. Mas pouco saiu do hotel. Ir aos restaurantes de que ele
gostava era sempre uma expedio penosa. Mesmo ir Praa So Marcos lhe era difcil.
Como o tempo estivesse mido e um pouco chuvoso, tambm no podia sentar-se
nos terraos dos cafs. Mas quando o tempo estava bom, almovamos no do hotel que
dava para o Grande Canal; ou ento, cruzvamos a rua para sentar-nos numa mesa
do Harrys Bar. J antvamos um sanduche no bar do hotel. Ele passava a maior parte do
tempo em seu quarto: eu lia para ele. uando dormia, tarde, ou ouvia msica
em seu transistor, eu saa com Sylvie. Apesar de tu-
138
do, disse-me, ao regressar, que estava muito satisfeito com essa estada.
Na volta, durante alguns dias, Sartre esteve muito com Melina. Ela agradava-o
novamente: "Com ela, sintome como se tivesse trinta e cinco anos", disse-me. Liliane,
que os vira juntos vrias vezes, contou-me que, de fato, na companhia dela Sartre
rejuvenescia. Antes isso: restavam to poucas coisas alegres em sua vida Sofria,
outra vez, de muitas dores nas pernas. Uma manh, ao levantar-se, seu p direito doa
tanto, que ele me disse: "Entendo que se amputem os ps." A aspirina acalmava
um pouco suas dores. Novas injees suprimiram-nas inteiramente. Mas continuava
com grande dificuldade de caminhar. Sozinho comigo, mostrava-se aberto, vivaz. Mas
frequentemente, em presena de pessoas, ausentava-se, fechava-se. At uma noite com
Bost, no abriu a boca. Bost me disse, aterrorizado: "Como possvel admitir
que isso est acontecendo com ele?"
Era justamente com ele - pensava eu - que isso tinha que acontecer. Ele sempre
praticara, em relao a s mesmo, a poltica do pleno uso; nada de perodos mortos:
contra o cansao, as hesitaes, as sonolncias, ele se enchia de corydrane. * Um
estreitamento constitucional das artrias predispunha-o doena que o atingia:
mas o mnimo que se pode dizer que ele no fez nada para elimin-la. Esgotou seu
'capital-sade'. Sabia disso, j que disse em resumo: "Prefiro morrer um pouco
antes e ter escrito a Critique de Ia raison dialectique." Cheguei mesmo a perguntar-me,
influenciada plos livros de Groddeck, se ele no havia, mais ou menos, escolhido
seu estado. Ele no queria realmente escrever o ltimo volum do Flaubert; mas, no
tendo na ocasio nenhum outro projeto, tambm no se permitia desistir dele. Que
fazer? Eu sou capaz de entrar em frias, sem que a vida perca todo seu sentido; Sartre,
no. Ele gostava de viver e at ardentemente, mas com a condio de poder
traba-
* Tipo de excitante. (N. do T.)
139
#lhar: como se viu ao longo deste relato, o trabalho era para ele uma obsesso. Diante
de sua incapacidade de levar a bom termo o que iniciara, literalmente se
apoiou nos excitantes, multiplicou de tal maneira suas atividades e ultrapassou suas
foras, que
tornou inevitvel uma crise. Uma das consequncias que no previa,
e que o horrorizou, foi sua quase-cegueira. Mas ele havia desejado conceder-se um
repouso e a doena era a nica sada para ele.
Atualmente, j no acredito inteiramente nesta hiptese - em certo sentido, muito
otimista, j que fazia de Sartre o dono de seu destino. O que certo que o drama
de seus ltimos anos a consequncia de toda a sua vida. a ele que se podem aplicar
as palavras de Rilke: "Cada um carrega sua morte em si, como a fruta seu caroo."
Sartre teve o declnio e a morte que sua vida preparava. E talvez por isso os tenha
aceitado to tranquilamente.
Eu j no alimentava iluses: essa serenidade tinha eclipses. Ele sentia cada vez com
mais frequncia a necessidade de uma dose de lcool. s vsperas das frias,
perguntei a Victor como o encontrava: "Ele se deteriora", respondeu-me. Ao final de
cada entrevista, Sartre exigi, com irritao, que lhe deixassem tomar um usque.
No entanto, mostrava-se sorridente, nesse 21 de junho de 1977, dia de seu septuagsimo
segundo aniversrio, no qual, com numerosos intelectuais, recebia, no Teatro
Rcamier, os dissidentes do Leste: no mesmo momento, Giscard recebia Brejnev no
Eliseu. Ele se sentou ao lado do doutor Mikhail Stern, a quem ns dois havamos
contribudo
para libertar, e que lhe agradeceu calorosamente. Manteve conversas breves com outros
participantes.
Nesse ano, como os outros, assinou muitos textos, todos publicados em L Monde: a 9
de janeiro, um apelo em favor de Politique-Hebdo, que estava em dificuldades;
a 23 de janeiro, um apelo contra a represso no Marrocos; a 22 de maro, uma carta ao
presidente do tribunal
140
de Lavai, para apoiar Yvan Pineau, incriminado por terse retirado do servio militar; a
26 de maro, um protesto contra a priso de um cantor na Nigria; a 27 de
maro, um apelo pelas liberdades na Argentina; a 29 de junho, uma petio dirigida
conferncia de Belgrado, contra a represso na Itlia; a 1 de julho, um protesto
contra o agravamento da situao poltica no Brasil.
Por outro lado, a 28 de julho, foi publicada uma entrevista de Sartre com o musiclogo
Lucien Malson. Falava de suas preferncias musicais e deplorava a nova orientao
da France-Musique. O diretor desta cadeia respondeu a suas crticas no nmero de 7-8
de agosto.
No incio de julho, Sartre partiu de automvel para J unas, com Arlette, Puig e uma
amiga de Puig com quem simpatizava muito. Atravs das mediaes habituais, 41
foi para Veneza com Wanda, onde passou quinze dias. Eu lhe telefonava com
frequncia e ele parecia estar passando bem. Mas eu continuava transtomada pelo
veredito
dado pela amiga de Liliane: alguns anos de vida. Viajando pela ustria com Sylvie, sua
presena, o interesse que me despertavam as paisagens, as cidades, os museus.
ajudavam-me a superar minha angstia. noite, no entanto, embora tentando mostrar-
me bem, eu desmoronava. Tinha pegado um vidro de valium em casa de Sartre; engolia
dois comprimidos na v esperana de tranquilizar-me e bebia usque exageradamente. O
resultado que minhas pernas vacilavam, eu cambaleava; uma vez, quase ca num
lago; uma outra noite, chegando ao hall do hotel, arriei-me numa poltrona e a dona me
olhou com ar esquisito. Felizmente, pela manh, aprumava-me e passvamos dias
agradveis.
Chegamos a Veneza e Sylvie ficou esperando no carro, na Praa Roma, enquanto uma
lancha me transportava ao hotel de Sartre. Como de hbito, foi um choque encontr-lo
no hall: seus culos escuros, seu andar difi-
41. Desde que Sartre j no enxergava, Liliane ia busclo chegada do avio de Nmes;
no dia seguinte, Bost o apanhava na casa dela e levava-o, com Wanda, ao aeroporto
de onde ele partia para a Itlia.
141
#cultoso. Partimos com Sylvie sob um cu suntuoso. Paramos em Florena e nos
instalamos no Excelsior, onde eu reservara quartos com terraos dos quais se
descortinava
toda a cidade. Sartre mostrava-se radiante - como tantas vezes no passado - enquanto
bebamos coquetis no bar.
No dia seguinte, por volta das duas horas, chegamos a uma Roma deserta. Infelizmente,
j no dispnhamos de nosso apartamento-terrao, que fora alugado por um ano
para um americano. Mas gostei muito de nossas novas acomodaes: dois quartos
separados por uma sala minscula na qual ronronava uma geladeira. Era no quinto andar
e tnhamos uma vista magnca de So Pedro, com pores-do-sol fabulosos.
Achei Sartre inteiramente bem (exceto com relao s suas pernas, mal podia caminhar)
durante os trinta e cinco dias que passamos juntos, primeiro com Sylvie,
depois sozinhos. Ele discutia com muita pertinncia livros que eu lhe lia (sobretudo
obras de dissidentes soviticos). Quando Bost foi visitar-nos com Olga, embora
em relao a Sartre tendesse ao pessimismo, ficou surpreso com sua vitalidade. No dia
seguinte ao da partida de Sylvie, abriu-se um pequeno caf, a dez metros de
nosso hotel, no lugar de uma antiga garagem. Todos os dias almovamos em seu
terrao, um sanduche ou uma omelete. noite, ao regressar de um restaurante aonde
um txi nos levara, s vezes tomvamos l um usque antes de subir para nossos
quartos. E era l que marcvamos a maioria de nossos encontros.
Naquele vero, os espritos estavam em efervescncia em Roma: um estudante fora
morto em Bolonha, cujo prefeito era comunista. Uma imensa manifestao esquerdista
estava prevista l de 23 a 25. Como j disse, Sartre assinara um manifesto contra a
represso na Itlia: ao faz-lo, desencadeara uma tempestade na imprensa italiana,
sobretudo na imprensa comunista. O Lotta Continua, jornal de extrema esquerda, com o
qual Ls Temps Moderns tinha excelentes relaes, pediu a Sartre uma en-
142
trevista sobre a questo. M.-A. Macciocchi insistia para que ele desse seu apoio aos
encontros de Bolonha. Rossana Rossanda pedia-lhe que no os apoiasse: ela previa
catstrofes. A 19 de setembro, Sartre teve um encontro, no pequeno caf que acabo de
mencionar, com vrios dirigentes do Lotta Continua; eles publicaram a entrevista,
em quatro pginas, em seu nmero de 15 de setembro, com ttulo:
"Liberta e potere non vanno in coppia." Sartre expunha suas ideias sobre o P.C. italiano,
sobre o compromisso histrico, sobre o grupo Baader-Meinhof, sobre os dissidentes
do Leste, sobre o papel dos intelectuais com relao ao Estado e aos partidos, sobre os
novos filsofos, sobre o marxismo. Declarou: "Todas as vezes que a polcia
do Estado atira num jovem militante, estou do lado do jovem militante." Afirmou sua
solidariedade para com os jovens, mas desejou que no houvesse violncia em
Bolonha. Suas palavras satisfizeram todo mundo, inclusive Rossana Rossanda.
Realmente, Sartre falara muito bem. E em nossas conversas eu reencontrava-o
inteiramente. Falvamos de nossa vida, de nossa idade, de tudo e de nada. Ele
envelhecera,
verdade, mas era verdadeiramente ele mesmo.
Seu corao tinha caprichos. J no queria que Melina fosse v-lo em Roma, nem que
fssemos a Atenas como fora cogitado. Dizia que lhe daria dinheiro para viver
em Paris esse ano, j que lho havia prometido, mas que no mais a veria: " muito
interesseira; no interessante. No mais nada para mim."
Ela chegou a Paris pouco depois de nosso regresso. "Continuo tendo muita afeio por
voc - disse-lhe Sartre - mas j no a amo." Ela chorou um pouco, ele a
reviu de tempos em tempos.
Havia muitas mulheres em seu entourage: suas antias amias, pessoas novas. Ele me
dizia em tom alegre:
"Nunca estive to cercado de mulheres!" Absolutamente no parecia infeliz. "Sim",
disse-me, como o interrogasse, "h atualmente uma dimenso de infelicidade no mundo,
mas no me sinto infeliz." Lamentava enxergar to mal,
143
#sobretudo no poder ver os rostos; mas sentia-se bem vivo. As leituras feitas com
Victor interessavam-no, a televiso o distraa; durante as reunies de Ls Temps
Modern, participava muito mais das discusses do que nos anos anteriores.
Estava tambm muito atento aos acontecimentos polticos; especialmente em relao ao
caso de Klaus Croissant, o advogado de Baader. A 1 de julho, assinara um apelo
contra sua extradio; assinou a 11 de outubro, com o "Comit contra a Europa
germano-americana", um novo protesto; a 18 de novembro, houve um comunicado
deste
inesmo comit, a propsito do caso Schieyer. A 28 de outubro, assinou com P.
Halbwachs, Daniel Gurin, comigo, uma advertncia contra o recurso fora com
respeito
Frente Polisario. A 30 de outubro, enviou um telegrama de apoio a intelectuais
iranianos em oposio ao regime. E a 10 de dezembro, assinou um apelo contra a
expulso
do pintor Antnio Saura.
No final de novembro, ditou-me, em uma hora, um pequeno prefcio, muito oportuno,
para a edio americana de seu teatro.
O T.E.P. esperava reapresentar Nekrassov, que nunca mais fora reapresentado em Paris,
desde sua criao em 1955. No s de outubro, Sartre teve uma conversa sobre
a pea com Georges Werler, Andr Aquart e Maurice Delarue, e, em dezembro, deu
uma declarao sobre o assunto. Enfatizava que seu verdadeiro objetivo tinha sido
denunciar os procedimentos da imprensa sensacionalista. "Sem dvida, hoje escolheria
um outro pretexto", disse ele, "mas, como ontem, atacaria de bom grado um certo
jornalismo que abusa, sem escrpulos, da confiana de seus leitores, montando,
inteiramente, falsos escndalos." Como alguns o censurassem por haver concordado
com
esta reprise, respondeu que todas as suas peas - entre outras, Ls mains sales -
pertenciam agora ao repertrio e que J no via razo para impedir sua produo.
44
A propsito disto, fao questo de salientar o enorme contra-senso42 que atribuiu a
Sartre a palavra de ordem:
"No desesperar Biliancourt." No esprito de seus adversrios, isso significava que, por
fidelidade ao P. C. F. - ao qual no pertencia -, teria optado por calar
determinadas verdades constrangedoras: jamais o fez. Foi o primeiro, com Merleau-
Ponty, a denunciar, em Ls Temps Modernes, a existncia de campos de prisioneiros
soviticos. E, depois, essa honestidade no foi desmentida. Que se releia a pea. Valera,
um escroque que se fazia passar por Nekrassov, ministro sovitico que "escolhera
a liberdade", pago pela imprensa de direita para fazer revelaes sobre a U.R.S.S., da
qual nada sabe. Vronique, jovem militante de esquerda, explica-lhe que,
pensando lograr os ricos, na verdade ele faz o jogo destes e vai "desesperar os pobres",
em particular Biliancourt. Apoltico, sem escrpulos e vido por dinheiro
Valera exclama com escrnio: "Desesperemos Biliancourt!" Nenhum dos dois o porta-
voz de Sartre.
A primeira representao realizou-se em fevereiro de
1978. Maurice Delarue, que fora aluno de Dulhn e um bom companheiro de Olga, foi
buscar Sartre em casa, onde estvamos Olga, Bost e eu. Levou-nos ao teatro. Sartre
gostou da mise-en-scne e da representao dos atores. Quando a cortina desceu, fomos
ofoyer, onde ele felicitou calorosamente Werler e seus intrpretes.
Desde suas viagens ao Egito e a Israel - em 1967 - Sartre interessava-se particularmente
plos problemas do Oriente Mdio. Ficou muito mobilizado com a visita de
Sadat a Israel. Escreveu um texto, curto e incisivo, que foi publicado em L Monde de
4-5 de dezembro, para encorajar as negociaes entre o Egito e Israel.
Terminamos o ano alegremente, Sylvie, ele e eu, comendo peru no Dominique. Sartre
estava satisfeito com seu trabalho e com sua vida: "Em resumo, passamos um tempo
bom desde que retomamos das frias", disse-me.
42. Cuidadosamente alimentado por J ean Dutourd e inmeros outros joalistas.
145
#1978
Continuava em contato com muitas mulheres jovens: Melina, vrias outras. Como se
queixasse um dia de trabalhar pouco com Victor, eu lhe disse, rindo: "Excesso
de pessoas jovensi" "Mas isso me til", respondeu-me. E acho que, realmente, era
muito a elas que devia o prazer de viver. Declarou-me com uma satisfao ingnua:
"Nunca agradei tanto s mulheres."
Outras circunstncias alimentavam seu otimismo. Liliane Siegel reuniu num lbum,
publicado pela Gallimard, inmeras fotograas dele, para as quais escrevi comentrios
breves. Michel Sicard estava preparando um nmero da revista Obliques sobre ele, e
discutiam sobre isso com frequncia. J eannette Colombel e vrios jovens conversavam
com ele sobre trabalhos que dedicavam ao seu pensamento. Gailimard ia publicar em La
Pliade o conjunto de sua obra romanesca que seria apresentado por Michel Contat.
O come-back prolongava-se e o sensibilizava.
No entanto, tinha uma preocupao sria: o dinheiro. De uma prodigalidade que, desde
que eu o conhecia, jamais se modificara, dera a uns e outros, no decurso de
sua vida, tudo o que ganhava. No momento, entregava regularmente, todos os meses,
grandes quantias a diversas pessoas: o que recebia dos Gailimard era imediatamente
dissipado. No lhe sobrava quase nada para prover s suas prprias necessidades. Se eu
lhe pedia que comprasse para si prprio um par de sapatos, respondia: "No
tenho com qu." Quase no permitia que lho desse. E tinha uma dvida para com seu
editor que considerava substancial. Essa situao gerava-lhe uma verdadeira ansiedade,
no por ele mesmo, mas por todos aqueles que dependiam dele.
Curioso por ver de perto as consequncias da visita de Sadat, foi a J erusalm, em
fevereiro, com Victor e Arlette que se haviam tornado amigos. Eu temia que esta
viagem, embora curta, o fatigasse: mas no. Em Orly,
146
uma cadeira de rodas transportou-o at o avio. Na chegada, Eli Ben Gal foi busc-lo de
carro. Os quatro ficaram instalados na confortvel casa de hspedes situada
em frente velha J erusalm, e passaram uma noite num bonito hotel margem do Mar
Morto. Durante cinco dias, Sartre e Victor conversaram com israelenses e palestinos.
A temperatura era de vinte e cinco graus sob um magnfico cu azul. Sartre estava
encantado. Sentia prazer em agir, em informar-se e, na medida em que seus olhos
lhe permitiam, em ver o pas. Se a velhice , como dizem alguns, a perda da
curiosidade, ento ele absolutamente no estava velho.
Por iniciativa prpria, Sartre jamais teria escrito uma reportagem aps uma observao
to rpida. Victor tinha menos escrpulos: "Vocs, os maostas, vo sempre
rpido demais" - dissera-lhe Sartre durante uma de suas primeiras entrevistas. No
entanto, deixou-se forar e enviaram a L Nouvel Observateur um texto assinado
por ambos. Bost me telefonou desolado: " terrivelmente ruim. Convena Sartre a
retirar esse texto!" Transmiti seu pedido a Sartre, aps haver lido o texto que era
realmente muito fraco: "De acordo" - disse-me Sartre, despreocupadamente. Mas
quando falei com Victor, este se zangou: jamais lhe haviam feito semelhante afronta.
Censurou-me por no hav-lo colocado a par. Eu pensara que Sartre se encarregaria
disso: no o fizera, certamente por indiferena. J ustifiquei-me com Victor, e
durante algum tempo mantivemos, pelo menos aparentemente, boas relaes. Mas logo
depois, durante uma reunio de Ls Temps Modernes realizada em casa de Sartre houve
uma violenta altercao entre Victor, Pouillon e Horst a respeito do artigo que estes
consideravam detestvel; Victor os insultou, declarou a seguir que ns estvamos
todos mortos, e no tornou a pr os ps nas reunies.
Fiquei estupefata com sua reao. Sartre e eu, em nossa juventude, havamos suportado
muitas recusas e nunca as havamos tomado como afrontas. Ex-dirigente da Esquerda
Proletria, Victor conservara uma mentali-
147
#dade de 'chefete': tudo tinha que curvar-se diante dele. Passava facilmente de uma
convico a outra, mas sempre com a mesma teimosia. Na intensidade mal controlada
de seus entusiasmos, estabelecia certezas que no admitia que fossem questionadas. Isso
conferia a seus discursos uma fora que alguns consideravam arrebatadora;
mas o escrever exige uma atitude crtica que ele desconhecia; sentia-se ofendido, se
diante de um texto seu, algum a adotava. Depois disso, no mais nos dirigimos
a palavra: em casa de Sartre, evitava encontr-lo. Era uma situao desagradvel. At
ento, os verdadeiros amigos de Sartre sempre tinham sido tambm amigos meus.
Victor foi a nica exceo. No punha em dvida sua amizade por Sartre, nem a deste
por ele. Sartre se pronunciou a respeito disso na entrevista com Conta: "Tudo
o que desejo que meu trabalho seja continuado por outros. Desejo, por exemplo, que
Pierre Victor faa esse trabalho, ao mesmo tempo de intelectual e de militante,
que deseja realizar... De todas as pessoas que conheci, o nico que, sob esse aspecto,
me satisfaz plenamente." Apreciava nele o radicalismo de suas ambies,
o fato de que, como o prprio Sartre, desejasse tudo. "Naturalmente, no se chega a
tudo, mas preciso querer tudo." Talvez Sartre se equivocasse, mas pouco importa:
era assim que ele via Victor. De tempos em tempos ia jantar no que Victor denominava
sua 'comunidade', isto , uma casa de subrbio que Victor e sua mulher dividiam
com um casal amigo. Sartre gostava dessas noites. Eu no gostaria de participar delas,
mas lamentava que uma parte da vida de Sartre no fosse partilhada por mim
da em diante.
Estvamos um pouco cansados de Veneza. Para viajar durante a Pscoa, escolhi uma
cidadezinha encantadora, Sirmione, situada no lago de Garda, e cercada de muralhas;
era proibida a entrada de carros, a no ser que se morasse l, o que era o nosso caso.
Ficamos num hotel beira do lago. Como de hbito, lia para Sartre, em seu
quarto, e, como ele passeava de bom grado pelas estreitas ruas desertas - exceto aos
domingos -, frequentemente
148
amos sentar-nos no terrao de um caf, numa praa prxima Fazamos nossas refeies
em pequenos restaurantes vizinhos. Sylvie nos proporcionou alguns longos passeios
de carro; percorremos as margens do lago; revisitamos Verona e, num outro dia,
Brescia. Regressando a Paris, paramos em Talloires, no albergue do Pre Bise. Sartre
que normalmente, se alimentava de maneira muito trugal e montona, apreciava vez por
outra uma boa reeio.
Durante os meses que nos separavam do perodo lon-
eo de frias, foram poucas suas intervenes polticas. No incio do ano, fora publicado,
na Siclia, um falso testa_ ento poltico de Sartre. Nele, o autor defendia
velhas teses anarquistas atribuindo-as a ele. Sartre publicou_m desmentido. Em junho,
publicou um texto em L Monde,
no qual reivindicava, dez anos depois dos onteclment0 de 1968 a suspenso do
banimento de Cohn-Bendit No mesmo ms, assinou um texto referente ao caso Heide
Kempe
Bokcher, uma jovem alem gravemente queimada, a 21 de maio, em Paris, durante um
interrogatrio
policial.
Mas a atividade que verdadeiramente o interessava era a continuao do livro Pouvoir et
liberte que estava escrevendo com Victor; seus dilogos eram 0;
plicou a Michel Sicard - num texto publicado em blqus - como concebia este trabalho:
"Se o livro for ate_o fim ser uma forma nova... uma verdadeira discusso entre
duas pessoas existentes, com as ideias que desenvolvem em seu escrito; e quando
estivermos um contra o outro isso no ser uma fico, ser uma verdade haver
neste livro momentos de oposio e momentos de concrdia e os dois so importantes...
Este livro por dois autores essencial para mim, porque a contradio, a vida,
estar no livro. As pessoas, ao ler, assumiro pontos de vista diferentes. isso que me
apaixona."
Depois o vero chegou. Como nos outros anos, encontrei-me com Sartre em Roma,
aps uma viagem pela
149
#Sucia com Sylvie, e l passamos seis semanas muito felizes.
Na volta, sua sade parecia estabilizada. Trocava ideias com Victor, eu lia para ele.
Continuava a desfrutar suas inmeras amizades femininas. Melina partira para
Atenas, mas tinha suas substitutas. Depois de "Lettre d'amour J ean-Paul Sartre", que
ela publicara na imprensa, ele almoava de quando em quando com Franoise
Sagan: gostava muito dela. Participou do lme que J ose Dayan e Malka Ribowska
fizeram sobre mim. O nmero de Obliques, dedicado a ele, foi publicado.
A 28 de outubro, recebeu uma delegao de camponeses do Larzac. Vrios artigos de
Ls Temps Modernes haviam sido dedicados a suas lutas. Sartre interessava-se por
isso por vrias razes: a maneira pela qual afrontavam o Estado; sua luta contra o
desenvolvimento das foras armadas; a inveno de novas tcnicas de resistncia;
sua no-violncia ativa, que confundia a ordem estabelecida. Teria gostado de discutir
esses temas com eles, por ocasio da reunio de Pentecostes em 1976, mas
sua sade no lhe permitira participar desta.
Em outubro de 1978, muitos deles zeram uma greve de fome em Saint-Sverin. Alguns
foram pedir a Sartre que participasse da entrevista coletiva imprensa que dariam
no dia seguinte. Sartre estava muito cansado para aceitar. Mas redigiu uma declarao
que foi lida, durante a entrevista, perante os jornalistas: "Vocs acreditam
na necessidade de uma defesa da Frana, mas no acham bom que o exrcito se instale
no meio do pas e longe das fronteiras, para criar, em milhares de hectares,
uma zona de exterminao atravs das novas armas; tambm no acham bom que o
governo alugue esta rea habitada a exrcitos de outros pases para que estes venham
exercitar-se a. Tm razo: somente a estupidez e o cinismo de nossos dirigentes
poderiam fazer do Larzac, em plena paz, o estranho lugar de uma guerra mundial
preventiva."
Mais ou menos na mesma ocasio, debateu com um ator lions, Guiliaumaut, um
projeto que este lhe subme-
150
era apresentar ao pblico uma montagem intitulada Mse en Thtre, realizada por
J eannette Colombel, a partir de textos de Sartre de contedo histrico e polio O
espetculo teve muito sucesso, inicialmente nos d principais teatros de Lyon, depos,
durante dois
anos, por toda a Frana.
1997
Sartre deu muita importncia ao colquio palestmoisraefenque se realizou sob a gide
de Ls Temps Modern em mro de 1979. Victor alimentava essa ideia desde sua
viagem com Eli Ben Gal: eles se telefonavam com frequncia. Um de nossos velhos
amigos israelenses, Flapan, propusera a Ls Temps Moderns o relatrio de um colo
quio palestino-israelense que ele presidira. Para cede-lo a ns pedia uma quantia
bastante elevada, e o texto no continha nada de novo. Victor considerou que seria
pre_ fervel organizar, em Paris, um encontro anlogo cujos resultado seriam publicados
em Ls Tems Moderns. O custos seriam certamente elevados, mas Gallimard
comprometeu-se
a assumi-los. Eli e Victor organizaram, por telefone, uma lista dos participantes
desejados e enviaram-lhes convites: a maioria deles morava em Israel.
Havia vrios problemas tcnicos: em primeiro lugar, o local dos encontros, o escritrio
de Ls Temps Mode_ nes, era mnimo. Michel Foucault, amavelmente colocou
disposio seu apartamento, muito claro, grande, sbria e elegantemente mobiliado.
Victor reservou, por al_ uns dias, quartos num hotel da nve gache e um salo
Particular num restaurante prximo. A sala de estar de Foucault foi equipada com
mesas, cadeiras, um gravador. Apesar das dificuldades tcnicas, a primeira reumao
po de ser realizada a 14 de maro. Sartre abriu a sess_com um discurso breve que
combinara com Victor. Afora ele, Claire Etcherelli e eu - que no voltei no dia
seguinte -
151
#nenhum membro da equipe de Ls Temps Moderns estava presente: todos - eu,
inclusive - sentiam desconfiana em relao iniciativa de Victor.
Os participantes se deram a conhecer. Um palestino, que vivia em J erusalm, Ibrahim
Dahkak, declarou que esse dilogo no tinha sentido. Ignorava Sartre que, em
Israel, os palestinos e os israelenses se falavam e estavam em contato diariamente? J
que no haviam sido convocados nem egpcios nem magrebinos, teria sido mais
simples e menos oneroso realizar esse colquio em J erusalm. Eli Ben Gal e Victor
objetaram que alguns dos palestinos presentes no teriam podido entrar em Israel.
Dahkak respondeu que determinados palestinos de Israel no tinham podido vir a Paris.
E retirou-se do debate. Os outros delegados vinham realmente de Israel, exceto
o palestino Edward Said, professor nos Estados Unidos, na Colmbia, e Shalim Sharaf,
palestino, professor na ustria. Quase todos falavam ingls, um ou dois, alemo:
havia tradutoras voluntrias. Se um israelense desejava falar em hebraico, Eli Ben Gal
traduzia. As conversaes eram gravadas e Arlette as transcrevia. Durante
as sesses, Claire Etcherelli e Catherine von Blow serviam, sem entusiasmo, caf e
sucos de frutas. Afora as reunies oficiais, palestinos e israelenses almoavam
juntos no restaurante escolhido por Victor; conversavam ento muito vontade.
Espantava-os um pouco a modstia de seu hotel; espantavam-nos, sobretudo, o semi-
silncio
de Sartre e a importncia assumida por Victor, sobre quem nada sabiam. Um pequeno
rabino louro fazia questo de comer kasher: um amigo de Ls Temps Modernes, Samuel
Tri-
gano, acompanhou-o ao restaurante judeu na Rua Mdi-
cis.
As intervenes foram mais ou menos interessantes, mais ou menos emocionantes, mas
de um modo geral era sempre o mesmo estribilho: os palestinos exigiam um territrio,
os israelenses - todos escolhidos da esquerda - concordavam, mas exigiam garantias de
segurana. De toda maneira, tratava-se de intelectuais que no tinham
152
S
poder algum. Nem por isso, Victor deixava de rejubilar-se: "Vai ser um furo
internacional", disse a Sartre. Decepcionou-se. Por vrias razes, o nmero intitulado
"La paix maintenant" - nome de um movimento israelense pacifista que no representou
grande papel poltico - s foi publicado em outubro e no teve ressonncia.
No vero de 1980, Edward Said - que na opinio de Victor era o membro de maior
prestgio da reunio - disse a amigos comuns que no compreendia por que o haviam
feito vir da Amrica: o debat lhe parecera desde logo lamentvel e, mais ainda, quando
lera seu relatrio. No entanto, em maro de 1979, Sartre partilhava o otimismo
de Victor e eu no lhe transmiti as minhas dvidas.
No incio das frias de Pscoa, partimos de automvel para o Midi com Sylvie.
Dormimos em Vienne, onde o restaurante Point nos decepcionou. Em compensao, a
chegada
a Aix foi um encantamento. O hotel, a um quilmetro da cidade, tinha um grande jardim
que recendia a pinheiro e a sol: vislumbrava-se, ao longe, a aresta branca do
Santa Vitria, desenhando-se no cu de um azul puro. Ainda estava fresco em demasia
para que pudssemos sentar-nos ao ar livre: lamos no quarto de Sartre, mas
frequentemente
os trs passevamos de carro e almovamos em algum lugar agradvel das redondezas.
Pouco depois de nosso regresso a Paris, Sartre foi ligeiramente ferido por um
semilouco, Grard de Clves. Era belga, poeta, protegido de nossos amigos Lailemant
e Verstraeten. Nos intervalos entre suas internaes no manicmio, de quando em
quando vinha a Paris, onde diariamente pedia dinheiro a Sartre. Durante esta ltima
licena, Sartre lhe deu vrias vezes pequenas quantias e acabou comunicando-lhe que
no mais o receberia. No entanto, deves retomou. Sartre, que estava em casa
com Arlette, recusou-se a abrir-lhe a porta, mas entreabriu-a, deixando presa a corrente
de segurana. Aps rpida arumentao, deves tirou uma faca do bolso e
atingiu Sartre na mo. Depois, ps-se a dar pancadas to vioentas na porta j fechada, que
esta, apesar de ser blin-
153
#dada, comeou a ceder. Arlette telefonou polcia e aps uma longa perseguio plos
corredores do prdio, Clves foi preso. Sartre sangrava abundantemente: o
polegar estava ferido, mas, felizmente, o tendo no fora atingido. Durante as semanas
seguintes teve que usar um curativo.
A 20 de junho, participou de uma entrevista coletiva imprensa, no comit "Un bateau
pour l Vietnam". Este comit j conseguira o incio da operao: um navio,
o Ile-de-Lumire, estava ancorado ao largo de Poulo-Bidong, recebendo grande
quantidade de refugiados. O que se desejava agora era realizar uma ponte area entre
os campos da Malsia e da Tailndia e os campos de trnsito nos pases ocidentais. Para
isso, era preciso alertar a imprensa. A entrevista se realizou nos sales
do Hotel Lutetia. Glucksmann acompanhou Sartre que, pela primeira vez depois de
muito tempo, apertou a mo de Raymond Aron. Foucault falou, depois o doutor
Kouchner
que trabalhava no Ile-de-Lumire, depois Sartre, que se retirou pouco antes da
interveno de Aron. A 26 de junho, foram juntos ao Eliseu, para pedir a Giscard que
intensificasse o socorro aos boat people. Receberam promessas que no passavam de
palavras vs. Sartre no deu nenhuma importncia a esse encontro com Aron que
os jornalistas comentaram amplamente.43
As frias de vero nesse ano tambm foram um perodo privilegiado. Aix nos agradara
tanto na primavera, que retomamos em agosto. Desta vez, ocupvamos, no primeiro
andar, quartos cujas varandas se comunicavam e davam para o jardim. Era l que
ficvamos habitualmente para ler e conversar. s vezes ia - de txi, porque Sartre
praticamente j no caminhava almoar com ele na alameda Mirabeau, que ele sempre
apreciara muito. Ou almovamos no jardim do hotel. Ou Sylvie nos levava a
um de nossos lugares favoritos. De quando
43. Pretendiam ver nisso uma reconciliao poltica, implicando que Sartre se
aproximava agora das posies de direita. Era absolutamente falso.
154
em quando, via-se fumaa ao longe: um incndio de floresta. Sartre estava feliz com
essa temporada. E estava feliz tambm, quando Sylvie, que regressava a Paris,
nos levou ao aeroporto de Martigues, de onde voamos para Roma. Voltamos aos nossos
quartos, em frente brancura resplandecente ou fantasmtica de So Pedro, e
retomamos
nossos hbitos agradveis. De quando em quando, Sartre se encontrava com uma jovem
americana a quem conhecera recentemente e que residia em Roma. J unto com ele,
encontrei-me com Alice Schwarzer e Claude Courchay que passavam uma temporada
na cidade em companhia de uma amiga, Catherine Rihoit. Courchay ficou estupefato
com
o bom humor de Sartre, com sua alegria: conhecia-o pouco, mas imaginava-o mais ou
menos arrasado por sua doena, por sua cegueira; e tinha diante de si um homem
cheio de alegria de viver. Quando participava de manifestaes pblicas, Sartre
geralmente causava pssima impresso: "Pensei estar vendo um morto" escreveu
sumariamente
Aron a Claude Mauriac,44 depois de seu encontro com Sartre no Hotel Lutetia. Mas, na
intimidade, seus interlocutores ficavam impressionados com sua vitalidade
indomvel.
Concordou em conceder uma entrevista a M.-A. Macciocchi, que ela publicou em
L'Europeo e que no o agradou.
Pouco antes de nosso regresso, recebemos um telefonema de Paris: Liliane Siegel nos
comunicava o assassinato de Goldman. Fiquei muito abalada. Goldman frequentava
assiduamente as reunies de Ls Temps Modernes, e minha simpatia por ele se
transformara em profunda afeio. Gostava de sua ironia inteligente, de sua alegria,
de seu calor. Era vivo, imprevisvel, muitas vezes engraado, fiel a suas inimizades e a
suas amizades. O fato de ter sido abatido a sangue-frio aumentava o horror
de sua morte. Sartre tambm se emocionou; mas agora
44. L temps immobile, de Claude Mauriac, t. VI.
155
#recebia todos os acontecimentos com uma espcie de indiferena.
De qualquer maneira, logo que regressamos, Sartre quis assistir ao enterro de
Goldmann. Claire Etcherelli nos conduziu em seu pequeno carro ao necrotrio, onde
no
entramos, e de l acompanhamos o carro fnebre at a porta do cemitrio. Havia l tal
multido, que tivemos muita dificuldade em atravess-la, embora as pessoas,
reconhecendo Sartre, se afastassem gentilmente. A partir de um determinado ponto, era
proibida a entrada de automveis; Etcherelli ficou no volante; Sartre e eu,
com muita dificuldade, abrimos caminho atravs da multido. Ele logo se sentiu
cansado. uis que se sentasse numa sepultura, mas algum trouxe uma cadeira. Sartre
se sentou e ficamos l um momento, cercados de desconhecidos que nos devoravam
com os olhos. Felizmente, Rene Saurel nos viu; seu carro estava parado exatamente
ao nosso lado. Entramos nele, depois de mandar avisar Claire Etcherelli que amos
embora.
Ele retomou seu trabalho com Victor. Estava um pouco preocupada com isso. Quando
lhe perguntei durante trs dias seguidos: "Trabalhou bem?" - ele me respondeu
no
primeiro dia: "No. Discutimos a manh inteira a propsito de ... (este ou aquele
assunto)." No dia seguinte, respondeu: "No. No estamos de acordo." No terceiro
dia, disse-me: "Conseguimos entender-nos." Eu temia que ele fzesse muitas concesses.
Teria gostado bastante de estar a par dessas entrevistas; mas eram gravadas,
e Arlette, encarregada de transcrev-las e datilograf-las, trabalhava lentamente. Nada
estava ainda pronto, dizia-me Sartre.
Em novembro, concedeu uma entrevista a Catherine Clment para L Matin e almoou
com a equipe do jornal. Em dezembro, exps a Bernard Dort suas ideias sobre o teatro;
a entrevista foi publicada na revista Travail Thtral; falava a dos autores dramticos
que apreciava:
Pirandello, Brecht, Beckett, e contava a histria de suas prprias peas. Em janeiro de
1980, protestou contra a
156
priso domiciliar de Andr Sakharov e apoiou o boicote aos J ogos Olmpicos de
Moscou. A 28 de fevereiro, foi entrevistado por L Gai Pied, uma publicao mensal
homossexual. E teve uma conversa com Catherine Clment e Bernard Pingaud para um
prximo nmero de L'Arc.
1980
De acordo com um novo check-up realizado no Broussais, ele no estava nem melhor
nem pior. Suas atividades o interessavam, suas relaes com jovens mulheres o
distraam. Apesar de tudo, viver era uma alegria para ele. Lembro-me da manh em que
um brilhante sol de inverno invadiu seu escritrio e banhou seu rosto: "Ohl
O sol", exclamou extasiado. Tnhamos feito o projeto de ir passar as frias de Pscoa,
Sylvie, ele e eu, em Beie-Ile, e ele falava disso frequentemente, com ar
feliz. Estava suficientemente preocupado com sua sade para continuar a no fumar. E,
que eu soubesse, s tomava lcool em pouca quantidade. Tomava to lentamente
a meia garrafa de Chablis que pedia quando almovamos juntos, que a deixava pela
metade.
E no entanto, um domingo pela manh, Arlette o encontrou deitado no tapete de seu
quarto com uma terrvel ressaca. Ficamos sabendo que fazia com que suas diversas
amigas, ignorantes do perigo, lhe trouxessem garrafas de usque e de vodca. Escondia-
as num cofre ou por trs dos livros. Sbado noite - a nica noite que passava
sozinho depois que Wanda se ia -, embriagara-se. Arlette e eu esvaziamos os
esconderijos, telefonei s amigas, pedindo-lhes que no mais trouxessem lcool, e
censurei
Sartre enfaticamente. Na verdade, j que no tivera consequncias imediatas, esse
excesso no alterara visivelmente sua sade. Mas sentia-me um pouco intranqila
quanto ao futuro. E sobretudo no entendia o re-
157
#tomo dessa paixo pelo lcool: isso no se encaixava com seu aparente equilbrio
mental. Ele eludiu minhas perguntas, rindo: "Mas voc tambm osta de beber",
diziame. Talvez no estivesse suportando a situao to bem quanto antes: no
verdade que "com o tempo nos habituamos" 45: o tempo, longe de curar as feridas,
pode, ao contrrio, exacerb-las. Mais tarde, achei que, sem que o reconhecesse
inteiramente, no devia estar muito satisfeito com a entrevista com Victor que
seria publicada em breve em L Nouvel Observateur.
Pude finalmente tomar conhecimento desta entrevista, assinada por Sartre e Benni Lvi
- o verdadeiro nome de Victor -, mais ou menos oito dias antes da data prevista
para sua publicao. Fiquei consternada; no se tratava, em absoluto, do "pensamento
plural" que Sartre mencionava em Oblqus. Victor no exprimia diretamente nenhuma
de suas opinies: fazia com que Sartre as endossasse, representando, em nome de no se
sabe que verdade revelada, o papel de procurador. Seu tom, a superioridade
arrogante que assumia em relao a Sartre, revoltaram todos os amigos que tomaram
conhecimento do texto antes de sua publicao. Ficaram, como eu, aterrados com
o contedo das declaraes extorquidas a Sartre. Na verdade, Victor mudara muito
desde que Sartre o conhecera. Como muitos antigos maostas, voltara-se para Deus:
o Deus de Israel, j que era judeu; sua viso do mundo tornara-se espiritualista e at
religiosa. Diante dessa nova orientao, Sartre torcia o nariz. Lembro-me
de uma noite em que, falando comigo e com Sylvie, manifestara seu descontentamento:
"Victor quer absolutamente que toda a origem da moral esteja na Tora! Mas eu
no penso isso de modo algum" - dizia-nos. E j mencionei que, durante dias, lutava
contra Victor, e depois de longa resistncia, cedia. Victor, ao invs de ajud-lo
a enriquecer seu prprio pensamento, pressionava-o para que o renegasse. Como ousar
pretender que a angstia
45. Huis Cios: "J e suppose qu' Ia longe on s'habitua" (Garcin).
158
fora, para Sartre, apenas uma moda, quando este jamais se preocupou com modas?
Como enfraquecer assim a noo de fraternidade, to forte e to dura em Critique
de Ia raison dialetique? No ocultei a Sartre a extenso de minha decepo. Ele ficou
surpreso com isso: esperava algumas crticas, no essa oposio radical. Disse-lhe
que toda a equipe de Ls Temps Modernes me apoiava. Mas ele apenas se obstinou
mais ainda em fazer publicar imediatamente a entrevista.
Como explicar este "desvio de velho", segundo as palavras de Oliver Todd (ele que no
recuou ante o desvio de um morto)?
Sartre sempre optara por pensar contra si mesmo mas nunca para perder-se na
facilidade; esta filosofia vaga e frouxa que Victor lhe atribua absolutamente no estava
de acordo com ele.46 Por que aderira a isso? Ele que jamais se submetera a nenhuma
influncia sofria a de Victor: ele indicou por qu. Mas um ponto que preciso
aprofundar. Sartre sempre vivera para o futuro: no podia viver de outra maneira.
Reduzido ao presente, considerava-se como morto.47 Idoso, ameaado em seu corpo,
semicego, o futuro estava fechado para ele. Recorreu a um ersatz: militante e filsofo,
Victor realizaria o 'novo intelectual' com que Sartre sonhava e que contribura
para fazer existir. Duvidar de Victor era renunciar a esse prolongamento vivo de si
mesmo, mais importante para ele do que os sufrgios de posteridade. Assim, apesar
de todas as suas resistncias, optara por acreditar nele. Tinha ideias, pensava, mas
lentamente. E Victor era volvel, atordoava-o com palavras, sem deixar-lhe
o tempo que seria necessrio para situar-se. Finalmente, o que foi, reio eu, muito
importante, Sartre j no podia ler, reler-se. Eu sou incapaz de avaliar um texto
que no tenha lido com meus prprios olhos. Sartre era como eu. S controlou o texto
em questo com os ouvidos. Disse-o em
46. Foi o que disse muito bem Raymond Aron, num debate com Victor, na televiso,
aps a morte de Sartre.
47. Foi visto que nos momentos de depresso ele se dizia "um morto vivo".
159
#sua entrevista com Contat:4 "O problema que nunca esse elemento de crtica
reflexiva, que est presente constantememe quando se l um texto com os olhos,
suficientemente claro durante uma leitura em voz alta." Por outro lado, Victor era
apoiado por Arlette, que nada conhecia das obras filosficas de Sartre e que simpatizava
com as novas tendncias de Victor: aprendiam hebraico juntos. Diante dessa
concordncia, faltava a Sartre a distncia que apenas uma leitura reflexiva e solitria
lhe teria proporcionado: ento, cedia. Uma vez publicada a entrevista, ficou surpreso e
triste ao saber que todos os sartrianos, e mesmo, de um modo geral, todos
os seus amigos, compartilhavam de minha consternao.
Na quarta-feira, 19 de maro, passamos uma noite agradvel com Bost, sem voltar ao
assunto. uando ia deitar-se, Sartre me perguntou: "Mencionaram a entrevista,
esta manh, em Ls Temps Modernes?" E respondi que no, o que era verdade. Pareceu
decepcionado: teria gostado tanto de encontrar aliados No dia seguinte de manh,
fui acord-lo s nove horas; habitualmente, quando entrava em seu quarto, ele ainda
cochilava; nesse dia, estava sentado na cama, ofegante, quase incapaz de falar.
J uma vez, em presena de Arlette, tivera o que chamava de 'uma crise de aerofagia',
mas fora muito rpida. Esta se prolongava desde cinco horas da manh, sem que
ele tivesse foras para arrastar-se at minha porta e bater. Assustei-me, quis telefonar,
mas o telefone estava cortado, porque Puig no pagara a conta. Vestime
s pressas e fui telefonar na casa da porteira a um mdico que morava ao lado e que veio
imediatamente. Logo que viu Sartre, chamou, da casa de um co-locatrio,
o S.A.M.U, que chegou em cinco minutos. Fizeram uma sangria em Sartre, deram-lhe
injees e o atenderam durante quase uma hora. Depois, deitaram-no numa espcie
de maca com rodas que percorreu um longo corredor; respirava oxignio que um
mdico mantinha por
48. "Autoportrait soixante-dix ans."
160
sobre sua cabea. Enfiaram-no num elevador e o levaram at uma ambulncia que
aguardava em frente a uma das entradas. Ainda no se sabia para que hospital lev-lo,
era preciso telefonar da portaria; tomei a subir para a casa de Sartre para fazer minha
toalete. Agora que estava em boas mos, achava que a crise seria rapidamente
debelada. No desmarquei com Den e J ean Pouillon, com quem iria almoar. Ao fechar
a porta para ir encontrar-me com eles, no imaginava que nunca mais ela se
abriria para mim.
Apesar de tudo, quando, aps a refeio, fui de txi para o Hospital Broussais - onde
sabia agora que Sartre se encontrava - pedi a Pouillon que me acompanhasse
e que me esperasse. "Estou com um pouco de medo", disse-lhe. Vi Sartre que estava
ento na sala de recuperao; respirava normalmente; disse-me que se sentia bem;
no fiquei muito tempo: ele dormitava e eu no queria fazer Pouillon esperar.
Os mdicos me informaram, no dia seguinte tarde, que ele estava com um edema
pulmonar, que lhe provocava febre, mas que logo desapareceria. Estava instalado num
quarto grande e claro e se julgava no subrbio. A febre o fazia delirar. Pela manh
dissera a Arlette: "Voc tambm est morta, pequena. Que achou de ser cremada?
Finalmente, eis-nos ambos mortos agora."49 A mim, contou que acabava de ir almoar
nos arredores de Paris em casa de seu secretrio (qual?). Nunca chamava assim
nem a Victor, nem a Puig: dizia seus nomes. Como eu parecesse surpresa, explicou-me
que o mdico, muito gentilmente, pusera um carro sua disposio para levlo
e traz-lo de volta. Atravessara subrbios muito curiosos e agradveis. No teria
sonhado?, perguntei. Disse-me que no, em tom zangado, e no insisti.
49. Arlette era judia e Lanzmann nos falava com frequncia de seu filme sobre a
exterminao de judeus e, portanto, dos fornos crematrios. Falavase tambm das teses
de Faurisson, que negava sua existncia. Por outro lado, Sartre desejava ser cremado.
161
#Nos dias seguintes a febre baixou, ele parou de delirar. A crise fora provocada,
disseram-me os mdicos, por uma falta de irrigao dos pulmes j que as artrias
funcionavam mal. Mas agora a circulao pulmonar estava restabelecida. Pensvamos
partir logo para Belle-Ile e Sartre alegrava-se com isso: "Sim, vai ser bom estar
l:
no se pensar mais em tudo isso." (Tudo isso, era a entrevista e o rebulio que
suscitara.) Como ele s pudesse receber uma pessoa de cada vez, Arlette ia ao hospital
pela manh, eu tarde. Telefonava por volta de dez horas, para saber como passara a
noite, e sempre me respondiam: "Muito bem." Seu sono era excelente. Tambm dormia
um pouco depois do almoo: falvamos de coisas sem importncia. Sentava-se numa
poltrona para fazer suas refeies e quando eu ia v-lo. Afora isso, permanecia muito
tempo deitado. Emagrecera, parecia fraco, mas seu moral estava muito bom. Desejava
ir-se, mas estava suficientemente fatigado para suportar a situao com boa vontade.
Arlette retomava, por volta das seis horas, para assistir a seu jantar e, s vezes, cedia seu
lugar a Victor.
Logo perguntei ao Professor Housset quando poderia sair. Ele me respondeu com
hesitao: "No posso dizer ...Ele est frgil, muito frgil." E, dois ou trs dias
depois, disse-me que Sartre tinha que descer novamente para o servio de recuperao:
somente l podemos vigilo vinte e quatro horas por dia, de modo a afastar
qualquer risco de acidente. Sartre no gostava de l. Quando Sylvie foi v-lo, Sartre lhe
disse - como se se tratasse de um hotel onde passasse uma temporada: "Aqui
no est bom. Felizmente vamos partir em breve. Agrada-me a ideia de ir para uma
ilhazinha."
Na verdade, j no se cogitava de ir para Belle-Ile:
suspendi a reserva de quartos que fizera. O doutor queria ter Sartre ao alcance da mo,
para o caso de nova crise. Mas levaram-no para um quarto maior e mais claro
do que o primeiro: " bom," disse-me ele, "porque agora estou bem peno de minha
casa." Ainda acreditava
162
vagamente ter sido hospitalizado, de incio, nos arredores de Paris. Parecia cada vez
mais cansado; comeava a apresentar escaras e sua bexiga funcionava mal: foi
preciso colocar-lhe uma sonda e, quando se levantava - o que agora era muito raro -
arrastava atrs de si um saquinho plstico cheio de urina. De quando em quando,
eu saa do quarto para deixar entrar uma visita: Bost ou Lanzmann. Ia ento sentar-me
numa sala de espera. Foi l que ouvi o Professor Housset e um outro mdico,
falando entre eles, pronunciarem a palavra 'uremia'. Compreendi que Sartre estava
desenganado e sabia que a uremia acarreta frequentemente sofrimentos atrozes; comecei
a soluar e me atirei nos braos de Housset: "Prometa que ele no se ver morrer, que
no sentir angstia, que no sofrer!" "Eu lhe prometo, senhora", disse-me
com gravidade. Um pouco mais tarde, como eu tivesse voltado para o quarto de Sartre,
ele me chamou. Disse-me no corredor: "Quero que saiba que no lhe fiz uma promessa
v:
eu a cumprirei."
Os mdicos me explicaram, depois, que seus rins j
no eram irrigados e, portanto, no mais funcionavam. Sartre ainda urinava, mas sem
eliminar a urea. Para salvar um rim, teria sido preciso uma operao que ele
era incapaz de suportar; e ento seria no crebro que o sangue j no circularia
adequadamente, o que acarretaria a demncia. No havia outra soluo a no ser deixlo
morrer em paz.
Durante os poucos dias seguintes, ele no sofreu: Ha apenas um momento um pouco
desagradvel, pela manh, quando fazem o curativo de minhas escaras", disseme, "mas
s isso". Tais escaras eram terrveis de ver (mas felizmente, ele no as via): grandes
placas violceas e avermelhadas. Na realidade, por falta de circulao sangunea,
a gangrena atacara sua carne.
Dormia muito, mais ainda falava comigo com lucidez. Por momentos, podia-se
acreditar que esperava sarar Como Pouillon tivesse ido v-lo num dos ltimos dias de
sua doena, ele lhe pediu um copo d'gua e lhe disse alegremente: "Da prxima vez que
bebermos juntos, ser
163
#em minha casa e com usque."50 Mas, no dia seguinte, perguntou-me: "Mas como
faremos com os gastos do enterro?" Logicamente, protestei e tergiversei quanto aos
gastos de hospitalizao, garantindo-lhe que o seguro social se encarregaria deles. Mas
compreendi que se sabia desenganado e que isso no o transtomava. Voltava,
apenas, preocupao que o atormentara nos ltimos anos:
a falta de dinheiro. No insistiu, no me fez perguntas sobre sua sade. No dia seguinte,
de olhos fechados, tomou minha mo e disse: "Amo muito voc, minha querida
Castor." A 14 de abril, quando cheguei, ele dormia;
acordou e me disse algumas palavras, sem abrir os olhos;
depois estendeu-me a boca. Beijei sua boca, seu rosto. Ele voltou a dormir. Essas
palavras, esses gestos, inslitos nele, inscreviam-se, evidentemente, na perspectiva
de sua morte.
Alguns meses depois, o Professor Housset, que eu quis ver, disse-me que Sartre, s
vezes, lhe fazia perguntas: "Em que vai dar tudo isto? O que vai acontecer?" Mas
no era a morte que o preocupava: era seu crebro. Certamente pressentiu a morte, mas
sem angstia. Estava "resignado," disse-me Housset, ou antes, corrigiu, "confiante".
Certamente, os antidepressivos que lhe deram contriburam para esta tranquilidade. Mas
sobretudo - exceto no incio de sua semicegueira - ele sempre suportara com
humildade o que lhe acontecia. No queria aborrecer os outros com seus problemas. E a
revolta contra um destino inevitvel lhe parecia intil. Dissera a Contat:51
" assim e nada posso fazer, ento no tenho motivo para desolar-me." Ainda amava a
vida ardentemente, mas a ideia da morte, ainda que afastasse seu desfecho at
os oitenta anos, lhe era familiar. Aceitou sua chegada sem problemas, sensvel s
amizades, s afeies que o rodeavam, e satisfeito com seu passado: "Fez-se o
que se podia fazer."
50. Georges Michel, cujo relato de um modo geral exato, equivocou-se quando pensou
que essas eram as ltimas palavras de Sartre.
51. "Autoportrait soixante-dix ans."
164
"
Housset afirmou-me, tambm, que as contrariedades que sofrera em nada podiam haver
influenciado seu estado uma crise emocional violenta poderia ter tido efeitos
funestos imediatos, mas diludos no tempo, as preocupaes, os desgostos em nada
alteravam o que estava em jogo: o sistema vascular. Acrescentou que este fatalmente
degeneraria num futuro prximo: em dois anos, no mximo, o crebro teria sido
atingido, e Sartre teria deixado de ser ele mesmo.
Na tera-feira, 15 de abril, quando perguntei, como
de hbito, se Sartre dormira bem, a enfermeira me respondeu: "Sim. Mas ..." Fui para l
imediatamente. Ele dormia, respirando pesadamente: visivelmente j estava
em coma; assim estava desde a vspera noite. Durante horas fiquei a olh-lo. Por volta
das seis horas, cedi lugar a Arlette, pedindo-lhe que me telefonasse se
acontecesse algo. s nove horas, o telefone tocou. Ela me disse: "Terminou." Fui para
l com Sylvie. Ele estava igual a ele
mesmo, mas j no respirava.
Sylvie avisou Lanzmann, Bost, Pouillon, Horst, que vieram logo. Permitiram que
ficssemos no quarto at cinco horas da manh. Pedi a Sylvie que fosse buscar usque
e bebemos, falando sobre os ltimos dias de Sartre, de dias passados e das providncias
a tomar. Sartre me dissera muitas vezes que no queria ser enterrado no Pre-Lachaise
com sua me e seu padrasto; desejava ser cremado. Decidiu-se inum-lo,
provisoriamente, no cemitrio de Montparnasse, de onde seria levado para o
PreLachaise para
a cremao; as cinzas seriam depositadas numa tumba definitiva no cemitrio de
Montparnasse. Enquanto o velvamos, os jornalistas cercavam o pavilho. Bost e
Lanzmann
solicitaram-lhes que se fossem. Eles se esconderam. Mas no conseguiram entrar. Por
ocasio da hospitalizao, tambm tinham tentado tirar fotografias, dois deles,
disfarados de enfermeiros, haviam procurado infiltrar-se no quarto, mas foram
expulsos. Os enfermeiros tinham a preocupao de baixar as persianas e de colocar
cortinas nas portas para proteger-nos. Ainda
165
#assim, foi publicada em Mate h uma fotografia, certamente tirada de um telhado das
vizinhanas, mostrando Sartre a dormir.
Em determinado momento, pedi que me deixasse sozinha com Sartre e quis deitar-me a
seu lado sob o lenol. Uma enfermeira me impediu: "No. Cuidado ...a gangrena."
Foi ento que entendi a verdadeira natureza das escaras. Deitei-me por cima do lenol e
dormi um pouco. s cinco horas chegaram enfermeiros. Colocaram um lenol
e uma espcie de coberta sobre o corpo de Sartre e o levaram.
Acabei a noite em casa de Lanzmann, onde passei, tambm, a de quarta-feira. Nos dias
seguintes quei em casa de Sylvie, onde estava mais protegida do que na minha
quanto aos telefonemas e aos jornalistas. Olhava os jornais e tambm os telegramas que
imediatamente afluram. Lanzmann, Bost, Sylvie ocupavam-se de todas as
formalidades.
O enterro foi marcado inicialmente para sexta-feira, depois para o sbado para que mais
pessoas pudessem comparecer. Giscard d'Estaing declarou que sabia que Sartre
no teria desejado funerais ociais, mas que ele desejaria pagar as exquias: ns
recusamos. Ele fez questo de recolher-se diante dos despojos de Sartre.
Na sexta-feira, almocei com Bost e quis rever Sartre antes do enterro. Estivemos no
anfiteatro do hospital. Sartre foi colocado em seu caixo, com as roupas que
Sylvie lhe havia comprado para ir pera: eram as nicas que estavam em minha casa;
ela no quisera ir casa dele para buscar outras. Ele estava calmo, como todos
os mortos, e, como a maioria deles, inexpressivo.
Na manh de sbado, reunimo-nos no anteatro, onde Sartre estava exposto, o rosto
descoberto, rgido e gelado em suas bonitas roupas. A pedido meu, Pingaud tirou
algumas fotografias dele. Depois de um tempo bastante longo, alguns homens cobriram
o rosto de Sartre com o lenol e fecharam o caixo, levando-o.
Subi no carro fnebre com Sylvie, minha irm, Arlette. A ssa frente havia um carro de
buques sun-
166
ti
tuosos e de coroas morturias. Uma espcie de micronibus transportava amigos idosos
ou incapazes de uma longa caminhada. Uma imensa multido acompanhava:
50.000 pessoas mais ou menos, jovens sobretudo. Pessoas batiam nos vidros do carro
fnebre: em sua maioria, fotgrafos que assentavam suas objetivas para tirar
instantneos
de mim. Amigos de Ls Temps Moderns Fizeram uma barreira atrs do carro, e, em
volta, desconhecidos espontaneamente fizeram uma corrente dando-se as mos. De um
modo geral, durante todo o trajeto, a multido se mostrou disciplinada e calorosa: " a
ltima manifestao de 1968" - disse Lanzmann. Eu no via nada. Estava mais
ou menos anestesiada por valium e gida em meu desejo de no desmoronar. Dizia a
mim mesma que era exatamente o enterro que Sartre desejava e que ele no o saberia.
Quando desci do carro fnebre, o caixo estava j no fundo do tmulo. Eu pedira uma
cadeira e permaneci sentada ao lado da sepultura, a cabea oca. Vislumbrei pessoas
debruadas nos muros, nas sepulturas, uma agitao confusa. Levanteime para retomar
ao carro: este estava apenas a dez metros de distncia, mas a multido era tal
que pensei que seria sufocada. Encontrei-me em casa de Lanzmann com amigos vindos
em desordem do cemitrio. Descansei um pouco e, como no quisssemos separar-nos,
jantamos juntos em Zeyer, num reservado: no me lembro de nada. Parece que bebi
muito, que quase foi preciso carregar-me para descer as escadas. Georges Michel
acompanhou-me
a casa.
Passei os trs dias seguintes em casa de Sylvie. Na quarta-feira pela manh realizou-se a
cremao no Pre-Lachaise e eu estava muito esgotada para comparecer. Dormi
- e no sei como - ca da cama e fiquei sentada no tapete. Quando Sylvie e Lanzmann
regressaram da cremao, encontraram-me a delirar. Hospitalizaramme. Estava com
uma congesto pulmonar da qual me
curei em duas semanas.
As cinzas de Sartre foram levadas ao cemitrio de Montparnasse. Todos os dias, mos
desconhecidas depositam em seu tmulo buques de flores frescas.
167
#H uma pergunta que em verdade no me fiz; talvez o leitor a coloque: no deveria eu
ter avisado Sartre da iminncia de sua morte? Quando ele se encontrava no hospital,
enfraquecido, sem esperanas, s pensei em dissimular-lhe a gravidade de seu estado. E
antes? Ele sempre me dissera que em caso de cncer ou de outra doena incurvel
queria saber. Mas seu caso era ambguo. Ele estava 'em perigo', mas resistiria ainda dez
anos como desejava, ou tudo terminaria em um ou dois anos? Todos o ignoram.
Ele no tinha nenhuma disposio a tomar, no poderia ter-se tratado melhor do que foi.
E amava a vida. J tinha tido muita dificuldade em assumir sua cegueira,
suas enfermidades. Se tivesse sabido com mais exatido a ameaa que pesava sobre ele,
isso apenas entristeceria inutilmente seus ltimos anos. De toda maneira,
eu oscilava como ele entre o temor e a esperana. Meu silncio no nos separou.
Sua morte nos separa. Minha morte no nos reunir. Assim : j belo que nossas vidas
tenham podido harmonizar-se por tanto tempo.
Entrevistas com J ean-Paul Sanre
Agosto-Setembro 1974
168
PREF CIO S ENTRE VIS TA S
Estas entrevistas realzaram-se durante o vero de 1974, em Roma, depois no ncio do
outono, em Paris. s vezes Sartre estava fatigado e me respondia mal; ou era
eu que estava sem inspirao e fazia perguntas ociosas: suprimi as conversas que me
pareceram sem interesse. Agru pei as outras por temas, sem deixar de seguir,
mais ou menos, a ordem cronolgica. Tentei dar-lhes uma forma legvel; sabemos que
h uma grande diferena entre palavras registradas por um gravador e um texto
corretamente redigido. Mas no tentei escrev-las no sentido literrio da palavra: quis
conservar sua espontaneidade. Encontrar-se-o aqui passagens descosidas,
estagnaes, repeties e at contradies: que eu temia deformar as palavras de
Sartre ou sacrificar suas nuanas. Elas no trazem nenhuma revelao nesperada
a respeito dele;
mas permitem acompanhar os meandros de seu pensamento e ouvir sua voz viva.
171
#Simone de Beauvoir - Voc falou ba poltica, no s com Grassi como com ou falar
do aspecto literrio e filosfico de sua o" V
J ean-Paul Sartre - Como quiser.
S. de B. - Mas acha que tem coisas a , respeito, isso lhe interessa?
J .-P. S. - Sim. Isso no me interessa atualmente, nada me interessa. Mas isso rn
suficientemente durante muitos anos, para qcr falar a respeito.
S. de B. - Por que que nada lhe inte mente?
J .-P. S. - No sei. Essa histria passou.- contrar coisas para dizer sobre ela. E j no a*
mas encontrarei.
S. de B. - H uma pergunta que gostar' lhe, que muitas pessoas se fazem, porque voc?
pondeu: explicou muito bem em Ls mots cou para voc ler, escrever, e como,
quando ' anos, possua o que j se podia chamar de ur. de escritor. Estava destinado
literatura. Isso /t que quis escrever, mas absolutamente no ex escreveu o
que escreveu. sobre isso que gosta1 falasse um pouco: o que ocorreu entre os oze
anos, no momento em que j estava formado? c1 lao entre suas obras literrias
e sua oba Quando o conheci, disse-me que queria ser, ao r11' p, Spinoza e Stendhal.
Era um programa bagti'" ressante. Comecemos pelas coisas que escrevia T conheci.
Por que era isso o que escrevia, coiio
-
#J .-P. S. - Uma das obras hericas que escrevera aos onze anos, aos doze anos,
chamava-se "Gotz von Berlichingen" e, conseqeemente, prenuncia L Diable et l bon
Dieu. Gotz era um heri notvel, agredia as pessoas, fazia com que imperasse o terror,
mas, ao mesmo tempo, desejava o bem. E depois, eu encontrava um fim em Lectures
pour tous. Tratava-se de um homem da Idade Mdia, no sei se era Gotz. De todo
modo, queriam execut-lo, faziam-no subir ao relgio do campanrio e faziam um
orifcio
no lugar do meia-dia, no relgio, um orifcio que se comunicava com o exterior.
Introduziam sua cabea nesse orifcio e os ponteiros, passando de onze e meia a
uma e meia, cortavam-lhe a cabea ...
S. de B. - Era um pouco no estilo de Edgar Pe.
J .-P. S. - Era uma decapitao de retardamento. Na verdade, isso me impressionou
muito. Como v, fazia ainda o que fiz durante muito tempo: copiava.
S. de B. - Durante quanto tempo copiou e quando comeou a fazer da literatura uma
maneira de expressarse?
J .-P. S. - Muito tarde. Copiei e, se no copiei, manipulei velhas histrias de jornaizinhos
e de aventuras, at quatorze, quinze anos. Foi a mudana para Paris que
me fez mudar de posio. Creio que devo ter escrito um ltimo romance, que era alis
esse Gotz, em La Rochelle, no quarto ano; nos dois anos seguintes no escrevi
muito. E no primeiro ano, quando cheguei a Paris, comecei a escrever coisas mais
srias.
S. de B. - Quanto a essas histrias que mais ou menos copiava havia uma escolha que as
presidia. No copiava qualquer histria. Apreciava sempre, como Pardailian,
as histrias de aventuras, as histrias hericas, at os quatorze anos ...
J .-P. S. isso. O herosmo de um homem mais forte que os outros, quase que maior,
um pouco o oposto do que eu era, e que com um golpe de espada matava os maus,
libertava reinos ou salvava moas.
174
S. de B. - Pode-se dizer que, at os quatorze anos, foi esse o processo que voc descreve
em Ls mots: brincar de escrever, sem realmente escrever. E por que a chegada
a Paris modificou sua relao com o escrever?
J .-P. S. - Bem, isso est ligado literatura dos outros. Em La Rochelle, eu ainda lia
romances capae-espada, romances clebres como Rocambole e Fantomas, romances
de aventura, e ainda toda uma literatura que era a da pequena burguesia. Por exemplo,
Claude Farrire; escritores que escreviam histrias de viagens, de navios,
e havia sentimentos, havia amores nelas, havia violncias, pequenas violncias que eles,
alis, censuravam; e mostravam, ainda, a deliqescncia das colnias.
S. de B. - Chiando chegou a Paris, mudou de leituras?
J .-P. S. - Sim.
S. de B. - Por qu? Sob quais influncias?
J .-P. S. - Sob a influncia de rapazes que se encontravam l, de alguns rapazes: Nizan, o
irmo do pintor Gruber, que estava na minha classe. Nunca soube o que se
fez dele, era um rapaz inteligente e que lia muito boa
literatura.
S. de B. - O que comearam a ler nessa ocasio?
j.-p. S. - Nessa ocasio, comeamos a ler coisas srias; Gruber, por exemplo, lia Proust,
e conheci Proust,
nesse ano do colgio, extasiado.
S. de B. - Ah! Voc se ligou imediatamente.
J .-P. S. - Sim, imediatamente. Houve uma modificao, porque ao mesmo tempo eu me
interessava pela literatura clssica, que nos era ensinada por nosso professor,
o Sr. Georgin, homem muito interessante, muito agradvel, muito inteligente. Dizia-nos:
quanto a esse problema, quanto a essa questo, assunto de vocs; ento
lamos. Eu ia Biblioteca Sainte-Genevive e lia tudo o que podia sobre o tema. Sentia-
me orgulhoso disso. Nesse momento, pensei em introduzir-me no campo da literatura,
no como escritor, como homem de cultura.
175
#S. de B. - Penetrou na cultura por intermdio dos companheiros e por intermdio dos
professores. Alm de Proust, quais foram os escritores que despertaram seu interesse
nessa poca?
J .-P. S. - Bem, Conrad, por exemplo, no primeiro ano e em filosofia*, mas sobretudo
em filosofia.
S. de B. - E voc lia Gide?
J .-P. S. - Um pouco, mas sem grande interesse. Lamos Nourritures terrestres; achava
aquilo um pouco tedioso.
S. de B. - Liam Giraudoux ?
J .-P. S. - Sm, muito. Nizan o admirava muito. Chegou mesmo a escrever uma novela
bem no estilo de Giraudoux, e eu mesmo fiz uma novela inspirada nele.
S. de B. - Ela foi publicada na Revue sans Titre?
J .-P. S. - Essa no. A que foi publicada na Revue sans Titre foi J esus Ia chouette.
S. de B. - Sim, e havia tambm L'ange du morbide. Mas voc escreveu isso mais tarde.
J .-P. S. - Sim, escrevi-o quando em hypo-khgne**, isto , aos dezessete anos.
S. de B. - E no primeiro ano e em filosofia, o que escrevia?
J .-P. S. - No escrevi nada de muito especfico que tenha conservado; lembro-me, por
exemplo, de uma historia estranha: um homem que morava no quinto andar;
meus avs no moravam no quinto, moravam no terce ro, mas o quinto me fascinava,
por ser o ltimo do prdio. Eles moravam no terceiro, mas tinham morado no quinto.
Em resumo, tratava-se de uma lembrana do tempo em que eu morava na Rua L Goff,
com uma vizinhazinha de quem gostava muito.
rA alunos P1 de filosofia. (N. do T.) a liceus Pa paa l
176
S. de B. - E com relao a isso que voc diz, em Ls mots, que sempre gostou de uma
situao 'elevada' ... O que acontecia ento com esse homem?
J .-P. S. - Bem, ele se considerava um fara. Por qu? No saberia diz-lo.
S. de B. - Era uma reencarnao?
J .-P. S. - Era um fara. Estava ali, falava com uma jovem mulher e dizia-lhe coisas
referentes filosofia:
ideias minhas. Isso foi no primeiro ano ou no incio da filosofia.
S. de B. - Havia j um tipo de contedo filosfico no que voc procurava fazer?
J .-P. S. - Sim, no sei por qu. Enfim, falaremos disso mais tarde. Sabe, ali, era um
pouco como no final do sculo XIX; coloca-se filosofia, mesmo em Bourget, h
filosofia num relato que quer provar uma coisa ou outra. Era um pouco assim.
S. de B. - Era literatura de tese. J .-P. S. - A tese era inventada na hora.
S. de B. - Mas, finalmente, o que tentava exprimir, eram mais suas ideias do que sua
experincia do mundo, do que sua sensao do mundo?
J .-P. S. - Eram minhas ideias, que alis deviam compreender uma experincia do
mundo, mas no a minha, uma experincia articial, fictcia. Escrevi, um pouco mais
tarde, a histria de um jovem heri e de sua irm, que subiam at os deuses, com uma
experincia de pequenos-burgueses, em suma. Tratava-se de uma experincia que
valia por minha experincia, mas que, em realidade, nada tinha a ver com ela, j que
eram crianas gregas.
S. de B. - Havia uma jovem em Er 1'armnien? J .-P. S. - Sim, mas quase no era
mencionada. Dava a deixa ao jovem heri.
S. de B. - ual era a histria exatamente? No era uma histria de avaliadores de almas?
No era justamente o armnio que era um avaliador de almas?
177
#J .-P. S. - No, o armnio era avaliado. E havia uma grande batalha com os gigantes, a
grande batalha de Oeta com os gigantes, com os Tits.
S. de B. - Mas isso era posterior a J esus Ia chouette e a L'ange du morbide.
J .-P. S. - Ah, sim. J esus Ia chouette anterior a L'ange du morbide; isso deve ter sido
escrito no primeiro ano e em filosofia.
S. de B. - Pode dizer-me por que o escreveu? O que representava para voc? J esus Ia
chouette era a vida de um pequeno professor da provncia, isso mesmo?
J .-P. S. - Sim. Mas visto por um aluno; o heri era um professor verdadeiro do liceu de
La Rochelle; imaginava seu enterro. Ele realmente morrera durante o ano.
Os alunos no haviam acompanhado o enterro, mas em minha histria acompanhavam-
no e eu imaginava o enterro, porque talvez o tenha acompanhado; mas no aconteceu
nada de extraordinrio. Em minha histria, os alunos faziam baderna durante o enterro.
S. de B. - Mas o que o levou a escrever essa histria? E porque via nesse professor,
embora no o respeitasse, a antecipao de seu prprio destino? Ou, simplesmente,
por qualquer razo, ele o interessara?
J .-P. S. - O que preciso pesquisar, em primeiro lugar, como passei do romance capa-
e-espada para um romance realista: o heri era deplorvel. De qualquer forma
mantive minha velha tradio de um heri positivo, encarnando-o no garoto, que nada
fazia de extraordinrio, mas que era apresentado como uma testemunha crtica,
muito inteligente e ativo na histria.
S. de B. - Eis a um aspecto interessante. Como passou do plgio de histrias hericas a
uma inveno de histrias realistas?
J .-P. S. ~No era inveno, porque no fundo a histria aconteceu dessa maneira. Eu
iventei os detalhes.
S. de B. - Mas no a copiou num livro. Como fez a passagem?
178
!
J .-P. S. - Creio que apesar de tudo o que investia na literatura de aventuras sabia que se
tratava apenas de um primeiro estgio, que havia uma outra literatura.
Sabia-o, j que lia outros livros em casa de meu av; em Ls misrables havia um lado
herico, mas de toda maneira no era isso; eu lera os romances de France, lera
Madame Bovary. Sabia, pois, que a literatura no comportava sempre esse lado de
aventura, e que era preciso chegar ao realismo. Passar do romance capa-e-espada ao
realismo era falar das pessoas tal qual as via. Mas de qualquer forma, era preciso que
houvesse algo de palpitante nisso. Eu no teria podido conceber certos livros
da poca nos quais nada acontecia. Era preciso que houvesse um acontecimento da
importncia de um acontecimento herico, e nesse relato, foi essa morte que me
mobilizou.
Finalmente, isso aconteceu assim. Ele morreu no meio do ano, e foi designado outro
professor, que era inteiramente diferente. Era uma pessoa jovem, que retomava
da guerra, que tinha qualidades. Depois do quarto ano...
S. de B. - Voc conheceu J esus Ia chouette no quarto ano. Mas escreveu o romance
muito depois. J tinha lido Proust, quando escreveu o romance?
J .-P. S. - Tinha comeado.
S. de B. - Quero dizer: Proust motivou-o a escrever histrias quotidianas?
J .-P. S. - No; creio que isso se deveu ao fato de que tivesse um excelente professor, e,
alm disso, havia todos aqueles romances que falavam do quotidiano, e isso
me parecia normal. Sabia que isso existia.
S. de B. - isso. Voc leu uma literatura muito mais realista e vlida que no conhecia
antes, e isso o motivou a escrever, voc tambm ...
J .-P. S. - Ela pertencia s coisas que eu conhecia. Por exemplo, conhecia Madame
Bovary, que, em minha opinio, s podia ser considerado realista. Tinha lido Madame
Bovary em minha juventude, percebera bem que no se tratava de um romance capa-e-
espada, sabia, pois,
179
#que se escreviam outros livros que no aqueles que eu sonhava escrever e que chegaria
a isso. Ento, no primeiro ano comecei a escrever J esus Ia chouette, onde
achava que havia realismo, j que, no fundo, alterando os detalhes, contava a histria de
um dos meus professores.
S. de B. - E, alm disso, talvez estivesse um pouco decepcionado com o capa-e-espada.
Era uma coisa um pouco infantil.
J .-P. S. - Ah, sempre gostei muito disso. S. de B. - E ento, L'ange du morbide foi
depois? J .-P. S. - L'ange du morbide foi depois. Sim, porque nessa ocasio, Nizan
e eu conhecemos um tipo interessante chamado Fraval. Era um hypo-khgne, que
pensava tomar-se escritor, mas que se preocupava sobretudo com o aspecto material
disso. Queria, em particular, ter uma revista.
S. de B. - Foi ele quem fez a Revue sans titre?
J .-P. S. - Sim. Naquela ocasio ramos publicados em Rvue sans titre.
S. de B. - Publicaram-lhe J esus Ia chouette em Re vue sans titre.
J .-P. S. - Sim, mas no somente J esus Ia chouette. Tambm L 'ange du morbide.
S. de B. - O que ele representava para voc?
J .-P. S. - O realismo; passava-se num lugar que eu conhecia, a Aiscia. Havia l um
sanatrio, no muito longe, na montanha, que eu vira de passagem. Havia uma encosta
com pinheiros e, em frente, ao longe, viam-se casas. Era l o sanatrio. Eu situava um
personagem nesse sanatrio, creio que um jovem professor que adoecia, e sua
descrio era inteiramente absurda, era inventada, eu colocava nela uma certa ironia e
tambm coisas minhas, sem que me desse conta disso.
S. de B. - O que, por exemplo? A histria conta que ele beijava uma tuberculosa, no ?
Para contagiar-se da doena, no?
J .-P. S. - Creio que se deitava com ela. No. Ele estava doente. Mas ela sofria uma crise,
estava muito pior do que ele. Isso ocorria no sanatrio, e ela retomava
a seu
180
quarto, aps haver passado uma noite bastante desagradvel com ele. No haviam tido
relaes sexuais, porque ela tossira muito. No vejo muito bem a concluso...
S. de B. - Por que essa ideia mrbida? No sei se ele sorvia seus escarros, mas isso era
bastante marcante. Ele queria ficar doente.
J . - P. S. - Ele estava doente.
S. de B. - Sim. Mas por que o mrbido? O que o levava, naquela poca, a contar
histrias mrbidas?
J .-P. S. - Era mrbido porque se tratava de dois tuberculosos que tinham relaes
sexuais. Eu era totalmente so. Assim, esse lado tuberculoso me escapava, bem como
o lado sexual. Era realmente brincar com conceitos. Creio que, de bom grado, teria
escrito histrias apavorantes. Aquela no era uma histria apavorante, mas o
personagem estava apavorado; j no sei bem por qu: tinha sonhos durante a noite?
S. de B. - Seria preciso reler o texto.
J .-P.S. - Vejabem que, de certa maneira, era o meu meio que eu descrevia. No se
tratava de ambientes barrocos.
S. de B. - E as outras histrias publicadas em Revue sans titre eram tambm realismo?
J .-P.S. - Sim.E meu primeiro romance, que no foi publicado, Une dfaite, tambm era
realismo. Mas era um realismo curioso; era a histria de Nietzsche e de Wagner,
representando eu o papel de Nietzsche e um personagem bastante apagado
representando Wagner. E Cosima Wagner.
S. de B. - No se pode dizer que se trate de realismol
J .-P. S. - No; e . Porque Wagner era professor, escritor genial, em Paris. Quanto a
mim, estava na Escola Normal. Portanto, era realismo.
S. de B. - Sim, voc tomava um esquema romntico, que tratava de maneira realista.
Mas voc escreveu Frederic antes ou depois de Er 1'armnien?
j-p. s. - Antes. Alis, no oescrevi at o fim. Nizan levara o texto Gailimard, que o
recusou.
181
#S. de B, Foi quando voc conheceu Camille? Cosima Wagner era muito inspirada em
Camille?
J .-P. S. - Sim, conheci Camille no ano em que entrei na Escola Normal. Ou seja, a filha
de minha tia morreu naquele ano. Estive ento no enterro e foi l que conheci
Camille.
S. de B. - Havia ento voc, depois um escritor inspirado e Wagner, e Cosima, que era
inspirada por suas leituras sobre Cosima Wagner e por seu prprio conhecimento
de Camille.
J .-P. S. - Sim, naquela ocasio eu lia Andier, sobre Nietzsche.
S. de B. _ Ento, era um esforo para conciliar o realismo co uma histria de
aventuras...
J .-P. S. _ Sim, uma histria de aventuras. O heri apaixonava-se por Cosima, estando
Cosima apaixonada por Wagner e ele liado a Wagner... Era o que sobrava de
um romance capa-e-espada transformado num romance realista.
S. de B. - Depois, houve Er 1'armnien e at La lgende de Ia verit seguia um pouco
essa direo. Houve uma transio para a mitologia grega, com um estilo bastante
afetado. Como se realizou essa transio? Ser que a influncia de seus estudos gregos e
latinos o marcou muito?
J .-P. S. - Certamente. Isso me marcou. Creio que considerava a Antiguidade como uma
reserva de mitos.
S. de B. _ Voc ficou muito apaixonado plos gregos, os latinos?
J .-P. S. _ sim, desde o sexto ano. O Egito, a Grcia e Roma. Naquela poca estudava-se
histria antiga no sexto e no quinto ano, creio. Ento, eu lia livros; lia
especalmente a histria romana de Duruy, cheia de fatos anedticos.
S. de B. _ isso tinha um aspecto herico... Aproximava-se um pouco do romance capa-
e-espada. Mas como se explica ento que Nizan j tivesse um estilo, mesmo na Revue
sans titre, um estilo moderno, influenciado por Graudoux, enquanto voc, ao contrrio -
isso durou at La nausee -, tinha um estilo muito clssico, at afetado.
182
Voc diz que apreciou Proust, Giraudoux, mas absolutamente no os sentimos no que
voc escrevia nessa poca.
J .-P. S. - No, mas porque eu vinha da provncia onde conhecera toda a literatura do
sculo XIX burgus, como, por exemplo, Claude Farrre: eram autores afetados,
clssicos, tolos. E Nizan estava em Paris. Um liceu de Paris era muito mais avanado do
que o liceu de La Rochelle. Ns no vivamos no mesmo ambiente. Eu vivia
no sculo XIX e Nizan, sem situar-se bem, vivia no sculo XX.
S. de B. - Mas quando voc foi para Paris, leu os mesmos livros que Nizan, tomou-se
amigo de Nizan; isso permaneceu superficial, no o influenciou?
J .-P. S. - Sim, isso provocou uma crise, ao contrrio. Uma crise interna. Oh! No muito
grave, mas enfim ...
S. de B. - De toda maneira isso pesou. J . -P. S. - Sim. Para um sujeito que lia Claude
Farrre, era complicado ler Proust, por exemplo. Era preciso que modificasse
minhas perspectivas, que modificasse minhas relaes com as pessoas.
S. de B. - com as pessoas ou com as palavras? S.-P. S. - com as palavras e com as
pessoas; era preciso que eu visse que se tm relaes mais ou menos distanciadas
com as pessoas, que de tempos em tempos era-se ativo em relao a elas, outras vezes
passivo. Isso foi muito importante; tentei perceber o que era um verdadeiro
meio, com as verdadeiras relaes que as pessoas mantm entre si, ou seja, reagindo ou
submetendo-se: isso eu no conhecia.
S. de B. - Explique-se um pouco melhor: relaes verdadeiras com as pessoas,
submetendo-se, agindo ...
J .-P. S. assim que so as pessoas, elas agem e se submetem. Mas h as que se
submetem e h as que agem. S. de B. - Mas como foi que descobriu isso em Paris?
J .-P. S. - Porque nessa ocasio eu vivia em regime de pensionato, isso pesou muito.
Nizan tambm estava em regime de pensionato. Ento, tnhamos relaes com as
pessoas, tnhamos relaes com os alunos, relaes de
183
#internos. As relaes de internos eram terrivelmente difceis.
S. de B. - Por que exatameme?
J . -P. S. - Porque h o dormitrio que todo um mundo. Lembra-se de quando Flaubert
estava no dormitrio e s pensava em ler literatura romntica? Ele a lia l.
um mundo, o dormitrio.
S. de B. - O que no percebo bem que, quando estava em La Rochelle, voc, de
qualquer maneira, sabia que as pessoas agem, submetem-se, no? E em suas relaes
com seus companheiros? Explique um pouco melhor a mudana que acarretou a ida de
La Rochelle para Paris.
J .-P. S. - Bem, o fato de ser interno era algo que eu desconhecia. E me haviam falado
muito mal do internato. At meu av e meus pais: no, voc no vai ser interno,
porque ficar longe da famlia, pode ser perseguido por professor, pelo diretor; mas eu
no podia ir dormir todas as noites em casa de meu av; dormia l uma vez
por semana, aos domingos, e o resto do tempo era preciso colocar-me em algum lugar,
eu ficava interno, era natural. Era interno do Henri IV, meu av consegira que
eu fosse aceito l. E ali, minhas relaes com as pessoas mudaram. Imagine que, aos
domingos, ia cantar na missa.
S. de B. - mesmo? Isso eu nunca soube. Por que ia cantar na missa?
J .-P. S. - Porque me agradava cantar, e haviam solicitado gente para formar um coro de
cantores na missa. Tocava-se rgo na capela do Henri IV.
S. de B. - muito interessante. Mas em que o fato de cantar na missa e de participar de
um dormitrio explica a mudana que houve em sua literatura?
J .-P. S. - No que isso o explicasse. Disse que era um outro ambiente que me rodeava;
durante seis dias dormia no liceu, ficava sem sair do liceu, com as noites
e essas relaes singulares que se tem quando se interno; e depois, aos domingos, ia
para a casa de meus avs, era um mundo totalmente diferente do de meus pais,
j que meu av era professor. E eu tinha sua biblioteca. Vivia
184
num outro mundo. Um mundo de universitrios, alis, j que me preparava para a
Escola Normal e para a agregao.*
S. de B. - Quais foram os colegas que tiveram importncia para voc nessa poca? Em
primeiro lugar, Nizan, claro, e esse Gruber de quem me falava ...
J .-P. S. - Gruber no foi importante, tnhamos somente relaes cordiais. Houve Chadel,
amigo de Nizan, e que tambm se tomou meu amigo. Ns o desprezvamos, mas
ele se referia a nossas relaes a trs, aos trs mosqueteiros, eram mitos que lhe
transmitamos, que no utilizvamos. Houve tambm um sujeito que se tomou parteiro
depois, um sujeito timo, muito simptico.
S. de B. - Voc estudava muito nessa poca?
J .-P. S. - Recebi o prmio de excelncia no ltimo ano de colgio e talvez em filosofia,
j no me lembro.
S. de B. - E por que foi a losoa que escolheu finalmente? J que tambm gostava muito
de letras.
J .-P. S. - Porque quando z o curso de filosofia de Cucuphilo, que era meu professor -
chamava-se Chabrier mas seu apelido era Cucuphilo -, ela me pareceu o conhecimento
do mundo. Havia todas as cincias que pertenciam filosofia; em metodologia,
aprendia-se como se constitui uma cincia. E para mim, do momento em que se sabia
como
se faz matemtica, ou as cincias aturais, isso significava que se conheciam todas as
cincias naturais e matemticas; portanto, eu pensava que se me especializasse
em filosofia, apreenderia o mundo inteiro, sobre o qual deveria falar em literatura. Isso
me dava, digamos, a matria.
S. de B. Como via a literatura nessa poca? Voc diz esse inundo inteiro, sobre o qual
deveria falar: achava que o escritor deve explicar o mundo?
J .-P. S. - Creio que eram as conversas com os rapazes que me davam essa ideia. Talvez
tenha ocorrido a
* Admisso ao grau de agregado nas universidades, ou seja, substituto do catedrtico.
(N. do T.)
185
#Nizan em primeiro lugar, no sei. De toda maneira, eu achava que o romance devia
retratar o mundo, tal como era, tanto o mundo literrio e crtico como o mundo
das pessoas vivas. No gostava muito de Alphonse Daudet, mas ele me surpreendia,
porque escrevera um romance sobre os acadmicos, assumira uma profisso, se que
se pode denominar isso uma profisso, e dela zera todo um romance; dava os nomes dos
acadmicos.
S. de B. - Mas voc no achava que a literatura deveria consistir em falar de voc?
J .-P. S. - Ah De modo algum. Porque, como lhe digo, comecei plos romances capa-e-
espada. J no pensava nisso, mas algo permanecia. H ainda um pouco de romance
capa-e-espada em Ls chemins de Ia liberte.
S. de B. - Sim. Mas nada em La nause.
J .-P. S. - Nada em La nause.
S. de B. - Nem em L mur. Bem. Ento voc estudou filosofia, porque era a disciplina
que lhe permitia saber tudo, acreditar que se soubesse tudo, que se haviam dominado
todas as cincias.
J .-P. S. - Sim; um escritor tinha que ser um filsofo. A partir do momento em que soube
o que era a filosofia, parecia-me normal exigir isso de um escritor.
S. de B. - Sim, mas por que era absolutamente necessrio escrever?
J .-P. S. - Perteno a um perodo em que a literatura pessoal era pouco valorizada, pelo
menos entre os leitores burgueses e pequeno-burgueses, aos quais pertenciam
meu av e as pessoas que me cercavam. Nesse ento no se escreviam coisas pessoais.
S. de B. - Mas quando voc comeou a gostar de Proust, o que ele conta exatamente o
tipo de coisas pessoais: como dorme, como no dorme. claro que h tambm
o mundo dentro disso, mas enfim ...
J .-P. S. - Sim, foi sobretudo o mundo que apreciei em Proust, de incio. Isso veio pouco
a pouco. Tambm achei, depois, que a literatura se destinava a coisas pessoais.
Mas, preciso no esquecer que, a partir do mo-
186
mento em que estudei filosofia, e que escrevi, pensava que o resultado da literatura
consistia em escrever um livro que revelasse, para o leitor, coisas em que este
jamais pensara. Durante muito tempo, foi essa a minha ideia: que eu chegaria a dar do
mundo, no o que qualquer um pudesse ver, mas coisas que eu veria - que no
conhecia ainda - e que desvendariam o mundo.
S. de B. - E por que se sentia capaz de desvendar o mundo para as pessoas? Como se
sentia internamente? Sentia-se muito inteligente, muito dotado, predestinado?
J .-P. S. - Muito inteligente, certamente sim. Embora tenha tido dificuldades; por
exemplo, resultados bastante insatisfatrios em matemtica e, acho que tambm,
em cincias naturais. Mas considerava-me muito inteligente. No pensava que tivesse
qualidades particulares. Pensava que o estilo, e o que se tem a dizer, fosse
dado a qualquer pessoa inteligente que observa o mundo. Em outras palavras, havia toda
uma teoria em mim - aspecto sobre o qual voltaremos a falar - segundo a qual
eu era um gnio, completamente contraditado por minha maneira de escrever e de pensar
o que escrevia. Pensava que, de certa maneira, era um homem qualquer que fazia
livros e se os fizesse da melhor maneira possvel obteria alguma coisa. Seria um bom
escritor e, sobretudo, descobriria a verdade do mundo.
S. de B. - interessante, essa ideia de descobrir a verdade do mundo. Mas isso se
originava do fato de possuir voc o que chamamos ideias, teorias. Mesmo quando
era jovem, tinha vises prprias sobre as coisas.
J .-P. S. - Sim, tinha vises prprias que valiam o que valiam. Mas as tinha desde os
dezesseis anos. O primeiro ano e a filosofia foram anos em que inventei uma
quantidade de ideias.
S. de B. - Sim, e essas ideias deviam ser transmitidas sob uma forma literria; era
preciso criar um belo objeto, um livro, mas que revelasse, ao mesmo tempo, essas
ideias que estavam em voc: em resumo, a verdade do mundo.
187
#T .p s Essa verdade, eu ainda no a conhecia inteiramente, longe disso. Absolutament,
no a conhe | cia Mas a aprenderia aos poucos. Aprencia menos obser- | vando
o mundo do que combinando as p. alavras. Combi- | nando as palavras, obtinha coisas
reais. | S. de B. - Como assim? Isso importante,
j o _ Bem, eu no sabia como. Mas sabia que a | combnao das palavras dava
resultados. CombinvamoIas e depois havia grupos de palavras qe proporciona- ;
vam uma verdade. .
S de B. - Isso, no compreendo mnto bem. p _ Literatura consiste em arupar palavras
umas com as outras: eu ainda no me p-reocupava com ramtica e com tudo
o mais. Combinaa-se atravs da imaginao, a imaginao que cria palvras como ...
rebrousse-oleil. Entre esses grupos de p-alavras. alguns
pram verdadeiros.
S de B - Parece quase surrealismo. Agrupam-se as
palavras e depois, subitamente, essas palaras, no se sabe por que magia, desvendam o
mundo?
T p s - era assim. Na verdade, mo se sabe por
que magia.' porque eu no sabia qual era. Uma conana em o escreva ao acaso,
ogando as palavras de qualquer maneira?
T -P. S. - Certamente que no. ,,.n S de B. - Era, ao contrrio, muto construdo
muito trabalhado. Ento seria preciso ver a relao entre
essa literatura e a filosofia rnira tinha T -P S. Sobretudo quando essa U ".-o
algo de filosfica. Por exemplo, descobri o1111 no primeiro ano, ou em hypo-khgne
ou em flosofia.
S. de B. - Isso o interessava? j p S. - Sim, um pouco. Era buarro, euai
uma formao muito clssica e Ento queria interessar-me, porque Nizan .se mter
* "A contra-sol". (N. do T.)
188
nouco interessei-me cada ve mais. Na Escola e, P,0 a 'tendncia dominante. Mas as
pessoas que
Norlnalera noeram muito mais velhas do que eu. Eu prooviam no eral Escola
Normal.
as10 e cTncohavia grande diferens surrealista vmt Conceptan, Eluard,
de ade_ Le \ para mim; lembro-me;
Breton; isso foi mto p as. Alis, tentei
porque seaTnle Canception. E tambm rcea: a pensar nos loucos naquela poca. Co-
do surreali z eender
aco fuosofia-literatura. Em Er l-armmen aTum o filosfico. Havia uma determinada
enm que voqua mi J agDesvedava para o;
:mo qpas onhecimentos
S' de B - De onde lhe vinha essa certeza de ser o detentor de vdadesicau
J no mundo, mas estava certo de que as en-
T B - E de onde lhe veio a primeira de suas idj importantes - que sempre permaneceu,
sob uma
forma ou outra - a ideia da contingncia?
J -P S - Bem, encontro a primeira aluso a essa
ideia na caderneta dos Supositrios Midy
S. de B. - Conte o que era essa cadernet J .-P. S. - Encontrei a caderneta no metro Er a no
perodo de khgne, era minha primeira cadernet_ filofica e eu a pegara
para anotar todas as coisas que pen
S. de B. - Era uma caderneta que encontrou sem
Era uma caderneta que encontrou sem
nada escrito?
f
:
189
#J .-P. S - Sim, estava no metro. E ento me aproximei de um objeto que estava sobre
um banco, e era uma caderneta sem nada escrito. Era uma caderneta distribuda
plos Laboratrios Midy e dada a um mdico, era por ordem alfabtica. Assim, se eu
tinha um pensamento que comeava por A, anotava-o. Mas o que h de curioso o
incio do pensamento sobre a contingncia. Pensei sobre a contingncia a partir de um
filme. Via filmes nos quais no havia contingncia, e quando saa encontrava
a contingncia. Era, portanto, a necessidade dos filmes que me fazia sentir, na sada, que
no havia necessidade na rua. As pessoas se deslocavam, eram qualquer
um ...
S. de B. - Mas de que maneira essa comparao assumiu a importncia que assumiu
para voc? Por que esse fato da contingncia o mobilizou tanto, que voc quis realmente
fazer isso... lembro-me que, quando nos conhecemos, voc me disse que queria fazer
disso algo que seria como ofatum para os gregos. Queria que fosse uma das dimenses
essenciais do mundo.
J .-P. S. - Sim, porque achava que a negligenciavam. Alis, continuo achando isso. Se se
chega ao fundo dos pensamentos marxistas, por exemplo, h um mundo necessrio,
no h contingncia, s h determinismos, dialticas; no h fatos contingentes.
S. de B. - A contingncia o tocava, afetivamente?
J .-P. S. - Sim. Penso que se a descobri com os filmes e a sada s ruas porque estava
feito para descobri-la.
S. de B. - Alis, em Ls mots h uma experincia da existncia que talvez tenha sido um
pouco reconstruda por voc, atualmente, mas que se traduziu, enfim, por
um conceito filosfico.
J .-P. S. - Certamente.
S. de B. - E o que escrevia, nos Supositrios Midy, sobre a contingncia?
J .-P. S. - Que a contingncia existia como se podia ver pelo contraste entre o cinema,
onde no h contingncia, e a sada rua onde, ao contrrio, s h isso.
190
cia.
S. de B. - Voc escreveu um Canto da contingn-
J .-P. S. - Escrevi um Canto da contingncia.
S. de B. - com que idade?
J .-P. S. - No terceiro ano da Escola Normal. "J 'apporte 1'oubli e j'apporte 1'ennui."* Era
assim que comeaava ...
S. de B. - Sim. Era o lado inspido, aborrecido da existncia, como voc o disse, mais
tarde, em La nause. Ser que voc falava, por exemplo, com Nizan ou com
seus outros colegas sobre sua teoria da contingncia?
J .-P. S. - Eles no queriam saber disso.
S. de B. - No queriam saber disso por qu?
J .-P. S. - Isso no lhes interessava.
S. de B. - Porque voc ainda no dera a isso uma forma sucientemente marcante.
J .-P. S. - Talvez. No sei. Voc sabe, desprezamos um pouco as opinies dos outros,
quando estamos na Escola Normal; buscamos as nossas, procuramos esclarecernos.
Nizan passou dos fascistas para os comunistas muito rapidamente. Naquela poca, ele
no tinha tempo para pensar na contingncia.
S. de B. - Sim, claro. E quando foi que voc conheceu Guille? Isso para ver as
influncias intelectuais.
J .-P. S. - No primeiro ano da Escola. Mas ns nos conhecamos antes: ele estava em
khgne comigo no Louis-le-Grand.
S. de B. - E que diferena de amizade havia entre voc e Guille e voc e Nizan? Guille
teve influncia sobre voc na poca? Por que se tomou amigo dele?
J .-P. S. - Por que formamos um grupo, eu, Guille e Maheu? Que era alis muito
diferente do grupo Nizan e eu? No saberia dizer-lhe.
* "Trago o esquecimento e trago o aborrecimento." (N. do T.) l. Em minhas Mmoires
dei a Guille o nome de Pagniez e falei longamente sobre
191
ele
#S. de B. - Quanto a Maheu, compreende-se melhor, porque tambm ele era filsofo.
Mas Guille? Ele no era filsofo; naquela poca voc preferia a literatura filosofia?
J -P. S. - Ele falava muito de literatura. S. de B. - Vocs falavam de Proust? J -P S. -
Falava-se de Proust, certamente, mas falava-se tambm das coisas da vida.
O que acontecera pela manh, o que seu pai lhe dissera. De suas histrias de mulheres,
tudo isso; e muito sobre comida S. de B. - J ?
J -P S. - No esquea que frequentvamos o Pierre.
S. de B. - Voc ia ao Pierre quando estava na Escola Normal? Tinha dinheiro suficiente
para isso?
J -P S. - No quarto ano, eu tinha minha pequena herana.
S. de B. - Ah, sim verdade. Voc mostrava a Guille algumas das coisas que escrevia?
J 'P S. - Sim. Sobretudo a partir do momento em que conheci a Sra. Morei,2 mostrava-
lhe coisas. Lembroe de haver provocado um ataque de riso nele e nessa senhora
a propsito de ... rebrousse-sole.
S de B. - Isso foi mais tarde, posto que voc j me conhecia. Havia tambm um poema
que voc escrevera:
Adouci par l sacrific d'une violette/Le grand miroir d'acer laisse um arrire-got mauve
aux yeux.* Isso era para dzer que o cu era cor de malva e eles caoaram
muito de voc. Mas tambm no foram muito calorosos em relao a La nause, ento
...
J 'P S. - Oh! Eram crticos severos: estava decidido que tudo o que eu fazia devia ser
medocre Queriam muito que eu escrevesse mais tarde ...
S. de B. - De toda maneira, parece-me que Une dfate fez com que essa senhora
chorasse de tanto rir?
2 Qe em minhas Mmoires chamo de Sra. Lemaire.
nelL?1 traduo literal: "Amenizado pelo sacrifcio de uma violeta. O grande e p "e
aco deixa um ressalto malva nos olhos." (N. do T.)
192
J .-P. S. - Ah, sim Chorava de tanto rir.
S. de B. - Falava sempre do lamentvel Frdric. Bem. Voltemos contingncia. Houve
a contingncia. Havia um contedo filosfico em J Er 1'armnien; e que escreveu
depois? Foi imediatamente La lgende de Ia vrit?
J .-P. S. - La lgende de Ia vrit foi escrito depois que eu a conheci.
S. de B. - Explique-me melhor dessa relao entre filosofia e literatura. Eu sei que isso
me surpreendera. Voc tinha dito: quero ser Spinoza e Stendhal. Mas como
via essa ligao? Como duas sries de obras, umas das quais seriam filosficas e as
outras ...
J .-P. S. - No, na poca no queria escrever livros de filosofia. No queria escrever o
equivalente de La critique de Ia raison dialectique, ou de L'tre et l nant.
No, queria que a filosofia, na qual acreditava, as verdades que eu atingiria, se
exprimissem em meu romance.
S. de B. - Ou seja, no fundo queria escrever La nause.
J .-P. S. - No fundo, queria escrever La nause.
S. de B. - Conseguiu o que desejava. Mas isso no surgiu de imediato e, de incio, ainda
comeou a tomar a forma de mito; havia La lgende de Ia vrit, havia o
mito do homem s.
J .-P. S. - Sim, o mito do homem s durou muito tempo. Ainda existe em La nause.
S. de B. - Sim, mas no sob uma forma mtica. La lgende de Ia vrit escrito numa
linguagem muito afetada; muito solene, muito pouco moderna.
J .-P. S. - Era um estilo de professor. Um professor de letras ou de filosofia escreve
assim. E sa disso libertando-me das obras de professores.
S. de B. - Voc tinha ideias sobre uma quantidade de coisas, ideias que eram precisas e
bem expressas: por exemplo, em que ano respondeu pesquisa sobre a juventude?
193
#j -P. S. - Estava ainda na Escola Normal. Era no ltimo ano, ou antes, no penltio.
Porque eu estudava demais. Alis, basta ver a data.
S. de B. - Voc j tinha toda uma concepo da vida. Em sua correspondncia com
Camille h uma carta sua aos dezenove anos, que absolutamente surpreendente porque
j se encontra nela o embrio de uma gande teoria que voc expressou depois sobre a
felicidade sobre o escrever, sobre a recusa de determinada felicidade e afirmao
de seu valor como escritor, embora ele absolutamente no fosse comprovado na ocasio.
Como sentia exatamente esse valor?
j.-P. S. - Era absoluto. Acreditava nele como um cristo acredita na Virgem, mas no
tinha nenhuma prova. E no entanto, tinha a impresso de que o que escrevia isto
, aqueles textozinhos de merda, os romances de capa-e-espada, as primeiras novelas
realistas eram a prova de qu eu tinha gnio. E no podia prov-lo por seu contedo,
percebia bem que ainda no era isso; mas o simples fato de escrever provara que eu
tinha gnio. Provava-o porque o ato de escrever, se perfeito, exige um autor que
tenha gnio. O fato de escrever coisas perfeitas era a prova de que se tinha gnio. E,
finalmente, escrever era escrever coisas perfeitas. S se pode desejar escrever
para escrever coisas perfeitas. E que, ao mesmo tempo alis, o so inteiramente
perfeitas, ultrapassam um pouco os limites do perfeito, para ir mais longe. Mas
a ideia de: "escrever escrever coisas perfeitas", a ideia clssica. Na poca, eu no
tinha prova alguma, mas dizia a mim nftesmo que, j que queria escrever,
portanto coisas perfeitas, era preciso supor que o faria; assim, eu era o homem que
escreveria coisas perfeitas. Era um gnio. Tudo isso bastante compreensvel.
. de B. - Mas por que pensava que era muito inteligente?
j.-p. S. - Porque me haviam dito.
S. de B. - Nem sempre era o primeiro da classe;
quando estava em La Rochelle, voc no se mostrava to preocupado com os estudos.
194
j .p. S. - Era uma reputao que eu tinha, no sei bem por qu: e certamente no por
causa de meu padras-
; to. U' S. de B. - Ser que era uma reao contra seu
padrasto? . , j .p . - Provavelmente. Pensava que minhas
ideias eram verdadeiras. E as suas, simplesmente limita-
das cincia.
7 S de B. - Disso voc absolutamente no talou.
uma das coisas importantes: que influncia tiveram suas relaes com seu padrasto,
digamos que dos onze aos deenove anos? Voc tinha esse padrasto voltado para
as cincias de quem voc no gostava, naturalmente por uma srie de razes afetivas,
porque ele lhe roubava sua me No isso que o coloca contra as cincias: de
qualquer forma, sua infncia fora mais voltada para a literatura. Mas pode explicar um
pouco?
j .p S. - Seria preciso muito tempo para explicar o que eram minhas relaes com meu
padrasto.
S. de B. - E uma relao de infncia e de adolescncia. ,
J .-P. S. - Sim. No vamos falar disso agora. obretudo, porque ele no teve importncia
alguma no que se refere ao escrever. At os quatorze anos mostrei meus escritos
a minha me, que dizia: "E bonito, tem inventiva " Ela no os mostrava a meu padrasto,
que no se / interessava por eles. Sabia que eu escrevia, mas isso
lhe era indiferente. Alis, aqueles textos s mereciam descaso. Mas eu sabia que meu
padrasto no lhes dava ateno. De modo que foi esse, constantemente, o tipo
contra o qual escrevia. Durante toda a minha vida; e o fato de escrever era contra ele.
Ele no me censurava, porque eu era muito jovem, melhor fazer isso do que
jogar bola, mas, na verdade, ele estava contra mim.
S. de B. - Mas, por que, em ltima anlise? Ele considerava a literatura uma coisa ftil?
J -P. S. - Ele achava que, aos quatorze anos, no se decide azer literatura. Para ele, isso
no fazia sentido. Para ele, um escritor era um homem que aos trinta
ou
195
#quarenta anos produziu una determinado nmero de livros. Mas aos quatorze anos no
h que ocupar-se disso.
S. de B. - Volto pergunta: por que se considerava inteligente? Em La Rochelle, era
antes perseguido. Portanto, no eram seus colegas que lhe davam um certificado
de inteligncia. Por outro lado, voc me disse que seus estudos, em La Rochelle, no
eram assim to brilhantes.
J .-P. S. - Eu no me considerava inteligente.
S. de B. - Sim, voc acaba de dizer que estava certo de ser inteligente.
J .-P. S. - Sobretudo depois, a partir do primeiro ano.
S. de B. - Ah! Bem. E em La Rochelle?
J .-P. S. - Em La Rochelle, no. Em La Rochelle, fiz o quarto, o terceiro e o segundo
anos. No me considerava inteligente porque a palavra no existia para mim;
existia, mas eu no a utilizava. No que me considerasse burro. Achava-me antes
profundo, se que uma criana pode empregar essa expresso; pensava, digamos,
que podia revolver coisas que meus colegas no revolviam neles.
S. de B. - E por isso que, com relao ao seu padrasto, voc achava, por volta dos
quatorze anos, que compreendia mais coisas do que ele?
J .-P. S. - Que ele era mais inteligente que eu.
S. de B. - Ah, achava que ele era mais inteligente?
J .-P. S. - Sim, porque ele sabia matemtica. Isso me parecia inteligente. Compreender a
matemtica.
S. de B. - Mas voc se achava possuidor de algo que ele no tinha?
J .-P. S. - Sim. O fato de escrever. O fato de escrever me colocava acima dele.
S. de B. - E tambm o fato de pensar. Quando ambos discutiam - voc tinha quatorze,
quinze anos - achava que ele dizia tolices?
J .-P. S. - No. Era muito difcil julgar o que ele dizia. Tinha ideias que no eram as
minhas, que no me
196
tocavam, mas eu no via o momento em que tomavam a direo errada. Ele partia da
matemtica, da fsica, do conhecimento tcnico, daquilo que ocorria numa fbrica;
tinha um mundo inteiramente constitudo e, alm disso, havia lido. Havia lido livros que
no tinham grande interesse mas que, de toda maneira, eram conhecidos na
poca.
S. de B. - Ele no era um engenheiro completa -
mente fechado?
J .-P. S. - No, no. Ele lera livros que eu lia e apreciava. Veja bem que o que fazem
muitos engenheiros atualmente. Mas, com relao a mim, isso me perturbava.
S. de B. - Voltando a esse peodo de que falou
to pouco, dos onze aos dezenove anos, voc tinha ento posies polticas? No digo j
ideias, teorias; mas aos quatorze, quinze anos, estava j orientado de uma
maneira qualquer?
J .-P. S. - Em 1917, eu e meus companheiros ficamos um pouco interessados pela
Revoluo russa...
S. de B. - Mas que idade tinha? Era muito pequeno, tinha doze anos?
y .p 5 _ Sim, tinha doze anos e aquilo no nos
apaixonou. Perguntvamo-nos, especialmente, se seria possvel vencer a Alemanha,
apesar da paz separada da Rssia, e isso era tudo.
S. de B. - Como sentia o mundo?
J .-P. S. - Era democrata. Como sabe, meu av, que era republicano, me formara no
republicanismo -
mencionei isso em Ls mots.
S. de B. - Isso acarretava conflitos com seu padrasto? O fato de ser democrata e
republicano influenciava alguma coisa?
J .-P. S. - No, meu padrasto tambm era republicano. Para ser exato, no tnhamos o
mesmo republicanismo, mas isso s se descobriu pouco a pouco. Porque meu
republicanismo
era de palavras, para comear. Era um entusiasmo por uma sociedade onde todo mundo
teria os mesmos direitos.
197
#S. de B. - Sim. Ento, naquela poca no havia nenhum conflito especial entre ele e
voc quanto a esses problemas?
J .-P. S. - No; isso foi depois, quando eu j estava no liceu de Paris.
S. de B. - No fundo, foi em Paris que tudo se definiu, desabrochou, afirmou, tudo o que
estivera incubado e existira em La Rochelle, sob uma outra forma. Foi em
Paris que voc realmente pensou que era inteligente e que teve a ideia do talento.
J .-P. S. - No, j a tinha antes.
S. de B. - J a tinha antes?
J .-P. S. - Sim, sim. O talento no era inteligncia. O talento era a possibilidade de fazer
uma obra literria perfeita. E depois, esqueci um detalhe que, em parte,
fez com que fosse mandado para Paris; que, quando estava no terceiro ano, roubei
dinheiro de meu padrasto, que o dava a minha me.
S. de B. - Conte novamente essa histria; j a contou no filme, mas nunca se sabe se o
filme vai sair ou no. Ela interessante.
J .-P. S. - Bem, eu tinha necessidades.
S. de B. - Sim, sei; era o desejo de sentir-se igual aos seus colega, de poder lev-los ao
teatro, pagar-lhes bobagens ...
J .-P. S. - Pagar-lhes doces. Lembro-me que amos grande ptiserie de La Rochelle,
comamos pudins com o dinheiro de minha me.
S. de B. - Ento voc tinha necessidades.
J .-P. S. - Tinha necessidades. A bolsa de minha me estava num armrio. Continha
sempre todo o dinheiro do ms para ela e para as coisas que tinha que comprar, como,
por exemplo, comida. Havia uma quantidade de notas e eu ia pegando; de incio, pegava
francos, que valiam muito mais do que um franco de hoje, e depois notas, com
certa prudncia, cinco francos aqui, dois ali, e um dia de maio me vi com setenta
francos. Em 1918, setenta francos era muito dinheiro. E, um dia, estava cansado
e subi para deitar-me muito cedo. Minha me acordou-me no dia seguinte, que-
198
rendo saber se eu estava melhor, e eu colocara minha jaqueta, que continha todo o meu
tesouro, notas e moedas, sobre minhas pernas, para esquentar-me. Ela ento
a pegou, sacudiu-a, mas no intencionalmente; ouviu: ding, ding, ding, uma quantidade
de moedas entrechocando-se l dentro. Enfiou a mo, encontrou notas, francos;
retirou-os imediatamente e disse: mas que dinheiro este?
S. de B. - estranho que ela nunca tenha percebido antes que voc roubava! com minha
me, isso teria sido impossvel. A sua no controlava, no sabia quanto tinha
em sua bolsa?
J .-P. S. - No.
S. de B. - Continue. Ela encontrou as notas, os
francos...
J .-P. S. - Eu disse: " dinheiro que roubei para rir de Cardino, foi sua me quem lho
deu, pretendo devolver-lhe hoje." "Bem," disse minha me, "mas ser entregue
por mim, voc o trar aqui esta noite, para que lhe perunte de que se trata." Isso no ia
dar certo, porque o Cardino em questo - no sei por que o escolhi - era
meu maior inimigo. De manh, fui ao liceu, e foi o diabo para falar com Cardino, que
queria agredir-me, mas finalmente, outros intervieram e ficou combinado que
ele viria, que receberia o dinheiro e me daria trs quintos deste e ficaria com dois
quintos. Ele veio; minha me lhe fez todo um discurso que o divertiu muito:
as pessoas no se deixavam roubar assim, era preciso ter cuidado, em sua idade etc. Ele
pegou o dinheiro e foi embora. Comprou imediatamente uma grande lmpada eltrica.
E sua me, a Sra. Cardino, descobriu tudo em dois dias. Entretanto, ele dera a quantia
que me devia, isto , os trs quintos do dinheiro, a colegas que no me devolveram
logo. Houve uma cena com minha me e meu padrasto, fui recriminado etc.
S. de B. - Sim, mas a Sra. Cardino foi perguntar
que dinheiro era aquele.
J .-P. S. - Sim. Ento minha me entendeu tudo. Deram-me uma descompostura. Fui
mantido a distncia durante algum tempo e lembro-me - era no terceiro ano
199
#- que meu av veio de Paris com minha av; soube de tudo isso, ficou muito
contrariado e, um dia, acompanhei-o farmcia, ele entrou, deixou cair uma moeda de
dez cntimos no cho. Ela fez dng. Precipitei-me para recolh-la. Ele me impediu e
abaixou-se pessoalmente, com seus pobres joelhos que estalavam, porque eu j
no era digno de recolher as moedas que caam no cho.
S. de B. - Isso deve t-lo impressionado um pouco. o tipo de coisa que impressiona
uma criana.
J .-P. S. - Sim, isso me impressionou um pouco. E, alm disso, minhas relaes com
meus colegas no eram boas.
S. de B. - Em que medida isso o marcou quanto literatura? Algumas vezes, voc diz
que isso lhe ensinou a violncia.
J .-P. S. - Sim, isso me ensinou a violncia. Normalmente, s deveria conhecer da
violncia um soco dado ou recebido no nariz; no liceu de Paris era assim; mas no
liceu de La Rochelle levavam a srio a guerra; o inimigo era sempre um boche: eram
violentos.
S. de B. - Ah, sim! Era durante a guerra: isso importante.
J .-P. S. - Era durante a guerra, sim. E a conheci a violncia. Em primeiro lugar, tinham-
na em relao a mim, porque eu era um pouco a vtima; e depois entre eles.
Falava-se da guerra, de ser morto ou no etc. Tinham parentes, os prprios pais, na
guerra. Ento, sim, aprendi ali a violncia. uma coisa importante.
S. de B. - Retomemos a conversa de ontem. Havia dois assuntos sobre os quais voc
disse que falaramos hoje, alis eram trs. Havia a violncia: como a sentiu e
em que influenciou sua obra. Havia o problema da mudana da provncia para Paris:
pareceu-me que voc disse ontem que isso fora muito importante; e depois h tambm
sua ideia do talento, e a distino que voc fazia entre o talento e a inteligncia. Por
onde quer que comecemos?
200
J .-P. S. - Em primeiro lugar, a violncia, que era uma realidade quotidiana; havia a
violncia da guerra e depois tambm a pequena violncia daqueles meninos sem
pai. De longe e de perto, eu me deparava com a violncia. Sobretudo, porque era objeto
dela com muita frequncia. Objeto como se nos liceus, quando se agredido.
No nos agridem como a um inimigo, agridem nos como a um companheiro, para
impedir que se cometa um erro, para reconciliar-nos com algum, para pregar-nos uma
pea,
no importa: com amizade que nos agridem. O importante, alis, que tnhamos algo
em comum: pertencamos ao liceu, que tinha dois grandes inimigos: por um lado,
a escola dos bons padres, uma escola religiosa; e por outro, os moleques, como
dizamos, os moleques que no pertenciam necessariamente s escolas: podiam ser
aprendizes,
eram garotos como ns, entre doze e dezesseis anos, e os encontrvamos e lutvamos
com eles, sem que os conhecssemos, simplesmente porque estavam vestidos de
maneira
menos fina do que ns; eles nos olhavam provocativamente e trocvamos socos.
Lembrome especialmente que, numa rua que fica no centro de La Rochelle e que d
para
uma porta sobre a qual h um grande relgio, num dia em que acompanhava minha me
s compras, ao sair do liceu, deparei-me com um desses moleques; rolamos por terra,
na rua, aos socos e pontaps, at que minha me, espantada, sasse da loja e me
encontrasse no cho, inseparavelmente preso a meu adversrio. Senti a mo de minha
me que me arrancava deste enlaamento; lutvamos bem.
S. de B. - Quando brigava com os moleques ou com os garotos que estavam nos padres,
ento estava em harmonia com seus colegas que, normalmente, o perseguiam?
J .-P. S. - Sim, se tivessem passado por ali, ter-seiam juntado a mim para bater no
moleque. Isso era uma aliana entre os alunos do liceu. Quanto a mim, no pertencia
inteiramente ao liceu, porque era parisiense, porque tinha uma linguagem, uma maneira
de ser que no era a de meus colegas. Ainda assim, tinha amigos, mas
201
#contava-lhes mentiras nas quais no acreditavam. Por exemplo, ao chegar ao liceu de
La Rochelle, contei que tinha uma namorada em Paris e que aos sbados e domingos
amos fazer amor num hotel. Considerando que tinha doze anos, e que era de uma
estatura um pouco abaixo da mdia, isso parecia um pouco cmico. Eu era minha
prpria
vtima, pois acreditava que os deixava surpresos e tomados de admirao.
S. de B. - Como reagia? Essa hostilidade o marcava muito profundamente, ou ficava um
pouco no plano da brincadeira? O que lhe ensinou isso sobre a vida?
J .-P. S. - Isso s parecia ficar no nvel da brincadeira para eles. Para mim, no. Eu me
sentia vtima de uma espcie de m sorte, sentia-me muito infeliz. Era,
com muita frequncia, objeto de brincadeiras e de pancadas. Ento, sentia-me inferior.
Coisa que absolutamente no ocorria no liceu parisiense, no Henri IV. Havia
dificuldades, isso decorrncia da idade. Tinha amigos, mas tinha dificuldades com
outros. Mas havia um grupo com o qual era inteiramente solidrio, no Henri
IV. Enquanto que, em La Rochelle, tinha amigos, mas era sobretudo eu quem lhes dava
afeto. Mas, repito-lhe, no queriam prejudicar-me ou desprezar-me. ramos amigos,
uns batendo nos outros. E isso eu aceitava muito mal. Como, alm do mais, havia as
relaes com meu padrasto, que no eram perfeitas, creio que passei l os anos
mais infelizes de minha vida.
S. de B. - E isso teve influncia sobre seu desenvolvimento futuro?
J .-P. S. - Penso que sim. Em primeiro lugar, penso que nunca mais esqueci a violncia
que ali aprendi. Foi assim que vi as relaes das pessoas entre si. A partir
de ento, nunca tive relaes ternas com meus amigos. Havia sempre ideias de violncia
entre eles, ou deles em relao a mim, ou de mim para eles; no era uma falta
de amizade, era a prova de que a violncia se impunha nas relaes dos homens entre si.
202
S. de B. - No entanto, em suas relaes com Maheu, Guille, Nizan, quando estava no
Henri IV, ou na Escola Normal, isso no ocorria?
J .-P. S. - com Nizan, certamente que no. uanto a Guille e Maheu, no pensava em
partir-lhes a cara, jamais. Mas sentia uma espcie de distncia, de possibilidade
de violncia entre ns.
S. de B. - E isso teve influncia sobre seu prprio papel, quando estava na Escola
Normal, com todo um bando que jogava ...
J .-P. S. - Sim, era a continuao. Eu considerava que tudo era muito natural. Lanar
bombas de gua sobre rapazes que regressavam noite, de smoking, parecia-me
normal. Em La Rochelle era diferente. Quando brigvamos com os moleques, essa luta
nos fazia burgueses. Eu no pensava muito nisso, mas percebia bem que, ao meu
redor, era assim que o sentiam. Bater em moleques era tomar-se burgus.
S. de B. - Mas depois, voc nunca foi um homem violento?
J .-P. S. - Partiam-me a cara, de tempos em tempos, na Escola Normal.
S. de B. - Voc tinha acessos de raiva. Quando o conheci, era bastante irritadio,
sobretudo pela manh. Mas, de toda maneira, isso nunca se transformava em violncia.
J .-P. S. - No.
S. de B. - Ser que isso teve relao com certa violncia expressa no seu vocabulrio,
quando o conheci? Voc designava as coisas de um modo brutal; no era exclusividade
sua, alis, tambm Nizan, Maheu faziam o mesmo. H uma relao?
J .-P. S. - Era uma forma esmaecida, abstraa de violncia, e todos ns sonhvamos com
uma filosofia simples e violenta que seria a filosofia do sculo XX. Nizan
imaginara todo um mundo de violncia na poca em que lia Descartes.
203
#S. de B. - Esse gnero de violncia que fazia com que brigasse com os moleques tinha
um aspecto direitista, quase fascista.
J .-P. S. - Fascista, no, certamente. Mas direitista, sim. Como lhe disse, ramos
burgueses.
S. de B. - E como saiu disso?
J .-P. S. - No me sentia assim na verdade. E depois, fui para Paris...
S. de B. - Foi muito importante para voc mudarse da provncia para Paris?
J .-P. S. - No o sent imediatamente; vi-me sobretudo exilado de um pequeno mundo ao
qual estava habituado. Era no segundo ano, j no se cogitava de brigar, nem
eu nem os outros; tinha relaes normais, embora um pouco inspidas, com meus
colegas. Mas, enfim, gostava muito desse meio; estava adaptado a La Rochelle. Estava
em Paris porque meu av, professor de alemo, tinha colegas, reitores que o conheciam
e que me conseguiriam vaga num bom liceu; e para afastar-me da falta atroz
que cometera no ano anterior, com Cardino, ao roubar.
S. de B. - Mas voc acaba de dizer que esses anos tinham sido muito infelizes, e agora
diz que estava adaptado a La Rochelle?
J .-P. S. - Sim; os anos de infelicidade foram durante a quarta e a terceira srie. E depois
na segunda, ento, j estava adaptado.
S. de B. - E como sentiu sua chegada a Paris? Disse-me ontem que havia uma coisa que
tinha sido muito importante, o fato de ser interno, quando antes morava com
a famlia. Ser interno e ter novos amigos, como sentiu isso?
J .-P. S. - J no me lembro inteiramente. Sei que encontrei dois meninos que conhecera
no sexto e no quinto ano: Nizan, que tambm era interno, e Bercot, um menino
encantador, muito bom aluno, que era externo.
S. de B. - Voc menciona isso em Ls mots, parece-me.
204
J .-P. S. - Foram meus primeiros encontros, e depois conheci muitos outros.
S. de B. - Adaptou-se facilmente vida do internato?
J .-P. S. - Sentia medo, porque lera inmeros romances do sculo XIX onde se viam
meninos que se tomavam infelizes porque eram internos. Isso me parecia clssico:
somos internos, portanto somos infelizes.
S. de B. - E na realidade?
J .-P. S. - Na realidade, no fui infeliz. Revi Nizan, reatei os contatos com ele, mais
profundos, alis, do que os de antes. Comeamos a ligar-nos intimamente.
A dupla Sartre e Nizan, isso j estava bem marcado na classe de filosofia, no Henri IV:
frequentvamos os estudos do primeiro ano superior, conhecamos os alunos,
pedamo-lhes livros emprestados. Foi a que conheci Conrad e outros.
S. de B. - Naquela poca tambm Nizan queria escrever?
J .-P. S. - Nizan queria escrever desde que o conheci; mesmo no sexto ano j tinha
vontade de escrever. O que foi muito marcante para mim, no primeiro ano, foi encontrar
algum que estava no mesmo nvel que eu, que queria escrever, que sempre o quisera,
que era Nizan. Bercot era um pouco diferente; queria escrever tambm, mas falava
menos nisso. Era mais discreto. O essencial que queramos escrever, Nizan e eu; isso
nos unia, e os outros alunos sabiam que queramos escrever e nos estimavam
por causa disso. Eu estava no primeiro ano A, claro, o que significa que estudava
grego e latim com Georgin, que j mencionei; estudava muito, j que acabei recebendo
o prmio de excelncia, o que estava muito longe do que podia esperar em La Rochelle.
S. de B. - E Nizan, tambm estudava muito?
J .-P. S. - Nizan estudava bastante. Um pouco mais 'inconstante' do que eu, interessava-
se mais por suas sadas, pelo meio que frequentava, pelas pessoas que via,
por amigos de sua famlia, por reunies, por moas, tudo
205
#isso. No entanto, estava muito ligado ao trabalho intelectual, ao trabalho de escritor.
S. de B. - Tambm ele pensava que seria um grande escritor e, digamos, um gnio, de
certa maneira?
J .-P. S. - No falvamos disso entre ns. Mas ...
S. de B. - Vocs diziam que eram super-homens. Divertiam-se dizendo que eram super-
homens.
J .-P. S. - Sim, dissemos um pouco isso. E nos dvamos nomes bretes, Ra e Bako.
S. de B. - Por que bretes?
J .-P. S. - Nizan era breto.
S. de B. - Ah, sim. O que era exatamente essa ideia de talento, inerente, segundo voc,
ao prprio fato de querer escrever?
J .-P. S. - O que inerente, na verdade, que se escreve para fazer algo de bom: para
tirar de si mesmo alguma coisa que tenha um valor e que nos represente. Pode-se
encontrar o homem em seu livro. A simpatia ou antipatia que sentimos por Proust, que
s conheo atravs de seu livro, como voc tambm, nos vem de seu livro. Portanto,
h o homem presente em seu livro, e o valor do homem lhe vem do livro.
S. de B. - Em suma, um pouco a ideia kantiana:
voc deve, portanto voc pode. Voc deve fazer um bom livro, o seu engajamento, a
sua escolha: voc deve fazer uma grande obra e, conseqentemente, h em voc
com que faz-la. Voc deve, portanto voc pode.
J .-P. S. - Isso muito evidente. Voc deve, portanto voc pode. Eu escolhia fazer uma
obra; eu escolhia aquilo para o qual estava feito para fazer. E efetivamente
bastante kantiano. Mas a moral kantiana formal, universal, negligencia os dados
contingentes. E preciso agir em situao, levando em conta as caractersticas
contingentes
das pessoas que esto presentes e no somente sua existncia abstraa.
S. de B. - Voc estava no plano abstrao, precisamente, e tinha uma viso do futuro ainda
inteiramente abstrata. Mas isso se traduzia em voc por uma espcie de
206
orgulho, de satisfao, de desprezo plos outros, de exaltao? Como vivia isso?
J .-P. S. - Havia certamente momentos da exaltao. S sentia meu talento em rpidas
intuies; no resto do tempo, ele era apenas uma forma sem contedo. Por uma
curiosa contradio, nunca considerei minhas obras como geniais. Embora fossem feitas
dentro das regras que considerava como supondo a existncia de talento.
S. de B. - Em resumo, era sempre futuro o talento?
J .-P. S. - Sim, era sempre futuro.
S. de B. - Voc sabia muito bem que suas obras, na poca - as de que falamos ontem,
J esus Ia chouette, L'ange du morbide, Er 1'armnien - voc sabia muito bem que
no eram muito boas.
J .-P. S. - No era muito bom. Eu no o dizia, mas o sabia.
S. de B. - E Une dfaite?
J .-P. S. - Em Une dfaite comeava a ver um romance que exprimiria minha
sensibilidade e minha concepo do mundo. Isso no estava pronto, conseqentemente
no podia
ser comparado a nada. Tambm no pensava que tinha talento ao escrev-lo, mas esse
romance era, enfim, mais importante para mim.
S. de B. - Sim. E La lgende de Ia vente?
J .-P. S. - Eu achava que La lgende de Ia vrit seria ainda mais importante porque a
expunha ideias filosficas pessoais. Pensava que, expressas numa bela linguagem,
essas ideias impressionariam as pessoas e retratariam o que so os homens. Havia, voc
se lembra, pessoas que pensavam o universal, que eram os sbios; e homens
que tinham ideias gerais, ou seja, os filsofos e os burgueses. E havia tambm os
pensamentos do homem s, isto , tal como eu queria ser, um homem que s pensa
por si mesmo e que ilumina a cidade, graas ao que pensa, ao que sente. Como v, tinha
grandes aspiraes.
S. de B. - Um trecho de La lgende de Ia vrit foi publicado em Bifur. Foi a primeira
vez que voc foi publicado?
207
#J .-P. S. - Sim.
S. de B. - Voc teve alguns leitores entusiastas;
conhecia um hngaro da Biblioteca Nacional que achou que esse texto era uma
revelao.
J .-P. S. - No entanto, o gnero era tedioso. Falava-se de filosofia na linguagem dos
ensaios, florida. Era bem ridculo. Faltava-lhe a linguagem tcnica necessria.
S. de B. - E depois fez a sntese: chegou a La nause.
J .-P. S. - Sim.
S. de B. - Ou seja, a voc fez verdadeiramente literatura e, ao mesmo tempo, dava sua
viso filosfica do mundo, da contingncia etc. Isso voc conseguiu. Mas para
voltar ao problema de talento, como foi que mudou no decorrer de sua existncia? Tente
lembrar o que pensou, at hoje, e o que ainda pensa a esse respeito.
J .-P. S. - Penso agora que o estilo no consiste em escrever belas frases para si mesmo,
mas frases para os outros, e isso coloca todo um problema quando um menino
de dezesseis anos tenta pensar o que escrever e ainda no tem noo do outro.
S. de B. - E como saber, exatamente, quais so as palavras cuja associao agir sobre o
leitor? preciso confiar no vazio? Atirarmo-nos?
J .-P. S. - Sim, arriscarmos. Quando se escreve rebrousse-soleil que fez Guille rir tanto,
erra-se. Mas h frases de Chateaubriand, por exemplo. Ele fez bem em ou-
sar.
S. de B. - Sim.
Sim.
J .-P. S. - Arrisca-se. De toda maneira, h motivos para arriscar.
Arrisca-se. De toda maneira, h motivos
S. de B. - Voc pensava que seu talento seria reconhecido; mas disse-me muitas vezes
que tinha tambm o sonho de que "quem perde ganha": era preciso ser inteiramente
no-reconhecido, para ser verdadeiramente um gnio. Como combinava isso em sua
cabea?
J .-P. S. - Falei disso em Ls mots.
208
S. de B. - Voc tinha a ideia de uma certa salvao: a obra teria uma realidade que
ultrapassa o momento, seria algo de absoluto. Isso no significa que pensasse
diretamente na posteridade, mas, de toda maneira, uma espcie de imortalidade. O que
queria dizer com salvao?
J .-P. S. - Originalmente, quando escrevia Ls membres d'une noble famille Ia
recherche d'un papillon, escrevia algo de absoluto; criava algo de absoluto, que era,
em resumo, eu. Transportara-me para uma vida eterna. Um objeto de arte sobrevive ao
sculo; se crio um objeto de arte, ele sobrevive ao sculo, portanto eu, seu
autor encarnado nele, eu sobrevivo ao sculo; por trs, havia a ideia de imortalidade
crist: passava da vida mortal para uma sobrevivncia imortal.
S. de B. - Pensou isso at quando, at a guerra?
J .-P. S. - Sim; pensava-o com um pouco de ironia, mas pensava-o na poca em que
escrevia La nause.
S. de B. - Na poca da literatura engajada, foi exatamente isso que cessou?
J .-P. S. - Isso cessou por completo.
S. de B. - J no havia mais ideia de salvao? Nunca mais houve? A prpria noo de
salvao se apagou, suponho? O que no impede que tenha conservado uma olhada,
um pouco de vis, para a posteridade.
J .-P. S. - A transformao que se fez em minha ideia de talento foi que, at depois de La
nause eu sonhara com o talento; mas depois da guerra, em 1945, eu fizera
minhas provas: havia Huis cios, La nause; em
1944, quando os aliados deixaram Paris, eu tinha talento e fui para a Amrica como um
escritor de talento que vai fazer um tour em outro pas; naquele momento eu
era imortal, estava seguro de minha imortalidade. O que me permitia no pensar mais
nisso.
S. de B. - Sim, porque essencialmente voc no era desses homens que dizem: fao uma
obra imortal, sou imortal; nada disso em voc.
J .-P. S. - E alis, isso complicado, porque do momento em que se imortal, que se fez
a obra imor-
209
#tal, tudo j est feito; no entanto, preciso ter a impresso de criar algo que no
existia; portanto, preciso situar-se no tempo quotidiano. Ento, mais vale
no pensar, exceto de rabo de olho, na imortalidade, e apostar na vida; vivo, eu escrevo
para vivos, pensando que se um xito, continuaro a ler-me quando estiver
morto; pessoas a quem minha mensagem no visa, a quem esta mensagem no era
dirigida, a aprovao.
S. de B. - com que voc conta mais para perpetuar-se - na medida em que pensa em
perpetuar-se: com a literatura ou com a filosofia? Como sente sua relao com
a literatura e com a filosofia? Prefere que as pessoas gostem de sua filosofia ou de sua
literatura, ou quer que gostem de ambas?
J .-P. S. - Certamente responderei: que gostem das duas. Mas h uma hierarquia, e a
hierarquia a filosofia em segundo lugar e a literatura em primeiro. Desejo obter
a imortalidade pela literatura, a filosofia um meio de alcanar isso. Mas, aos meus
olhos, ela no tem em si um valor absoluto, porque as circunstncias mudaro
e traro mudanas filosficas. Uma filosofia no vlida para o momento, no algo
que se escreve para seus contemporneos; ela especula sobre realidades intemporais;
ser forosamente ultrapassada por outras, porque fala da eternidade; fala de coisas que
ultrapassam de longe nosso ponto de vista individual de hoje; a literatura,
ao contrrio, faz o inventrio do mundo presente, o mundo que se descobre atravs de
leituras, de conversas, de paixes, de viagens; a filosofia vai mais longe;
considera que as paixes de hoje, por exemplo, so paixes novas que no existiam na
Antiguidade; o amor ...
S. de B. - Est querendo dizer que, para voc, a literatura tem um carter mais absoluto,
e que a filosofia depende muito mais do curso da histria; est muito mais
sujeita a revises?
J .-P. S. - Ela pede, necessariamente, revises, porque ultrapassa sempre o perodo atual.
S. de B. - Concordo; mas no h um absoluto no fato de ser Descartes ou de ser Kant,
mesmo se eles tm
210
que ser ultrapassados de certa maneira? Eles so ultrapassados, mas a partir daquilo que
me proporcionaram; h uma referncia a eles que um absoluto.
J .-P. S. - No o nego. Mas isso no existe em literatura. As pessoas que gostam
profundamente de Rabelais o lem como se ele tivesse escrito ontem.
S. de B. - E de uma maneira absolutamente direta.
J .-P. S. - Cervantes, Shakespeare. So lidos como se estivessem presentes; Romeu e
J ulieta ou Hamiet so obras que parecem ter sido escritas ontem.
S. de B. - Ento, em sua obra, voc d primazia literatura? No entanto, no conjunto de
suas leituras e de sua formao, a filosofia representou um enorme papel.
J .-P. S. - Sim, porque a considerei como o melhor meio de escrever; era ela que me dava
as dimenses necessrias para criar uma histria.
S. de B. - De toda maneira, no se pode dizer que a filosofia era apenas um meio para
voc.
J .-P. S. - No incio ela foi isso.
S. de B. - No incio, sim; mas depois, quando se v o tempo que voc passou a escrever
L'tre et l nant, a escrever Critique de Ia raison dialectique, no se pode
dizer que se tratava simplesmente de um meio para fazer obras literrias; era tambm
porque, em si, isso o apaixonava.
J .-P. S. - Sim, isso me interessava, certo. Queria dar minha viso do mundo, ao mesmo
tempo em que a fazia viver por personagens em minhas obras literrias ou
em ensaios. Descrevia essa viso aos meus contemporneos.
S. de B. - Em suma, a algum que lhe dissesse:
"Sua filosofia formidvel, mas como escritor voc pode desistir", voc preferiria quem
que lhe dissesse: "Voc um grande escritor, mas, como filsofo, no me
convence"?
J .-P. S. - Sim, prefiro a segunda hiptese.
S. de B. - Talvez voc pense que sua filosofia no lhe pertence com exclusividade,
qualquer outro poderia
211
#inventar a ideia de prtico-inerte, a ideia da recorrncia, assim como os sbios, mesmo
se so muito originais, descobrem em primeiro lugar o que outros teriam
descoberto mais tarde de toda maneira. No se poderia dizer tambm que a literatura
algo absoluto, mas fechado, concludo, enquanto que a filosofia se ultrapassa,
mas, ao mesmo tempo, retomada. Descartes sobrevive em voc, por exemplo, e no
absolutamente o gnero da sobrevivncia que pode ter para voc Shakespeare ou
Tcito, qualquer outro que voc leia com grande prazer, que pode influenci-lo de certa
maneira, mas por espcies de ressonncias ou por reflexo, enquanto que
Descartes se integra em seu pensamento. Por que prefere o absoluto, independente de
tudo, mas fechado?
J .-P. S. - Quando era pequeno era esse que eu vivia; queria escrever um romance que
seria como NotreDame de Pars ou Ls misrables, uma obra que seria reconhecida
em outras pocas, um absoluto que nada poderia modificar. E voc sabe que a filosofia
entrou em minha vida de certa forma por um artifcio.
S. de B. - Por que, como criador, a filosofia entrou em sua vida?
J .-P. S. - Era criador de romances, em minha cabea; quando comecei a filosofia, no
sabia o que era isso. Tinha um primo que estava em 'matemtica elementar'; e
no queria falar disso diante de mim. Sabia que aprendia coisas que eu no conhecia e
isso me intrigava. Mas j havia em mim ideias de romances, de ensaios, de ensaios
no-filosficos; elas tinham muita fora para que a filosofia, ao surgir, as perturbasse.
S. de B. - Por que se tomou criador em filosofia?
J .-P. S. - Isso foi uma histria curiosa, porque em filosofia eu no queria ser criador, no
queria ser filsofo, considerava que era perder tempo. Gostava muito
de aprender filosofia, mas quanto a fazer filosofia, achava isso absurdo. Isso
dificilmente compreensvel, alis, porque inventava tambm quando escrevia; teria
tambm podido entreter-me pensando que se podem escrever obras filosficas, mas a
filosofia tinha uma relao com a
212
verdade, com as cincias que me aborrecia; alm disso, era demasiado cedo. Em
khgne, tive como primeira dissertao: o que a durao? Ento encontrei Bergson.
S. de B. - Depois, durante os anos de licenciatura, de agregao, isso lhe interessou?
J .-P. S. - Sim, eu escrevia obras que se beneciavam, ou antes que se 'maleficiavam' de
meus conhecimentos filosficos, por exemplo, Er 1'armnien: sua concepo
era literria; havia personagens, uma maneira de narrar antiga, muito movimento;
havia os Tits; exprimia, no entanto, ideias filoscas. Lembro-me at que em Er
1'armnien era descrita a caverna de Plato, eu achara que devia reconstitu-la e
descrev-la.
S. de B. - Mas, ao mesmo tempo, voc estava muito interessado pela filosofia, j que,
para a concluso do curso, fez um trabalho muito difcil, muito srio, sobre
o imaginrio. Havia uma coisa que o predestinava filosofia e que voc tinha ideias
sobre tudo, tinha teorias, como dizia. Anotava-as num caderninho; depois,
houve circunstncias externas, j que, a partir de seu trabalho para obteno do diploma,
encomendaram-lhe um livro sobre o imaginrio.
J .-P. S. - Foi Delacroix quem me disse: faa ento um livro sobre o imaginrio para
minha coleo.
S. de B. - Por que aceitou, uma vez que estava to mobilizado por La nause e por
projetos literrios?
J .-P. S. - A proibio de fazer filosofia no era absoluta; aquilo podia me ser til. O
imaginrio estava ligado literatura, posto que as obras de arte tm uma
relao com o imaginrio; e, tambm, eu tivera anteriormente ideias sobre as imagens,
era preciso clarific-las.
S. de B. - Voc tambm tinha ideias sobre a contingncia que eram ideias filosficas.
Disse-me quando nos conhecemos: quero ser Spinoza e Stendhal. Portanto, tinha
tambm uma vocao de filsofo?
J .-P. S. - Sim, mas, veja bem, eu escolhera homens sensveis, acessveis a uma
mentalidade do sculo XX. Spinoza era, para mim, mais um homem do que um filsofo.
Gostava de sua filosofia, gostava sobretudo do
213
#homem; agora a obra que me interessa, essa a diferena.
S. de B. - Ento, L 'imaginaire era um livro encomendado; houve dois livros:
L'imagination e L'imaginaire. Qual deles era encomendado?
J .-P. S. - L'imagination.
S. de B. - Ento, por que escreveu L 'imaginaire?
J .-P. S. - Porque era uma consequncia de L'imagination.
S. de B. - Havia uma espcie de dialtica da obra?
J .-P. S. - Lembro-me de haver concebido L'imaginaire enquanto escrevia L'imagination;
no eram dois volumes, era pois a obra completa; primeira parte, L'imagination,
segunda parte L'imaginaire; como tinha que dar alguma coisa para a coleo de
Delacroix, dei-lhe L'imagination.
S. de B. - Voc separou L 'imaginatiori E ento, mais tarde, por que L'tre et l nant?
J .-P. S. - Era poca de guerra; concebi-o durante a drle de guerre* e no campo de
prisioneiros, escrevi-o durante esse perodo: ou no se escrevia ou escreviam-se
coisas essenciais.
S. de B. - Em L'imaginaire j havia essa ideia do nada; voc no podia deixar de
aprofund-la.
J .-P. S. - Exprimia a minha ideia essencial, optava pelo realismo desde meu ano de
filosofia. O idealismo me desagradara profundamente quando mo ensinaram. Tive
dois anos importantes de filosofia: o primeiro, e o ano de primeiro superior, a khgne.
Em hypo-khgne, ao contrrio, tinha um professor a quem no compreendia.
Fiz dois bons anos de filosofia antes de entrar para a Escola Normal e a s tinha uma
ideia: de que toda teoria que no dizia que a conscincia v os objetos exteriores
como eles so, estava fadada ao fracasso; foi isso finalmente que me fez ir para a
Alemanha, quando me disse-
* Nome dado guerra de 1939-1945, em sua primeira fase, por causa da calma que
reinava em todo ofront. (N. do T.)
214
ram que Husseri e Heidegger tinham uma maneira de captar o real tal como este era.
S. de B. - Ento, a filosofia o interessava extremamente, posto que passou um ano na
Alemanha para aprofundar a filosofia de Husseri e conhecer a de Heidegger.
J .-P. S. - Passei meu tempo na Alemanha da seguinte maneira: pela manh e at as duas
horas da tarde, filosofia. Depois is comer, retomava por volta das cinco horas
e escrevia La nause, ou seja, uma obra literria.
S. de B. - Mas ainda assim a filosofia era muito importante. Lembro-me que, ao ler o
livro de Levinas sobre Husseri, houve um momento em que voc se sentiu
completamente
perdido porque disse a si mesmo: "Ah, mas ele j descobriu todas as minhas ideias."
Ento, suas ideias tinham muita importncia.
J .-P. S. - Sim, mas estava enganado quando dizia que ele j descobrira as minhas ideias.
S. de B. - Voc tinha uma certa intuio e no queria que algum a tivesse antes de
voc. Portanto, voc tambm investia na criao filosfica. J em Paris, tendo
amadurecido um pouco, quando falava disso com Nizan, ou quando pensava nisso
sozinho, como via suas possibilidades de sucesso?
J .-P. S. - Em meu romance inspirado nas relaes de Nietzsche com Wagner, via-me
como um homem que teria uma vida movimentada e que, a cada drama, escrevia um
livro
que seria publicado; imaginava uma vida romanesca, um homem de talento que
morreria desconhecido, mas que depois seria glorificado. Essas so velhas lembranas.
Eu colocava o personagem diante de mim, e sonhava com tudo o que lhe aconteceria.
Mas, no fundo, j encarava o escrever sob uma forma muito mais razovel; escrevia
meus livros, estes eram bons, e publicavam-nos; era assim que via as coisas. A prova
que, quando Nizan teve publicados um ou dois livros, dei-lhe trechos de La
lgende de Ia vente. Bifur publicou um fragmento disto.
215
#S. de B. - uando pensava, de uma maneira razovel, em ser publicado e lido, que via
como gnero de sucesso? Pensava na glria, na celebridade? Refiro-me ao tempo
em que tinha dezoito, vinte anos.
J .-P. S. - Pensava que o pblico que poderia compreender-me era uma elite muito
restrita...
S. de B. - a tradio de Stendhal que voc muito apreciava: os happy few.
J .-P. S. - Esses leitores deveriam reconhecer-e e apreciar-me; seria lido por 15.000
pessoas e a glria consistia em atingir outras 15.000 e depois outras 15.000.
S. de B. - E depois o que queria era permanecer. Ser Spinoza e Stendhal era ser algum
que teria marcado seu sculo e que seria lido nos sculos futuros. Era isso
que pensava aos vinte anos?
J .-P. S. - Sim, o que pensava aos vinte anos, quando a conheci.
S. de B. - De certa maneira, voc era muito arrogante. Adotava as palavras do pequeno
Hippias: "J amais conheci algum homem que me equivalesse."
J .-P. S. - Tinha escrito isso num caderno.
S. de B. - Como evoluiu sua relao com a glria, a celebridade? Como sentiu,
inteiramente, sua carreira?
J .-P. S. - No fundo, era algo muito simples: escrevamos e nos tomvamos clebres.
Mas era complicado por certas ideias da poca.
S. de B. - E, depois, voc tambm sofreu golpes duros, porque, com La naue, no incio,
pensou que seria recusado. Isso o abalou!
J .-P. S. - Isso alis comprovava a importncia que atribua s editoras. Um verdadeiro
gnio, tal como o imaginava, teria rido, dizendo: vejam s, no sou publicado,
ora essa!...
S. de B. - Sim, mas ao mesmo tempo que arrogante, voc tambm era - a palavra
modesto no combina com voc - mas enfim, muito sensato e muito paciente;
no considerava suas obras geniais e, ainda que tivesse colocado muita coisa em La
nause, no tinha a impresso de haver escrito uma obra-prima. Parece-me que no
216
era assim que isso se apresentava para voc. E isso que gostaria que explicasse um
pouco melhor.
J .-P. S. - Isso variava; no incio a obra estava em latncia, era irreal, eu me sentava
mesa e escrevia, mas a obra no estava presente, j que ainda no estava
escrita. Portanto, minha relao com a obra era uma relao abstraa; no entanto,
escrevia e isso era um ato real.
S. de B. - Uma vez escrita a obra, La nause, por exemplo, voc a considerava
verdadeiramente como uma obra. La lgende de Ia vrit, tambm; e aceitava muito
bem
que a criticassem, sentia seus defeitos. Quanto a La nause, alis, voc era apoiado por
mim, que gostava muito desse livro, e voc realmente investia muito nesse
livro. Ficou muito decepcionado quando o recusaram.
J .-P. S. - Isso fazia parte da vida quotidiana, mas ainda assim considerava-me - mas com
a maior modstia, se ouso diz-lo - um gnio. Falava com meus colegas
como um gnio fala com seus colegas. com a maior simplicidade, mas, interiormente,
era um gnio que falava.
S. de B. - Volto ao primeiro fracasso de La nause: voc pensava que era um gnio que
ainda no encontrara a maneira de ser reconhecido?
J .-P. S. - Pensava que La nause era um bom livro e fora recusado como bons livros so
recusados na histria da literatura. Voc escreveu um livro, apresentou-o,
ele ser mais tarde uma obra-prima...
S. de B. - Como ocorreu, alis, com Proust.
J .-P. S. - Era assim que via as coisas. No deixava de pensar que fosse um gnio, mas
isso seria descoberto no futuro. Seria um gnio, j o era, mas, sobretudo, o
seria. Tinha investido muito em La nause.
S. de B. Voc esteve comigo em Chamonix, logo depois da recusa, e estava
extremamente triste, creio at que chorou, coisa que s lhe aconteceu em rarssimas
ocasies.
Aquilo realmente foi um golpe.
J .-P. S. - Sim, mas eu pensava que a obra fora recusada porque era boa.
217
#S. de B. Eu lhe dava todo o apoio. Achava o livro muito bom.
J .-P. S. - Era o que eu pensava. Mas nos momentos de solido havia momentos de
tristeza em que eu me dizia: uma obra fracassada, e terei que refaz-la. Mas a ideia
do talento no se desmanchara.
S. de B. - E quando foi aceita, e logo depois voc escreveu novelas que foram
imediatamente publicadas, como sentiu sua satisfao?
J .-P. S. - A ento, tinha dado a partidal
S. de B. - Sei bem, porque voc me escreveu, ento, cartas muito alegres. Contava-me
como fora aceita, como lhe haviam pedido algumas pequenas modificaes que voc
consentira em fazer porque as achava justificadas. Brice Parain pedira-lhe que
suprimisse um pouco o lado populista; voc absolutamente no se comportou como o
gnio
que no aceita conselho algum.
J .-P. S. - No.
S. de B. - Estava pronto a aceitar conselhos; era quase a relao do carter
transcendental com o carter emprico.
J .-P. S. - isso.
S. de B. - Transcendentalmente, voc era um gnio, mas tratava-se de que isso se
manifestasse na vida emprica. Voc absolutamente no estava seguro de conseguir
manifestar-se imediatamente.
J .-P. S. - Sim, porque se me reportava a meus guias, que eram os homens clebres de
pocas passadas, via que no se tomavam algum antes da idade de trinta anos.
As vidas de Victor Hugo, de Zoia, de Chateaubriand, ainda que eu no fosse to
entusiasta de Chateaubriand, contavam muito. Essas vidas se sintetizavam para produzir
uma vida que deveria ser a minha. Eu me conduzia realmente de acordo com esses
modelos e pensava que faria um pouco de poltica aos cinquenta anos.
S. de B. - Porque todos os grandes homens haviam feito poltica.
218
J .-P. S. - No pensava que a poltica a vida, mas em minha biografia futura tinha que
haver um momento poltico.
S. de B. - Gostaria que me falasse um pouco sobre esse tema.
J .-P. S. - Sobre o tema do gnio?
S. de B. - Sobre a maneira pela qual o sentia e pela qual o pensava. Achava que La
nause era uma obra-prima?
J .-P. S. - No. Pensava: disse o que tinha a dizer e est bom. Corrigi erros que a Sra.
Morei e Guille me haviam indicado. Fizera o melhor que podia fazer e isso
tinha valor. Mas no ia muito mais longe. No pensava: a obra-prima engendrada por
meu talento. No entanto, tambm havia um pouco disso. No: uma obraprima;
mas: foi um gnio que a produziu; estava ali, em algum lugar, no sei bem onde. Eu no
brincava com minhas obras. Elas representavam algo de importante; e, no entanto,
enquanto gnio, tinha o direito de rir delas, podia gracejar a respeito; ao mesmo tempo
isso era capital, e ao mesmo tempo o gnio no se deixa abater se no o reconhecem.
S. de B. - Mas, por outro lado, ele no se sacia se uma obra tem sucesso?
J .-P. S. - No. Ele continua, tem outra coisa a dizer.
S. de B. - E depois, como foi que isso evoluiu?
J .-P. S. - Bem, o que houve de embaraoso quanto a essa ideia de talento que eu
acredito numa espcie de igualdade entre as diferentes inteligncias; conseqentemente,
pode-se definir uma obra como boa por adequarse ao autor que a escreveu, por ter ele
adquirido uma certa tcnica, mas no porque possui uma qualidade que outros
homens no possuem.
S. de B. - Voc me disse que era preciso fazer a distino entre talento e inteligncia,
que voc no se achava especialmente inteligente, mas que o que lhe parecia
distingui-lo de seus colegas, pelo menos em La Rochelle, era uma certa profundidade e
tambm a ideia de
219
#uma misso: voc deveria revelar verdades s pessoas. Ento, de toda maneira, voc
tinha um destino singular.
J .-P. S. - Sim, mas isso no tinha sentido, era preciso abandonar essa ideia de misso.
Sim, de fato eu pensara: tenho uma misso.
S. de B. - Sim, voc j mencionou isso a propsito de Miguel Strogoff, em Ls mots
tambm. Mas, ainda assim, voc se sentiu, at a guerra, muito mais inteligente
do que as pessoas que o rodeavam?
J .-P. S. - Sim, certamente.
S. de B. - Voc me disse uma vez, e achei isso muito justo: "No fundo, a inteligncia
uma exigncia";
no tanto a rapidez da mente, ou, como dizemos, relacionar quantidades de coisas,
mas uma exigncia, no sentido de no parar e ir mais longe, sempre mais longe.
Penso que voc tinha essa exigncia; sentia-a mais forte em voc do que nos outros?
J .-P. S. - Sim, mas no o diria assim agora. No diria que, pelo fato de ter escrito livros,
sou um sujeito superior a um sujeito que constri casas ou faz viagens.
S. de B. - uando estava com Nizan, achavam graa em dizer que eram super-homens, e,
no final de Ls mots, voc diz que qualquer um; uma frase muito ambgua:
ao mesmo tempo voc a pensa e no a pensa. Em primeiro lugar, como passou da ideia
de super-homem ideia de um homem qualquer? E que significa para voc, sem
trapacear,
essa ideia de ser qualquer um?
J .-P. S. - Penso que posso ter um pouco mais de talento do que outros, uma inteligncia
um pouco mais desenvolvida; mas esses so apenas fenmenos, cuja origem continua
a ser uma inteligncia igual do prximo, ou uma sensibilidade igual do prximo. No
creio que tenha qualquer superioridade. Minha superioridade so meus livros,
na medida em que so bons; mas o outro tambm tem sua superioridade; esta pode ser o
cartucho de castanhas quentes que vende, no inverno, porta de um caf; cada
um tem sua superioridade, eu escolhi aquela.
220
S. de B. - Voc no pensa inteiramente assim, j que acha que h pessoas que so
ineptas ou desprezveis ...
J .-P. S. - Sim, certamente, mas no penso que fossem assim originalmente:
embruteceram-nas.
S. de B. - No pensa que a inteligncia seja um dom hereditrio, imediato, fisiolgico.
J .-P. S. - Escrevi em meus caderninhos a respeito do que a estupidez e como foi
inculcada em determinadas pessoas. O essencial vem de fora; uma opresso do
exterior
imposta inteligncia. A estupidez uma forma de opresso.
S. de B. - Seu sentimento de genialidade mudou entre o perodo que antecedeu a guerra
e o aps-uerra?
J .-P. S. - Sim, penso que a guerra foi til para todas as minhas ideias.
S. de B. - Como prisioneiro, em certo sentido, voc se sentiu satisfeito, porque, partindo
do anonimato, se fez reconhecer como algum. Em outras palavras, voc
justamente poderia ter sido qualquer um. O que lhe dava satisfao que no ficou
perdido entre todas aquelas pessoas e isolado por sua cultura, seus livros ou
sua inteligncia, mas, ao contrrio, cou no mesmo nvel que eles. Foi o ficar no mesmo
nvel, ser qualquer um, que lhe fez dar um valor a esse qualquer um.
J .-P. S. - Talvez voc tenha razo.
S. de B. - uma coisa que lhe dava muita satisfao: voc chegou l, as mos vazias,
desconhecido, sem nome, sem superioridade reconhecvel pelas pessoas com quem
tinha contato, porque elas no sentiam muito a superioridade intelectual, e voc
estabeleceu boas relaes com elas. Houve Bariona que qualquer um no poderia ter
escrito, e voc estava ligado aos intelectuais, aos padres;
criou uma posio l dentro e arranjou-se como um simples soldado.
Quando teve essa glria que inundou voc depois da guerra, disse que isso tinha sido
uma experincia curiosa, porque a glria era, ao mesmo tempo, o dio. Essa celebridade
internacional, que absolutamente no esperava,
221
#que efeito teve sobre voc? Foi a realizao de um desejo e o reconhecimento de seu
talento ou era ainda apenas um acontecimento emprico que no tinha tanta influncia
sobre a verdade transcendental qual, de toda maneira, voc estava aferrado?
J .-P. S. - Diria antes isso. Evidentemente, mobilizava-me um pouco o fato de ter um
certo renome, de haver pessoas que vinham de longe e me diziam: o senhor o
Sr. Sartre, e escreveu isso e aquilo; mas no levava tudo isso to a srio. Quando via
essas pessoas que me diziam: ah, o senhor escreveu isto, escreveu aquiloutro,
isso me deixava bastante frio. E, alm de tudo, pensava que a hora de glria no tinha
chegado. A hora de glria chega no fim da vida; temos a glria no fim de nossa
vida, quando terminamos nossa obra; enfim, eu via mal as coisas, mais complicado do
que isso. No fim de nossa vida, temos um perodo de transio que continua
aps a morte por alguns anos ainda, e a glria depois; mas certo que considerava
tudo isso como uma pequena representao, como uma espcie de fantasma de glria
para indicar o que a glria, mas isso no era ela. Eu absolutamente no simpatizava
com todas as pessoas que, em
1945, se comprimiam em minha conferncia; esmagavamse, mulheres desmaiaram, eu
achava tudo isso ridculo.
S. de B. - Sabia que havia um lado de esnobismo, um lado de mal-entendido, um lado
que se originava da situao poltica, porque a cultura francesa, naquele momento,
no tendo outra opo, era exportada.
J .-P. S. - No me prestei muito a esse movimento. Acreditaram que sim, porque os
jornais diziam: ele faz isto, faz aquilo, para que se fale dele.
S. de B. Sim, acusavam-no de fazer publicidade quando, ao contrrio, estava ...
J .-P. S. - No me ocupava disso. Escrevia; claro que precisava de um pblico quando
escrevia uma pea teatral, mas no fazia o necessrio para que este acorresse.
Escrevia a pea, fazia com que fosse representada, e nada mais.
222
S. de B. - E depois da guerra, como evoluiu sua relao com os livros? Ser que, de
quando em quando, voc se perguntou: anal, o que vale tudo isso que escevi Em
que nvel me situo? Ser que permanecerei no sculo?
J .-P. S. - Sim, mas ocasionalmente. S. de B. - Sim, o essencial era fazer aqueles livros,
estar pessoalmente satisfeito com isso, ser aprovado por alguns. Trabalhar
para satisfazer a si mesmo e satisfazer alguns leitores o que h de melhor durante a
vida;
pode-se obter a glria enquanto vivo, mas ela no impedia que Chateaubriand tivesse
horrveis crises de amargura. certo que estavam ligadas a histrias polticas.
J .-P. S. - Mas a glria nunca pura. Ela est ligada arte, mas tambm poltica e a
uma quantidade de coisas. O renome que tive aps a guerra impediu-me de desejar
qualquer outra coisa, mas nunca o confundi com a glria que teria ou no, que vem
depois.
S. de B. - Em outras palavras, o que voc chama a glria o veredito da posteridade?
J .-P. S. - Se o mundo no se transforma, conceder-me-o um papel no sculo XX; citar-
me-o nos manuais de literatura, como um autor que teve sucesso, quer sendo
este atribudo a um erro do pblico, quer, ao contrrio, dizendo que fui importante etc.
A glria, alis, acompanha-se de uma certa superioridade, uma superio ndade
sobre os outros escritores; preciso reconhecer que isso no agradvel, porque penso
duas coisas contraditrias; penso que os bons escritores so superiores aos
outros e que um escritor muito bom superior a todos; isto , a todos exceto a outros
escritores muito bons que so muito raros; essa a categoria na qual me
situaria. Mas penso tambm que os que exercem a profisso de escritor, os que fazem
literatura, s so distinguidos plos leitores circunstancialmente. Este ser
considerado melhor do que aquele, talvez no em definitivo, mas durante um perodo, e
efetivamente prestar mais servios, mesmo morto, com seus livros, porque
seus livros se encontraro, por uma razo ou por outra, adaptados poca. Penso que
223
#um escritor que fez um livro valioso ter uma vida diferente aps sua morte, de acordo
com os momentos, de acordo com os sculos: ele pode cair no esquecimento.
E penso tambm que um escritor que realiza a essncia da literatura atravs de suas
obras no nem mais forte nem menos forte do que seu prximo; o outro tambm
realizou a essncia da literatura. Voc pode gostar mais daquele ou menos deste,
segundo se aproxime mais, ou menos, de suas ideias, de sua sensibilidade, mas em
ltima instncia eles so iguais.
S. de B. - Voc quer dizer que, em seu enfoque, a superioridade do escritor vista ao
mesmo tempo como um absurdo e como relativa histria.
J .-P. S. - isso. Ou ento voc pensa ser escritor e escrever determinadas coisas e, se
estas so boas, a est, voc um bom escritor; mas penso tambm: ser
escritor atingir a essncia da arte de escrever. Quando voc atingiu a essncia da arte
de escrever, no a atingiu menos, nem mais, do que seu prximo. Voc pode,
evidentemente, situar-se nas bordas, mas no me refiro a isso, falo daqueles que so
verdadeiros escritores: Chateaubriand, por exemplo, ou Proust. Por que diria
eu que Chateaubriand captou menos do que Proust o que a literatura?
S. de B. - Concordo, no h hierarquias, como se se fizessem concursos; cada um, em
cada poca, que prefere este ou aquele escritor. Mas voc pensa atualmente
na posteridade? Ela existe para voc? Ou como os caranguejos de Sequestres d'Altona,
sem nenhuma relao com voc?
J .-P. S. - No sei. s vezes tive a impresso de que se vivia numa poca que seria
sucedida por grandes alteraes que modificariam completamente a noo de literatura,
haveria outros princpios, e nossas obras j no teriam significao para as pessoas que
viriam. Pensei isso, ainda o penso, s vezes, mas no sempre. Os russos
retomaram toda a sua literatura passada, mas os chineses no o fizeram. Ento nos
perguntamos se o futuro conservar os escritores passados ou somente alguns.
224
S. de B. - Na medida em que pensa isso, pensa que a sua obra propriamente literria
ou a sua obra filosfica que tem mais possibilidade de sobreviver, ou as duas?
J .-P. S. - Penso que sero Situations, artigos que se relacionam com minha filosofia,
mas que so escritos em estilo muito simples e que falam de coisas que todo
mundo conhece.
J .-P. S. - Em suma, uma espcie de reflexo crtica sobre todos os aspectos da poca?
Sobre os aspectos polticos, os aspectos literrios e artsticos?
J .-P. S. - isso que gostaria de ver reunido num volume editado pela Gaimard.
S. de B. - ual sua relao subjetiva com sua obra?
J .-P. S. No estou muito satisfeito com ela. O romance fracassou.
S. de B. No; ele no foi terminado, mas no fracassou.
J .-P. S. - De um modo geral, foi menos apreciado, e creio que as pessoas tm razo.
Quanto s obras
filosficas...
S. de B. - So incrivelmente boas!
J .-P. S. - Sim, mas a que chegaram?
S. de B. - Creio que Critique de Ia raison dialecti-
que contribuiu para um enorme avano do pensamento. J .-P. S. - Isso no ser ainda um
pouco idealista? S. de B. - No o creio de maneira alguma, e creio
que pode servir enormemente, bem como, de uma outra
maneira, o 'Flaubert': para fazer com que se compreenda
o mundo, as pessoas ...
J .-P. S. - No terminei o 'Flaubert' e no o terminarei.
S. de B. - No o terminou; mas o estilo de Madame Bovary no era algo que o
interessava tanto. J .-P. S. - No entanto, havia coisas a dizer. S. de B. - Sim, mas voc
j disse tanto sobre Flaubert, uma tal soma, sobre a maneira pela qual se pode pensar
um homem, sobre os mtodos para pens-lo! Um
225
#aspecto que no deve ser negligenciado o aspecto propriamente literrio do livro;
apaixonante ler 'Flaubert', como se l Ls mots.
J .-P. S. - Nunca planejei escrever Flaubert.
S. de B. - Mas h momentos em que incrivelmente bem escrito; e h momentos em
que realmente literatura, como Ls mots.
J .-P. S. - Ls mots foi algo que quis escrever bem.
S. de B. - Mas, de toda maneira, no se sente insatisfeito, sem modstia, se compara sua
obra com o que desejava fazer; sei bem que os sonhos indefinidos da juventude
no coincidem com a realizao que sempre finita, mas, ainda assim, era o que
desejava fazer?
J .-P. S. - No estou muito satisfeito, no estou insatisfeito. E, tambm, h um grande
ponto de interrogao. O que acontecer com isso?
S. de B. - E o que dizamos ainda h pouco. O que far com isso a posteridade?
J .-P. S. - Sim, se tivermos uma posteridade do gnero chins, no se far muita coisa
disso.
S. de B. - As circunstncias no so, de modo algum, as mesmas.
J .-P. S. - A poca realmente de mudana; no se sabe em que direo, mas o mundo
em que vivemos no vai durar.
S. de B. - No entanto, no estamos no sculo XVIII e ainda lemos livros do sculo
XVIII, no estamos no sculo XVI e lemos livros do sculo XVI.
J .-P. S. - Mas no sculo XVIII no houve uma revoluo desse tipo; a revoluo de
1789 no tem nada a ver.
S. de B. - Lemos os gregos e os romanos enquanto o mundo mudou.
J .-P. S. - Lemo-los como sendo de outra poca;
isso tambm diferente.
S. de B. - A literatura conservou sempre o mesmo valor para voc ou, do momento em
que comeou a fazer poltica, isso depreciou um pouco a literatura?
226
J .-P. S. - No, isso no a depreciou.
S. de B. - Como sente as relaes entre ambas?
J .-P. S. - Pensei que a ao poltica deveria constituir um mundo no qual a literatura
seria livre para exprimir-se: o oposto do que pensam os soviticos. Mas jamais
abordei politicamente o problema da literatura, sempre considerei que era uma das
formas da liberdade.
S. de B. - No houve momentos em que, diante dos problemas polticos, a literatura
parecia seno mais ftil, pelo menos devendo ser relegada a um segundo plano?
J .-P. S. - No, jamais pensei isso. No direi que a literatura deva estar no primeiro
plano, mas estou fadado a fazer literatura; poltica, como todo mundo, mas,
em especial, literatura.
S. de B. - Sim, alis, por isso, que, em suas entrevistas recentes com Victor e Gavi,
voc protestou quando queriam impedi-lo de escrever seu 'Flaubert'.
Houve um momento em que deixou um pouco de escrever, por volta de 1952, para ler
intensamente, e isso coincidia com sua aproximao do partido comunista e com
uma vontade de "espremer os miolos", como o disse. Mas naquele momento, a literatura
conservava...
J .-P. S. - No me questionava, mas se o tivesse feito, dir-lhe-ia que estava destinado
literatura.
S. de B. - O essencial de seu trabalho, naquele momento, j no era escrever.
J .-P. S. - Era ler.
S. de B. - E refletir.
J .-P. S. - Era na poca de Communistes et Ia paix.
S. de B. - Eram textos muito mais de ordem poltica do que literria.
J .-P. S. - Sim. A ruptura com Camus tambm era poltica, no fundo.
S. de B. - Qual foi o papel da aprovao da parte de seu entourage ou de pessoas como
Paulhan ou de crticos propriamente ditos? Voc desprezava radicalmente
227
#os crticos ou os levava em considerao? Como viveu sua relao com os crticos e
com os leitores?
J .-P. S. - Os leitores sempre foram mais inteligentes - que eu saiba do que os crticos.
E no aprendi praticamente nada sobre o que escrevia atravs dos crticos,
a no ser atravs daqueles que fizeram um livro sobre um aspecto ou outro; estes, s
vezes, me ensinaram alguma coisa; mas a maioria dos crticos no me proporcionou
nada.
S. de B. - E, no entanto, como todo mundo, voc bastante vido quando um livro
publicado...
J .-P. S. - Quero saber o que se pensa, isso bvio. Sim, quando um livro publicado,
leio todas as crticas. No todas, no se consegue; quando vejo uma relao
de crticas durante o ano, fico estupefato, no tomei conhecimento de metade delas. No
entanto, procuro l-las. Mas o crtico diz: bom, ou no bom, ou no
to bom; s o que me diz. O resto...
S. de B. - Ser que nunca houve apreciaes de leitores que lhe sugerissem algo para
sua obra futura, ou, ao contrrio, lhe paralisassem um pouco? Ser que isso
teve influncia no desenvolvimento de seus escritos?
J .-P. S. - No creio. No. Havia um leitor privilegiado, que era voc; quando voc me
dizia: "Concordo, est bom", era isso; publicava o livro, pouco se me davam
os crticos. Voc me prestou um grande auxlio; deu-me confiana em mim, coisa que
no teria tido sozinho.
S. de B. - Em certo sentido, o leitor que faz a verdade do texto.
J .-P. S. - Mas eu no conhecia o leitor, ou ento eram os crticos que no me
satisfaziam. S havia voc. Era sempre assim: quando voc gostava de alguma coisa,
para mim estava bom. Os crticos no gostavam: eram ineptos.
S. de B. - De toda maneira, voc era sensvel aprovao de sujeitos inteligentes ou
mesmo ao sucesso propriamente dito.
J .-P. S. - Hoje em dia os crticos so um pouco diferentes. H um que aprecio muito,
Doubrovsky;
228
inteligente, fino, v coisas; h alguns que so assim, porque a crtica tem atualmente um
sentido. Antes no o tinha.
S. de B. - verdade que a aceitao muito entusiasta que recebeu Ls mots no o
decidiu a escrever uma continuao desse livro?
J .-P. S. - No. Por que me teria decidido a tal? Eles diziam: vai haver uma continuao;
pois bem, no houve.
S. de B. - Mesmo assim, escrever responder um pouco a um apelo; alis, muito
frequentemente voc escreveu obras circunstanciais; alis, de um modo geral, com
muito xito. Todo Situations ...
J .-P. S. - Todo Situations so obras circunstanciais.
S. de B. - Portanto, h uma relao bastante direta com o pblico.
J .-P. S. - H uma relao. Produz-se um acontecimento; determinado pblico se
pergunta o que pensa Sartre desse acontecimento porque gosta de mim. Ento, s vezes,
escrevo para ele.
S. de B. - Quando o conheci, muito jovem, voc vivia para a posteridade; mas no
houve uma poca em que dizia que isso no tinha sentido algum para voc? Pode
explicar-me
que ligao fazia entre o fato de escrever de maneira engajada, para seus
contemporneos, e o sufrgio dos sculos futuros?
J .-P. S. - Quando fazemos literatura engajada, no nos preocupamos com problemas que
j no tero sentido em vinte anos e que dizem respeito sociedade atual.
Se temos alguma influncia e colocamos bem o problema, conseguimos o que
queramos quando decidimos as pessoas a agirem, ou a considerarem as coisas a partir
de
sua prpria perspectiva. Isso de posteridade s existir quando o problema tiver sido
resolvido, bem ou mal, e certamente no pelo prprio escritor. J que o problema
ficou resolvido h uma maneira de considerar a obra, vinte ou trinta anos depois, de
uma perspectiva estritamente esttica, ou seja, conhecemos a histria, sabe-
229
#ms que o escritor escreveu isso num determinado momento, que Beaumarchais, por
exemplo, escreveu determinados panfletos muito importantes. Mas j no podemos
utiliz-los
para um problema de hoje. Consideramos o objeto literrio como vlido para todos, mas
sem levar em conta seu contedo anedtico. Os detalhes se tomam smbolo. Tal
fato particular vale para uma srie de fatos que caracterizavam tal sociedade ou vrios
tipos de sociedade. O objeto que era limitado passa ao universal. De maneira
que, quando escrevemos um texto engajado, preocupamo-nos inicialmente com o
assunto de que vamos tratar, com os argumentos que temos que dar, com o estilo que
tomar as coisas mais acessveis, mais percucientes para os contemporneos, e no nos
preocupamos em pensar o que valer o livro quando no fizer mais ningum agir.
Mas, de toda maneira, h uma vaga reticncia que faz com que consideremos que a
obra, se obteve o que desejava, ter um destaque no futuro, sob uma forma universal;
j no ser eficiente, ser considerada como um objeto gratuito, de certa maneira; tudo
ocorrer como se o escritor a houvesse escrito gratuitamente e no por seu
valor preciso de ao sobre um fato social preciso. E assim que admiramos as obras de
Voltaire por seu valor universal, ao passo que, na poca de Voltaire, suas
histrias extraam seu valor de uma determinada perspectiva social; portanto, h dois
pontos de vista, e o autor conhece ambos quando escreve. Sabe que escreve algo
de especial, que participa de uma ao, que no parece utilizar a linguagem pelo prazer
de escrever; e, no entanto, no fundo ele pensa que criou uma obra que tem
um valor universal que sua verdadeira significao, embora tenha sido publicada para
realizar uma ao singular.
S. de B. - H ainda duas ou trs coisas que seria preciso ver. Em primeiro lugar, todas as
suas obras no foram igualmente engajadas; algumas so mais nitidamente
estticas, como Huis cio, como Ls mot. No foi para exercer uma ao que as
escreveu, so obras que chamamos de arte, obras realmente literrias. Por outro
230
lado, nos escritos em que voc dirige um apelo, em que quer convencer as pessoas, voc
sempre teve uma grande preocupao com o estilo, com a composio, ao mesmo
tempo para atingir seus contemporneos e tambm com a ideia de uma espcie de cunho
de universidade que tomaria a obra vlida mais tarde.
J .-P. S. - Pode ser.
S. de B. - Portanto, voc nunca desprezou a posteridade.
J .-P. S. - No, no me preocupava com isso; mas, por trs de meu sonho que era sempre
escrever para o leitor de agora havia a ideia de uma posteridade; uma posteridade
que s pode existir com uma transformao completa da obra que cessa de agir, mas que
se toma uma obra de arte como quase todas as coisas do passado.
S. de B. - Que so captadas no momento em que so dadas a distncia. Evidentemente,
voc pensava na posteridade, j que me disse muitas vezes, at mesmo o escreveu,
creio, em Ls mots, que a literatura lhe dissimulava completamente a ideia da morte.
Morrer lhe era indiferente do momento em que sobreviveria, portanto pensava
que o livro tinha uma sobrevivncia.
J .-P. S. - Acreditei na posteridade de uma maneira muito forte sobretudo quando era
pequeno; na poca em que terminam Ls mots, depois, nos anos seguintes, e quando
tinha vinte anos. Foi pouco a pouco que compreendi que escrevia essencialmente para
meus leitores de hoje. Ento, a posteridade transformou-se em algo que me espicaava
por trs, como uma espcie de vaga fluorescncia acompanhando o que escrevia
essencialmente para meus leitores de hoje.
S. de B. - Voc no era, de maneira alguma, um desses escritores que se instalam no
futuro, com um tranquilo desprezo por seus contemporneos, como Stendhal, a
quem, no entanto, voc muito apreciava, e que pensava: "Mas eu serei compreendido
dentro de cem anos, pouco me importa o presente."
J .-P. S. - De maneira alguma.
231
#S. de B. - No havia em voc nenhum desprezo por seus contemporneos e nenhuma
ideia de que haveria uma revanche que lhe seria proporcionada por seus livros. Talvez
pensasse, ao contrrio, que, na medida em que tivesse conseguido atingir seus
contemporneos, que seria representativo de seu sculo e que passaria posteridade,
e no na medida em que se separasse daqueles.
J .-P. S. - Pensava que esse reconhecimento da parte de meus contemporneos era um
ato que ocorria em minha vida, e a etapa pela qual era preciso passar, para alcanar
a glria ou a morte.
S. de B. - Era a objetivao de sua obra que lhe dava sua realidade. Havia uma noo
importante, sobre a qual, alis, voc falou igualmente em Ls mots, que era
a ideia de que a literatura proporcionava uma certa salvao.
J .-P. S. - Certamente porque, como o disse em Ls mots, meu sentido da sobrevivncia
literria era, evidentemente, uma espcie de decalque da religio crist.
S. de B. - Mesmo quando voc fazia filosofia na Alemanha, isso no o impedia de
escrever La nause. Voc se dividia entre as duas coisas.
J .-P. S. - A coisa mais importante era La nause.
S. de B. - Mas, de toda maneira, fazer filosofia era suficientemente importante, para que
voc fosse morar na Alemanha. Perguntei-lhe como tinha chegado a L'tre
et l nant; voc respondeu: era a guerra.
J .-P. S. - Sim.
S. de B. - Mas essa no explicao suficiente.
J .-P. S. - Bem, escrevi muita coisa de L'tre et l nant em minhas cadernetas. As ideias
de L'tre et l nant formaram-se a partir da caderneta que foi escrita
durante a drle de guerre e vinham diretamente de meus anos em Berlim, no tendo,
naquele momento, os textos, reinventando tudo por mim mesmo. No sei por que, no
campo de prisioneiros os alemes me presentearam com Heidegger; isso permanece um
mistrio para mim.
S. de B. - Como fez?
232
J .-P. S. - Durante meu cativeiro, respondi a um oficial alemo que me perguntava o que
faltava: Heidegger.
S. de B. - Talvez porque Heidegger fosse bem visto
pelo regime.
j.-p. S. - Talvez. De toda maneira, deram-mo. Um grande volume que custa caro.
estranho, porque, como voc sabe, no ramos tratados com flores.
S. de B. - Sim, sei disso. Fica um pouco misterioso. A verdade que ento voc leu
Heidegger.
J .-P. S. - Li Heidegger enquanto estava no campo de prisioneiros. Compreendi-o, alis,
muito mais atravs de Husseri do que nele mesmo. Contudo, j o lera um pouco
em 1936 ...
S. de B. - Ah, sim, lembro-me de que voc me fazia traduzir grandes trechos dele.
Discutimo-lo quando estava ainda em Rouen, creio. Bom; mas, ao mesmo tempo, L'tre
et l nant se inscrevia na descoberta que voc fizera em L 'imaginaire.
J .-P. S. - Sim. isso. Descoberta da conscincia como o nada.
S. de B. - A seguir voc dizia que j no teria a ideia, a intuio que tivera em relao a
L'tre et l nant.
J .-P. S. - Sim ...Mas apesar disso fiz livros que tm conexo com a filosofia, como, por
exemplo, o Saint Genet.
S. de B. - Sim.
J .-P. S. - Pode-se dizer que uma obra filosfica... E depois, com La citique de Ia raison
dialectique, vieram-me algumas coisas ao esprito.
S. de B. - Ento, isso nasceu igualmente de uma maneira episdica, por um concurso de
circunstncias, j que os poloneses lhe ...
J .-P. S. - Os poloneses me perguntaram onde me situava filosoficamente.
S. de B. - Isso gerou Questions de mthode.
J .-P. S. - Isso gerou Questions de mthode. Os poloneses o publicaram. E eu quis
oferec-lo - voc tam-
233
#bem me aconselhou a oferec-lo - aos leitores de Ls Temps Modernes.
S. de B. - Sim.
J .-P. S. - O texto original no era muito bom;
pus-me a reescrev-lo e publiquei-o em Ls Temps Modernes.
S. de B. - Sim, mas no houve uma outra motivao? A partir de 1952, voc comeara a
ler muito sobre o marxismo, e a filosofia se tomava algo - alis, no foi por
acaso que fossem os poloneses que lho solicitassem - de poltico.
J .-P. S. - Sim. Para Marx, a filosofia deve ser suprimida. Quanto a mim, no via as
coisas assim. Via a filosofia como permanecendo na cidade futura. Mas certo
que me referia filosofia marxista.
S. de B. - Mas seria importante que se explicasse melhor; sugeriram-lhe que escrevesse
Questions de mthode. Mas por que aceitou faz-lo?
J .-P. S. - Porque queria saber onde me situava filosoficamente.
S. de B. - Em suas relaes com o marxismo ...
J .-P. S. - Superficialmente, sim; mas sobretudo com a dialtica, porque, se olhssemos
meus cadernos - e infelizmente j no os temos - veramos como a dialtica
se insinuava no que eu escrevia.
S. de B. - No entanto, em L'tre et l nant absolutamente no h dialtica.
J .-P. S. - Exatamente. Passei de L'tre et l nant para uma ideia dialtica.
S. de B. - Sim; quando escrevera Ls communistes et Ia paix, comeava a elaborar uma
filosofia da histria. Foi um pouco isso que originou Questions de mthode.
J .-P. S. - Sim.
S. de B. - Mas como passou de Questions de mthode para Critique de Ia raison
dialectique?
J .-P. S. - Questions de mthode era unicamente metodologia; mas havia, por trs, a
filosofia, a dialtica filosfica que eu comeava a precisar. E to logo terminei
234
Questions de mthode, trs ou seis meses depois, comecei Critique de Ia raison
dialectique.
S. de B. - E como descobriu que tinha ideias novas, j que me dissera durante anos:
"No sei se jamais escreverei outro livro filosfico; j no tenho ideias."
J .-P. S. - Bem, penso que quando dizia: "J no tenho ideias", j no as tinha
conscientemente, mas de toda maneira havia alguma coisa ...
S. de B. - Alguma coisa era elaborada.
J .-P. S. - Sim. E quando escrevi Questions de mthode, muito rapidamente minhas
ideias se organizaram;
so as que tinha anotado durante trs, quatro anos, nos cadernos ...voc sabe, aqueles
cadernos ...
S. de B. - Sim, sim, vejo bem aqueles cadernos grossos ...Mas no parece, ainda assim,
que naqueles cadernos se encontrassem as ideias to importantes da recorrncia
e de prtico-inerte.
J .-P. S. - No. Mas eu avanara bastante no plano da dialtica para pressenti-las.
S. de B. - A partir de 1952, voc lera intensamente livros de histria.
J .-P. S. - Sim, na segunda parte, que nunca ser escrita, de Critique de Ia raison
dialectique ...
S. de B. - Ainda assim, h uma grande parte que j est escrita ...
J .-P. S. - Eu deveria falar da histria.
S. de B. - Mas praticamente, durante o trabalho, que diferena faz quando trabalha em
literatura ou em filosofia?
J .-P. S. - Quando escrevo filosofia no fao rascunho. Ao passo que, comumente,
escrevo sete ou oito rascunhos, sete ou oito pedaos de pgina para um mesmo texto.
Fao trs linhas, depois risco e a quarta linha numa outra folha. Em filosofia, de modo
algum: pego uma folha, comeo a escrever as ideias que tenho na cabea,
que so talvez recentes, e levo-as at o fim; talvez no at o fim da pgina, mas bem
longamente; depois, l pelo fim da pgina, interrompo por um erro de escrita
e retomo na pgina seguinte, aps corrigir, e assim
235
#sucessivamente at o fim. Ou seja, a filosofia uma palavra que dirijo a algum. No
como o romance que tambm se dirige a algum, mas de outra maneira.
S. de B. - Sim.
J .-P. S. - ...Escrevo o romance para que algum o leia. Em filosoa, explico a algum -
com meu estilo, mas poderia ser com minha lngua, minha boca - explico a
algum minhas ideias, tal como estas me vm atualmente.
S. de B. - Em suma, voc no poderia escrever literatura atravs do gravador, mas
poderia talvez fazer losofia.
J .-P. S. - isso.
S. de B. - Vi-o trabalhar em Critique de Ia raison dialectique; era bastante
impressionante. Voc mal se relia.
J .-P. S. - Relia-me no dia seguinte de manh; escrevia, em mdia, dez pginas.
S. de B. - Sim.
J .-P. S. - Era tudo o que podia escrever em um dia.
S. de B. - V-lo escrever Critique de Ia raison dialectique dava a sensao de vigor. E
voc escrevia sob a ao de corydrane.
J .-P. S. - Sempre.
S. de B. - ...Ao passo que, no que se refere literatura, jamais escreveu sob a ao de
corydrane.
J .-P. S. - J amais. A literatura no se coadunaria com corydrane, porque ele conduzia
facilidade. Lembro-me de haver tentado trabalhar com corydrane, depois da
guerra. Era uma passagem do romance, na qual Mathieu passeia pelas ruas de Paris
antes de regressar a sua casa. Era pssimo. Ele passeava pelas ruas, e todas as
ruas se prestavam a comparaes.
S. de B. - Lembro-me; era horrvel Queria fazerlhe uma pergunta ainda. Mesmo se no
narcisista, temse uma determinada imagem de si mesmo. Falou-se da sua quando
era bem jovem, quando era um pouco menos jovem; e atualmente? Atualmente voc
tem sessenta e no-
236
v anos; mas o que sente ao ser o objeto de tantas teses, de bibliografia, de biografias,
de entrevistas, de consideraes sobre voc, e ao ser procurado por tanta
gente;
que significado tem isso para voc? Sente-se classificado como monumento histrico ou
...
J .-P. S. - Um pouco de monumento histrico; sim, mas no inteiramente. como se
encontrasse aquele personagem que colocava diante de mim no incio. Existe um
personagem
que no sou eu; e que, no entanto, sou eu, j que a ele que se dirigem; as pessoas
criam um determinado personagem que sou eu. Existe um eu-ele e um eu-eu. O eu-ele
o eu criado pelas pessoas e que, de certa maneira, relacionado por eles comigo.
S. de B. - Essa coincidncia entre esse personagem de agora e aquele personagem com o
qual sonhava quando era jovem tem um sentido ou no?
J .-P. S. - No o tem. J amais me digo: "Bomi mais ou menos o que desejei quando era
pequeno etc.", isso no tem sentido. Nunca pensei muito em mim e cessei inteiramente
de faz-lo h alguns anos.
S. de B. - Desde quando? Desde que se tomou politicamente engajado?
J .-P. S. - um pouco isso, sim. O eu reaparece quando fao coisas individuais ou
pessoais, quando you ver algum, quando fao algo por algum; ento, o eu reaparece.
Mas em literatura, quando escrevo, o eu no existe mais. Por volta dos cinquenta ou
cinquenta e cinco anos - antes de Ls mots - de quando em quando imaginava escrever
uma novela que se passaria na Itlia, onde se veria um sujeito de minha idade em suas
relaes com a vida. Teria sido subjetivista.
S. de B. - Lembro-me um pouco. Veja, h uma coisa sobre a qual temos de tomar a
falar: todos os livros que voc no escreveu.
J .-P. S. - Sim.
S. de B. - Por que os projetou, por que os abandonou ...
237
#J .-P. S. - Escrevi grandes trechos de La reine Albermale ou L dernier touriste e
tambm inmeros cadernos.
S. de B. - Uma ltima pergunta; voc diz que no se interessa por sua imagem, por voc
mesmo. E no entanto tem prazer em fazer essas entrevistas?
J .-P. S. - Sim. No esquea que, se me prejudicam, reajo; se me insultassem, ficaria
aborrecido.
S. de B. - claro.
J .-P. S. - E como no tenho muito o que fazer atualmente, preciso que me ocupe um
pouco de mim ...sem o que no teria nada ...
S. de B. - Sobretudo porque falou muito pouco sobre voc mesmo.
J .-P. S. - Bem, sim ...
S. de B. - Falou a seu respeito em Ls mots, um pouco a propsito de Merleau-Ponty,
um pouco a propsito de Nizan, mas a partir da idade de onze anos nunca fez uma
sntese sobre voc. J amais manteve um dirio. Escrevia ideias que lhe vinham cabea,
mas jamais manteve um dirio quotidiano, jamais teve a ideia de faz-lo.
J .-P. S. - A no ser durante a guerra. Durante a guerra, escrevia diariamente o que me
passava pela cabea. Mas considerava que isso era um trabalho inferior. A
literatura comea com a escolha, a recusa de determinadas caractersticas e a aceitao
de outras. um trabalho que no compatvel com o dirio cuja escolha
quase espontnea e no se explica muito bem.
S. de B. - No entanto, nesse gnero de literatura que podeamos chamar de bruta havia
um ramo no qual voc era bastante notvel. Tinha a reputao merecida de ser
um grande missivista sobretudo quando jovem. Quando estvamos separados, escrevia-
me cartas imensas - e no somente a mim - s vezes escreveu cartas de doze pgnas
a Olga, contando-lhe nossas viagens. E a mim, quando voc estava no servio militar,
ou quando eu fazia viagens a p, escrevia cartas muito, muito longas, s vezes
238
todos os dias, durante quinze dias. O que representavam para voc essas cartas?
J .-P. S. - Eram a transcrio da vida imediata. Por exemplo, um dia em Npoles, era
essa a maneira de faz-lo existir para a pessoa que recebia a carta. Era um trabalho
espontneo. Pensava comigo mesmo que poderiam ter publicado essas cartas, mas na
verdade eram cartas destinadas pessoa a quem escrevia. Tinha um rpido pensamento
dissimulado de que as publicariam depois de minha morte. Mas j no escrevo
semelhantes cartas, exatamente porque sei que, em se tratando de um escritor,
imprimem
suas cartas e no creio que isso valha
a pena.
S. de B. - Porqu?
J .-P. S. - No so suficientemente trabalhadas. Salvo em determinados casos: as cartas
de Diderot a Sophie Voliand, por exemplo. Quanto a mim, escrevia de um flego,
sem rasuras, sem me preocupar com outro leitor que no aquele a quem enviava a carta;
portanto isso no me parece um trabalho literrio vlido.
S. de B. - Sim, mas de toda maneira voc gostava muito de escrever cartas.
J .-P. S. - Gostava muito.
S. de B. - Certamente sero publicadas mais tarde, porque eram muito vivas e
interessantes.
J .-P. S. - No fundo, minhas cartas faziam um pouco o papel de um dirio.
S. de B. - Voc dizia, em outro dia, que a vida dos escritores clebres o influenciara
muito. O fato de que a correspondncia de Voltaire, de Rousseau, de outros
ainda tenha tido grande importncia e tenha sido publicada, haver levado voc a
escrever cartas?
J .-P. S. - Eu no tinha objetivos literrios ao es-
crever cartas ...
S. de B. - No entanto, voc diz que pensava sorrateiramente que talvez as publicassem.
J .-P. S. - Ah! Do momento em que as escrevia, colocava, talvez, um pouco mais de
alegria ou de lirismo do que colocaria numa carta escrita a um leitor qualquer,
239
#se no fosse escritor. De fato, tentei construir minhas cartas agradavelmente, mas no
em excesso, do contrrio teria sido um pedante. E teria pretendido fazer
literatura espontnea. Atualmente, j no acredito na literatura espontnea, mas naquela
poca acreditava. Minhas cartas foram, em suma, o equivalente de um testemunho
sobre minha vida.
S. de B. - Sim, mas para dar esse testemunho tinha necessidade de um interlocutor.
J .-P. S. - Sim.
S. de B. - Voltemos aos livros que voc no publicou, que voc no terminou. Gostaria
que falasse disso.
J .-P. S. - Creio que o que ocorre com todos os escritores.
S. de B. - Ah! No creio. Lembra-se, mais ou menos, da lista dos livros que no
publicou?
J .-P. S. La lgende de Ia vente.
S. de B. - La lgende de Ia vrit outra coisa, foi recusado. S se publicou um
fragmento dele ...Mas houve uma obra bastante importante, La psych: o que era
exatamente?
J .-P. S. - La psych foi escrito quando regressei da Alemanha, onde passara um ano
lendo Heidegger e sobretudo Husserl.
S. de B. - Voc escreveu, ento, La transcendence de l'ego, que foi publicado.
J .-P. S. - Que foi publicado, que depois caiu no esquecimento, desapareceu e foi
republicado pela Srta. L Bon.
S. de B. - Havia uma relao entre La transcendence de l'ego e La psych.
J .-P. S. - Sim. Foi a partir dali que concebi La psych. La psych a descrio do que
denominamos o psquico. Como, filosoficamente, chega-se a viver a subjetividade?
Isso era explicado em La psych, que fala tambm das emoes, dos sentimentos ...
S. de B. - Voc fazia deles objetos psquicos situados fora da conscincia. Era isso sua
grande ideia.
J .-P. S. - Sim. E isso.
240
S. de B. - Assim como o eu transcendente, tambm ...
J .-P. S. - Os sentimentos.
S. de B. - ...Os sentimentos, as emoes. Era um ensaio bem grande que englobava todo
o terreno psquico.
J .-P. S. - Deveria ser um livro da importncia de L'tre et l nant.
S. de B. - E La thorie ds motions no fazia parte de Psych?
J .-P. S. - Sim, fazia parte.
S. de B. - Por que manteve La thorie ds motions - que fez bem em manter, muito
bom - e no manteve o resto de La psych?
J .-P. S. - Porque o resto de La psych repetia ideias de Husserl que eu assimilara, que
exprimia em outro estilo, mas que de toda maneira era puro Husserl, no era
original. Ao passo que motions conservei por sua originalidade. Era um bom estudo de
determinadas Eriebnisse que podemos denominar emoes; eu mostrava que elas
no eram dadas isoladamente, mas que tinham uma relao com a coscincia.
S. de B. - Que .am movidas por uma intencionalidade.
J .-P. S. - Sim. uma ideia que ainda conservo, uma ideia que no se origina de mim,
mas que me necessria.
S. de B. - A originalidade consistia em aplicar a intencionalidade emoo e
expresso das emoes e maneira de viv-las etc.
J .-P. S. - Husserl certamente teria considerado a emoo como tendo uma
intencionalidade.
S. de B. - Certamente, mas no se ocupou disso.
J .-P. S. - Pelo menos, no que eu saiba.
S. de B. - La psych ento um dos primeiros livros que voc abandonou.
J .-P. S. - Sim, conservando apenas uma parte dele ...E depois, na mesma poca, escrevi
uma novela que
241
#contava o traslado de uma orquestra feminina de Casablanca a Marselha.
S. de B. - A orquestra feminina que encontramos
em L sursis.
j .p S. - Era uma orquestra feminina que eu ouvira em Rouen e que no tinha qualquer
relao com Casablanca.
S. de B. - Havia essa orquestra e tambm um zua-
vo ou um soldado que pensava que era belo.
j.-p. S. - Havia um soldado que pensava: sou belo,
lembro-me.
S. de B. - E que aconteceu com essa novela?
j.-p. S. - Sabe Deus. como a novela do sol da meia-noite, que perdi durante uma
viagem a p com voc.
S. de B. - Ah, sim, nos Causses. Era posterior La nause e voc pensava inclu-la
numa compilao de novelas ...
J .-P. S. - Que foi publicada.
S. de B. - Que foi publicada mais tarde. Que tal contar-nos L soleil de minuit?
j.-p. S. - Era uma menina que via o sol da meianoite de uma maneira infantil, mas j no
me lembro
bem como.
S. de B. - Ela construra em sua cabea a imagem de um sol extraordinrio que estaria
no cu em plena noite. E depois ela v o verdadeiro sol da meia-noite que no
mais do que um crepsculo muito prolongado e nada tem de extraordinrio. Voc no
se interessava muito por essa novela.
j.-p. S. - No. Nunca a refiz. Em ltima instncia, ela consistia na descrio de uma
viagem que eu fizera e essas impresses da menina eram um pouco as minhas.
S. de B. - Houve uma outra novela que se misturava com a longa carta sobre Npoles
que voc escrevera a Olga.
J .-P. S. - Sim. H trechos dela que foram publicados.
S. de B. - com o ttulo Nourritures.
242
J .-P. S. - Isso foi ilustrado por Wols. Ele me havia pedido que lhe desse um texto para
ilustrar e dei-lhe esse.
S. de B. - Foi editado pelas Edies Skira.
J .-P. S. - Creioquesim.
S. de B. - Pode contar essa novela?
J .-P. S. - Espere. Estava em Npoles com voc e tnhamos estado em Amalfi.
S. de B. - Deixei-o em Npoles porque Amalfi no lhe interessava muito, e eu estive l.
Ento voc passou uma noite sozinho em Npoles.
J .-P. S. - Sim. E encontrei dois napolitanos que se ofereceram para mostrar-me a cidade.
Sabe-se o que significa isso. Tratava-se de visitar a Npoles escondida,
isto , mais ou menos os bordis. Eles realmente me levaram a um bordel um tanto
especial. Entramos numa pea que continha um div ao longo da parede - a pea era
redonda - e no meio, um outro div todo redondo em torno de uma coluna. Os jovens
foram mandados embora pela sous-matresse* e depois chegaram uma jovem mulher e
uma mulher menos jovem, ambas nuas. Elas se fizeram coisas, ou, por outra, fingiram
faz-las; a mulher mais velha, muito morena, era o homem, e a outra, que tinha
uns vinte e oito anos, e era bastante bonita, fazia de mulher.
S. de B. - Voc me disse que elas representavam as diferentes posies que h na
clebre vilia dos Mistrios em Pompia.
J .-P. S. - Exatamente isso. Anunciavam-nas. E depois, muito discretamente, imitavam
essas diferentes posies. Sa de l um pouco chocado. Encontrei embaixo meus
dois espertalhes que me esperavam. Dei-lhes algum dinheiro, eles foram comprar uma
garrafa de vinho tinto do Vesvio e bebemo-lo na rua. Comemos e depois eles se
despediram. Foram-se com um pouco de dinheiro e eu me fui com aquelas imagens que
pouco me haviam interessado.
* Mulher que administra uma casa de tolerncia. (N. do T.)
243
#S. de B. - Mas de toda maneira, voc se divertiu muito; contou-me, muito divertido,
esse caso, quando regressei no dia seguinte. Na novela voc narrava essa noite?
J .-P. S. - Sim. ueria narrar a passagem do rapaz
pelo bordel e depois sua viso de Npoles.
S. de B. - E afinal por que no publicou essa novela? Ela se chamava Dpaysement.
J .-P. S. - No tenho ideia, creio que voc me desaconselhou a faz-lo.
S. de B. - Porqu? Ela no era boa?
J .-P. S. - No devia ser boa.
S. de B. - Talvez tivssemos achado que no estava suficientemente estruturada, que
no se equiparava s outras novelas.
J .-P. S. - Provavelmente.
S. de B. - Em seguida, depois de L'tre et l nant, voc comeou a escrever uma moral.
J .-P. S. - Sim, queria escrev-la; mas deixei-a para mais tarde.
S. de B. - Foi a que voc escreveu um grande, longo e muito bonito estudo sobre
Nietzsche.
J .-P. S. - Efetivamente fazia parte disso um estudo sobre Nietzsche. Alm disso, escrevi
tambm sobre Mallarm, mais ou menos duzentas pginas.
S. de B. - Oh, sim! Havia explicaes muito detalhadas de todos os poemas de
Mallarm. Por que isso no foi publicado?
J .-P. S. - Porque no foi terminado. Interrompiao, retomava-o.
S. de B. - Mas por que o conjunto, que voc no chamava Moral, mas que era um
estudo fenomenolgico das atitudes humanas, uma crtica de determinadas atitudes,
ligada
a seu estudo sobre Nietzsche, foi abandonado por voc?
J .-P. S. No o abandonei. Essas notas foram feitas para serem desenvolvidas.
S. de B. - Parece-me que o aspecto fenomenolgico sempre lhe pareceu muito idealista.
244
J .-P. S. - Sim, exatameme.
S. de B. - Parecia-lhe muito idealista fazer uma anlise ...
J .-P. S. - No uma anlise, uma descrio.
S. de B. - Uma descrio fenomenolgica das difrentes atitudes humanas. H outras
coisas que voc no terminou. Escreveu um longo estudo sobre Tintoretto do qual
s publicou um fragmento em Ls Temps Moderns. Por que o interrompeu?
J .-P. S. - Acabou por me entediar.
S. de B. - Creio, alis, que no que escreveu encontra-se o essencial.
J .-P. S. - Tinha sido solicitado por Skira.
S. de B. - Sim.
J .-P. S. - Ele no escolhera Tintoretto, fui eu quem lhe disse: farei o Tintoretto.
Abandonei-o porque me entediava.
S. de B. - H tambm um outro lvro, no qual trabalhou durante bastante tempo e o
abandonou. Era La reine Albermale ou L demier touriste. ando foi isso?
J .-P. S. - Foi entre 1950 e 1959. Escrevi umas cem pginas dele. Creio que escrevi vinte
pginas sobre o marulho provocado pelas gndolas.
S. de B. - Sim, voc escreveu muito sobre Veneza. Alis, isso, voc publicou sobre
Veneza. Voc publicou algo disso.
J .-P. S. - Sim, em Verve.
S. de B. - A ideia era aprisionar a Itlia na armadilha das palavras; mas era um relato de
viagem que se destrua a si mesmo.
J .-P. S. - ue se destrua enquanto relato de turista.
S. de B. - isso.
, J .-P. S. - E ficava por explorar uma Itlia mais importante que no era turstica.
S. de B. - Era muito ambicioso porque voc queria que fosse ao mesmo tempo histrico
- explicar, por
245
#exemplo, o monumento de Victor-Emmanuel, evocado atravs de toda a histria da
Itlia - e tambm subje-
tivo.
J .-P. S. - Sim.
S. de B. - Tinha que ser subjetivo-objetivo.
J .-P. S. - Era muito ambicioso e abandonei-o porque no consegui encontrar uma
perspectiva exata.
S. de B. - No entanto, tinha prazer em escrevlo.
J .-P. S. - Sim, dava-me muito prazer.
S. de B. - Houve outros textos literrios ou filosficos nos quais pensou e no realizou?
J .-P. S. - Houve uma obra de moral que preparei para essa universidade americana que
me convidara. Tinha comeado a escrever quatro ou cinco conferncias que deveria
fazer l, e depois continuei para mim mesmo. Tenho numerosas anotaes, no sei que
fim levaram, alis; devem estar em minha casa. Numerosas anotaes para uma moral.
S. de B. - No era, essencialmente, sobre a relao entre a moral e a poltica?
J .-P. S. - Sim.
S. de B. - Ento era inteiramente diferente do que voc escrevera por volta dos anos
1948, 1949?
J .-P. S. - Inteiramente diferente. Tenho anotaes sobre isso. Na verdade, o livro inteiro
teria sido muito importante.
S. de B. - E esse, por que o abandonou?
J .-P. S. - Porque estava cansado de fazer losofia. Sabe, com a filosofia ocorre sempre
assim, pelo menos no meu caso. Fiz L'tre et l nant e depois me cansei;
ali tambm havia uma continuao possvel, no a fiz. Escrevi Saint Genet, que pode ser
considerado como intermedirio entre a filosofia e a literatura. E depois
fiz Crtique de Ia raison dialectique e a tambm parei.
S. de B. - Porque teria sido necessrio fazer enormes estudos histricos?
J .-P. S. - Exato. Teria sido necessrio estudar uns cinquenta anos e tentar ver todos os
mtodos necessrios
246
para tomar conhecimento desses cinquenta anos, no somente em seu conjunto, mas
tambm em seus detalhes particulares.
S. de B. - De toda maneira, voc pensou em estudar um acontecimento menos longo,
como a Revoluo Francesa. Voc trabalhou enormemente sobre a Revoluo Francesa.
J .-P. S. - Sim, mas precisava tambm de outros exemplos. Desejava realmente
aprofundar o que a Histria.
S. de B. - Voc falou do stalinismo. J .-P. S. - Sim, comecei a falar do stalinismo. S. de
B. - H um outro aspecto de sua obra do qual absolutamente no falamos
e que, no entanto, muito importante: o teatro ...Como explica que se tenha voltado
para o teatro, que importncia teve isso para voc?
J .-P. S. - Sempre pensei que faria teatro, j que quando era garoto, aos oito anos,
instalava-me no Luxembourg com fantoches que se enfiam nas mos e se faz com
que representem.
S. de B. - Mas na adolescncia voc tinha retomado a ideia de escrever peas?
J .-P. S. - Ah, sim. Escrevi pardias, operetas; descobri a opereta em La Rochelle onde
frequentava o teatro municipal com meus colegas e, influenciado por essas
operetas, comecei uma, Horatius cocls.
S. de B. - Ah, sim! Essa mesmo.
J .-P. S. - Lembro-me de dois versos dela: "J e suis Mucius, Mucius Scaevola/J e suis
Mucius, Mucius et voil."* E depois, mais tarde, na Escola Normal, escrevi uma
pea em um ator que se chamava: J 'aurai un bei enterrement. uma pea cmica sobre
um sujeito que descrevia sua agonia.
S. de B. - E foi representada?
* Em traduo literal: Sou Mcio, Mcio Cvola/Sou Mcio, Mcio e ai est.
(N. do T.)
247
#J .-p. S. - No, imagine! Fiz tambm um ato de uma revista da Escola Normal. Todos
os anos fazia-se uma revista na qual eram representados o diretor, seus subordinados,
os alunos, os pais. Eu escrevi um ato desta. Era de uma obscenidade repugnante.
S. de B. - E voc, alis, representava nessa pea.
J .-P. S. - Fazia Lanson, o diretor.
S. de B. - Tudo isso eram pequenos passatempos sem importncia. Voc continuou
depois?
J .-P. S. - Escrevi uma pea que se chamava pmthe, creio. Os deuses entravam numa
cidade grega que queriam castigar e nesta cidade havia poetas, romancistas, artistas;
finalmente, era o nascimento da tragdia e Prometeu expulsava os deuses e depois nada
de bom lhe acontecia. Mas eu considerava o teatro um gnero um pouco inferior.
Era essa minha concepo no incio.
S. de B. - E depois? Creio que preciso falar de Bariona.
J .-P. S. - Durante meu cativeiro fazia parte do grupo de artistas que representavam peas
todos os domingos num grande hangar; ns mesmos fazamos os cenrios, e,
como eu era o intelectual que escrevia, me haviam pedido que fizesse uma pea no
Natal. Fiz Bariona, que era bastante ruim, mas nela havia uma ideia teatral. De
toda maneira, foi isso que me fez tomar gosto pelo teatro.
S. de B. - Voc me escreveu cartas a esse respeito, dizendo-me que dali em diante faria
teatro. Bariona era teatro engajado: sob o pretexto da Palestina ocupada
plos romanos, voc fazia aluso Frana.
J .-P. S. - Certo, os alemes no haviam compreendido, viam ali simplesmente uma pea
de Natal; mas todos os franceses prisioneiros haviam compreendido e minha pea
os havia interessado.
S. de B. - Foi isso que lhe deu muita fora, o representar para um pblico que no era
um pblico exterior como nos teatros burgueses.
J .-P. S. - Sim, representava-se Bariona perante um pblico que estava implicado, havia
ali homens que te-
248
riam interrompido a pea se tivessem compreendido. E todos os prisioneiros
compreendiam a situao. Era realmente teatro nesse sentido.
S. de B. - Depois, houve Ls mouches. Fale um pouco sobre as circunstncias em que
escreveu a pea.
J .-P. S. - Era, como voc, amigo de Olga Kosakievitch. Ela aprendia com Duliin a
profisso de atriz e precisava de uma oportunidade para representar numa pea.
Propus a Dulhn fazer uma pea.
S. de B. - O que representava para voc Ls mouches?
J .-P. S. - Ls mouches era como meus velhos temas! Uma lenda a desenvolver e qual
era preciso dar um sentido atual. Eu conservava a histria de Agamenon e de sua
mulher, o assassinato de sua me por Orestes e tambm as Ernias, mas dei-lhe outro
sentido. E, na verdade, dei-lhe um sentido que dizia respeito ocupao alem.
S. de B. - Explique-se um pouco melhor.
J .-P. S. - Em Ls mouches eu queria falar da liberdade, de minha liberdade absoluta,
minha liberdade de homem e sobretudo da liberdade dos franceses sob a ocupao
perante os alemes.
S. de B. - Voc dizia aos franceses: sejam livres, recuperem sua liberdade; e afastem os
remorsos que querem impor-lhes. E que sentiu ao ver sua pea representada?
Havia um pblico e havia sua obra; que diferena havia entre isso e a publicao de um
livro?
J .-P. S. - Eu no gostava muito. Era amigo de Duliin, tinha discutido a mise-en-scne.
No entendia muito disso, mas discuti a coisa com ele. No entanto, o trabaho
do metteur-en-scne to importante que no me senti realmente presente no palco. Era
algo que se fazia a partir do que eu havia escrito mas que no era o que havia
escrito. Depois j no tive essa impresso em relao a outras peas, creio que,
precisamente, porque meti a mo na massa.
S. de B. - Como ocorreu das outras vezes, com as outras peas? Em primeiro lugar com
Huis cios?
249
#J .-P. S. - Rouleau fizera um trabalho muito bom, uma mise-en-scne muito boa que
serviu de modelo s que se lhe seguiram. O que ele realizara era o que eu imaginava
quando escrevia a pea.
S. de B. - E a pea seguinte?
J .-P. S. - Era Morts sans spulture. Eu queria mostrar como o pblico francs estava
indiferente, aps a guerra, aos resistentes, como pouco a pouco os esquecia.
Naquele momento, havia um renascimento da burguesia, uma burguesia mais ou menos
cmplice dos alemes; e ela se irritou com uma pea sobre a Resistncia.
S. de B. - Sim, foi um escndalo, sobretudo as cenas de tortura. Por que exatamente
escreveu essa pea?
J .-P. S. - Para lembrar o que tinham sido os resistentes, que tinham sido torturados, que
tinham sido corajosos, e que era bastante ignbil a maneira pela qual se
falava deles naquele momento.
S. de B. - No vamos passar em revista todas as suas peas. O que gostaria que me
dissesse qual a diferena que faz entre o trabalho teatral e o trabalho propriamente
literrio?
J .-P. S. - Em primeiro lugar, o tema muito difcil de encontrar. Fico, em geral, quinze
dias, um ms, um ms e meio, diante de minha mesa, s vezes tenho uma frase
na cabea.
S. de B. - Ah, sim, voc me disse: "Os quatro cavaleiros do Apocalipse".
J .-P. S. - De quando em quando, surge um vago assunto.
S. de B. - O que preciso dizer que, muito frequentemente, suas peas foram obras
circunstanciais. Voc queria, por exemplo, dar uma pea a Wanda para que ela
a representasse.
J .-P. S. - Sim.
S. de B. Voc queria que ela representasse. Havia muito tempo que no representava,
estava desejosa de representar, voc queria faz-la representar. Ento voc
se dizia: "Vou fazer uma pea".
250
J .-P. S. - Exatamente. Houve um assunto no qual sempre pensei e do qual nunca tratei.
um sujeito cuja me est grvida e furiosa por isso.
S. de B. - Ah, sim.
J .-P. S. - Ela v sua vida e o espectador v no palco mansions que se iluminam umas
aps as outras. Vem-se todos os episdios de sua vida, inclusive no fim seu
suplcio e sua morte. E ela d luz, a criana nasce, cresce e passa por todas as cenas
previstas, mas finalmente um grande homem, um heri.
S. de B. - Sim, voc pensou muito nessa pea. Mas isso nunca tomou realmente forma.
J .-P. S. - Nunca.
S. de B. - Retomemos a sua maneira de trabalhar para o teatro.
J .-P. S. - Primeiro trabalho sobre um assunto, depois o abandono. Encontro frases,
rplicas, anoto-as. Isso toma uma forma mais ou menos complicada que a seguir
simplifico. Fiz isso com L Diable et l bon Dieu. Lembro-me de tudo o que imaginei, e
que abandonei, para chegar finalmente a ...
S. de B. - verso definitiva.
J .-P. S. - Sim, nesse momento no tenho grandes dificuldades para escrever. Trata-se de
uma conversa entre pessoas que se jogam na cara coisas que tm a dizer.
S. de B. - Eu, que o vi trabalhar, penso que para o teatro h um grande trabalho
preliminar que se faz em sua cabea, enquanto que para as novelas e os romances
o trabalho se faz no papel.
J .-P. S. - Sim.
S. de B. - O sucesso de um livro lhe d mais prazer do que o de uma pea?
J .-P. S. - Ah! a pea, sente-se prazer quando se tem sucesso, claro. Sabe-se muito
rapidamente se a pea um fiasco ou um sucesso. Mas curioso o destino das
Cada parte do cenrio simultneo, num palco de teatro, na Idade Mdia. (N.
do T.)
251
#peas: podem no agradar ou, ao contrrio, reabilitar-se, se as coisas no correram bem
na pr-estria. O sucesso sempre duvidoso. No assim com um livro.
No que se refere a um livro, se ele tem sucesso, isso leva tempo, leva trs meses, mas
ento tem-se o sentimento de confiana em si. Ao passo que a pea de teatro
um sucesso que pode transformar-se em fiasco ou um fiasco que pode transformar-se
em sucesso. muito curioso. E depois os grandes sucessos terminam de maneira
melhor ou pior;
por exemplo, Brasseur me causou transtomos por duas vezes: a pea ficava em cartaz
durante determinado nmero de representaes, e depois ele tirava frias ou se
operava e a pea tinha que ser suspensa.
S. de B. - Outra coisa: raramente voc rel seus livros. Ao passo que j lhe aconteceu,
muitas vezes, rever uma de suas peas, porque era representada com uma nova
mise-en-scne ou no estrangeiro. Quando rev uma de suas peas a v com novos
olhos? Tem a impresso de que se trata de uma pea escrita por outra pessoa?
J .-P. S. - No. a mise-en-scne que se percebe enquanto a pea se desenvolve.
S. de B. - Quais foram seus maiores prazeres teatrais? Refiro-me a ver a pea
representada achando-a boa ou muito bem montada, ou sentir-se satisfeito porque ela
obteve sucesso; enfim, quais foram os momentos que lhe proporcionaram mais prazer
em sua carreira dramtica?
J .-P. S. - Bem, h uma coisa curiosa e que um livro est morto, um objeto morto.
Est ali, est sobre uma mesa, no temos solidariedade para com ele. Uma pea
de teatro, durante algum tempo, diferente. Vivemos, trabalhamos, mas todas as noites
h um lugar onde uma pea nossa continua a ser representada. E uma coisa estranha
morar no Bulevar Saint-Germain e saber que no Teatro Antoine, l nele ...
S. de B. - ... a pea representada. Foi desagradvel para voc com Morts sans
spulture. E em outras vezes, ao contrrio, sentiu prazer?
j.-p. s. - Sim. L Diable et l bon Dieu me dava prazer. Foi um grande sucesso.
252
S. de B. - E depois, quando tomaram a represent-la no Wilson...
J .-P. S. - Ah sim, isso tambm me deu prazer.
S. de B. - Creio tambm que deve ter sentido prazer quando viu Ls mouches em Praga.
J .-P. S. - Sim, isso me deu prazer. Sim, tive grandes alegrias teatrais quando a pea
continuava. No na estreia que se tem uma alegria formidvel; no na estreia,
no se sabe o que vai ocorrer.
S. de B. - Sente-se at um pouco de angstia; eu, por solidariedade com voc, nunca
estive numa pr-estria sua sem me sentir terrivelmente angustiada.
J .-P. S. - E mesmo quando sai bem, isso apenas uma indicao ...Mas quando continua
e funciona bem, ento nos sentimos realmente contentes, h algo que se mantm;
temos uma verdadeira relao com o pblico;
todas as noites, se o desejamos, podemos entrar no teatro, ficar num canto e ver como
reage o pblico.
S. de B. - Voc nunca o fez.
J .-P. S. - Nunca o fiz, ou quase nunca.
S. de B. - E qual de suas peas prefere?
J .-P. S. - L Diable et l bon Dieu.
S. de B. - Eu tambm gosto muito dela, mas tambm gosto muito de Ls sequestres
d'Altona.
J .-P. S. - No a aprecio tanto, mas de toda maneira estou satisfeito com ela.
S. de B. - Mas voc a escreveu em circunstncias que lhe ...
J .-P. S. - Escrevi-a por ocasio de minha crise em
1958.
S. de B. - Talvez isso o tenha deprimido.
J .-P. S. - Lembre-se de que ao tomarmos conhecimento do golpe de estado de De
Gaulle, samos de frias, fomos para a Itlia e escrevi, em Roma, as ltimas cenas
de Sequestres.
S. de B. - com o conselho de famlia ...
J .-P. S. - Sim.
S. de B. - ... Era uma cena muito ruim.
253
#T .p s. - Muito ruim. Os dois primeiros atos, alis/estavam apenas esboados. Retomei-
os depois, durante todo o ano ...Lembra-se?
S. de B. - Muito bem. Estvamos na Praa Santo Eustquio, perto do hotel onde
estvamos instalados.
J .-P. S. - Sim.
S. de B. - Li o ltimo ato e fiquei consternada. Voc concordou, entendeu que no era
necessrio um conselho de famlia, mas unicamente um dilogo do pai
com o filho.
J .-P. S. - Sim. S. de B. - E agora, como se situa em relao ao
teatro?
J .-P. S. - J no escrevo peas. Isso terminou.
S. de B. - Por qu?
J .-P. S. - Por qu? H uma idade em que nos desligamos do teatro. As boas peas no
so escritas por velhos. H algo de urgente numa pea. H personagens que chegam,
que dizem: "Bom-dia, como vai?" e sabemos que, da a duas ou trs cenas, estaro
enredados num caso urgente do qual, provavelmente, se sairo muito mal. Isso algo
que raro na vida. No estamos na urgncia; podemos estar sofrendo uma grave
ameaa, mas no estamos na urgncia. Ao passo que no se pode escrever uma pea
sem
que haja urgncia. E essa urgncia, encontramo-la em ns mesmos, porque ser esta a
dos espectadores. Eles vivero, no imaginrio, um momento de urgncia. Perguntar-se-
o
se Gotz vai morrer, se vai desposar Hilda. De maneira que o teatro que escrevemos nos
coloca, quando representado, numa espcie de estado de urgncia todos os
dias.
S. de B. - Mas por que, sendo idoso, voc no pode ressuscitar essa urgncia? Voc
deveria, ao contrrio, pensar: "Afinal, no you viver por muito tempo. E preciso
que diga rapidamente as ltimas coisas que tenho
a dizer."
j.-p. S. - Sim, mas no momento no tenho nada a
dizer no teatro.
254
S. de B. - Voc est influenciado pelo fato de j no ser o teatro, nesse momento, na
Frana, um teatro de autor?
J .-P. S. - Certamente. Por exemplo, o 89, de Mnouchkine, foi feito por aores, atores
compuseram o texto.
S. de B. - Trata-se de algo que o influencia verdadeiramente ou no?
J .-P. S. - Sim; meu teatro se toma uma coisa passada. Se fizesse uma pea agora - coisa
que no farei - dar-lhe-ia uma outra forma, para que ela se harmonizasse
com o que se tenta atualmente.
S. de B. - E h tambm uma coisa desagradvel no teatro: esse pblico que quase
sempre burgus. Houve um momento em que voc dizia: "Mas afinal, nada tenho a
dizer a esses burgueses que iro ver minha pea."
J .-P. S. - Tive uma experincia com um pblico operrio. Foi com Nekrassov. Na poca
estava bem com L'humanit, com o partido comunista; para Nekrassov, eles
mandaram pessoas das grandes fbricas, dos subrbios parisienses.
S. de B. - Que gostaram da pea?
J .-P. S. - No sei. Sei que foram. Houve tambm companhias populares que
representaram, nas fbricas, La putaine respectueue, com xito.
S. de B. - H uma pergunta que gostaria de fazer-lhe, que a seguinte: em Ls mots
voc falou muito da leitura e a seguir do escrever. Explicou muito bem o que
era er para voc, os dois graus de leitura, as leituras de que no compreendia nada e
ainda assim o fascinavam e as leituras que compreendia. Disse tambm, de uma
maneira um pouco rpida, o que tinha sido para voc o descobrir outros livros, quando
mais velho. Mas creio que seria necessrio fazer uma reviso do que foi a leitura
para voc, a partir, digamos, da idade de dezoito anos. O que era em La Rochelle? O
que foi quando voc
255
#chegou a Paris? O que foi mais tarde? O que era durante seu servio militar? Durante
seus anos de professorado? E at esses ltimos anos?
J .-P. S. - Seria preciso distinguir duas leituras:
uma que surgiu depois de certo tempo, que era a leitura de documentos ou de livros que
deveriam ser-me teis para minhas obras literrias ou para minhas obras filosficas;
e outra, uma leitura livre, uma leitura do livro que publicado ou que me indicam, ou
do livro do sculo XVIII que eu no conhecia. Esta engajada, enquanto ligada
a toda a minha personalidade, a toda a minha vida. Mas no tem um papel preciso na
obra que escrevo nesse mesmo momento. Na leitura desinteressada, que a leitura
de todo homem cultivado, passei por perodos que me levaram de incio, como voc
sabe, por volta dos dez anos, aos romances de aventuras, aos Nick Crter, aos Buffalo
Bill, que de certa maneira me proporcionavam o mundo. Buffalo Bill e Nick Crter se
passavam na Amrica e era j uma descoberta da Amrica ver Nick Crter nas imagens
que havia em cada um desses fascculos. Vamo-lo exatamente como vemos os
americanos, quando os vemos no cinema: grande, forte, sem bigode nem barba,
acompanhado
por seus ajudantes e por seu irmo que era igualmente grande e forte. E no romance
descrevia-se um pouco a vida nova-iorquina; enfim, foi ali que conheci Nova Iorque.
S. de B. - Voc contou isso em L mots. Mas gostaria que passasse para o perodo do
qual no falou em Ls mots. Em La Rochelle, o que significou ler, para voc?
J .-P. S. - Em La Rochelle, eu pertencia a um gabinete de leitura, ou seja, retomava o
papel de minha av. Conhecera o gabinete de leitura, como disse em Ls mots,
atravs de minha av que l alugava romances. E comecei a frequentar gabinetes de
leitura em La Rochelle. Ia tambm biblioteca da prefeitura que igualmente emprestava
livros.
S. de B. - Mas o que lia e por qu? Isso que importante.
256
T~
J .-P. S. - Era uma mistura de livros que perpetuavam, tomando-os sempre mais nobres,
mais especializados, os romances de aventuras. Por exemplo, foi l que li os
livros de Gustavo Aymard.
S. de B. - Fenimore Cooper tambm?
J .-P. S. - Fenimore Cooper um pouco, mas era um pouco tedioso para mim. Tambm
outros, cujos nomes esqueci, mas que apareciam em volumes, ao invs de serem
publicaes.
S. de B. - Bem, alm desses livros de aventuras, o que havia?
J .-P. S. - Ao lado desses livros de aventuras, voltava um pouco atitude que tinha no
tempo de meu av, quando lia em sua biblioteca livros mais nobres que tambm
me interessavam menos. Qjuando descobri os romances de aventuras era pequeno, ao
passo que, no que se refere aos romances de meu av, isso foi um pouco mais tarde.
S. de B. - Sim, mas em La Rochelle j no eram os livros de seu av. O que era ento?
J .-P. S. - Em La Rochelle eram um pouco os livros de minha me e de meu padrasto,
que eles me recomendavam; e depois orientei-me melhor. Minha me lia pouco, mas
de toda maneira, de quando em quando lia um livro, um daqueles que se liam na poca.
S. de B. - E seu padrasto lia?
J .-P. S. - Meu padrasto havia lido, sobretudo. J no lia. Mas havia lido.
S. de B. - Dava-lhe conselhos quanto a leituras? Orientava-o um pouco?
J .-P. S. - No, no.
S. de B. - De maneira alguma?
J .-P. S. - De maneira alguma. Nem minha me. Eu no teria querido.
S. de B. - No entanto, voc diz que lia os livros que eles liam.
J .-P. S. - Sim, porque chegava a eles por minha conta. Via seus livros em seu quarto ou
na sala, e bus-
257
#cava-os, sobretudo depois da guerra, porque eram livros { que diziam respeito i
guerra. Queria instruir-me li
S. de B. - No havia proibies? Voc podia ler o que quisesse?
J .-P. S. - No havia proibio. Alis, eu no pega- , v livros especialmente no
permitidos. Pegava livros normais. Alguns desses livros eram uma ligao
entre a cultura dos professores e a cultura burguesa. Havia alguns que eram
apresentados assim.
S. de B. - Os professores lhe indicavam livros?
J .-P. S. - Isso no se fazia na poca. Indicavam estritamente livros de aula. Claro que
havia uma biblioteca, mas nela encontrvamos principalmente os J lio
Verne.
S. de B. - E com seus colegas, no tinha intercmbio intelectual? Em La Rochelle?
J .-P. S. - Eles liam pouco. S eu lia. Eles faziam principalmente esporte.
S. de B. - Ento, isso era muito contingente .
J .-P. S. - No era exatamente ditado pelo acaso. Havia uma certa busca. Por exemplo,
Claude Farrere:
li-o, porque havia um de seus livros na biblioteca de meu padrasto. Era esse gnero de
livros que me atraa. Atraame porque se encontravam nos gabinetes de leitura:
eram eles que vamos.
S. de B. - Durante esse perodo houve livros que o tocassem particularmente? Houve
livros que, ainda assim, voc apreciou, apesar dessas restries burguesas?
J .-P. S. - Oh, naquela poca eram sobretudo os romances policiais ou de aventuras que
me agradavam. Lia os Claude Farrere, interessavam-me certamente, e lia outros
da mesma categoria, mas isso me interessava menos.
S. de B. - Sim. Nada o mobilizou.
J .-P. S. - Nada.
S. de B. - No que se refere leitura, como foi que isso mudou, quando voc foi para
Paris?
J .-P. S. - Foi uma mudana total porque meu colega Nizan e os trs ou quatro melhores
da classe, Ber-
258
cot e tambm o irmo do pintor Gruber, liam; e Guille tambm lia quando o conheci no
Henri IV, no primeiro ano. Liam essencialmente Proust. Foi a grande descoberta.
Foi ele que fez uma passagem do romance de aventuras para o romance de cultura, para
o livro cultural.
S. de B. - Quem voc apreciava nessa poca? Proust? Giraudoux?
J .-P. S. - Giraudoux, que Nizan me fizera ler. Paul Morand, tambm recomendado por
Nizan. Fui introduzido nessa vida literria por Nizan, que no lia romances de
aventura, lia muito mais livros modernos.
S. de B. - Leu Gide tambm? Enfim descobriu a literatura moderna.
J .-P. S. - Descobri a literatura moderna. Li Ls nourritures terrestres.
S. de B. - Sim.
J .-P. S. - Mas nada mais. Em suma, est muito longe aquela poca. Havia uma
quantidade de autores modernos, sobre os quais Nizan me dizia: "Leu aquele? Leu
aquele?".
E eu os lia. Isso transformara o mundo a partir dali, a partir do primeiro ano de filosofia.
No era tanto filosofia, mas livros de surrealistas, Proust, Morand
etc.
S. de B. - Voc lia em parte para harmonizar-se com Nizan, para no ser ultrapassado
por ele, para saber tanto quanto ele, para estar a par.
J .-P. S. - Sim. Sobretudo por ele, mas tambm por alguns colegas que igualmente liam.
S. de B. - Voc diz que "isso transformou o mundo". Poderia desenvolver um pouco
isso? Pode descrever um pouco essa transformao do mundo?
J .-P. S. - Por exemplo, no plano das aventuras, via bem que certos romances se
passavam na Amrica, que era um mundo que eu no conhecia. Mas no me interessava
tanto pela geografia. No sabia bem como era feita a Amrica. Ao passo que, a partir do
primeiro ano e da filosofia, digamos os livros de Morand, por exemplo, me
abriram o mundo. Ou seja, as coisas no se passaram simplesmente fora do mundo em
que eu vivia; passaram -
259
#se em tal lugar, em tal outro, na China, em Nova Iorque, no Mediterrneo ... todas elas
coisas que me surpreendiam. Descobria um mundo e ...
S. de B. - No nvel planetrio, geogrfico?
J .-P. S. - Sim, isso teve uma importncia capital. Embora fosse ruim em geografia, nas
aulas, comeava, no entanto, a conhecer a geografia.
S. de B. - Creio que h a um fenmeno muito geral. Os autores, na poca, descobriram
o exotismo: Morand, Valry Larbaud, muitos outros saam da Frana e descobriam
o mundo. Mas voc tambm teve outras aberturas para o mundo: Giraudoux e Proust
representam outra direo.
J .-P. S. - Giraudoux muito crispado. No gostava muito dele.
S. de B. - Alis, mais tarde voc se desforrou.
J .-P. S. - E isso vem do primeiro ano. Sem dvida, Proust me proporcionou
essencialmente a psicologia subjetiva dos personagens. Mas trouxe-me tambm a ideia
de
'meio'. Uma coisa que Proust me ensinou que h meios sociais como h espcies
animais. Somos algum como pequeno-burgus, ou como nobre ou como grande-
burgus
ou como professor etc. Tudo isso se reconhece e se v no mundo proustiano. E essa
uma coisa na qual pensei muito. Pensei quase que imediatamente, ou pouco depois,
que o escritor deveria conhecer tudo do mundo, isto , devia pertencer a vrios meios. E
encontrei isso em pessoas que no aprecio muito: nos Goncourt que queriam
frequentar todos os meios e apreender tipos que colocariam em romances. Fizeram um
romance sobre as criadas porque tinham uma criada de quem gostavam e que morreu
e tinha uma vida sexual muito interessante.
S. de B. - Mas isso no foi tambm uma revelao de outra espcie? Quero dizer, voc
saa de um meio muito provinciano e burgus; isso no lhe abriu possibilidades
de vida: de sentimento, de moral, de psicologia? no foi isso tambm?
J .-P. S. - Sim, certamente. Isso me abria a vida contempornea porque meus pais viviam
cinquenta anos
260
atrasados no que se refere cultura e vida. E em Paris, ao contrrio, todos aqueles
garotos viviam no dia-adia a vida cultural do momento. Especialmente os surrealistas.
Isso era para ns, como j disse, uma ddiva, uma fonte de influncia. Depois descobri
La Nouvelle Rvue Franaise; a revista e os livros. Era uma verdadeira descoberta.
Naquela poca, os livros de La Nouvelle Rvue Franaise tinham um odor, um
determinado odor de papel; os livros publicados naquela poca conservaram um pouco
esse
odor. Lembro-me, era o odor da cultura, por assim dizer. E a N. R. F. representava
verdadeiramente alguma coisa; era a cultura que estava ali.
S. de B. - A cultura moderna.
J .-P. S. - A cultura moderna. Foi l que li Conrad. Conrad, para mim, era a N. R.F., j
que todos os seus livros se encontravam na N. R. F.
S. de B. - Por que gostava tanto de Conrad? a segunda vez que o cita.
J .-P. S. - No gostava tanto assim de Conrad. Mas estava no Henri IV, na classe de
filosofia, interno, e estava ligado aos khgneux que se preparavam para a Escola
Normal com professores clebres como Alain. Eles conversavam conosco, o que era
uma grande honra para ns, j que era uma classe muito superior; eram pessoas muito
particulares, que conhecamos mal, que tentvamos conhecer. De quando em quando,
deixavam-nos ler livros de sua biblioteca e especialmente um livro de Conrad.
S. de B. - Atravs desses alunos, ou de uma maneira qualquer, houve uma certa
influncia de Alain sobre voc? Voc lia Alain quando estava na classe de; filosofia?
J .-P. S. - No quando estava em khgne, mais tarde, sim. Na Escola Normal.
S. de B. - E os grandes clssicos como Zoia, Balzac, Stendhal etc, quando os leu?
J .-P. S. - Zoia e Balzac no me interessavam muito. Cheguei a Zoia depois, mas quanto
a Balzac nunca me atraiu. Ia constituindo uma biblioteca de clssicos, de acordo
com as ocasies. Stendhal, desde logo. Comecei a
261
#l-lo quando em filosofia, depois li-o at a Escola Normal. Foi um de meus autores
preferidos. Foi por isso que me surpreendia quando via que isso no se devia
ler entre dezessete e dezoito anos porque tirava o frescor dos jovens, dava-lhes ideias
sombrias, desgostava-os da vida - eis o que se dizia ao meu redor. Ainda
no compreendo, alis ...
S. de B. - No, porque antes, ao contrrio, muito alegre.
J .-P. S. - Muito alegre, sim. Contm amores, herosmo, aventuras. Absolutamente no
compreendo a espcie de resistncia que Stendhal suscitou.
S. de B. - Bem, ento, depois?
J .-P. S. - Ento, li um autor como Stendhal com as pessoas de minha idade e contra os
que eram mais velhos, at os professores.
S. de B. - A leitura era, em suma, uma maneira de apropriar-se do mundo cultural, ao
mesmo tempo que um prazer, naturalmente ...
J .-P. S. - isso, um prazer. Mas tambm eu me apropriava do mundo. O mundo
significando essencialmente o planeta. E como tinha ambies (queria viver numa
quantidade
de meios, com uma quantidade de pessoas, numa quantidade de pases), ela me
proporcionava um antegozo. Li muito at o terceiro ano da Escola Normal. Deixei de ler
quando preparava a agregao, embora tenha sido reprovado na primeira vez.
S. de B. - Voc tinha estudado muito. Mas surpreendeu-me, quando o conheci, porque
havia lido autores que geralmente no so lidos. Havia lido Baour-Lormian,
Napomucne
Lemercier. Voc tinha uma cultura exaustiva.
J .-P. S. - Sim, eles me eram aconselhados pela histria e pela literatura. Pronunciavam
seus nomes na aula do professor de histria ou de francs. E eu ia l-los.
S. de B. - E quando estava em Paris, como obtinha livros?
J .-P. S. - Nizan me emprestava alguns e eu comprava outros. E tambm, de quando em
quando, como j
262
mencionei, os khgneux do Henri IV nos emprestavam livros.
S. de B. - E que passou a representar a leitura para voc a partir do momento em que se
tomou agregado? Sei que, durante o servio militar, ela representava sobretudo
uma distrao.
J .-P. S. - Sim.
S. de B. - Sim, porque voc se entediava muito.
J .-P. S. - Sim.
S. de B. - Mas havia outra coisa tambm?
J .-P. S. - Isso foi sempre o contato com o mundo. Um romance, um livro de histria ou
de geografia informava-me sobre o mundo. Tal coisa se passava em tal lugar,
ou se passara havia um sculo ou se passaria se eu fosse a tal pas. Eram informaes
que eu adquiria do mundo e que me apaixonavam.
S. de B. - Sei que, a partir da agregao, voc leu muitos livros estrangeiros. Muitos
livros americanos: Dos Passos, por exemplo.
J .-P. S. - Sim. A literatura americana me apaixonou.
S. de B. - A literatura russa tambm.
j -p s. - Os velhos livros russos: Dostoievski, Toistoi etc., lia-os h muito tempo. Eles
me haviam sido indicados no liceu. Alis, no gostava de Toistoi, no que
depois mudei. Obviamente, gostei de Dostoievski.
S. de B. - E quando professor no Havre lia muito?
J .-P. S. - Sim, lia ...
S. de B. - A partir do dia em que comeou muito seriamente a escrever, ainda assim
restava-lhe tempo para ler? E que representava isso para voc?
J .-P. S. - Lia muito no trem. O Havre-Paris, o Havre-Rouen. Nessa poca descobri algo
de novo: o romance policial.
S. de B. - Ah, sim.
J .-P. S. - Antes, eram os romances de aventura. No trem no havia nada para fazer.
Olhavam-se as pessoas que passavam e lia-se. Lia-se o qu? Qualquer coisa
263
#de no-cultural, diria eu. Na verdade, no percebia que os romances policiais me
cultivava.
S. de B. - Andvamos muito de trem. J .-P. S. - Bastante. Ento, lia romances policiais.
S. de B. - E por que gostava dos romances policiais?
J .-P. S. - Certamente fui atrado pela importncia que tiveram. Nessa poca todo mundo
se interessava por eles.
S. de B. - Sim, mas voc os poderia ter recusado. J .-P. S. - Poderia, mas de toda maneira
havia aquele antigo fundo de aventura que me divertia.
S. de B. - No havia tambm o fato de que a construo lhe interessava?
J .-P. S. - Sim, a construo me interessava. Era uma construo que muitas vezes pensei
que poderia servir para romances que tratassem de assuntos mais ...
S. de B. - Mais srios.
J .-P. S. - Mais srios, mais literrios. Ou seja, achava que a construo do enigma, que,
no fim, d sua chave, fazendo algo um pouco escondido - no um crime, mas
um acontecimento qualquer de uma vida, relaes entre homens ou entre homens e
mulheres - poderia dar um tema de romance; aquele fato, pouco a pouco, se
desvendaria,
seria objeto de hipteses. Pensava que havia ali uma possibilidade de romance. Depois,
abandonei esse procedimento. Embora haja, no primeiro volume de Chemins de
Ia liberte, elementos muito no estilo de romance policial, como, por exemplo, a relao
de Boris com Loia.
S. de B. - Mesmo em La nause h uma espcie de suspense porque o heri se pergunta:
"O que o que h?..."
J .-P. S. - Sim.
S. de B. - Creio que o gnero de necessidade que h num romance policial bem feito,
bem apresentado, era algo que lhe agradava.
J ;1 S. - Era uma necessidade particular. Uma necessidade que se exprimia, na maioria
das vezes, atra-
264
vs de dilogos, porque quando um detetive descobre algo no romance policial, h ...
S. de B. - Interrogatrios.
J .-P. S. - sobretudo o dilogo, no qual o fato aparece e reaparece e provoca
perturbaes ou atitudes emotivas nas pessoas. Portanto, isso implicava que o dilogo
podia ser muito ...
S. de B. - Podia ter um valor de ao, de certo modo.
J .-P. S. - Sim; informar as pessoas e faz-las agir. A aventura estava no dilogo e era o
dilogo, enquanto aventura, que me parecia importante.
S. de B. - E depois? Afora os romances policiais? Quando estava em Laon, quando
retomou a Paris: enfim, durante seus anos de professor no perodo anterior guerra?
J .-P. S. - Lia sobretudo a literatura americana. Foi sobretudo ento que a conheci.
Faulkner? Lembro-me ainda que voc o leu primeiro e mostrou-me as novelas dizendo
que deveria l-las.
S. de B. - Ah!
J .-P. S. - Estava em seu quarto, uma tarde, e voc estava com esse livro. Perguntei-lhe o
que era e voc mo disse. Eu j conhecia Dos Passos.
S. de B. - Mais tarde, juntos descobrimos Kafka.
J .-P. S. - Na Bretanha, se no me engano.
S. de B. - Sim. Na N. R. F. algum falava dos grandes autores, Proust, Kafka e J oyce. E
J oyce, ns o conhecamos? J no me lembro.
J .-P. S. - Conhecemo-lo muito rapidamente, sim. Primeiro, por ouvir falar e logo a
seguir o lemos. Todo o meio, tudo o que era propriamente o monlogo interior do
Sr. Bloom me interessava muito. E fiz at uma conferncia sobre J oyce no Havre: havia
uma sala onde os professores faziam conferncias pagas. Isso era coordenado
pela municipalidade e pela biblioteca. E fiz conferncias sobre os escritores modernos
para os burgueses do Havre que no os conheciam.
S. de B. - Quem, por exemplo?
265
#J .-P. S. - Faulkner.
S. de B. - Voc fez uma conferncia sobre Faulkner?
J .-P. S. - No, mas mencionei-o numa conferncia, e perguntaram-me quem era.
S. de B. - E sobre quem voc fez conferncias? Creio que fez uma sobre Gide, no?
J .-P. S. - Sim, e fiz uma sobre J oyce.
S. de B. - Essas conferncias precederam seus primeiros artigos crticos.
J .-P. S. - Sim. Eram menos desenvolvidas que meus artigos, mas na mesma linha.
S. de B. - J tinha a ideia de que uma tcnica uma metafsica?
J .-P. S. - Sim, essa ideia me veio muito cedo.
S. de B. - Bom; ento voc lia, em suma, ao mesmo tempo para comprazer-se, para
manter-se a par, para saber o que surgia no mundo?
J .-P. S. - Lia muito. Era muito interessado. A leitura era minha diverso mais
importante; e era at manaco por ela.
S. de B. - E entre todas essas leituras houve algumas que o influenciaram em seu
prprio trabalho?
J .-P. S. - Oh! evidentemente. Dos Passos me influenciou enormemente.
S. de B. - No teria havido Sursis sem Dos Passos.
J .-P. S. - Kafka tambm me influenciou. No saberia dizer como, exatamente, mas me
influenciou bastante.
S. de B. - Tinha lido Kafka quando escreveu La nause
J .-P. S. - No, quando escrevia La nause ainda no conhecia Kafka.
S. de B. - A seguir foi a guerra e creio que durante esse perodo voc leu muito.
J .-P. S. - Sim, voc me enviou uma quantidade de livros. Recebia-os na escola onde
ficvamos ns, os meteorologistas, para no fazer nada a no ser supostamenie
corrigir ou estudar as sondagens que haviam sido feitas
266
pela manh ou nos dias anteriores; isso no era til para ningum, j que ningum se
interessava pelas sondagens.
S. de B. - Certamente no se lembra do que leu? Devia ser medida que os livros
surgiam?
J .-P. S. - Sim.
S. de B. - No lia romances? No, naturalmente lia filosofia.
J .-P. S. - Ou histria.
S. de B. - Muita histria, j?
J .-P. S. - Sim, mas histria como se fazia na poca. Histria anedtica e biogrfica. Li,
por exemplo, diferentes obras sobre o caso Dreyfus. Lia muito histria;
alis, isso se harmonizava com a concepo filosfica segundo a qual era preciso
interessar-se pela histria, que ela fazia parte da filosofia.
S. de B. - Voc lia muito biografias.
J .-P. S. - Sim.
S. de B. - Tnhamos gostos comuns nessa rea;
havia muitos livros que lamos juntos: em ltima instncia a lista de livros que dou
como tendo lido em La force de Vage.
J .-P. S. - Muitas vezes, um volume era utilizado por ns dois e falvamos muito sobre
ele.
S. de B. - Sim, muito.
J .-P. S. - Alguns personagens romanescos ou verdadeiros nos serviam de referncia.
S. de B. - Sim, tudo o que lamos estava muito integrado a nossa vida.
J .-P. S. - Sim, preciso mencion-lo, porque isso acrescenta um carter leitura, o fato
de que um livro fosse de ns dois.
S. de B. - Creio que no campo de prisioneiros, onde esteve, era difcil obter livros.
J .-P. S. - Tive alguns. Livros que um prisioneiro trouxera em sua mochila. Um ou dois
que me vieram atravs dos alemes. Pouca coisa, praticamente. Mas obtive Sem
und Zeit, que solicitei, que obtive.
267
#S. de B. - Isso no era leitura, era trabalho. Seria preciso distinguir os livros que eram,
para voc, livros de trabalho: Heidegger, Husseri, por exemplo.
J .-P. S. - Voc sabe, muito difcil distinguir o trabalho da leitura. Ser que Husseri e
Heidegger foram trabalho ou uma leitura um pouco mais sistemtica do que
as outras? bastante difcil dizer.
S. de B. - As leituras feitas por prazer no se incluiriam numa espcie de amplo trabalho
que consistia em assimilar o mundo?
J .-P. S. - Mais tarde, sim, quando tive necessidade delas para escrever meus livros. Mas
quando escrevi La nause no tinha tido necessidade de quase nenhum livro.
Nem no que se refere s novelas.
S. de B. - E quando retomou a Paris, durante a guerra e imediatamente depois, o que
significava ler? J antes da guerra voc havia comeado a fazer algumas crticas.
J .-P. S. - Sim.
S. de B. - Criticou quem, antes da guerra? Mauriac?
J .-P. S. - Sobretudo Dos Passos.
S. de B. - E Brice Parain? Voc escreveu sobre Brice Parain, no?
J .-P. S. - Sim, durante a guerra. Que se lia durante a ocupao?
S. de B. - Sei que se leu Moby Dick naquele momento. Mas, em princpio, j no
tnhamos livros americanos.
J .-P. S. - Nada de livros americanos, nem ingleses, nem russos.
S. de B. - Ento, o que lamos?
J .-P. S. - Lamos francs.
S. de B. - No era publicada muita coisa.
J .-P. S. - Lamos as coisas que no havamos lido ou relamos outras.
S. de B. - J no lamos novidades, isso.
J -P S. - De toda maneira, lamos bastante.
268
S. de B. - Quanto a mim, creio que foi nessa poca que li - no sei se voc tambm o leu
- As mil e uma noites, o livro inteiro, na edio do doutor Mardrus.
J .-P. S. - Sim. Lamos o intemporal, lamos o sculo XIX, Zoia; reli-o nessa ocasio.
S. de B. - E depois da guerra?
J .-P. S. - Houve um livro importante para mim durante a guerra, que foi Histoire de Ia
rvolution, de
J aurs.
S. de B. - Depois da guerra houve um afluxo de literatura americana, inglesa.
Descobrimos ento uma outra forma de romances de aventuras. E quantidades de livros
que nos revelaram o que havia sido a guerra do outro lado de nossa cortina de trevas.
J .-P. S. - Para voc isso era mais interessante do que para mim.
S. de B. - Porqu?
J .-P. S. - Porque eu ... no sei. Eu os lia, claro, mas no tinha experincia que pudesse
servir-me de ponto de partida para uma leitura desse gnero.
S. de B. - Voc no lia um pouco menos, a partir de 1945, pelo fato de haver escrito
muito, por estar mais ou menos engajado em manifestaes polticas?
J .-P. S. - Sim, mas no tinha outra coisa para fazer. Antes, tinha o liceu. Foi por essa
poca que formei uma biblioteca para mim; ali pegava livros e os lia e relia.
S. de B. - Voc a instalara no apartamento de sua me, onde morava. Houve um tempo
em que no tinha livro algum. Quando estvamos no Hotel de LaLouisiane, algum
foi visit-lo e ficou perplexo, dizendo: "Mas o senhor no tem livros?" Voc disse:
"No, leio, mas no possuo livros." E, ao contrrio, a partir do momento em que
foi morar na Rua Bonaparte, voc constituiu uma biblioteca.
J .-P. S. - Sim. Era por amor aos livros, pelo desejo de toc-los, de olh-los. E comprava
livros na Rua Bonaparte; e tambm na Rua Mazarine. H uma quantidade
269
#de livrarias em todo esse bairro. Comprava edies completas ...
S. de B. - Voc tinha a edio completa de Colette.
J .-P. S. - Sim.
S. de B. - E tambm as obras completas de Proust ...
J .-P. S. - Sim. A partir do momento em que me instalei na casa de minha me consenti
em possuir certas coisas, como, por exemplo, uma biblioteca; o fato de no ter
livros antes correspondia a uma vontade bem determinada. No queria possuir nada. E
continuei assim at os quarenta anos ...
S. de B. - preciso dizer que as condies materiais colaboravam para isso, j que
estvamos sempre no hotel ...
J .-P. S. - Sim, mas eu teria podido, se tivesse desejado. No, no queria possuir. No
possua nada. Nem no Havre, nem em Laon ...E depois, em 1945, transformei
minha vida em determinados aspectos.
S. de B. - Sim, voc contratou um secretrio, ficou mais bem instalado do que antes.
Um pouco por fora das circunstncias.
J .-P. S. - Era porque minha me, depois da morte de meu padrasto, queria que eu
morasse com ela.
S. de B. - Sim, eu sei. Bom, ento, para retomar leitura, depois de 1945 voc leu tanto
quanto antes? E leu as mesmas coisas? Talvez me equivoque, mas parece-me
que fez menos leituras gratuitas, que leu menos romances.
J .-P. S. - Menos romances. H romances que foram publicados e que eram bons e que
no li. Sobretudo li obras histricas.
S. de B. - uando comeou a ler intensamente obras sobre a Revoluo Francesa e
tambm a comprar volumes de Memrias sobre a Revoluo Francesa? Parece-me que
foi
por volta de 1952.
J .-P. S. - Sim, por volta de 1950, 1952.
270
S. de B. - E isso era j na perspectiva de Citique de Ia raison dialectique?
J .-P. S. - Sim e no; nessa poca ainda desejava fazer filosofia, mas era algo que
permanecia vago. Um desejo forte, mas leituras vagas. E depois anotaes em
meu caderno.
S. de B. - Mas voc lia de uma maneira muito sistemtica e obras s vezes bastante
ingratas: voc lia obras sobre a semeadura de terras, sobre a reforma agrria
na Inglaterra. Sobretudo coisas sobre a histria da
Frana: muito, muito.
J .-P. S. - Essencialmente sobre a histria da Revoluo e o sculo XIX.
S. de B. - Muito de histria econmica. J .-P. S. - Muito de histria econmica. S. de B. -
Eram leituras documentrias com objetivo no muito preciso ainda, mas que
de toda maneira j
estava indicado.
J .-P. S. - Escrevia em meus cadernos de notas e de lembranas as ideias que tirava
desses livros ou os conhecimentos que eles me proporcionavam.
S. de B. - Voc leu o livro de Braudel sobre o Mediterrneo; e um livro que voc
considerava muito importante e que era Ls sans-culottes de Soboul. Como leituras
de distrao, voc continuava a ler romances policiais, romances de espionagem.
j.-p. S. - Sobretudo romances de espionagem. Houve um tempo em que apareceram os
romances de espionagem, e eu os li. E tambm os da Srie Noire.
S. de B. - A Srie Noire acabava de nascer e era boa no incio, a Srie Noire de
Duhamel; depois, no.
J .-P. S. - Isso est um pouco esgotado.
S. de B. - Gostaria de perguntar-lhe novamente o que representou para voc a literatura
ao longo de sua vida. Voc explicou, em Ls mots, o que representava para
voc durante seus primeiros anos; mas em que se transformou, o que representa
atualmente para voc?
J .-P. S. - De incio, a literatura significou, para mim, o contar. Contar belas histrias.
Por que eram be-
271
#Ias? Porque eram bem desenvolvidas, havia um comeo e um fim, continham
personagens que eu fazia existir atravs de palavras. Nessa ideia simples havia a ideia
de que contar no era o mesmo que contar a um colega o que eu zera no dia anterior.
Contar tinha outro significado. Era criar com palavras. A palavra era o modo
de contar uma histria, que, alm disso, eu via como independente das palavras. Mas era
o modo de cont-la. A literatura era um relato feito com palavras. Era completo
quando continha o incio da aventura e a acompanhvamos at o fim. Isso se manteve
at que meus estudos de liceu me zeram constatar uma outra literatura, j que
havia quantidades de livros em que no havia o contar.
S. de B. - Ento voc escrevia, em La Rochelle, por exemplo, coisas que eram mais ou
menos relatos; isso era muito diferente de contar por escrito ou de contar a
um colega. Voc diz: era muito diferente porque havia as palavras. Mas quando relatava
fatos a um colega tambm havia as palavras.
J .-P. S. - Sim, mas no eram vividas por si mesmas. Trata-se de colocar o colega a par
do que ocorreu na vspera; damos aos objetos que estavam presentes nomes que
os designam, mas no concedemos privilgio algum a essas palavras. Esto presentes
porque so as palavras que significam. Enquanto que, numa histria, a palavra
em si mesma tem algum valor.
S. de B. - No assim, tambm, porque, nesse momento, introduzimo-nos no
imaginrio?
J .-P. S. - Sim, mas no sei se aos dez anos eu fazia uma distino bem ntida entre o que
era verdadeiro e o que era imaginrio.
S. de B. - De toda maneira, voc deveria perceber que as histrias que escrevia no
tinham ocorrido.
J .-P. S. - Ohl Sabia perfeitamente que essas histrias eram inventadas, mas como, por
outro lado, eram um pouco semelhantes, e at inteiramente semelhantes a relatos
que eu lera em jornais interessantes, tinha a impresso de que possuam pelo menos essa
realidade de pertencer ao mundo dos relatos que existiam fora de
272
mim. No tinha a ideia do imaginrio puro, que tive logo depois. Ou seja, no havia o
problema do imaginrio. Aquilo no existia, era inventado, mas no era o imaginrio.
No era imaginrio no sentido de que no era uma histria que tem uma consistncia e
no entanto no existe.
S. de B. - Mas no havia, ao menos, um sentimento do que se poderia chamar a beleza e
a necessidade da histria?
J .-P. S. - No se contava uma coisa qualquer. Contava-se algo que tinha um comeo e
um m que dependia estritamente do comeo. De modo que se fazia um objeto cujo
comeo era causa do fim e cujo fim se ligava ao incio.
S. de B. - Um objeto fechado em si mesmo?
J .-P. S. - Sim, toda a histria era feita de coisas que tinham correspondncia. O comeo
criava uma situao que se resolvia no m com os elementos do comeo. Assim,
o m repetia o comeo e o comeo j permitia que se imaginasse o fim. Isso era muito
importante para mim. Em outras palavras, havia a relato, que colocava em jogo
uma inveno, o que um dos elementos; e o outro elemento que o que eu inventava
era a histria, que se bastava a si mesma e cujo fim correspondia ao incio e
vice-versa.
S. de B. - Voc quer significar, sem mencion-la, a necessidade.
J .-P. S. - Era a necessidade que s se revelava no relatar. Era isso o fundo, por assim
dizer. Ao relatar, revelava-se uma necessidade que era o encadeamento das
palavras umas com as outras, que eram escolhidas para encadear-se...E havia tambm,
mas muito vagamente, a ideia de que h boas palavras, palavras que soam bonito
e se encadeiam umas com as outras e que depois formam uma bela frase. Mas isso era
muito vago. Eu sentia perfeitamente que as palavras podiam ser belas, mas no
me ocupava muito disso. Preocupava-me em dizer o que havia por dizer. Isso durou at
os doze anos, quando comeamos a ler, no liceu, obras de grandes escritores
do
273
#sculo XVII e do sculo XVIII, que eu via que no eram todos relatos romanescos, que
havia discusses, ensaios. Ento, chegvamos a uma obra na qual o tempo j
no se manifestava da mesma maneira. E, no entanto, o tempo me parecia capital em
literatura. Era o tempo do leitor que era criado. Ou seja, o leitor tinha primeiro
um tempo dele e depois era situado numa durao que era criada para ele e que se fazia
nele. Enquanto lia, ele se tomava o objeto que fazia.
S. de B. - Portanto, voc teve ento uma concepo da literatura que investia sempre no
tempo do leitor, mas que no era necessariamente um relato. O que ocorreu
com isso na poca?
J .-P. S. - Havia um antes e um depois. O leitor comeava o ensaio com ideias que no
eram as que o autor expunha. Lentamente, tomava conscincia das ideias do autor
- era preciso tempo, comear s duas da tarde, continuar at s seis e recomear no dia
seguinte. Assim, era com o tempo que ele apreendia as ideias do autor. No
primeiro captulo, havia um esboo e depois isso se construa e acabava-se por ter uma
ideia temporal. Era temporal, porque levava tempo para ser construda. Era
assim que eu via as coisas.
S. de B. - Mas escreveu ensaios propriamente ditos, quando era bem jovem, em khgne
ou no primeiro ano?
J .-P. S. - De qualquer forma, no antes de khgne, e ser que escrevi? Naquela poca,
Nizan e eu trabalhvamos cada um por si, mas mostrvamos nossos escritos um
ao outro, e os romances eram, tambm, ensaios. Ou seja, queramos colocar ali ideias,
ento a durao do tempo do romance tomava-se, ao mesmo tempo, a durao do
tempo da ideia que se exprimia. E as novelas de Nizan, na Revue sans Titre, de certa
maneira eram ensaios. Quanto a mim, escrevi como primeiro ensaio La lgende
de Ia vente.
S. de B. - E Er 1'armnien, como o considera?
J .-P. S. - Mais como um ensaio. Como um ensaio, mas com personagens aos quais
acontecem coisas que
274
tm um sentido. Eles as desenvolvem, explicam-nas em seu discurso. E ento, isso se
toma um smbolo.
S. de B. - Mas em outro dia voc dizia que uma das coisas que desejava era revelar
verdades. Revelar aos outros a verdade do mundo.
J .-P. S. - Sim, isso veio lentamente. No se apresentou no incio. No entanto, estava
presente. Era preciso um tema! Para mim, era o mundo. O que tinha a dizer,
era o mundo. Creio, alis, que como todos os escritores. Um escritor s tem um tema,
que o mundo.
S. de B. - Sim, mas h os que chegam ao mundo passando por eles mesmos, que fazem
intimismo, que falam de suas experincias.
J .-P. S. - Cada um tem seu modo de ver as coisas. Quanto a mim, no sei por que, no
escrevia sobre mim. Pelo menos sobre mim como personagem subjetivo, como tendo
uma subjetividade, ideias. J amais me ocorreu escrever sobre mim, escrever uma histria
que me tivesse acontecido. E, no entanto, naturalmente, de toda maneira, tratava-se
inteiramente de mim. Mas o objetivo no era representar-me nas novelas que fazia.
S. de B. - Ou seja, que o mundo que captado atravs de voc.
J .-P. S. - E fora de dvida que o tema de La nause primordialmente o mundo.
S. de B. - E uma dimenso metafsica do mundo que deve ser revelada.
J .-P. S. - isso. Ento, essa uma ideia diferente da de literatura. A literatura revela a
verdade sobre o mundo, mas diferentemente da filosofia; na filosofia
h um incio e um fim, portanto h uma durao mas ela recusa a durao. preciso
tomar o livro, s o compreendemos quando terminou e ento no h durao. No
se pode introduzir no livro o tempo que se levou para compreend-lo e decifr-lo. E o
pensamento que se obtm um pensamento ideal e o conservamos na cabea, como
um conjunto bem organizado. Podemos falar da durao, podemos fazer um, dois
captulos sobre a durao, mas nesse momento trata-se de um conceito, no de uma di-
275
#menso do objeto. Mudei a esse respeito, porque agora considero, ao contrrio, que as
obras filosficas que escrevi compreendem a noo de temporalidade, no somente
como a necessidade que cada um pode ter de ler a obra comeando pelo incio ou pelo
fim, o que uma perda de tempo, mas no sentido de que o tempo dedicado a expla
e discuti-la faz parte da filosofia em si. Ela a determina.
S. de B. - Voc no mo disse, mas talvez o diga mais adiante, j que, por agora, estamos
na literatura. Por ocasio de La nause, tinha uma ideia da necessidade?
J .-P. S. - Sim.
S. de B. - A ideia de beleza estava ligada, para voc, ideia de fazer um livro?
J .-P. S. - Na verdade, no. Pensava que isso era fcil, se cuidvamos das frases, do
estilo, da maneira de contar a histria. Mas essas qualidades formais com as
quais pouco me preocupava. Para mim, tratava-se de encontrar o mundo no mago do
relato.
S. de B. - De toda maneira, voc me disse h pouco que ainda muito jovem j dava
importncia s palavras.
J .-P. S. - Sim, era uma espcie de elemento de beleza, mas tambm de exatido, de
verdade. Uma frase com palavras bem escolhidas uma frase exata, verdadeira.
S. de B. - Mas, no fim da La nause, quando o heri ouve Some of these days, ele diz
que gostaria de criar algo que se assemelhasse a isso. Ora, isso o toca pelo
que podemos chamar de sua beleza.
J .-P. S. - Sim, mas se Some of these days comove Roquetin, porque um objeto
criado pelo homem, um homem muito distante, que atravs de seus versos o atinge.
No que ele seja humanista; uma criao do homem que o mobiliza, que ele ama.
S. de B. - Em outras palavras, era mais uma questo de comunicao do que uma
questo de beleza?
276
J .-P. S. - Esses objetos, que uma vez produzidos sobreviviam, encontravam-se nas
bibliotecas, como realidades materiais; mas estavam tambm numa espcie de cu
inteligvel,
que no era um cu imaginrio. Era uma realidade que permanecia. E lembro-me que La
nause estava um pouco aqum de minhas prprias ideias. Ou seja, eu j no estava
por criar objetos fora do mundo, belos ou verdadeiros, como acreditava antes de
conhecer voc, mas havia ultrapassado isso. No sabia exatamente o que queria, mas
sabia que no era um belo objeto, um objeto literrio, um objeto livresco que se criava,
era outra coisa. Sob esse aspecto, Roquetin marcava antes o fim de um perodo
do que o comeo de outro.
S. de B. - No entendo bem o que quer dizer. Flaubert acreditava que um livro era um
objeto que se mantinha por si s, que, por assim dizer, independia do leitor,
que ele considerava perfeitamente intil. Era assim que voc pensava antes de La
nause?
J .-P. S. - De certa maneira; no que achasse, entretanto, no haver necessidade do leitor.
S. de B. - E ento, quando terminou La nause, e mesmo enquanto escrevia La nause,
como via o livro?
J .-P. S. - Via-o como uma essncia metafsica; eu criara um objeto metafsico; por assim
dizer, era como uma ideia platnica. Mas uma ideia que seria particularizada
e que o leitor encontrava ao ler o livro. Eu comeara La nause acreditando nisso e no
fim j no acreditava.
S. de B. - Em que acreditava na poca?
J .-P. S. - No sabia bem.
S. de B. - E quando escreveu as novelas? O que pensava fazer ao escrever uma novela?
J .-P. S. - As novelas eram uma necessidade mais imediata, j que uma novela tem trinta,
cinquenta pginas; ento, no s a concebia, mas, de certa maneira, ao l-la
via a necessidade. com as novelas tinha uma viso mais evidente do objeto literrio do
que ao escrever La nause, que longo.
277
#S. de B. - Sim; mas o que representava, exatamente, para voc, escrever novelas?
Quanto a La nause muito claro; havia uma revelao do mundo, essencialmente
com essa dimenso de contingncia, to importante para voc; mas as novelas?
J .-P. S. - Qjuanto s novelas, curioso. Elas mudaram de significao. Quis escrever
novelas para transmitir, atravs das palavras, determinadas impresses espontneas.
L soleil de minuit, que perdi, era isso. Quis fazer um volume de novelas ...
S. de B. - De atmosfera, de certa forma. J .-P. S. - ...de atmosfera; por exemplo; Npoles;
queria que a novela concorresse para que se visse Npoles.
S. de B. - E depois? Isso se modificou? J .-P. S. - Sim. Modificou-se, no sei bem por
qu. Erostrate era um sonho de Bost.
S. de B. - Sim, mas por que escolheu esse sonho? J .-P. S. - Meu projeto tomou um
carter mais amplo; aquilo podia ser a viso de um momento bastante forte para mim;
podia ser tambm algo mais importante, como guerra da Espanha. Houve uma novela
sobre a loucura. Tratava-se, portanto, de situaes bastante graves e completamente
diferentes do que eu desejava no incio. No incio, teria escrito antes uma novela sobre
uma noite nos bulevares de Paris, sobre um jardim, uma novela sobre Npoles,
ou uma travessia do mar.
S. de B. - Foram exatamente essas novelas de atmosfera as que que voc eliminou.
Houve uma que se perdeu, e voc no tentou refaz-la. Voc eliminou a travessia
de navio com a orquestra feminina, com a possibilidade de retom-la mais tarde. Bem.
Mas o que voc chamou, dias atrs, a prpria essncia' da literatura, atravs
de tudo isso? Ali ainda era relatar.
J .-P. S. - Certamente, relatar. Mesmo um ensaio relata.
S. de B. - De toda maneira, no a mesma coisa fazer um ensaio sobre Giacometti ou
narrar L mur.
278
J .-P. S. - No a mesma coisa. Mas ainda assim preciso um tempo para entrar nos
quadros de Giacometti. E o tempo da leitura no inteiramente o tempo da criao,
mas os dois se conjugam. E quando o leitor ler o ensaio, ele criar enquanto leitor, far
aparecer o objeto tal como lhe foi indicado pelo autor.
S. de B.- Vamos ento aos ensaios. Voc comeou a escrever crtica desde antes da
guerra, no foi?
J .-P. S. - Sim.
S. de B. - E continuou durante a guerra ...
J .-P. S. - Continuei durante a guerra, numa revista marselhesa.
S. de B. - isso.
J .-P. S. - Chamava-se Confluences.
S. de B. - E continuou depois da guerra. Em seus ensaios h uma quantidade de coisas
diferentes: crtica literria, crtica artstica e ainda comentrios polticos.
E, s vezes, vidas. Retratos de Merleau-Ponty, de Nizan. Ento, como encara a crtica?
E por que isso o interessou? Lembro-me que, de incio, como tinha a ideia
de que voc estava talhado para escrever romances, parecia-me que aquilo era um pouco
uma perda de tempo. Estava redondamente enganada porque se trata de uma das
partes mais interessantes de sua obra. Mas o que o incitou a fazer crtica?
J .-P. S. - Ainda o mundo. A crtica era uma descoberta, uma determinada maneira de ver
o mundo; uma maneira de descobrir como via o mundo o sujeito cuja obra eu
lia e criticava. Como Faulkner via o mundo, por exemplo. A maneira pela qual os
acontecimentos eram narrados em seus livros, como os personagens eram apresentados.
Era uma maneira de transmitir a forma pela qual ele reagia s pessoas em torno dele, s
paisagens, vida que levava etc. Tudo isso via-se no livro, mas no imediatamente.
Via-se atravs de uma quantidade de notaes que era preciso estudar.
S. de B. - H algo que lhe interessava muito nos romances de que falava: era a tcnica.
279
#J .-P. S. - Esse aspecto da tcnica creio que me veio de Nizan. Ele se preocupava muito
com isso. Em relao aos seus prprios romances, e aos dos outros.
S. de B. - Mas voc se interessou muito diretamente pela tcnica de Dos Passos.
J .-P. S. - Sim, claro. Mas a ideia de estudar uma tcnica num livro, de procurar saber
se ela valia algo, isso
vinha de Nizan.
S. de B. - Sei que Nizan, quando nos falou de Dos Passos, na verdade falou-nos
sobretudo da tcnica de Dos
Passos.
J .-P. S. - Exato.
S. de B. - Mas houve uma ideia que era bem sua e que era muito importante, segundo a
qual a tcnica revela, ao mesmo tempo, uma metafsica.
J .-P. S. - Foi o que lhe disse h pouco. No fundo, minha crtica buscava a metafsica que
havia numa obra, atravs da tcnica. E quando encontrava essa metafsica,
ento me sentia satisfeito. Possua realmente a totalidade da obra.
S. de B. - Sim.
J .-P. S. - Para mim, a ideia crtica era isso. Isto , ver como cada um dos homens que
escrevem v o mundo. Eles descrevem o mundo, mas o vem diferentemente. Alguns,
abundantemente, outros, de perfil, de uma maneira limitada.
S. de B. - Alguns, numa dimenso de liberdade, outros, numa dimenso de necessidade,
de opresso... Sim.
J .-P. S. - tudo isso que preciso captar ... S. de B. - Mas voc tinha igualmente a ideia
de que um ensaio tambm um objeto, um objeto necessrio e que deve
ter sua qualidade literria prpria. De incio, voc achava muito difcil fazer um ensaio
que no fosse como uma dissertao, mas que tivesse, digamos, sua elegncia,
sua beleza.
J .-P. S. - O risco da elegncia separar de sua verdade o objeto. Se muito elegante j,
no diz o que gostaria de dizer. Uma crtica sobre Dos Passos, se com-
280
porta coisas muito elegantes, se nos conformamos com a beleza, j no diz exatamente o
que se desejaria que dissesse.
S. de B. - Ou seja, o problema encontrar o equilbrio entre o objeto por captar e a
maneira pessoal de referi-lo.
J .-P. S. - E isso. Seria necessrio dizer o que se tinha a dizer, mas diz-lo de maneira
que fosse necessria, bem feita...
S. de B. - E o que consideraria como constituindo a elegncia de um ensaio?
J .-P. S. - Oh! Eram ideias muito cartesianas: leveza, clareza, necessidade.
S. de B. - Sim.
J .-P. S. - A qualidade do ensaio era uma consequncia natural j que a eu introduzia a
metafsica. Portanto, havia sempre uma crtica, ou seja, um estudo das palavras
do autor considerado, num determinado nvel:
por que escolher tal adjetivo, tal verbo, quais so suas artimanhas etc, e tambm, por
trs disso, estava em causa a metafsica. A crtica tem dois sentidos para
mim:
deve ser a exposio dos mtodos, das regras, das tcnicas do autor, na medida em que
tais tcnicas me revelam uma metafsica.
S. de B. - Sim, mas ao mesmo tempo tratava-se de dizer tudo isso de uma maneira que
fosse, digamos, artstica. Existe a ideia de arte, j que sua crtica de Mauriac
: "Deus no um artista, o Sr. Mauriac tambm no." Portanto, voc estava
convencido de que havia uma arte literria, uma arte de escrever. Alis, ainda outro
dia, voc me falava da essncia da arte de escrever.
J .-P. S. - Sim.
S. de B. - Pensava ento que havia uma arte de escrever um ensaio especfico?
J .-P. S. - Sim ...E que eu tinha dificuldade de encontrar. No era fcil no incio. Embora,
finalmente, eu tenha deixado de escrever ensaios.
S. de B. - Como assim?
281
#J .-P. S. - Depois de interrompido o romance, houve peas de teatro, mas afora as peas
de teatro, que no so da mesma espcie literria, que fazia eu? Artigos,
li-
vros ...
S. de B. - Ah! depois livros de filosofia. No chamo de ensaios esses livros de filosofia,
exatamente porque a preocupao com a arte literria no estava presente
em seus livros de filosofia.
J .-P. S. - No.
S. de B. - H passagens muito literrias sobretudo em L'tre et l nant, porque Critique
de Ia raison dialectique realmente severo como estilo, como tom.
J .-P. S. - Num romance, ainda no se sabe muito bem o que se far com os personagens,
o que se diro eles. Pode-se alterar o dilogo e anul-lo, escrevendo-o diferentemente,
porque se tem uma intuio de que seria melhor assim. Como z em relao a Gotz, por
exemplo.
S. de B. - Sim, quando voc inverteu a cena. Ao passo que num ensaio voc
permanentemente dirigido pelo que tem a dizer.
J .-P. S. - O que tenho a dizer. Ento, naturalmente, de quando em quando, podemos ter
condescendncias, mas no muitas. Quando deixamos que se alonguem muitos, j
no um bom ensaio.
S. de B. - Pode dizer quais os ensaios que escreveu mais ao correr da pena e aqueles que
mais trabalhou?
J .-P. S. - J amais escrevi meus ensaios ao correr da pena. Sempre trabalhei
literariamente.
S. de B. - At o ensaio sobre Lumumba?
J .-P. S. - Pensava exatamente em Lumumba; pensava nesse momento que voc poderia
fazer-me essa objeo. Mas no; tentei trabalhar sobre Lumumba. Por exemplo, discuto
sobre os livros que ele leu. Poderia no hav-lo feito ou mencion-lo diferentemente.
H, portanto, toda uma parte de inveno. Quero dizer que no se tem um plano
definido no incio de um artgo e, se se escolhem os livros que algum leu e o que esse
algum disse a respeito, porque isso era importante. No obstante, cabe-nos
defini-lo como algo importante.
282
S. de B. - De toda maneira, parece-me que voc escrevia os ensaios polticos com um
mnimo de preocupao com arte.
J .-P. S. - Talvez com um pouco menos.
S. de B. - Como Ls communistes et Ia paix, por exemplo.
J .-P. S. - Ahl Ainda assim fazia questo que fosse bem escrito.
S. de B. - Sim, claro. Bem escrito, mas muito prolfico; mas, de toda maneira, isso se
prestava menos a determinadas preocupaes de estilo.
J .-P. S. - Em suma, para resumir o que dissemos, a obra literria , para mim, um objeto.
Um objeto que tem uma durao prpria, um comeo e um m. Essa durao prpria
manifesta-se no livro pelo fato de que tudo o que se l liga-se sempre com o que havia
antes e tambm com o que vir. essa a necessidade da obra. Trata-se de
dar forma a palavras que tm uma determinada tenso prpria e que, atravs desta
tenso, criaro a tenso do livro que uma durao na qual nos engajamos. Quando
comeamos um livro, penetramos nessa durao, isto , faz-se com que se determine sua
prpria durao, de tal maneira que ela tem ento um determinado comeo, que
o comeo do livro, e ter um fim. Portanto, h uma certa relao do leitor com uma
durao que a sua e que, ao mesmo tempo, no a sua, a partir do momento
em que ele comea o livro e at o fim. E isso supe uma relao complexa entre o autor
e o leitor porque ele no deve simplesmente narrar, deve fazer sua narrao
de maneira que o leitor conceba realmente a durao do romance e reconstitua
pessoalmente as causas e efeitos, de acordo com o que est escrito.
S. de B. - Creio que voc poderia estender-se sobre isso, porque, em suma, essa sua
concepo da literatura, a concepo de sua relao com seu leitor.
J .-P. S. - O leitor um sujeito que est diante de mim e sobre cuja durao atuo. Eis a
denio que daria. E nessa durao fao com que surjam sentimentos que
esto ligados a meu livro, que se corrigem, que se discu-
283
#tem entre si, que se combinam e que saem fortalecidos ou desaparecem da obra
terminada.
S. de B. - Voc falava, outro dia, de uma tentativa de seduo do leitor.
j.-p. S. - Sim, isso, uma tentativa de seduo. Mas no seduo ilcita, como se seduz
algum atravs de argumentos que no so verdadeiros e que so capciosos,
no, seduo atravs da verdade. Para seduzir, preciso que o romance seja uma
expectativa, ou seja, uma durao que se desenvolve.
S. de B. - De certa maneira, h sempre um sus-
pense.
J .-P. S. - Sempre; ele se clarifica no final.
S. de B. - Sempre nos perguntamos o que vai ocorrer. E mesmo num ensaio o leitor
sempre se pergunta:
mas o que vai ele dizer agora, o que vai provar?
J .-P. S. - E o que est querendo dizer agora e como responde a essas objees? Portanto,
o tempo tambm intervm. E atravs desse tempo, essa construo do objeto,
eu lia o mundo, isto , o ser metafsico. A obra literria algum que reconstitui o
mundo tal como o v, atravs de um relato que no visa diretamente ao mundo,
mas que se refere a obras ou personagens inventados. E foi mais ou menos isso que eu
quis fazei.
S. de B. - Seria preciso explicar novamente - embora voc o haja explicado to bem,
mas tenham entendido to mal - sua passagem para a literatura engajada.
J .-P. S. - Fiz um livro inteiro sobre isso.
S. de B. - Sim, claro. Mas, afinal, que relao ou que diferena h entre as obras que
fez, antes de ter a teoria das obras engajadas, e as que fez depois? Quero
saber se, em ltima anlise, encontramos as mesmas coisas nas obras engajadas ou no?
J .-P. S. - a mesma coisa. No se trata de uma modificao da tcnica, antes uma
modificao da ideia do que se quer criar atravs das palavras num livro engajado.
Mas isso no traz nenhuma mudana, j que a obra engajada estar ligada a uma
determinada preocupao
284
poltica ou metafsica que se quer exprimir, que est presente na obra. Ainda que ela no
se diga 'engajada'.
S. de B. - Trata-se mais da escolha dos assuntos.
J .-P. S. - isso. Eu no teria escrito sobre Lumumba em 1929 se ele existisse ento.
S. de B. - Mas quando voc quer comunicar o sentimento da contingncia, como o faz
em La nause, ou quando quer comunicar o sentimento da injustia, da crueldade
exercida contra Lumumba, no fundo so as mesmas tcnicas, a mesma relao com o
leitor.
J .-P. S. - Exatamente. Apenas tem-se um desejo de engaj-lo numa causa que lhe
revelar determinados aspectos do mundo.
S. de B. - Alis, voc disse com frequncia que era o conjunto de uma obra que deveria
ser engajado. E cada livro especfico ...
J .-P. S. - Cada livro pode no s-lo.
S. de B. - Por exemplo, voc escreveu Ls mots.
J .-P. S. - Exatamente. Sim, o engajamento a obra em sua totalidade.
S. de B. - No falamos muito de Ls mots, poderamos discuti-lo um pouco. um livro
que voc levou dez anos para escrever. Como lhe ocorreu a primeira ideia de
Mots e por que foi depois abandonada?
J .-P. S. - Aos dezoito, vinte anos, sempre tive a ideia de escrever sobre minha vida,
quando a tivesse feito, isto , aos cinquenta anos.
S. de B. - Sempre pensou em escrever sobre voc.
J .-P. S. - Sim.
S. de B. - E ento por volta de 1952?
J .-P. S. - Bem, disse a mim mesmo: a est, you escrever.
S. de B. - Mas por que pensou isso exatamente em
1952?
J .-P. S. - Houve uma grande modificao em
1952 ...
S. de B. - Sim, eu sei. Mas foi exatamente uma modificao que o politizou. Ento
como se explica que isso o tenha levado a escrever sobre sua infncia?
285
#J .-P. S. - Foi porque queria escrever toda a minha vida sob um ponto de vista poltico,
ou seja, minha infncia, minha juventude e minha idade madura, dandolhe
esse sentido poltico de chegada ao comunismo. E quando escrevi Ls mots, em sua
primeira verso, no escrevi de modo algum a infncia que desejava, comecei um livro
que teria continuado; depois ver-se-ia meu padrasto desposando minha me etc. Em
seguida, interrompi nesse momento porque tinha outras preocupaes.
S. de B. - Fale-me dessa primeira verso; ningum a conhece.
J .-P. S. - Foi sobre ela que trabalhei ...a segunda. Ela era mais mordaz, sobre mim e
sobre meu meio, do que a segunda. Desejava mostrar-me permanentemente ansioso
por mudar, insatisfeito comigo mesmo com os outros, e depois modificando-me e
tomando-me, finalmente, o comunista que deveria ser o incio. Mas, claro est, isso
no verdade.
S. de B. - Voc o chamara J ean-sans-terre, no ? O que significava esse ttulo?
J .-P. S. - Sem terra significava sem herana, sem posses. Significava o que eu era.
S. de B. - E escreveu-o at que poca de sua vida?
J .-P. S. - Como Ls mots.
S. de B. - Em suma, era realmente uma primeira verso de Mots.
J .-P. S. - Uma primeira verso de Mots, mas uma verso que deveria prosseguir.
S. de B. - E quanto tempo depois a retomou?
J .-P. S. - Foi ...em 1961, no?
S. de B. - Creio que sim.
J .-P. S. - Retomei-o porque j no tinha dinheiro e pedira um emprstimo 'a Gailimard,
como adiantamen to.
S. de B. - Um ingls queria um texto seu indito e voc finalmente o deu Gailimard.
Retomou-o e o modificou muito.
J .-P. S. - Quis que fosse mais literrio do que os outros, porque considerava que, de
certa maneira, era
286
uma forma de dizer adeus a uma determinada literatura e, ao mesmo tempo, era preciso
realiz-la, explic-la, despedir-me dela. Quis ser literrio para mostrar o
erro de ser literrio.
S. de B. - No entendo muito bem. Que tipo de literatura pensava enterrar com Ls
mots?
J .-P. S. - A literatura que almejara em minha juventude e depois em meus romances, em
minhas novelas. Queria mostrar que estava acabado; e queria consign-lo escrevendo
um livro muito literrio sobre minha juventude.
S. de B. - O que queria fazer depois? J que no
mais queria fazer literatura como anteriormente. J .-P. S. - Literatura engajada e poltica.
S. de B. - Antes voc j fizera literatura engajada. J .-P. S. - Sim,
mas poltica, mais particularmente
poltica.
S. de B. - estranho, porque, anal, voc fez depois o Flaubert e no, especialmente,
literatura poltica. J .-P. S. - Um pouco, de qualquer maneira. S. de B. - No
muito. Enfim, voltemos ao tema: o
que voc chama de obra mais literria do que outra?
Como existem graus em literatura?
J .-P. S. - Por exemplo, o estilo: pode-se trabalhlo mais; Ls mots muito trabalhado,
contm as frases mais trabalhadas que escrevi.
S. de B. - Sim.
J .-P. S. - E levava tempo para faz-lo. Desejava que houvesse subentendidos em cada
frase, um dois subentendidos, conseqentemente, que as pessoas fossem tocadas
num nvel ou outro. E tambm queria apresentar as coisas, as pessoas, cada um de
determinada maneira. Ls mots muito trabalhado.
S. de B. - Sim, sei disso, e foi muito bem-sucedido. Mas gostaria que precisasse o que
entende por 'literrio'.
J .-P. S. - Era cheio de recursos, de astcias, da arte de escrever, quase que de jogos de
palavras.
287
#J .-P. S. - Foi porque queria escrever toda a minha vida sob um ponto de vista poltico,
ou seja, minha infncia, minha juventude e minha idade madura, dandolhe
esse sentido poltico de chegada ao comunismo. E quando escrevi Ls mots, em sua
primeira verso, no escrevi de modo algum a infncia que desejava, comecei um livro
que teria continuado; depois ver-se-ia meu padrasto desposando minha me etc. Em
seguida, interrompi nesse momento porque tinha outras preocupaes.
S. de B. - Fale-me dessa primeira verso; ningum a conhece.
J .-P. S. - Foi sobre ela que trabalhei ...a segunda. Ela era mais mordaz, sobre mim e
sobre meu meio, do que a segunda. Desejava mostrar-me permanentemente ansioso
por mudar, insatisfeito comigo mesmo com os outros, e depois modificando-me e
tornando-me, finalmente, o comunista que deveria ser o incio. Mas, claro est, isso
no verdade.
S. de B. - Voc o chamara J ean-sans-terre, no ? O que significava esse ttulo?
J .-P. S. - Sem terra significava sem herana, sem posses. Significava o que eu era.
S. de B. - E escreveu-o at que poca de sua vida?
J .-P. S. - Como Ls mots.
S. de B. - Em suma, era realmente uma primeira verso de Mots.
J .-P. S. - Uma primeira verso de Mots, mas uma verso que deveria prosseguir.
S. de B. - E quanto tempo depois a retomou?
J .-P. S. - Foi ...em 1961, no?
S. de B. - Creio que sim.
J .-P. S. - Retomei-o porque j no tinha dinheiro e pedira um emprstimo "a Gailimard,
como adiantamen to.
S. de B. - Um ingls queria um texto seu indito e voc finalmente o deu Gailimard.
Retomou-o e o modificou muito.
J .-P. S. - uis que fosse mais literrio do que os outros, porque considerava que, de certa
maneira, era
286
uma forma de dizer adeus a uma determinada literatura e, ao mesmo tempo, era preciso
realiz-la, explic-la, despedir-me dela. Quis ser literrio para mostrar o
erro de ser literrio.
S. de B. - No entendo muito bem. Que tipo de literatura pensava enterrar com Ls
mots?
J .-P. S. - A literatura que almejara em minha juventude e depois em meus romances, em
minhas novelas. Queria mostrar que estava acabado; e queria consign-lo escrevendo
um livro muito literrio sobre minha juventude.
S. de B. - O que queria fazer depois? J que no mais queria fazer literatura como
anteriormente.
J .-P. S. - Literatura engajada e poltica. S. de B. - Antes voc j fizera literatura
engajada. J .-P. S. - Sim, mas poltica, mais particularmente poltica.
S. de B. - estranho, porque, afinal, voc fez depois o Flaubert e no, especialmente,
literatura poltica. J .-P. S. - Um pouco, de qualquer maneira. S. de B. -
No muito. Enfim, voltemos ao tema: o
que voc chama de obra mais literria do que outra?
Como existem graus em literatura?
J .-P. S. - Por exemplo, o estilo: pode-se trabalhlo mais; Ls mots muito trabalhado,
contm as frases mais trabalhadas que escrevi.
S. de B. - Sim.
J .-P. S. - E levava tempo para faz-lo. Desejava que houvesse subentendidos em cada
frase, um dois subentendidos, conseqentemente, que as pessoas fossem locadas
num nvel ou outro. E tambm queria apresentar as coisas, as pessoas, cada um de
determinada maneira. Ls mots muito trabalhado.
S. de B. Sim, sei disso, e foi muito bem-sucedido. Mas gostaria que precisasse o que
entende por 'literrio'.
J .-P. S. Era cheio de recursos, de astcias, da arte de escrever, quase que de jogos de
palavras.
287
#S. de B. - Quer dzer que a preocupao com a seduo do leitor pelas palavras, com o
torneado das frases, maior do que em qualquer outra de suas obras?
J .-P. S. - Sim, isso.
S. de B. - isso o que chama 'literrio'. Mas, de acordo com tudo o que disse, no se
pode conceber uma obra sem preocupao de seduo.
J .-P. S. - Sim, sempre tve essa preocupao;
quando tenho a impresso de ter tido xito nesse sentido, ento isso se torna uma coisa
que me desperta ternura ou uma estima particular.
S. de B. - Voc tem estima e afeio por Ls mots?
J .-P. S. - Sim.
J .-P. S. S. de B. J .-P.S. do da porta. S. de B. J .-P. S. S. de B.
S. de B. - E atualmente, como v a literatura?
J .-P. S. - Atualmente, terminei; estou do outro la-
S. de B. - Sim, mas o que pensa a respeito?
J .-P. S. - Peso que fiz o que fiz, eis tudo.
S. de B. - As vezes, h muito tempo, voc se sentia at mesmo enfarado da literatura;
voc dizia: a literatura merda. O que queria significar exatamente? E, mais
recentemente, voc me disse, s vezes: afinal de contas, idiota trabalhar para exprimir-
se; parecia querer dizer que basta escreve de qualquer maneira, por assim
dizer. Alis, voc me disse algumas vezes que escrevera o Flaubert assim, o que no
bem verdade.
J .-P. S. - No verdade.
S. de B. - Voc fez rascunhos, retoques; e tambm tem expresses felizes, mesmo
quando no as busca. H muito achados no Flaubert.
J .-P. S. - Escrevo mais rpido. Mas isso veio do trabalho.
S. de B. - Em suma, que queria significar quando dizia " merda" ou quando dizia "mas
no h necessidade de perder tempo escrevendo bem"? Em que medida pensava
realmente
isso? Acha isso?
J . P. S. - O estilo uma coisa estranha. Seria preciso discutir para saber se vale a pena
escrever uma obra com estilo e seria preciso perguntar-se se a nica
maneira
288
de ter estilo fazendo como eu fiz, corrigir o que se escreve de maneira que o verbo
corresponda ao sujeito e que o adjetivo esteja bem colocado etc. Se no existe,
com exio uma maneira de deixar correr as coisas. Por exemp escrevo mais rapidamente
porque agora tenho o habito e no haveria uma maneira de escrever rapidamente
desde o incio? Veja bem, muitos escritores de esquerda acreditam que o estilo, a
maneira de preocupar-se muito com as palavras, tudo isso maante, que preciso
ir direto ao objetivo, no se preocupar com todo o resto.
S. de B. - Mas o resultado muitas vezes desastroso.
T p s - No estou de acordo com eles. No quero dier que no haja necessidade de
estilo; pergunto-me, simplesmente, se o grande trabalho com as palavras e necessrio
para criar um estilo.
S e B - Isso no depende um pouco das pessoas, das pocas, do tema, do temperamento,
das oportunidades?
j -p S - Sim, mas no fundo creio que as coisas
melhor escritas sempre foram escritas sem muito apuro.
S de B. - Por que voc agora l muito menos literatura?
j -p S - Desde minha juventude, e durante muito tempo, at 1950, considerei um livro
como algo que proporciona uma verdade: o estilo, a maneira de escrever, as palavras,
tudo isso era uma verdade, trazia-me algo. No sabia o qu e no o dizia a mim mesmo,
mas pensava que isso me trazia algo. Os livros no eram apenas objetos, no
s uma relao com o mundo, mas uma relao com a verdade, e uma relao
dificilmente dizvel mas que eu sentia. Ento, quanto aos livros literrios, era isso que
esperava deles, essa relao com a verdade.
S. de B. - A verdade de uma determinada viso do
mundo que no era a sua.
J -P S. - No poderia dizer exatamente que verdade." A crtica para mim servia um
pouco para isso. Ten-
289
#tar extrair o sentido da verdade do autor e o que ele me podia proporcionar. E isso foi
muito importante. S. de B. - E ter voc perdido essa ideia, e por
J .-P. S. - Perdi-a, porque creio que um livro muito mais banal do que isso. De quando
em quando
recupero um pouco essa impresso em relao aos gdes escrtores.
S. de B. - Mas quando perdeu tal impresso? J .-P. S. - Por volta de 1950, 1952, quando
entrei um pouco na poltica. Quando me interessei mais pela poltica, quando
tinha contatos com os comunistas Isso depareceu; creio que era uma ideia que datava de
um
S. de B. - Voc est querendo dizer uma ideia um pouco magica da literatura?
J .-P. S. - Sim, um pouco mgica. Aquela verdade no me era proposta por mtodos
cientficos ou lgicos Ela me era proporcionada pela beleza do livro em si, por seu
valor. Acreditei muito nisso. Acreditei que escrever era uma atmdade que produzia o
real, no exatamente o hvro, mas para alem do livro. O livro era o imaginrio
mas para alm do livro havia a verdade.
~E voc deixou e cr-lo quando fez muita historia e mergulhou na literatura engajada.
J -P S. - Sim, na medida em que um homem faz POUCO a pouco, sua experincia, ele
perde ideias que tinha. Foi por volta do ano de 1952.
S. de B. - Parece-me que o ltimo livro que voc eu com muito prazer foi Moby Dick.
Depois, creio que os hvros de Genet. No foi por acaso que escreveu sobre ele
Voc ficou muito seduzido pelo que ele escrevia. A partir
do ano de 1952, no me lembro que tenha tido grandes entusiasmos literrios
s'mci>
J .-P. S. - No.
S_ de B - Naquela poca, a leitura era estudo, ou pura distraao.
J .-P. S. - Ou ento livros de histria.
290
S. de B. - Sei que voc no leu os livros de que gostei nestes ltimos anos. Falei-lhe um
pouco deles, mas no os comentamos juntos, mesmo quando lhe dizia que,
em minha opinio, um autor era muito bom, como Albert Cohen ou como J ohn Cowper
Powys. Absolutamente no lhe interessava l-los.
J .-P. S. - No. No sei por que, mas isso no me interessou.
S. de B. - Em outras palavras, h uma espcie de desencanto quanto literatura
propriamente dita.
J .-P. S. - Talvez. De um modo geral, alis, j no sei muito bem por que se escrevem
romances. Gostaria de falar sobre o que pensei que era a literatura e tambm
do que abandonei.
S. de B. - Fale; isso muito interessante.
J .-P. S. - No incio, pensava que a literatura era o romance. Isso foi dito.
S. de B. - Sim, um relato, e, ao mesmo tempo, via-se o mundo atravs dele. Isso
proporciona algo que nenhum ensaio sociolgico, nenhuma estatstica, nada pode
proporcionar.
J .-P. S. - Isso proporciona o individual, o pessoal, o particular. Um romance
proporcionar esta pea, por exemplo, a cor do mar, destas cortinas, da janela, e s
ele pode proporcion-lo. E foi isso que apreciei nele, que os objetos fossem nomeados e
muito prximos em seu carter individual. Sabia que todos os lugares descritos
existiam ou tinham existido, que, conseqentemente, tratavase realmente da verdade.
S. de B. - Embora voc no apreciasse tanto as descries literrias. Em seus romances,
de quando em quando, h descries, mas sempre muito ligadas ao, maneira
pela qual as pessoas as vem.
J .-P. S. - E breves.
S. de B. - Sim. Uma pequena metfora, trs palavrinhas para indicar qualquer coisa, no
uma descrio na verdade.
J .-P. S. Porque uma descrio no tempo.
S. de B. - Sim. Ela fixa.
291
#J .-P. S. - Ela fixa, no d o objeto como ele aparece no momento, mas sim o objeto tal
como h cinquenta anos. E idiota!
S. de B. - Ao passo que indicar o objetivo no movmento do relato est certo!
J .-P. S. - Sim, est certo!
S. de B. - Mas no haveria outra razo? No seria porque, de um modo geral, voc havia
lido quase todos os grandes livros da literatura, e o que surge no dia-a-dia
preciso reconhecer, raramente de uma qualidade surpreendente?
J .-P. S. - Era assim antes da guerra. S. de B. - No, antes da guerra voc ainda no havia
lido Kafka, nemjoyce, nem Moby Dick.
J .-P. S. - No; li Cervantes, mas mal. Alis, muitas vezes digo a mim mesmo que
deveria reler D. Quixote. Tentei duas ou trs vezes. No interrompi porque no
gostasse;
ao contrrio, agradava-me muito; mas houve circunstncias que me desviaram dele. H
uma quantidade de coisas para reler ou ler. Poderia dedicar-me a
ISSO.
S. de B. - Mas voc talvez pense que isso no he proporcionar muito, no o
enriquecer, no lhe dar vises novas do mundo. Observe que ainda a voc se
aproxima,
como aconteceu ao longo de sua vida, e da minha, voc se aproxima dos populares: de
um modo geral, as pessoas lem menos romances, gostam menos de romances do que
gostvamos em certa poca. preciso mencionar que houve a tentativa do novo
romance, que era to aborrecido que preferimos ler biograas, autobiografias, estudos
sociolgicos, estudos histricos; temos muito mais a impresso do verdadeiro do que
quando emos um romance.
J .-P. S. - So coisas que, de fato, leio. S. de B. - Sim, no momento isso que lhe
interessa. Mas h outras coisas que o apaixonaram, na vida alem da literatura,
quero dier como consumidor de cultura. So a msica e a pintura. Tambm a escultura
que constato, e que me intriga um pouco, que vo-
292
c gostou muito de msica, voc tocou piano; pertencia a uma famlia de msicos e
continua a ouvir msica atualmente: ou discos, ou rdio; mas, por assim dizer,
nunca escreveu sobre a msica, exceto uma introduo para um livro de Leibowitz
sobre a msica engajada.
J .-P. S. - Exato.
S. de B. - E quanto pintura, ao contrrio ... Quando o conheci, voc no a apreciava
tanto; depois pouco a pouco, voc se formou, apreciou muito e compreendeu
bem a pintura, e escreveu bastante a esse respeito. Pode explicar-me um pouco que
papel isso representou em sua vida? E por que esse contraste?
J .-P. S. - you comear pela msica porque a conheci muito cedo. Quanto pintura, vi
reprodues; no ia ao museu quando tinha cinco, seis, sete anos, e via reprodues
de quadros, particularmente no clebre dicionrio Larousse. Como muitas crianas, tive
uma cultura pictrica antes de ter visto um quadro. Mas nasci no meio da msica.
Houve um fato curioso, meu av se interessava muito por msica.
S. de B. - Seu av Schweitzer?
J .-P. S. - Sim, interessava-se por isso; escreveu uma tese sobre um cantor, um msico:
Hans Sachs.
S. de B. - E tambm houve uma obra de Albert Schweitzer sobre Bach.
J .-P. S. - Meu av apreciava muito esse livro e o relia com prazer. E, s vezes, meu av
compunha. Lembro-me de hav-lo visto compor, quando tinha quinze anos, em
casa de seu irmo Louis, o pastor. Comps coisas que faziam lembrar Mendeissohn.
S. de B. - Ele tinha algum parentesco com Albert Schweitzer?
J P. S. Ele era seu tio. Era irmo de seu pai.
S. de B. - E seu av estimava Albert Schweitzer?
J .-P. S. - Sim, mas no o compreendia muito bem. No tinha os mesmos problemas que
ele, e zombava um pouco dele.
S. de B. - Em suma, o grande msico da famlia era Albert Schweitzer.
293
#J .-P. S. - Sim. uando criana assisti a um recital de rgo que ele deu em Paris e ao
qual minha me me levou com minha av.
S. de B. - E sua me tambm era musicista. J .-P. S. - Boa musicista, sim. Tocava bem.
Tomara lies srias de canto, cantava muito bem. Tocava Chopin, tocava Schumann,
tocava trechos difceis; certamente era meno versada em msica do que meu tio
Georges, mas gostava muito de msica, e tarde - alis j narrei isso em Ls mots
- sentava-se ao piano e tocava para si mesma.
S. de B. - Voc tomou aulas de piano? J .-P. S. - Muito cedo; tomei aulas de piano por
volta dos dez anos, creio. Dez ou nove anos. S. de B. - E continuou at que
idade? J .-P. S. - Muito pouco tempo. Quando deixei Paris para ir para La Rochelle,
abandonei.
S. de B. - Ento como se explica que fosse realmente born em piano?
J .-P. S. - Aprendi sozinho. A partir do quarto ano havia o piano de minha me que
ficava no salo em casa de meu padrasto; nas horas em que no tinha nada para fazer,
enfiava-me no salo e tentava tocar rias de que me lembrava; e depois comprara ou
alugara operetas nos gabinetes de msica de La Rochelle. De incio, aprendia entamente
e com dificuldade. Mas era sensvel ao ritmo da msica. Depois, quando minha me
tornou a casar-se, passou a tocar muito menos porque meu padrasto no gostava
realmente
de msica. Mas, ainda assim, tocava nas horas em que eu j tinha regressado do liceu;
meu padrasto ainda no tinha chegado, e eu ficava ao lado dela, ouvia e tambm
tocava depois que ela se ia. Tocava primeiro com um dedo, depois com cinco e depois
com dez, at conseguir finalmente melhorar um pouco os dedos. No tocava depressa,
mas tocava todos os trechos. S. de B. - Tocava a quatro mos com sua me? J " s - Sim,
quartetos, a sinfonia de Franck. S. de B. - Tudo isso em arranjo para piano?
294
J .-P. S. - Sim. E constitui uma cultura musical que no era diferente da de minha me.
S. de B. - At quando tocou piano?
J .-P. S. - At dois anos atrs.
S. de B. - Em casa de Arlette?
J .-P. S. - Sim, em casa de Arlette.
S. de B. - Houve uma poca em que tocava muito:
quando estava na Rua Bonaparte em casa de sua me. Ainda vejo o banquinho de trelia
dourada. Voc se sentava ali e tocava, s vezes, durante uma hora, antes de
comear a trabalhar.
J .-P. S. - Isso me acontecia.
S. de B. - Muito frequentemente tocava, digamos, das trs s cinco, depois comeava a
trabalhar s cinco horas. No incio, quando ainda sabia tocar um pouco de piano
- sempre toquei muito, muito mal, mas houve uma poca em que ainda sabia tocar um
pouco - ns tocvamos juntos a quatro mos.
J .-P. S. - Sim, um pouco.
S. de B. - Mas no muito, porque voc tocava infinitamente melhor do que eu. Voc
tocava Chopin. E depois, quando deixou de morar com sua me, j no tinha piano.
J .-P. S. - E preciso distinguir perodos. Toquei ento em casa de minha me, em casa de
meu padrasto, em Saint-Etienne, at treze, quatorze anos. Quando fui para
Paris, onde era interno, tocava em casa de meus avs. Havia um piano que no prestava.
Minha av tocava um pouco; s vezes, se sentava ao piano, apesar de tudo,
tocava algumas notas. Meu av no tocava. Ento, quando regressava do liceu, sbado e
domingo, o piano era uma grande alegria. Eu tocava. Adaptei sozinho as mos,
sto , toco mal, cometo erros de tempo e no tenho mos geis quando se trata de uma
passagem rpida; mas saiome bem com Chopin, Franck, Bach.
S. de B. - Voc absolutamente no tocava mal, claro que no era um virtuose, mas no
tocava mal.
J .-P. S. - Isso veio pouco a pouco, na medida em que tocava. Minha me me fez estudar
um pouco, minha
295
#av tambm. Tocava em casa de minha av: lembro-me ainda de uma verso para
piano a duas mos das sonatas para piano e violino de Beethoven. E Schubert, um
pouco
de Chopin. Precisei de um pouco de tempo para toclos. Mas a msica realmente me
agradava.
S. de B. - Voc ia a concertos? Tinha discos?
J .-P. S. - No tinha discos. Naquela poca eram bastante ruins, e, alm disso, escutar
discos no fazia o gnero de minha famlia. Mas ia a concertos, aos domingos,
s vezes com minha av, s vezes com meu av. Havia os famosos concerts rouges que
se realizavam creio que na Rua Seine. Fui l com meu av, era um lugar onde se
ofereciam cerejas com eau-de-vie no intervalo.
S. de B. - Era msica clssica?
J .-P. S. - Sim, msica clssica. E os msicos eram bons. Tocavam bem. Naquela poca,
eu s conhecia msica clssica.
S. de B. - Tambm msica de opereta, segundo disse.
J .-P. S. - Sim, mas quero dizer que conhecia mal a msica mais recente; absolutamente
no a conhecia; um pouco, Dbussy.
S. de B. - Depois que nos conhecemos, assistamos com muita frequncia, quase todos
os anos, srie de quartetos de Beethoven na Sala Gaveau.
J .-P. S. - Sim, l estivemos pelo menos duas vezes.
S. de B. - Estvamos muito preocupados em saber se no havia algum grande msico
que desconhecamos. De fato, havia alguns que ignorvamos totalmente:
particularmente,
a escola vienense.
J .-P. S. - E Bela Bartk.
S. de B. - Creio que voc descobriu Bela Bartk na Amrica.
J .-P. S. Sim.
S. de B. - E um pouco mais tarde, ou na mesma poca, Leibowitz nos iniciou um pouco
na msica atonal. J .-P. S. - Sim, depois da guerra.
S. de B. Depois da guerra, descobrimos Bartk, Prokofiev.
296
J .-P. S. - Sim; nunca gostei muito de Prokofiev.
S. de B. - Nem eu; mas, enfim, um dos primeiros modernos que ouvimos.
J .-P. S. - Foi principalmente Bartk e depois a escola atonal que descobrimos.
S. de B. - Quando morava na Rua Bcherie, comprei uma vitrola.
J .-P. S. - Uma vitrola grande.
S. de B. - Foi Vian que me ajudou a escolher. Ali escutavam-se ainda discos de 78
rotaes, discos que duravam cinco minutos. Escutamos muitas coisas. Entre outros,
Monteverdi; depois, surgiram os long-plays e comprei outra vitrola.
J .-P. S. - E voc tinha uma bela coleo de discos.
S. de B. - Ento, comeamos a ouvir seriamente Berg, Webern etc. Depois, outros ainda
mais modernos. Digo ns porque, em geral, ouvamos juntos. Comeamos ento
a ouvir Stockhausen e depois Xenakis, e depois todos os grandes modernos. A msica
muito importante para voc. Ento, como se explica que nunca tenha tentado (e,
no entanto, voc me explicou muito bem a msica atonal e em especial o
dodecafonismo), como se explica que, apreciando, compreendendo, vivendo na msica,
voc nunca
tenha tentado realmente escrever sobre a msica?
J .-P. S. - Creio que no me compete falar sobre msica. Posso falar sobre coisas da
literatura bastante distantes de mim, mas de toda maneira escrevo, essa a minha
profisso, minha arte, tenho portanto o direito de interrogar-me publicamente sobre uma
obra literria. Mas, quanto msica, creio que quem deve faz-lo so os
msicos ou os musiclogos.
S. de B. Alis, deve ser muito difcil falar sobre msica: quase todo mundo fala muito
mal sobre ela. No h nada mais aborrecido do que a crtica musical em
geral. Leibowitz, em Ls Temps Moderns, no falava mal. Os Massin escreveram um
livro muito born sobre Mozart.
J .-P. S. - Muito bom, sim.
297
#S. de B. - Mas, em geral, aproximativo, como se a linguagem da msica no pudesse
ser transcrita.
J .-P. S. - A msica uma linguagem por si mesma.
S. de B. - Voc sabia rudimentos de teoria?
J .-P. S. - Aprendi.
S. de B. - Solfejo, harmonia?
J .-P. S. - Sim, quando tinha oito, nove anos, aprendi isso.
S. de B. - Ento era muito rudimentar. J .-P. S. - Sim. Mas depois li obras de tericos
sobre o contraponto.
S. de B. - Mas, ento, como explica que tenha
compreendido to bem o atonalismo, o dodecafonismo?
Tinha o ouvido habituado a escut-lo? Porque, quanto a
mim, no compreendia nada.
J .-P. S. - Ser que compreendi isso to bem assim? S. de B. - Bem, de toda maneira,
explicou-me
uma quantidade de coisas.
J .-P. S. - Compreendi os rudimentos, mas quanto ao sentido precisei de muito tempo.
S. de B. - Volto minha pergunta: por que escreveu o artigo sobre a msica engajada?
J .-P. S. - ueria opinar, j que ouvia msica; quera escrever algo sobre a msica, sim.
Quando Leibowtz me pediu que fizesse o prefcio, achei muito natural faz-lo.
S. de B. - Voc me diz: "Creio que no me competia falar sobre msica, isso cabia aos
msicos." Mas por que pensou, em determinado momento, que lhe competia falar
sobre pintura?
J .-P. S. - Isso veio muito mais tarde, Tomei conhecimento de determinados quadros na
primeira vez que entrei no Louvre; tinha dezesseis anos, estava em Paris, meu
av me levou ao Louvre, mostrou-me os quadros, comentando-os com discursos um
tanto interminveis e aborrecidos. Mas, de toda maneira, isso me interessou;
retornei sozinho quando no primeiro ano, em filosofia. Levei l at uma mocinha, uma
prima de Nizan; uma ga-
298
rota loura para quem eu j sabia falar de quadros. Creio que de uma maneira cmica,
mas sabia falar a respeito. Mas no tinha por trs de mim uma famlia com valores
seguros em pintura, como os tinha em msica. Em minha famlia no se preocupavam
com pintura.
S. de B. - E seus colegas? Nizan, sobretudo, mas tambm Gruber, que era irmo de um
pintor?
J .-P. S. - Gruber jamais falava sobre isso.
S. de B. - Nizan no entendia muito de pintura.
J .-P. S. - De qualquer forma, Nizan estudava a pintura mais ou menos como eu. Isto ,
no a conhecia aos quinze anos, aos dezesseis esteve no Louvre, viu os quadros
e tentou compreend-los. Mas no amos l juntos, a no ser muito raramente. Eu ia
sozinho.
S. de B. - E, de qualquer forma, voc s via pintura clssica, nunca ia a exposies de
pintura moderna.
J .-P. S. - Nunca. Sabia que existia uma pintura moderna, mas ...
S. de B. - Voc chegava at onde? Chegava, naturalmente, at o impressionismo.
Czanne, Van Gogh.
J .-P. S. - Czanne, Van Gogh, sim. Meu av deve ter-me falado de Czanne.
S. de B. - Pouco a pouco voc se formou, viajou, viu quantidades de coisas; a esse
respeito fizemos muito nossa educao juntos.
J .-P. S. - Foi voc quem me descobriu a pintura moderna.
S. de B. - No a conhecia muito, mas enfim, sob a influncia de J acques, conhecia um
pouco Picasso, um pouco Braque ...
J .-P. S. - Quanto a mim, absolutamente no os conhecia, portanto aprendi-os atravs de
voc ...
S. de B. - A Itlia, a Espanha, ajudaram-nos a fazer nossa educao. Fernand Grassi
comeava a pintar; em Madri no estava inteiramente de acordo conosco; achava
que gostvamos demais de Bosch e no suficientemente de Goya. E continuo gostando
da mesma maneira de Bosch, alis, mas de fato gosto muito mais de Goya do que
gostava.
Grassi achava que havia algo que
299
#no tnhamos captado em Goya. Tinha razo Ento pouco a pouco, voc atribuiu muita
importncia pintu-' r. Estivemos em inmeras exposies Picass, Klee etc Mas
como teve a audcia, no sendo pintor, de falar em minha opinio muito bem, sobre
pintura? De quem falou, aias? Recapitulemos um pouco. De Wois, de Giaco-
J .-P. S. De Calder tambm. De Klee, no num artigo especial, mas em artigos sobre
Giacometti e sobre Wols. De Tmtoretto.
S. de B. - Volto a minha pergunta: por que lhe pareceu inteiramente normal e fcil
escrever sobre a pintura, enquanto a msica era um tabu?
J .-P. S. - Pensava que no que se referia msica era preciso ter uma cultura de
musiclogo. Conhecer o
aTl0' T tudo que h POT trs das bras, antes de falar delas. Era possvel desfrut-la,
tirar prove
to dela, como eu fazia, mas para saber o que significava era preciso ter uma cultura
maior do que a minha
int r ? E como teve vontade de falar a
_ J .-P. S. - Tive uma experincia de pintura sem relao com a histria da pintura; vi um
quadro que me
tinha que ser explicado Foi em Colmar, quando
S. de B. - Ah sim? Foi um dos quadros de que voc mais gostou, de Grnewaid J .-P. S. -
Sim.
S. de B. - Ah simi Havia um outro quadro de que voc gostava muito, era a Piet de
Avignon.
J .-P. S. - Tambm o conheci antes de saber algo sobre pintura, porque estava no Louvre
numa sala por onde passava; via esse quadro e gostava muito dele. Isso i
antes mesmo de conhec-la.
?'<?' Foi voc quem me mostrou Grnewaid um livrode Huysman se podia dizer a
respeito lendo
'deB' ysmans falava sobre Grnewaid? J . -r. . - Sim, longamente, em A rebours.
300
S. de B. - interessante; porque voc jamais achou um escrito literrio que lhe desse
vontade de falar da msica.
J .-P. S. - J amais.
S. de B. - H uma nica pessoa que fala bastante bem de determinada obra musical:
Proust; mas muito subjetivo. Ao passo que, efetivamente, escreveram-se livros
muito melhores, em minha opinio, sobre a pintura do que sobre a msica. Ah, bemi
Voc tinha ento lido o livro de Huysmans. E pensou que um literato podia escrever
sobre pintura.
J .-P. S. - Sim, ele falava muito bem, pelo menos para a poca. Colocava problemas,
descrevia os quadros. Mesmo antes de conhecer o quadro de Grnewaid, conheci o
Huysmans sobre Grnewaid, li pois sobre Grnewaid sem conhec-lo. Era durante a
guerra, e no se podia ir Aiscia; foi depois da guerra que conheci esse quadro.
Entrementes, lera pginas e pginas de Huysmans sobre Grnewaid.
S. de B. - E qual o primeiro artigo, o primeiro ensaio que escreveu sobre a pintura?
Citamo-los ainda h pouco, mas fora de ordem. Qual o primeiro?
J .-P. S. - Deve ser Calder.
S. de B. - Sim. Seu artigo sobre Calder deve ser de
1946, 1947. Voc o fez para uma exposio de Calder em Paris. Calder no
inteiramente pintura, mas pouco importa. Depois, qual foi o primeiro: Giacometti ou
Wols?
J .-P. S. - Giacometti. Muito antes de Wols.
S. de B. - Voc escreveu primeiro sobre suas esculturas ou sobre suas pinturas?
J .-P. S. - Primeiro sobre suas esculturas. Durante muito tempo, Giacometti s foi, para
mim, um escultor, e foi depois que apreciei sua pintura.
S. de B. - Alis, de qualquer maneira, o que ele fez de mais belo so algumas de suas
esculturas.
J .-P. S. - Certamente, mas h quadros seus de que gosto muito.
S. de B. - Voc e Giacometti eram amigos, voc falava muito nele, e havia, em sua
maneira de compre-
301
#ender a escultura, algo que combinava com suas prprias teorias sobre a percepo e
sobre o imaginrio.
J .-P. S. - Sim, ns nos compreendamos. E ele me
explicava a escultura, explicando-me sua escultura. Ento escrevi sobre ele.
S. de B: - De certo modo, voc se inspirava nele Mas era, no entanto, inteiramente
pessoal. Mas e Tintoretto? Voc me disse que isso foi ocasional. Mas ainda
assim, a ideia de escrever um grande livro sobre um pintor ...?
J .-P. S. - Isso me tentava. E Tintoretto parecia-me interessante, porque sua evoluo se
fizera atravs de Veneza, independentemente de Florena, que era to importante,
e de Roma. Havia uma pintura veneziana que eu apreciava muito mais do que a
florentina. E explicando o que era Tintoretto, podia-se tambm explicar o que era a
pintura
veneziana. E, tambm, parecia-me que Tintoretto havia estudado as trs dimenses num
quadro O que, para mim, era novo, porque um quadro, apesar de tudo, e plano,
e as dimenses so imaginrias. Mas o que me orientou para um estudo sobre Tintoretto
foi o ato de se haver ele ocupado do espao, do espao com trs dimenses,
com tal tenacidade e fora.
S. de B. - O que voc est dizendo me sugere uma ideia. Ser que voc preferiu escrever
antes sobre a pintura do que sobre a msica, porque a msica, na verdade,
e o reflexo de seu tempo, da sociedade de seu tempo mas de uma maneira to distante,
to indireta, to dicil de captar, que parece quase que independente dele ao
passo que a pintura realmente uma imagem quase
uma emanao da sociedade? No ser essa uma das raes?
J .-P. S. - Sim. O Tintoretto Veneza, embora ele no pinte Veneza.
S. de B. - Talvez seja um pouco por isso que voc escreveu sobre a pintura.
J .-P. S. - Certamente. A msica muito mais difcil de situar.
302
S. de B. - Bem, o que que voc ainda acha que tem a dizer sobre o assunto?
J .-P. S. - A pintura e a msica sempre existiram para mim, e ainda existem. A pintura,
atualmente, me est vedada, j no a posso ver.
S. de B. - Sim, h um ano.
J .-P. S. - (uanto msica, j no posso toc-la, pelas mesmas razes. Mas posso ouvi-la.
O rdio, discos.
S. de B. - H algo que faz parte da cultura - falamos um pouco sobre a msica, a
pintura, a escultura - e so as viagens. Voc fez muitas. Sonhou muito com elas
em sua juventude, fez vrias comigo, sem mim. Pequenas, fceis, a p, de bicicleta, de
avio etc. Gostaria que me falasse delas.
J .-P. S. - Minha vida devia ser uma srie de aventuras, ou antes, uma aventura. Era
assim que a via. A aventura se passava um pouco em todo lugar, mas raramente
em Paris, porque em Paris raro que se veja surgir um pele-vermelha com penas na
cabea e um arco nas mos. Assim, a necessidade de aventuras obrigavame a situ-las
na Amrica, na frica, na sia. Esses eram continentes feitos para a aventura. O
continente europeu proporcionava poucas oportunidades. Ento, comecei a imaginar
que iria para a Amrica, que lutaria com os marginais, teria xito, venceria alguns deles.
E sonhei muito com isso. Igualmente, quando lia romances de aventuras,
com jovens heris de avio, ou dirigvel, que iam para pases que eu mal podia
imaginar, sonhava em ir para l tambm. Sonhava em atirar nos negros que comiam seu
prximo, ou nos amarelos, que eram culpados por serem amarelos.
S. de B. Ento, nessa poca, voc era racista? J .-P. S. - No exatamente, mas eles
eram amarelos e me diziam que haviam realizado os piores massacres, horrores,
torturas; assim, eu me via o valente defensor, contra os amarelos, de uma jovem
europeia que se encontrava na China contra a sua vontade. O que os romances de
aventuras
me trouxeram, e sou-lhes muito grato por isso,
303
#foi um gosto por toda a Terra. Pensava muito pouco que era francs; pensava nisso por
momentos, mas pensava tambm que era um homem para quem toda a Terra, no
direi que lhe pertencia, mas era o lugar de sua vida, era um lugar familiar. E pensava
que, mais tarde, me encontraria na frica ou na sia, apropriando-me daqueles
lugares por minhas aes. Portanto, a ideia da Terra toda, que muito importante,
ligava-se um pouco ideia de que a literatura era feita para falar do mundo;
o mundo era mais vasto do que a Terra, mas de certa maneira era a mesma coisa. E a
viagem me asseguraria tais posses. Chamo a isso 'posses' porque penso na criana
que eu era, mas no o chamaria assim atualmente. E creio, alis, que no eram
exatamente posses, era uma determinada relao do homem com o lugar aonde est
nesse
momento, que no uma relao de posse - obter rendimentos, ganhar dinheiro, achar
um tesouro - mas uma determinada maneira de extrair do solo, da natureza, coisas
que nunca vi e que you ver como estando l, para mim, e sendo eu modificado por elas.
S. de B. - Em suma, um enriquecimento da experincia.
J .-P. S. - Sim. Aquilo foi ento o incio da ideia de viagens e, desde ento, fui um
viajante em potencial. Quando voc me conheceu ...
S. de B. - Voc queria ir aos bas-fonds de Constantinopla.
J .-P. S. - Sim.
S. de B. - Mas voc viajara um pouco antes de conhecer-me?
J .-P. S. - Ao estrangeiro jamais, a no ser Sua. amos l porque meus avs e minha
me iam a estaes termais, como Montreux, por exemplo.
S. de B. - Mas isso no lhe dava uma impresso de viagem.
J .-P. S. - No.
S. de B. - Dava-lhe uma impresso de vilegiatura. Ser que o fato de haver solicitado
um lugar no J apo ligava-se a isso?
304
J .-P. S. - Mas claro Esse cargo no J apo estava livre, ofereciam-no. No que tenha
pedido para ir. O diretor da Escola recebera a misso de escolher um aluno
que quisesse ir para o J apo e que assumiria, em Kyoto, o cargo de professor de francs
numa escola japonesa. Candidatei-me. Isso me parecia absolutamente normal.
Quando voc me conheceu ...
S. de B. - Cogitava-se de que nos separssemos para que voc passasse dois anos no
J apo. E voc ficou muito triste por no ter ido ...
J .-P. S. - Foi Pron quem foi para l, porque se preferiu um professor de lnguas para
ensinar francs, o que de certa maneira compreensvel. Ento, a primeira
viagem que fiz foi a que fizemos juntos 'a Espanha. E era uma grande festa para mim,
era o comeo das viagens.
S. de B. - Foi graas a Grassi. Porque ns pensvamos, modestamente, em ir
Bretanha, influenciados por Nizan, que nos aconselhara a faz-lo. E Grassi disse:
"Mas ouam, vocs ficam hospedados em minha casa em Madri, fcil, venham, no
to caro, podemos dar um jeito." O que sentiu ao cruzar a fronteira?
J .-P. S. - Isso me transformou em grande viajante. Do momento em que atravessava
uma fronteira, podia atravessar todas e conseqentemente tornava-me um grande
viajante.
Como se chama a fronteira?
S. de B. - Creio que a cruzamos em Figueras. No bem a fronteira, mas foi l que
descemos do trem.
J .-P. S. - Foi l que vimos os primeiros carabineiros e ficamos encantados. Estvamos
muito satisfeitos por
estar em Figueras.
S. de B. - Ah! Evoco isso como uma noite maravilhosa, embora Eigueras seja horrvel,
os arredores nada bonitos voltei a passar por l este ano - , instalamonos
numa pequena pousada e estvamos muito felizes. Apesar de tudo, no era
absolutamente a viagem com a qual voc sonhara. Porque era uma viagem comigo ...
J .-P. S. - Ah! Isso era muito bomi
S. de B. - Mas no tinha de modo algum o lado aventuroso que voc esperara. Era uma
viagem muito
305
#sensata, uma viagem de jovens universitrios de poucos recursos.
J .-P. S. - Esse lado aventuroso existia em meus sonhos, eliminei-o progressivamente. A
partir da segunda viagem, j no existia. E quando estive no Marrocos, onde
meus pequenos heris haviam realizado tantos combates brilhantes, perdera
completamente a ideia de que algo me sucederia. E, efetivamente, nada nos aconteceu.
S. de B. - Ento ...?
J .-P. S. - A viagem a descoberta de cidades e de paisagens, em primeiro lugar. As
pessoas vieram depois. Pessoas que no conhecia. Eu saa da Frana, que tambm
no conhecia, alis, ou conhecia muito pouco. Na poca, no conhecia a Bretanha.
S. de B. - Voc no conhecia quase nada da Frana, e eu tampouco.
J .-P. S. - A Cote d'Azur.
S. de B. - Voc conhecia a Aiscia.
J .-P. S. - Sim, um pouco. Conhecia Saint-Raphal.
S. de B. - Durante esses primeiros anos estivemos na Espanha, em seguida na Itlia,
depois fizemos uma viagem pela Frana, a seguir estivemos no Marrocos espanhol
no fim da segunda viagem Espanha e depois no Marrocos; so nossas viagens de antes
da guerra. Tambm pela Grcia. O que lhe proporcionava isso?
J .-P. S. - Em primeiro lugar, era cultural. Por exemplo, quando ia a Atenas, ou quando
ia a Roma, bem, Roma era a cidade de Nero e de Augusto, Atenas era Scrates,
era Alcebades. Decidamos a viagem em funo da cultura. Na Espanha havia Grassi
que era amigo nosso, que nos convidou; isso tinha outra importncia. Mas, de qualquer
maneira, o essencial que se tratava de Sevilha, de Granada, de Alhambra, de uma
corrida de touros etc.; uma quantidade de coisas assim. E eu queria compreender
e encontrar tudo o que me haviam dito, no no liceu, mas o que me haviam dito os
autores que amava. No gostava especialmente de Barres, mas de toda maneira ele
falara de Toledo, de El Greco. Era preciso
306
que visse o que me dera a leitura de Barres com relao a El Greco, por exemplo.
S. de B. - Voc est misturando um pouco. As corridas de touros no so o mesmo que
um templo grego ou a pintura. Aquilo era uma maneira de mergulhar no pas, na
multido do pas, e isso tambm era importante.
J .-P. S. - A corrida de touros tinha uma enorme importncia.
S. de B. - Voc achava que era preciso ser moderno' na maneira de viajar.
J .-P. S. - Sim.
S. de B. - uero dizer, por exemplo, quando Guille ficava em Alhambra, em Granada,
voc achava - com razo - que era preciso tambm ir cidade l embaixo.
J .-P. S. - E ver os espanhis.
S. de B. - Ver a vida no presente. Lembro-me de discusses com Guille em Ronda; voc
se irritava porque s se viam coisas passadas, mortas, palcios de aristocratas,
a cidade no tinha, para voc, vida no presente. Em compensao, sentiu-se muito feliz
em Barcelona porque l estvamos mergulhados num burburinho vivo.
J .-P. S. - Vimos grevistas espanhis fazendo a greve. Sim. Lembro-me do golpe de
Estado do General San Giorgio em Sevilha.
S. de B. - No durou muito tempo. Foi preso j no dia seguinte.
J .-P. S. - Sim, mas vimos o general num carro aberto. Era conduzido pelo prefeito ...
S. de B. - Isso ento se encaixava um pouco com seus sonhos de aventuras.
J .-P. S. - Ah, sim. Tinha algo de aventuroso.
S. de B. - No entanto, ns no corramos nenhum risco.
J .-P. S. - No corramos nenhum risco, mas na hora fomos envolvidos pelo
acontecimento. De toda maneira, tivemos contatos com as pessoas.
307
#S. de B. - Corremos com a multido. Havia aquela senhora que estendia os braos
dizendo: " muito estpido, muito estpido." O fato de estar numa terra estranha
significava algo para voc?
J .-P. S. - As corridas de touros e coisas que tais no eram uma coisa simplesmente
cultural. Era algo muito mais misterioso e muito mais forte do que um simples
encontro na rua ou um acidente a que eu tivesse assistido na rua. Aquilo sintetizava uma
quantidade de aspectos do pas. Era preciso pesquisar, pensar sobre a corrida
de touros e tentar encontrar seu sentido.
S. de B. - Havia tambm o gnero de desambientao que pode proporcionar sabores
diferentes: o que comamos, o que bebamos.
J .-P. S. - Certamente. Lembro-me, na Itlia, dos doces italianos. Falamos muito sobre
eles.
S. de B. - Sim.
J .-P. S. - At escrevi a respeito.
S. de B. - Sim, lembro-me de que voc associava, por exemplo, os palcios de Gnova e
o gosto dos doces italianos, sua cor. Lembro-me que em Londres, tambm, voc
tentara fazer uma sntese do que era Londres. Evidentemente, muito precipitado ...Mas
voc tentava captar o conjunto. Havia grandes diferenas entre ns. Eu queria
sempre ver, ver tudo. E voc achava que tambm era born impregnar-se, sem fazer
nada, ficar, por exemplo, fumando seu cachimbo numa praa. E que no fundo voc
captaria
a Espanha, dessa maneira, to bem quanto se fosse ver mais duas igrejas.
J .-P. S. - Incontestavelmente. Alis, mantenho meu ponto de vista.
S. de B. - Atualmente mais ou menos o meu.
J .-P. S. - Sim, de fato, fumar o cachimbo na Praa Zocodover era uma atividade que me
agradava.
S. de B. - E em Florena, por exemplo, eu estava realmente louca naquele momento, era
eu quem viajava mal. Em Florena, depois que havamos almoado, por volta das
duas da tarde, voc no queria sair antes das cinco horas. Estudava alemo, porque
queria ir para Ber-
308
lim no ano seguinte. E eu saa, ia ver das trs s cinco mais igrejas, mais quadros, mais
coisas, no parava. Em suma, voc gostou muito de fazer viagens a que chama
viagens de ordem cultural. H uma dimenso da qual no falamos: apesar de tudo havia
uma dimenso poltica em todas essas viagens.
J .-P. S. - Ah era vaga, ento.
S. de B. - Muito vaga; mas ainda assim ramos sensveis atmosfera.
J .-P. S. - Sim.
S. de B. - uando da viagem Espanha: a Repblica, o advento da Repblica; na viagem
Itlia, ao contrrio, o fascismo. Na Alemanha, onde voc foi passar uma temporada,
onde viajamos juntos, o nazismo. E na Grcia era Metaxas; no o sentamos muito, mas,
de toda maneira, aquilo existia para ns.
J .-P. S. - Sim, aquilo existia; encontrvamos nas esquinas um cidado que
absolutamente no compartilhava nossas ideias e s vezes at a divergncia podia ir
longe.
Senti isso sobretudo na Itlia. A presena do fascismo era realmente muito forte.
Lembro-me de uma noite, na Praa Navona, em que estvamos sentados devaneando;
e dois fascistas vestidos de preto, com seu barrete, apareceram e nos perguntaram o que
fazamos ali, e solicitaram peremptoriamente que regressssemos ao hotel.
Encontrvamos fascistas por toda a parte nas esquinas.
S. de B. - E lembro-me que, tambm em Veneza, encontramos camisas marrons alems.
Isso nos era muito desagradvel. Mais desagradvel ainda porque voc pensava ir
no ano seguinte exatamente para a Alemanha.
J .-P. S. - Sim, revejo bem essas camisas marrons. Tambm sentimos Metaxas, mas
como no sabamos exatamente o que queria, j estvamos pouco informados, ele no
nos incomodava muito.
S. de B. - De qualquer maneira, lembro-me que vimos uma priso em Nuplia. Vimos
um grego que nos disse:
"Todos os comunistas gregos esto reunidos ali dentro." com muito orgulho. E era uma
priso cercada de cactos.
309
#uais so suas lembranas mais marcantes daquela poca? Estivemos duas vezes na
Itlia.
J .-P. S. - Sim, duas vezes. Na Espanha tambm. S. de B. - A Espanha nos pareceu mais
viva.
J .-P. S. - Por causa dos fascistas, a Itlia estava contrafeita, rgida, com os valores do
passado desaparecidos ou provisoriamente abandonados; e, alm disso,
os italianos pareciam maus. Como estavam reunidos em torno do fascismo, no se
sentia simpatia por eles, e eles no davam ocasio para tal. No se tinha muito contato
com as pessoas do campo ou da cidade. Havia sempre essa opresso fascista.
S. de B. - O que mais lhe sugerem essas primeiras viagens?
J .-P. S. - Sem dvida alguma, deixavam-me louco de alegria. Acrescentavam uma
dimenso. Tinha-se a impresso de ter mais uma dimenso, uma dimenso exterior, uma
dimenso no mundo. A Frana tornava-se um invlucro que nos comprimia.
S. de B. - Sim, j no era o centro absoluto. Creio que a viagem ao Marrocos tambm o
mobilizou muito.
J .-P. S. - Aquilo ento era completamente um outro mundo, outras concepes culturais,
outros valores. Havia os herdeiros de Lyautey e tambm o sulto ...E ns franceses,
de um modo geral, tnhamos contato com franceses. No morvamos na cidade rabe.
S. de B. - Estvamos muito separados. Mas em Fez, por exemplo, s saamos da cidade
rabe para dormir.
J .-P. S. - No foi em Fez que fiquei doente?
S. de B. - Sim.
J .-P. S. - O que tinha j ento?
S. de B. - Bem, ns tnhamos comido pratos locais, excelentes, e samos, dizendo: "
extraordinrio que tenhamos comido quatro ou seis pratos que devem ser pesados,
que podiam ter-nos esgotado, e que no nos fizeram mal." At discutimos: "Foi porque
no bebemos vinho, no comemos po;" e a voc foi deitar-se e teve
310
uma crise de fgado que o obrigou a ficar de cama mais ou menos durante trs dias.
J .-P. S. - Lembro-me.
S. de B. - Tem outras lembranas que lhe dem prazer?
J .-P. S. - Viajamos pela Grcia com Bost, foi uma viagem muito agradvel. Muitas
vezes dormamos ao ar livre, como em Delos, por exemplo; e tambm numa ilha onde
vimos o teatro grego de fantoches.
S. de B. - Creio que se refere a Siras?
J .-P. S. - A Siras. E tambm ao campo grego. Dormamos ao ar livre com prazer.
S. de B. - Oh! dia sim, dia no, creio.
J .-P. S. - Dia sim, dia no, sim.
S. de B. - Sem barraca, sem nada. E especialmente naquela cidade muito bonita, cujo
nome esqueci, uma cidade muito bonita perto de Esparta onde h igrejas bizantinas
com afrescos. Dormimos numa igreja; quando acordamos, pela manh, havia uma
quantidade de camponeses em torno de ns. Mas sou eu que estou falando, quando
deveria
ser voc.
J .-P. S. - No, falamos juntos, um perodo que vivemos juntos. Em resumo, eram
viagens sem fatos curiosos. Fazamos o que havia a fazer, tranquilamente; vamos
as pessoas do exterior. Eram viagens que da perspectiva de Paris pareciam burguesas,
mas que no eram tanto assim quando se estava no pas. Por exemplo, dormamos
ao ar livre.
S. de B. - Sim, porque no tnhamos dinheiro.
J .-P. S. - Ento aquelas pessoas percebiam isso, o que nos colocava imediatamente
numa categoria mais p pular.
S. de B. - S que estvamos muito isolados pela ignorncia da lngua. Foi apenas na
Espanha, exatamente, que tivemos algum do pas que nos levava a passear, contava-
nos
histrias, mostrava-nos os cafs, mostrava-nos Valle-Incln. Nossa primeira viagem
Espanha foi assim.
311
#J .-P. S. - Graas a Grassi. Na Itlia, as coisas mais ou menos funcionavam, eu tinha
comeado a aprender italiano.
S. de B. - Sim, dvamos um jeito. Mas no tnhamos realmente conversas. No nos
encontrvamos nem com intelectuais, nem com polticos; certamente estvamos
isolados
dos fascistas. E mais tarde, a Amrica? Isso era outra coisa.
J .-P. S. - Sim; digamos que h uma terceira categoria de viagens. A primeira - que
nunca fiz- uma viagem de aventuras; as viagens que nos cabiam por nossa condi
co eram as viagens culurais, e fizemos muitas; e depois, em consequncia dos
acontecimentos histricos que ocorreram a partir de 1945, comeamos a fazer viagens:
nunca viagens polticas propriamente ditas - mas viagens, em parte, polticas. Ou seja,
num terreno qualquer, tentando compreender o pas no plano poltico.
S. de B. - Viagens nas quais j no ramos simplesmente turistas isolados, mas nas
quais tnhamos contatos com as pessoas do pas. Isso foi uma coisa muito importante.
Falemos ento da viagem Amrica.
J .-P. S. - Havia pensado muito na Amrica, porque ... em primeiro lugar, quando
criana, os Nick Crter e os Buffalo Bill me remetiam a uma determinada Amrica,
que depois conheci melhor atravs dos lmes; li os romances do grande perodo
moderno, isto , tanto Dos Passos quanto Hemingway.
S. de B. - Houve tambm o jazz. Veja, no tocamos nisso quando falamos do seu amor
pela msica. O jazz foi muito importante para voc.
J .-P. S. - Muito.
S. de B. Era a primeira viagem que voc fazia em grupo, no num grupo de turistas
como vemos nos nibus, mas com uma equipe de jornalistas; e era tambm a primeira
viagem que voc fazia com um objetivo preciso, ou seja, escrever artigos. Voc tinha
que fazer artigos para o Figaro; de certa maneira, realizava a viagem na qualidade
de reprter.
312
j .p _ sim, ia com jornalistas experientes, acostumados a fazer reportagens. Andr
Violiis estava entre ns.
S. de B. - E tambm no era a primeira vez que
voc viajava de avio?
j .p s. - Sim, era a primeira vez; tomei um avio
militar, pilotado por um militar.
S. de B. - E que sentiu? Teve medo ou no? T .p. s. - Nem na decolagem, nem na
aterrissagem.
S. de B. - E enquanto estava no arr j .p . - Sentia-me mais intranqilo no ar, mas, de
qualquer maneira, no muito. No fiquei muito impressionado. Foi o mesmo com
o avio que os americanos colocaram a nossa disposio e que nos levou por toda a
Amrica: tambm no me deu medo.
S. de B. - Mas ento, que dimenses diterentes o
fato de faz-la assim deu sua viagem?
j .p _ Era uma viagem totalmente diferente
para mim. Fazia-se uma viagem por trem; passava-se de um pas a outro. Essa espcie
de jaula de vidro na qual sobrevoei os oceanos fazia uma enorme diferena; tinha
um carter completamente diferente do cruzamento da fronteira comum; e a ferocidade
dos funcionrios da alfndega na fronteira americana no tinha nada em comum
com a condescendncia da maioria das fronteiras europeias.
S. de B. - Os funcionrios da alfndega eram erozes? ,
j .p s. - Muito ferozes. Refiro-me sobretudo polcia. ,
S. de B. - Mas o fato de estar num grupo de convidados no facilitou as coisas?
J .-P. S. - No. Eles examinaram nossas malas e h-
zeram todas as perguntas de rotina.
S. de B. - O que havia de diferente nessa viagem? J .-P. S. - Era organizada. No s no
sentido de que ramos uma pequena organizao de sete membros, mas tambm
porque dependia do servio de guerra.
313
#S. de B. - Tratava-se de mostrar-lhes o esforo de guerra da Amrica.
J .-P. S. - Pouco me importava o esforo de guerra da Amrica. O que eu queria era ver a
Amrica.
S. de B. - Certamente.
J .-P. S. - E fiquei muito grato a eles, porque nos mostraram toda a Amrica, e o esforo
de guerra estava em segundo plano.
S. de B. - O que lhe mostraram em termos de esforo de guerra?
J .-P. S. - Por exemplo, uma fbrica de armamentos.
S. de B. - Portanto, era uma viagem em que voc via, em princpio, um pas em vida,
um pas em movimento.
J .-P. S. - Em princpio, porque quando vi a T. V.A.* de Roosevelt, no era to
importante conhecla do ponto de vista da guerra.
S. de B. - Sim, mas era um conhecimento sobre economia. J no se tratava, como
antes, de quadros, de monumentos, de paisagens.
J .-P. S. - E depois, em Nova Iorque, levaram-nos a uma sala de projeo, e durante
vrios dias passaram para ns os grandes filmes americanos feitos desde a guerra
e que ns no tnhamos visto. Isso era mais cultural.
S. de B. - Alis devia ser fantstico.
J .-P. S. - Era entusiasmante.
S. de B. - Onde estava hospedado em Nova Iorque?
J .-P. S. - No Plaza.
S. de B. - Eram bem tratados?
J .-P. S. - Chegamos a Nova Iorque noite, s dez horas, no estvamos sendo esperados
para aquela hora. Tnhamos passado pela alfndega, no havia ningum l para
dizer aos funcionrios que no nos incomodassem muito. Deram-nos nossa bagagem e
nos instalaram num
* Sigla de Taxe Ia valeur ajoute. (N. do T.)
314
canto de uma grande sala de espera. Naquela poca no era ainda Idiewild.
S. de B. - Sim sei, era... La Guardi.
J .-P. S. - ramos sete l, s dez da noite, sentados ao lado de nossa bagagem que, alis,
era pouco numerosa, cada um tendo apenas uma mala, e aguardvamos. Finalmente,
o responsvel pelo grupo, que procurava eximr-se de tal o mais possvel, disse: "Vou
telefonar." Ele tinha um nmero de telefone que lhe haviam dado em Paris. Telefonou,
atenderam-lhe com muita surpresa, visto que no esperavam o avio para aquela noite,
dado o priplo que havamos feito.
S. de B. - Sim, era muito irregular.
J .-P. S. - Era irregular. Enfim, chegamos naquela noite, poderamos igualmente ter
chegado um outro dia. Por isso, no havia ningum a esperar-nos. Imediatamente
enviaram automveis ao aeroporto e depois nos conduziram a Nova Iorque. Era meu
primeiro contato, no s com a Amrica, mas com Nova Iorque. Nosso carro nos
conduziu
a Nova Iorque. Saindo do aeroporto, no caminho do hotel, passamos por grandes ruas
muito movimentadas; s dez e meia da noite, estavam cheias de gente. Tudo brilhava
e estava repleto de lojas iluminadas. A iluminao, noite, no era tanta, mas
permanecia. Lembro-me de minha estupefao, no carro em que estvamos, vendo lojas
abertas, iluminadas, com gente trabalhando - cabeleireiros, s onze da noite. Isso parecia
absolutamente natural e vi sete ou oito lojas dessas durante o trajeto.
Era possvel pentear-se, barbear-se, lavar o cabelo, s onze da noite. E essa cidade me
parecia surpreendente, porque via sobretudo sombras. Via as lojas embaixo,
e depois via as sombras acima, grandes sombras que eram os arranha-cus que veria no
dia seguinte. Chegamos num sbado.
S. de B. - O hotel lhe pareceu extremamente luxuoso?
J .-P. S. - O hotel ...A primeira coisa que vimos foi uma porta de vaivm, de onde saam
em massa senhoras
315
#de cabelos brancos, decotadas, com vestidos de noite senhores de smokng. Tinha
havido uma festa qualquer.' S. de B. - H permanentemente. No so festas ... J .-P.
S. - As pessoas se renem, por um motivo ou por outro, e se vestem a rigor. Era
exatamente como se eu me deparasse com a paz. Eles no se davam conta de que havia
a uerra.
S. de B. - Como ficvamos, em geral, em hotis modestos, voc no achou o Plaza de
uma suntuosidade espantosa?
J .-P. S. - No. Mas na manh do dia seguinte o breakfast foi maravilhoso; eu me
lembrava de nossos breakfasts em Londres, modestos, certamente, mas ainda assim
muito
bons.
S. de B. - Sim, mas em contraste com a Frana, que estava ainda numa grande misria,
aquilo no era surpreendente?
J .-P. S. - Interpretava isso como sendo simplesmente porque a Amrica estava longe da
guerra, no tinha sido invadida.
S. de B. - verdade. Em grande parte era por isso. Ao passo que a Frana estava num
estado de pobreza terrvel. Quando estive na mesma poca na Espanha e em Portugal,
tive uma impresso incrvel de riqueza. O que seria ento Nova Iorque
J .-P. S. - Sim! Mas, enfim, isso no me tocou particularmente.
S. de B. - Voc me contou uma histria sobre suas roupas.
J .-P. S. - Sim; j no dia seguinte, os funcionrios do servio que nos convidava levaram-
nos a fazer comprs nas lojas, em particular, calas e palets. Comprei uma
cala listrada.
S. de B. - Tambm comprou um taleur para mim.
J .-P. S. Sim. E em trs dias foi um terno, viajei com ele. Eu tinha uma canadienne*.
* Casaco comprido, forrado de pele de carneiro. (N. do T.)
316
S. de B. - Sim, miservel. com a qual Cartier Bresson o fotografou. Mas ento, como
tomou contato com Nova Iorque no dia seguinte?
J .-P. S. - Deixaram-nos livres para ir inicalmente Quinta Avenida. Lembro-me de que
era um domingo. Passeei por ela com meus companheiros de grupo.
S. de B. - Vocs sete no ficavam sempre juntos?
J .-P. S. - No, mas no primeiro dia os homens foram conhecer juntos a Quinta Avenida.
De manh, vimos pessoas entrando numa igreja, estvamos muito emocionados com
essa avenida. No entanto, a seguir ela me agradava menos do que outras: a Sexta, a
Stima; e depois a Bowery, a Terceira Avenida. Comecei a me desembaraar nessas
avenidas, era to simples! Estava encantado. Estvamos entre a Rua 60 e a 50, ou seja,
no centro.
S. de B. - No Plaza, voc estava perto do Central Park. E onde comia?
J .-P. S. - Recebamos muitos convites para almoar ou jantar.
S. de B. - Creio que a grande diferena com relao a nossas outras viagens que desta
vez voc via pessoas.
J .-P. S. - Sim. No exatamente as pessoas do pas:
pessoas que pertenciam todas a esse servio de guerra, para fazer intervenes pelo
rdio, por exemplo. Para a Frana, para a Inglaterra.
S. de B. - Havia franceses?
J .-P. S. - Havia franceses, sim. Ingleses.
S. de B. - Mas de toda maneira voc devia estar com americanos?
J .-P. S. - Sim, claro.
S. de B. - Foi a que conheceu o grupo que se ocupava do esforo de guerra no rdio.
J .-P. S. - Foi assim que conheci uma quantidade de pessoas. Os americanos, conheci-os
mais na rua. Isto , aonde me levavam havia americanos que falavam comigo.
Revejo-me numa fbrica construda numa pequena cidade de casas pr-fabricadas no
meio de cascalhs, sujeira. Era bastante curioso ver essas casas pr-fabricadas
317
#formando uma cidade no meio desses cascalhs e desse solo revolvido.
S. de B. - De um modo geral, o que viu? uanto tempo cou? Trs meses, quatro meses?
J .-P. S. - Sim, trs ou quatro meses.
S. de B. - Ficou sobretudo em Nova Iorque?
J .-P. S. - Ah, no. A viagem propriamente dita nos obrigou a ficar oito dias em Nova
Iorque de incio, e depois, cinco, seis dias na volta. Fiquei quatorze dias
em Nova Iorque. Voltei de Washington, alis. Voltei depois dos outros. Todos voltamos
em datas diferentes de acordo com o dinheiro de que dispnhamos; fiquei pelo
menos um ms e meio depois de finalizada a viagem.
S. de B. - Em Nova Iorque?
J .-P. S. - Sim, em Nova Iorque.
S. de B. - Esteve em Holiywood?
J .-P. S. - Sim, logo de incio; fizemos Washington, o T.V.A.* depois Nova Orleans.
Miami, no. Conheci Miami muito depois. De Nova Orleans atravessamos a Amrica,
sempre de avio, fizemos as gargantas do Colorado e voltamos.
S. de B. - Viu Chicago tambm?
J .-P. S. - Sim, claro. Estivemos em Hoiywood, de Hoiywood fomos para Chicago.
De Chicago creio que fomos para Detroit.
S. de B. - Sim, devem ter-lhes mostrado cidades enfadonhas por conta do esforo de
guerra.
J .-P. S. - Sim, vi Detroit e depois retornamos de Detroit para Nova Iorque.
S. de B. - E l encontrou muitos franceses. Esteve com Breton.
J .-P. S. - Sim, conheci franceses, naturalmente. E devo ter estado uma vez com
Lazareff, pelo menos, uma vez com sua mulher.
S. de B. - Muitos franceses tinham ido para a Amrica, quer porque fossem judeus, quer
porque no
* Tennessee Valley Authority. (N. do T.)
318
quisessem permanecer sob a ocupao. Andr Breton tinha ido.
J .-P. S. - Sim, tinha ido. Portanto, estive com Breton. Estive tambm com Lger. Fui
visit-lo. Ele era muito amvel. Vi-o vrias vezes e ele no permitiu que
me fosse sem presentear-me, isto , fez-me escolher quadros seus que conservei por
muito tempo. Escolhi-os na Amrica mais tarde, ele os trouxe para mim.
S. de B. - Lger, Breton. Estava l tambm Rirette Nizan.
J .-P. S. - E Lvi-Strauss. Sim, revi Rirette Nizan. Quem mais? Havia pessoas em torno
de Breton, havia J acqueline Breton e seu futuro marido, David Hare. Ela ia
divorciar-se.
S. de B. - Ele era americano.
J .-P. S. - Era um jovem escultor americano que, ao que parece, no fez grande carreira.
S. de B. - E tambm Duchamp.
J .-P. S. - Sim, mas Duchamp no estava entre os refugiados.
S. de B. - J vivia l h muito tempo.
J .-P. S. - Almocei com ele.
S. de B. - Entre americanos propriamente ditos, quem conheceu?
J .-P. S. - A mulher de Saint-Exupry. E depois conheci Calder.
S. de B. - No esteve com escritores?
J .-P. S. - Estive com escritores em Paris. Conheci Dos Passos em Paris.
S. de B. - Foi l que conheceu Richard Wright?
J .-P. S. - Sim, ele e a mulher. E tambm crticos americanos. No falamos de
Hemingway. Conhecia-o tambm da Frana.
S. de B. - Ah, sim Estivemos com ele na Libertao. O fato de no saber ingls no o
incomodava muito?
J .-P. S. - No, porque s estava com americanos que falavam francs; os outros me
ignoravam como algm que no conhecia a lngua, natural. Eu era um pouco
conhecido
l, nos meios de estrangeiros refugiados
319
#na Amrica, por haver escrito um artigo na revista de Aron sobre a Frana sob a
ocupao.
S. de B. - Havamos dito que falaramos sobre a lua.
J .-P. S. - Sim, porque a lua acompanha todo o mundo do nascimento at a morte. Ela
marcou muito, de cinquenta, sessenta anos, para c, mais ou menos, a evoluo
do meio e, conseqentemente, nossa revoluo interna e externa. Quando a conheci, ou
seja, muito cedo, ela surgia como um sol de noite. Era um crculo no espao,
muito distante, uma fonte luminosa, fraca mas existente; via-se dentro dela, ou bem um
homem com um cesto s costas, ou bem o esboo de uma cabea, o que se quisesse,
em suma. Ela era mais familiar e diziam-na mais prxima do que o sol, mais ligada
Terra, e consideravam-na como uma propriedade; era um objeto no cu quase ligado
a ns.
S. de B. - Coisa que realmente , j que um satlite.
J .-P. S. - Exatamente, mas sabamos primeiro por experincia que ela estava sempre ali,
que havia uma lua cheia e isso como que representava um signo terrestre no
cu. Foi assim que a conheci de incio. Eu a via noite e ela era algo de importante para
mim, no saberia dizer exatamente o qu. Era a luz da noite, o que surgia
de tranquilizador na noite. Quando criana sentia um pouco de medo da noite e a lua me
tranquilizava; quando ia l fora, para o jardim, e a lua estava sobre a minha
cabea, ficava feliz. No me podia acontecer nada demais. Como fazem as crianas,
muitas vezes imaginava que ela me falava, que ela me contava coisas, e imaginava
tambm que me via. Ela realmente representava algo para mim, no cu, e lembro-me,
ainda que a desenhava e colocava dentro dela coisas que pensava ver l, que no
eram nem o homem com o feixe de lenha, nem a cabea: eram rostos ou paisagens
dentro da lua que eu inventava, que no via, alis, que pretendia ver.
320
S. de B. - E quando voc ficou mais velho, ela conservou um papel para voc?
j.-p. S. - Sim, durante muito tempo. Eu no amava necessariamente o sol, no
permanentemente, ele me ofuscava. O cu era uma extenso habitada pelo sol e
pela lua.
S. de B. - Voc fala da lua em seus livros? Pelo menos, fala no prlogo de Nekrassov;
h um homem e uma mulher no cais, ele diz: "Olhe, olhe a lua;" e a mulher diz:
"A lua no bonita, vemo-la todos os dias," e ele responde: " bonita porque
redonda." J no me lembro se h luares em seus romances.
J .-P. S. - Creio que a lua aparece um pouco em L mur. Pensava na lua como em algo
de pessoal; no fundo, a lua representava para mim tudo o que secreto, em contraste
com o que pblico e exposto, que era o sol. Tinha a ideia de que ela era uma cpia
noturna do
sol.
S. de B. - Por que quis falar sobre isso em especial?
J .-P. S. - Porque havia dito a mim mesmo que um dia escreveria sobre a lua. Ento,
depois, fiquei sabendo o que era a lua, grosso modo, que ela representava um satlite;
isso me ensinaram, e tomei-o para mim, no era um satlite da terra, era meu satlite.
Era assim que o sentia. Parecia-me que tinha pensamentos que me vinham do
fato de ser olhado pela lua. Amava-a muito, ela era potica, era poesia pura. Ao mesmo
tempo, estava completamente separada de mim, estava presente, fora; e havia
uma ligao entre ns, um mesmo destino. Ela estava presente como um olho e como
um ouvido, fazia-me discursos; escrevi discursos sobre a lua.
S. de B. - Por que fala no passado?
J .-P. S. - Por que ela me d menos agora que se pode ir l. A lua foi tudo isso at o
momento em que se comeou a ir l. A deciso e fato de o haverem feito interessaram-
me
intensamente. Mantive-me informado sobre as viagens. Lembro-me at que em Npoles
aluguei um aparelho de televiso para ver a viagem de Armstrong.
321
#S. de B. - Para ver os primeiros homens na lua.
J .-P. S. - Para ver sua postura, o que faziam, como era a lua, como se via a Terra a partir
da lua, tudo isso me apaixonava; mas, ao mesmo tempo, transformava a
lua num objeto cientfico e ela perdia o carter mtico que at ento tivera.
S. de B. - Voc tinha imaginado que se iria lua?
J .-P. S. - No. Lera os romances de J lio Verne sobre a lua e depois Os primeiros
homens na lua de Wells. Conhecia tudo isso muito bem, mas parecia-me lenda, coisa
impossvel. As formas de l ir de Wells no eram verdadeiramente cientcas.
S. de B. - As de J lio Verne um pouco mais ...Havia, tambm, L voyage dans Ia lune
de Cyrano de Bergerac.
J .-P. S. - Sim, mas isso ...
S. de B. - No era muito interessante; mas enfim, existiu frequentemente o sonho de ir
lua.
J .-P. S. - Quanto a mim, no o tive.
S. de B. - Falamos outro dia um pouco sobre essa ideia que voc exprime no final de
Mots: que qualquer um vale tanto como qualquer outro e que voc como um outro
qualquer. Gostaria de saber o que signica exatamente para voc essa afirmao. Mas,
para comear, como se forjou em voc, como se forjaram as ideias de igualdade
entre os homens, ou as ideias de superioridade, de hierarquia? Por um lado, voc diz
que, quando jovem se sentia um gnio, por outro, diz que, de certa maneira,
sempre considerou os homens iguais. Pode-nos destrinar um pouco isso a partir de sua
infncia e de sua juventude, em primeiro lugar?
J .-P. S. - Quando pequeno, na idade em que escrevia meus primeiros romances, aos oito
anos, meu av me tratava de prncipe e me considerava um pouco como o pequeno
prncipe. Naquela poca eu era, pois, paramentado por ele de uma qualidade interior,
qualidade interna, subjetiva, do pequeno prncipe, que alis era apenas sua
prpria bondade, sua generosidade, que ele en-
322
cntrava em mim. Quando um ser tem essa realidade subjetiva de prncipe, isso no
conduz igualdade, porque um prncipe superior s pessoas que o cercam. E, no
entanto, havia uma espcie de igualdade no fundo de tudo isso, porque eu pensava que
era um ser humano e que, por conseguinte, todos os seres humanos eram prncipes.
Era mais ou menos assim que via as coisas. A massa esta era feita de meios-seres
humanos, de seres humanos no inteiramente realizados, tudo isso estava em torno
de mim. Mas havia outros seres humanos realizados que eu descobria, que passavam ao
meu lado e que certamente eram prncipes. Portanto, havia uma espcie de mundo
de iguais, que eram os prncipes, e depois a turba. claro que isso no uma igualdade,
mas, no entanto, na ideia desses prncipes que se viam e que eram iguais
entre eles, que no eram mais prncipes do que era eu, e reciprocamente, havia j nesta
ideia a ideia de uma igualdade, igualdade que sempre desejei e sonhei estabelecer
entre mim e as pessoas. Porque finalmente, toda vez que tive relaes profundas com
algum, homem ou mulher, apercebi-me de que a pessoa era inteiramente minha
igual, e que se eu podia talvez desembaraar-me melhor com as palavras, de toda
maneira, as intuies primeiras que ela tinha eram exatamente as mesmas que as
minhas,
e ela captava as coisas do mesmo ponto de vista
que eu.
S. de B. - Mas retornemos sua infncia. Quando
voc estava no liceu, no havia, no entanto, determinadas hierarquias que se
estabeleciam entre os bons, os maus
alunos?
J .-P. S. - De fato, estabelecia-se uma hierarquia. Mas como eu no era muito favorecido
pela hierarquia, no era muito born aluno, estava entre os mdios, ou um
pouquinho acima da mdia, s vezes abaixo, no considerava que essa hierarquia me
beneficiasse. E considerava-a como algo que no me dizia respeito. E no pensava
que o fato de ser o primeiro, estar na frente do pequeno Brun ou do pequeno Malaquin,
ou atrs, desse uma verdadeira perspectiva de meu ser. Meu ser era esta realidade
subje-
323
#tiva, profunda, para alm de tudo o que se pudesse dizer a respeito, e que no era
classificvel. Na verdade, foi ento que comecei a dizer que no se pode classificar.
Uma subjetividade algo que no se pode ver como primeira ou segunda, uma
realidade total e profunda, infinita de certo modo, que est presente, em si, diante
de si, o ser, o ser da pessoa. Isso no se pode classificar com relao a outro ser, que
talvez menos visvel, menos afirmado, mas que igualmente verdadeiro
em profundidade. No se trata de classificar esses indivduos, trata-se de deix-los como
totalidades que representam o homem.
S. de B. - De certa maneira, o lado absoluto da conscincia que voc afirmava
primordialmente em relao a todos os outros.
J .-P. S. - E isso. O lado absoluto, eu afirmava primeiro em mim, comecei a afirm-lo
como pequeno prncipe, mas na verdade isso significava conscincia, conscincia
do que ia, do que lia, do que sentia. E depois, conscincia profunda, ligada aos objetos
em torno de mim, e tendo, ao mesmo tempo, uma profundidade dicilmente transmissvel
e que era eu. E isso no podia ser inferior, nem superior a quem quer que fosse. Os
outros eram assim e isso eu o sentia sendo jovem, sendo criana.
S. de B. - No entanto, quando voc estava com Nizan, no primeiro ano, e nos anos
seguintes, vocs diziam que se consideravam super-homens, e, ao mesmo tempo, voc
me disse que tinha a intuio de ser um gnio. Essa ideia de ser gnio e de super-
homem no ento contraditria com a ideia de igualdade?
J .-P. S. - No, porque justamente para mim, o gnio e o super-homem eram
simplesmente seres que se davam em toda a sua realidade de homem; e a massa que era
classificada
segundo nmeros e segundo hierarquias era uma matria na qual era possvel encontrar
superhomens que surgiriam, que se liberariam, mas que realmente no era constituda
por super-homens, que consistia em subomens e que, eftivamente, correspondia a
hierarquias, hierarquias que raramente visavam ao homem em si mesmo, mas
qualidades
do homem, que visavam ao
324
inspetor da estrada de ferro, ao inspetor de funcionrios, de professores. Em suma, a
profisso, as atividades, os objetos de que se cercavam, tudo isso estava sujeito
hierarquia. Mas se se chegava profundidade no havia hierarquia possvel. E foi isso
que pouco a pouco esclareci para mim mesmo.
S. de B. - E quando estava na Escola Normal havia igualmente competies, lugares,
graduaes.
J .-P. S. - No, no havia competio, nem lugares, de modo algum.
S. de B. - Mas havia isso, por exemplo, para entrar para a Escola.
J .-P. S. - Havia para entrar para a Escola um exame de Escola, havia um lugar e depois a
sada da Escola, a agregao.
S. de B. - Sim.
J .-P. S. - Ento, havia tambm um concurso onde se tinha um lugar, mas entre ambos
no havia nada. At aqui mostrei-lhe a ideia da subjetividade como gnio e a ideia
de hierarquia como classificao ligada a qualidades especficas. Na Escola Normal
havia duas classificaes:
uma classificao que vinha a dar numa ausncia de classificao; a ausncia de
classificao era a subjetividade pura, concebida como infinita e caracterizada pelo
gnio. Eu me considerava um gnio. uma ideia que me veio quando muito jovem;
nascia da ideia de meus irmos os escritores, quando eu mesmo era escritor. Pensava
que um Balzac, um Bossuet deviam ser igualados por mim e conseqentemente eu seria
aquilo que se denomina um gnio. Havia ento, na Escola Normal, minha subjetividade
que era genial e, por outro lado, as classes, que eram classes de idade. Por exemplo,
quando ia para a Escola Normal, e estava no primeiro ano, ocupava um turne*
com cinco ou seis de meus colegas que conhecia e apreciava muito; ao lado, havia
outros turnes do mesmo tipo; e, no andar de cima, os carrs,* alunos de segundo
ano que estavam tambm reunidos em turnes e eram me-
325
#nos numerosos em cada turne; depois, o terceiro ano com cubes* e, em seguida, era-se
archicube.* Tudo isso era uma distino segundo os anos. E, de fato, correspondia
a algo, j que adquiramos conhecimentos que terminavam por dar-nos um valor como
professor em determinada matria. Por exemplo, eu aprenderia em quatro anos o
essencial
do que era necessrio conhecer para fazer filosofia, um outro aprenderia francs. Em
resumo, havia esta classificao em anos de Escola que para ns no correspondiam
a nada. No achvamos que eles fossem superiores a ns, simplesmente estavam
classificados.
S. de B. - Sim, era uma hierarquia na igualdade, j que cada um tinha que ter acesso a
ela, de uma maneira quase matemtica.
J .-P. S. - Evidentemente, as igualdades no eram exatamente as mesmas, j que, de cada
vez, havia conhecimentos mais amplos e exames mais numerosos. Mas, enfim,
de toda maneira eram igualdades: a igualdade das pessoas do primeiro ano que no
tinham exames por trs deles mas que eram os mesmos na medida em que partiam para
os quatro anos de escola; depois, a igualdade dos outros anos, quando havia por trs um
exame, por exemplo, uma licenciatura obtida durante o ano, e conseqentemente,
conhecimentos, qualificaes a mais. Mas finalmente era a mesma igualdade.
S. de B. - No entanto, voc fazia distines entre seus colegas; absolutamente no
achava que, afinal de contas, todo mundo vlido; essa atitude muito aberta,
muito acolhedora, que era a de um Merleau-Ponty, voc no a tinha de modo algum.
J .-P. S. - De modo algum. Ao contrrio, distinguia, violentamente, entre os bons e os
maus. E, muito depressa, Nizan e eu, tambm Guille um pouco, juntamo-nos aos
alunos de Alain, que eram violentos e brutais naqueles anos e que queriam fazer com
que reinasse um
* Grias escolares: turne, quarto; crres, quadrados; cubes, aluna que cursa a mesma
disciplina pela terceira vez; archicube, veterano da Escola Normal Superior.
(N. do T.)
326
certo terror na Escola. Reconheo que isso no se coaduna muito com a hierarquia e a
subjetividade genial. Ainda assim, creio que se ligava subjetividade genial.
Penso que, quando nos escondamos no alto das escadas, para jogar bombas de gua nos
rapazes que regressavam por volta de meia-noite, de smoking, vindos de reunies
sociais, demonstrvamos assim, que essas reunies, o smoking, o lado refinado e os
cabelos bem penteados daqueles rapazes eram coisas absolutamente exteriores, de
novalor, de nenhum valor, que eles no deveriam ter, que no deveriam buscar, porque
o que era preciso buscar era o esplendor interior do gnio, mas certamente
no a possibilidade de brilhar num jantar mundano.
S. de B. - No se poderia dizer que voc vivia em dois planos ao mesmo tempo, como
alis todo mundo, que havia um determinado plano metafsico, onde se afirmava
o absoluto de toda conscincia, mas que havia um plano moral, prtico e at social, no
qual este absoluto de conscincia no lhe interessava, se a pessoa dotada
dessa conscincia tinha comportamentos, uma maneira de viver, de pensar, contra a qual
voc lutava? Na Sorbonne, voc, Nizan e Maheu gozavam de uma reputao de
terem uma atitude extremamente desdenhosa em relao totalidade do mundo,
especialmente em relao aos sor-
bonnards. *
J .-P. S. - Porque os sorbonnards representavam seres que no eram inteiramente
homens.
S. de B. - muito grave admitir que determinados homens no so inteiramente
homens. Isso vai totalmente contra a ideia da igualdade.
j -p _ muito grave, e a seguir desvencilheime dela; mas certo que estava presente no
incio; o incio para mim era isso, aquelas pessoas no valiam grande coisa
e alguns talvez se tornariam homens, mas a maioria deles no seriam homens jamais. E
isso corres-
* Estudante, professor da Sorbonne. (N. do T.)
327
#pondia ao fato de que eu no sentia amizade por eles, no tinha ligao, relaes com
eles. Ns nos vamos ..
S. de B. - Voc tinha relaes hierrquicas com eles, segundo diz.
J .-P. S. - Tinha relaes quanto aos trabalhos que faziam ou que eu fazia. Naquele
momento, ramos classifcados e eu tinha ento uma base objetiva. ramos vinte
e cinco, eu era classificado como o quinto, o dcimo, o primeiro, e assim podamos
comparar-nos. Mas isso nunca atingia o ser que era eu e que tambm fazia escritos
que eram os produtos do gnio, pensava eu, e que de
modo algum podiam ser comparados em planos de hierarquia.
S. de B. - Por conseguinte, voc tinha amizades muito seletivas, e durante toda a sua
vida suas amizades foram muito seletivas; ora, no sentir amizade por algum,
rejeit-lo, estabelecer uma desigualdade em relao queles que voc respeitava e,
plos quais, ao contrrio, sentia amizade.
J .-P. S. - Sm. Creio que, de fato, cada um tem em si, em seu corpo, em sua pessoa, em
sua conscincia, algo para ser, se no um gnio, pelo menos um homem real,
um homem com qualidades de homem; mas a maioria das pessoas no deseja isso, ela
pra, pra num nvel qualquer, e finalmente quase sempre responsvel pelo nvel
no qual ficou. Considero, portanto, que, em teoria, todo homem o igual de todo
homem e relaes de amizade poderiam existir. Mas, na verdade, esta igualdade
desfeita pelas pessoas em funo de impresses estpidas, de buscas estpidas, de
ambies, de veleidades estpidas; ento, lidamos com homens que seriam iguais
se quisessem mudar um pouco sua atitude, mas que, na verdade, tais como so, so
contra-homens, so pessoas que se fizeram homens em situaes quase inumanas.
S. de B. - Especialmente os que voc chama de patifes.
J .-P. S. - Os patifes so precisamente pessoas que se ocupam em fazer-se reconhecer
como bons plos ou-
328
(os, quando em realidade so maus em funo de sua prpria atividade. Amo
verdadeiramente, realmente, um homem que me parece ter o conjunto das qualidades de
homem;
a conscncia, a faculdade de julgar por si mesmo, a faculdade de dizer sim ou de dizer
no, a vontade, aprecio tudo isso num homem; e isso tem a ver com a liberdade.
Nesse momento, posso sentir amizade por ele, e sinto frequentemente em relao a
pessoas que conheo muito pouco. E havia tambm a maioria, as pessoas que estavam
ao meu lado, num trem, num metro, num liceu, s quais, autenticamente, nada tinha a
dizer; s podamos discutir, colocando-nos no plano das hierarquias, o quinto
lugar ou o dcimo lugar atribudo a um aluno ou a um professor.
S. de B. - E quando voc estava no liceu, as relaes de idade criaram entre voc e seus
alunos relaes de desigualdade, ou, ao contrrio, foram possveis relaes
de igualdade?
J .-P. S. - Ah, simi As relaes de igualdade eram muito possveis. Pode-se dizer que no
liceu, sobretudo na Escola Normal, a relao de idade permitia uma hierarquia
fcil, mas que absolutamente no correspondia, para cada um de ns, a uma qualidade
de ordem subjetiva, de ordem essencial. Era apenas uma maneira de situar as pessoas
numa certa ordem, de maneira a poder controllas, mas isso no correspondia a uma
realidade. Em outras palavras, havia a realidade verdadeira, que era a de cada
um, para cada um, mas que no se dava, que permanecia o que era, e depois uma grande
classificao universal que permitia outras classificaes concebidas da mesma
maneira, e que dava um lugar pessoa num plano de fenmeno, num plano no qual a
realidade da pessoa era completamente suprimida. Havia uma sociedade nde a realidade
do homem era suprimida, onde havia sobretudo pessoas capazes de fazer um
determinado tipo de ao que, desde o incio, era dada quelas pessoas como
caracterizando-as;
mas no havia subjetividade captando-se a si mesma, realidade essencial possvel de
atingir, quer por outro, quer por aquele que tinha esta subje-
329
#tividade, esta realidade; no havia nada disso. Tudo isso era deixado de fora.
S. de B. - Foi por causa desse sentimento de igualdade entre os homens que voc
sempre recusou tudo o que pudesse distingui-lo? O que quero dizer que seus amigos
muitas vezes notaram sua recusa, at seu desagrado, pelo que, de um modo geral,
chamamos honrarias. Isso est mais ou menos ligado quele sentimento? E em que
circunstncias
exatamente voc manifestou tal desagado?
J .-P. S. - Certamente isso est ligado; mas liga-se, tambm, ideia de que minha
realidade profunda est acima das honrarias. Porque essas honrarias so dadas por
homens a outros homens; e os homens que do a honraria, quer se trate da Legio de
Honra ou do Prmio Nobel, no tm qualidade para conced-la. No vejo ningum
que tenha o direito de dar a Kant, a Descartes ou a Goethe um prmio significativo: voc
agora pertence a uma classificao; transformamos a literatura numa realidade
classificada, e voc pertence a tal lugar nesta literatura. Nego a possibilidade de que se
faa isso e, conseqentemente, nego qualquer honraria.
S. de B. - Isso explica sua recusa do Prmio Nobel. Mas depois da guerra houve uma
primeira recusa de sua parte, a recusa da Legio de Honra.
J .-P. S. - Sim. A Legio de Honra me parece uma recompensa que tem a ver com a
srie, com os medocres; diro que tal engenhador merece a Legio de Honra e tal
outro, mais ou menos igual, no a merece. E, na verdade, eles no so considerados pelo
que valem, so considerados por um trabalho que fizeram, ou pela recomendao
de seu chefe, ou por circunstncias desse tipo. Ou seja, nada que corresponda a sua
realidade. Esta realidade no quantifcvel.
S. de B. - Voc acaba de pronunciar a palavra 'medocre', portanto, de qualquer maneira,
de quando em quando, com sua teoria da igualdade, voc recai em eptetos,
expresses bastante aristocrticas.
330
T -p. S. - Ah, no, absolutamente, porque j lhe disse a Uberdade, a igualdade est no
incio, e igualdade deveria estar no fim, num processo humano, isto , no
desenvolvimento de um homem. Mas o homem tambm um ser hierarquizado, e
enquanto hierarquizado que se pode tornar idiota ou pode preferir a hierarquia a sua
realidade profunda. Nesse nvel, no plano da hierarquia, ele pode merecer eptetos
desabonadores. Entende?
S. de B. - Sim. j .p s. - Considero que a maioria das pessoas que
nos cercam ainda so muito sensveis a uma Legio de Honra, a um Prmio Nobel, a
coisas que tais, quando, em realidade, tudo isso no corresponde a nada. Isso s
corresponde a uma distino dada na hierarquia a um ser que no real, que abstrao e
que corresponde ao ser que somos, mas que corresponde sem compreender bem
por qu.
S. de B. - H, no entanto, reconhecimentos que
voc aceita. Voc no aceita o reconhecimento por certos homens, do valor, digamos,
de sua obra filosfica, de maneira que lhe dem um Prmio Nobel, mas aceita o
reconhecimento, e at o deseja, da parte dos leitores, da
parte do pblico.
J .-P. S. - Sim, minha funo. Escrevo, portanto desejo que o pblico para quem
escrevo considere boas as coisas que escrevo. No que pense que sejam sempre boas,
longe disso, mas quando por acaso elas podem ser boas, desejo que sejam
imediatamente estimadas como
tais por meu leitor.
S. de B. - Porque, em suma, sua obra voc mesmo, e quando se reconhece sua obra,
reconhece-se voc em sua realidade.
J .-P. S. - Exatamente.
S. de B. - Ao passo que a qualidade exterior que lhe faria ter a Legio de Honra no
voc mesmo.
J .-P. S. No, algo abstrao.
S. de B. - Voc se lembra como foi com a Legio
de Honra?
331
#J .-P. S. - Bem, era em 1945, e as pessoas de Londres que se vieram instalar em Paris
S. de B. - As pessoas de Londres; voc quer dizer De Gaulle.
J -P. S. - Sim, De Gaulle. Nomeavam ministros, subsecretrios de Estado, e havia um
Ministrio da Cultura, cujo ministro era Malraux, e do qual Raymond Aron, meu
companheiro, era subsecretrio de Estado E comearam a distribuir Legies de Honra.
Isso fez com que meu companheiro Zuorro, de quem falei alhures tivesse a ideia
de que eu recebesse a Legio de Honra ainda que a contragosto.
S. de B. - Porque preciso lembrar que Zuorro gostava de pregar-lhe peas.
J .-P. S. - Gostava de pregar-me peas. Foi visitar minha me, passou um born tempo
com ela, e conseguiu sua permisso; ela no entendia nada de tudo isso seu
pai tinha a Legio de Honra, seu marido tinha a Legio de Honra ...
S. de B. - Ela achava isso importante. J .-P. S. - Parecia-lhe que seu filho devia t-la
tambm. Ele disse a ela que aceitasse por mim a Legio de
Honra, e que me fariam a surpresa de conceder-ma. Ela aceitou com prazer.
S. de B. - O que significa que assinou um papel. J .-P. S. - Assinou um papel. Apesar de
tudo era uma procurao, j que era eu quem deveria assinar o documento.
Mas eu s o soube depois. E um belo dia telefonou-me um amigo que tinha um parente
no ministrio, dizendo: "Voc solicitou a Legio de Honra?" Tive uma exclamao
de surpresa e depois ele me disse "Pois bem! Vai receb-la." Ento corri ao telefone e
falei com Raymond Aron. E disse-lhe: "Meu companheiro, querem dar-me a Legio
de Honra, voc tem que impedir isso " Aron me achou muito desagradvel mas, ainda
assim fez com que escapasse a esta Legio de Honra.
3 A quem chamo de Marco em minhas Mmoires.
332
S. de B. - De um modo geral, o governo nos era simptico, reagrupava os resistentes da
Frana. Participavam dele pessoas que eram realmente amigas nossas, e foi,
em suma - como, alis, tambm a propuseram a Camus -, na qualidade de intelectual
resistente que lhe propuseram tal distino.
J .-P. S. - Certamente.
S. de B. - As condies eram quase que as melhores para poder aceit-la. Mas, no
entanto ...
J .-P. S. - Ainda que as condies fossem as melhores havia um abismo; de qualquer
maneira, aceitar uma condecorao era algo de inimaginvel para mim.
S. de B. - Porque, ao mesmo tempo, a Legio de Honra se inscrevia numa hierarquia
burguesa. E era ento como se voc se integrasse nesta sociedade.
J .-P. S. - No era a sociedade burguesa, era a hierarquia. H hierarquias anlogas na
U.R.S.S. ou nos pases socialistas.
S. de B. - No entanto, voc aceitou determinados prmios. E seria interessante saber por
qu. Estou pensando em determinado prmio italiano ...
J .-P. S. - Aceitei outros. Primeiro, aceitei um prmio populista, em 1940, uma pequena
quantia que me era dada e que me permitiria viver um pouco melhor. Tinha sido
convocado, dava-lhe parte deste dinheiro e conservava um pouco para mim no front, e
vivi um pouco melhor com isso. Creio que, neste caso, fui absolutamente cnico,
considerando que a guerra suprimia todo valor ao prmio ou no-prmio, que se nos
concediam um enquanto combatamos, isso era uma brincadeira que eu podia aceitar.
A bem da verdade, eu no tinha nada a ver com um prmio populista, j que no tinha
absolutamente nada em comum com os escritores populistas. Portanto, aceitei.
S. de B. - Sim, voc recebeu o dinheiro cinicamente.
J .-P. S. - Recebi o dinheiro cinicamente.
S. de B. - Mas aceitou outros, sem lucro.
333
#J .-P. S. - Bem, era em 1945, e as pessoas de Londres que se vieram instalar em Paris
S. de B. - As pessoas de Londres; voc quer dizer De Gaulle.
J .-P. S. - Sim, De Gaulle. Nomeavam ministros, subsecretrios de Estado e havia um
Ministrio da Cultura, cujo ministro era Malraux, e do qual Raymond Aron, meu
companheiro, era subsecretrio de Estado E comearam a distribuir Legies de Honra.
Isso fez com que meu companheiro Zuorro, de quem falei alhures tivesse a ideia
de que eu recebesse a Legio de Honra, ainda que a contragosto.
S. de B. - Porque preciso lembrar que Zuorro gostava de pregar-lhe peas.
J .-P. S. - Gostava de pregar-me peas. Foi visitar minha me, passou um born tempo
com ela, e conseguiu sua permisso; ela no entendia nada de tudo isso seu
pai tinha a Legio de Honra, seu marido tinha a Legio de Honra ...
S. de B. - Ela achava isso importante. J .-P. S. - Parecia-lhe que seu filho devia t-la
tambm. Ee disse a ela que aceitasse por mim a Legio de
Honra, e que me fariam a surpresa de conceder-ma. Ela aceitou com prazer.
S. de B. - O que signica que assinou um papel. J .-P. S. - Assinou um papel. Apesar de
tudo era uma procurao, j que era eu quem deveria assinar o documento. Mas
eu s o soube depois. E um belo dia telefonou-me um amigo que tinha um parente no
ministrio, dizendo: "Voc solicitou a Legio de Honra?" Tive uma exclamao de
surpresa e depois ele me disse "Pois bem! Vai receb-la." Ento corri ao telefone e falei
com Raymond Aron. E disse-lhe: "Meu companheiro, querem dar-me a Legio
de Honra, voc tem que impedir isso " Aron me achou muito desagradvel mas, ainda
assim fez com que escapasse a esta Legio de Honra.
3 A quem chamo de Marco em minhas Mmoires.
332
S. de B. - De um modo geral, o governo nos era simptico, reagrupava os resistentes da
Frana. Participavam dele pessoas que eram realmente amigas nossas, e foi,
em suma - como, alis, tambm a propuseram a Camus -, na qualidade de intelectual
resistente que lhe propuseram tal distino.
J .-P. S. - Certamente.
S. de B. - As condies eram quase que as melhores para poder aceit-la. Mas, no
entanto ...
J .-P. S. - Ainda que as condies fossem as melhores havia um abismo; de qualquer
maneira, aceitar uma condecorao era algo de inimaginvel para mim.
S. de B. - Porque, ao mesmo tempo, a Legio de Honra se inscrevia numa hierarquia
burguesa. E era ento como se voc se integrasse nesta sociedade.
J .-P. S. - No era a sociedade burguesa, era a hierarquia. H hierarquias anlogas na
U.R.S.S. ou nos pases socialistas.
S. de B. - No entanto, voc aceitou determinados prmios. E seria interessante saber por
qu. Estou pensando em determinado prmio italiano ...
J .-P. S. - Aceitei outros. Primeiro, aceitei um prmio populista, em 1940, uma pequena
quantia que me era dada e que me permitiria viver um pouco melhor. Tinha sido
convocado, dava-lhe parte deste dinheiro e conservava um pouco para mim no front, e
vivi um pouco melhor com isso. Creio que, neste caso, fui absolutamente cnico,
considerando que a guerra suprimia todo valor ao prmio ou no-prmio, que se nos
concediam um enquanto combatamos, isso era uma brincadeira que eu podia aceitar.
A bem da verdade, eu no tinha nada a ver com um prmio populista, j que no tinha
absolutamente nada em comum com os escritores populistas. Portanto, aceitei.
S. de B. - Sim, voc recebeu o dinheiro cinicamente.
J .-P. S. - Recebi o dinheiro cinicamente.
S. de B. - Mas aceitou outros, sem lucro.
333
#J .-P. S. - Recebi o prmio italiano porque estava em boas relaes com os comunistas
italianos, porque alguns deles me agadavam muito; na mesma ocasio no estava
com os comunistas franceses. Gostava dos comunistas italianos e, na poca, eles haviam
organizado essa festinha; tratava-se de conceder anualmente um prmio a quem,
durante a ocupao, tivesse dado prova de coragem ou de inteligncia, e eles me
concederam. Evidentemente, isso absolutamente no se conciliava com a minha teoria.
S. de B. - Mas era um prmio relacionado com a ocupao?
J .-P. S. - Era um prmio ligado Resistncia. Eu o recebi; no entanto, sabe Deus que a
resistncia que fiz ... era resistente, tinha contato com resistentes, mas
ela no me exigiu demais. No entanto, eles me deram. Creio que eu no considerava
esse prmio como o fim de um perodo, de uma hierarquia; estava muito consciente
de que minha atitude durante a ocupao, em comparao com a daqueles que haviam
sido torturados, que haviam sido presos plos alemes, que haviam morrido na priso,
no tinha absolutamente nada em comum. Sendo escritores, ramos resistentes, o que
signicava, sobretudo, que escrevamos em revistas clandestinas, que realizvamos
pequenas aes desse tipo. Via no prmio antes um reconhecimento, por parte dos
italianos, de um certo tipo de resistncia intelectual durante a ocupao. Era isso
que me interessava. Ou seja, eles colocavam em evidncia esse tipo de recusa, sob a
ocupao, que ns escritores, pelo menos os que eu conhecia, havamos colocado
em primeiro plano. Assim, eu me considerava, no tanto como digno eu prprio desta
distino, mas digno na medida em que os outros escritores teriam podido, como
eu, ser agraciados. Algum recebia este prmio, era eu; isso representava uma espcie de
resistncia intelectual francesa.
S. de B. - Em suma, era uma relao de amizade com os comunistas italianos, que lhe
propunham um determinado reconhecimento por sua ao e a de seus com-
334
panheiros durante a guerra, e que voc aceitava igualmente em bases de amizade.
Aquilo no passava por hierarquias, por honrarias, por distines.
j -p. s. - De modo algum.
S. de B. - Era verdadeiramente uma relao de
reciprocidade entre voc e aqueles que ...
j .p s. - Eles me deram dinheiro.
S de B - Que voc deu para apoiar no sei mais que movimento social. Alm disso, foi-
lhe proposta uma outra honraria e at mesmo algumas pessoas muito ligadas a
voc insistiram para que a aceitasse: ser professor no
Colge de France.
j .p _ sim. Eu no via ento por que ser professor no College de France. Tinha escrito
livros de filosofia mas a partir do sculo XVIII que se considera a filosofia
como uma matria a ser ensinada. Pode ser uma matria a ensinar, se se trata de
sistemas de filosoha passados mas se tentamos pensar filosoficamente o presente,
no creio que isso se deve ao que se ensina aos alunos. Eles podem tomar conhecimento
disso, mas no h razo para que um professor ensine uma coisa que no se desenvolveu
inteiramente, cujo valor ele no conhece exatamente. Em resumo, eu no via por que,
enquanto ilosofo, iria para o College de France. Isso me parecia absolutamente
alheio ao que eu fazia.
S de B. - Voc acreditava que mais valia escrever
livros e que as pessoas os lessem a seu bel-prazer, tendo tempo para refletir, em vez de
proporcionar-lhes um
curso ex-cathedra sobre a matria.
J .-P. S. - Exato. E devo dizer que estava muito ocupado tambm; escrevia livros que me
tomavam todo o tempo e teria que reduzir meu tempo de trabalho, j que deveria
reservar determinado nmero de horas por semana para preparar cursos sobre coisas que
tinha a impresso de saber; conseqentemente, dar um curso no College de France
no me teria feito evoluir. Merleau-Ponty o fazia porque considerava a filosofia um
pouco inserida no sistema professoral; alis, no sei por qu. Seus livros no
eram particularmente livros universitrios, mas, no en-
335
#tanto, creio que havia entre ns a diferena de que ele aceitava a universidade desde a
origem como um meio de fazer filosofia, e eu no a aceitava.
S. de B. - Sim, alis, Merleau-Ponty tinha feito
uma tese.
J .-P. S. - Tinha feito uma tese.
S. de B. - Tinha feito uma carreira como universitrio. preciso lembrar tambm que h
consideraes prticas; voc, como escritor bem-sucedido, ganhava bastante
dinheiro na poca, e quanto a Merleau-Ponty, era evidente que vivia de sua carreira
universitria. Isso era ento importante, e dava-lhe, ao contrrio, tempo para
estar no Collge de France, porque tinha menos o que fazer do que se fosse
simplesmente professor na Sorbonne. Creio que uma considerao que motiva muitas
pessoas
que pertencem ao Collge de France. Mas quanto a voc, evidentemente, como no
tinha uma razo prtica ou econmica, teria sido unicamente por uma questo de
honrarias.
J .-P. S. - No considero uma honra ser professor no Collge de France.
S. de B. - Voc nunca considerou nada como uma honra.
J .-P. S. - De fato. Considerava-me superior s honrarias que me poderiam oferecer,
porque elas eram abstraas, nunca se dirigiam a mim.
S. de B. - Dirigiam-se ao outro em voc. E para voltar ao Prmio Nobel, que foi a mais
escandalosa de suas recusas, a mais conhecida, a mais comentada?
J .-P. S. - Estou em total contradio com o Prmio Nobel porque ele consiste em
classicar os escritores. Se tivesse existido no sculo XVI, no sculo XV, saberamos
que Clment Marot recebeu o Prmio Nobel, que Kant no o conseguiu, que deveria t-lo
recebido, mas que no lhe concederam porque houve uma confuso, ou uma atuao
de determinados membros do jri; que Victor Hugo evidentemente o recebeu, etc.
Assim, a literatura seria, ento, completamente hierarquizada; haveria os membros
do Collge de France, e outros que teriam o
336
Prmio Goncourt, e depos outros que teriam recebido outras honrarias. O Prmio Nobel
consiste em conferir um prmio a cada ano. A que corresponde esse prmio? Que significa
um escritor que recebeu o prmio em 1974, o que quer dizer isso em relao aos homens
que o receberam antes ou em relao queles que no o receberam, mas que escrevem
como ele, e que talvez sejam melhores? ue significa esse prmio? Pode-se dizer,
realmente, que no ano em que mo concederam eu era superior aos meus colegas, os
outros
escritores, e que no ano seguinte um outro o era? assim que se deve considerar
verdadeiramente a literatura? Como pessoas que so superiores um ano, ou ento que
o so h muito tempo, mas que sero reconhecidos nesse determinado ano como
superiores? absurdo. evidente que um escritor no algum que num momento
dado
superior aos outros. No mnimo, igual aos melhores. Os 'melhores': isso ainda uma
m frmula. Ele igual queles que fizeram livros realmente bons, e, alm
disso, assim para sempre. Ele fez esta obra, talvez cinco anos antes, talvez dez anos
antes. preciso que haja uma certa renovao para que nos concedam o Prmio
Nobel. Eu tinha publicado Ls mots; consideraram-no vlido e me concederam o prmio
um ano depois. Para eles, isso acrescentava um valor a minha obra. Mas deve-se
concluir que, no ano anterior, quando no tinha publicado essa obra, eu valia muito
menos? uma noo absurda; essa ideia de colocar a literatura em hierarquia
uma ideia completamente contrria ideia literria, e, ao contrrio, perfeitamente
conveniente para uma sociedade burguesa que deseja integrar tudo. Se os escritores
so integrados por uma sociedade burguesa, s-lo-o por uma hierarquia, porque
efetivamente assim que se apresentam todas as formas sociais. A hierarquia aquilo
que destri o valor pessoal das pessoas. Estar acima ou abaixo absurdo. E por isso
que recusei o Prmio Nobel, porque no queria de modo algum ser considerado
igual a Hemingway, por exemplo. Gostava muito de Hemingway, conhecia-o
pessoalmente, fui v-lo em Cuba, mas a ideia de ser igualado a ele, ou de ser situado
num
337
#lugar qualquer com relao a ele, estava muito longe de meu pensamento. Existe em
tudo isso uma ideia que considero ingnua e at idiota.
S. de B. - Queria retornar ao seu orgulho. Que voc seja orgulhoso algo que ressalta,
evidentemente, de todas as nossas conversas; mas como definiria seu orgulho?
J .-P. S. - Creio que no se trata de um orgulho ligado a minha pessoa, J ean-Paul Sartre,
indivduo privado, mas que se liga, antes, s caractersticas comuns a todos
os homens. Sinto-me orgulhoso por realizar atos que tm um comeo e um fim, por
modificar uma determinada parte do mundo, na medida em que atuo, por escrever, por
fazer livros - nem todo mundo os faz, mas todo mundo faz alguma coisa - em suma, por
minha atividade humana: disso que me orgulho. No que a considere uma atividade
superior a qualquer outra, mas uma atividade. E o orgulho da conscincia a
desenvolver-se como um ato; sem dvida, isso tambm reflete sobre a conscincia como
subjetividade; mas na medida em que esta subjetividade produz ideias, sentimentos.
o fato de ser um homem, um ser nascido e condenado a morrer, mas, entre essas duas
coisas, agindo e distinguindo-se do resto do mundo por sua ao e por seu pensamento,
que tambm uma ao, e por seus sentimentos, que so uma abertura para o mundo da
ao; por tudo isso, quaisquer que sejam seus sentimentos, quaisquer que sejam
seus pensamentos, que creio que um homem deve definir-se; para encerrar, no
compreendo que os outros homens no sejam to orgulhosos quanto eu, de vez que isso
me parece uma caracterstica natural, estrutural da vida consciente, da vida em
sociedade ...
S. de B. - O fato que, de um modo geral, no o so; como se explica que voc tenha
podido s-lo?
J .-P. S. - Suponho que, na imensa maioria dos casos, so a pobreza e a opresso que
impedem o orgulho.
S. de B. - Haveria, em todos os homens, uma tendncia a ter um certo orgulho?
338
J .-P. S. - o que penso. Esse orgulho est ligado ao prprio fato de pensar, de agir.
Atravs dele revela-se a realidade humana e isso acompanhado de uma conscincia
do ato que realizamos e com o qual estamos satisfeitos e orgulhosos. Creio que esse o
orgulho que deveria existir em todo mundo.
S. de B. - E por que existe uma quantidade de pessoas que absolutamente no so
orgulhosas?
J .-P. S. - Pense num rapaz que vive numa famlia mais ou menos desunida, numa
atmosfera de pobreza, que no tem instruo, que no se encontra no nvel em que a
sociedade lhe solicita provas e qualidades propriamente humanas; que chega, nessas
condies, a uma situao, aos dezoito ou dezenove anos, que comporta um trabalho
duro, secundrio e mal pago. Esse rapaz talvez tenha orgulho de seus msculos, mas
isso no passa de vaidade; ele no tem orgulho propriamente dito, porque est
permanentemente alienado, permanentemente empurrado para fora do domnio onde
deveria poder agir com os outros, afirmando: "Fiz isto, fao isto, tenho o direito
de falar."
S. de B. - O orgulho seria um privilgio de classe?
J .-P. S. - Nol No estou dizendo isso; digo que as possibilidades de se ter orgulho so
atualmente mais proporcionadas numa classe, a classe opressora, a classe
burguesa, do que em outra, a classe dos oprimidos, a classe proletria; mas, parece-me
que, na verdade, todo homem pode ser dotado deste orgulho. As circunstncias
sociais fazem com que isso seja mais fcil para alguns burgueses do que para os
proletrios, que so humilhados e ofendidos; eles tm ento, no o orgulho, mas
a exigncia de um orgulho; sentem o lugar vazio deste orgulho que deveriam ter. e na
revoluo reivindicam ter o orgulho de ser homens. Existem proletrios, camponeses
que nos mostram, atravs de seus atos e de suas palavras, que conservaram orgulho.
Esses sero revolucionrios. Se se submetem, se se deixam acapachar, como se diz,
a contragosto.
S. de B. - No acha que a famlia, a educao, representam um papel muito importante
nisso? Pessoas de
339
#classes desfavorecidas, se tiveram uma oportunidade familiar conservaro o orglho,
mesmo na opresso e na explorao; ao contrrio de burgueses ricos, que so
completamente
arrasados por uma infncia superprotegida. Nesse sentido, como explica que tenha
podido ser orgulhoso?
J .-P. S. - Tive uma infncia na qual se falou muito, e exageradamente, de minha
inteligncia, por ser eu o neto de meu av, que se julgava um grande homem, coisa
que no era; fui levado a imaginar-me como um pequeno prncipe. Era j um
privilegiado nessa esfera pequeno-burguesa em que vivia, e, como neto de meu av,
consideravam-me
dotado de uma qualidade excepcional. Isso no corresponde ao que digo do orgulho,
porque no penso possuir uma qualidade excepcional, penso apenas que tenho
possibilidades
humanas; sinto-me orgulhoso do ser humano em mim; mas isso me veio de meu
primeiro orgulho, que era um orgulho de criana.
S. de B. - Voc foi estimulado a ter orgulho de ser um homem.
J .-P. S. - Sim. Creio que meu av tambm o tinha, mas de outra maneira ...mais fundado
em qualidades pessoais, mais ligado universidade: diminudo; mas certamente
tinha orgulho.
S. de B. - Voc aprovou, quando escreveu sobre Genet, uma frase dele: "O orgulho vem
depois." Isso vlido para voc?
J .-P. S. - O orgulho se chamou orgulho, foi sentido como orgulho depois; depois
significa depois de meus doze anos, depois de uma primeira vida, vida na qual existia
mas em que no era nomeado.
S. de B. - Parece-me que, na Escola Normal, havia algo de que voc gostava muito: o
grupo.
J .-P. S. - Sim, vamo-nos com muita frequncia. Formavam-se grupos; amos juntos ao
cinema, almovamos juntos. A maioria das vezes almovamos e jantvamos na
prpria Escola. Havia conversas de mesa a mesa entre os cientficos e os literrios.
340
S. de B. - Voc disse, muitas vezes, que os anos da Escola Normal eram dos mais
felizes de sua vida.
J .-P. S. - Sim, fui inteiramente feliz.
S. de B. - Ento, voc sentia muito prazer em viver entre homens? Era realmente entre
homens, porque voc era interno; como voc diz, comiam juntos etc., portanto,
a companhia de homens lhe era agradvel.
J .-P. S. - Sim, apesar disso tinha contatos com mulheres.
S. de B. - Sim, sei, Camille, a noiva.
J .-P. S. - Muita gente.
S. de B. - De uma outra maneira, atravs de Guille, a Sra. Morei, claro.
J .-P. S. - Mas, de um modo geral, os dias se passavam em companhia de homens.
S. de B. - E isso lhe agradava.
J .-P. S. - No esquea que Guille, Maheu, Nizan e eu formvamos um grupo que era
objeto de gracejos.
S. de B. - Sim, porque vocs eram muito distantes em relao s pessoas que no lhes
agradavam. Por exemplo, com Merleau-Ponty voc no tinha boas relaes?
J .-P. S. - No; mas mesmo assim protegi-o, uma vez, contra rapazes que queriam
quebrar-lhe a cara.
S. de B. - Vocs estavam cantando canes obscenas e ele tinha querido interferir
porque era tala
J .-P. S. - Ele saiu, correram atrs dele, eram dois, iam quebrar-lhe a cara porque
estavam furiosos. Ento, sa tambm; sentia uma vaga amizade por Merleau-Ponty;
havia algum comigo; chegamos e dissemos: no lhe quebrem a cara, deixem-no em
paz, deixem-no ir-se. Ento eles no fizeram nada e foram embora.
S. de B. - Houve uma outra ocasio em sua vida, na qual voc se sentiu muito satisfeito,
na qual voc vivia numa comunidade de homens; foi o campo de prisioneiros.
J .-P. S. - Sim, sentia-me menos feliz.
S. de B. - Naturalmente, em decorrncia das circunstncias; mas o que quero dizer que
o fato de viver entre homens, em comunidade, no lhe foi desagradvel
341
#naquela ocasio. Absolutamente no foi isso que tornou um pouco penosa sua situao
de prisioneiro, que ela era tal objetivamente; mas o fato de estar entre homens,
de se fazer reconhecer e de trabalhar com eles agradoulhe?
J .-P. S. - Agradou-me.
S. de B. - Isso interessante, porque se retomamos agora a sequncia cronolgica,
vemos que suas amizades com homens foram bastante raras, pelo menos muito
escolhidas,
e que, de um modo geral, voc no gostou tanto assim de viver entre homens; estou
querendo dizer:
tomemos o servio militar ...
J .-P. S. - No servio militar houve uma primeira etapa que foi o momento em que
fazamos cursos em Saint-Cyr, o momento dos cursos de meteorologia, eu tinha pouco
contato com os outros soldados, a no ser com Guille, que escolhera a mesma
especialidade, e com Aron, que era instrutor. Havia um ou dois outros com quem falava,
mas s. Mas os meus melhores amigos eram realmente o instrutor e o companheiro de
instruo. Depois, na vlla Polovnia, convivi com dois sujeitos, um de Toulouse,
e um padreco, um seminarista, cujos ps cheiravam horrivelmente mal, que fazia mal
seu trabalho e que tinha comigo as relaes que podia ter, j que eu no acreditava
em Deus e no lhe escondia isso.
S. de B. - L o clima era de hostilidade?
J .-P. S. - Desde o momento em que algo ia mal, transformava-se em hostilidade;
tambm no gostava nada do de Toulouse, era ladro e matreiro, mas tinha pouco
contato
com ele; para contatos de cozinha ou para passear um dia em Tours era suportvel.
S. de B. - E na poca em que foi professor estava forosamente em contato com todo o
grupo de professores.
J .-P. S. - No, no estava ligado.
S. de B. - O que quero dizer que voc estava ali, e havia outros professores em torno
de voc; voc os mantinha completameme a distncia. De toda maneira, fez
amizades! No Havre, foi Bonnaf?
342
j.-P. S. - Sim, Bonnaf e, depois, o professor de ingls, mas que Bonnaf e eu
considervamos um palhao; almovamos juntos no restaurante que descrevi en La
nause.
S. de B. - Por que sentiu amizade por Bonnaf?
J .-P. S. - Porque era um belo rapaz e boxeador, essencialmente por isso.
S. de B. - Na poca em que foi professor no Havre, vocs eram bastante amigos, a ponto
de fazermos alguns dias de viagem a p, voc e eu, com ele e a namorada.
J .-P. S. - Sim, naquela poca gostava bastante dele.
S. de B. - Depois, em seus diferentes postos, em Laon, em Paris, nunca teve relaes de
amizade com colegas?
J .-P. S. - Encontrava-os quando ia sesso em que eram distribudos os quadros-de-
honra, quando comparecia - porque fui muitas vezes censurado por no comparecer.
Mas no posso dizer que me relacionasse com eles. Sim, travei conhecimento com
Magnane e com Merle:
estive durante dois anos no Liceu Pasteur e l via a ambos.
S. de B. - Mas no tinha amizade por Magnane? Via-o, mas isso no era importante?
J .-P. S. - No entanto, convivia mais com ele do que com Merle, mas porque Merle tinha
sua vida e no dispunha de muito tempo, ao passo que Magnane dispunha de
mais tempo.
S. de B. - com quem mais travou conhecimentos? No Havre, conviveu com Bost e Palie.
Era com eles que voc praticava boxe. Seria interessante falar de suas relaes
com seus alunos.
J .-P. S. - Em princpio, gostava bastante deles, e quando Bonnaf inventou dar aulas de
boxe, eu mesmo os levei para a sala de ginstica. ramos dez ou doze; os
outros no participaram com medo do ridculo ou de um soco violento. ramos uma
dezena e boxevamos sem nos machucar.
343
#S. de B. - Havia outros alunos dos quais voc gostava muito: Morzadec, por exeplo; de
um modo geral, gostava bem mais dele do que de seus colegas?
J .-P. S. - No via meus colegas, dava-lhes bomdia, perguntava por sua sade, por sua
famlia, sua mulher, mas parava a. No era desagradvel com eles, mas no
nos vamos, e eles tambm no procuravam ver-me. Tinham suas vidas; havia um ou
dois que sentiam uma vaga simpatia por mim.
S. de B. - A priori, voc simpatizava com os alunos, por qu?
J .-P. S. - A priori.
S. de B. - De toda maneira trata-se de relaes de amizade com homens; mas havia uma
diferena, eram jovens, voc mesmo no era velho, mas enfim ...
J .-P. S. - Havia uma diferena pequena quando cheguei no Havre ...
S. de B. - Voc fizera a agregao aos vinte e trs anos, fizera seu servio militar, tinha
vinte a seis, vinte e sete anos ...
J .-P. S. - E eles tinham dezoito, dezenove. Gostava bastante deles; no gostava tanto dos
primeiros da classe, os primeiros mesmo, mas interessava-me plos que tinham
ideias; frequentemente eram diferentes dos primeiros, tinham uma reflexo que se
iniciava.
S. de B. - Por que gostava deles? Por que ainda no estavam esclerosados, por que ainda
no tinham o sentimento de seus direitos, por que ainda no eram patifes?
J .-P. S. - Estava muito prximo deles, como pensamento, como maneira de viver; era
um pouco mais livre, j que no vivia com a famlia, mas, enfim, era um pouco
a mesma coisa. Havia realmente uma ligao que fazia com que estivesse com Bost e
com Palie como com amigos, um pouco como era com Guille e Maheu.
S. de B. - H algum de quem no falamos e Zuorro, com quem voc tinha uma
relao estranha!
J .-P. S. - Sentia uma certa simpatia por ele, simpatia que vinha de seu fsico; ele era
bastante bonito.
344
S. de B. - Era at muito bonito.
J .-P. S. - Era bastante engraado, irnico, bastante inteligente.
S. de B. - Muito mitmano.
J .-P. S. - Era pederasta, tinha casos na Cite Universitaire, onde eu estava tambm
naquela poca. No se pode dizer que ele e eu nos entendssemos. Ele se entendia
melhor com Guille, por exemplo.
S. de B. - Sim, mas enfim, vocs se viam com bastante frequncia.
J .-P. S. - Sim, ns nos vamos com bastante frequncia.
S. de B. - Voltemos aos jovens, por que gostava dos jovens?
J .-P. S. - Creio que porque me encontrava mais nos jovens do que nos mais velhos, ou
nas pessoas de minha idade. Na medida em que eles se interessavam pela filosofia
tinham uma maneira de escrutar ideias, sem mtodo, que correspondia maneira pela
qual eu escrutava minhas ideias, minhas verdades; eu dizia muitas vezes: descobri
trs teorias, esta semana. Pois bem, eles tinham algo disso; sua maneira de pensar era
uma espcie de inveno, eles no eram feitos, eles se faziam; eu tambm no
era feito e sentia bem isso. Sentia que mudava e eles antecediam at a mudana que
sentia em mim e depois, finalmente, forando-os um pouco, atravs do boxe, e depois,
sem for-lo, atravs das relaes quotidianas, convivia muito com eles.
S. de B. - Havia tambm um professor de ginstica que voc via de quando em quando.
J .-P. S. - Rasquin. Convidou-me para almoar em sua casa, com sua mulher, que
preparara cuidadosamente a comida para mim, comida de que no gostei porque havia
ostras.
S. de B. - Por que ele e no outros? J .-P. S. - Era um sujeito bastante bonito, forte, que
contava histrias; eu gostava muito de ouvi-lo contar as vidas de homens,
com histrias de sexo, de brigas.
345
#S. de B. - Em suma, Bonnaf e Rasquin lhe agradavam porque no eram pedantes, no
buscavam contato intelectual com voc, mas eram vivazes, bonitos e contavam
histrias.
J .-P. S. - Ambos faziam ginstica; isto , Bonnaf fazia boxe.
S. de B. - Embora Bonnaf fosse professor de latim?
J .-P. S. - Sim, de latim, francs e grego; mas preciso entender que o Havre no era,
para mim, o centro de minhas relaes; eu estava no Havre, mas, na realidade,
tinha relaes mais profundas com Guille, Maheu, com aquela senhora, menos intensas
com Nizan na poca.
S. de B. - Elas esfriaram muito depois de seu regresso de Aden, depois ele se casou,
vocs ainda se viam, mas j no era uma intimidade. Ao passo que Guille era
muito ntimo seu; ele era bastante desconfiado em matria de amizade: de incio,
quando voc me levava sempre com vocs, ele se irritou e, uma ou duas vezes, pediu
para v-lo a ss e para ficar sozinho com voc no Havre.
J .-P. S. - De fato.
S. de B. - Guille sempre teve um lado um pouco desconfiado e ciumento.
J .-P. S. - verdade; j no era o caso de Maheu, que, alis, se dava s amizades com
muito maior distncia. Maheu era muito arrivista.
S. de B. - Ele chegou onde queria
J .-P. S. - Chegou. Mas era exatamente o que desejava.
S. de B. - E depois?
J .-P. S. - Comecei a trabalhar em La nause; depois fui para Berlim.
S. de B. - L tambm voc viveu num grupo masculino.
J .-P. S. - Sim, mas havia tambm uma mulher.
S. de B. - A quem voc chamava de mulher lunar, mas sua vida foi sobretudo uma vida
entre homens.
346
J .-P. S. - Era uma vida de passeios solitrios em Berlim e depois de trabalho.
S. de B. - Na verdade, voc no teve muito contato com esses companheiros de Berlim?
J .-P. S. - No; vamo-nos durante as refeies da noite; a refeio do almoo era livre,
tnhamos dinheiro suficiente para pag-la; mas, a noite, jantvamos todo
juntos. ramos seis ou sete.
S. de B. - Voc estava sobretudo com Susini e Brunschwig?
J .-P. S. - Sim, mas havia outros. Alguns vinham para estudar determinado poeta alemo
sobre o qual, depois, escreviam teses.
S. de B. - Voc tinha antipatias?
J .-P. S. - Havia um professor cujo nome j no recordo. Um rapaz grande, de culos,
com bigodes negros, devo t-lo mostrado a voc.
S. de B. - No gostava dele?
J .-P. S. - No gostava nada dele. E um outro tambm, igualmente jovem.
S. de B. - Mas como voc se relacionava com os sujeitos de quem no gostava? De
forma agressiva ou polida?
J .-P. S. - Em geral, de forma polida, mas um pouco agressiva, apesar de tudo; tive
atritos com esse professor de bigodes pretos; havia atritos bastante violentos,
noite, durante o jantar. Em suma, tinha relaes bastante honestas com aquelas pessoas.
Ns nos vamos, amos juntos ao cinema.
S. de B. - Voc gostava bastante de um deles, creio que se chamava Erhard?
J .-P. S. - Que era um rapaz engraado.
S. de B. - Foi ele quem nos levou s boates quando fui visit-lo. Voc saa com ele.
J .-P. S. - No; no saa com ningum. Ia almoar sozinho no Kurfrstendamm, que era
um bairro bastante legante na poca. Ia l, almoar numa brasserie, ou ento
para os lados da estao ...As relaes com os outros pensionistas no me interessavam.
347
#S. de B. - Voc estava muito mais interessado em sua histria com a mulher lunar. A
mulher teve muito mais importncia do que os rapazes?
J .-P. S. - Sim, evidente.
S. de B. - Depois, voc comeou a publicar seus livros. Conheceu muita gente nesse
momento?
J .-P. S. - Antes da guerra? Ah sim, certo nmero de pessoas.
S. de B. - Conheceu Paulhan, Brice Parain, Gaston Gailimard, Claude Gailimard, esses,
os editores.
J .-P. S. - E conheci tambm escritores; lembro-me de uma reunio sinistra en casa de
Gailimard, numa tarde; era um coquetel, um ano antes da declarao de guerra,
no ms de junho de 1938, e em julho-agosto de
1939, era o fim, e todo mundo sentia que algo ia acontecer, e a atmofera no era alegre
naquele dia. S se falava nisso. Sim, na ocasio eu conheci algumas pessoas,
escritores da Gailimard.
S. de B. - Foi nesse dia que voc conheceu J ouhandeau? No foi ele que lhe perguntou:
"Voc esteve no inferno?"
J .-P. S. - Sim, foi ele.
S. de B. - Enfim, aquilo no ia longe. Nunca foram amizades, foram encontros.
J .-P. S. - Sim. com as pessoas que faziam literatura tive apenas encontros.
S. de B. - Voc conheceu Gide?
J .-P. S. - Sim, estive com ele. Adrienne Monnier deu um jantar para o qual me convidou
com Gide, j no me lembro bem desse jantar. Mas Gide e eu no desgostamos
um do outro.
S. de B. - Voc tinha prazer de encontrar-se com escritores?
J .-P. S. - Sim; houve uma reunio muito divertida, quando Adrienne Monnier fez
fotografar escritores, conheci assim vrios escritores. Valry, por exemplo; revi
Valry depois, aps a guerra, no bar de Pont-Royal; marcamos um encontro. J no sei
o que tnhamos a dizernos, nada de importante.
348
S. de B. - Enm, tudo isso no ia alm de uma curiosidade divertida ou interessada, voc
no fez nenhuma amizade?
J .-P. S. - Nenhuma amizade.
S. de B. - No esteve com os surrealistas: nem com Aragon nem com nenhum outro.
J .-P. S. - No, conheci Aragon depois da guerra.
S. de B. - Bem, retornemos guerra. L ainda voc estava numa comunidade de
homens. De que forma voc se relacionava com seus colegas meteorologistas?
J .-P. S. - Tinha boas relaes com Pieter, que era judeu; lembro-me como estava
angustiado em junho de
40.
S. de B. - Vocs todos foram prisioneiros. Ele foi preso?
J .-P. S. - Sim.
S. de B. - No se soube que era judeu?
J .-P. S. - No.
S. de B. - Como foi que ele se safou?
J .-P. S. - Por que o saberiam? Ele no tinha documentos.
S. de B. - Seu nome ...
J .-P. S. - Ele conservou seu nome, mas no disse que era judeu.
S. de B. - Parece-me que o revimos aps a guerra.
J .-P. S. - Eu o vi durante a guerra. Ele saiu, creio, conseguiu fugir.
S. de B. - Ento, voc se entendia bastante bem com ele?
J .-P. S. - Sim; muito mal com o cabo e bastante bem com um operrio parisiense:
Mller.
S. de B. - Mas voc tambm mantinha contato com outros soldados?
J .-P. S. - Sim, via os secretrios do Q.G. do general, ns nos falvamos.
S. de B. - De um modo geral, eram simpticos com voc?
J .-P. S. - Pieter sim, o cabo Pierre de modo algm. Ambos ramos professores. Pierre
sentia vagamente
349
#iue isso deveria ligar-nos; eu, no. Esse vnculo, para nim, no existia, ento isso o
desagradava.
S. de B. - Voc j falou de sua experincia de priioneiro, mas teria ainda aluns detalhes
a mencionar?
J .-P. S. - Conheci Bnard no campo de prisioneios; ele morava no Havre, casara-se com
a flha do prometrio do jornal L Pett Harais; era redator desse jorlal,
antes da guerra, amava muito sua esposa, que fora ninha aluna no Havre.
S. de B. - Mas por que voc se ligou a ele? J .-P. S. - Ele era interessante! Falava bem e
sobreudo, no campo, tnhamos relaes originais, que eram elaes de trabalho
e ao mesmo tempo de resistncia aos ficiais e aos soldados colaboracionistas do campo.
Ele me ijudava e ocupava-se da alimentao muito bem. Estava igado a ele e
sobretudo a um padre, o abade Leroy;
nantive contato permanente com os padres, que possuam ima barraca s deles.
S. de B. - Por que essa escolha dos padres? J .-P. S. - Porque eram intelectuais, e foi por
isso ambm que me haviam recrutado e haviam recrutado mtros. Ento, se,
em circunstncias como aquelas, um ntelectual podia entender-se com os padres, os
padres o idotavam. Entretive tambm boas relaes com o abade 'errin.
S. de B. - E com os outros, os que no eram inteectuais: ainda assim voc se relacionava
com eles?
J .-P. S. - Sim, era com eles que tinha contatos nais frequentes, porque estvamos na
mesma barraca.
S. de B. - Mas que sentimento nutria por eles?
p - Minha barraca era a barraca dos artisas; havia os que tocavam trombeta, havia os
que, como homisse, se ocupavam do teatro aos domingos; outros ram canores
ou atores mais ou menos improvisados. _ S. de B. - Em suma, o fato de estar entre
homens o lhe desagradava?
J ' . - No me desagradava.
S. de B. - Voc no vivia no desprezo, no desgosto, na solido, no retraimento?
50
J .-P. S. - Havia retraimento na medida em que pensava coisas que eles no pensavam;
mas, por exemplo, noite, estava inteiramente com eles; contava histrias,
sentava-me a uma mesa, no meio da barraca, e falava, eles morriam de rir. Contava-lhes
qualquer coisa, comportando-me de maneira absurda.
S. de B. - Ou seja, procurava relacionar-se com eles e o conseguia.
J .-P. S. - Sim, muito bem.
S. de B. - Havia, suponho, alguns sujeitos que o desagradavam individualmente.
J .-P. S. - Sim, individualmente, alguns no me agradavam muito.
S. de B. - Mas o que fazia com que gostasse ou no gostasse de algum?
J .-P. S. - De um modo geral, no gostava do sujeito que no jogava o jogo; h sempre
um jogo nas relaes entre homens; por exemplo, no campo de prisioneiros havia
uma maneira de estar com os outros, confvamo-nos uns aos outros, pedamo-nos
conselhos etc. Bem, aqueles que se aproveitavam disso para conseguir vantagens eram
os que, em primeiro lugar, me desagradavam, e que podiam tornar-se verdadeiros
inimigos. Chomisse, por exemplo, era o tipo de rapaz que no se sabia de onde vinha;
sustentavam que abria as portas dos txis em frente ao cinema Gaumont-Palace. Isso
no impossvel.
S. de B. - Mas no era isso que o tornava antiptico aos seus olhos?
J .-P. S. - No gostava que no quisesse diz-lo, que contasse gabolices sobre a vida que
tivera. S. de B. - Voc no gostava dos hipcritas.
J .-P. S. - Eu no gostava dos hipcritas. isso, essencialmente.
S. de B. - Os mitmanos a rigor ... J .-P. S. - Os mitmanos no me incomodam. S. de B.
- Sei que voc gostava muito, por exemplo, de Leroy, porque era muito leal
e muito corajoso, no quis mudar de campo, beneficiar-se de suas vanta-
351
#gens de padre, quis permanecer. Voc gostava daqueles que tinham carter, daqueles
que resistiam.
Houve muitas amizades importantes que se formaram durante a guerra, quando voc
voltou a Paris. Voc esteve em contato com a resistncia intelectual. A quem conheceu
nessa poca?
J .-P. S. - Sujeitos cujos nomes esquecil
S. de B. - Claude Morgan.
J .-P. S. - Sim, Claude Morgan; Claude Roy pouco depois.
S. de B. - Que trabalho fazia voc?
J .-P. S. - Ns ramos redatores de pequenos jornais, em particular do Ls Lettres
Franaises.
S. de B. - Voc sentia solidariedade em relao a essas pessoas, como para com os
prisioneiros do campo?
J .-P. S. - Sim, muita.
S. de B. - Voc conheceu Camus, creio que aps o artigo que escreveu sobre ele. Quais
foram as suas amizades durante esse perodo?
J .-P. S. - Conheci Giacometti, mas ele foi logo para a Sua e retornou depois da guerra.
S. de B. - Conhecemo-lo durante os primeiros anos.
J .-P. S. - E depois, ele partiu para a Sua, em
1942.
S. de B. - Suas relaes de amizade com ele ainda no existiam verdadeiramente
durante a guerra?
J .-P. S. - No, eram menos ntimas do que depois.
S. de B. - Ento, a quem conheceu durante a guerra?
J .-P. S. - Leiris e sua mulher.
S. de B. - Como os conheceu? Atravs do Ls Lettres Franaises, talvez?
J .-P. S. - Atravs da resistncia. Li todos os seus livros naquele momento; senti por ele
uma amizade muito simples, muito grande, muito forte. Muitas vezes, sua
mulher e ele nos convidavam para jantar; o tipo de conhecimentos que ele tinha, por
exemplo seus conhecimentos de socilogo, no coincidia com os meus, e suas
352
esquisas, seus interesses eram diferentes dos meus. Mas isso no impedia que esse casal
nos agradasse muito.
S. de B. - H algum de quem nunca falamos e que tambm tem seu lugar em sua vida
de antes da guerra e durante a guerra: Duiin.
j.-P. S. - Gostava muito de Duiin.
S. de B. - E tambm Queneau.
j.-P. S. - Conhecemos Queneau e sua mulher em
casa de Leiris.
S. de B. - Por volta de 1943 houve aquelas fies-
tas ...
J .-P. S. - Nas quais conhecemos Bataille, Leibowitz, J acques Lemarchand, todo um
mundo literrio. Esse mundo literrio, naquela poca, no se manifestava nos jornais,
no produzia livros, permanecia fechado em si mesmo, mas ainda se reunia; por
exemplo, no Flore, encontrvamos Picass; havia restaurantes onde vamos pessoas do
entourage de Picasso e de Leiris, o restaurante que se chamava Ls Catalans.
S. de B. - Sim, mas ns no os frequentvamos, eram muito caros para ns.
J .-P. S. - Mas fomos convidados duas ou trs vezes.
S. de B. - Talvez; e depois representamos L dsir attrap par Ia queue, de Picasso.
J .-P. S. - Que nos fez conhecer um pouco mais de perto os amigos de Picasso.
S. de B. - Que espcie de relaes manteve com Picasso?
J .-P. S. - Muito limitadas, mas, no entanto, muito amveis at a Libertao; depois, ele
foi absorvido pelo Partido Comunista, e tambm morava no Midi, s o revi
muito raramente. Minhas relaes com Picasso eram muito superficiais, mas sempre
cordiais.
S. de B. - Falemos das pessoas de quem foi mais amigo. Camus ...
J .-P. S. - Conheci Camus em 1943, e com ele estive na pr-estria de Ls mouches,
quando ele veio ter comigo: sou Camus.
353
#S. de B. - Sim, voc escrevera um artigo crtico, mas muito caloroso, sobre L'tranger.
J .-P. S. - Isso pressupunha, evidentemente, que atribua importncia a esse livro.
S. de B. - Pode falar de suas relaes com Camus? Seu incio, sua continuao.
J .-P. S. - Seu incio, mas sua continuao, aps a guerra, isso seria muito complicado
...Tnhamos relaes originais que, creio, no se encaixavam inteiramente
com o gnero de relacionamento que ele desejava manter com as pessoas, da mesma
maneira que ns no tnhamos com ele as relaes que gostvamos de ter com as
pessoas.
S. de B. - No no incio; eu gostava muito do relacionamento que mantnhamos com
Camus.
J .-P. S. - No no incio; durante um ano ou dois tudo transcorreu bastante bem. Ele era
engraado, extremamente grosseiro, mas muitas vezes muito engraado;
estava muito engajdo na resistncia e depois dirigiu Combat. O que nos atraa nele era
seu carter argelino;
tinha uma pronncia que se assemelhava pronncia do Midi, tinha amizades
espanholas que eram amizades cuja origem eram suas relaes com os argelinos e os
espanhis...
S. de B. - Sobretudo, nossas relaes no eram afetadas, srias, intelectuais: comamos,
bebamos ...
J .-P. S. - De certa maneira, careciam de intimidade; ela estava presente na conversa,
mas no era profunda; sentia-se que havia coisas que nos fariam entrar em choque,
se as abordssemos, e no as abordvamos. Tnhamos muita simpatia por Camus, mas
sabamos que no se devia avanar muito.
S. de B. - Era com ele que mais nos divertamos, a convivncia com ele era agradvel,
vamo-nos com muita frequncia, contvamo-nos quantidades de histrias.
J .-P. S. - Sim, havia uma amizade verdadeira, mas uma amizade superficial. As pessoas
pensavam agradarnos chamando-nos, aos trs, de existencialistas, e isso deixava
Camus furioso. De fato, ele no tinha nada em comum com o existencialismo.
354
S. de B. - Ento, como evoluram suas relaes com ele? Ele tinha pensado em encenar
Huis cios e representar o papel de Garcin, portanto, vocs estavam muito prximos
em 1943.
J .-P. S. - Em 1944, tambm; entrei para o seu grupo de resistncia pouco antes da
Libertao; encontrei pessoas que no conhecia, que se reuniam com Camus para
considerar o que poderia fazer a resistncia nesse ltimo perodo da guerra; muitos deles
foram presos na semana seguinte, notadamente uma moa, J acqueline Bernard.
S. de B. - Depois, Camus lhe pediu que fizesse uma reportagem sobre a libertao de
Paris, e tambm, foi em grande parte por Combat que voc esteve na Amrica.
J .-P. S. - Foi Camus quem me inscreveu como reprter na Amrica para Combat.
S. de B. - E quando foi que tudo isso comeou a se deteriorar? Lembro-me da grande
cena que ele fez com Merleau-Ponty.
J .-P. S. - Sim, isso nos indisps um pouco. Ele foi casa de Boris Vian uma noite, em
1946. Acabava de passar alguns dias com uma mulher encantadora que depois
morreu, e, em consequncia dessa histria amorosa, dessa separao, estava muito
fechado, lgubre; cumprimentou todo mundo e de repente atacou Merleau-Ponty, que
estava presente, a propsito de seu artigo sobre Koestier e o bolchevismo.
S. de B. - Porque, naquele momento, MerleauPonty se inclinava bastante para o
comunismo.
J .-P. S. - O artigo incriminado tinha sido publicado em minha revista Ls Temps
Moderns, portanto eu stava contra Camus. Na ocasio, Camus no tinha, certamente,
nada contra mim, mas no suportava MerleauPonty. Tambm no concordava com a
tese de Koestier, mas estava enfurecido; tinha razes pessoais para ser favorvel a
Koestier.
S. de B. - Alis, ele tinha relaes estranhas com voc; dizia frequentemente que,
quando o via, s sentia
355
#simpatia por voc, mas que, de longe, havia em voc uma poro de coisas que
censurava; tinha feito uma viagem pela Amrica, na qual se referira a voc de uma
maneira
bastante desagradvel.
J .-P. S. - Sim, tinha uma atitude ambivalente.
S. de B. - No aceitou colaborar conosco na revista e creio que ficava muito irritado
porque, sendo voc mais conhecido e ele muito jovem, tomavam-no mais ou menos
como discpulo seu; ele era muito desconfiado, no gostava muito disso. E como foi que
as coisas pioraram at haver a ruptura?
J .-P. S. - Houve um episdio pessoal, que absolutamente no me indisps com ele, mas
que o incomodou muito.
S. de B. - A histria de uma mulher com a qual voc tinha tido um caso?
J .-P. S. - Isso foi um pouco constrangedor e, como essa mulher rompeu com ele por
razes pessoais, ele tambm ficou com um pouco de raiva de mim; enfim, uma
histria complicada. Ele prprio tivera um caso com Casares, e brigara com ela.
Rompera com ela e nos fizera confidncias sobre essa ruptura; lembro-me de uma
noite com ele num bar, na poca amos muito a bares, estava sozinho com ele e ele
acabava de reconciliar-se com Casares, e tinha cartas de Casares na mo, velhas
cartas que me mostrava dizendo: "Ah, isto! Quando as encontrei, quando pude rel-
las..." Mas a poltica nos separava.
S. de B. - O que supunha uma certa intimidade no plano privado.
J .-P. S. - Sim, ela sempre existiu, enquanto convivamos mais de perto; at mesmo
nossas diferenas polticas no nos incomodavam muito na conversa; por exemplo,
ele estava com Casares e foi v-la ensaiar L Diable et l bon Dieu, voc se lembra?
S. de B. - Sim, de fato. Quais eram essas diferenas polticas e como foi que isso acabou
explodindo? Foi quando houve o R.D.R?
J .-P. S. - No.
S. de B. - E ento, a briga definitiva?
356
J .-P. S. - A briga definitiva foi quando ele publicou seu livro L'homme revolte. Procurei
algum que quisesse encarregar-se de fazer uma crtica em Ls Temps Moderns,
sem atac-lo, e isso foi difcil. J eanson no estava l, na ocasio, e entre os outros
membros de Ls Temps Moderns ningum queria ocupar-se de falar a respeito,
porque eu queria que houvesse uma certa discrio e todos detestavam o livro. De
maneira que durante dois ou trs meses Ls Temps Modemes no falaram de Liomme
revolte.
Depois J eanson voltou de viagem e me disse:
"Eu quero faz-lo." Alis, a atitude de J eanson era bastante complicada: ele procurava
contatos com pessoas como Camus, para ver se poderia fundar, com eles, uma
revista que seria a contrapartida de Ls Temps Modemes, mas mais de esquerda, j que
Ls Temps Modemes era uma revista reformista enquanto que a outra revista seria
revolucionria.
S. de B. - Era estranho querer fazer isso com Camus, que nada tinha de revolucionrio.
J .-P. S. - Ele pedira isso a algumas pessoas; pedira a Camus, mas, evidentemente, isso
no podia chegar a nada. Ento, provavelmente para vingar-se de que Camus
no tivesse querido trabalhar com ele, escreveu o artigo na linha que eu no desejava,
isto , violento, percuciente, e mostrando as falhas do livro, o que no
era difcil.
S. de B. - Ele mostrou sobretudo a pobreza losfica do livro. Isso tambm no era
difcil.
J .-P. S. - Eu no estava presente, estava viajando, pela Itlia, creio.
S. de B. - De toda maneira, voc no teria censurado um artigo de um colaborador.
J .-P. S. - No; mas Merleau-Ponty estava muito perturbado com esse artigo e achava -
ele era o nico responsvel que estava em Paris - que no gostaria que fosse
publicado; queria que J eanson mudasse de ideia, tiveram uma discusso violenta, e
depois ele nada mais pde fazer, a no ser deixar que o artigo fosse publicado,
o artigo foi publicado, mas em condies especiais:
357
J eanson concordara em mostrar seu artigo a Camus - foi a nica restrio que aceitou -
antes que fosse publicado, perguntando-lhe se estava de acordo. Camus ficou
furioso e redigiu um artigo onde me chamava: Senhor Diretor - o que era cmico,
porque no nos tutevamos, mas nos falvamos bastante livremente, no havia Senhor
entre ns. Ento, fiz um artigo para responder s suas insinuaes; Camus falava pouco
de J eanson em seu artigo, atribua-me todas as ideias de J eanson, como se
tivesse sido eu que houvesse escrito seu artigo; respondilhe duramente e a cessaram
nossas relaes; conservei simpatia por ele, embora sua poltica nada tivesse
a ver comigo, entre outras coisas, sua atitude durante a guerra da Arglia.
S. de B. - Isso foi depois. Ao mesmo tempo ele representava um papel, tornava-se
importante, tornava-se muito diferente do jovem escritor muito alegre, muito agradvel,
a quem a glria subia um pouco cabea, mas de maneira ingnua. Bem. E ento,
Merleau-Ponty, Koestier, quais foram suas relaes com eles?
J .-P. S. - No houve relaes profundas nem com um nem com outro. Quanto a
Merleau-Ponty, simples, tinha muita estima por ele, e fui inteiramente sincero em
meu artigo, por ocasio de sua morte, mas ele no era muito fcil de conviver.
S. de B. - De toda maneira, no era algum que voc gostasse de frequentar; creio que
nunca jantamos com ele, ou tomamos um drinque com ele. Nunca compareceu s
nossas fiestas, nunca penetrou em nossa vida privada.
J .-P. S. - Alis, ele enfatizava isso.
S. de B. - A no ser inteiramente por acaso, quando o encontramos em Saint-Tropez;
mas, enfim, eram necessrias circunstncias excepcionais.
J .-P. S. - No nos entendamos muito bem nas conversas.
S. de B. - Koestier, ento? Era muito mais agradvel.
358
j -p. S. - Conhecemo-lo no Port-Royal, ele se apresentou. Levantou-se e disse: "Sou
Koestier."
S. de B. Voc gostava muito de L testament
espagnol.
j.-p. S. - Sim. Cumprimentamo-lo muito simpaticamente. Ficamos um momento com
ele e depois, a partir da, tivemos contatos mais frequentes e ele, quase que
imediatamente,
nos aborreceu com seu anticomumsmo. No que fssemos incondicionalmente amigos
dos comunistas, mas o anticomunismo de Koestier nos parecia desprovido de valor.
Ele tinha sido comunista e rompera; nunca dizia exatamente por que, dava razes
tericas e essas razes tericas ligavam-se no a acontecimentos tericos, mas prticos:
quais? Pelo menos voc e eu ignorvamos. Falava muito de seu anticomunismo; tinha
ido Itlia, para fazer uma reportagem, e voltara apavorado com o movimento
comunista
italiano; seus argumentos contra o comunismo eram os argumentos de toda a imprensa.
S. de B. - Havia algo que nos irritava nele, era seu
cientismo.
J .-P. S. - Seu cientismo nos irritava muito porque ele tinha poucos conhecimentos e
utilizava-se de noes muito vulgarizadas para fazer livros de divulgao.
S. de B. - Havia tambm sua repulsa em relao aos jovens. Lembro-me de uma vez, em
que a noite no correu bem porque havamos levado Bost. Isso o desagradou muito.
Bem, ento tudo isso no passava de relaes pouco importantes, mas a duas pessoas
voc se ligou muito calorosamente: Giacometti e Genet; creio que so as nicas
pessoas com as quais, depois da guerra, voc se ligou mais calorosamente. Por qu?
J .-P. S. - Bem, de toda maneira h uma coisa co"L;:I; aos dois; eram excelentes, um na
escultura e na pintra, o outro em literatura; certamente, sob esse aspecto,
estavam entre as pessoas mais importantes que conheci. com Giacometti jantvamos,
em geral, uma vez por semana mais ou menos. J antvamos em restaurantes, em
1945, 1946, um pouco em qualquer lugar. E falvamos, um pouco de tudo. Ele falava de
sua escultura, eu no
359
#compreendia muito bem o que queria dizer, nem voc, alis.
S. de B. - Voc acabou por compreender, j que escreveu artigos sobre ele.
J .-P. S. - Sim, muitos anos depois. Ele tentava explicar o que era uma percepo de
escultor, falava de suas esttuas, descrevia os progressos que zera, desde sua
primeira esttua, que era muito espessa, muito pesada, at as esttuas graciosas e
alongadas que fez a seguir e que fazia ainda; nem sempre eu compreendia, mas parecia-
me
muito importante e interessante. E depois, falvamos, tambm, de qualquer coisa, de
suas relaes, de seus amores.
S. de B. - Ele falava muito de sua vida, contava uma quantidade de histrias, contava-as
de uma maneira muito interessante.
J .-P. S. - Gostvamos muito de sua mulher, Annette, que sempre o acompanhou.
S. de B. - Mas voc, por assim dizer, nunca teve encontros a ss com Giacometti.
J .-P. S. - Bem, para ser exato, nunca. Havia sempre Annette, e voc, ou de toda maneira
voc, quando Annette no estava presente. Uma vez estive com Giacometti
e Annette, sem voc, porque voc estava viajando.
S. de B. - Mas isso uma coisa interessante, sobre a qual ainda no falamos: todas essas
amizades que voc teve com homens, depois da guerra, voc as compartilhava
comigo. Voc quase nunca mais viu Camus, nem Leiris, nem Giacometti a ss?
J .-P. S. - Camus, sim; lembro-me de ter visto Camus a ss, porque saa de casa de
minha me e ia ao Deux Magots. Encontrava-me com ele no Deux Magots, pela manh,
com muita frequncia, durante o primeiro ano; voc morava no Hotel Louisiane, eu a
via mais tarde.
S. de B. - Sim, mas enfim, voc nunca marcava nada com nenhum de seus amigos
dizendo-lhes: vamos jantar os dois - e isso no era simplesmente para no ex-
360
cluir-me, mas porque voc no fazia tanta questo de ter uma amizade a dois, como
tinha com Nizan ou com Guille.
J .-P. S. - No, isso no vinha ao caso.
S. de B. - E com Genet?
J .-P. S. - As relaes eram mais imprevisveis. Lembro-me de t-lo encontrado aqui, por
exemplo.
S. de B. - Aqui em Roma?
J .-P. S. - Aqui, em Roma, com um jovem pederasta.
S. de B. - E como comearam suas relaes com Genet?
J .-P. S. - Na poca, conhecia Cocteau e ele gosta v muito de Genet. com Cocteau,
nossos contatos no terminaram muito bem, nunca soube exatamente por que, mas
terminaram no ano de sua morte; enm, almoamos juntos trs semanas, ou um ms,
antes de sua morte. De toda maneira, Genet contribuiu certamente para que esses
contatos
com Cocteau no fossem inteiramente estveis.
S. de B. - Mas voc tinha muito mais afinidades com Genet; nunca as teve com
Cocteau.
J .-P. S. - Muito mais; no tinha verdadeiramente afinidades com Cocteau. Visitava-o, ou
jantava com ele, ele era inteligente.
S. de B. - Era inteligente, era brilhante, era muito amvel; era um dos raros que no
competia com voc:
apoiou muito Huis cios. Bem, mas voltando a Genet, ento?
J .-P. S. - Cocteau no tinha mesquinharia alguma, tinha o senso da amizade; quando
gostava de algum - parece que durante algum tempo gostou de mim - era caloroso;
tinha atenes encantadoras; mas suas relaes com Genet eram contraditrias com as
que eu tinha com Genet, porque ele s via em Genet um personagem notvel,
que era preciso ajudar, e eu achava que ele se ajudava muito bem sozinho e que no
precisava de um Cocteau, que as relaes de Genet com Cocteau eram uma pequena
artimanha. Seria melhor se ele superasse suas difi-
361
#culdades sozinho. E, assim, nossas relaes com Genet eram muito diferentes; eu o
estimulava a ser sozinho, como eu era, sozinho; no quero dizer abandonado por
todos, mas sem procurar um padrinho para entrar na literatura, ao passo que Cocteau
gostaria de apadrinh-lo. Genet me conhecia um pouco, atravs de meus livros,
quando me encontrou no Flore. No Flore, vi chegar um rapazinho que parecia um
boxeador.
S. de B. - Eu estava com voc, alis.
J .-P. S. - Um boxeador 'peso leve', e at peso muito leve, e naquela ocasio ele pensava
sobretudo em seus livros e em torn-los conhecidos.
S. de B. - J tnhamos lido Notre-Dame-des-Fleurs e gostvamos muito dele.
J .-P. S. - Gostvamos muito dele; a conversa foi muito agradvel, embora fosse uma
conversa muito original: ou seja, era preciso escutar um longo discurso sobre
um assunto qualquer, discurso que era muitas vezes interessante, algumas vezes um
pouco cansativo, porque se tratava de literatura, e ele tinha seus pontos-de-vista
...
S. de B. - Naquela poca, ele era um pouco pedante, coisa que depois desapareceu
inteiramente; mas no era o tipo de contato quotidiano em que se falava de tudo,
como com Giacometti.
J .-P. S. - No, mas eram bons contatos, amos jantar juntos, ele at jantou em sua casa,
voc preparara uma daquelas refeies que costumava fazer na poca.
S. de B. - Ento foi no fim da guerra ...
J .-P. S. - Conheci Genet no fim da guerra.
S. de B. - Por volta de 1943.
J .-P. S. - Por volta de 1943. Ou em 1944, talvez, nos ltimos meses da Ocupao. De
toda maneira, ele contava fatos anedticos sobre sua vida, apresentava-me a seus
amiguinhos que, muitas vezes, eram belos rapazes, que pareciam compensar sua
pederastia atravs de uma rudeza um pouco artificial. Ele gostava de falar conosco sobre
a pederastia, porque sabia que ignorvamos tudo a esse respeito e ramos bastante
abertos para compreender o que nos explicava.
362
S. de B. - Como lhe ocorreu a ideia de escrever
um livro sobre Genet?
T .p. S. - Ele foi publicado pela Gailimard. Na poca, dvamo-nos muito bem e ele me
pediu que lhe
fizesse um prefcio.
S. de B. - Ah, foi isso! Ele lhe pediu um prefcio, e do prefcio voc fez um livro. E
como recebeu ele esse
livro?
j,-p. S. - De uma maneira curiosa; primeiro no
deu muita ateno, falou-me um pouco a respeito, contou-me algumas coisas; quando
terminei, dei-lhe o manuscrito, ele o leu, e, uma noite, foi at a lareira e pensou
em queim-lo. Creio at que chegou a jogar algumas folhas e depois, as recuperou.
Aquilo o desagradava porque ele se sentia tal como eu o descrevera e no estava
desgostoso com ele mesmo, mas ...
S. de B. - Mas incomodava-o que se escrevesse um livro sobre ele; era como um
monumento funerrio.
J .-P. S. - Ele no discutia as ideias; acreditava que o conjunto das coisas que eu dizia era
verdadeiro, s vezes at se surpreendia com sua verdade; mas, ao mesmo
tempo, aborrecia-o que eu tivesse feito esse livro, examinando e passando seus livros
pelo crivo; sobretudo porque ele se considerava um poeta. Considerava-se o
poeta e me considerava o filsofo, e utilizou muito essa distino, que no era dita, mas
que era sentida por ns; dizia coisas sobre o poeta, dizia coisas sobre
o filsofo, para que tudo isso fosse reunido e organizado, para que isso originasse um
livro, mas, ao mesmo tempo, encarava o livro com muita desconfiana. Quanto
a mim, no creio que seja um dos meus piores livros.
S. de B. - No, at um livro muito bom. E como ficaram as relaes entre ambos
depois do livro? Isso interferiu nelas?
J .-P. S. - O fato que elas se enfraqueceram. Depois disso, nos encontrvamos
casualmente na Gailimard, onde ele ia entregar um manuscrito ou pedir dinheiro;
passvamos um momento juntos e marcvamos um encontro para o dia seguinte ou para
dois dias depois; mas
363
#preciso dizer que duas coisas ocorreram nessa ocasio: ele era muito ligado a
Abdallah, que mais ou menos se matou por causa dele, e decidira ento no escrever
mais. E, de fato, no escreveu muita coisa depois dessa morte. E, tambm, j no
morava em Paris; quando me encontrava com ele era depois de uma ausncia de seis
meses ou
um ano.
S. de B. - Uma ltima coisa: como terminaram todas as amizades sobre as quais
falamos? Falamos de amizades de antes da guerra, Guille, Maheu, Nizan etc.
J .-P. S. - com Guille acabou, porque sua vida o marcou um pouco. Ele perdeu a mulher,
que significava muito para ele, com quem nos entendamos bem, casouse com
outra, qual no nos apresentou. Pouco a pouco, saiu de nossa vida.
S. de B. - J , a partir de 1950, ele no estava bem com voc: era muito conservador,
muito burgus, muito passadista, e isso no combinava muito conosco sob esse
aspecto, ento deixamos de ver-nos. Bem, Maheu?
J .-P. S. - com Maheu, desentendi-me a propsito de um caso ocorrido com um tcheco
que era amigo nosso, que ns protegamos ... complicado.
S. de B. - E preciso dizer sobretudo que houve altos e baixos, que houve eclipses; houve
anos durante os quais no nos vimos e depois nos revimos um pouco. Zuorro?
J .-P. S. - Morreu num desastre de automvel, na Arglia.
S. de B. - Em condies um pouco suspeitas.
J .-P. S. - No se sabe, no se tem certeza disso.
S. de B. - com Aron, voc rompeu imediatamente depois da guerra, por razes polticas.
J .-P. S. - No imediatamente, mas logo depois;
por razes polticas, por razes mais essenciais: que nossa maneira de ver o mundo,
no somente de homens, mas de filsofos, era inteiramente diferente.
S. de B. - Bem. Quanto a Leiris continuamos a gostar muito dele, j no o vemos; com
Queneau houve uma briga estranha, cujo sentido no compreendemos.
364
j.-p. S. - Mas que foi definitiva.
B _ Enfim, de todos esses amigos que voc teve, no houve nenhum a quem voc se
tivesse ligado tanto como na poca em que era jovem, como Nizan, ou
Guille.
j.-P. S. - Certamente que no.
S. de B. - Talvez o mais prximo fosse Giacometti; com ele, nunca houve
desentendimentos.
T-p. S. - Nunca houve desentendimentos, mas
houve arrefecimentos.
5 e B. - Por causa de uma histria que voc contou em Ls mots e que no era
exatamente o que ele
pensava ser verdade.
J .-P. S. - com Giacometti tudo correu bem quase
at o fim; mas nos ltimos meses, por causa dessa histria, ele ficou mais ou menos
brigado comigo.
S. de B. - Muitas de suas amizades acabaram em desentendimentos; com Camus foi de
fato uma ruptura, com Queneau tambm, com Aron, e tambm com Guille. J .-P.
S. - com Maheu tambm foi uma ruptura. S. de B. - Exatamente nos ltimos tempos.
Por que
foi assim?
J .-P. S. - Para mim, uma ruptura no significa
nada. Algo morreu, eis tudo.
S. de B. - Voc pode explicar-me por que isso no
significa nada para voc?
J .-P. S. - Creio que no sentia uma amizade muito profunda por alguns homens que
foram meus amigos mais prximos. Em relao a Guille, no pertencamos ao mesmo
mundo; ele tinha uma maneira de viver muito mais burguesa do que a minha. Ele no
era filsofo, e isso tinha alguma importncia. Expunha-lhe minhas teorias, e ele
respondia, mas isso no o interessava.
S. de B. - Mas no foi isso, de maneira alguma, que prejudicou sua amizade.
J .-P. S. - Tanto faz! Foram coisas que se repetiram at o fim. Se, por exemplo, ele se
casou sem comunicar-nos, foi porque tinha uma certa imagem de mim.
365
#S. de B. - Tinha uma imagem daquela que voc tinha dele. Era disso que ele no
gostava. Alis, ela era falsa. Mas o que voc quer significar quando diz: no tinha
uma amizade profunda? Por quem teve uma amizade profunda?
J .-P. S. - Pelas mulheres. Por Nizan, sim. At seu casamento, e at um pouco depois.
Quando conheci voc, ainda tinha uma amizade bastante profunda por Nizan, embora
tivesse havido toda a permanncia em Aden que nos separara.
S. de B. - E quando o conheci, voc tinha uma grande amizade por Guille; creio que,
naquela poca, se alguma coisa tivesse provocado um desentendimento com Guille
voc lamentaria.
J .-P. S. - Certamente. Mas, de um modo geral, no havia elementos profundos e
sensveis entre mim e eles.
S. de B. - Voc quer dizer que havia antes uma certa harmonia intelectual e que se essa
harmonia deixava de existir, fosse por razes polticas como com Aron, fosse
por outras razes, ento tudo desmoronava?
J .-P. S. - Sim, isso.
S. de B. - No permanecia o vnculo afetivo que faz com que no levemos em
considerao determinadas diferenas ...
J .-P. S. - Exatamente.
S. de B. - Ainda assim, houve casos em que voc teve conflitos bastante violentos que
foram logo superados, por exemplo, com Bost. Houve um conflito porque ele
apoiava Cau.
J .-P. S. - Houve um conflito. Naquela noite, eu o expulsei de sua casa, e depois sa com
ele e fomos tomar um trago num caf ao lado. Esse desentendimento no tem
significao. Mas tive algumas disputas violentas com outros. As brigas vieram mais de
uma fragilidade das relaes.
S. de B. - Bost teria feito tudo para no ficar brigado com voc; e tambm houve
algum que fez o que pde para no ficar brigado com voc em casos de conflito:
foi
366
Lanzmann. Ao passo que houve muita gente que no moveu uma palha, talvez porque
sentissem sua indiferena.
J . - P. S. - Porque eles prprios eram indiferentes. S. de B. - Eram isso porque voc o
era. j.-P. S. - Briguei muitas vezes, mas no creio que fosse sem razo;
diante de mim sempre havia algum que me levava ao desentendimento; uma separao
pelo menos, a um distanciamento, sempre!
S. de B. - certo que, por exemplo, Aron e Camus levaram voc a afastar-se.
J . - P. S. - Camus redigiu uma carta de ruptura. S. de B. - Quando o chamou de Senhor
Diretor, evidentemente.
J .-P. S. - Quanto a Aron, foi o problema do gauilismoe de um dilogo pelo rdio: todas
as semanas dispnhamos de uma hora, no rdio, para discutir a situao poltica
e atacamos violentamente De Gaulle. Alguns gauiistas quiseram responder-me frente a
frente, em particular Bnouville, e um outro cujo nome esqueci. Ento, fui
estao de rdio; no deveramos encontrar-nos antes que comeasse o dilogo; Aron
compareceu, creio que o havia escolhido para ser o rbitro entre ns, convencido,
alis, de que ele ficaria a meu favor; Aron fez que no me via;
juntou-se aos outros; eu concebia que tomasse conhecimento dos outros, mas no que
me ignorasse. Foi a partir de ento que compreendi que Aron era contra mim no
campo poltico. Considerei como uma ruptura sua solidariedade para com os gauiistas,
contra mim. Houve sempre uma razo forte que provocou meus desentendimentos,
mas, de toda maneira, fui sempre eu que tomei a deciso de brigar. Em relao a Aron,
por exemplo, estive com ele depois de seu regresso de Londres, mas, pouco
a pouco, fomos sentindo que no estava absolutamente de nosso lado. A ltima tentativa
foi esse caso do rdio, mas j h algum tempo no concordvamos com ele em
nossas conversas. Era necessria uma separao. Essa separao se fez atravs de uma
briga. Por exemplo, ele no pertencia a Ls Temps Moderns, no trabalhava conosco
em Ls Temps Moderns.
367
#S. de B. Tinha urna imagem daquela que voc tinha dele. Era disso que ele no
gostava. Alis, ela era falsa. Mas o que voc quer significar quando diz: no tinha
uma amizade profunda? Por quem teve uma amizade profunda?
J .-P. S. - Pelas mulheres. Por Nizan, sim. At seu casamento, e at um pouco depois.
Quando conheci voc, ainda tinha uma amizade bastante profunda por Nizan, embora
tivesse havido toda a permanncia em Aden que nos separara.
S. de B. - E quando o conheci, voc tinha uma grande amizade por Guille; creio que,
naquela poca, se alguma coisa tivesse provocado um desentendimento com Guille
voc lamentaria.
J .-P. S. Certamente. Mas, de um modo geral, no havia elementos profundos e
sensveis entre mim e eles.
S. de B. - Voc quer dizer que havia antes uma certa harmonia intelectual e que se essa
harmonia deixava de existir, fosse por razes polticas como com Aron, fosse
por outras razes, ento tudo desmoronava?
J .-P. S. - Sim, isso.
S. de B. -- No permanecia o vnculo afetivo que faz com que no levemos em
considerao determinadas dife-
renas ...
J .-P. S. Exatamente.
S. de B. Ainda assim, houve casos em que voc teve conflitos bastante violentos que
foram logo superados, por exemplo, com Bost. Houve um conflito porque ele
apoiava Cau.
J .-P. S. - Houve um conflito. Naquela noite, eu o xpusei de sua casa, e depois sa com
ele e fomos tomar um
-s . u i><j. ias ucscnicnamieiinj ndu ini i(nifr-' me "-p gumas disputs violenta on\ os.
As brigas vieram mais de uma fragilidade das rela-
,;fS.
.'. .u a. aosi Lid cuu iaci p<i<i nau idi bn ."ido n'T o- " rriem houvp lum qur tr c
que pd .aia no i<ai oado com voc em casos de conflito: toi
36
Lanzmann. Ao passo que houve muita gente que no moveu una palha, talvez porque
sentissem sua indiferena.
J .-P. S. - Porque eles prprios eram indiferentes.
S. de B. Eram isso porque voc o era. T.-P. S. - Briguei muitas vezes, mas no creio
que tosse sem razo; diante de mim sempre havia algum que rn levava ao
desentendimento;
uma separao pelo menos,
a um distanciamento, sempre!
S. de B. - certo que, por exemplo, Aron e Camus
varam voc a afastar-se.
J . P. S. Camus redigiu uma carta de ruptura.
S. de B. Quando o chamou de Senhor Diretor, "videntemente.
J .-P. S. - Quanto a Aron, foi o problema do auliismo e de um dilogo pelo rdio: todas
as semanas dispnhamos de uma hora, no rdio, para discutir a situao poltica
e atacamos violentamente De Gaulle. Alguns auilistas quiseram responder-me frente a
frente, em particular Bnouville, e um outro cujo nome esqueci. Ento, fui a
estao de rdio; no deveramos encontrar-nos antes que <omeasse o dilogo; Aron
compareceu, creio que o havia scolhido para ser o rbitro entre ns, convencido,
alis, de que ele ficaria a meu favor; Aron fez que no me via;
'untou-se aos outros; eu concebia que tomasse conhecimen-
o dos outros, mas no que me ignorasse. Foi a partir de
'no que compreendi que Aron era contra mim no cam ;o poltico. Considerei como
uma ruptura sua solidariedae para com os gauilistas, contra mim. Houve sempre uma
razo forte que provocou meus desentendimentos, mas, de
'da maneira, fui sempre eu que tomei a deciso de briar. Em relao a Aron, por
exemplo, estive com ele depois
' seu regresso de Londres, mas, pouco a pouco fomos
r;! enraiva foi ss raso do rdi mas a ha iyim .p no concordvamos com ele em ossas
convrsas
".cssria uma separao. Essa sepaao se fe :.ura
ii i'iin< '''' ' \<.!upl'" '<"" ' " "p VIncrnf nahahava <onosro m 7'' J 'n n
#S. de B. - Comeara trabalhando l. Mas isso nos leva a algo de que absolutamente no
falamos; entre suas relaes com os homens incluem-se as que teve com a
equipe de Ls Temps Modemes.
J .-P. S. - Essa equipe representa atualmente meus melhores amigos.
S. de B. - A equipe de hoje. Mas quando comeou isso?
J .-P. S. - No incio, havia pessoas que eu conhecia pouco, que se encontravam l em
consequncia de uma certa notoriedade de que eu gozava.
S. de B. - E em consequncia de vnculos criados durante a resistncia.
J .-P. S. - HaviaAron, havia um gauilista ... S. de B. - Havia Oilivier, Leiris, voc e eu...
J .-P. S. - Camus se recusara a fazer parte, coisa que
entendo muito bem. Ele no era obrigado a fazer parte de
uma equipe.
S. de B. - Enfim, era muito heterclito e, afinal, rompeu-se bem depressa. Mas, mais
tarde, houve momen
tos em que ramos muito numerosos, reunamo-nos em seu quarto.
J . -P. S. - Ah! Mais tarde j no reunamos apenas os diretores, mas toda a equipe de
pessoas que escreviam em cada nmero ou que escolhiam os textos para cada nmero.
S. de B. - E ento, como sentia essas reunies? J .-P. S. - Como algo muito livre, em que
pessoas
simpticas vinham expor seu ponto de vista sobre tal ou qual
coisa, sobre tal seo da revista.
S. de B. - Parece-me que esse trabalho de equipe lhe
aradava?
J .-P. S. - Sim, agradava-me.
S. de B. - uer falar um pouco sobre suas relaes com a equipe atual de Temps
Modernes
J .-P.S. - Aequipe atual de Temps Moderns constituda por pessoas que, em sua
maioria, pertenciam a Temps Moderns desde o incio. Bost e Pouillon estavam
368
desde o incio. Lanzmann veio mais tarde, por ocasio das reunies de domingo, em
minha casa. S. de B. - Veio em 1952. E Horst? J .-P. S. - Horst, desde o incio.
S. de B. - E tambm l houve - no uma briga - mas enfim, uma separao com relao
a Pingaud e Pontalis. Por que se foram?
J .-P. S. - Estvamos em desacordo quanto psicanlise. Esse foi sempre um assunto
muito inflamado.
S. de B. - Aceitamos muitas coisas da psicanlise, atualmente, mas no gostamos da
maneira pela qual os psicanalistas atuam hoje em dia e a espcie de opresso a
que sujeitam o psicanalisado. Essa foi uma das razes; mas havia outra coisa por trs,
havia uma atitude muito mais radical de sua parte do que da deles.
J . - P. S. - Certamente por parte de Pontalis e de Pingaud; estivemos em desacordo por
ocasio da publicao do texto L'homme au magntophone.
S. de B. - Mas houve tambm os editoriais de Horst sobre a Universidade que eles no
queriam endossar, que consideravam muito radicais.
J .-P. S. - Sim; de toda maneira, Pontalis no estava adaptado revista. Era muito mais
burgus, defendia uma teoria muito mais burguesa em poltica, considerava
que o que tinha de radical manifestava-se na psicanlise e no estudo que fazia a respeito.
E depois Pingaud era politicamente hostil.
S. de B. - Ele fora de direita anteriormente. Escrevera com Boutang um livro contra
voc. Depois passara para a esquerda, mas, enfim, conservava algo de seu passado.
Mas, para voltar equipe, voc disse: so meus melhores amigos; pode precisar?
J .-P. S. - Bem, h Bost que conheo h um tempo nfinito; mais de trinta anos; quase
quarenta. So velhos amigos que esto l.
S. de B. - So velhos amigos, mas que so todos pelo menos dez anos mais jovens que
voc. Agora, isso se iguala um pouco, mas fazia uma grande diferena no incio.
Bost foi seu aluno; Horst no, mas de certa maneira foi seu
369
#discpulo, j que pensu muito sobre o que voc fez;
Lanzmann tambm no era um antigo aluno.
J .-P. S. - Mas poderia ter sido, em termos de idade.
S. de B. - Tem algo a dizer sobre suas relaes com todos eles?
J .-P. S. - A poltica pesou ...
S. de B. - De um modo geral, h uma grande identidade de pontos de vistas polticos
entre todos ns.
J .-P. S. - S que agora estou muito mais ligado aos maostas e no se pode dizer que
Pouillon ou Bost sejam maostas.
S. de B. - Mas, para voltar a este grupo, o que o ligou a eles? H uma longa histria?
J .-P. S. - H uma longa histria, h uma verdadeira amizade que no se traduz por
emoes violentas, mas que faz com que conte com eles, como eles podem contar
comigo. Temos sentimentos verdadeiros uns plos outros;
depois que Pontalis e Pingaud se foram, creio que o grupo ficou muito homogneo.
S. de B. - Sim, muito homogneo; claro que h discusses sobre isto ou aquilo, mas no
conjunto quando preciso tomar uma deciso, talvez haja uma pequena hesitao:
Votaremos? Abster-nos-emos? Mas so dissenses como as que podem ocorrer entre
mim e voc, absolutamente no so fundamentais. Portanto, h um passado, um fundo
poltico bem prximo.
J .-P. S. - O fato que gosto muito deles.
S. de B. - H uma identidade de cultura ...
J . - P. S. - Tambm nos divertimos entre ns ...
S. de B. - E h, tambm, afinidades filosficas;
Horst e Pouillon conheciam muito bem seu pensamento; h realmente uma identidade
de pontos de vista, no somente poltica, mas cultural, filosfica. Enfim, voc
sente prazer em participar das reunies de Temps Modernes as quartasfeiras?
J .-P. S. - Sim, sinto prazer em encontrar-me com eles, muito agradvel. Alis, nem
sempre compareo.
S. de B. - De um modo geral, isso representa um contato mais caloroso do que os que
voc j teve com
370
homens em toda a sua vida. O que no significava que politicamente, voc no esteja
mais prximo de outros. Mas, com os maostas, h um problema de idade que faz
uma grande diferena.
J . - P. S. - Sim, mas continuo preferindo os jovens aos velhos. Nesse caso no se trata de
gostar mais, mas quando falo com o lder maosta que ainda no tem trinta
anos sinto-me mais vontade do que com um sujeito de cinquenta ou sessenta anos.
Enfim, quanto aos maostas, sabemos como os conheci e voltaremos a falar sobre
isso.
S. de B. - Referia-me ao plano da amizade, ao plano da relao afetiva com os homens.
J .-P. S. - A maioria dos maostas no tem amizade por mim, nem eu por eles,
trabalhamos juntos, vemonos para fazer coisas, decidimos juntos; h um deles por quem
sinto uma amizade real, que Victor, que me v uma ou duas vezes por semana;
discutimos a situao poltica do momento, tomamos decises sobre o que h a fazer;
eu escuto sobretudo o que ele me conta sobre o que faz. Ele era chefe da G.P.; mas a
posio maosta, na Frana, praticamente desapareceu, e Victor agora est sozinho.
Discute comigo - voc viu o livrinho que fizemos com Gavi.
S. de B. - Mas voc tambm o v a ss.
J .-P. S. - Vejo-o uma ou duas vezes por semana; ele me agrada, gosto muito dele; sei
que no agrada a todo mundo; acho-o inteligente, tenho relaes culturais com
ele, bem como polticas, porque ele tem uma cultura real, e que se liga minha; e,
tambm, concordo com ele sobre vrias posies polticas sobre as quais falarei
mais adiante, e bastante agradvel ter contato com um homem de vinte e nove anos.
S. de B. - Ento, esta a pergunta que quero far-he: por que privilegia os jovens? H
pessoas que detestam os jovens: por exemplo, Koestier era um desses, Merleau-Ponty
tambm no gostava muito deles. Por que "oc, ao contrrio, tem, por assim dizer, uma
disposio favorvel em relao aos jovens? Por que se sente bem com os jovens?
371
#J .-P. S. - Porque sob vrios aspectos eles no tm seu pensamento, sua vida
completamente formados; ento, discutimos como duas pessoas que tm cada uma
opinio
bastante vaga tentando aproximar os dois pontos de vista; ao passo que, com os velhos,
inteiramente diferente. Eles tm uma opinio categrica, eu tenho outra,
discutimos excluindo o que nos separa, sem esperar conciliao.
S. de B. - Horst muito inteligente, politicamente est muito prximo de voc: muito
bem, voc prefere um tte--tte com Victor do que com Horst. Por qu?
J .-P. S. - Horst tem um tipo de pensamento que se forma sozinho, que muito
inteligente, e depois disso ele conversa comigo. Quanto a mim, gosto muito que no se
tenha um pensamento acabado. Quando falo com pessoas que so menos formadas do
que eu sobre determinado ponto, menos cultivados, ou que refletiram menos, posso
ajud-los; por outro lado, h aspectos sobre os quais eles sabem mais; quanto a Victor,
claro, h uma coisa que ele conhece melhor do que eu: a luta num partido,
a direo de um partido: tudo isso me escapa bastante; mas h outros pontos sobre os
quais posso dar-lhe meu julgamento;
e depois ele o aceita, quando o analisou, quando refletiu, e o integra a sua concepo do
partido; por exemplo, nos dilogos com Victor e Gavi, dei algumas ideias,
especialmente a do militante livre, a ideia do que significa discutir entre homens livres.
Ou seja, algo diferente do militante comunista, por exemplo, para quem
esse gnero de liberdade no existe.
S. de B. - Em outras palavras, voc tem a impresso de ser mais eficaz, mais til,
quando fala com jovens que ainda esto inteiramente abertos do que quando fala
com adultos que esto formados, ainda que as ideias destes se aproximem das suas? Por
que isso lhe d uma impresso de rejuvenescimento, quando voc est com jovens?
J .-P. S. - No; no me sinto velho, no me sinto diferente daquilo que era aos trinta e
cinco anos.
S. de B. Seu sentimento de idade interessante, algo sobre o que preciso voltar a
falar.
372
j.-P. S. - J amais me senti velho. E como meu fsico no o de um velho clssico - no
tenho uma barba branca, no tenho um bigode branco, no tenho nem barba, nem
bigode - ento ainda me vejo como aos trinta e cinco anos.
S. de B. - Ento, falar com os jovens no o faz rejuvenescer; diferente de mim, porque
eu tenho o sentimento de minha idade, e rejuvenesce-me falar com mulheres
jovens. Voc me disse, outro dia, que achava que no tinha ido muito longe em sua
anlise de suas relaes com os homens: o que teria a acrescentar a esse respeito?
J . -P. S. - Diria, primeiro, que muitos deles - no os que so atualmente meus melhores
amigos - fizeram-me confidncias. O que significa que era visto por eles
como algum a quem conar o que h de mais ou menos secreto em cada um de ns, e
que isso me incomodava. Submetia-me; era preciso porque, assim, podia ter uma
influncia
sobre eles, eu era aquele que conhecia seu segredo, mas no gostava disso.
S. de B. - Mas onde, quem? Precise um pouco. Na Escola Normal, faziam-lhe
confidncias?
J .-P. S. - Sim, mas ali era diferente, colocavam-se as cartas na mesa e eu tambm as
colocava. Mas penso num companheiro que tive durante a guerra, na Aiscia, um
soldado que me fazia confidncias; as relaes dele para comigo eram assim:
confidncias.
S. de B. - Sobre o qu? Sobre sua mulher, sobre sua vida?
J .-P. S. - isso. No tinha esposa, mas tinha uma mulher. Falava dela. O vnculo afetivo
que isso criava, o fato de ser para ele a pessoa que conhecia sua vida
e com quem ele falava de coisas que depois eu devia lembrar, era .'go que me parecia
insuportvel.
S. de B. - Por qu? A mim fizeram-me muitas conidncias durante minha vida, isso at
me agradava.
J .-P. S. - Porque isso distorce as relaes, j no so "mesmas relaes. Envolvemo-nos,
temos conselhos a dar, portam-se a ns, referem-se a ns, tm uma espcie
de respeito pela pessoa que recebe as confidncias, e eu me tor-
373
#nava, finalmente, essa coisa que no desejo ser, o mestre com discpulos, e no gostava
que me fizessem confidncias. No as provocava; no as recusava quando
me eram feitas, mas no as provocava.
S. de B. - De fato, aconteceu com muita frequncia, que antigos alunos lhe fizessem
confidncias, lhe pedissem conselhos.
J .-P. S. - E outros tambm; recebi muitas confidncias.
S. de B. - Em outras palavras, o gnero 'mestre' a quem se pede conselhos, a quem se
faz confidncias, era algo que o incomodava?
J .-P. S. - Incomodava-me e no me parecia legtimo.
S. de B. - Por qu? Por que voc se sentia mais velho
nessas circunstncias? E no queria s-lo? Ou porque isso no o colocava em p de
igualdade com eles?
J .-P. S. - No me colocava em p de igualdade e, finalmente, ningum pode dar
conselhos a ningum. Bem;
quando se trata de voc em relao a mim, ou de mim em relao a voc, claro,
podemos dar conselhos; posso dar conselhos a Bost, a Victor. Em funo da intimidade
que existe entre ns; mas, em princpio, no podemos, porque faltam-nos elementos
que, alis, faltam tambm pessoa. Ela diz coisas e seria preciso adivinhar, atravs
das coisas que diz, qual sua verdadeira posio e o conselho deveria harmonizar-se
com tal posio.
S. de B. - Isso muito verdadeiro; ou seja, a pessoa, em geral, procura receber
determinado conselho; nem sempre, mas em geral. Bem, essa uma das coisas que
atrapalhavam
sua relaes com os homens?
J .-P. S. - Certamente.
S. de B. - Ao passo que, se as mulheres lhe faziam confidncias, isso no o
incomodava?
J .-P. S. - No me incomodava nada. A, ao contrrio, eu as solicitava.
S. de B. - Isso por machismo: a mulher naturalmente um ser mais frgil e deve
confiar-se a um homem?
374
J .-P. S. - No sei se machismo, porque achava, ao contrrio, que a maioria dos homens
no ouvem o que as mulheres dizem.
S. de B. - Quanto a mim, creio que recusar as confidncias dos homens com tal averso
e aceitar as das mulheres uma certa forma de machismo.
J .-P. S. - Eu no recusava as dos homens, elas no me agradavam. E, depois, as relaes
eram diferentes, disso voltaremos a falar.
S. de B. - Bem, as condncias dos homens lhe desagradavam, no apenas as
confidncias, mas creio que todas as relaes muito pessoais, embora quando
Giacometti contava
histrias muito pessoais... no se tratava de confidncias.
J .-P. S. - No eram confidncias; no vejo mal algum em que me contem histrias
pessoais, ao contrrio. (uando Giacometti contava a maneira pela qual ia ao bordel,
procurando uma mulher um pouco desenxabida, um pouco feia, por razes diversas,
isso era muito divertido.
S. de B. - Continue a falar-me de suas relaes com os homens. Existe isso: recusa de
confidncias.
J .-P. S. - Por outro lado, ao mesmo tempo em que pensava e dizia que as relaes
deviam ser relaes de igaldade havia uma espcie de maneira de dirigir-se a mim
como quele que sabia que eu propiciava, o que evidentemente no exato.
S. de B. - Como assim?
J .-P. S. - Houve um momento em que as pessoas diziam: devo fazer isso, devo fazer
aquilo? E eu dava conselhos.
S. de B. - Voc diz duas coisas contraditrias. Diz ;c tinha horror a dar conselhos e que
gostava muito que lhos pedissem?
J .-P. S. - No, mas gostava de dar o empurrozinho final que fazia com que me tornasse
conselheiro. Isso io contraditrio. Era assim, a relao com o outro
era uma mistura estranha. No fundo, sempre tive relao com o outro, mas abstraa; vivo
sob uma conscincia do
375
#outro que me olha. E esta conscincia, tanto pode ser Deus, quanto Bost; um outro
que no eu, constitudo como eu e que me v. Penso isso assim.
S. de B. - E que ligao tem isso com suas relaes com os homens?
J .-P. S. - Elas so todas aparncias dessa conscincia.
S. de B. - Voc quer dizer testemunhas, juizes?
J .-P. S. - Um pouco juizes! Mas juizes muito benevolentes.
S. de B. - Voc diz juzes benevolentes, mas, no entanto, teve inimigos, adversrios.
J .-P. S. - Mas isso no conta. Quando as pessoas esto bem comigo, vejo refletir-se
atravs delas essa espcie de conscincia mais geral que me olha.
S. de B. - E ter essas testemunhas incomoda-o ou lhe agrada?
J .-P. S. - E antes agrada vell Porque se me incomodasse eu gostaria de ficar s, e esse
gnero de solido absurdo.
S. de B. - Isso tambm seria preciso desenvolver mais: porque voc diz que em suas
relaes com os homens, sempre foi um pouco distante, um pouco indiferente; no
entanto, nunca foi um bicho-do-mato, um solitrio, sempre viveu muito em sociedade;
voc foi muito socivel, exceto nos momentos em que escrevia. Alis seria preciso
especificar que tipo de sociabilidade; voc no gostou nunca da sociabilidade mundana.
J .-P. S. - No.
S. de B. - Logo depois da guerra, ia aos coquetis da Gailimard, era divertido, mas,
enfim, voc nunca foi mundano.
J .-P. S. - Fui a jantares sociais trs vezes em minha vida. Comi em restaurantes e vivi
em cafs, e jantei em casa de pessoas um pouco conhecidas que me convidavam:
trs vezes.
S. de B. - Falamos das relaes com os jovens;
conviveu com pessoas mais velhas? O que representavam para voc?
376
J .-P. S. - Nada, absolutamente. Sim, travei conhecimento com pessoas mais velhas,
muito poucas, alis:
Paulhan, Gide, J ouhandeau, que vi muito pouco, ele certamente nem se lembra mais de
mim.
S. de B. - Voc mal o conheceu.
J .-P. S. - Sim, mas para mencion-lo. Existiram esses contatos com pessoas mais
velhas do que eu. Eu adotava uma atitude um pouco retrada, ouvia-os; falavam-me
como queriam, mas eram relaes de estrita polidez e sem grande significado, eu no
considerava que fossem mais sbios que eu por serem mais velhos; eram exatamente
como eu e contavam-me o que tinham a contar e eu fazia o mesmo. Lembro-me, por
exemplo, de Gide falando-me de um holands, em 1946, que foi pedir um endereo...
Era um homem casado, que descobrira ter tendncias homossexuais, e fora pedir um
endereo, ento, lembro-mel Gide estava ali, falava-me disso, dir-seia que me tomava
por um pederasta, apesar do erro que eu cometera falando de conselhos, quando se
tratava de outra coisa.
S. de B. - Voc lhe disse: "Ele veio pedir-lhe conselhos?" Gide respondeu: "No
Endereos." No se poderia dizer tambm que, de certa maneira, um adulto de sexo
masculino um pouco "seu mau cheiro", como diria Genet?
J .-P. S. - Sim, pode ser, no gosto disso. No gosto nada disso, e no gosto que me
classifiquem como tal. J no sou sequer adulto, estou na terceira idade, e se
ainda sou msculo, bem pouco.
S. de B. - Sim, precise isso, porque interessante.
J .-P. S. - O adulto de sexo masculino me desagrad profundamente; gosto muito do
homem jovem, na edida em que o homem jovem no inteiramente diferente da mulher
jovem; no que seja pederasta, mas o t'Uo que, sobretudo atualmente, o homem jovem
e a 'nulher jovem no so to diferentes em sua maneira de estir, em sua maneira
de falar, em sua maneira de comPortar-se; para mim, nunca foram muito diferentes.
377
#S. de B. - uando voc tem relaes realmente pessoais, amizades, o adulto macho no
aparece como tal: Genet, Giacometti etc. Mas o homem em geral, se o encontra
assim...
J .-P. S. - E o adulto macho. S. de B. - E o que voc no quer ser. J .-P. S. - o que no
quero ser. Sim. Isso certo. S. de B. - Por qu? At mesmo essa expresso
que usei provocou-lhe um sorriso de desagrado.
J .-P. S. - Porque isso distingue os sexos de uma maneira odiosa e cmica. O adulto
masculino o sujeito que tem uma coisinha entre as coxas, assim que o vejo;
haveria ento a adulta feminina que seria preciso contrapor-lhe; e a fmea e o macho,
uma sexualidade um pouco primitiva; h coisas que se sobrepem a isso, em geral.
Isso j uma coisa bastante importante.
S. de B. - Creio que h tambm a palavra adulto. J .-P. S. - H a palavra adulto, o que
supe que estudamos, que atingimos o gnero de profisso que convm a um adulto,
temos nossos pensamentos, formamos pensamentos que conservaremos por toda a vida,
o fato de conserv-los faz parte da honra.
S. de B. - Sim, realmente, fabricar, fechar, limitar etc. H outra coisa que se liga a isso,
alis. Voc tem, em relao aos homens e s mulheres, ao gnero humano
em geral, uma atitude dupla que o oposto da minha, alis, e talvez por isso a considere
to curiosa. Ou seja, voc muito aberto quando algum vem falar-lhe;
no Coupole, por exemplo, quando algum vem pedir-lhe qualquer coisa; eu sou
desagradvel, sempre tenho vontade de despachar as pessoas; voc muito acolhedor,
facilmente
marca um encontro, facilmente dispe de seu tempo, generoso, aberto, e, no entanto,
quando tem que pedir uma informao na rua, tremendo; se eu lhe digo: you
pedir uma informao, estamos perdidos em Npoles, you perguntar aonde fica tal rua;
isso, voc no quer, voc se retesa. Por que essa atitude de receptividade e,
ao mesmo tempo, essa atitude de recusa quase raivosa?
378
J .-P. S. - No primeiro caso, so pessoas que vm pedir-me algo, que vm expor-me um
ponto de vista, que me solicitam meu tempo. A informao so eles que me do;
ouo, completamente oposto ao primeiro caso. Eu pergunto a outra pessoa onde fica a
rua...
S. de B. - Afinal, perguntar o nome de uma rua a algum ou pedir um pequeno favor a
algum colocar-se num plano de reciprocidade; , em suma, reconhecer esse algum
como seu igual, como qualquer um, como voc, no , pois, mendigar como um
mendigo. Por que essa sua atitude de reserva, de recusa, quando se trata de pedir at
uma informao?
J .-P. S. - evidentemente dirigir-se subjetividade de um outro, e sua resposta
determinante para mim:
se ele me diz que preciso tomar a esquerda, tomarei a esquerda, se me diz que
preciso tomar a direita, tomarei a direita, e o contato com a subjetividade
do outro que gosto de reduzir ao mnimo.
S. de B. - O que ele ir responder-lhe muito pouco subjetivo. Ele lhe responder quase
que como um mapa.
J .-P. S. - Mesmo assim! Ele se dir, ora vejam, um sujeito que me pergunta isso, dir
que no se lembra exatamente onde , mas enfim... Descobre-se a psicologia
subjetiva de um sujeito fazendo-lhe uma pergunta. Temse um contato subjetivo com ele.
S. de B. - Voc quer dizer que se coloca em situao de dependncia?
J .-P. S. - Por um lado, sim, e sobretudo a subjetividade de outrem no me agrada nada.
Exceto a de algumas pessoas, bem determinadas, de quem gosto muito, a ento
isso tem um sentido.
que qualquer um, que vale o mesmo que qualquer um etc., isso supe que vive suas
relaes com os homens nua espcie de translucidez, de transparncia, de modo
ue, se lhe pedem um favor, voc o faz, se tem que pedi-lo, pede-o; alis, h pessoas que
vivem as coisas assim.
379
#J .-P. S. - Inteiramente, e esto certos! assim que deve ser. Antigamente, comigo, era
a timidez, e depois isso se tornou um hbito: agora j no sou mais assim.
S. de B. - Ainda assim h uma espcie de rigidez ante a ideia de que lhe poderiam
prestar o menor favor, de que, por exemplo, um rapaz se deslocasse duas vezes,
quando esse seu trabalho, para trazer-lhe qualquer coisa; h uma espcie de rigidez
que parece um resto de seu velho dio da humanidade.
J .-P. S. - De fato - no sou, no entanto, nem prtico nem muito habilidoso - prefiro
sempre arranjarme sozinho a ter que pedir algo a algum. No gosto que me ajudem.
A ideia de ajuda me totalmente insuportvel.
S. de B. - Que tipo de ajuda?
J .-P. S. - Qualquer uma. Quero dizer, da parte de pessoas que conheo pouco ou mal.
No pedi muita ajuda em minha vida.
S. de B. - No; mas, por exemplo, quando perdi meu dinheiro,4 sem tempo para trocar
outra quantia, com muita naturalidade falei com o gerente do hotel, e ele me
emprestou duzentas mil liras; estou certa de que se lhe tivesse dito: you pedir
emprestadas ao gerente do hotel duzentas mil liras - quando sabem que somos clientes
antigos e no se importam de faz-lo, pois sabem que lhes devolveremos o dinheiro
dentro de dois dias - voc me teria dito: "Ah, no, isso me incomoda."
J .-P. S. - No, a esse ponto. Talvez lhe tivesse dito isso h dez ou quinze anos atrs;
atualmente, no lho teria dito, at a teria aconselhado a faz-lo.
S. de B. - Ainda assim, gostaria que voc explicasse um pouco essa rigidez que voc
tem em relao s pessoas em geral. Entendo muito bem que no se sinta onade
de pedir ajuda o tempo todo, de pendurar-se nas pessoas, mas por que tanta
repugnncia? Ser que isso se liga infncia?
4. Em Roma, tinham roubado minha bolsa.
380
J .-P. S. - Sim; solicitava-se muito aos outros, diziase: eles podem servir-nos etc. E eu
tinha mais a impresso de que os incomodvamos pedindo qualquer coisa; certamente
existe em mim a ideia de que incomodo o outro pedindo-lhe uma informao. Lembro-
me de uma personagem que voc dizia que se parecia a mim...
S. de B. - O Sr. Plume, de Michaux.
J .-P. S. - O Sr. Plume est permanentemente irritado, incomodado plos outros.
Certamente h algo disso em mim.
S. de B. - Sim. exatamente por isso que voc me lembrava o Sr. Plume: uma forma de
sufocar, quando ningum lhe impede de abrir uma janela. O Sr. Plume, de Michaux,
era exatamente isso.
J .-P. S. - Sim. Eu considerava as pessoas hostis.
S. de B. - Hostis em relao a quem?
J . P. S. - A mim, se solicitava algo a elas.
S. de B. - Portanto, hostis s pessoas de um modo geral?
J .-P. S. - Em relao aos outros, no sei, porque tinham sua maneira prpria de solicitar.
S. de B. - Por que em relao a voc, na medida em que voc era um annimo?
J .-P. S. - Porque isso se ligou a uma representao de mim mesmo; eu achava que,
fisicamente, no era agradvel s pessoas. Foi talvez a que se refugiou o sentimento
de ser feio, com o qual no me preocupei muito, embora existisse.
S. de B. - Voc no era de uma feira que afugentasse uma mulher grvida se lhe
perguntasse onde era a Rua Rome...
J .-P. S. - No, nunca pensei isso. Mas pode-se "pnsar que perguntar onde a Rua Rome,
quando se feio, infligir uma presena desagradvel pessoa a
4uem nos dirigimos.
S. de B. Isso deve ter sido uma histria de infnd; porque preciso no exagerar;
voc no mais feio lue a maioria dos homens.
J .-P. S. Sim, porque sou vesgo.
381
#S. de B. - Eles no so assim to bonitos. J .-P. S. - No, os homens no so bonitos. S.
de B. - Mas, realmente, uma coisa to simples
como essa...
J .-P. S. - Mas deve pesar. Deve ter havido uma ligao do outro comigo quando eu era
jovem, na qual o outro era o elemento essencial e eu o elemento secundrio.
S. de B. - sempre assim quando se jovem. A no ser que se lide com as coisas ao
contrrio, com total agressividade.
J .-P. S. - O que no era o meu caso. Sim, eu no gostava de entrar para uma classe como
novato; no gostava disso, no gostava dos garotos que l estavam. Mais adiante
nos conhecamos, entendamo-nos, mas primeiro eram para mim pessoas hostis.
S. de B. - Quer dizer que voc tinha a impresso, quando se aproximava de um grupo,
que havia uma hostilidade a priori? Foi tambm isso que sentiu quando se apresentou
ao servio militar? Refiro-me a Saint-Cyr, porque depois vocs eram mais numerosos.
J .-P. S. - Sim, certamente.
S. de B. - No quando voc chegou Escola Normal, porque ali voc j conhecia...
J .-P. S. - No; conhecia alguns, mas no conjunto havia uma certa hostilidade.
Normalmente, a pessoa que me olha e que cruza comigo na rua hostil.
S. de B. - Essas so coisas muito importantes para explicar uma atitude generalizada.
Lembro-me de que quando sofri meu acidente de bicicleta fiquei realmente horrvel,
e, ao entrar numa loja, e falar com o comercante, disse a mim mesma: "Bom Deus!
Como devemos ser prejudicados se nos sentimos feios!" to agradvel sentir-se
uma jovem atraente. Eu no me achava particularmente bonita, tinha em torno de trinta
anos, a relao era a priori, uma relao quase que de seduo; ia comprar
um pedao de po, pensava que minha presena era agradvel s pessoas. Dizia-me:
ficar desfigurada para o
382
resto da vida, algo que deve modificar as relaes de uma maneira muito sutil e muito
difcil de descrever.
J .-P. S. - Sim. S que voc, reconheo, estava mais feia naquele momento do que eu sou
normalmente.
S. de B. - Naturalmente; mas no isso que eu queria dizer; alis, no sinto certamente
os contatos com as pessoas, agora que sou velha, da mesma maneira que quando
tinha trinta anos.
J .-P. S. - E certo. Quanto a mim, nunca me senti agradvel de aparncia.
S. de B. - Referia-me a uma maneria de se sentir bem vontade em relao aos outros.
J .-P. S. - Coisa que exatamente no senti. S. de B. - No sentiu certamente por muitas
outras razes, que no a falta de beleza, j que voc no era feio...
J .-P. S. - Sim, era feio; mas isso no deveria ter-me incomodado muito.
S. de B. - So certamente complexos de infncia, de adolescncia; "bobo feio": quando
uma menina lhe disse isso voc deve ter ficado muito marcado.
J .-P. S. - Sim, e tambm isso se liga ao novo casamento de minha me e minha vida
em La Rochelle.
S. de B. - Repito que curioso esse contraste entre sua rigidez e, ao mesmo tempo, uma
abertura, uma gentileza, um calor quando...
J .-P. S. - Quando se dirigem a mim para pedir-me algo, isso desaparece.
S. de B. - Sim, porque nesse momento voc reconhecido. Falamos no presente hoje;
mas no este presente que interessante: esse contraste era marcante quando
voc tinha quarenta, cinquenta anos. Voc ainda nserva algo disso, mas algo foi
ultrapassado. So atitus que preciso descrever, porque elas me impressionaram quando
voc era muito mais jovem.
S. de B. - Falemos de suas relaes com as mulhe's: o que diria a respeito?
383
#J .-P. S. - Desde a infncia, elas foram objeto de grandes deonstraes, de
representao, de seduo de minha parte, seja em sonho, seja na realidade; desde a
idade
de seis ou sete anos tinha j noivas, como se dizia. Em Vichy, tinha quatro ou cinco; em
Arachon, amei muito uma menina que morreu no ano seguinte e que era tuberculosa;
tinha seis anos, foi na poca em que me haviam fotografado com um remo, num
barquinho pintado; eu agradava essa menina, que era muito encantadora, mas que
morreu.
Sentava-me ao lado de sua cadeira de rodas; ela ficava deitada, era tsica.
S. de B. - Voc sofreu quando ela morreu? Ficou impressionado?
J .-P. S. - No me lembro. Lembro-me de que lhe havia escrito versos e, na poca,
enviei-os ao meu av, em cartas; eram versos absolutamente impossveis.
S. de B. - Versos de criana.
J .-P. S. - De uma criana de seis anos, sem ritmo;
enfim, escrevia-os. E, ao lado disso, conheci meninas um pouco em todos os lugares,
com as quais tinha pouco contato, mas, no entanto, uma ideia de relaes amorosas.
S. de B. - E o que lhe deu essa ideia? Era decorrente de suas leituras?
J .-P. S. - Certamente. No entanto, tenho uma recordao de quando tinha cinco anos,
mas certamente uma lembrana que muitos meninos tm: meus pais e meus avs
me haviam deixado na Sua, s margens do lago, com uma menina. E fiquei no quarto
com ela, olhvamos o lago pela janela, e brincamos de mdico; eu era o mdico,
ela a paciente, eu lhe aplicava uma lavagem, ela baixava sua calcinha e tudo ocorria, eu
tinha at um aparelho, creio que era uma cnula utilizada para lavagem em
mim mesmo quando era pequeno e apliquei-lhe uma. uma recordao sexual que data
dos meus cinco anos...
S. de B. - A menina sentia prazer com isso, isso a agradava?
384
J .-P. S. - Pelo menos, submeteu-se. E creio que sentia prazer. At os nove anos, mais ou
menos, tive contatos em que eu fazia o fanfarro, o sedutor; no sabia como
se seduzia, mas lera nos livros que era possvel ser um born sedutor; pensava que era
falando de estrelas, enlaando a cintura ou os ombros de uma menina, exprimindo-lhe
a beleza do mundo atravs de palavras encantadas. E depois, em Paris, eu tinha um
teatro de fantoches, constitudo por uma quantidade de pequenos personagens, os
quais manipulava; levava-os ao Luxembourg, manipulava esses personagens, ficava
atrs de uma cadeira e imaginava uma cena na qual fazia representar meus personagens.
Meus espectadores eram espectadoras, meninas dos arredores que iam l tarde.
Naturalmente eu escolhia a esta ou aquela. Tudo isso no durou nem at os nove anos,
creio que at os sete ou oito anos. Depois, ser que foi porque quei nitidamente feio e j
no interessava? De toda maneira, por volta dos oito anos e durante alguns
anos no tive mais contato algum com meninas das ruas ou dos jardins. Alis, por essa
poca, por volta dos dez anos, doze anos, isso se torna mais ambguo para
os pais, provoca cenas, complicaes; talvez fosse essa a razo. Por outro lado, em torno
de minha me e de minha av havia mulheres jovens, da idade de minha me,
que eram muitas vezes alunas de meu av ou amigas de meu av, e com as quais eu tinha
um certo contato.
S. de B. - Voc quer dizer que as mulheres da idade de sua me lhe pareciam atraentes?
Algumas delas?
J .-P. S. - Sim; s que eu no podia imaginar ter relaes de namorado com mulheres
vinte anos mais velhas do que eu. Elas me acariciavam. Foi sobretudo com as
mulheres que minhas primeiras sensualidades se desenvovram.
S. de B. Mais com as mulheres mais velhas do ue com as meninas?
J .-P. S. - Sim. Gostava muito das meninas, eram minhas verdadeiras companheiras
escolhidas no momento, mas no havia sensualidade entre ns; elas no tinham formas,
ao passo que as formas das mulheres me interes-
385
#saram desde muito cedo, os seios e as ndegas. Elas me tocavam e eu gostava disso.
Lembro-me de uma moa que me deixou duas lembranas contraditrias: era uma bela
moa de dezoito anos, conseqentemente, muito mais velha do que eu para minhas
pequenas brincadeiras de marido e mulher; no entanto, havia entre ns uma relao
de marido e mulher. Talvez ela se tivesse prestado por delicadeza, por amabilidade a
essa brincadeira; eu a achava bonita e estava muito apaixonado por ela, tinha
sete anos na poca e ela tinha dezoito. Foi na Aiscia.
S. de B. - E quando voc era um pouco mais velho, quando tinha dez, doze anos?
J .-P. S. - No houve nada..At onze anos eu estava no liceu Henri IV. S via as amigas
de minha me e muito poucas meninas. Depois, aos onze anos, fui para La Rochelle;
as relaes de meu padrasto e sua atitude ante a vida tornavam impossveis meus
contatos com meninas. Ele achava que, na minha idade, eu tinha que ter contato com
meninos. Meus companheiros tinham que ser os colegas do liceu e meus pais s
conheciam o prefeito, engenheiros, pessoas assim, e essas pessoas no tinham filhas
meninas; conseqentemente, em La Rochelle, eu me sentia completamente perdido e s
tive vagos sentimentos por duas ou trs amigas de minha me, coisa sem muita
importncia.
Sem dvida, nutria um sentimento bastante sexual em relao a minha me. Aos treze
ou quatorze anos, tive uma mastoidite, fui operado, fiquei trs semanas numa clnica
e minha me fez com que instalassem uma cama ao meu lado, uma cama que era
perpendicular minha; noite, quando eu dormia, ela se despia e, provavelmente,
ficava
praticamente nua; eu ficava acordado, semicerrando os olhos, para ver atravs de meus
clios, para v-la despida; alis, meus colegas deviam ach-la atraente, porque
de quando em quando citavam objetos femininos ou pessoas que consideravam
atraentes e colocavam minha me na lista. Em La Rochelle tive uma experincia com
Lisette
J oirisse; era a bonita neta de um vendedor de apetrechos para barcos;
386
ela passeava pelo cais de La Rochelle, eu a achava muito bonita; ela sabia que era
bonita, j que muitos meninos a perseguiam; comentei com meus colegas que queria
encontrar-me com ela, eles me responderam que era fcil e um dia me disseram que era
s abord-la na alameda; ela realmente se encontrava l, rodeada de meninos
que conversavam com ela; eu e meus colegas ficamos do outro lado da alameda. Eu no
sabia o que fazer e, alm do mais, ela fora avisada plos outros; percebeu que
no aconteceria nada de interessante se ficasse ali com eles; saiu de bicicleta pelas alias
e eu a segui. Nada ocorreu; mas quando fui em sua direo, no dia seguinte,
ela se voltou para mim e disse, diante de meus colegas: "Bobalho, com seus culos e
seu chapelo." Essas palavras me encheram de raiva e desespero; depois, revi-a
duas ou trs vezes; um dia, um colega que gostaria que eu no fosse o primeiro em
grego disse-me que ela me esperava s onze horas. A composio de tema grego era
das oito horas ao meio-dia. Portanto, tinha que entregar o trabalho s quinze para as onze,
coisa que fiz, e tirei um lugar deplorvel. Claro est que ningum me
aguardava no local marcado. E depois, outra vez, vi-a no molhe, saltando do molhe para
a areia. Tolamente, postei-me ao seu lado, mas no consegui falar-lhe, no
disse nada. Ela percebeu que eu estava ali, mas continuou brincando, perguntando-se se
eu iria ou no dizer uma bobagem.
S. de B. - Voc nunca fez um passeio, teve uma conversa, uma brincadeira com essa
menina?
J .-P. S. - Nada, nunca.
S. de B. - Nunca teve nenhum contato com ela?
J .-P. S. - Nenhum.
S. de B. - Havia outras meninas em La Rochelle a quem voc cortejava?
J .-P. S. - J unto com dois colegas eu cortejava a flha da encarregada do cinema;
travamos conhecimento com essa menina, mas ela se interessava muito mais por
Pelletier
e Boutiller, que eram bastante bonitos, do que por mim; mas, enfim, encontrava-se com
ns trs; a coisa no ia muito longe, conversvamos e a acompanhvamos
387
#at a sua casa e isso era tudo. Eu falava como os outros dois; amos ao cinema e, como
sua me trabalhava l, ela vinha sentar-se perto de ns e conversava conosco.
Ao que me lembro, era muito bonita; mas a coisa no passou disso. Provavelmente, eu
no era muito brilhante como sedutor. Creio que foram os nicos acontecimentos
femininos que existiram para mim at os quinze anos, isto , at que sa de La Rochelle
para ir para Paris, pra o liceu Henri IV. Meu av insistira para que eu
preparasse meu bachot* em Paris; poderia tambm t-lo feito em La Rochelle, mas ele
achava que essa mudana poderia ser boa para mim. Efetivamente, em Paris, fiquei
interno durante o primeiro ano, o que me modificava imensamente, e recebi o prmio de
excelncia**, coisa que no teria conseguido em La Rochelle.
S. de B. - Voltemos s mulheres; como foi em Paris?
J .-P. S. - Em Paris, surgiu-me uma vaga tendncia homossexual: nos dormitrios
atrevia-me a tirar as calas dos meninos.
S. de B. - Era uma tendncia muito superficial.
J .-P. S. - Mas existia. Foi nesse ano que levei ao Louvre uma vaga prima de Nizan. No
era bonita e creio que no me achava muito atraente.
S. de B. - Mas voc tinha um esquema na cabea:
um rapaz deve ter casos amorosos com mulheres: era uma coisa bem estabelecida.
J .-P. S. - Isso, sim; como escritor, depois tinha que ter relaes amorosas com vrias
mulheres, com paixes etc. Isso vinha dos livros consagrados aos grandes
escritores.
S. de B. - Seus companheiros, Nizan, por exemplo, tinham o mesmo esquema e o
seguiam?
* O mesmo que baccalaurat: exames finais dos estudos secundrios, aps os quais
conferido o grau universitrio. (N. do T.)
** Prmio conferido no final do ano escolar ao aluno de cada turma de liceus e colgios
que mais se distinguiu no conjunto das matrias. (N. do T.)
388
J .-P. S. - Exatamente. Seguiam-no mais ou menos, j que eram muito jovens.
S. de B. - E no muito ricos, mas, enfim, tinham essa ideia.
J .-P. S. - Estavam apaixonados pela Sra. Chadel, por exemplo, a me de um colega a
quem ridicularizvamos bastante. No primeiro ano, acho que no tive grandes casos.
S. de B. - E depois?
J .-P. S. - Em filosofia, tambm no.
S. de B. - E quando se deitou com uma mulher pela primeira vez?
J .-P. S - No ano seguinte. Estava no Liceu Louisle-Grand; fizera o segundo bachot no
Henri IV; havia l uma belssima khgne, com Alain como professor de filosofia,
e no sei por que me tiraram do Henri IV; puseram-me no Louis-le-Grand, que tinha
uma khgne sisuda, tediosa, l fiquei, e depois entrei para a Escola Normal.
complicado: houve primeiro uma mulher, que vinha de Thiviers, a mulher de um
mdico; um dia, no sei por que, ela veio procurar-me no liceu, eu lhe disse que era
interno e ela disse que isso era uma pena; mas eu no saa s quintas e domingos?
Confirmei, e ela marcou um encontro comigo, em casa de uma amiga sua, para a quinta-
feira
seguinte s duas da tarde. Aceitei, no entendi bem; compreendi que ela desejava ter
relaes fsicas comigo, mas no entendi bem por que, no tinha a impresso
de agradar-lhe.
S. de B. - Mas quando voc a conhecera anteriormente, em Thiviers, ocorrera algo entre
vocs?
J .-P. S. - Nada.
S. de B. - Voc tivera muito contato com ela?
J .-P. S. - No. Fiquei extremamente surpreso ao 'Ma chegar ao liceu, no consigo
explicar-lhe o que se passou em minha Cabea. Fui ao encontro, e ela me fez entender
que podamos ir para a cama.
S. de B. - Qie idade tinha ela?
J . P. S. - Trinta anos. E eu, dezoito. Dormi com ia sem grande entusiasmo, porque ela
no era bonita;
389
#enfim, tambm no era feia, e me sa mais ou menos, ela pareceu satisfeita.
S. de B. - Ela voltou?
J .-P. S. - No.
S. de B. - Ento, talvez no tenha ficado to satisfeita assim. No marcou outro encontro
com voc?
J .-P. S. - No, ia embora no dia seguinte. Ou por outra, veio ao liceu para que eu a
beijasse. E depois regressou a sua casa.
S. de B. - Nunca mais soube dela?
J .-P. S. - Ela talvez no soubesse meu paradeiro. Nunca entendi essa histria, conto-a
como ocorreu. Naquele ano e no ano seguinte, nas minhas sadas das quintas-feiras,
eu me encontrava no Luxembourg com colegas do Henri IV, eles se davam com
mulheres, mulheres do bairro Saint-Michel e, em particular, a lha da porteira do liceu
Henri IV. Encontrvamo-nos com elas, saamos com elas - eu era interno - tocvamos
um pouco nelas e depois quase todas marcavam encontros em seus quartos, dormamos
com elas; quanto a mim, dormi com uma mulher que em minha lembrana me parece
bonita, devia ter uns dezoito anos; ela no tinha problemas em ter relaes sexuais.
S. de B. - Voc teve uma ligao com ela ou tambm neste caso foi s uma vez?
J .-P. S. - Uma vez, mas ocorria o mesmo com os outros. Ela continuou to agradvel
comigo depois quanto antes, portanto no se decepcionou, no estava em busca
de algo que eu no lhe tivesse dado. Parecia satisfeita.
S. de B. - Por que com seus colegas, com voc, as coisas no se prolongaram mais?
J .-P. S. Porque sentamos, ao mesmo tempo, uma espcie de desprezo por essas
mulheres.
S. de B. - Porqu?
J .-P. S. - Achvamos que uma moa no devia dar-se dessa maneira.
S. de B. - Ah, bem! Porque vocs tinham uma moral sexual! interessante!
390
J .-P. S. - Comparvamos essas moas com as filhas das amigas de nossas mes, filhas
de burguesas, e obviamente virgens. Se tnhamos vagos flirts com elas, isso
no ia muito alm de um beijo na boca, se que ia at a Ao passo que podamos dormir
com as outras.
S. de B. ~Como bons pequeno-burgueses que eram, vocs censuravam isso?
J .-P. S. - Sim; no censurvamos exatamente, mas..
S. de B. - Sentiam-se satisfeitos por aproveitar-se delas, mas ao mesmo tempo tinham a
ideia: "Amante no se desposa." Embora o casamento estivesse muito distante
de vocs; mas, enfim, segundo vocs, uma moa no deveria fazer isso. Voc e seus
colegas se retraam; no queriam ligaes com essas mulheres?
J .-P. S. - Sim, tambm havia isso.
S. de B. - Quando perdeu essa ideia estpida de que as moas que se deitam facilmente,
livremente, so mais ou menos putas?
J .-P. S. - Oh, muito depressa. A partir do momento em que tive um pouco mais de
contato sexual com mulheres, j no passei a julgar as coisas assim; foi s naquela
poca, quando ainda estava no liceu.
S. de B. Ainda muito marcado, pela educao burguesa.
J .-P. S. - Inteiramente. Quando entrei para a Escola Normal, isso j tinha terminado.
S. de B. - Tudo aquilo eram coisas puramente sexuais; houve outras antes do primeiro
grande caso?
J . P. S. - No.
S. de B. - Conheo bem as relaes que voc manteve com Camille, com sua noiva e
com algumas estudan-
a Sorbonne, c h a nossa histria, que um pouco diferente.
J .-P. S. - Sim.
S. de B. - Mas preciso no esquecer que essa histria existe, para compreender suas
relaes com outras ulheres. Falaremos disso uma outra vez. O que lhe queo
perguntar - considerando que voc me disse, de sa-
391
#da, quando nos conhecemos, que era polgamo, que no tinha inteno de liitar-se a
uma nica mulher, a um nico caso, e isso ficou assentado, voc, de fato, teve
casos - o que gostaria de saber : ao longo desses casos, o que que o atraa
particularmente nas mulheres?
J .-P. S. - Qualquer coisa.
S. de B. - Como assim?
J .-P. S. - As qualidades que eu poderia querer nas mulheres, as qualidades mais srias,
em minha opinio voc as tinha. Conseqentemente, isso liberava as outras
mulheres, que podiam simplesmente ser bonitas, por exemplo. E, como voc
representou muito mais do que o que eu queria dar s mulheres, as outras tiveram muito
menos
e ao mesmo tempo se deram menos. De um modo geral, porque houve algumas que se
deram bastante. Mas, nem sempre foi assim.
S. de B. - De qualquer forma, sua resposta "qualquer coisa" estranha. Dir-se-ia que to
logo uma mulher cruzava o seu caminho, voc estava pronto para ter um caso
com ela.
J .-P. S. - Deus meu...
S. de B. - Isso no verdade, porque algumas vezes mulheres se atiraram em voc e
voc as afastou. Foram muitas as mulheres com quem conviveu e no teve casos.
J .-P. S. - Tive certos sonhos, sonhos de amor, que me traaram uma espcie de modelo:
era uma loura e algumas vezes em minha vida encontrei algumas que se lhe
assemelhavam.
Mas nunca nos casos importantes. Mesmo assim essa figura ainda permanece em mim:
uma loura bonita, vestida com roupas de menina; eu era um pouco mais velho e
brincvamos
de arco, junto ao lago do Luxembourg.
S. de B. - uma histria verdadeira ou sonhada por voc?
J .-P. S. - No... era o que eu sonhava.
S. de B. - Ah, bem! Em suma, voc sonhava com amores infantis.
392
j.-P. S. - No, esses amores infantis representavam o amor; s que eu usava calas
curtas e ela, uma roupa de menina. Mas aquilo representava acontecimentos de minha
idade de ento, de meus vinte anos. Compreende? Sonhava, aos vinte anos, sob uma
forma simblica, com um jogo de arco com uma menina.
S. de B. - Uma menina, e voc tambm era um garotinho.
J .-P. S. - Na verdade, ns dois ramos mais velhos, e a parte do arco representava
relaes sexuais, provavelmente porque o arco e a vara me pareciam um smbolo
sexual tpico. Alis, ao sonhar com eles sentia-os assim. E um sonho que tive em torno
dos vinte anos. E, neste sonho, no havia prioridade, o homem nada tinha
de superior mulher, no havia machismo. Tenho pensado, nesses dias, em que os
homens so machistas, muito profundamente, sem dvida, mas isso no significa que
queiram ser os detentores do poder; eles se imaginam superiores s mulheres, mas
misturam isso com a ideia de igualdade entre o homem e a mulher, muito curioso.
S. de B. - Depende de quem.
J .-P. S. - Enfim, muitos. A maioria dos homens que conhecemos. Isso no significa que
a concluso no seja machista, mas nas conversas e na vida quotidiana eles
pronunciam frmulas que so igualitrias. Podem dizer coisas machistas sem se
aperceberem disso, e h sempre um pouco de empenho em sua definio igualitria das
relaes entre os sexos. Mas isso no impede que os homens se prevaleam do
machismo, pelo menos aqueles com quem nos damos. Evidentemente, seria necessrio
observar
outros ambientes.
S. de B. - Mas, para retornar a voc, o que foi que mais o atraiu nas mulheres e em que
medida voc teve relaes de igualdade com elas? Em que medida voc representava
um certo papel, digamos, imperialista, ou protetor em relao s mulheres?
J .-P. S. - Creio que fui muito protetor, e, conseqentemente, imperialista. Alis, muitas
vezes, voc me censurou por isso, no em relao a voc, mas em relao
393
#s mulheres que eu via, afora voc. Nem sempre, no entanto, porque com a mais
notvel delas eu tinha relaes de igualdade e ela no teria suportado outro tipo
de relacionamento. Mas voltemos ao que eu queria das mulheres. Creio que, antes de
mais nada, uma atmosfera sentimental. No sexualidade propriamente dita, mas
sentimental,
com um plano de sexualidade ao fundo.
S. de B. - Por exemplo, voc teve um caso em Berlim. com uma mulher a quem voc
chamava "a mulher lunar". O que lhe agradava nela?
J .-P. S. - No sei.
S. de B. - Ela no era nem muito bonita, nem muito inteligente.
J .-P. S. - No.
S. de B. - No era um lado um pouco perdido? J .-P. S. - Havia o lado perdido, e o lado...
o linguajar de uma cidade, que me aproximava dela. No era bem o linguajar
de Montparnasse, que era o nosso, mas o dos bairros prximos do Quartier Lati. Isso me
dava a impresso de um pensamento que, menos desenvolvido do que o nosso,
no fundo, era, no entanto, da mesma ordem. O que era inteiramente falso, mas tratava-se
de uma ideia que eu tinha na cabea. Era um caso um pouco especial. Sim,
creio que de uma maneira geral eu deva ser machista, porque tinha sido formado numa
famlia de machistas. Meu av era machista. S. de B. - A civilizao era machista.
J .-P. S. - Mas nas relaes com as mulheres no era o machismo que predominava.
Evidentemente, cada um tinha um papel, e meu papel era mais um papel ativo e um
papel racional; o papel da mulher era o papel da afetividade. E uma coisa muito
clssica; mas no considerava essa afetividade como inferior prtica e ao uso da
razo. Eram disposies distintas. Isso no significava que a mulher no fosse capaz de
usar a razo to bem quanto um homem, que uma mulher no pudesse ser engenheiro
ou filsofo. Significava, simplesmente, que a maior parte do tempo ela tinha valores
afetivos, sexuais s vezes; era esse conjunto que eu atraa para mim, por-
394
que considerava que ter relaes com uma mulher dessa maneira, era em parte apoderar-
se de sua afetividade. Tentar faz-la sentir afeto por mim era ter aquela afetividade,
e eu me dava essa afetividade.
S. de B. - Em outras palavras, voc pedia s mulheres que o amassem.
J .-P. S. - Sim. Era preciso que me amassem, para que essa sensibilidade se
transformasse em algo que me pertencia. uando elas se davam a mim, eu via essa
sensibilidade
em seu rosto, na expresso de seu rosto; encontrar no rosto das mulheres essa
sensibilidade era como se dela eu me apoderasse. Praticamente, eu mesmo declarei,
algumas
vezes, em minhas anotaes ou em meus livros - e ainda penso assim - que a
sensibilidade e a inteligncia no esto separadas, que a sensibilidade produz a
inteligncia,
ou antes, que ela tambm a inteligncia, e que, finalmente, um homem racional,
ocupado com problemas tericos, um abstrao. Achava que tnhamos uma sensibilidade
e que o trabalho da infncia, da adolescncia, consistia em tornar essa sensibilidade
abstraa e compreensiva, e indagadora, de maneira a fazer dela, pouco a pouco,
uma razo do homem, uma inteligncia trabalhando sobre problemas de ordem
experimental.
S. de B. - Voc quer dizer que, nas mulheres, essa sensibilidade no estava desviada em
benefcio da razo.
J .-P. S. - Sim, ela o estava s vezes, quando elas eram professoras ou engenheiras etc.
Elas eram absolutamente capazes de fazer as mesmas coisas que os homens,
mas uma certa tendncia, a educao que recebiam, e tambm o que sentiam de dentro,
dava-lhes em primeiro lugar a afetividade. E com elas no subiam muito, por
motivos materiais ou sociais, pelo tipo de mulher criado nla sociedade e mantido por
ela, conservavam, ento, sua sensibilidade intata. Esta sensibilidade compreendia
a inteligncia do outro. E minhas relaes, ento, com as mulheres, do ponto de vista
intelectual? Dizia-lhes coisas m que pensava; muitas vezes era malcompreendido,
as, ao mesmo tempo, era compreendido por uma sensibilidade que enriquecia minha
ideia.
395
#riPo ueci" ".
T
n:
r
o--;
simples O dn- ' meu ponto de vista o era n-----
>. e ti. - Sim.
estru , " romo Pcie d,
4S2SJ =:
sr-SES;
. !
396
sensibilidade ultrapassar a inteligncia, ou a inteligncia desenvolver-se com
exclusividade, e a sensibilidade ficar apagada. Foi ela que engendrou a inteligncia,
mas permaneceu apagada por baixo dela. De maneira que este domnio que era um
esquema, um smbolo social, no era absolutamente justificado por mim, que procurava
estabelec-lo. No considerava que, porque fosse mais inteligente, devia levar vantagem
e dominar o casal. Mas isso era mais na prtica, porque tendia para tal,
porque era eu quem procurava as mulheres que tiveram relaes comigo. E,
conseqentemente, cabia a mim dirigi-las. No fundo, o que me interessava era revigorar
minha
inteligncia numa sensibilidade.
S. de B. - Voc se apropriava das caractersticas especficas das mulheres...
J .-P. S. - Apropriava-me das caractersticas especficas das mulheres tal como as
representvamos naquela poca.
S. de B. - E tais como, alis, elas eram muitas vezes. Voc nunca se sentiu atrado por
uma mulher feia?
J .-P. S. - Realmente feia e completamente feia, no, nunca.
S. de B. - Poder-se-ia at dizer que todas as mulheres a quem voc se ligou eram
francamente bonitas ou pelo menos muito atraentes e charmosas.
J .-P. S. - Sim; eu fazia questo que uma mulher com quem me relacionasse fosse bonita
porque era uma maneira de desenvolver minha sensibilidade. Eram os valores
irracionais, a beleza, o charme etc. Ou mesmo racionais, j que podem ter uma
interpretao, uma explicao racional. Mas quando se ama o charme de uma pessoa,
ama-se
algo de irracional, mesmo que o charme, num grau mais profundo, possa ser explicado
atravs de conceitos e ideias.
S. de B. - No houve casos em que as mulheres o atraram por outras razes que no as
qualidades femininas: a fora de carter, alguma coisa de intelectual e moral,
mais do que algo puramente encantador e feminino? Estou pensando em duas pessoas,
uma com quem
397
#voc no teve um caso, mas de. quem gostamos muito voc gostou muito, que era
Christina. E a outra aquela que voc mencionou ainda h pouco.
, s ~sim'' apreciava a fora de carter de Christina. No teria compreendido Christina, se
ela no tivesse o carter que tinha. Ao mesmo tempo, isso me confundia
um pouco. Mas era uma qualidade secundria A qualidade primeira era ela, seu corpo,
no seu corpo como objeto sexual, mas seu corpo e seu rosto como resumindo essa
afetividade no-conhecvel, no-analisvel que era a base de minhas relaes com a
mulher.
S. de B. - Havia tambm em suas relaes com as muheres um lado um pouco
Pigmaleo?
1 ~Isso P11 do que voc entende por um lado Pigmaleo.
S de B. - Moldar um pouco uma mulher, mostrar-lhe coisas, faz-la progredir, e ensinar-
lhe coisas.
J .-P. S. - Certamente havia isso. O que, por conseguinte, supunha uma superioridade
provisria Era um estagio, depois ela se desenvolvia sozinha ou com outros iu
a fazia passar por um determinado estgio E naquele momento, as relaes
propriamente sexuais eram um reconhecimento dessa passagem e de sua superao
Certamente
era muito isso.
S de B. - Em que lhe interessava esse papel de Pigmaleo?
J .-P. S. - Deveria ser o papel de todo mundo em relao aos que podemos ajudar a
desenvolver-se.
S. de B. - Sim, isso bem verdade. Mas ainda assim isso o atraa de uma maneira que
no era assim to moral e dialtica como voc parece dizer. Era algo mais sensvel
para voc. Era um verdadeiro prazer.
J .-P. S. Sim, se uma semana depois eu me deparava com coisas que tinha
compreendido e se ela tinha avanado mais, isso me agradava.
S. de B. - No foi assim com todas as mulheres. J -P. S. No.
S. de B. - Houve algumas que eram completamente rebeldes a qualquer tipo de
formao.
398
J . - P. S. - Inteiramente... As relaes sexuais com as mulheres eram obrigatrias porque
as relaes clssicas implicavam aquelas num dado momento. Mas eu no
atribua grande importncia a isso. E, para ser exato, isso no me interessava tanto como
as carcias. Em outras palavras, eu era mais um masturbador de mulheres
do que um copulador. E isso tem relao comigo e, tambm, com a maneira pela qual
via as mulheres. Ou seja, creio que muitos homens so mais avanados do que eu
na maneira pela qual concebem as mulheres. De certa maneira, esto aqum, e de outra,
mais adiante, porque partem do sexual e o sexual "deitar-se com".
S. de B. - E voc chama isso estar mais alm ou mais aqum?
J .-P. S. - Mais alm. Mais alm pelas consequncias disso. Em outras palavras, para
mina, a relao essencial e afetiva implicava que eu beijasse, que eu acariciasse,
que meus lbios percorressem um corpo. Mas, o ato sexual - ele tambm existia e eu o
realizava, at o realizava com frequncia - era com uma certa indiferena.
S. de B. - Essa indiferena sexual, falamos dela em relao s mulheres, mas tem uma
certa relao com seu corpo... Gostaria de tentar compreender por que voc teve
sempre essa espcie de frieza sexual, ao mesmo tempo em que gostava imensamente das
mulheres. O desejo puro nunca o mobilizou...
J .-P. S. - Nunca.
S. de B. - Era mais o 'romanesco'. A mulher sempre foi, para voc, o 'romanesco' na
acepo de Stendhal.
J .-P. S. - Sim. Romanesco indispensvel. Quase se poderia dizer que, na medida em que
o homem perdeu taj.r.s.sh.l.alrs.nifilifjii.V.r.inr.rp.ri-
te sua inteligncia, ele foi levado a solicitar a sensibilidade do outro, a mulher, isto , a
possuir mulheres que eram sensveis, para que sua sensibilidade se
tornasse uma sensibilidade de mulher.
S. de B. - Em outras palavras, voc sentia algo de incompleto em voc.
399
#J .-P. S. - Sim. Achava que uma vida normal supunha uma relao constante com a
mulher. Um homem se definia, ao mesmo tempo, pelo que fazia, pelo que era, e pelo
que era pela mulher que estava com ele.
S. de B. - Voc podia ter com mulheres intercmbios que no tinha com homens,
porque essas conversas intelectuais tinham uma base afetiva.
J .-P. S. - Sentimental.
S. de B. - Algo de romanesco. Observei - isso, alis, muito clssico, faz at parte dos
mitos, mas ao mesmo tempo uma realidade - que quase em toda a viagem
que fizemos, ou que voc fez, houve uma mulher que significou para voc a encarnao
do pas.
J .-P. S. - Sim.
S. de B. - Enm, houve M. na Amrica, Christina no Brasil, outras ainda.
J .-P. S. - Isso se deve em parte ao fato de que nos colocam uma mulher, no nos braos,
mas ao nosso lado, para fazer-nos conhecer a beleza do pas.
S. de B. - Isso no bastaria. Na Rssia lhe haviam destinado um homem, e bem
evidente que isso no lhe fez criar vnculos de amizade para com ele.
J .-P. S. - Comecei logo por recus-lo... Mas, de fato as viagens e as mulheres nas
viagens foram importantes para mim.
S. de B. - No simplesmente uma coisa sexual;
na verdade, frequentemente so as mulheres que personicam melhor o pas que
visitamos. Quando so de qualidade superior, so mais interessantes que os homens.
J .-P. S. - Por que tm a sensibilidade.
S. de B. - Tm a sensibilidade, so tambm um pouco marginais em relao sociedade
e, no entanto, a conhecem bem; se so inteligentes, tm uma viso muito mais
interessante do que os homens que nela esto inseridos. H tambm, objetivamente, o
fato de que voc se ligou a mulheres que eram realmente mulheres interessantes.
Eram-no realmente, fui testemunha disso, j que tambm estava ligada a elas, num outro
plano.
400
J .-P. S. - Sim, ento quando uma mulher representa todo um pas, h muito o que amar.
Elas so sempre mais ricas quando vivem um pouco margem do pas. Christina
representava o tringulo da fome. E revoltar-se contra um pas no significa
absolutamente que no se possa represent-lo. Representamo-lo e tambm nos
revoltamos.
S. de B. - Divague um pouco sobre tudo isso.
J .-P. S. - Quando tento recordar atualmente todas as mulheres que tive, recordo-as
sempre vestidas, nunca nuas; embora tenha sentido quase sempre um grande prazer
em v-las nuas. No, vejo-as vestidas, como se a nudez fosse uma relao particular,
muito ntima, mas... preciso ter ultrapassado estgios para chegar l.
S. de B. - Como se a pessoa fosse mais real...
J .-P. S. - Qjuando est vestida, sim, no mais real, mas mais social, mais abordvel;
como se s se chegasse nudez atravs de numerosos desnudamentos, tanto fsicos
como morais. Nisso eu era como muitos amadores de mulheres. De toda maneira, eu
vivia com ela numa situao, num mundo; o que me impedia de viver no mundo era
voc.
S. de B. - Como?
J .-P. S. - O mundo, eu o vivia com voc.
S. de B. - Sim, entendo. Voc vivia em mundos dentro deste mundo.
J .-P. S. - Mundos, dentro deste mundo. Era disso que decorria a inferioridade dessas
relaes, alm de, obviamente, o carter das pessoas e tudo o que h de objetivo.
Estavam obstrudas a priori.
S. de B. - Porque havia a nossa relao. Outra Pergnta: voc sentiu cimes, em que
circunstncias, e como? O que era o cime para voc?
J .-P. S. - No fundo, era indiferente se houvesse um outro num caso com uma mulher
qualquer. O essenal era que eu fosse o primeiro; mas imaginar um trio, no qual
haveria eu e tambm um outro mais estabelecido do que eu, era uma situao que eu
no suportava.
S. de B. - Ocorreu tal situao?
401
#J .-P. S. - Como sab-lo?
S. de B. - Mas voc a sentiu? com Olga houve um caso de cime muito claro, quando
ela comeou a se interessar por Zuorro. No entanto, as relaes que voc tinha
com Olga no eram possessivas - nem sexuais, nem possessivas; mas, de toda maneira,
foi isso que precipitou as coisas e que provocou nalmente a ruptura; voc queria
ser o primeiro no corao dela.
J .-P. S. - Sim.
S. de B. - Se a "mulher lunar" tinha um marido, isso efetivamente pouco lhe importava.
J .-P. S. - Em absoluto. Porque ela era realmente inferior pelo menos na conscincia
dela. Creio que meu machismo residia mais numa certa maneira de considerar o
universo da mulher como algo de inferior, mas no o universo das mulheres que eu
conhecia.
S. de B. - Seu lado Pigmaleo mostra bem que voc nunca quis reduzir uma mulher,
fech-la, mante-la num estado que, num plano qualquer, lhe parecesse inferior.
J .-P. S. - No.
S. de B. - Voc sempre quis, ao contrrio, fazer com que as mulheres progredissem,
fazer com que lessem, fazer com que discutissem.
J .-P. S. - Partindo da ideia de que deveriam atingir o mesmo grau que um homem
inteligente; no havia nenhuma diferena intelectual ou moral entre as mulheres e
os homens.
S. de B. - De toda maneira, se se encontravam num estgio inferior isso no lhes dava, a
elas em particular, nenhuma inferioridade. Isso eu sei, voc nunca considerou
nenhuma mulher como inferior.
J .-P. S. - Nunca.
S. de B. - Como acabavam seus casos em geral? Era voc quem rompia, ou rompiam
elas, ou as circunstncias?
J .-P. S. - s vezes um, s vezes o outro, s vezes as circunstncias.
402
S. de B. - Alguma vez teve contrariedades por causa de algumas dessas mulheres?
J .-P. S. - Contrariedades, sim. Quando velyne 5 deixou de escrever durante um born
tempo, porque tinha uma quantidade de casos complicados.
S. de B. - Ou quando M. queria vir instalar-se em Paris, e se tornava exigente. H a
contrariedade provocada por mulheres que pedem mais do que se pode dar, essa
experincia voc teve com muita frequncia, e quase sempre terminou com
rompimentos. E h aquelas que no do bastante.
J .-P. S. - Sim.
S. de B. - Geralmente, no incio do relacionamento que isso lhe acontece. Voc cou
contrariado com Olga.
J .-P. S. - com Olga, sim.
S. de B. - Ficou contrariado com velyne no incio.
J .-P. S. - Sim.
S. de B. - As vezes em que o vi mais contrariado foram por Olga e por velyne, no
sentido a que me estou referindo. E em outro sentido, porque lhe pediam muito,
foi evidentemente com relao a M.
J .-P. S. - Sim, quei muito contrariado com M.
S. de B. - Talvez tenha sido um dos nicos casos em que voc rompeu bruscamente.
J .-P. S. - Sim. Num dia.
S. de B. - Voc lhe disse, bem, terminou, isso no pode prosseguir, seria uma escalada.
J .-P. S. - Sim. curioso, porque eu estava muito ligado a ela, e o caso se interrompeu
assim.
S. de B. Voc se ligou imensamente a ela, foi a nica que me assustou, alis.
Assustou-me porque era hostil. Voc tambm se ligou imensamente a velyne. Mas
velyne
e eu tnhamos relaes de amizade; eu real-
5. velyne, irm de Lanzmann, chamava-se velyne Rey no teatro. Trabalhou em vrias
peas de Sartre.
403
#mente gostava muito dela, absolutamente no era a mesma coisa. Ela desejaria coisas
que voc no lhe deu, desejaria v-lo menos clandestinamente. Mas de modo algum
era contra mim.
J .-P. S. - Ah, no, de modo algum. Quando repenso em minha vida, penso que as
mulheres me proporcionaram muito. No teria atingido o ponto que atingi sem as
mulheres,
voc em primeiro lugar.
S. de B. - No falemos de mim.
J .-P. S. - Bem. Outras que me revelaram pases. M., apesar de tudo, me deu a Amrica.
Deu-me muito. Os caminhos que percorri na Amrica cruzam-se em torno dela.
S. de B. - Em geral, as mulheres que voc escolhia eram inteligentes, algumas at, como
L., Christina e Evelyne, muito inteligentes.
J .-P. S. - Sim. Sim, em geral elas eram inteligentes. No que as quisesse inteligentes,
mas em sua sensibilidade logo aparecia algo mais que a sensibilidade, que
era a inteligncia. E ento eu podia falar durante horas com mulheres.
S. de B. - Sim.
J .-P. S. - com homens, uma vez j ditas as coisas sobre a poltica ou algo desse tipo, eu
me interrompia de born grado. Parece-me que duas horas da presena de
um dia, e sem rev-lo no dia seguinte, amplamente suficiente. Ao passo que, com uma
mulher, isso pode durar o dia inteiro, e depois recomear no dia seguinte.
S. de B. - Sim, porque baseado nessa intimidade, nessa quase-posse de seu ser atravs
do sentimento que ela lhe d. Algumas vezes voc foi rejeitado por mulheres?
Houve mulheres com quem teria gostado de ter tido determinadas relaes, e no as
teve?
J .-P. S. - Sim, como todo mundo.
S. de B. - Houve Olga.
J .-P. S. - Ah, sim.
S. de B. - Mas era uma situao to complicada
J .-P. S. - Sim.
404
S. de B. - Houve outras mulheres que lhe agradava > voce mais ou menos cortejou e
com as quais no houve relaes, no digo nem sequer sexuais, mas relaes
sentimentais
significativas?
J .-P. S. - No muitas.
S. de B. - Voc tambm teve em sua vida relaes no-sentimentais, enfim, no-
romanescas, relaes de boa amizade. Pelo menos com a Sra. Morei.
J .-P. S. - Sim, a Sra. Morei.
S. de B. - Havia certamente algo no fato de se tratar de uma mulher que dava uma
qualidade s suas relaes, o que no tinha sua amizade por Guille.
J .-P. S. - Certamente.
S. de B. - A pergunta pode ser um pouco tola:
voc gostava mais de Guille ou da Sra. Morei?
J .-P. S. - Era diferente. De incio a Sra. Morei era, apesar de tudo, a me de um tapir*;
confiara-me seu filho para que lhe ensinasse coisas, e tinha comigo relaes
de me de tapir. Ainda que tais relaes se tenham tornado depois cada vez mais
ntimas, ela teve, de incio, relaes de me de tapir comigo. Ela mantinha as mesmas
relaes com Guille, mas era diferente. Porque o tapir, uma vez sob minha
responsabilidade, sara do universo de Guille, que fora quem se ocupara dele nos anos
anteriores.
S. de B. - Ele tinha relaes sentimentais com a Sra. Morei, muito mais marcantes do
que as suas. Mas, enfim, voc preferia a companhia de Guille ou da Sra. Morei?
Uma vez que se tornaram amigos, ela deixou de ser a me de um tapir
J .-P. S. - Nunca me fiz tal pergunta.
S. de B. - De toda maneira, creio que voc se entendia melhor com Guille. Porque a Sra.
Morei era encantadora, voc gostava muito dela, mas havia um distanciamento
muito grande sob vrios aspectos, em minha pinio.
* Gria de Escola Normal: aluno que recebe aulas particulares. (N. do T.)
405
#J .-P. S. - Creio que sim. Exatamente; se alguma vez houve momentos em que mais
preferiria ver a Sra. Morei do que Guille, nunca me peruntei isso dessa forma. Eu
no via bem o tipo de relaes que podia ter com a Sra. Morei. O lado sentimental
estava fora de questo, j que havia Guille e ela era demasiado velha em minha
opinio. O aspecto amizade com uma mulher no me atraa. Alis, praticamente, no
existiu para mim.
S. de B. - Voc quase nunca passou duas horas a ss com a Sra. Morei?
J .-P. S. - Ohl Isso ocorreu, mas no com frequncia.
S. de B. - De um modo geral, vocs tinham mais contatos a trs ou a quatro, quando eu
estava presente.
J .-P. S. - De toda maneira, creio que foi a nica amiga mulher que tive.
S. de B. - Creio que sim.
S. de B. - Da ltima vez, falamos de suas relaes com as mulheres, e isso nos levou
sexualidade, e a sexualidade nos levou a falar de uma maneira mais geral
sobre sua relao com seu corpo... O que tem a dizer sobre sua relao com o corpo?
Em primeiro lugar, o fato de ser mido, o fato de que lhe tenham dito muitas
vezes que era feio, isso pesou em sua relao com seu corpo?
J .-P. S. - Isso pesou, certamente, e muito, mas pesou como verdades abstraas, verdades
ditas plos outros, e que, conseqentemente, conservavam o carter abstrao
das verdades que o professor, por exemplo, ensina sobre a matemtica. Mas no foi uma
revelao para mim. A noo de 'pequeno', por exemplo: claro que sabia que
era pequeno; diziam-me isso, chamavam-me de 'meu pequeno' e eu via bem, desde o
comeo, uma diferena entre o tamanho de minha me, ou de meu av, e o meu. Mas,
na verdade, isso no me dava uma intuio concreta de fato de ser pequeno. Via -
porque tinha olhos como todo mundo - a diferena de perspectiva que fazia com que
eu, menor do que um adulto, visse as coisas de forma diferente. Sabia que os adultos
eram grandes, que meus
406
colegas eram mais ou menos grandes em relao a mim. Via tudo isso, mas via-o como
algo de prtico, sem palavras, sem definio em palavras em mim. A verdade que
me via to grande como qualque um. difcil de explicar. Mas as diferenas que
percebia - olhava para cima para ver um rosto, falava mais alto para responder a
algum mais alto do que eu, a diferena de fora era notvel - s pertenciam a um
sistema de movimento, de agrupamento, de direo, isso no fazia parte de uma
qualificao
de mim mesmo e de meu interlocutor. Na verdade, eu me via to grande quanto ela. Em
seus braos, eu podia ser pequeno. Mas a era uma relao de ternura. Qjuando
tinha seis anos e meu av me tomava em seus braos, isso no era uma relao que
provasse que eu era menor do que ele. De certa maneira, era uma noo que eu no
tinha. Ou que era abstrata, mas que eu no captava na vida perceptiva do quotidiano, e
isso continuou assim. Diante de meninos de minha idade, o que contava para
mim, para defini-los em relao a mim, era minha idade. Eram da mesma idade que eu,
portanto no eram grandes, grandes no sentido de 'um adulto'. O adulto se qualificava
mal pelas dimenses fsicas, qualificava-se mais por um aspecto, roupas, um odor, uma
responsabilidade, uma maneira de falar, era mais psquico do que fsico. E
conseqentemente permaneci assim, de certa maneira suprimindo minhas dimenses. Se
me perguntavam se eu era grande ou pequeno, respondia que era pequeno, mas isso
no configurava um sentido preciso de minha vida. E uma coisa que descobri mais
tarde, lentamente e mal.
S. de B. - Mas, por exemplo, em suas relaes com as mulheres, quando voc formava
um par com uma mulher. se ela era muito mais alta do que voc, isso no o
incomodava?
J .-P. S. - Isso raramente aconteceu. Em geral, inromodava-me um pouco, sim. Pensava
que os outros me viam de forma cmica, pelo fato de ser amante de uma moa to
alta, ou de uma moa mais alta. Mas, sensualmente, gostava bastante.
407
#S. de B. - E quanto feira?
J .-P. S. - As mulheres me fizeram descobrir a minha feira; diziam-me que era feio
desde a idade de dez anos, mas eu no apreendia minha feira num espelho. Tinha
duas maneiras de ver-me num espelho. Uma maneira que diria universal, como um
conjunto de signos: se queria saber se tinha que cortar os cabelos, lavar-me, trocar
de gravata, etc. Esses eram conjuntos de signos. Via se meus cabelos estavam muito
compridos, se meu rosto estava manchado ou sujo, mas no captava minha
individualidade
nesse rosto. Uma coisa que sempre permanecia era o olho que envesga. Isso permanecia
e era o que eu via de imediato. E isso me levava outra maneira de representar-me
no espelho, de me ver no espelho, como um pntano. Via meu rosto de outra maneira,
se passava dois signos abstratos ao concreto; o concreto era uma espcie de pntano.
Via traos que no tinham muito sentido, que no se combinavam num rosto humano
ntido, em parte por causa de meu olho que envesgava, em parte por causa das rugas
que tive muito cedo. Em suma, eu tinha ali uma espcie de paisagem vista de um avio.
com terras que no tm muito sentido a no ser o de serem campos; depois,
de quando em quando, os campos desaparecem, sobe-se, no h mais vegetais, h
colinas ou montanhas. Em suma, era uma espcie de terra revolvida que era o substrato
do que um rosto de homem, um rosto que eu via a olho nu, em meus prximos, e que
no via no espelho se nele me olhava. Creio que, em parte, porque o captava como
feito por mim, e via os msculos que se contraam para form-lo, as expresses
fisionmicas. Ao passo que as expresses fisionmicas dos outros eram vistas por mim
simplesmente como traos, rugas, superfcies que se modificavam um pouco e, de modo
algum, como msculos que se contraam. Duas fisionomias sem continuidade, sem
ligao: o universal, que me dava um rosto, mas um rosto como os que se vem nos
jornais, com quatro traos para represent-los;
e o particular que estava aqum do rosto, que era uma grande 'carne agrcola', que
precisaria de um trabalho da
408
percepo para organiz-la em rosto. Eram essas minhas duas maneiras de ver-me.
Quando via a 'carne agrcola' ficava desolado por no poder ver o rosto que os outros
viam. E, naturalmente, quando via traos gerais, isso no representava meu rosto.
Faltava-me - como creio que, de certa maneira, falta a todo mundo - a passagem
de um ao outro, a juno que seria precisamente o rosto.
S. de B. - Voc tinha comeado a dizer-me que foi atravs das mulheres que ficou
sabendo que era feio.
J .-P. S. - No pelas mulheres, por algum que mo disse. Aos dez anos, quando mo
diziam, era algo sem consequncia, caoada dos colegas. Mas, evidentemente, quando
as mulheres o disseram, quando uma delas mo disse de maneira definitiva...
S. de B. - Aquela que voc mencionou outro dia, que disse: "esse bobalho".
J .-P. S. - Sim, "bobalho".
S. de B. - Mas, afora isso, muitas mulheres lhe disseram que era feio?
J .-P. S. - Camille me dizia claramente e frequentemente.
S. de B. - Mas utilizando isso quase que como um instrumento de seduo, j que dizia
que voc a impressionara ambivalentemente, quando o encontrou no enterro: pareceu-
lhe
uma feira potente.
J .-P. S. - Sim, o aspecto feira deve ter representado um papel no incio.
S. de B. - De toda maneira, essa feira no o impediu de ter sucesso com as mulheres.
J .-P. S. - Porque aprendi mais tarde que isso tem
pouca relao.
S. de B. - Alis, um lugar comum que um homem pode muito bem ser feio e ter muita
seduo, e ctam-se grandes sedutores que eram feios, e isso voc devia saber.
O Duque de Richelieu, ou outros.
J .-P. S. - Sim, sim, claro.
S. de B. - Conseqentemente, isso no lhe causou nenhuma espcie de timidez?
J .-P. S. - No.
409
#S. de B. - Voc me dizia que fazia muita questo de s sair com mulheres que tivessem
um mnimo de charme e at mesmo, se possvel, que fossem bonitas.
J .-P. S. - Sim, porque com um homem feio e uma mulher feia, o resultado realmente
um pouco... um pouco chamativo demais. Ento, eu desejava uma espcie de equilbrio,
eu, representando a feira, e a mulher representando, quando no a beleza, pelo menos o
charme ou a graa.
S. de B. - De um modo geral, ao longo de sua vida, voc se sentiu bem em relao ao
seu corpo, vontade, ou no? E de que maneira ou em que medida?
J .-P. S. - De preferncia, mal. Voc fala, em suma, da apreenso subjetiva do corpo.
S. de B. - Sim, isso.
J .-P. S. - Vejo uma quantidade de companheiros que falaram da satisfao de sentir-se
fisicamente bem. Fisicamente, praticando esqui, ou nadando etc. Tudo isso nunca
existiu muito para mim. Quando praticava esqui, sentia sobretudo medo de cair. Era
esse o sentimento do corpo que eu tinha. O equilbrio representava uma ameaa
constante. No que se refere a nadar, temia o cansao.
S. de B. - Pensava que voc gostasse muito de nadar.
J .-P. S. - Gostava de nadar. Mas gostar no significa ter um sentimento agradvel do
corpo. No muito agradvel nadar. Gostava de vrias coisas que no eram o
meu corpo; o sol sobre as ondas, as prprias ondas, a temperatura, a umidade, tudo isso,
gostava de tudo isso. Gostava da gua, mas o corpo em si estava sujeito
a certas sensaes que, de uma maneira geral, podemos chamar de menos agradveis ou
desagradveis. E, de um modo geral, nas caminhadas que fazia, por exemplo, com
voc, o que sentia era cansao. Em primeiro lugar, o prcansao, uma impresso
desagradvel de algo que vai abater-se sobre ns e, em seguida, o cansao.
S. de B. - Sim, falamos disso. Para mim, o cansao era um estado, em suma, agradvel,
na medida em que no se prolongasse muito, em que eu sempre pudesse
410
parar, pousar minha mochila, sentar-me. Enquanto que, para voc, o cansao era
desagradvel.
J .-P. S. - Sim.
S. de B. - Alis, ele se manifestava muitas vezes, ora atravs de bolhas, ou de pequenas
esfoladuras, ou ento voc tinha espinhas, furnculos; havia coisas que
no funcionavam muito bem em seu corpo e que provinham, certamente, do fato de
voc no se sentir bem em relao a ele. E, no entanto, voc gozava de muito boa sade.
J .-P. S. - Gozava de muito boa sade e creio que deveria, segundo as normas, ter uma
boa impresso corporal. Mesmo agora, no posso dizer que o sentimento inferior,
'cenestsico', como se dizia antigamente, seja agradvel. No muito desagradvel, mas
no agradvel. No me sinto bem.
S. de B. - essa uma das razes pelas quais sempre detestou o que chamava o
'abandono'? Quero dizer, abandonar seu corpo, digamos, na relva, na areia. Lembro-me,
com Bost em Martigues, voc se sentava em pedras com arestas cortantes, de uma
maneira muito desagradvel; voc sempre esteve muito mal instalado em seu corpo.
J .-P. S. - Sim, isso mais complicado, e isso nos levar a Pardailian.
S. de B. - Para retornar pergunta da cenestesia pouco agradvel, a que atribui isso?
Voc v as razes em sua infncia? como que uma recusa moral de abandonar-se
a seu corpo? uma espcie de crispao - foi por isso que falei de abandono - que
estaria ligada ao fato de que o abandono, tal como o viu em sua me, ou em outras
pessoas, sempre o desagradou muito?
J .-P. S. - Creio que sim. Creio que havia uma ideia daquilo que se devia ser e esta ideia
no comportava o abandono. De um modo geral, creio que, para mim, meu corpo
estava essencialmente em ao. E tudo o que era para dentro, a cenestesia, tudo isso no
devia contar, devia ficar fora da minha conscincia. O que contava era o
ato que eu fazia, o ato de caminhar, ou de pegar um
411
#objeto. Creio que, muito cedo, quando criana, concebi meu corpo como um centro de
ao, negligenciando o lado sensao e passividade. Naturalmente, essa passividade
existia, eu apenas a reprimia um pouco. Mas, ento, enfatizava o que era objetivo de
minha parte, real, uma ao exercida: colocar areia nos baldes e com isso fazer
um castelo, uma casa. Mas, de toda maneira, o que contava era a ao. E o modo pelo
qual eu sentia determinados elementos de meu corpo, minhas mos, por exemplo:
era sempre um ato que eu sentia nas mos. Evidentemente quase sempre assim, uma
mo algo que vive, mas pode-se tambm senti-la como algo que experimenta alguma
coisa. Que experimenta a aspereza de um tecido, ou a dureza de um objeto. E comigo
isso ficava inteiramente em segundo plano, eu queria sobretudo agir.
S. de B. - Voc falou de Pardailian. O que estava querendo dizer?
J .-P. S. - Queria dizer, precisamente, que h corpos imaginrios, que envolvem o corpo
na percepo que dele se tem. Meu corpo imaginrio era o corpo de um forte
chefe militar, de um Pardailian exatamente, ou seja, um heri de capa-e-espada. algo
que sei quando adquiri, ou, pelo menos, quando desenvolvi. Foi quando era
pequeno e brincava de ser Pardailian, enquanto minha me tocava piano. Contei isso em
Ls mots.
S. de B. - Sim.
J .-P. S. - Eu me sentia um guerreiro potente, j que se tratava de eliminar as colunas de
inimigos que me atacavam. E isso, coisa que sempre conservei, era de certa
maneira uma compensao de minha baixa estatura. Mas, como disse, s sentia minha
baixa estatura abstratamente. De maneira que essa compensao era tambm
originalmente
abstraa; depois ela se tornou esse personagem que era Miguel Strogoff, ou Pardailian, e
todos esses homens que afinal eram eu. No imaginrio, mas tambm no real,
no sentido de que eu atribua mais valor ao que sentia de ativo em minhas mos; em
meu corpo, mais fora, mais potncia; se eu jogava uma pedra, meu ato
412
era mais violento e a pedra, mais pesada, no imaginrio, do que o era na realidade.
S. de B. - No entanto, essa conscincia desse corpo potente contradiz um pouco o que
voc acaba de dizer:
que logo temia o cansao, quando caminhava, quando nadava, quando andava de
bicicleta. Se se sentisse uma espcie de gigante e de colosso deveria ter abordado os
exerccios fsicos com uma imensa confiana.
J .-P. S. - Tinha uma certa confiana. Mas isso eram realidades: o cansao, todo o
elemento terrestre, a ligao com a terra, com o solo, com as dificuldades que
fazem com que se sinta o prprio corpo, nesse momento, num plano secundrio; sente-
se o prprio corpo esgotado, cansado etc. - a tudo isso eu dava uma importncia
evidentemente muito maior; era a inclemncia do real. O mundo era muito mais duro
para mim do que era para voc. Entende o que quero dizer?
S. de B. - No, no percebo muito bem a ligao entre esse corpo imaginrio, que
inteiramente robusto, capaz de inmeras proezas, e sua timidez fsica; j que
diz que at com a natao tinha medo de cansar-se.
J .-P. S. - No tinha medo de cansar-me, cansavame. Dedicava-me natao para que
houvesse uma ao que eu sentisse e que me desse prazer. E comeava ento o pr-
cansao,
que era o cansao do corpo que se cansa porque age. E, de certa maneira, eu negava o
cansao ou o reprimia. E quando ele se tornava mais forte, eu rejeitava a negao.
S. de B. - Ento, que ligaes voc v entre tudo o que me acaba de dizer e as relaes
que havamos esboado outro dia sobre sua sexualidade?
J .-P. S. - preciso comear dizendo que uma sexualidade plena supe uma dupla
relao. Cada um, num ato sexual - falo de uma maneira muito ampla, no falo do ato
propriamente sexual, mas de tudo o que h em torno disso - cada um possui e
possudo; cada um, no mesmo momento, abraa algum que ao mesmo tempo o abraa.
S. de B. - Sim.
413
#J .-P. S. - E, conseqentemente, h ao mesmo tempo em cada um a impresso de
possuir, a impresso do que chamava ainda agora de ao, a ao do born gigante, e a
impresso de ser possudo. No movimento que voc faz para acariciar um corpo, por
exemplo, um ombro, um ombro nu, voc realiza um ato. Para mim, o que contava e
sempre contou era o lado ativo, ou seja, a posio de minha mo, e certamente a
sensao da carne, mas na medida em que eu a fazia nascer. Que eu a fazia nascer,
passando a mo pela axila, pelo brao, pela coxa. Era minha ao que contava, com
aquilo que ela captava, ou seja, o lado exterior, objetivo, do corpo a minha frente.
preciso dizer que o que dominava era a ternura ativa da mo que acaricia; mas a
reciprocidade era a coisa que eu menos sentia; o fato de que a outra pessoa tambm
pudesse experimentar prazer sentindo meu corpo. Por exemplo, quando estava nos
braos de uma pessoa, corpo contra corpo, ventre contra ventre, peito contra peito,
sentia a mim captando a carne livremente, mas no a outra pessoa captando meu corpo.
S. de B. - Voc nunca se sentia como passividade. J .-P. S. - Nunca; e nunca como objeto
de carcias;
forosamente, as relaes entre as duas pessoas eram por isso mesmo modificadas.
Havia uma brecha entre o que a pessoa podia receber e dar frente a mim, porque essa
brecha existia em mim. Ento, como era adequadamente sexuado tinha ereo
rapidamente, facilmente; copulava com frequncia, mas sem um prazer mito marcante.
S
um pequeno prazer no fim, mas bem medocre. Preferia estar ligado ao corpo inteiro,
acariciar o corpo, em suma, estar ativo com as mos, com as pernas, tocar a
pessoa:
mais do que a cpula propriamente dita. Ela me parecia obrigatria, e, por isso, em
minhas relaes com uma mulher era preciso que estas terminassem assim... Mas
isso provinha da representao de outrem, do que lemos nos livros, do que me diziam.
Eu me sentiria perfeitamente bem numa cama, nu com uma mulher nua, acariciando-a,
beijando-a, mas sem chegar ao ato sexual.
414
S. de B. - E a que atribui essa espcie de frigidez? Creio, alis, que um caso muito
mais frequente do que os homens confessam, porque sobre esse assunto eles
so muito discretos, no gostam de falar a respeito, isso os constrangeria. Feita essa
ressalva, creio que cada caso particular tem suas razes. Ser que se liga
tambm ausncia de abandono, a uma espcie de crispao do corpo? Porque h
homens que, quando muito jovens, chegam quase ao desfalecimento no orgasmo, ficam
realmente
arrebatados e perdidos.
J .-P. S. - No, quanto a mim nunca me vi ameaado de perder a conscincia no
orgasmo, nem em nenhuma outra prtica amorosa.
S. de B. - A que atribui isso?
J .-P. S. - Precisamente ao fato de que a parte subjetiva e passiva do orgasmo, no ato de
amor, desaparecia diante da parte objetiva e ativa, que constitui o ato
de copular.
S. de B. - Portanto, a pergunta deve ser mais geral. A que pode atribuir (talvez
remontando infncia, no sei) essa espcie de recusa de toda a passividade do
corpo, de todo o fruir de seu prprio corpo, chegando ao ponto de recusar o prazer
sexual propriamente dito?
J .-P. S. - No sei se se pode chamar a isso de recusa.
S. de B. - No digo que isso ocorra ao nvel mental, somtico, no prprio corpo, mas
por qu? Voc me dir que isso talvez se ligue a coisas que desconhece.
J .-P. S. - Sim, creio que desconheo.
S. de B. - Talvez pudesse estar ligado a problemas de desmame, a problemas realmente
infantis.
J .-P. S. - possvel.
S. de B. Mas, em sua vida consciente de criana, voc no v nada que explique isso?
J .-P. S. - Nada.
S. de B. - No entanto, voc me disse algumas vezes que a recusa do abandono estava
ligada a...
J .-P. S. Ah, sim! Mesmo quando muito pequeno o abandono me era insuportvel.
Havia desde a origem
415
#algo de imediato. O abandono de minha me me era muito desagradvel. Embora fosse
bastante raro nela, coitada!
S. de B. - Voc ampliou essa tendncia na Sra. Darbida, em La chambre.
J .-P. S. - Sim, verdade.
S. de B. - Voc no gostava nada disso.
J .-P. S. - No, de modo algum.
S. de B. - Isso estava ligado a um sentimento da contingncia do corpo?
J .-P. S. - Sim, era a contingncia.
S. de B. - Contingncia da qual s nos podemos libertar atravs da atividade.
J .-P. S. - E finalmente a atividade era para mim o fato de ser humano. O homem, ou a
mulher, um ser ativo. E, conseqentemente, ele se projeta sempre para o futuro,
ao passo que o abandono presente ou se projeta para o passado. E esta contradio
fazia com que eu preferisse a atividade, isto , o futuro ao passado.
S. de B. - Isso no estaria ligado a seu horror ao pegajoso, ou ao viscoso, e, ao contrrio,
a noes muito fortes em voc de desarraigamento?
J .-P. S. - Certamente. O viscoso e o pegajoso so a contingncia, tudo isso que o
subjetivo do instante. E o desarraigamento tende para o futuro. E preciso lembrarse
daquele bote. Em Utrecht, nos Pases Baixos, vi um psiclogo...
S. de B. - Lembro-me. Ele lhe mostrou vrias imagens - uma lancha que andava muito
depressa, um homem que caminhava normalmente, um trem que corria - e perguntou-
lhe
qual era, em sua opinio, a imagem que melhor simbolzava a velocidade. Voc escolheu
a lancha porque ela decolava da gua.
J .-P. S. - A gua representava o contingente. A lancha era dura, construda, slida.
S. de B. - E havia a ideia da decolagem. Creio que, em voc, isso se liga sua recusa de
todos os valores que podemos chamar de valores vitais, que lhe interessam
416
muito pouco. Os valores da Natureza, da fecundidade, tudo isso. Isso lhe interessa muito
pouco.
J .-P. S. - Muito pouco.
S. de B. - Voc jamais gostou dos animais.
J .-P. S. - Sim, um pouco, dos cachorros e dos gatos.
S. de B. - No muito.
J .-P. S. - Os animais, para mim, so um problema filosfico. Essencialmente.
S. de B. - E quando voc lutava boxe com seus alunos?
J .-P. S. - Isso era atividade, o boxe me era perfeitamente agradvel, acessvel, porque eu
tinha visto lutas de boxe e via o boxeador como uma atividade total.
S. de B. - E houve uma poca em que voc fazia ginstica. Enfim, cultura fsica.
J .-P. S. - Fazia-o para emagrecer, no gostava muito. Fazia durante vinte minutos, meia
hora cada manh. Mas no achava agradvel.
S. de B. - Ainda assim, voc se preocupava um pouco com sua silhueta.
J .-P. S. - Sim. Duante toda a minha vida, quase sempre, tentei emagrecer para dar a
impresso de ser um magrinho e no um gordinho. Alis, a gordura era algo que
eu via como abandono, como contingncia.
S. de B. - Mas voc chegava ao ponto de fazer regime para emagrecer?
J .-P. S. - No.
S. de B. No?
J .-P. S. - Vez por outra, quando me diziam: "no deve comer isso", eu passava um
tempo sem com-lo, pois votava a comer, porque tenho gostos muito particulares,
e que contrariam tudo o que acabo de dizer.
S. de B. - Por exemplo?
J .-P. S. Os salsiches, as cervelas*, as salsichas.
S. de B. Todas as charcuterias.
* Salsicha grossa e curta, muito condimentada. (N. do T.)
417
#J .-P. S. - Todas as charcuterias; comi muito isso, durante toda a minha vida.
S. de B. - E isso proveniente de sua origem aisaciana?
J .-P. S. - Pelo menos da que isso se origina, evidentemente; mas isso se explica
assim? outra coisa.
S. de B. - Mas comer era uma atividade que lhe agradava?
J .-P. S. - Ah, sim. Muito Alis, de um modo geral, comi muito. Coisas pesadas, em
geral... em oposio a meu corpo imaginrio de Pardailian, j que eram coisas pesadas
que me engordavam. Isso estava muito longe e at mesmo contra o heri Pardailian, que
s deve comer o mnimo.
S. de B. - E beber? Voc tambm gostava de beber.
J .-P. S. - Gostei muito de beber, mas isso muito complicado; isso no tem relao com
o corpo.
S. de B. - com o corpo?
J .-P. S. - Enfim, se tem relao, no muita. No o interpreto assim. Evidentemente,
no por causa das ideias que bebo, pela beleza das ideias que da resultaro,
mas de toda maneira por um certo tipo de imaginao.
S. de B. - O que est querendo dizer?
J .-P. S. - A subjetividade se torna, de certa maneira, inventiva. Inventa tolices, mas no
momento em que as inventa, essas tolices so agradveis.
S. de B. - preciso deixar claro que voc nunca foi um bebedor solitrio.
J .-P. S. - Nunca.
S. de B. - Voc gostava de beber na companhia de amigos, com outras pessoas...
J .-P. S. - com voc.
S. de B. - Sim, mas, s vezes, voc gostava de beber mais do que eu tolerava. Porque eu
achava que isso o deteriorava. At certo ponto, voc ficava engraado, muito
potico, muito engraado, e era divertido, especialmente nasfiesta, ou logo depois da
guerra, quando isso representava, ao mesmo tempo, uma descarga.
418
j.-p. S. - Sim, era uma descarga. Era desagradvel
durante a Ocupao.
S. de B. - Beber entre amigos, com Camus, por exemplo, era muito divertido. Voc
tambm dizia que havia um prazer no lcool porque este continha uma espcie de
risco.
J .-P. S. - Sim.
S. de B. - Era ligeiramente destrutivo.
j.-p. S. - Mas de pouca durao. Do momento em que se exagerava um pouco,
comeava-se a ser destrudo e o risco era uma realidade.
S. de B. - Sim.
J .-P. S. - Gostava-se muito da destruio enquanto tal, gostava-se muito de ter ideias
confusas que eram vagamente interrogativas e que depois se desagregavam.
S. de B. - Voc nunca se drogou; nunca provou haxixe, nem pio, nada. Fez apenas uma
experincia com mescalina, mas com a finalidade de estudos psicolgicos. Mas
houve tempo em que, quando tinha que fazer um trabalho, que lhe exigia muito, voc
abusava dos excitantes.
j.-p. S. - Abusei muito, durante vinte anos.
S. de B. - Sobretudo no perodo de La raison dtalectique. Utilizou orthdrine e outras
coisas; e corydrane.
J .-P. S. - Sim. S. de B. - E o que significava essa sua ligao com
esses medicamentos muito virulentos?
J .-P. S. - Curioso que eu recusasse essa vinculao quando se tratava de escrever
literatura. Isso estava reservado para a filosofia. por isso que Critique de
Ia raison dialectique no uma obra-prima como planificao,
composio, limpidez.
S. de B. - Por que essa diferena entre as duas
reas?
j.-p. S. - Creio que a maneira pela qual eram escolhidos os termos, pela qual eram
colocados lado a lado, a maneira pela qual era construda uma frase, em suma,
o estilo e tambm a maneira pela qual so analisados os sentimentos num romance, isso
supunha que se estivesse
419
#absolutamente normal. Mas por que considerava eu que era preciso o inverso em
filosofia?
S. de B. - No seria por que a voc pensava mais rpido do que escrevia?
J .-P. S. - Suponho que sim.
S. de B. - E, tambm, no havia urna escolha de termos. Lembro-me de que voc
escrevia a galope. Mas seria isso necessrio, ou havia uma espcie de prazer perverso
em sentir-se ir alm de suas foras? Coisa que alis terminou, em 1958, numa crise
bastante grave.
J .-P. S. - Havia um pouco um prazer perverso. Isso implicava tambm que tudo podia
estourar, mas no se sabia quando. Eu ia longe, tomava no um comprimido de
corydrane
por dia, mas dez de cada vez.
S. de B. - Sei que ficou com a lngua completamente ferida, que houve um momento em
que ficou meio surdo.
J .-P. S. - Consumia um tubo de orthdrine por dia.
S. de B. - Sim, terrvel. Voc tinha uma ideia: a ideia do pleno uso; era preciso que
todos os minutos fossem utilizados, que o corpo fosse at o extremo de suas
foras, inclusive essa parte do corpo que o crebro.
J .-P. S. - Pensava que tinha em minha cabea - mas no separadas, no analisadas, numa
forma que se deveria tornar racional - todas as ideias que colocava no papel.
Tratava-se, simplesmente, de separ-las e de coloc-las no papel, na medida em que
comportavam inmeros compartimentos. Ao passo que, na cabea, constituam um todo
sem anlise. Ento, escrever, em filosofia, consistia, em suma, em analisar minhas
ideias, e um tubo de corydrane significava: tais ideias sero analisadas nos dois
prximos dias.
S. de B. - Voc teve algumas doenas durante sua vida?
J .-P. S. - Sim, meu olho, na infncia. Uma mastoidite, muito mais tarde. Em 1945, tive
caxumba.
S. de B. - Algumas vezes teve gripes muito fortes;
uma ocasio, uma gripe com distrbios intestinais man-
420
teve-o de cama durante um ms. Tinha dores de dentes muito, muito intensas. Gostaria
que falasse de sua relao com a doena, com a fadiga e com a dor. Voc era
bastante singular em relao a tudo isso. H pessoas que se amimam, outras que no se
amimam; h pessoas atentas ao menor sinal, outras que, ao contrrio, no se
preocupam. H tambm as que, queixando-se, suportam a doena.
J .-P. S. - No sei. S voc pode dizer como eu era nesse terreno...
S. de B. - A primeira coisa que me espantou foi sua quase-negao da dor. Quando voc
teve clicas renais em Rouen, ainda jovem, aos vinte e cinco, vinte e seis
anos, deixou os mdicos perplexos ao dizer-lhes que no tinha realmente sofrido dores.
E, na verdade, sofrera a ponto de vomitar. Mas voc achava que o sofrimento
sempre a ausncia de sofrimento, que h sempre uma espcie de mago, e que isso
nunca se realiza plenamente.
J .-P. S. - Sim.
S. de B. - Ento voc aceitava o sofrimento com uma espcie de estoicismo. E at com
certa surpresa por no ser ele algo de mais forte.
J .-P. S. - Sim, mas sempre tive apenas dores medianas.
S. de B. - Voc teve dores de dentes terrveis. Lembro-me de uma vez em que Cau,
ento seu secretrio, telefonou-me, dizendo: "Ele vai gritar, ele vai gritar." Porque
voc estava sentado diante de sua mesa e sofria de uma maneira abominvel.
J .-P. S. - Sim.
S. de B. - Lembro-me, tambm, que voc teve uma dor de dentes terrvel, na Itlia, dor
que voc tentaa controlar atravs da ioga. Voc dizia: basta isol-la; a dor
est presente, mas s existe a dor e isso no se espalha pelo resto do corpo.
J .-P. S. - De fato, eu pensava que era possvel quase suprimir a dor, assimilando-a
subjetividade. No fundo, a relao subjetiva de mim para comigo mesmo no devia
ser muito agradvel, j que eu considerava que se
421
#podia suprimir da dor seu carter de dor, assimilando-a subjetividade pura.
S. de B. - O que voc est querendo dizer que a sua presena corporal no lhe deve ser
agradvel, de vez que exatamente voc a assimilava dor. E quando doente
voc era resignado, ou impaciente ou se sentia satisfeito, no fundo, por relaxar um
pouco, j que estava cansado e ficava de cama? Ou, ao contrrio, sentia-se irritado
por ser obrigado a ficar de cama?
J .-P. S. - Havia de tudo. Isso dependia do perodo da doena.
S. de B. - Experimentou alguma vez uma espcie de prazer por estar doente?
J .-P. S. - Sim, certamente. Depois de trabalhar muito isso representava um repouso. J
no trabalhava quando estava doente e no podia sentir-me pura atividade,
sentia-me, ao contrrio... pura contingncia.
S. de B. - Ento, a doena lhe dava um libi, uma justificao.
J .-P. S. - Sim. Uma justificao. Dava-me uma razo para j no ser eu mesmo. Aquilo
me viera de fora e me transformara numa viscosidade contingente que me agradava.
E s conservava atividade na medida em que, com muita frequncia, at o momento
realmente agudo da doena, tentava escrever um pouco, ou pensar coisas que retinha
para escrever depois. Que, alis, eram sempre muito ruins.
S. de B. - Lembro-me, quando teve caxumba, que tentou manter um vago dirio. E
mesmo assim havia momentos em que o abandonava inteiramente.
J .-P. S. - Sim.
S. de B. - Em suma, a doena era o nico caso em que voc consentia numa espcie de
abandono... Voc nunca teve atitudes de confronto em sua existncia. Por exemplo,
voc nunca lia na cama. uma coisa que eu adoro fazer, noite, ao deitar-me, ou pela
manh. Ou, pelo menos, ainda que no me deite na cama, estendome de born grado
num div, para ler.
J .-P. S. - Nunca; sento-me minha mesa.
422
S. de B. - Nem sequer se senta numa poltrona quando l.
J .-P. S. - Em geral, no.
S. de B. - Agora voc est sentado numa poltrona para falar comigo. Mas, quando l,
fica numa cadeira dura, de espaldar bem reto.
J .-P. S. - Sim. Considerava um pouco como uma espcie de negligncia ficar sentado
numa poltrona. No Bulevar Raspail 222, nunca ficava numa poltrona. Havia cadeiras
e poltronas que eu no utilizava, que eram para as visitas.
S. de B. - Voc faz disso quase que uma atitude moral. Gostaria que explicasse um
pouco melhor como se formou a imagem de seu corpo e em que medida ela se superps
percepo que voc tinha dele.
J .-P. S. - A origem da imagem? H um fato preciso: que, por volta de sete, oito anos,
eu bufoneava enquanto minha me tocava piano e, nessa poca, eu imitava um
cavaleiro imaginrio lutando contra sonhos imaginrios; este personagem imaginrio
era, ao mesmo tempo, eu, isto , eu representava um papel, mas este papel me era
reservado. Este personagem deve ser a origem de minha representao de mim mesmo,
de meu corpo imaginrio; e se retrocedo um pouco mais, exatamente no tempo em que
comeava a ler: devaneava em minha cama e, antes de dormir, imaginava um
personagem que salvava meninas de casas em chamas; era um adulto; sempre tive um
corpo imaginrio
de adulto, muito forte, j que ele entrava em casas em chamas e salvava mocinhas,
carregando-as em suas costas. Portanto, desde o incio, mesmo antes de saber ler,
mas atravs de histas que me contavam, eu assumia o papel do heri forte, cujo
objetivo salvar uma jovem, ou uma criana, um personagem superior aos outros,
voltado
para os pequeos, para os fracos. De onde me veio isso? No sei, creio ue muitas pessoas
tm esse tipo de devaneio quando jovens. Mas que isso tenha durado toda a
minha vida o que mais...
423
#~',
S. de B. - Por que isso durou toda a sua vida? Desde que se tornou adolescente, voc
perdeu esse tipo de devaneio romanesco! O que restou do corpo imaginrio? E,
depois, quando j adulto?
J .-P. S. - Bem, em primeiro lugar, conservei uma certa paixo plos exerccios fsicos; a
partir do momento em que fui para a Escola, percorremos as salas de ginstica
para praticar boxe. Lembro-me ainda de uma sala de ginstica paga, com aulas de boxe;
fomos v-la muitas vezes, perguntvamos os preos, mas era sempre muito caro
para ns.
S. de B. - Mas em que sentido o desejo de praticar boxe se liga a um corpo imaginrio?
J .-P. S. - Pensava que recuperaria assim uma fora imaginria que eu no tinha, que
perdera; desenvolveria esta fora tornando-me um boxeador amador, seria um retorno
ao meu verdadeiro corpo, que era o meu corpo imaginrio; finalmente realizei isso um
pouco mais tarde, quando era professor do Havre e lutava boxe com alunos; era
evidentemente um pouco imaginrio, eu no era um verdadeiro boxeador; durante a luta
havia um trabalho real onde o imaginrio j no representava um papel; mas antes,
quando pulava corda, e depois, quando Bonnaf me fazia observao sobre nossa forma
de lutar, eu me tornava novamente o personagem imaginrio.
S. de B. - E na verdade, voc ganhava muitas vezes ou no?
J .-P. S. - Nunca havia realmente vencedor nem vencido, fazamos dois rounds de boxe e
depois parvamos, eram sobretudo embates sem resultados. Lutvamos sem muita
preocupao com pesos ou alturas; lembro-me de haver lutado contra Bost que tinha
l,75m, e eu l,60m. Ele era peso 'mdio' ou talvez 'leve', eu era peso 'pluma'.
S. de B. - E em sua vida, fora do boxe, voc se sentia mais forte que os outros: quero
dizer aos trinta, quarenta anos?
J .-P. S. - Sensatamente, considerava-me o que de fato era; mas a imagem de algum que
podia lutar contra
424
aualquer um e ganhar, uma imagem que me rondava com frequncia.
S. de B. - E at quando a conservou?
J .-P. S. - No sei, mas lembro-me de haver recorrido a ela duas vezes. Uma primeira vez
foi no liceu de Laon por volta de 1937-1938: estava na sala dos professores;
um professor mais ou menos de minha idade achou-se com direito de fazer-me
observaes porque eu no ia s reunies do quadro de honra e no sei como me vi
batendo
nele. Ns nos atracamos durante bem uns quinze minutos, girando em torno da sala, at
que chegou um terceiro professor: a paramos.
S. de B. - Esse foi o primeiro caso, qual foi o outro?
J .-P. S. - Foi quando eu estava preso; havia boxeadores, treinadores profissionais, e eles
organizavam lutas de boxe aos domingos como distrao. Organizaram uma
luta mais privada entre um jovem tipgrafo, muito amvel, e eu. Houve dois rounds: no
primeiro, dominei claramente, no segundo, fiquei tomado de cansao, porque
havia anos que no praticava boxe, e fui dominado. O resultado foi empate, o que era
decepcionante para num, j que Pardailian no empata.
S. de B. - Isso foi por volta de 1941. Quanto tempo durou essa imagem de Pardailian?
J .-P. S. - Ela se transferiu, pouco a pouco, para a literatura; meus heris sempre foram
de estatura alta:
Mathieu e, em primeiro lugar, Roquetin. Roquetin luta contra um corso no fim e o
domina; naturalmente, no eram Pardailians, eram pessoas fisicamente normais, mas
de toda maneira eram altos enquanto eu sou baixo; eles mp representavam; eles eram eu
prprio e entrementes eu era alto e forte. Saber se isso se harmonizava psicologicamente
era algo que no me preocupava.
S. de B. - Isso era literatura; mas, em sua vida, quando desapareceu a imagem? Teria
podido durar at os oitenta anos? Atualmente, voc j no se sente de estatura
alta?
425
#J .-P. S. - No, mas tambm no me sinto baixo. Poder-se-ia dizer que o que ficou foi
uma igualdade de tamanho. No sou um homenzinho baixo entre mdios ou altos,
sou o equivalente dos outros. Por exemplo, nas reunies de Temps Modernes no tenho
a impresso de estar entre pessoas de tamanho mdio ou alto, sendo eu baixo.
Tenho a impresso de que somos todos iguais. Pouillon no maior que eu. Vejo-o
como igual, de tamanho.
S. de B. - E sua idade entra em sua imagem? Entrou anteriormente e entra agora?
J .-P. S. - Sim, quando eu era jovem; sabia que era jovem, lembro-me de que, no servio
militar, estava no posto de sentinela e tomava conta de uma guarita, e, uma
noite, no sei por que, tive a impresso muito forte de ser jovem, de ter vinte e trs anos
(fazia meu servio militar muito tarde, porque houvera prorrogaes).
Sei que tive uma sensao de alegria, de prazer, sentindo minha juventude. Hoje,
evidentemente, diferente, mas no me sinto velho, no me sinto mais velho do que
com aquela idade. H uma coisa que sempre pensei, sobre a qual escrevi um pouco em
La nause, que a ideia de que no temos experincia, que no envelhecemos:
um dos mitos do fim do sculo XIX e do empirismo o da lenta adio de
acontecimentos, de experincias que pouco a pouco criam um carter. No creio que
isso exista;
no h atrs de mim uma vida, uma experincia, que eu poderia transformar em
sentenas, em frmulas, em maneiras de ser. Portanto, como no creio ter experincia,
na medida em que meu corpo vai bem, sou, quase aos setenta, o mesmo que era aos
trinta anos.
S. de B. - Mas, de toda maneira, seu corpo no vai to bem quanto aos trinta anos?
J .-P. S. - No vai to bem.
S. de B. - Por exemplo, voc tem um pouco de diculdade para caminhar.
J .-P. S. - Sim, e um pouco de dificuldade de enxergar.
S. de B. - Voc obrigado a tomar remdios.
426
J .-P. S. - Sim, mas adaptei-me rapidamente. Po exemplo, j quase no enxergo e isso
no me inibe, consigo desembaraar-me; j no vejo bem seu rosto e at mesmo
j no o vejo por completo agora: isso no me deprime; eu o vejo de outra maneira, em
outras circunstncias; mais ou menos sei orientar-me; a grosso modo, vejo o
que representam os objetos, a que distncia esto de mim, isso basta para que me
oriente. No me sinto mal como estou agora e no me di tanto saber que meu estado
anormal.
S. de B. - Observe que isso poderia acontecer com qualquer pessoa jovem. Penso que
um trao de carter de algumas pessoas que so corajosas e otimistas, que recebem
a vida como esta lhes dada; assim como no se sente baixo em relao a Pouillon,
tambm no se sente velho?
J .-P. S. - Palavra que no; sinto-me exaiamente no mesmo nvel que eles: sabem
algumas coisas que no sei, mas eu sei outras que eles no sabem. Claro que considero
que j no tenho trinta anos, e, mais ou menos, estou estabelecido nos cinquenta anos.
Em outras palavras, aquele que desce as escadas de sua casa, que caminha pela
rua, que v e cumprimenta as pessoas, um homem de cinquenta anos. Na verdade,
rejuveneso-me vinte anos.
S. de B. - Outro dia, quando o mdico lhe disse que era jovem, voc me disse que isso
lhe deu prazer.
J .-P. S. - Sim, sempre sinto prazer quando me dizem isso; alis, no mo dizem com
frequncia, mas no caso ele ficou claramente surpreso com meu comportaento. Foi
sobretudo sua surpresa que me agradou, mas ainda do que a frase que depois ele disse.
H tambm urna coisa que me d prazer: o fato de no ter os cabelos brancos.
No que eu tenha uma cor de cabelos muito definida...
S. de B. - Suas costeletas so brancas e, quando se arbeia mal, o plo da barba branco.
Mas, j que nsvel a isso, deveria ser mais cuidadoso, escanhoar me-
427
#lhor o rosto, suprimir assim o que lhe envelhece; seus cabelos, de fato, so grisalhos,
no so brancos.
J .-P. S. - E curioso; de acordo com o que acabo de dizer, realmente deveria cuidar mais
de meu corpo, por exemplo, barbear-me mais adequadamente, e no o fao.
O personagem imaginrio tem necessidade de um suporte real, e este deveria ser o mais
jovem possvel. H a uma contradio.
S. de B. - Sim, o personagem imaginrio , sem dvida, esguio e gil, ao passo que o
personagem real tem um pouco de barriga. Ora, voc no se esfora muito para
emagrecer.
J .-P. S. - No. Tento de quando em quando, durante quatro, cinco meses...
S. de B. - Concordo, voc se esfora um mnimo. Voc no muito gordo, mas, de toda
maneira, se tivesse a vaidade que corresponde a sua imaginao, evidentemente
estaria mais magro.
J .-P. S. - Certamente.
S. de B. - O imaginrio ainda lhe basta e desvia seu interesse do corpo real?
J .-P. S. - Sim; creio que mesmo agora, de quando em quando, ainda h imaginrio; j
no Pardailian, mas algo que permanece no imaginrio: uma personalidade fsica
atraente. preciso partir da ideia de que no vemos nosso corpo, vemos muito pouco
dele: as mos, os ps, no o rosto; alis, meu personagem imaginrio tambm no
tinha trs dimenses; tinha mos e olhos, mais nada. Obviamente, as pernas eram muito
maiores que as minhas, as mos eram muito mais fortes, mas eram de fato suas
mos que eu via e que, de alguma maneira, eu transfigurava. Atualmente, tudo isso j
no existe. No penso nem que sou forte, nem que sou alto.
S. de B. - Outro dia, voc disse que sua relao com seu corpo real tinha sido ruim. Em
que medida a relao com o corpo imaginrio amenizava essa dificuldade?
Ou em que medida isso ficou completamente afastado?
428
J .-P. S. - Permanecia afastado. Permanecia o lado fsico que fazia com que sensaes
cenestsicas fossem desagradveis para mim, mas preciso entender: era a matria
de meu corpo, mas ultrapassada por algo que correspondia a minha imagem; no era
minha imagem, mas correspondia a esta. Sentia-me sobretudo ativo, coisa que explica,
em especial, minhas relaes sexuais com as mulheres; eu era ativo e era esta atividade
que me levava at o ato sexual propriamente dito; ele s me inspirava um
desejo moderado, mas era a atividade que deve existir num casal; creio que esta foi uma
das razes que obliterou um pouco meu sentido de igualdade para com a mulher.
Quando, na verdade, penso que homens e mulheres somos iguais. Mas a posio fsica
da cpula e a atividade que nela eu desenvolvia, que certamente no necessria,
que correspondia minha prpria sensibilidade, uma sensibilidade um pouco desviada,
era a atividade masculina.
S. de B. - Por que desviada?
J .-P. S. - Porque no creio que a perfeita sensao fsica no momento do ato amoroso
deva ser a da atividade. Deve ser algo mais complexo; atividade e tambm
sensibilidade;
deve haver passividade e atividade em cada um dos dois. Devo ser passivo no momento
em que a outra pessoa me acaricia, devo ser ativo na medida em que a acaricio.
S. de B. - Sim, inteiramente de acordo; ao passo que em voc, s se desenvolvia o lado
ativo. Coisa que o levava ao controle de si mesmo, mas tambm a uma certa
frieza.
J .-P. S. - uase que a uma pontinha de sadismo. Porque, afnal, a pessoa recebia e eu no.
Eu no? Recebia, mas o que era dado no era nada para mim, naquele momento,
j que eu era atividade.
S. de B. - Voc quer dizer que na medida em que atividade pura e a outra pessoa pura
passividade isso tem algo de quase sdico?
J .-P. S. - Sim. Porque tambm a atividade oposta passividade que representa o
sadismo.
429
#S. de B. - Porque a outra pessoa fica reduzida ao estado de objeto, quando a
normalidade seria ua verdadeira reciprocidade.
J .-P. S. - Exatamente.
S. de B. - Pode expiciar o porqu dessa recusa da passividade? Essa recusa vivida em
seu corpo?
J .-P. S. - Na medida em que penso, que trabalho com minha caneta, que escrevo, no
recusei realmente a passividade. Fui influenciado por pessoas, pensei que eles
compreendiam o que eu no compreendia: h um elemento de passividade em meu
trabalho.
S. de B. - Sim, mas falo em relao ao corpo. Ser que voc foi muito mimado, afagado,
beijado, pela me, pelo av, e se enrijeceu contra isso?
J .-P. S. - possvel, j apontei isso em Ls mots. Sim, houve algo assim. Eu no me
sentia a criana querida e graciosa: esta absolutamente no correspondia ao
que eu desejava ser. Os adultos no eram graciosos. Afora meu av que era um homem
atraente. O Sr. Simoneau, por exemplo, ou algum outro, era realmente muito
desagradvel.
Imaginava que no futuro seria um pouco como eles. Ento, havia um homem muito
desagradvel que era eu e tambm uma adorvel criana que era igualmente eu, mas um
eu do qual me orgulhava menos, gostava menos.
S. de B. - A atividade no foi uma reao contra uma desvantagem: a feira?
J .-P. S. - No creio, porque s percebi verdadeiramente minha feira aos doze anos,
com o episdio da menina que me disse: "bobalho com seu chapelo". Isso me
deu conhecimento de minha feira. Antes, no.
S. de B. - Mas antes voc j tinha essa atitude puramente ativa? Ser que voc no se
abandonava mais?
J .-P. S. - Como todas as crianas, abandonava-me s carcias de minha me, mas j era
ativo: lembro-me de que eu brincava com fantoches para atrair as meninas;
era uma atividade imaginria, mas ainda assim atividade.
430
S. de B. - Sim, mas todas as crianas so mais ou menos ativas; podemos ser ativos sem
rejeitar completamente nossa passividade.
J .-P. S. - Sobre isso sou incapaz de responder-lhe:
algo distante, velho.
S. de B. - Os anos em La Rochelle, a aprendizagem da violncia, o novo casamento de
sua me, tudo isso no teria levado voc a uma atividade extrema? Ser que em
determinado momento voc no foi privado de carcias? H vrias hipteses: as carcias
o desagradavam porque eram excessivas e o reduziam a ser um objeto adorvel?
Ou ter havido, por volta dos doze anos, uma espcie de supresso brutal? As efuses
devem ter diminudo muito.
J .-P. S. - Havia efuses mas havia tambm uma vontade de bater-me, porque eu no
estudava satisfatoriamente.
S. de B. - Isso lhe deu uma grande resistncia em relao dor, j que a dor parecia-lhe
quase que a cenestesia normal, e uma recusa do abandono, que surpreende
todas as pessoas que o vem: voc trabalha sentado em cadeiras muito duras etc.
Sempre foi assim?
J .-P. S. - Sim. Sempre considerei que a atividade supunha a ausncia de abandono. E a
ausncia de abandono a ausncia da cenestesia, mas tambm, em certa medida,
a ausncia do imaginrio; de certa forma, o heri imaginrio justifica o abandono,
porque o recusa totalmente no imaginrio; ento, possvel abandonar-se na realidade;
mas, ao mesmo tempo, como eu inventara este heri, pensava que era preciso recusar-
lhe que cedesse ao abandono e eu fazia como ele.
S. do B. - Voc tem uma caracterstica que chaTIOU a ateno de muita gente a
comear por mim: em sua atitude, em seus gestos, sempre houve algo de muito vivo,
muito
rpido, muito empreendedor; at em sua maneira de caminhar, por exemplo, e de mover
um pouco os ombros e os braos ao caminhar. Por volta dos cinquenta, cinquenta
e cinco anos, isso at se tornou nervosismo: por exemplo, uma vez Sylvie nos
reconheceu quando estva-
431
#ms num restaurante em Roma; ela estava num hotel em frente, janela; no nos via,
mas via uns ps que se agitavam de tal maneira, que disse a si mesma: aquele
Sartre. Seus ps eram muito nervosos. Assim como havia tal agitao em seus
cotovelos que voc gastava os braos de minhas poltronas, porque seus cotovelos se
mexiam o tempo todo. Isso quando tinha cinquenta, cinquenta e cinco anos.
J .-P. S. - Efetivamente, estive um pouco nervoso durante uns dez anos; isso passou.
S. de B. - Creio que se devia a um excesso de corydrane.
J .-P. S. - Creio que sim.
S. de B. - Passou agora, porque j no toma caf nem corydrane; voc abusava de
excitantes... o que alis provocou uma crise.
J .-P. S. - Observe que a confiana no corydrane era um pouco a busca do imaginrio; o
estado em que ficava, tendo tomado dez corydranes pela manh, enquanto trabalhava,
era o abandono completo de meu corpo; eu me captava atravs dos movimentos de
minha caneta, minhas imaginaes e minhas ideias que me formavam; era esse ser ativo
que era Pardailian, negligenciando...
S. de B. - O corpo real que assim se deteriorava e contra o qual voc sempre teve uma
atitude quase agressiva. Voc no pensava realmente que se estava destruindo,
mas, na verdade, vrias vezes se danificou bastante;
como tem uma estrutura excelente, recuperou-se extraordinariamente, mas vrias vezes
se danificou. Para um observador externo houve poca em que seu corpo era
perfeitamente
equilibrado, rpido e eficaz; voc era desajeitado, isso outra coisa, mas, enfim, era um
prazer vlo caminhar pela rua, por exemplo: era rpido, afirmativo, alegre.
Enquanto que internamente voc no se sentia bem dentro dele, seu corpo dava uma
impresso de alegria.
J .-P. S. - Porque ele era ativo.
432
S. de B. - Porque voc sempre foi muito alegre. Sempre teve um humor muito alegre.
Isso se via em seus gestos, em sua atitude. Voc era vivo, era alegre. Houve tempo
em que voc no estava bem, extremamente nervoso, a ponto, por exemplo, de gastar o
tapete de meu estdio: tive que colocar um remendo no tapete, de to gasto que
estava pelo atrito de seus ps, e forrar as poltronas por causa das cotoveladas que voc
dava nelas.
J .-P. S. - Sim, meus movimentos eram extremamente nervosos. Mas no esquea que o
corydrane me dava a impresso de uma total adeso de mim a mim mesmo. A
cenestesia
quase desaparecia e havia as ideias que formava em minha cabea e no prprio
momento em que escrevia e havia o escrever, tudo isso ao mesmo tempo.
S. de B. - Sim, mas no me refiro unicamente ao corydrane, falo do quadro total;
mesmo nos dias em que voc no tomava corydrane, j estava criado um estado que
no era mais o equilbrio de seus quarenta, cinquenta anos. Esse estado de grande
nervosismo ocorreu entre os cinquenta e cinco, sessenta e cinco anos, depois mudou,
j que lhe deram remdios para baixar sua presso, sedativos; voc agora tem um corpo
muito mais calmo. H algo de que no falamos, o sono. Qual a sua relao
com o sono?
J .-P. S. - perfeita. At os trinta anos dormia sem necessidade de remdio algum, e ao
encostar a cabea no travesseiro, dormia at a manh do dia seguinte.
S. de B. - No entanto, quando o conheci tinha manias?
J .-P. S. - Sim, colocava vendas nos olhos e protetoPS nos ouvidos. Mas era um sono
muito bom; no perodo aps a guerra tomei comprimidos para dormir; alis, esses
comprimidos eram necessrios para contrabalanar os excitantes que ingeria, para
escrever, a partir das oito, nove horas da manh. Durante muito tempo usei Belladenal,
quatro ou cinco comprimidos noite, quando tive uma presso muito alta.
433
#S. de B. - Em 1958, teve uma alta de presso que
o levou beira de um ataque; mas no o teve.
j .p s. - Exatamente. Nessa ocasio deram-me comprimidos para dormir; claro est que
j no tomava corydrane, mas tomava comprimidos para dormir. Foram vrios, mas
retornava com frequncia ao Belladenal. Ainda tomo sonferos, mas muito menos do
que antes. Do produto que uso agora, o Mogadon, s tomo um comprimido, ao passo
que antes tomava quatro ou cinco comprimidos.
S. de B. - E at nem sei se atualmente isso no
passa de um simples hbito.
y .p _ Mas se no tomo nada, no me sinto to
bem. .. ,
S de B. - Porque imagina que no dormiria em.
Isso psquico. Creio que voc dormiria igualmente bem;
enfim, pouco importa. Portanto, voc tem um sono muito
bom, sem complicaes.
J .-P. S. - A partir do momento em que tomo um comprimido, durmo meia-noite e
meia e acordo s oito ou nove horas da manh. Em suma, no tenho nenhuma
dificuldade com o sono.
S. de B. - E sonha s vezes.
J .-P. S. - No. Antigamente, sim; mesmo agora, h todo um burburinho em minha
cabea, quando acordo, mas que no tem nem forma nem nome. Desde a idade de trinta
anos, mais ou menos, perdi completamen-
te a lembrana de meus sonhos.
S. de B. - Creio, de fato, que em toda a nossa vida, voc nunca me contou um sonho.
Voc sonhava, como todo mundo, mas penso que perde seus sonhos ao despertar e
tem a impresso de no haver sonhado.
j .p _ Ainda me lembro dos sonhos, dos pesadelos que tive alguns dias depois que meus
pais levaram para um hospital psiquitrico uma empregada deles que se imaginava
caindo em buracos; na rua, ela via buracos sua frente, bruscamente, e caa dentro
deles, chorava, tinha crises, e meus pais a haviam levado a um mdico que dera
autorizao para que a mandassem para um
434
hospital psiquitrico. Eu fui internamente contra essa soluo, mas tratava-se de meus
pais e eu nada podia fazer, a no ser dar-lhes minha opinio; mas conservei
uma espcie de perturbao no fundo de mim mesmo e lembro-me que noite sonhava;
ainda vejo mais ou menos os sonhos que tinha.
S. de B. - Foi em que poca?
J .-P. S. - Em Paris, antes da guerra, quando morava com meus pais.
S. de B. - Ento, uma lembrana muito antiga. Ainda se lembra de alguns outros
sonhos?
J .-P. S. - No, mas sei que sonhava bastante. S. de B. - No lhe interessou evoc-los? J .-
P. S. - Eu o z. Escrevi sobre os sonhos, na poca em que os tinha, em L'imaginaire.
Enfim, de toda a maneira, o sono algo que no existe. Ou que existe como algo sem
histrias. Sei, quando a deixo noite, e subo a escada para ir deitar-me, que
no estou indo para um campo de batalha, estou indo para um aniquilamento total...
Minhas funes digestivas so tambm muito boas.
S. de B. - Sim, voc nunca sentiu enjoo. J .-P. S. - Nunca, e viajei muito de navio. S. de
B. - Voc nunca ficou indisposto, mesmo quando embriagado; isso atacava
mais a cabea ou o aparelho motor, mas nunca o fgado ou o aparelho digestivo.
J .-P. S. - Uma vez, vomitei; na vspera de uma distribuio de prmios. Tinha ido jantar
na praia com alguns alunos e depois terminara a noite num bordel, onde
alis nada se consumou.
S. de B. - Uma outra vez vomitou tambm, foi no J apo, quando voc comeu peixe cru;
na hora, voc suportou muito bem a coisa, mas quando chegou a seu quarto, sentiu-se
mal. No era uma perturbao de estmago, era uma coisa psquica.
J .-P. S. - No compreendi o que me estava acontecendo.
435
#S. de B. - Ser preciso tornar a falar do lado psicossomtico de sua pessoa. Porque, de
um modo geral, voc muito senhor de si mesmo, muito organizado, muito
cerebral, muito consciente; mas h casos em que seu corpo reage quase sem que voc o
saiba, como, por exemplo, no que acabamos de mencionar. Voc foi muito corts
durante todo o jantar, comeu com um sorriso pratos que me repugnavam, recolhemo-
nos, voc pensou que estava com febre, foi vomitar, e ento compreendeu que se
tratava simplesmente de uma nusea, mas um nusea que era uma reao
psicossomtica ao esforo que fizera sobre si mesmo durante todo o banquete.
S. de B. - Vamos falar de um tema sobre o qual falamos muito pouco e que sua
relao com a comida. Tem algo a dizer a respeito?
J .-P. S. - Essencialmente que s gosto de comer bem poucas coisas. Fao restries a
certos alimentos, como, por exemplo, o tomate. Praticamente no o comi em toda
a minha vida. No que ache o tomate to ruim assim e que seu gosto me repugne tanto.
Mas no me agrada muito, ento tomei a deciso de no com-lo e de um modo geral
ela foi respeitada pelas pessoas que me rodearam.
S. de B. - Sabe a origem de tal desagrado?
J .-P, S. - Deveria sab-lo porque penso que todo alimento um smbolo. Por um lado
um alimento, e, nesse sentido, no simblico; alimenta, comestvel. Mas
seu gosto e seu aspecto exterior provocam imagens e simbolizam um objeto. Um objeto
varivel segundo o alimento, mas que simbolizado pelo prprio alimento. Em
L'tre et l nant tentei analisar alguns gostos, pelo menos alguns aspectos simblicos
das coisas.
S. de B. - Afora o tomate, quais so as suas maiores repugnncias?
J .-P. S. - Os crustceos, as ostras, os frutos-domar.
S. de B. - O que o repugna tanto nos frutos-domar e nos crustceos?
436
J .-P. S. - Creio - pelo menos no que se refere aos crustceos - que sua semelhana e sua
relao com os insetos, os que vivem no ar e no na gua, mas que tm esse
grau de vida e essa conscincia problemtica que me incomodam e que tm sobretudo
uma aparncia em nossa vida quotidiana de serem completamente ausentes de nosso
universo - quase completamente ausentes - que os coloca parte. Ao comer um
crustceo, como coisas de um outro mundo. Essa 'carne' branca no feita para ns,
roubamo-la a um outro universo.
S. de B. - (uando voc come vegetais tambm os rouba a um outro universo...
J .-P. S. - No gosto muito de vegetais. S. de B. - H uma grande diferena: nos vegetais
no h conscincia. Parece que o que h de desagradvel no inseto que
ele pertence a um outro universo e ao mesmo tempo tem uma conscincia.
J .-P. S. - Segundo toda plausibilidade o vegetal no a tem. O cozimento de um vegetal
a transformao de um determinado objeto sem conscincia em outro objeto
igualmente sem conscincia. E uma tomada de coisa pelo mundo humano. Um vegetal
deixa de ser um vegetal para tornar-se um pur ou uma salada cozida se cozido.
O cru afasta-o de ns.
S. de B. - Mas os frutos-do-mar no tm esse lado inseto que tm os crustceos. Ento,
por que no lhe agradam?
J .-P. S. - E alimento escondido num objeto e que tem que ser extirpado. sobretudo
essa noo de extirpar que me incomoda. O fato de que a 'carne' do anima esteja
de tal modo calafetada pela concha, que preciso utilizar instrumentos para retir-la ao
invs de separ-las inteiraente. portanto algo que se liga ao mineral.
realente um dom do mineral, sendo a concha o mineral e o
om essa pouca 'carne' que h dentro dela.
S de B. - No h, na prpria qualidade dessa arne' algo que lhes desagrada? Isso no
estar ligado a
do o que pensa sobre o pegajoso, o viscoso e essa forma
lementar de vida que faz com que sinta repugnncia?
437
#J .-P. S. - Certamente. A origem da qualidade material desagradvel do fruto-do-mar
certamente essa. uma forma quase vegetativa de existncia. o orgnico em
vias de nascer, ou que s tem de orgnico esse lado um pouco repugnante de 'carne'
linftica, cor estranha, de buraco aberto na 'carne'. Tudo isso nos dado no
fruto-do-mar.
S. de B. - Tem outras repugnncias?
J .-P. S. - H uma que no entendo, j a mencionei, pelo tomate. Alis, trata-se mais de
uma proibio de com-lo que me fiz, do que de uma verdadeira averso. Cada
vez que o como, por acaso ou por educao, no sinto tanta averso. No gosto dessa
pequena acidez que ele d comida.
S. de B. - Entre as coisas que no lhe inspiram repugnncia h algumas que
praticamente no come
nunca?
J .-P. S. - Frutas. Porque se sinto desejo de comer algo doce, prefiro comer qualquer
coisa que seja feita pelo homem, um doce, uma torta. Aqui, o aspecto, o conjunto,
o prprio gosto foi desejado e repensado pelo homem. Ao passo que a fruta tem um
gosto casual; est numa rvore, est no solo em meio relva. No para mim, no
vem de mim. Fui eu que decidi fazer dela um alimento. Um doce, ao contrrio, tem uma
forma regular, como por exemplo um clair de chocolate ou de caf;
feito por pasteleiros, em fornos etc. , portanto, um objeto inteiramente humano.
S. de B. - Em outras palavras, as frutas so excessivamente naturais.
J .-P. S. - Sim, preciso que o alimento seja produto de um trabalho feito pelo homem.
O po assim. Sempre achei que o po era uma relao com os homens.
S. de B. - Gosta de carne?
J .-P. S. - No. Comi-a durante muito tempo, como menos agora, no a aprecio muito.
Houve um tempo em que gostava de um born pedao de assado, um chateaubriand, o
gigot, depois deixei um pouco isso, porque me dava muito a impresso de estar
comendo o animal.
438
S. de B. - Ento, de que gosta?
J .-P. S. - De algumas coisas entre as carnes e os legumes, dos ovos. Gostei muito da
charcutaria, mas agora j no me agrada tanto. Parecia-me que o homem utilizava
a carne para fazer coisas totalmente novas, por exemplo, uma andouillette*, ou uma
andouille**, um salsicho. Tudo isso s existia por causa do homem. O sangue tinha
sido retirado de uma certa maneira, tinha sido depois disposto de uma certa forma, o
cozimento era feito de uma maneira bem definida, inventada plos homens. Haviam
dado a esse salsicho uma forma que, para mim, era tentadora, terminada com pedaos
de barbante.
S. de B. - Em outras palavras, voc gostava de charcutaria, porque nela a carne est
menos presente de uma maneira imediata do que na carne de boi*** e similares?
J .-P. S. - Para mim, aquilo j no era carne. A carne de boi, mesmo cozida, ainda
carne. Tem a mesma consistncia, h o sangue que escorre, tem a mesma quantidade
muito grande em relao ao que dela se pode comer. Um salsicho, uma andouille, no
so assim. O salsicho, com seus pontinhos brancos e sua carne rosada, redondo,
outra coisa.
S. de B. - Em suma, voc se situa deliberadamente a favor do cozido contra o cru?
J .-P. S. - Totalmente. claro que posso comer amndoas ou nozes, embora me
machuquem um pouco a lngua. Abacaxi, porque o abacaxi se assemelha a algo cozido.
Conhecia
o abacaxi em conserva, e quando o comi cru pela primeira vez, isto , na Amrica do
Sul, tive a impresso de estar vendo um grande objeto cozido.
S. de B. - Tem alguma coisa a acrescentar a respeito de alimentos?
J .-P. S. - No, nada de importante.
* Chourio ou linguia pequenos (N. do T.)
** Chourio ou linguia feitos com cae de porco ou vitela.
*** No texto, viande rouge, que como se designa em francs a carne de boi, avalo,
carneiro, distinguindo-se da viande blanche, de aves, porco.
439
#S. de B. - O que tem a dizer-me sobre sua relao
com o dinheiro?
J .-P. S. - Creio que o fato essencial - mencionei-o em Ls mots mas preciso voltar ao
assunto - que vivi em casas dos outros at muito tarde em minha juventude;
sempre vivi com dinheiro que me davam, mas que no me pertencia. O dinheiro que
meu av nos dava, o dinheiro com que nos sustentava a mim e a minha me;
minha me me explicava que esse dinheiro no era meu. Depois, ela voltou a casar-se e
o dinheiro de meu padrasto me pertencia menos ainda do que o do meu av. Ela
me dava dinheiro, mas me fazia sentir que aquilo no era meu, que me era dado por meu
padrasto. E isso durou at que entrei para a Escola Normal. O dinheiro que
me era dado por minha me ou meu padrasto escasseou porque eu ganhava na Escola
Normal e tinha tambm os tapirs; foi ento a que ganhei meu primeiro dinheiro, mas
at os dezenove anos, o dinheiro me vinha de fora, e como no gostava muito de meu
padrasto, senti a coisa mais fortemente do que se me viesse de outra pessoa. Observe
que vivamos muito bem; meu padrasto era diretor dos Estaleiros Navais em La
Rochelle, ganhava quantias elevadas e conseqentemente vivamos muito bem. Alis,
eu
no precisava de muito, estava no liceu, davam-me um pouco de dinheiro diariamente;
mas, enfim, o que certo que me sentia sem dinheiro, sentia-me mantido com
o dinheiro dado plos outros, e, por isso mesmo, o dinheiro, ao mesmo tempo em que
no o tinha, assumia um valor mais ideal para mim: dava dinheiro, trocava dinheiro
por um doce, um lugar no cinema, mas era uma troca que no dependia de mim. O
dinheiro era como uma espcie de permisso para obter objeto, dada por meu padrasto,
no ia muito alm disso. como se ele me dissesse: com estes nqueis voc pode
comprar uma madeleine ou um po de chocolate, o que significava, eu lhe dou este
po de chocolate. O valor do dinheiro propriamente me escapava. Alis, eu era bastante
hostil a este dinheiro: no que o desejasse menos, mas teria gostado de prescindir
daquela permisso. Ter o meu dinheiro.
440
Foi assim que, por volta dos doze anos, comecei a tirar dinheiro da bolsa de minha me
em La Rochelle.
S. de B. - Voc tirou dinheiro porque o fato de o darem a voc o irritava.
J .-P. S. - Isso mesmo.
S. de B. - Que sentiu quando ganhou seu primeiro dinhero?
J .-P. S. - Foi na Escola Normal; a tambm no compreendi muito bem o que
significava ganhar dinheiro. Era dinheiro que nos davam na escola, uma pequena
quantia
mensal que ns gastvamos tomando cafs nos bares prximos Escola; alis isso no
era suficiente, porque detestvamos o menu da Escola, que era horrvel, e gastvamos
muito desse dinheiro em refeies. De maneira que havia outro hbito na Escola: era dar
aulas a alunos do primeiro ano ou de filosofia, s vezes do segundo e terceiro,
que em geral no estavam sendo capazes de acompanhar o curso e a quem tnhamos de
preparar.
S. de B. - No caso, j no era dinheiro recebido como no caso da Escola. Voc
estabeleceu ento uma relao entre um determinado trabalho e um determinado ganho?
J .-P. S. - Sim, sabia perfeitamente que esse dinheiro me era dado por meu trabalho com
meus alunos, mas no via muito bem a relao entre esse dinheiro e esse trabalho.
Era muito consciencioso; em geral, era professor de filosofia, mas, s vezes, realizava
tarefas mais particulares; fui at professor de msica. O que sentia que
realizava um pequeno trabalho fcil, e isso me permitia receber, no fim do ms, uma
quantia que me possibilitava viver um ms sem almoar nem jantar na Escola.
S. de B. Teve problemas por falta de dinheiro nessa poca?
J .-P. S. - Sim, claro, mas no considerveis. No ganhava mal com os tapirs. As aulas
eram pagas de acordo com uma tabela dada pela Escola; esta tinha sido determinada
plos alunos, junto com o caman, isto , com o supervisor-geral da Escola, e eram
quantias fixas.
441
#S. de B. - Parece-me que houve ocasies em que voc precisou de dinheiro: quando
queria viajar para Toulouse para ver Camille.
j.-p. S. - Sim, tinha muito pouco dinheiro, como todos os alunos da Escola Normal.
Lembro-me de que uma vez pedi emprestado a todos os meus colegas, quase que
centavo
por centavo, o dinheiro necessrio para uma passagem de ida e volta a Toulouse e para
alguns gastos. Parti com os bolsos carregados de moedas. Sim, vivamos pobremente;
havia meses em que no tnhamos dinheiro, no tnhamos tapirs; pedamos emprestado
e depois devolvamos.
S. de B. - Voc tinha ambies quanto ao dinheiro? Ou algo como uma planificao do
dinheiro que viria
a ter mais tarde?
J .-P. S. - No, de modo algum. No pensava no dinheiro que teria mais tarde. Nunca
(uando pensava em ser escritor, pensava em fazer obras notveis, mas absolutamente
no pensava que elas me trariam uma quantia ou outra. De certa maneira, o dinheiro no
existia para mim. Recebia-o e o gastava. Gastava-o amplamente enquanto o tinha,
porque era quase como se fossem notas de papel que me davam e que eu entregava a
uma caixa comum. Ajudava meus companheiros da Escola Normal, dava dinheiro com
frequncia.
S. de B. - Eu sei; quando o conheci na Escola Normal voc tinha fama de ser
extremamente generoso... E especialmente quando saa com uma mulher, tinha fama de
faz-lo
suntuosamente; ou mesmo quando saa com seus colegas, tinha fama de ir a bons
restaurantes, de gastar tudo o que tinha.
T -P S. - De fato, era o que eu fazia, mas no via isso como um ato de generosidade;
utilizvamo-nos desses estranhos objetos que nos davam e recebamos alguma coisa
em seu lugar. Entendamos, claro, o poder aquisitivo desses objetos aos colegas
prximos. Dava de born grado meu dinheiro, porque no tinha a impresso de ganh-lo,
e ele nada mais representava para mim do que signos. Evidentemente, era preciso
possuir muitos desses
442
signos para possuir muitos objetos, mas podamos arranjar-nos.
S. de B. - Voc tirava dinheiro dos outros?
J .-P. S. - No, mas simplesmente porque no havia.
S. de B. - Quer dizer que no teria censurado aqueles que o fizessem?
J .-P. S. - No. Porque o dinheiro me parecia algo fora da vida. Pensava que a vida no
era feita pelo dinheiro; no entanto, tudo o que fazia era graas ao dinheiro;
era sempre com dinheiro que podia ir a um teatro, ao cinema, ou sair de frias. J untava-
o, considerava que havia coisas de que gostava e que fazia, mas no percebia
que podia faz-los graas apenas a certa quantia que adquirira dando aulas a meus
alunos.
S. de B. - Mas por trs dessa indiferena no havia, apesar de tudo, a certeza de que
voc era um funcionrio e que seu futuro estava garantido, modestamente, sem
dvida, mas de uma maneira muito segura? Nunca se sentiu preocupado com seu futuro
material?
J .-P. S. - No, nunca. Isso nem me ocorria. O que pode ser uma maneira de sentir-se
ainda mais seguro. Para mim, havia o dinheiro que os alunos me davam diariamente
e que eu gastava em objetos que me agradavam; depois, teria o dinheiro que o Estado
me daria por meus cursos e gast-lo-ia da mesma maneira. No via a vida como
sendo mantida por uma determinada quantia que se reproduzia todos os meses e devia
ser gasta em determinadas condies: roupa, moradia etc. No via isso assim. Via
que era preciso ter dinheiro e que uma profisso era algo que proporcionava dinheiro;
minha vida seria a dos professores que eu conhecera e depois haveria, videntemente,
os livros que me valeriam, sem dvida, mais dinheiro.
S. de B. - Mas, em certo sentido, ningum deseja o dinheiro em si; desejamo-lo sempre
pelo que podemos comprar com ele. Nunca houve uma discrepncia entre seus
sonhos de futuro, suas ambies de viagens, j que voc sonhava muito em viajar, e o
conhecimento de que
443
#no teria dinheiro suficiente para fazer essas viagens, para
ter essa vida de aventuras com que sonhava?
j p s - A vida de aventuras era algo mais abstra-
to Mas as viagens, sim. Sei que a Holanda me parecia muito cara antes da guerra.
Pensava que levaria muito tempo para poder fazer uma viagem Holanda.
S. de B. - Falo da Escola Normal, quando voc
era muito jovem. . T-_ T .p s - No, isso no se manifestava assim.
J ao
tinha grandes necessidades: um copo de cerveja ou de vinho num caf, dois ou trs
cinemas por semana.
S de B - E voc no se dizia, por exemplo: ora vejam', jamais terei dinheiro suficiente
para ir Amrica?
j .p s. _ Pensava que dificilmente iria Amrica;
mas isso estava distante, no era meu desejo na poca.
S. de B. - E quanto ao dinheiro dos outros? Quero dizer quando via pessoas muito ricas,
quando via pessoas muito pobres, reagia a isso? De alguma maneira isso existia
para voc? . .
j .p S - Via bastante as pessoas muito ricas. Us
pais dos alunos, alguns eram ricos. Mas sabia que havia pessoas muito pobres,
considerava isso uma indignidade social e que seria necessrio um trabalho poltico
para que opauperismo fosse suprimido; como v, tinha ideias
bastante vagas, mas enfim...
S de B. - Mas voc no tinha conscincia de que o
dinheiro podia representar algo de fundamental para um
varredor, para uma faxineira?
j .p S. - Sim, a prova que o dava a essas pessoas Mas era uma contradio: esse
dinheiro, que para mim no representava nada, era muito para eles. Eu no tentava
compreender, via que era assim. Em outras palavras tinha uma conscincia muito
abstraa do dinheiro:
tratava-se de uma moeda ou de uma nota que me permitia adquirir objetos que me
agradavam; mas eu no vivia disso E preciso tentar compreender isto: morava na
Escola
Normal, tinha minha cama, que no pagava. Podia almoar e jantar sem pagar um
centavo. De maneira que minha vida no sentido mais simples do termo, no
444
sentido mais material, me era fornecida no por meus pais, nem por pessoas que me
conhecessem, mas por algo que era o Estado. Todo o resto, tudo o que para mim era
minha vida, isto , os cafs, os restaurantes, os cinemas etc., tudo isso eu dava a mim
mesmo como resultado de uma espcie de pseudotrabalho, j que considerava
uma brincadeira as horas que passava com meus tapirs. Ficava diante de um garoto,
geralmente apagado, que escutava vagamente durante uma hora o que eu dizia e depois
ia-me embora; eu no tinha sequer a impresso de que aquilo fosse ensino; tinha a
impresso de que se tratava de um palavrrio que me proporcionava, por exemplo,
vinte francos.
S. de B. - E mais tarde, quando professor?
J .-P. S. - Bem, entrementes, ocorreu algo. Minha av morreu e herdei uma quantia
considervel para o rapazinho que eu era...
S. de B. - Creio que eram 80.000 francos da poca, o que representaria hoje quase um
milho.6
J .-P. S. - Ento, gastava esse dinheiro assim, por exemplo, com voc; fizemos viagens.
S. de B. - Sim, as viagens foram financiadas em grande parte por isso.
J .-P. S. - E veja voc: tambm naquela poca o dinheiro no era uma realidade. Uma
realidade que, numa famlia pobre, a criana capta to bem. Ela sabe o que uma
moeda de dois francos. Quanto a mim, no posso dizer que o soubesse. Vinha-me s
mos o dinheiro que me proporcionava objetos. s vezes, j no tinha dinheiro e
j no tinha objetos ou ento pedia emprestado - sem saber como o devolveria - mas
sabia que o evolveria, porque teria alunos no ano seguinte.
S. de B. - Sim, quando nos conhecemos, s vezes voc vivia um pouco acima de seus
meios; ento, pedia emprestado Sra. Morei.
J .-P. S. - Sim.
445
#S de B - Voc tinha essa segurana: a Sra. Morei era rica era a nica, entre seus
amigos, realmente rica. Voc no lhe pedia emprestado com frequncia, mas, enfim,
isso ocorria. Tambm isso era uma segurana.
T -P S. - Sim. S de B - Lembro-me dos fins de ms um pouco
difces porqueno tnhamos oramentos equilibrados;
eu empenhava um determinado broche que herdara no sei de quem; ou ento pedia
dinheiro emprestado a Collette Audry, que colocava no prego sua maquina de escrever;
frequentemente, nos ltimos dias do ms faltavanos dinheiro. Mas isso no nos
incomodava.
T p - Apesar de tudo, tnhamos nossos salrios.
Ns os juntvamos e isso representava um pouco mais de dinheiro do que dispe um
professor no casado ou casado com uma mulher que no trabalha. Recebamos muito
pouco, j que pertencamos primeira
S. de B. - Mas tnhamos com que viver, sobretudo
da maneira pela qual vivamos.
j .p s. - No Havre, meu primeiro posto, eu gastava muito pouco dinheiro.
S de B - E tinha a impresso de ganhar o seu
prprio dinheiro, mais nitidamente do que na poca em
que dava aulas aos tapirs - 1 "
T p s - No fundo, nunca tive a impresso de ganhar meu dinheiro. Trabalhava, era isso a
vida, e ento, todos os meses, davam-me dinheiro.
S de B - De qualquer forma havia algumas imposies. Por exemplo, voc era obrigado
a orar no Havre depos, obrigaram-no a morar em Laon; voc no podia morar em
Paris como teria desejado.
j p s - Sim mas meu posto fora escolhido em funo de sua proximidade de Paris; era
apenas um J queno cerceamento, ou seja, eu pegava o trem para Pars Gostava de
tomar o trem. O trem do Havre para Pans_ Lia os primeiros romances policiais que
faziam na epoc muito sucesso na Frana e o jornal Mananne; era um trajeto agradvel,
e me encontrava com voc em Rouen.
446
"
S. de B. - E alguma vez voc sentiu com desagrado a falta de dinheiro no momento
preciso? Sei, por exemplo, que cava muito mais constrangido do que eu por pedir
dinheiro emprestado. Tivemos uma grande altercao: foi num hotel onde ficvamos
frequentemente, em Paris: voc tinha que convidar Aron para almoar no dia seguinte
e estava sem dinheiro. Sozinho, voc no ligaria, teria dito: no almoo. Mas tinha que
convidar Aron, e eu dizia: "H uma soluo muito simples: pea ao hoteleiro
que lhe empreste dinheiro pelo prazo de vinte e quatro horas." E realmente discutimos,
porque eu dizia: "e importncia tem isso? um sujeito asqueroso, e para ns
tanto faz; pelo menos, que seja til." E voc dizia: "No, no quero que ele tenha
conscincia de me haver feito um favor."
J .-P. S. - exato, no queria que ele me fizesse um favor.
S. de B. - Sei que discuti com voc e lhe disse: " uma sorte que voc seja um
funcionrio, no poderia ser outra coisa, porque tem relaes muito tmidas com
dinheiro."
Voc era muito generoso, no esse o problema, mas a partir do momento em que
pensava que ia ficar em falta, que havia um risco de no ter dinheiro, a ento voc
se tornava muito timorato.
J .-P. S. - E verdade. Muitas vezes me preocupei com dinheiro: como poderia consegui-
lo para fazer determinada coisa dentro de trs meses? Pensava na maneira de
obt-lo, mas havia uma espcie de brecha entre o dinheiro que obtinha e as coisas que
com ele comprava. No via que esse dinheiro era feito para comprar e tambm
que era obtido por um trabalho. claro que esse tipo de coisa era algo que eu no
ignorava, mas falo aora de um sentimento. No tinha o sentimento de viver "a condio
comum: ganhando dinheiro, gastando na compra de produtos teis.
S. de B. - E mais tarde?
J .-P. S. - No, nunca o concebi. Isso se liga ao fato de ser a minha profisso muito
flutuante; s vezes, bastante bem paga, mas muito pouco produtiva, a no
447
#ser de uma maneira diferente, cultural. Ento, eu considerava a coisa cultural que
ensinava ou que criava, o livro, como um produto de mim mesmo, sem relao com
o dinheiro. Se tinha compradores para meus livros, tanto melhor. Mas poderia
perfeitamente imaginar que meus livros no se vendessem, pelo menos durante um
longo
perodo. Sei que em minha primeira ideia de escrever no cogitava de ser traduzido
durante minha vida. Durante todo um perodo, antes que compreendesse o que era
a literatura, pensava ser um autor com poucos leitores. Um autor para pequenas
bibliotecas, algum no gnero de Mallarm, e, conseqentemente, no extrairia muito
dinheiro de meus escritos.
S. de B. - H uma coisa que voc observou numa entrevista e que deve perturbar sua
relao de escritor com o dinheiro: que, de certa maneira, o ganho estava em
relao inversa ao trabalho efetuado. La critique de Ia raison dialectique lhe deu um
enorme trabalho e lhe rendeu muito pouco, ao passo que, algumas vezes, com
uma pea que voc escreveu muito rapidamente, como Kean, por exemplo, ocorreu que,
de repente, foi muito representada, rendeu-lhe muito dinheiro.
J .-P. S. - Sim, verdade.
S. de B. - uma coisa que voc acentuou com frequncia: quase uma relao inversa.
J .-P. S. - No, inteiramente, mas, enfim, sim, assim. E certamente isso no me ensinou
o que o dinheiro.
S. de B. - H algo que depende tambm das circunstncias exteriores, porque, por
exemplo, de repente lhe comunicam que uma de suas peas vai ser representada em
tal pas, e vai ser representada durante muito tempo, isso lhe render um born dinheiro,
s vezes trata-se de um argumento que vai ser extrado de uma de suas obras.
J .-P. S. - Em suma, durante muito tempo, durante quase toda a minha vida, no soube o
que era o dinheiro; alis, havia contradies estranhas em minha atitude. Gastava
dinheiro sem preocupao quando o tinha. Mas, por outro lado, queria sempre ter uma
quantidade
448
muito superor que teria podido gastar. Quando saa de ferias, por exemplo, levava
muito mais do que o necessrio para ir, digamos, a Cages, onde tnhamos dois
quartos, num hotel onde ramos conhecidos; e na hora de pagar tirava de meu bolso um
monte de notas. Sei que isso fazia com que a dona risse, mas tambm a indigna-
S. de B. - Sim, eu diria que voc tinha uma relao camponesa com o dinheiro. Isto ,
no tinha jamais talo de cheque, tudo estava sempre com voc em dinheiro
vivo, em notas que voc guardava nos bolsos e de ato. para pagar mil francos, voc
puxava um mao de cem mil francos, ou quase isso. Voc gastava sem preocupao,
mas sempre teve, e talve nestes ltimos tempos ainda mais do que antes, o medo de no
poder gastar sem preocupao. No de que lhe faltasse dinheiro realmente, mas
de ser obrigado a contar.
, .' s ~por exemplo, atualmente penso que tenho dinheiro para viver durante cinco anos,
e depois acabou e realmente assim. Tenho mais ou menos cinco mlhes, enfim,
milhes antigos, o que d hoje cinquenta ml francos. Ser preciso que encontre uma
maneira de
S. de B. - Mas voc fica particularmente preocupado com essa no-segurana, porque o
incomoda a deia de que poderia ser obrigado a contar.
J .-P. S. - Sim, porque ganhei muito dinheiro.
T P c voc deu a enormidade de dinheiro J .-r. S. - Dei bastante. Alis, sustento pessoas.
este momento, sustento umas seis ou sete pessoas S. de B. - Sim.
J .-P. S. _ Completameme. Ento, evidentemente '.sso me ata. No posso perder dinheiro
porque j no
Poderia dar essas quantias... sob esse aspecto que me preocupo.
S. de B. - Sempre, mesmo quando mais jovem e maisjivre com relao a outrem, hava
esse medo em voc de no ter o suficiente para no precisar contar. Isso era quase
uma contradio: seu grande desinteresse com rela-
449
#co ao dinheiro, sua grande generosidade, e tambm uma espcie, no diria de
aspereza, porque voc nunca descontava nos outros, mas uma espcie de medo. E isso
se mantm at hoje; se lhe digo: est precisando comprar sapatos, voc me responde:
no tenho com que comprar sapatos. Quase se poderia falar de avareza em relao
a voc mesmo. Extremamente generoso com os outros, no que toca a voc mesmo tem
sempre a reao: ah! no, j no tenho muito dinheiro. Outra pergunta sobre o dinheiro,
que se liga s perguntas que lhe fazia sobre suas relaes com outrem: por que d
gorjetas to grandes? Sim, no se trata simplesmente de gorjetas generosas, s
vezes, so gorjetas. quase ridculas de to exageradas.
J .-P. S. - No sei. Sempre dei gorjetas elevadas, por sso que no sei. Poderia dar-lhe
explicaes atualmente, mas sei que aos vinte anos j dava grandes gorjetas.
Naturalmente, no to grandes como agora, porque tinha menos dinheiro, mas elas
faziam com que meus colegas rissem de mim. Portanto, um velho hbito.
S. de B. - tambm para estabelecer uma certa
distncia entre voc e as pessoas?
J .-P. S. - H vrias razes. Seria ao mesmo tempo para tomar uma distncia dos garons
e tambm para ajud-los a viver. uma maneira de dar; no creio que todo
mundo fizesse como eu, mas teria desejado que o fizesse e que os garons dos cafs, por
exemplo, tivessem o suficiente para viver. Naquela poca, minhas relaes
com os garons dos cafs eram muito ruins...
S. de B. - por essa razo que eu considerava isso como uma generosidade, talvez, mas
tambm como uma
distncia.
J .-P. S. - Talvez.
S. de B. Isso tem de certa forma um duplo aspecto. Apesar de tudo, essas pessoas lhe
prestaram servios, ainda que apenas colocando um copo em sua mesa. Outro
dia, voc disse que detestava que lhe prestassem servios, mesmo pagos, portanto
preciso pagar acima do preo, para que voc no tenha a impresso de que afinal
voc que...
450
J .-P. S. - Que lhes devo. Certamente havia isso. Sei que quei estupefacto e constrangido,
na Espanha, pela proibio de dar gorjetas. Sabia que era justo, estava
de acordo. Mas, por outro lado, sentia que o garom me prestava um servio, que eu era
seu devedor; quando lhe dava dinheiro, isso criava uma certa relao com
ele, que eu j no tinha. Tinha sido tirada de mim. Era um homem livre, que me
prestava um servio, pago no por uma gorjeta dada, mas pelo preo da consumao.
S. de B. - Sim, o servio estava includo.
J .-P. S. - Chegava-se a algo mais verdadeiro. Eu o sentia, mas incomodava-me o fato de
no poder dar alguma coisa como suplemento. Essa generosidade, na verdade,
no cria distncia num caf que amide frequente! Pensam: esse louco que d muita
gorjeta, mas gostam de servir-me.
S. de B. - Sim, claro. Mas na medida em que voc declarou que desejava ser, que era
qualquer um, dar gorjetas muito elevadas uma maneira de se distinguir de
qualquer um. Isso no o incomoda?
J .-P. S. - No, porque tenho a impresso de que assim que deve ser a vida. Sou
absurdo, j que, de fato, a vida absolutamente no deve ser assim.
S. de B. - Quando voc dava uma gorjeta muito grande a um chofer de txi sabia
perfeitamente que nunca o voltaria a ver.
J .-P. S. - Ainda assim, as relaes so verdadeiras. Quero dizer, assim que as vejo
entre mim e esse chofer de txi nesse momento. Ele est encantado porque recebeu
uma boa gorjeta e tem um instante de simpatia por mim, que lhe demonstrei simpatia
dando-lhe dinheiro. Certamente, h uma vontade de fazer reinar uma espcie de
lei econmica onde a igualdade ser realizada pelo fato de que o mais rico d mais,
assim, no correr do dia.
S. de B. - Voc diz que sustenta muitas pessoas. Mas de um modo geral so sobretudo
mulheres ou, s vezes, jovens. Voc no acha isso constrangedor para as pessoas
a quem sustenta? Voc teria aceitado ser sustentado quando tinha vinte anos?
451
#T .p 5 _ No. Digo que no e penso assim; mas o dinheiro para mim era uma coisa to
diferente daquilo que se ganha, daquilo que se d, era to mais abstrao, que
no me escandalizo com a ideia de que poderia ter aceito ser sustentado durante alguns
anos.
S. de B. - Ser sustentado durante alguns anos, isso depende. Se realmente se tem
necessidade disso para fazer uma obra... Ningum jamais censurou Van Gogh por haver
sido mais ou menos sustentado por seu irmo. Porque ele pintava, porque realmente
tinha razes para aceitar, e se para fazer algo de positivo, se , por exemplo,
um estudante a quem pagam seus estudos, estou inteiramente de acordo. Mas as pessoas
que se instalam nessa forma de vida... A rigor, poderia imaginar que voc, como
eu teramos aceitado algum que nos tivesse dito:
bem, pago-lhes cinco anos de estudos, vocs os fazem, e pronto. No se deve estragar
todo um futuro por uma questo de respeito humano, de amor prprio. Mas voc
no acha que isso deturpa suas relaes com as pessoas? O fato de dar-lhes dinheiro
pela vida afora, sem reciprocidade?
J .-P. S. - Digo-me com frequncia que no. No, porque eles so assim. Eles tm
necessidade de dinheiro. E ento seria uma falsa delicadeza v-los e ter amizade
por elas, sem dar-lhes um tosto, quando eles no tm os meios para obter dinheiro,
talvez por sua prpria culpa, mas pouco importa. Eles morreriam de fome, se eu
no lhes desse. Creio que na realidade uma amizade supe mais coisas do que
mencionamos. H uma coisa que no referi e que, afinal, a concepo muito modesta
do
dinheiro que eu tinha aos vinte e cinco anos, aos vinte, aos trinta, at a guerra, foi
completamente desmentida pela continuao de minha vida aps a guerra. Tive
muito dinheiro; o que examinamos ocorreu sobretudo antes da guerra; depois tive muito
dinheiro.
S. de B. - E o que significou para voc ter muito
dinheiro?
J .-P. S. - curioso. A tambm isso no me dizia respeito. A obra me dizia respeito,
mas o preo que paga-
452
vam por ela no me dizia respeito. Escrevi alguma coisa sobre isso em Situations: como
h pouca relao entre um livro, o tempo que se trabalha para obter um livro
e o dinheiro. Quero significar no simplesmente o trabalho do ponto de vista das horas,
mas a atmosfera em que nos colocamos: tanto quando terminamos de escrever
e vamos ver os companheiros como enquanto escrevemos; pensamos o tempo todo no
livro. uma coisa que se basta a si mesma, e quando est terminado, publicamo-lo,
evidente. Mas eu no publicava para ter dinheiro, publicava para saber o que
pensavam de meus esforos e de meu trabalho. E ento, algumas vezes, no fim do ano,
recebia bastante dinheiro. E a isso me espantava, no me parecia ter relao.
Igualmente, quando recebo dinheiro do estrangeiro, j no o livro que o produz.
O livro escrito por um francs em francs. Posso compreender que, se lido por cinco
mil pessoas, por cem mil pessoas, renda quantias diferentes; mas que, dois
anos depois, de Roma, de Londres, ou de Tquio me chegue dinheiro por uma traduo,
que nem sequer tenho certeza de que seja boa, algo que realmente no compreendo.
O fato de receber dinheiro nesse momento estranho; em certo sentido, j no sou
considerado como um escritor, mas como um pedao de sabo.
S. de B. - Sim, como uma mercadoria. Mas o que eu queria dizer era isto: quando teve
realmente muito dinheiro, depois da guerra, isso no deixou voc com a conscincia
pesada? Quanto a mim, sei que isso, em certa poca, me deixou com a conscincia
pesada; quando comprei um primeiro vestido um pouco caro, disse: minha primeira
concesso...
J .-P. S. - Ah! lembro-me.
S. de B. - Achava que deveramos encarar de frente essa questo de dinheiro, e
administrar esse dinheiro de maneira filantrpica: enfim, planificar alguma coisa.
E, ao mesmo tempo, percebo muito bem que nenhum de ns dois, sobretudo voc, foi
feito para esse gnero de planicao.
453
#J .-P. S. - Certamente que no. Alis, a planificao tornava-se difcil, porque no
recebamos as mesmas quantias todos os anos. No ano em que publicvamos um livro,
podamos receber bastante. No ano seuinte, se publicvamos alguns artigos, no
recebamos grande coisa. Mas tnhamos ganho no ano anterior o suficiente para viver
durante dois anos.
S. de B. - Mas, de tempos em tempos, voc tinha pequenos sonhos. Dizia, por exemplo:
sim, deveramos separar tal quantia todos os anos para estudantes que esto
necessitados...
J .-P. S. - Sim.
S. de B. - Deveramos dedicar tal quantia a isto ou aquilo. Na verdade, voc ajudou
muito, mas ajudou um
pouco ao acaso.
J .-P. S. - Sim, quando se apresentava a ocasio.
S. de B. - Segundo a ocasio, segundo o que lhe pediam.
J . P. S. - Por exemplo, penso que se tivssemos constitudo um fundo para os
estudantes, por um lado teramos tido esse fundo para manter mas por outro, as mesmas
solicitaes e as mesmas obrigaes com relao s pessoas que encontrvamos e que
nos pediam dinheiro... Portanto, isso no teria feito muita diferena, exceto
tornar a situao insustentvel para ns.
S. de B. - Continue.
J .-P. S. - Portanto, efetivamente, nesta segunda parte de minha vida, a partir de 1945 e
at este ano, tive muito dinheiro. No foi pouco o que dei. Mas no gastei
tanto, comigo mesmo. Foi essencialmente para os outros que ele foi utilizado,
concorda?
S. de B. - Sim, inteiramente. O nico luxo que nos dvamos...
J .-P. S. - Eram as viagens.
S. de B. - Eram as viagens. E ainda assim, no foi muito. Muitas e muitas viagens nos
foram oferecidas:
Cuba, Bahia...
J .-P. S. - Egito...
454
dinher ?' - J ap0 so viagens em que no gastamos exempo: s mals com as frias
em Roma P<J .-P. S. - Sim.
S. de B. - E tambm no vivemos de uma maneira extravagante Vivemos muito
agradavelmente, vamos p r um born hotel, a bons restaurantes, mas, enfim no
vvemos com
grande luxo. Em Paris, no gastamos muSo dinhero para vver. H uma coisa que voc
nunca fe com seu dinheiro: voc nunca especulou.
J .-P. S. - Nunca. E nem preciso dizer especular Nem mesmo coloquei alguma vez
dinheiro a juros S. de B. - Nunca.
J .-P. S - O que tenho, gasto-o em dois, trs meses ou no prximo ms.
tanr' B' - Alumas vezes c teve quantias basdosa que mofaram na ard durante um ou
Ias J p' s' - porque no tinha Possibilidade de gastS. de B. - isso, porque voc no o
gastava ime-
teda' Mas voc nunca se utilizou do dinheiro para J .-P. S. - No.
coes s' de B' para comprar 0 P fzer transaJ .-P. S. - Nunca.
meio de B' voc dinheiro no foi mais meio de ganhar dinheiro,
J .-P. S. - Isso me teria parecido infecto. E no enedeT maneira pela qual as pessoas
vivemaquelas
f,,' de B' - Aqui' eetivame, seria preciso aproundar por que isso lhe pareceu infecto,
como a mim alis
do mesm mha devida Dessa maneira P o sentimento de ser capitalistas quando, apesar
de tuo tamos proveito dos outros, j que so as pessoas que
vive vao ao teat' que nos P1111 q a-
455
#j.pS - Inteiramente. Lem o ltimo livro que publicado, conseqentemente, o nosso,
quando publicado. porque no temos o pblico exato que desejaramos.
S de B. - Sim, certamente.
T ' p S - Desejaria um pblico maior, nitidamente menos burgus, menos rico, um
pblico de proletrios e de bem pequeno-burgueses; e o pblico que tenho e um pblico
burgus, no sentido prprio do termo. Ha ai uma dificuldade que com frequncia me
aborrece profunda-
mente .
S de B. - Todas as pessoas que conhecem um pouco sua filosofia sabem o papel que a
noo de liberdade representa em sua obra; mas gostaria que me dissesse de uma
maneira mais pessoal, como elaborou em voc essa noo de liberdade e lhe deu essa
importncia.
J -P. S. - Sempre me senti livre desde a infncia. A ideia da liberdade se desenvolveu
em mim, perdeu os aspectos vagos e contraditrios que tem em cada um quando
captada assim no incio, e complicou-se. Ela se tornou precisa; e morrerei como vivi,
com um sentimento de profunda liberdade. Quando criana era livre no sentido
em que se pode dizer que todas as pessoas que falam de seu eu - eu quero isto, eu sou
assim - so livres ou se sentem livres. Isso no significa que o sejam realmente,
mas acreditam em sua liberdade. O eu se torna um objeto real - sou eu, voc -, e, ao
mesmo tempo, uma fonte de liberdade. esta contradio que sentimos desde
o incio e que representa uma verdade. O eu ao mesmo tempo este modo da vida
consciente onde cada momento desabrocha com suas foras prprias. Mas tambm nos
deparamos com o retorno constante das mesmas disposies em circunstncias
prximas, e podemos descrever nosso eu. Tentei explicar tudo isso mais tarde em minha
filosofia fazendo do eu um quase objeto que acompana nossas representaes em
determinadas circunstncias. S. de B. - Foi o que voc exprimiu em La trans-
cendence de 1'ego?
456
J .-P. S. - Sim; esta prpria contradio para mim a primeira fonte de liberdade. O que
mais me interessava no era tanto meu eu quase-objeto sobre o qual no pensava
muito, era mais a atmosfera de criao por si de si mesmo que encontramos ao nvel do
que chamamos vivido. H a cada instante, por um lado, a conscincia de objetos
que so os do quarto ou da cidade onde se est, e depois a maneira pela qual esses
objetos so vistos, so apreciados, que no dada com o objeto, que vem de si,
mas sem ser predeterminada; dada no instante; tem um carter frgil, aparece e pode
desaparecer. E nesse nvel que se afirma a liberdade, que , em suma, o prprio
estado dessa conscincia, a maneira pela qual ela se capta, no sendo dada por nada; ela
no determinada pelo instante precedente; liga-se a ele sem dvida, mas
bastante livremente. esta conscincia que, desde o inicio, se apresentou para mim
como liberdade. Vivia ao lado de meu av, que eu pensava que era evidentemente
livre, j que eu o era; mas cuja liberdade eu captava com dificuldade, j que ela se
manifestava sobretudo atravs de sentenas, trocadilhos, poemas - o que no
me parecia traduzir corretamente a liberdade.
S. de B. - Voc quer dizer que desde a infncia teve esse sentimento de liberdade?
J .-P. S. - Sim. Sempre me senti livre, pela prpria natureza do que um estado de
conscincia.
S. de B. - A maneira pela qual foi educado contribuiu para dar-lhe essa impresso de
liberdade?
J .-P. S. - Sim; penso que essa noo de liberdade existe em todo mundo, mas que lhe
atribumos uma importncia diferente segundo a maneira pela qual fomos educados.
No que me diz respeito - e falei disso em Ls mots - tratavam-me como um jovem
prncipe que a famlia Schweitzer engendrara, e que era uma riqueza ainda maldefinida
mas que ultrapassava todas as suas manifestaes. Sentia-me livre enquanto jovem
prncipe, livre em comparao com todas as pessoas a quem eu via na poca. Tinha
um sentimento de superioridade devido a minha liberdade, sentimento que depois perdi,
j que
457
#considero que todos os homens so livres. Mas naquela poca isso era impreciso. Eu
era minha liberdade, e tinha a impresso de que os outros no sentiam isso como
eu.
S. de B. - Mas voc no tinha tambm um sentimento muito forte de independncia?
Escolhiam suas ocupaes, os lugares aonde passaria as frias etc. Tudo finalmente
era escolhido plos outros.
J .-P. S. - Sim, mas no dava muita importncia a isso. Parecia-me normal; obedecia da
mesma maneira que me sentava numa cadeira, que respirava, que dormia. Minha
liberdade se exprimia atravs de escolhas de pequena envergadura, como, por exemplo,
escolher um alimento ou outro durante uma refeio; passear ou entrar numa loja
me bastava. Pensava que nisso residia a prova de minha liberdade; naquela poca, ela
era sobretudo um estado, um sentimento, o prprio estado de conscincia de onde
saa por momentos uma deciso: comprar um objeto ou pedir um a minha me. Meus
pais e as obrigaes que eles me impunham representavam as leis do mundo e somos
livres
no que diz respeito a essas leis se formos diligentes.
S. de B. - Voc nunca se sentia violentado? No sentia que uma vontade livre se opunha
sua?
J .-P. S. - Fui senti-lo mais tarde. Essa foi a minha descoberta em La Rochelle, quando
tive que enfrentar alunos de provncia que no viam com bons olhos um parisiense.
Eram meninos grandes, ao passo que eu era mido, e se uniram para perseguir-me. Mas
at o fim do quinto ano, isto , at os onze anos, nunca senti isso. Os outros
estavam ali para ajudar-me, para remover obstculos, para aconselhar-me; no me
contrariavam. Talvez uma ou duas vezes, o que me provocou raivas terrveis que tinham
algo de metafsico. Mas eu era sobretudo mimado. Nunca senti opresses enquanto
pequeno, senti, ao contrrio, uma inteligente solicitude destinada a fazerme desabrochar.
E foi quando entrei em contato com meninos de minha idade que comecei a conhecer
essa hostilidade que constitui em parte a relao dos homens entre eles.
458
a"
S. de B. - Voc conservou essa impresso de liberdade quando sofreu tais hotilidades?
J .-P. S. - Sim. Mas ela se interiorizou mais. Durante certo tempo tentei reagir s
perseguies, quer brigando - mas os resultados eram imprevisveis, ou antes,
muito previsveis, mas imprevisveis para mim - quer interessando os outros em
projetos. Mas, evidentemente, sentia obstculos permanentemente. No entanto, entre
mim e os outros havia tambm amizade. Hostilizar-me no era a nica maneira de
comportar-se em relao a nm; podiam tambm falar comigo, ser amigos, passear
comigo.
Eu fazia parte do grupo de meus colegas e, sob esse aspecto, me sentia livre. O que mais
me incomodava que, nessa poca, estava comeando a zangar-me com minha
me, sendo certamente a presena de meu padrasto a causa profunda disso. Alguma
coisa me faltava, que se ligava no somente a ela, mas tambm ideia de liberdade.
Eu tinha um papel privilegiado na vida de minha me nos anos precedentes e ele me
tinha tirado, j que havia aquele homem que vivia com ela e que era o detentor
do papel principal. Antes, eu era um prncipe com relao a minha me, agora era
apenas um prncipe de segunda categoria.
S. de B. - Como evoluiu seu sentimento de liberdade a partir de todas essas
experincias: os colegas, seu padrasto e depois sua ida para Paris?
J .-P. S. - Disse que me sentia livre naquela poca, mas no dizia a mim mesmo: sou
livre. Era um sentimento que no tinha exatamente nome ou que tinha vrios nomes.
Foi em Paris, no segundo ano do liceu Henri IV, isto , em filosofia, que aprendi a
palavra liberdade ou pelo menos seu sentido filosfico. Foi nessa ocasio que
me apaixonei pela liberdade e que me tornei seu grande defensor. Nizan, nessa mesma
poca, estava atrado pelo materialismo, o que o levou mais tarde a entrar para
o partido comunista. No ano seguinte, eu estava em hypo-khgne no Louis-le-Grand.
Era semi-interno, e durante os recreios passevamos por uma varanda e discutamos
sobre a liberdade e sobre o materialismo hist-
459
#rico. Estvamos e oposio, ele apoiando-se em argumentos racionais e concretos, eu
defendendo uma determinada concepo do homem, um homem que descrevia sem
apresentar
argumentos. No chegvamos, alis, a resultado algum. Discutamos, nenhum dos dois
ganhava. As conversas permaneciam inteis. Nizan, adepto do materialismo histrico,
deu-me um dia uma prova de sua Uberdade; realizou um ato, cujos vnculos com o
passado no pude encontrar, j que desconhecia suas circunstncias. Um dia, ele se
ausentou do liceu de sexta at segunda-feira tarde. Quando regressou, perguntei-lhe
aonde tinha do. Disse-me que fora circuncisar-se. Fiquei muito surpreso. Nizan
era catlco, filho de uma me muito catlica, e eu no conseguia entender seus motivos.
Interrogueio e ele me disse que aquilo era mais higinico, mas no deu maiores
explicaes. O fato me parecia sem causa. Ele decidira circuncisar-se - deciso tola, j
que nada a justificava. Procurara um mdico que o circuncisara, e tinha
ficado dois ou trs dias num hotel, com um curativo na glande.
S. de B. - Nessa poca, voc assimilava de alguma maneira a liberdade do ato gratuito?
J .-P. S. - Em grande parte. No entanto, o ato gratuito, tal como definido e descrito em
Ls faux-monnayeurs de Gide, no me seduzia. Quando lia esse livro, no
me deparava com a liberdade tal como eu a entendia. Entretanto, a circunciso de Nizan
era, para mim, um ato gratuito, que na verdade decorria, evidentemente, de
motivos que ele me ocultara.
S. de B. - Sua concepo de liberdade era, no fundo, a liberdade estica: o que no
depende de ns no importante e o que depende de ns a liberdade; por conseguinte,
somos livres em qualquer situao, em qualquer circunstncia.
J .-P. S. - Certamente era isso, mas, no entanto, um ato que vinha de mim nem sempre
era um ato livre. Embora conservasse permanentemente o sentimento de mnha
liberdade...
Para mim, liberdae e conscincia eram o mesmo. Ver e ser livre eram o mesmo. Porque
era
460
algo que no era dado; vivendo, criava sua realidade Mas todos os meus atos no eram
livres. readad
S. de B. - Isso no encerra um risco de faz-o tomar atitudes extremamente
reacionrias? Se todo mun do e livre isso perfeito, j no h por que ocupar- de
vidT e tem apenas que fazer Prpria vida, e consequentemente, podemos connar-nos
em
n: asn10 como se explica que no tenha -
p ' s' f Nunca chegou a isso As dificuldades que
homenr 0 em minhas lae T' comigo mesmo am-me a lhe outro sentid0 ompreendi que
a liberdade encontrava obstculos e foi nesse momento que
a contingncia me apareceu como oposta liberdade E como uma espcie de liberdade
das coisas que no ' namente necessitadas pelo instante precedene
. e 5. - Mas voc no tinha conscincia das opresses que as pessoas sofrem?
cincia das
J .-P. S. - Em certo momento, no.
S. de B. - De fato, discutimos sobre sso auandn voc ecrevia L'tre et l nant. Voc
dizia que poda
droT qualquer situao auando dere
i' s' ~Muito cedo Existe uma teoria simplista da iberdade: somos livres, sempre
escolhemos o que fa
emos, somos livres frente ao outro, o outro livre Tee a nos; encontramos essa teoria
nas obras de losoa mm ,o sple e eu a conservara como uma maneira cmoda de
denr minha iberdade, mas ela no correspondia ao que eu verdadeiramente queria dizer.
O que queria dizer
que soos responsveis por ns mesmo, ainda queos atos sejam provocados por algo
exterior a ns... Toda
d uma parte de ideia transmiti ns nroT ' outro Iad0 h a0 vem do dad: l de nos
mesmos e que se a a nossa brda iberade cn? VOItar ao problema P011" e social
erdade, como foi que voc passo de uma teoria
461
#muito individualista, muito idealista, para a ideia de que era preciso engajar-se numa
luta social e poltica?
J .-P. S. - Tive essa ideia muito mais tarde. No esquea que, at 1937-1938, eu atribua
muita importncia ao que chamava ento o homem s. Ou seja, no fundo, o
homem livre, na medida em que vive fora dos outros porque livre e faz com que as
coisas ocorram a partir de sua liberdade.
S. de B. - Sim; mas isso no o impedia, mesmo nessa poca, de interessar-se muito
plos problemas sociais, de posicionar-se veementemente, pelo menos em pensamento.
Por que foi que se colocou violentamente contra Franco, por exemplo, e a favor da
Frente Popular?
J .-P. S. - Porque pensava que o homem livre era aquele que optava pelo homem, tal
como ele , contra aqueles que queriam substitu-lo por uma imagem construda,
a imagem do homem fascista, ou mesmo pela do homem socialsta. Para mim, o homem
livre opunha-se a essas representaes sistemticas.
S. de B. - Acho sua resposta muito idealista. Os fascistas no querem apenas dar ao
homem a imagem do homem fascista. Querem, tambm, prend-lo, tortur-lo, obrig-lo
a fazer determinadas coisas.
J .-P. S. - Isso bvio. Mas falo do que pensava na poca. A tortura, por exemplo, que
considero horrvel, parecia-me uma consequncia da vontade dos fascistas de
obrigar os homens a serem homens fascistas, submetidos a princpios originrios da
doutrina fascista.
S. de B. - Por que sentia tal repugnncia por essa doutrina?
J .-P. S. - Porque ela negava a liberdade. O homem que, em minha opinio, deve decidir
sozinho, talvez junto com outros - mas sozinho, no fascismo estava dominado
por homens situados acima dele. Sempre detestei as hierarquias, e encontro em
determinadas concepes atuais, anti-hierrquicas, um sentido da liberdade. No pode
haver hierarquia com referncia liberdade. No
462
h nada que se sobreponha a ela, portanto decido sozinho, ningum pode forar minhas
decises.
S. de B. - Em suma, isso tambm definia suas relaes com o socialismo?
J .-P. S. - Sim. O socialismo era uma doutrina que me satisfazia bastante, mas que, em
minha opinio, no colocava os verdadeiros problemas. Por exemplo, o problema
do que era um homem no socialismo. Era preciso substituir a satisfao das
necessidades por uma concepo nteiramente materialista da natureza humana. E era
isso
que me incomodava, antes da guerra, no tocante ao socialismo. Era preciso ser
materialista para ser um socialista consequente, e eu no era materialista. No o era
em decorrncia de minha liberdade. Enquanto no encontrei um meio de materializar
essa liberdade coisa que fiz durante os trinta anos seguintes de minha vida -
havia alguma coisa que me desagradava no socialismo, porque a pessoa deixava de
existir em benefcio da coletividade Eles, s vees, empregavam a palavra liberdade,
mas era uma liberdade de grupo, sem nenhuma relao com a metafsica. Eu ainda
estava nisso durante a guerra e a Resistncia. Estava satisfeito comigo mesmo naquela
poca. Durante minha priso, em meu alojamento, noite, eu era o contador de
histrias, o farsista. A luz era apagada por volta das oito e meia. Colocvamos velas
numas caixinhas e eu contava histrias. Era o nico sentado e vestido, enquanto todos
os outs estavam deitados em seus, estrados. Eu adquirira uma espcie de importncia
pessoal. Era o rapaz que fazia rir, que prendia a ateno. S. de B. - Que relao tem isso
com a liberdade? J .-P. S. - Era eu quem transformava em unidade Pessoas
que ouviam, que riam, que se entusiasmavam ra uma unidade sinttica e eu era a
unidade que criava a outra unidade, a unidade social, e nessa unidade engajava minha
liberdade. Eu me via criando uma espcie de Pequena sociedade a partir de minha
liberdade.
S. de B. - Foi a primeria vez que voc teve a imPressao de uma certa eficcia de
natureza social. Quando tentou criar um grupo de resistentes denominou-o Socia-
463
#lismo e Liberdade. Portanto, comeava a pensar que isso se podia conciliar?
J .-P. S. - Sim. Mas distinguia os dois conceitos. Perguntava-me se o socialismo pode
integrar a liberdade.
S. de B. - Levou depois trinta anos para definir o que entendia por liberdade?
J .-P. S. - Dediquei-me muito a isso em L'tre et l nant e em Critique de Ia raison
dialectique.
S. de B. - Tambm em Sam( Genet. O que espantoso nesse livro que quase j no h
um mnimo de lberdade concedida ao homem. Voc d uma importncia extrema
formao do indivduo, a todo o seu condicionamento. Fala de vrias pessoas, no
apenas de Genet, e no h praticamente nenhuma que surja como um ser livre.
J .-P. S. - Ainda assim, esse menino homossexual agredido, violado, conquistado por
jovens pederastas, tratado um pouco como um joguete plos valentes de seu meo,
torna-se o escritor J ean Genet. Houve a uma transformao que obra da liberdade. A
liberdade a transformao de J ean Genet, menino homossexual e infeliz, em
J ean Genet, grande escritor, pederasta por opo e, se no feliz, seguro de si. Tal
transformao poderia muito bem no ter ocorrido. A transformao de J ean Genet
se deve verdadeiramente ao uso de sua liberdade. Ela transformou o sentido do mundo,
dando-lhe um outro valor. Esta liberdade e somente ela foi a causa dessa reviravolta,
a lberdade escolhendo-se ela mesma operou tal transformao.
S. de B. - Voc parece defnir a liberdade como uma inveno prpria que possvel em
determinados momentos. Quais os momentos de sua vida em que lhe parece ter
havido essas opes livres - ou antes, essas invenes?
J .-P. S. - Creio que houve um muito importante:
quando sa de La Rochelle para entrar no primeiro ano do liceu Henri IV. Nessa poca,
no fui perseguido. Confiaram-me at uma funo honorfica.
464
Paran' TV sim; mas "o foi voc quem deci r Por secoVaY; nem tampouco deixar de ser
o
ri TV1'11' s' t~No fui eu quem decidiu ir Para o Hen-
'v
,rn slm defrontei-me com outros menmos que aceitavam muito bem essa afirmo
S dT para mim totalmente o . ae . - um dos momentos de sua vida em an
0 qe houve
Era ade.Tds
nZ10 da Escola dIamsirt maa-noite. A parer de meia-noite, faamo parede Era
ao lado. Passvamos horas num outro bist onde encon
oh L "0 de que dermi" i" - - 0 foi a guerra.
"ode,or
S "de B - desde a iae de oio ano.
e.oapZare wm m u "'o
465
#j..p. s. - Isso mudou e foi retomado, a cada ve,
Tr- Ma, foi uma escolha fundamentl que
sempre permaneceu?
T p s - Sim. <e B - Voltemos aos momentos em que voc
al,na. seenh, senido livre, mas que rerospectvamete ITeTparera contra toda
e nmm; nou:, emndooc oodiamsta
rcmmrcmeumpairos frent d.
"TS -- aoun desor enrmeada de algumas viagens ao etrangeiro: estava mergulhad
nuaamplausoc.
Voc foi convocado. . _ , I p S - No a ecolhi, mas era preciso reagir de
uma determinada maneira. Todos n "lhero _ \ 0 im-
com outras pessoas
uma outra escolha, internamente? Por exemplo, uma escolha pta? 0-
lha.
466
'
n
S. de B. - Sim, at mesmo uma escolha colaboracionista, pr-nazista.
J .-P. S. - No, isso no, porque eu era contra os nazistas.
S. de B. - O pacifismo poderia ter sido uma tentao para voc. J discutimos sobre
isso. Eu estava mais prxima do que voc de um pacifismo maneira de Alain;
voc compreendera muito bem o que ocorreria se o fascismo se impusesse. Sua escolha
resumia o conjunto de suas atitudes.
J .-P. S. - Essa escolha permitiu-me, a seguir, ir mais longe: para a Resistncia, quando
voltei do cativeiro, e depois, ao socialismo. Tudo isso decorreu daquela
primeira escolha. Penso que ela foi absolutamente capital. Meus companheiros e eu
somos homens da guerra de
1940. Esses cinco anos de guerra, de cativeiro, de coexistncia com nossos vencedores
foram capitais para mim. O fato de viver ao lado de um alemo que nos venceu
e que, alm disso, era um simples soldado que no nos conhecia, que no falava francs,
foi uma experincia que tive, primeiro como prisioneiro, depois como homem
livre num pas subjugado. Comecei a compreender melhor o que era resistir
autoridade. Antes da guerra eu no resistia: desprezava um pouco as autoridades que
tinham
direitos sobre mim, ou seja, o governo, a administrao. Mas, a partir do momento em
que fui preso, essas autoridades eram nazistas, ou petainistas, em alguns casos.
Ora, voc e eu desprezvamos uns e outros, e, na medida do possvel, resistamos s
ordens que nos davam. Por exemplo, no tnhamos direito de passar para a zona
livre e passamos duas vezes. No tnhamos direito de ir a determinados bairros em
determinadas horas...
S. de B. - Fo a partir desse momento, em suma, que voc tentou conciliar a presena de
uma liberdade interna com a exigncia da liberdade para todos os homens?
Foi a partir desse momento que sua liberdade encontrou a dos outros?
J .-P. S. - Sim. ramos prisioneiros dos nazistas em zona ocupada. Apesar de tudo,
minha liberdade era mui-
467
#oorque no podia manifestar-se em todos os
5o
'TTo podiam mpos com es, cond,ao_
eo
S
lr
S de B - Voc tinha a ideia de uma sntese.
j .P S.' - Sim, certamente. Como uma esperana
p no fim como uma certeza, mas no fim.
S ?o B - Quais so os outros momentos de escolha que retrospectivamente lhe parecem
importantes? lha que retr p comunistas por
vnka de'1952-1956, interrompidas a partir do problema
s~ss:~
..ss
sagem da l D importante. Eu traba-
: .
s ue podem desembocar na morte. Nesse ponto niudei uito. Penso que h, efetivamente,
tuaoesem uene pode ser livre. Expliquei-me a respeito em L eTion Den... O
Pa Henrich um homem
que nunca foi livre, porque um homem da -ao mesm tempo tem uma relao com o
povo que absolu ne no se lia sua formao eclestic
Igreja se contradizem; ele prprio P;01 ssas forcas se contrapem e no pode jamais ser
livre. Morreporque nunc pde afirmar-se. Essa mudana ocorreu por volta de
1942-1943, at mesmo um pouco
468
mais tarde; passei da ideia estica de que somos sempre livres - que era uma noo
muito importante para mim, porque sempre me senti livre, no tendo jamais conhecido
circunstncias realmente graves onde j no pudesse sentir-me livre - ideia posterior
de que h circunstncias em que a liberdade est acorrentada. Tais circunstncias
decorrem da liberdade de outrem. Em outras palavras, uma liberdade acorrentada por
uma outra liberdade ou por outras liberdades, coisa que sempre pensei.
S. de B. - A ideia da Resistncia no era tambm de que, afinal, havia sempre uma sada
possvel, a morte?
J .-P. S. - Certamente. Havia muito disso. Essa ideia de acabar com a vida, no por um
suicdio, mas atravs de uma ao que pode desembocar na morte e que trar
seus frutos na medida em que ns mesmos somos destrudos, era uma ideia que estava
presente na Resistncia e que eu apreciava. Considerava um fim perfeito do ser
humano morrer livremente; muito mais perfeito do que um fim lento, com doenas,
envelhecimento, decrepitude, ou pelo menos uma diminuio das faculdades mentais
que v desaparecerem as liberdades bem antes da morte. Preferia a ideia de um
sacrifcio total, um sacrifcio consentido, e, conseqentemente, no limitando a
liberdade
de um ser cuja essncia a liberdade. E por essa razo que me acreditava livre em
qualquer circunstncia; mostrei, depois, no caso de Heinrich, que h inmeras
circunstncias em que no somos livres.
S. de B. - Como passou da ideia de que somos livres em todas as circunstncias ideia
de que a morte no uma sada que liberta, mas, ao contrrio, uma sada que
suprime a liberdade?
J .-P. S. - Conservo a ideia de que a liberdade consiste tambm em poder morrer. Ou
seja, se amanh uma ameaa qualquer pesar sobre minha liberdade, a morte ser
uma maneira de salv-la.
S. de B. - Muita gente no deseja morrer. Um operrio de fbrica que trabalha em linha
de montagem no se sente livre, mas no vai libertar-se escolhendo a morte.
469
#PS- No, ele no se sente livre. Ele no atri-
:
-
como P0""" que os outros tambm rpaeoc. L. Foi , is, f.nal-
p sm.o <dmisvel, no ,_conceM,d
liberdade que por um instante surgiu neles ne duida.
outra? p s - Ao mesmo tempo, creio eu, em que ps-
mos, .1. >recusa; -Vm:
os homens uns :u rono sentido de que cada um, para ser livre tem necessidade da
liberdade de todos. Foi por volta de
S de B - Que pensa atualmente sobre a liberdade? Sobre sua liberdade e sobre a
liberdade em geral?
470
J .-P. S. - Sobre minha liberdade no mudei. Penso que sou livre. Como muitos, fui
alienado em alguns planos. Fui oprimido por ocasio da guerra. Fui prisioneiro;
no era livre, quando prisioneiro. No entanto, vivi minha maneira de ser prisioneiro com
uma certa liberdade. No sei por que, mas considero-me mais ou menos responsvel
por tudo o que me aconteceu. Responsvel, claro, em circunstncias dadas. Mas, no
conjunto, reconheo-me em tudo o que fiz e no penso ter sido determinado por
uma causa exterior.
S. de B. - No seu caso, porque voc no sofre coaes, um privilegiado e pode,
portanto, dispor de sua vida mais ou menos como quer. Mas, quando falava dos
operrios
que trabalham em linha de montagem, voc disse: eles no se sentem livres. Voc acha
que eles no se sentem livres ou que no so livres?
J .-P. S. - J lhe disse: o que faz com que eles sejam determinados a ao dos outros
homens sobre eles, o que acarreta opresses, deveres, pseudocontratos que
os mistificam, em suma, uma escravido na qual a liberdade de pensar e de agir
mistificada. Ela existe ainda, do contrrio, por que se revoltariam? Mas mascarada
por representaes coletivas, por aes feitas e refeitas, todos os dias sob coero, por
concepes ensinadas e no por pensamentos prprios, por uma falta de conhecimentos.
E a liberdade lhes aparece, s vezes, como, por exemplo, em 1968, sob outros nomes
que no o seu; mas a liberdade que desejam quando querem derrubar, eliminar
ou talvez matar os seus opressores, para descobrir um Estado em que seriam
responsveis por eles mesmos e pela sociedade. Penso que 1968 foi um momento em
que eles
tomaram conscincia da liberdade, para perd-la a seguir. Mas esse momento foi
importante e belo, irreal e verdadeiro. Era uma ao atravs da qual os profissionais,
os operrios, as foras vivas tomaram conscincia de que uma liberdade coletiva no era
a combinao de todas as liberdades individuais. 1968 foi isso. E a creio
que houve uma percepo de cada um, de sua liberdade e da liberdade do grupo a que
pertencia. Momentos assim
471
#surgiro frequentemente na Histria. A Comuna era desse
tipo.
S. de B. - Voc v algo a acrescentar sobre suas prprias relaes com a liberdade?
J .-P. S. - Isso representa, repito, algo que no existe, mas que se faz pouco a pouco e
que sempre esteve presente em mim, e que s me deixar com a morte. E penso
que todos os outros so como eu, mas o grau de conscincia e de clareza com que esta
liberdade lhes aparece varia de acordo com as circunstncias, com sua origem,
seu desenvolvimento, seus conhecimentos. Minha ideia de liberdade modificou-se por
minha relao com a histria; eu fazia parte da histria, era levado, quisesse
ou no, para determinadas modificaes sociais que ocorreriam qualquer que fosse a
minha posio quanto a elas;
foi isso que aprendi naquele momento, isto , uma modstia sadia e, s vezes, horrvel.
Em seguida, e isso ainda permanece atualmente, aprendi que o essencial da
vida de um homem, da minha, conseqentemente, era a relao entre termos que se
opunham um ao outro, como, por exemplo: o ser e o nada; o ser e o devir; a ideia
de liberdade e a do mundo exterior, que, de certa maneira, se opunha minha liberdade.
Liberdade e situao.
S. de B. - Voc tomou conscincia de que a sua liberdade se opunha presso da
histria e do mundo.
J .-P. S. - isso, para que a minha liberdade triunfasse, era preciso agir sobre a histria e
sobre o mundo, e obter uma relao diferente do homem com a histria
e com o mundo. Foi esse o ponto de partida. Conheci primeiro uma espcie de liberdade
individual, antes da guerra, ou pelo menos acreditei conhec-la; isso durou
muito tempo, assumiu diversas formas, mas, no conjunto, tratava-se da liberdade de um
indivduo, que tentava exprimir-se e triunfar sobre foras exteriores. Durante
a guerra conheci algo que me parecia absolutamente contrrio liberdade: primeiro, a
obrigao de partir para combater, cuja razo no captava muito bem, embora
fosse inteiramente antinazista; no compreendia muito bem por que era preciso que
milhes de homens se en-
472
frentassem at morte; foi esta a primeira ve em aue capte a mnha contradio: no
engajamento p a erra; desejava-o livre e, no entanto, ele me impunha ate morte,
algo que eu no tinha verdadeira e livreme e desejado. Depois, foi a liberdade da
Resistncia que
lberd T fora de uma sociedade nica a liberdade de indivduos que se opunham a ela, e
que eu
vTam1 que deviam faz-10 porque eram h e viam remente o que queriam: triunfar. Na
Libertao.
senti que as foras que eles tinham desencadeado eram da mesma natureza que as foras
nazistas; no que tivessem os mesmos objetivos, que utilizassem procedimentos
como o assassnio de milhes de judeus e de milhes de russs mas a fora coletiva e a
obedincia s ordens eram da mesma espcie. E a chegada do exrcito americano
rana pareceu a muitos, entre os quais eu me encon trava, uma tirania.
tia afoT0 se tornaram gaullistas " eu, mas sentia algo que os outros sentiam, a
necessidade de uma
mT10 T1 francesa qentemente a legitimidade de um poder como o de De Gaulle No
Pensava nisso, mas sentia a fora desse ponto de vista Naquele momento, ento, a partir
da Libertao e:
cou o surgimento de um partido comunista muito f muito mais forte do que jamais o
fora na Frana antes da erra; inclua um tero dos franceses. Nesse moment tornou-se
necessrio tomar posio frente aos grup que nos governavam. Pessoalmente, eu
permanecia fores como alis Merleau-Ponty, por outras razes; eu tinha'
quaa a revlsta Les Temps Modernes' ra dees querda, mas no comunistas.
S. de B - Voc a fundou, em parte, para tomar Posio precisamente na luta poltica?
mn' s' ~No>exatamente' fundei-a mais para mostrar a importncia, em todos os
planos, dos acontecientos da vida quotidiana, bem como da vida coletTva diplomtica,
poltica, econmica; tratava-se de mostrar que todo acontecimento tinha diferentes
estratos, e que cada um destes era um sentido do acontecimento o ms
473
#mo sentido, alis, de estrato em estrato, modificado simplesmente por aquilo que,
naquele determinado estrato, estava em jogo; a ideia principal era mostrar que
tudo na sociedade aparece com mltiplas facetas e que cada uma dessas facetas
exprime, sua maneira, mas completamente, um sentido que o sentido do
acontecimento.
Encontramos esse sentido sob formas inteiramente diferentes e mais ou menos
desenvolvidas, em cada nvel dos estratos, que os constituem em profundidade.
S. de B. - Mas, em tudo isso, parece-me que h muita coerncia; voc falou, ainda
agora, de contradio;
ora, voc leva hoje uma vida de homem de letras, sua literatura encontrou uma maneira
de definir-se, ela engajada; voc dirige Ls Temps Modernes, que representa
tambm esta tendncia, isso me parece muito coerente;
por que falou h pouco de contradio e disse que, a partir da guerra, sua vida
transcorreu dentro de certa contradio?
J .-P. S. - Porque a coerncia desejvel na vida de um homem, mas s se aplica tese
ou anttese; a tese um conjunto de ideias, de costumes, e, de preferncia,
deve ser mais ou menos coerente, ainda que ela prpria compreenda contradies
menores; e assim tambm a anttese: deve haver coerncia nela. Cada uma das duas,
tese e anttese, se explica por sua oposio outra. Ora, eu lhe expus aqui o que se pode
chamar a tese; falta explicar-lhe a anttese. O que constatei, na primeira
parte de minha vida, foi, sob uma forma ainda um pouco vaga, a oposio da minha
liberdade em relao ao mundo. A guerra e o aps-guerra foram apenas um
desenvolvimento
desta oposio, e isso eu quis mostrar quando escolhi o ttulo do nosso movimento de
resistncia: Socialismo e Liberdade. A ideia de uma coletividade ordenada, na
qual cada um se desenvolve segundo princpios que so os seus, e, por outro lado, a
ideia de uma liberdade, ou seja, um livre desenvolvimento de cada um e de todos,
so ideias que, na poca, me pareciam opor-se - ainda atualmente elas existem cada uma
de seu lado -, e, o que descobri aps a guerra, foi que minha contradi-
474
co e a contradio deste mundo residiam na ideia de liberdade, na ideia do pleno
desenvolvimento, do pleno desabrochar da pessoa confrontada com a ideia do
desenvolvimento
igualmente pleno de uma coletividade qual pertence a pessoa, surgindo ambas
inicialmente como contraditrias. O pleno desenvolvimento de um cidado no tem
necessariamente
como preldio e pleno desenvolvimento da sociedade; a este nvel que se poderia dar a
explicao da minha histria, da minha histria clara de aps a guerra, de
minha histria obscura de antes da guerra; ou seja, que a ideia da minha liberdade
implica a ideia da liberdade dos outros. S posso sentir-me livre se os outros
o so. Minha liberdade implica a liberdade do outro e no limitvel. Por outro lado, sei
que h instituies, um Estado, leis, em suma, um conjunto de coeres
que se impem ao indivduo, e que absolutamente no o deixam livre para fazer o que
quer. a que vejo uma contradio, porque preciso que o mundo social tenha
determinadas formas e preciso que minha liberdade seja inteira. Isso apareceu tambm
durante a Ocupao; a resistncia implicava normas importantes e rigorosas,
como o trabalho em sigilo, ou misses particulares e perigosas, mas cujo sentido
profundo era a construo de uma outra sociedade que devia ser livre;
conseqentemente,
a liberdade do indivduo tinha como ideal a sociedade livre pela qual ele lutava.
S. de B. - Quais foram os momentos em que voc viveu mais intensamente essa
contradio? E de que maneira, em cada circunstncia, voc lhe deu uma soluo?
J .-P. S. - Necessariamente, apenas solues provisrias. Houve primeiro o R.D.R.
(Rassemblement Democratque Rvolutionnaire) com Rousset, pessoas como Aitmann,
o redator-chefe de Libration...
S. de B. - De Libration dessa poca...
J .-P. S. - Libration dessa poca, um jornal radical-socialista, depois comunisante,
comunista e em seuida, novamente comunisante. Esse movimento queria ser distinto
do partido comunista, mas revolucionrio Procurando reaizar atravs da revoluo o
socialismo.'
475
#Tudo isso no passava de um amontoado de palavras grandiloqentes e que podia no
significar nada. Em pr miro lugar, o problema de reforma/revoluo se coloca
Satamente:
De que revoluo se trata? Uma revolu?o que desejaria simplesmente apoiar e suscitar
refor mas? Nesse caso, trata-se de alguma coisa contra a qual e reciso inscrever-se:
o socialismo reformista de antes da uerra Ou se tratava verdadeiramente de um
movimento revolucionrio? Parece-me que, se havia algumas pessoas deal tendncia, as
medidas que o R.D.R. tomava eram muito mais reformistas do que revolucionarias;
especiamente porque Rousset, ex-trotskista, no tinha absolutamente nada de
revolucionrio,
a no ser o palavrono , no ue me diz respeito, ao invs de entrar pessoalmente e
resolutamente, eu mais tinha sido ogado no RR. Uma vez l, quiseram dar-me uma
posio importante, eu tinha condies para isso; mas Rousset e eu discordvamos
muito. Via que Rousset se orientava em direao ao reformismo, que queria angariar
fundos para o R_D solicitando-os aos sindicatos operrios americanos, o que me parecia
uma total loucura, j que significava colocar um grupo de franceses sob a
dependncia financeira do grandes sindicatos americanos, que so to diferentes dos
nossos, e da poltica de esquerda que era colocada em Primero plano. Eu me opunha
a essa tendncia de
Tcontradio se tornou gritante quando, depois de uma viagem Amrica onde
recolhera alguns centavos, Rousset (e Altann, especialmente) organizaram uma espcie
de congresso, na Frana, com pessoas que se podiam interessar pelo R.D.R., e para esse
congresso convidaram americanos. .
S de B - Mas voc j contou isso; o que me interessa ver o que, por um momento, lhe
pareceu uma
soluo sem validade. . . T p s - No era vlido, porque muito cedo se
viu
que se tratava de um movimento reformista e no revolucionrio, e que a forma
escolhida no era sslve. quele momento, no era possvel instaurar, ao lado do
476
...
partido comunista, uma fora revolucionria diferente. Havia uma contradio entre
uma liberdade que se opunha ao partido comunista, e uma revoluo, isto , movimento
de massa, na medida em que esta revoluo rejeitava a ideia de liberdade. A seguir,
depois de muitas hesitaes, houve outro momento contraditrio: o momento da
Operao Ridgway; Ridgway foi a Paris, houve uma manifestao comunsita contra
Ridgway, manifestao violenta, e poucas horas depois, Duelos, que passava de carro
com dois pombos em seu assento, foi preso sob pretexto de tratar-se de pombos-correio.
Era uma acusao grotesca, que teve como resultado fazer com que eu escrevesse
um artigo defendendo os comunistas; artigo que foi publicado em vrios nmeros de
Ls Temps Modernes e que provocou uma mudana do partido em relao a mim.
S. de B. - Como foi levado a escrever esse artigo? J .-P. S. - Curiosamente, foi Henri
Guillemin quem me decidiu a considerar muito grave a priso de Duelos, atravs
de L Coup du 2 dcembre, livro sobre a chegada ao poder de Napoleo III, no qual
fornecia extratos de jornais, anotaes ntimas, livros de pessoas favorveis
chegada de Napoleo In ao poder.
S. de B. - Ento voc tomou a deciso de apoiar o partido comunista, sem filiar-se a ele,
naturalmente.
J .-P. S. - Escrevi Ls communistes et Ia paix sem ter nenhuma vinculao com o
partido, sendo antes seu inimigo, para dizer que era vergonhosa a priso de Duelos.
Depois, pouco a pouco, os artigos se transformaram numa espcie de quase elogio e at
de elogio ao partido comunista contra as formaes francesas do momento; e
o resultado foi que o partido me enviou Claude Roy e um outro - Claude Roy
representando o elemento que podia falar aos intelectuais no comunistas - para
perguntarme
se eu no me associaria aos intelectuais que protestavam contra a priso de Henri
Martin. Aceitei; participei das reunies desses intelectuais; eu propunha que se
fizesse um livro exigindo a libertao de Henri Martin, incluindo diversos artigos sobre
os quais faria uma espcie
477
#de comentrio. Eu o fiz, chamou-se L'affaire Henri Mrm, foi publicado; infelizmente,
o livro apareceu quinze dias depois da libertao de Henri Martin, em virtude
de dificuldades de edio, mas o fato que ele estava em liberdade nesse momento.
S. de B. - Depois voc esteve no congresso da paz. j.-p. S. - Na ocasio, a atitude do
partido comunista em relao a mim mudara e tambm a minha em relao ao partido
comunista; tnhamos passado a ser aliados. O resto da esquerda j no existia; os
socialistas estavam do lado da direita, lutavam contra o partido comunista e o
atacavam violentamente; a nica esquerda que se manteria, a meu ver, seria uma
esquerda ligada ao partido comunsita; Ls Temps Modens, apesar de profundas
reservas,
aliou-se ao P.C. para fazer uma poltica
favorvel ao partido.
S. de B. - De que maneira isso representava uma
soluo para suas contradies?
J .-P. S. - No fundo, no era uma soluo; isso nunca durou muito tempo, mas durante
minha vida aconteceu-me vrias vezes ter momentos breves em que abandonava a
liberdade em favor de uma ideia de grupo.
S. de B. - Naquele ocasio voc pensava que o partido comunista era como uma etapa
para o socialismo?
J .-P. S. - isso, no pensava que nossos objetivos
fossem idnticos, mas a caminhada com eles era fcil.
S. de B. - E isso durou at quando?
J .-P. S. - Durou de 1952 a 1956...
S. de B. - Foi em 1954 que voc esteve na U. R.S. S.;
ainda estava em bons termos com eles.
J .-P. S. - Sim, mas o que vi na U.R.S.S. no me entusiasmou. claro que me mostraram
o que podia ser mostrado e tive muitas reservas.
S. de B. - No entanto, fez um texto muito elogioso em Libration.
J .-P. S. - Foi Cau quem o fez.
S. de B. - preciso dizer que voc estava muito cansado.
478
|
J .-P. S. - Eu dera a ele um certo nmero de indicaes e sara de frias com voc.
S. de B. - Sim, para repousar. Depois, em 1955, houve em Helsinki outro congresso da
paz; alis, eu o acompanhei.
J .-P. S. - Sim, conhecemos argelinos que chamaram a ateno para a situao da
Arglia.
S. de B. - De fato. E em 1956, houve uma ruptura com o partido comunista.
J .-P. S. - Ruptura que realmente nunca se desfez;
desfez-se de certa maneira a partir de 1962, quando retornei U.R.S.S.
S. de B. - Retornamos juntos U.R.S.S. em 1962, duas vezes at; depois em 1963,
1964, 1965.
J .-P. S. - Mas eu no estava to bem assim com os comunistas.
S. de B. - Mas tnhamos amigos l, entre aqueles que eram profundamente anti-
stalinistas. Houve outro engajamento que foi importante para voc: contra a guerra da
Arglia.
J .-P. S. - Sim.
S. de B. - Voc teve atividade muito importante durante essa guerra. A seguir, depois de
1968, comearam suas relaes com os maostas. Como foi que chegou a conciliar
seu desejo de liberdade individual com uma ao coletiva que supe disciplinas,
ordens?
J .-P. S. - Quando me engajei de uma maneira ou de outra na poltica e realizei uma
ao, jamais abandonei a ideia de liberdade; ao contrrio, cada vez que agia me
sentia livre. J amais pertenci a um partido. Posso ter tido simpatias por um partido
durante um tempo - atualmente simpatizo com a tendncia maosta, que comea
a dispersar-se atualmente na Frana, mas que nem por isso est morta - e simpatias mais
durveis. Estive, portanto, em ligao com grupos, sem pertencerlhes. Pedam-me
atos: eu era livre para responder sim ou no e me sentia sempre livre aceitando ou
recusando. Vejamos, por exemplo, minha atitude durante a guerra da Arglia. Foi
o momento em que me afastei do partido,
479
#j que o partido e ns outros no desejvamos exatamente a mesma coisa. O partido
tinha em vista a independncia argelina, mas como uma possibilidade entre outras;
quanto a ns, estvamos com a F.L.N. para exigir a imediata independncia argelina.
Encontramo-nos algumas vezes para tentar constituir um grupo anti-O.A.S.; alis,
isso no levou a grandes resultados, porque os comunistas quiseram solapar nosso
esforo. Sempre considerei o colonialismo como pura ao de roubo, de conquista
brutal de um pas e de explorao de um pas por outro de uma maneira absolutamente
intolervel; considerava que todos os Estados coloniais, cedo ou tarde deveriam
abrir mo de suas colnias. A guerra argelina me encontrava absolutamente de acordo
com os argelinos contra o governo rancs digo governo, embora muitos franceses
fossem favorveis conservao da Arglia francesa; havia lutas constantes com
franceses, e o esfriamento de amizades e de ligaes com queles que eram pela
libertao
da Arelia Eu ia at mais longe, estava com J eanson em ligaes com a F.L.N. e escrevi
em seu jornal clandestino;
conto isso para mostrar simplesmente como a liberdade estava em jogo nesse caso.
Certamente, foi a liberdade oriinal que me fez conceber, aos dezesseis anos, o
colonialismo
como uma brutalidade anti-humana, como uma ao que destrua os homens em
benefcio de interesses materiais. A liberdade que me constitua como homem constitua
o colonialismo como uma abjeo; destrua outros homens, constituindo-se como
homem e, por isso, constituir-me como homem era levantar-me contra o colonialismo.
Talvez tenha aprofundado o que pensava aos dezesseis anos, mas sempre o pensei at
depois da guerra da Arglia e ainda atualmente. Estive no Brasil em 1960. No Rio
recebi um telefonema de meus amigos de Paris, avisando-me a data do julgamento de
J eanson do ulgamento de seus amigos e colaboradores, e pedindo-me que desse um
depoimento que seria lido no tribunal, j que no poderia estar de volta naquela data.
Esse depoimento evidentemente, no podia ser ditado; o telefone estava muito
ruim, eu ouvia mal, ouviam-me mal; eu me hmi-
480
tava a repetir aos meus amigos os poucos pontos essenciais sobre os quais queria que se
apoiasse o depoimento;
alis, eles os conheciam, e sabia que fariam um born trabalho; deixei que redigissem
esse depoimento: quando o li, achei-o perfeitamente correto.
S. de B. - Voc tambm escreveu muitos artigos antes de 1960.
J .-P. S. - Claro que simi Escrevi artigos contra a guerra da Arglia, contra as torturas.
S. de B. - Onde os escreveu?
J .-P. S. - Em Ls Temps Modens; em L'Express e tambm no jornalzinho de J eanson,
Vrite pour, que era mais ou menos clandestino.
S. de B. - Houve outras coisas?
J .-P. S. - No Brasil, o representante argelino quis ver-me; fui v-lo e conversamos sobre
a propaganda em favor dos argelinos; estvamos perfeitamente de acordo.
Alm disso, fiz uma conferncia em So Paulo sobre a guerra da Arglia. Lembro-me
dessa conferncia que foi uma verdadeira enchente, tal o afluxo de gente; eram
sobretudo estudantes; escancararam as portas e lotaram a sala de ponta a ponta. Expus
minha concepo da guerra da Arglia, que era tambm a da F.L.N., um francs
quis responder-me, o que representava uma certa coragem, porque a totalidade da sala
era plos argelinos; foi vaiado, teve a maior dificuldade em falar, e eu lhe
respondi; ele desapareceu e a reunio se transformou numa manifestao pr-argelinos.
Em tudo isso me sentia perfeitamente livre; teria podido recusar-me a fazer
uma conferncia sobre a guerra da Arglia e tratar de um tema literrio. Mas queria
descrever os fatos atuais e precisos que colocavam a liberdade em perigo; em
meu foro ntimo era livre fazendo essa conferncia, e, ao mesmo tempo, o tema dessa
conferncia era: a liberdade do povo argelino. Reencontro, a esse nvel, a ligao
da liberdade, de minha liberdade com a liberdade como fim e o exerccio da liberdade
contra tudo o que pode censur-la, isto , a ao de outros homens. Tratava-se,
pois, de apresentar a liberdade do povo argelino como um fim supre-
481
#mo e absoluto, e a guerra como um esforo para impedir homens de se libertarem.
S. de B. - J que citou fatos, h um que voc esqueceu e que justificou que lhe pedissem
seu testemunho:
foi o Manifesto dos 121; isso foi muito importante. Ameaavam-nos de priso quando
retornssemos Frana por havermos assinado esse manifesto; o processo de J eanson,
em grande parte, girava em torno do manifesto.
J .-P. S. - Sim; e naquela ocasio houve passeatas de pessoas que eram a favor da guerra
da Arglia, nos Champs-Elyses, onde gritavam: "Que morra Sartre!" O governo
francs queria levar-me justia por haver assinado, como aos cento e vinte outros
signatrios do Manifesto. Isso tambm estava por trs, e a tambm eu era livre.
Nunca fiz parte de nenhuma organizao pr-argelinos, mas simpatizava com todas e
era recebido em todas. O que queria mostrar era como esta pequena ao, sem grande
importncia, como o conjunto dos atos realizados no Brasil para popularizar a causa dos
argelinos, provinha de minha liberdade, que eu no estava condicionado por
ningum, que agia em funo de minhas prprias teorias, de meu credo poltico e que
me engajava totalmente. A seguir, estivemos em Cuba. Voltamos pela Espanha. No
cruzamento da fronteira houve discusses com os funcionrios da alfndega que
acabaram deixando-nos passar, no sem antes ter avisado nosso regresso a Paris. Alguns
amigos teriam preferido que regressssemos de avio, para que, se houvesse priso, ela
ocorresse diante de todo mundo; mas ns consideramos que era intil fazer
provocao e que mais valia retornar tranquilamente a Paris, oficialmente, mas
discretamente. Amigos foram buscar-nos em Barcelona: Pouillon, Lanzmann e Bost.
Levaram-nos
at Paris, onde comissrios comearam a tomar nossos depoimentos e ficou decidido
que dentro de oito dias iramos ao juiz de instruo; na vspera, o pobre juiz
adoeceu, soubemo-lo plos jornais, oito dias depois continuava doente, e a brincadeira
acabou a; nunca mais ouvimos falar de nossa inculpao como signatrios do
Manifesto dos 121. Cito apenas um pequeno aconte-
482
cimento entre centenas de outros. Quis mostrar a como a liberdade me fez descobrir,
num momento dado, a verdadeira relao dos argelinos com os franceses, ou dos
franceses com os argelinos: uma opresso. Forosamente, eu era contra essa opresso,
em nome da liberdade que me parece constituir a base da existncia de cada
homem e, enquanto tal, tinha que agir, cada vez que isso ocorria, e na medida de minhas
possibilidades, pela liberdade; os meios que utilizava dependiam de causas
e vnculos necessrios que j nada tinham a ver com uma afirmao livre; no entanto,
eram penetrados pela liberdade, quando os utilizava; eram necessrios para
afirmar a liberdade no mundo.
S. de B. - Ter sido o amor pela liberdade que o levou a tentar fazer um determinado
trabalho com os escritores, os intelectuais do Leste? Refiro-me s viagens
que fez Rssia, durante os anos 1962-1966: teriam elas o objetivo de tentar ajudar os
intelectuais liberais a se liberalizarem?
J .-P. S. - Liberal uma palavra ignbil.
S. de B. - Bem, eles mesmos se designavam assim. Mas era essa sua inteno?
J .-P. S. - Sim. Queria ver se era possvel, atravs de converses, mudar um pouco seu
ponto de vista sobre o mundo, sobre as foras com que se defrontavam, sobre
a ao a realizar, mas ia Rssia, sobretudo, para encontrar-me com pessoas que
pensavam como eu; isto , intelectuais que j tinham feito esse trabalho pessoalmente.
Dois ou trs.
S. de B. - Voc deixou de ir Rssia em 1966 quando houve o processo de Siniavski e
Daniel. Voc considerava que a causa dos intelectuais que se diziam liberais
estava mais ou menos perdida. Mas houve um fato que ainda foi muito mais
determinante: a invaso da Tcheco-Eslovquia.
J .-P. S. - Sim. J ocorrera a invaso da Hungria.
S. de B. - Que fez com que voc rompesse co os comunistas. Ainda assim, por volta de
1962, voc reatou um pouco com a U.R.S.S., como dissemos ainda agora.
483
#Ao passo que, no caso em questo, foi definitivo. Como se afirmaram suas posies
quando se tratou da Tcheco-Eslovquia?
J .-P. S. - A interveno na Tcheco-Eslovquia pareceu-me particularmente revoltante,
porque mostrava claramente a atitude da U. R. S. S. frente a pases socialistas,
daquilo que se chamava o glacis* sovitico. Tratavase de impedir que os regimes
mudassem, se necessrio, por meios militares. Fui convidado por meus amigos tcheco-
eslovacos
durante um perodo muito curioso, que logo terminou: as tropas soviticas estavam
presentes, os tcheco-eslovacos organizavam uma resistncia intelectual em Praga,
especialmente; ao mesmo tempo, duas peas minhas estavam sendo representadas: Ls
mouches e Ls mains sales, com intenes evidentemente anti-soviticas. Assisti
s duas peas; falei ao pblico, sem disfarar meu pensamento, sobre a agresso
sovitica; falei tambm na televiso em termos um pouco mais moderados. Em resumo,
eles me utilizaram para que os ajudasse na luta contra o inimigo, que estava presente,
mas que no vamos. Fiquei l, alguns dias, estive com intelectuais tchecos
e eslovacos; falei com eles; todos estavam profundamente revoltados com esse ataque e
decididos a lutar. Parti, no entusiasmado, certamente, mas convencido de
que a situao no se resolveria facilmente, que havia uma luta em andamento do povo
tcheco-eslovaco contra seus opressores soviticos, e que essa luta certamente
iria adiante. Alis, pouco depois escrevi um artigo sobre o assunto, um prefcio para um
livro de Liehm.
S. de B. - Sim, no qual haviam sido reunidos depoimentos.
J .-P. S. - Testemunhos da maioria dos intelectuais de renome da Tcheco-Eslovquia,
todos contra a interveno.
S. de B. - E depois da Tcheco-Eslovquia, qual foi sua atividade? Teve ligao com os
acontecimentos de Maiodel968?
* Zona protetora formada plos Estados satlites da U.R.S.S. (N. do T.)
484
J .-P. S. - Sim, mais tarde. Tratamos um pouco dos problemas universitrios em Ls
Temps Modernes;
discutimos, em particular, o curso professoral, o curso magistral. Houve artigos de
Kravetz; e depois, como todos os franceses, fomos surpreendidos plos acontecimentos
de Maio de 1968. Na ocasio, no fiquei muito malvisto plos jovens.
S. de B. - Voc fez uma declarao pela Rdio Luxembourg em favor dos estudantes,
que at mesmo a distriburam sob a forma de panfletos no Qjuartier Latin.
J .-P. S. - Efetivamente. E em maio de 1968 falei no salo da Sorbonne, como me
haviam solicitado; fui l, falei perante uma sala lotada. Era curioso, j que a Sorbonne
estava num estado estranho, ocupada plos estudantes. E depois, falei tambm na
Cidade Universitria. Em suma, tive algum contato com maio de 1968. Depois aquilo
ficou um pouco vago; lembro-me de ter sido chamado para falar na Sorbonne, por
amigos estudantes, que discutia um ponto especfico: fariam ou no uma manifestao
no dia seguinte? Isso no me dizia respeito e eu s podia falar num plano geral; tambm
me haviam colocado um papel na mesa, dizendo: "Seja breve, Sartre." Isso
significava que no faziam questo especial de ouvir o que tinha a dizer-lhes, que na
verdade eu no tinha nada a dizer-lhes, j que fazia muito que no era mais
estudante e no era professor, no podia falar a ttulo de nada. De toda maneira, falei um
pouco, fui muito aplaudido quando subi tribuna, menos um pouco quando
desci, porque no fora o que esperavam. Esperavam pessoas que dissessem: " preciso
fazer uma manifestao por tal ou tal razo, preciso faz-la em tais condies
etc." Representei um papel mais tarde, em 1970, quando L Bris e L Dantec, diretores
sucessivos de La Cause du Peuple, foram presos e os maostas, que no conhecia,
que at ento me atacavam em La Cause du Peuple pediram-me que dirigisse La Cause
du Peuple.
S. de B. - Naquela ocasio era a Esquerda Proletria.
485
#T -P S. - Sim; a Esquerda Proletria, partido maosta dirigido por Pierre Victor;
tambm a foi um ato livre nada me obrigava a aceitar, considerando que os maostas
no eram particularmente amenos comigo; nada tambm, e obrigava a recusar, porque
se tratava da esquerda revolucionria que atuara em maio de 1968 e tambm depois.
Mas a partir do momento em que a solicitao foi feita, aceitei; aceitei ser diretor.
Captava obscuramente todos os motivos que me levaram a aceitar; o que me motivava
era uma espcie de imbricao sinttica de todos esses motivos. Uma manh, um
maosta, j no me lembro quem, foi discutir comigo; respondi que sim, que aceitava,
que dirigiria o jornal a partir daquele momento Depois fui ao La Coupole, onde Victor e
alguns outros me esperavam para almoar. Foi l que o conheci;
ele disse a seus companheiros que ficara muito satisfeito
com nossa tarde.
S de B. - uais foram suas relaes com eles. TU 5. - Aceitei ser uma espcie de testa-de-
frro, sem uma ideia muito precisa sobre sua tendncia e seus princpios;
no pensava em dirigir, eles mesmos no me pediam, pensava somente dar-lhes meu
nome e, sendo o caso, agir com eles, para dar-lhes um pouco de tranquilidade e impedir
que fossem suprimidos como jornal e como grupo. O que complicou um pouco as
coisas, alis, foi que pouco depois houve o julgamento de L Bris e L Dantec no qual
eu ia testemunhar como terceiro diretor de La 'Cause du Peuple e solidarizar-me com
eles; nesse dia uma deciso do Ministro do Interior suprimiu a Esquerda Proletria.
O partido estava interditado. No mesmo momento, L Bris e L Dantec eram
condenados a penas de priso bastante considerveis; pouco tempo depois o prprio
Geismar
foi perseguido; escondia-se, mas acabou sendo encontrado e julgado; eu testemunhava
tambm a favor dele. No que me diz respeito, no me perturbavam, no me prendiam,
no consideravam que, pn fnsse realmente diretor de La Cause du Peuple; em
C LI lUi 1_
certo sentido isso era verdade, eu no tinha nenhuma vinculao com o que l se
escrevia; mas todo mundo
486
sabia que eu era diretor para impedir a priso dos diretores. verdade que um outro
diretor, mais jovem do que eu, que fizesse parte dos maostas, teria sido preso;
no o fui, porque achavam que isso provocaria muito escndalo. La Cause du Peuple
teve, assim, uma vida estranha, ao mesmo tempo oficial, de certa maneira, j que
era publicado e eu era o diretor, mas tambm interditado. Quando encontrados, os
vendedores de La Cause du Peuple eram detidos e ficavam presos por algumas semanas;
poucos nmeros foram confiscados na grfica, porque na vspera eram despachados em
caminhes, em grandes quantidades, e distribudos no interior e em Paris. Distribumos
o jornal na Avenida General-Leclerc e depois no Bulevar Poissonnire, duas aes
diferentes; fui colocado em um camburo e fiquei sob vigilncia. Essas aes levavam
a aproximaes com os maostas que faziam o jornal. Comearam a querer conversar
comigo; tnhamos reunies, nas quais Victor, Geismar e outros mais discutiam comigo
sobre determinada posio, determinada atitude e, finalmente, sem que me tornasse
verdadeiramente diretor durante esse primeiro perodo, comeava a sentir o interesse
da Esquerda Proletria; comecei a descobrir uma espcie de liberdade dos militantes,
liberdade que me influenciou no plano social e poltico; vi a a possibilidade
de conceber militantes livres em suas atividades de militantes, o que, de incio, pode
parecer uma contradio. E certamente no o caso de um militante comunista.
Sem jamais pertencer Esquerda Proletria, que, alis, como j disse, foi dissolvida,
mas continuou a existir sob uma outra forma, aproximei-me pouco a pouco de
algumas posies dos maostas; tive discusses cada vez mais profundas,
frequentemente a ss com Victor; vi o interesse que podia ter para mim a Esquerda
Proletria;
comecei a discutir com os redatores a respeito dos prprios nmeros e artigos de La
Cause du Peuple;
no final, dirigia pessoalmente um ou dois nmeros, reunindo diversos colaboradores; os
chefes no estavam cona, queriam ver em que dava isso; evidentemente, eu adotava
a direo das ideias maostas, mas na medida em
487
#que elas ...me seduziam. Fiz ento dois nfimeros desse gnero, depois mais ou menos
me retirei, mas mantendo meu nome na capa; e finalmente La Cause du Peuple
desapareceu.
Mas no o esprito maosta, que continua a existir e do qual me considero representante,
embora o nome maosta no signifique muito. Exprimimos um pouco as nossas
ideias no livro que Gavi, Victor e eu publicamos: On a raison de se rvolter. Assim foi,
pois, minha passagem poltica para a Esquerda Proletria de 1970 a
1973. S. de B. - Mas depois? Houve outro jornal? J .-P. S. - Libration\ Parecia normal
que fosse diretor de Libration, que no era um jornal maosta, que fora lanado
por maostas e outros representantes de grupos de esquerda. Pediram-me isso porque eu
tinha sido diretor de La Cause du Peuple; aceitei, porque achava i que isso
poderia significar um verdadeiro progresso, ter um jornal propriamente de esquerda, de
extrema esquer- j da, pondo o preto no branco, o que pensvamos de cada i
acontecimento. Tambm a fui diretor mais como testa- , de-ferro. No incio, o papel do
diretor no estava especificado; simplesmente, estou doente e isso me impediu
de representar um papel real em Libration. Atualmente, j no sou diretor, porque tive
que demitir-me por motivo | de doena, mas fao parte de um novo comit diretor
que decide quanto s diretrizes do jornal. Como voc sabe, ainda me sinto cansado, no
posso ler, nem escrever; de ;
certa maneira, ainda posso escrever, mas no ler o que escrevo; de toda maneira, uma
srie de procedimentos me permitem dar a conhecer minhas opinies. Aqui, ainda,
a liberdade foi sempre essencial, a razo de mi- | nhs opes. E o novo Libration foi
reestruturado du- l rante o vero; as reestruturaes tinham sido estudadas
por mim, Gavi, Victor e alguns outros; esse novo Libera- i tion que vai ser publicado
dentro de alguns dias poderia ter um born comeo desta vez.
S. de B. - Nestas conversas, voc parce fazer mui- r
ta questo de falar sobre sua relao com a poltica. Fa-
488
lou disso em suas entrevistas com Victor e Gavi, e ainda faz questo de falar a respeito
comigo. Por que razo, considerando que voc , em primeiro lugar e antes
de mais nada, um escritor, um filsofo?
J .-P. S. - Porque a vida poltica representou uma coisa que no pude evitar, na qual
mergulhei. No fui um homem poltico, mas tive reaes polticas numa srie
de acontecimentos polticos; de maneira que, a condio de homem poltico, no sentido
amplo, isto , no sentido de homem mobilizado pela poltica, penetrado de poltica,
uma coisa que me caracteriza. Os maostas, por exemplo, durante muito tempo, s
consideraram minha amizade com Victor como uma relao poltica.
S. de B. - O ponto de vista dos maostas no um ponto de vista eterno e universal. A
posteridade no considerar voc como um homem poltico, mas essencialmente
como um escritor, um filsofo, que, alm disso, teve algumas atitudes polticas, como
quase todos os intelectuais. Por que d essa importncia particular dimenso
poltica de sua vida?
J .-P. S. - Aos vinte anos era apoltico - o que talvez seja uma atitude poltica como
qualquer outra - e termino sendo socialista-comunista, e tendo em vista um
determinado destino poltico para os homens. Creio que passar de uma atitude apoltica
para uma atitude poltica propriamente dita representa uma vida. Isso ocupou
muito tempo em minha vida. Houve o R. D. R., minhas relaes com os comunistas,
minhas relaes com os maostas e tudo isso. Isso forma um conjunto.
S. de B. - Voc quer, ento, voltar sua biografia
Poltica?
J .-P. S. - preciso explicar o que significa no ter Poltca, de onde se originava isso,
porque era apoltico quando a conheci, e depois como a poltica envolve
alm e termina sendo adotada, de uma maneira ou de utra. Isso me parece essencial.
S. de B. - Pois bem, falemos disso.
J -P. S. - Pois bem, quando era criana a poltica a uma atividade que pertencia a cada
um; cada um
489
#tinha que cumprir determinados deveres, por exemplo, votar, e o fato de que todo
mundo votasse fazia com que o pas fosse uma repblica e no o Segundo Imprio
ou uma monarquia.
S. de B. - Voc quer dizer que havia uma atmosfera poltica em seu lar, em casa de seus
avs?
J .-P. S. - Sim, meu av era plos prncipes da In Repblica. Creio que votava pelo
centro; no falava muito das pessoas em que votava. Considerava que isso era sigiloso.
Coisa que era cmico, nessa famlia constituda por sua mulher, a quem isso pouco
interessava, por sua filha, que no estava a par de nada, e por mim, muito criana
para estar informado de tudo isso; mas, enfim, ele preferia ser discreto. Era o segredo do
homem que vota, era o poder poltico que ele exerce ao votar. De toda
maneira, ele nos preveniu que votaria a favor de Poincar.
S. de B. - Portanto, falava-se de poltica quando
voc era criana?
J .-P. S. - Oh! Muito pouco. S um pouquinho. S. de B. - Creio que havia tambm
problemas de
nacionalismo que pesavam.
J .-P. S. - Sim. A Aiscia, a guerra. S. de B. - Voc teve, ento, uma dimenso cvica em
sua infncia.
J .-P. S. - Sim; a Aiscia era o ponto importante em casa de meu av. A Aiscia fora
tomada plos alemes. Tive, pois, uma noo poltica como a que nos do os manais.
E isso permaneceu assim at a guerra. Na guerra, havia franceses valentes, corajosos e
hericos que lutavam contra os inquos alemes; era esse o patriotismo simples
ensinado nas escolas e no qual eu acreditava muito. Escrevera at um romance de
aventuras na poca, quando passei para o sexto ano, em Paris, no qual o heri era
um soldado que prendia o kronprinz. Era mais forte do que o kronprinz e o derrotava
perante os soldados que riam aliviados.
490
m
S. de B. - Portanto, voc se sentia um cidado. Enfim, havia uma dimenso cvica.
Alis, voc representara em peas patriticas escritas por seu av.
J .-p. S. - Sim.
S. de B. - Em que voc dizia "Adeus, adeus nossa querida Aiscia", ou algo parecido.
J .-P. S. - Exato. Durante as frias, com companheiros de hotel. Isso se devia guerra, e
antes da guerra decorria de uma atmosfera burguesa, republicana, de minha
famlia. E muito cedo adquiri a ideia de que a vida de um homem deve transcorrer
assim; de incio, no somos polticos, e depois, por volta dos cinquenta anos, ns
nos tornamos polticos, como Zoia, por exemplo, que fez poltica por ocasio do caso
Dreyfus.
S. de B. - Mas de onde lhe vinha tal ideia?
J .-P. S. - Vinha-me do fato de identificar-me com a vida dos escritores. A vida do
escritor era apresentada com uma juventude, uma parte intermediria, que era
a realizao das obras, e uma parte mais tardia na qual ele se engajava na poltica como
escritor e na qual intervinha nos problemas do pas.
S. de B. - Mas essa no a biografia de todos os escritores. H muitos que jamais zeram
poltica. Por que se interessou por esse tipo de biografia? Por que tais
biografias lhe pareceram mais exemplares do que, por exemplo, a de Stendhal, que, no
entanto, voc aprecia muito, e que jamais fez poltica nesse sentido?
J .-P. S. - Bem, ele fez poltica de outra maneira.
S. de B. - Mas de modo algum no sentido que voc refere. Por que foi esse o tipo de
biograa que o mobilizou particularmente?
J .-P. S. - Os escritores de que me falavam, quase todos haviam feito poltica.
S. de B. - Sim, mas as coisas s nos influenciam na medida em que somos
influenciveis por elas; portanto, se voc ficou muito mobilizado por tais biografias,
identificando-as
com a sua, foi porque havia em voc algo que fazia com que as considerasse
exemplares.
491
#J .-P. S. - Sim. Sabia que tambm se escrevia poli-|H
tica; no se realizava apenas atravs de eleies ou de|H
guerras, escrevia-se; havia escritos que eram stiras ou1
discusses sobre um fato poltico preciso; era como um
ponto acessrio da literatura para mim. E achava queU
deveria tambm abord-lo l pelo fim de minha vida, j1
quando no fosse to capaz de fazer literatura. De toda
maneira, via minha vida - sobre minha vida, no tanto'
minhas obras, no pensava tanto em minhas obras - mas
via minha ida assim; terminaria na poltica. Gide tam-H
bem: no ltimo perodo de sua vida, ele esteve naS
U.R.S.S., esteve no Tchad, e teve uma quantidade de
vinculaes com a poltica de aps guerra.
S. de B. - Sim, voc acaba de dizer uma coisa es-
tranha. Voc disse: um ponto acessrio para mim. VocU
achava que era o que restava ao escritor, quando j no
tivesse quase o que dizer? Ou, ao contrrio, uma esp-~f
cie de apoteose que lhe proporcionasse uma audincia'
muito mais ampla, e que lhe permitisse passar do escrever
para a ao?'
J .-P. S. - Ele estaria velho, j no podia agir mui-
to. Podia dar conselhos aos jovens e engajar-se num caso
particular. O caso Dreyfus, por exemplo, ou ento Victor'
Hugo exilando-se em sua ilha e censurando o Segundo
Imprio. Na verdade, ambos. Eu considerava a poltica
como um ponto acessrio das preocupaes do escritor
No podia ser uma obra que se equiparasse a um gran-
de poema ou a um romance. Mas lhe pertencia. O lado
escrito da poltica devia pertencer ao escritor. E tambm,
por outro lado, j que pertencia ao escritor que estava
envelhecendo, tambm a sua apoteose. Ao mesmo tempo,
algo menor do que o que ele havia feito antes, e, no en-f
tanto, a sua apoteose.-
S. de B. - Ao mesmo tempo declnio e apoteose.
J .-P. S. - Ao mesmo tempo declnio e apoteose."
Vivi isso durante muito tempo: at a idade madura.lt
S. de B. - Estvamos ainda na infncia. Quando
voc chegou a Paris, quando foi para a Escola Normal e
492
se ligou a Nizan e a outros que, ao que me parece, eram bastante engajados
politicamente ...
J .-P. S. - Sim.
S. de B. - Voc no o era nem um pouco? E como considerava aqueles que o eram?
J .-P. S. - No, eu no o era. De certa maneira, achava risvel. Considerando que aquilo
era uma brincadeira que nada tinha a ver com a ocupao deles, que era a
Escola Normal. Por outro lado, admirava-os, porque eu mesmo no era capaz de manter
discusses com eles, de definir seus objetivos; mas aquilo no me interessava.
Por exemplo, o socialismo, que seduzira vrios de meus colegas da Escola Normal, no
me dizia nada.
S. de B. - Aron, por exemplo.
J .-P. S. - Aron, no incio, era socialista. No se manteve assim durante muito tempo.
Todas aquelas pessoas estavam preocupadas com o que chamavam de socialismo,
isto , uma determinada forma de sociedade. Eu no era contra, mas tambm no era a
favor. Tambm no era capitalista, mas no era exatamente contra. Pensava, finalmente,
que tnhamos sempre mais ou menos as mesmas relaes com a sociedade. Eram
instituies, com homens de Estado que as faziam mudar um pouco, mas cada um tinha
que
desembaraar-se com respeito a todas essas instituies. Considerava que no podia agir
sobre as instituies. Teria sido preciso entrar ento realmente para a
poltica, inscrever-me num partido, que tal partido vencesse em eleies. Nem pensava
nisso.
S. de B. - Voc tinha o que chamava, quando o conheci, uma esttica de oposio.
Achava que estava certo que o mundo fosse em grande parte detestvel, que existisse
a burguesia, que existisse ...um mundo a ser detestado, em suma.
J .-P. S. - Sim.
S. de B. - E que o papel do escritor era exatamente encarar esse mundo, denunciando-o,
detestando-o, mas no tanto querendo mud-lo. Se fosse modificado, se fosse
tal como gostaramos, j no poderamos detest-lo da mesma maneira. Em seu caso
havia uma atitude quase
493
#esttica. No entanto, voc tinha alumas convices sobre a sociedade tal como era.
J .-P. S. - Lembro-me de uma das primeiras reaes que tive, por volta dos quinze anos,
em relao s colnias. Considerava as colnias como um consco infame do Estado.
Supunha guerras, guerras injustas, supunha a conquista de um pas onde iam instalar-se
e a subjugao dos habitantes desse pas. E considerava que tal atividade
era absolutamente desonrosa.
S. de B. - Por qu? No era o seu ambiente que lhe insuflava essa ideia.
J .-P. S. - Certamente que no. Cheguei a ela um pouco talvez atravs das leituras; em La
Rochelle, quando tinha quatorze anos, os meninos no se interessavam por
isso.
S. de B. - Ento? H toda uma mitologia sobre o papel civilizador do branco. Voc era
algum para quem a cultura tinha muita importncia. Voc poderia ento ter
vindo a dar nessas mitologias.
J .-P. S. - Mas no o fiz.
S. de B. - Por qu? Tente ver por qu.
J .-P. S. - Quando estvamos no primeiro ano, em hypo-khgne, em khgne, havia um
personagem legendrio, que era Fiicien Challaye, professor de filosoa, que falava
com os alunos contra as colnias e os convencia. E fui logo informado sobre esse
personagem, primeiro por Nizan, que era naturalmente anticolonialista, mas sem muita
nfase. O que lhe interessava eram os problemas nacionais.
S. de B. - interessante ver que desde muito jovem voc absolutamente no tinha o
senso da superiori dade de uma raa, de uma cultura, de uma civilizao sobre
outra.
J .-P. S. - De modo algum.
S. de B. - Mas isso importante. Como se explic que sua cultura e o elitismo em que foi
educado no tenham influenciado voc, pelo menos de uma certa a
neira?
494 '
J .-P. S. - Realmente, a ideia da igualdade era primordial em mim. Pensava que as
pessoas eram meus iguais. Creio que isso vinha de meu av que o dizia formalmente.
Para ele, a democracia significava pessoas que eram todas iguais. E tive, como uma
percepo espontnea, uma viso da injustia que havia em tratar como menos
importante
do que ns mesmos uma pessoa que na verdade era um igual. Disso me lembro: sempre
tomei como exemplo, em mim mesmo, desde os quatorze anos, a Arglia. E isso se
manteve quando pensava na Arglia muito mais tarde; quando estvamos em guerra
com ela.
S. de B. - Essa foi sua primeira reao poltica declarada. importante. E quanto
explorao dos operrios, sentiu-a muito cedo?
J .-P. S. - difcil dizer. J no me lembro bem. Meu padrasto era diretor de uma fbrica
de estaleiros navais em La Rochelle. Controlava muitos operrios. J no
me lembro bem como os encarava. Certamente, em parte, atravs da viso que tinha
meu padrasto, que tratava os operrios como menores, isto , pessoas menores de
vinte anos.
S. de B. - Sim, crianas.
j .p s. - Crianas. Mais adiante, ele ficou muito magoado com o comunismo, que
representava a contradio de toda a sua vida. Nunca fui a favor de uma sociedade
socialista antes da guerra de 1939.
S. de B. - Sim.
J .-P. S. - Lembro-me ainda de que, durante a drle de guerre, eu anotei em meu caderno
que a sociedade no devia ser socialista.
S. de B. - Pensava que seria invivel para voc.
J .-P. S. - Sim. Pelas descries que tnhamos da U.R.S.S. pensava que no poderia viver
nesse pas.
S. de B. - E, no entanto, tambm no se sentia ontade nesta sociedade burguesa?
J .-P. S. - No. De maneira que inventava sociedad mticas: boas sociedades nas quais
deveramos viver. a o no-real que se tornava o sentido de minha poltc, e
foi um pouco assim que entrei na poltica.
495
#S. de B. - Continuemos na poca em que ainda no estava nela. De toda maneira, teve
reaes contra a diviso de classes. Lembro-me muito bem que uma das coisas
que irritavam muito aquela senhora e Guille, quando passevamos juntos pela Espanha,
era que, por exemplo, em Ronda, voc dizia com desagrado: tudo isso so residncias
aristocrticas. E se sentia furioso. Isso o irritava.
J .-P. S. - muito misterioso. Sem dvida nenhuma, estava muito contra a vida a que
eram sujeitos os proletrios, julgava-a lastimvel e, certamente, estava do lado
deles. Mas, apesar de tudo, com uma espcie de desconfiana, que provinha sem dvida
do fato de ser enteado do diretor da fbrica.
S. de B. - Refere-se ao tempo em que era muito jovem?
J .-P. S. - Sim, idade dos quatorze anos.
S. de B. - Lembro-me que, quando estivemos em Londres, voc se interessava
enormemente plos problemas de desemprego; queria visitar os bairros dos
desempregados;
eu preferia ir aos museus; voc tinha muito mais uma dimenso social.
J .-P. S. - Sim.
S. de B. - uando chegou khgne, hypokhgne, Escola Normal, tinha colegas com
convices polticas; todos os seus amigos eram mais ou menos de esquerda. Voc
mencionou os alunos de Alain, eles tambm, mais ou menos de esquerda, e radicais, no
sentido que isso podia ter naquela poca. Nizan era de esquerda e tambm seus
outros colegas.
J .-P. S. - Todos os de esquerda. Havia socialistas ou comunstas. Naquela poca era
muito mais ousado ser comunista.
S. de B. - Mas havia tambm uma tendncia de direita tala bastante forte na Escola
Normal. E voc a hostilizava muito.
J .-P. S. - Sim, hostilizava-a muito.
S. de B. - Por qu? Penso que era toda uma atitude com relao tambm aos costumes.
496
J .-P. S. - Sim, no que se refere aos costumes, eu era nitidamente de esquerda. Era
nitidamente anticristo, por exemplo. Voc sabe que, aos doze anos, decidi que
Deus no existia e nunca mais mudei; isso me levava a rever a ideia do que era uma
religio; o ensaio dos liceus sobre as religies: as religies antigas, o catolicismo
e o protestantismo, isso levava a considerar a religio como uma srie de preceitos, de
ordens, de costumes, que variavam de um pas a outro e que no tinham nenhuma
relao com Deus; Deus no existia. Conseqentemente, eu no era religioso, no era
crente, e todas as tendncias otimistas dos crentes me desagradavam. Pensavam
que estavam enganados.
S. de B. - Em princpio voc era favorvel maior liberdade de costumes.
J .-P. S. - Sim.
S. de B. - E de expresso.
J .-P. S. - E de expresso.
S. de B. - O conjunto de suas convices metafsicas, ou religiosas, de suas ideias sobre
os costumes, ou sobre a moral, poderia definir-se como uma espcie de individualismo
de esquerda?
J .-P. S. - isso. Era um individualismo de esquerda. O indivduo era muito mais
importante para mim ento do que o foi depois. Vivia, alis, num mundo de
individualismo;
meu av era um individualista, e eu adquiria costumes individualistas, Nizan era
individualista ...
S. de B. - Sim, Nizan, por mais filiado que fosse ...Em que poca ele se filiou ao partido
comunista?
J .-P. S. - Inscreveu-se duas vezes. Em khgne, e pois voltou-se mais ou menos para a
direita; reinscreveuse no segundo ano da Escola.
S. de B. - Nizan no tentou pression-lo para que o acompanhasse?
J .-P. S. - No, de modo algum.
S. de B. - E seus outros colegas, por exemplo, os socialistas, tambm no tentavam
doutrin-lo?
497
#J .-P. S. - No. Se os interrogava, eles expunhamme o que faziam e o que sentiam;
juntar-me a eles seria deciso minha; consideravam-me mais como algum que poderia
um dia inclinar-se para o socialismo, mas no lhes cabia forar-me.
S. de B. - Quando leu Marx pela primeira vez?
J .-P. S. - No terceiro ano da Escola. Terceiro e quarto.
S. de B. - E que lhe pareceu?
J .-P. S. - Uma doutrina socialista, que achava bem racional. J lhe disse que pensava
compreender a no compreendia nada: no via o sentido que aquilo tinha no momento.
Compreendia as palavras, compreendia as ideias; mas que aquilo se aplicasse ao mundo
do presente, que a noo de mais-valia tivesse um sentido atual, isso eu no
compreendia.
S. de B. - Isso no o impressionou?
J .-P. S. - No. No era o primeiro sistema socialista que tivera ocasio de ler ...
S. de B. - Sim, s que os outros eram utpicos. Aqui, havia uma anlise da realidade.
J .-P. S. - Sim, mas faltava-me algo para diferenciar a utopia do que no era utopia.
S. de B. - Ento isso no o impressionou extraordinariamente? Quanto a mim,
compreendi Marx muito mal, mas, de toda maneira, a noo de mais-valia me produziu
um
choque quando eu tinha dezoito ou dezenove anos. Compreendi verdadeiramente a
explorao, a injustia, de uma maneira que s pressentia vagamente, j que via bem
que havia ricos, pobres, explorados etc. Ali pude ver como era sistematizado. Isso me
impressionou muito.
J .-P. S. - Eu compreendi, mas no senti. Considerava que era importante, que os textos
que lia eram interessantes. Mas no houve choque. que naquela ocasio havia
muitas coisas para ler.
S. de B. - Havia muitos choques filosficos de todo tipo, o que quer dizer?
J .-P. S. - Sim.
S. de B. - Quais so suas primeiras lembranas de participao poltica, de ...
J .-P. S. - muito vago. A maneira pela qual passei minha vida, at 1939, do ponto de
vista poltico, muito vaga.
S de B. - Ainda assim, teve algumas emoes p-
S. de B. lticas?
J .-P. S. S. de B.
ntrC?
J .-P. S. - Sim, a partir de Doumergue. S. de B. - Na primeira vez em que estivemos na
Itla voc teve uma emoo poltica muto desagradvel, e quando voc esteve
em Berlim, era muito importante para voc fazer filosofia, mas ainda assim voc cou
muto tocado pela presena dos S.A. nas ruas.
J .-P. S. - Sim, era antinazista e tinha horror aos fascistas. Lembro-me de ter visto em
Siena fascistas marchando, um grupo de fascistas com um chefe frente
um homenzarro empolado, com uma camisa preta que me fez horror.
'
S. de B. - Depois, houve a guerra da Espanha que o tocou.
J .-P. S. - Que nos tocou: a voc tambm. Houve o enajamento de Grassi, o que tambm
nos ligou quilo.
S. de B. - Foi uma das primeiras ssuras nas nossas relaes com a Sra. Morei e Guille;
achvamos certo que Grassi, como espanhol e republicano, fosse lutar Ainda
que no soubesse lutar bem. Guille e essa senhora diziam: ele devria ter pensado em sua
mulher e seu filho. No era uma reao direitista; eles eram a favor da republica,
certamente, mas na medida em que a repblica era uma democracia liberal, muito
repressiva com respeito aos operrios. Quando as coisas comearam a avanar um
pouco
mais, eles no gostaram nada. Quanto a os, estvamos furiosos porque Blu no dava
armas spanha, enquanto a Itlia e a Alemanha forneciam-nas
amplamente, sobretudo a Itlia. ramos intervencionistas.
J .-P. S. - Sim. S. de B. - Depois houve a Frente Popular.
499
#J .-P. S. - Sim, a Frente Popular. Tivemos uma situao estranha durante aqueles anos.
Tnhamos a impresso, no de colaborar com essa formao poltica, que era
a Frente Popular, mas de caminhar a seu lado.
S. de B. - Explique um pouco melhor.
J .-P. S. - Havia a Frente Popular e havia tambm pessoas que estavam mais ou menos
ligadas a ela. Ns no estvamos entre essas pessoas. Sentamos muito satisfeitos
de que a Frente Popular triunfasse. Estvamos sentimentalmente ligados a grupos, mas
nada fazamos por eles. ramos mais espectadores.
S. de B. - Uma coisa nos separou de Guille e daquela senhora: quando os operrios
comearam a fazer greves, Guille dzia: no, isso vai entravar a ao de Blum. Guille
podia aceitar Bium na medida em que ele fazia reinar a ordem e no permtisse muito
que os operrios controlassem as decises. Ao passo que ns ramos muito extremistas,
muito radicais, muito "o poder aos sovietes". A tomada das fbricas plos operrios, os
conselhos de operrios, achvamos isso muito certo. Teoricamente ramos to
extremistas quanto possvel.
J .-P. S. ~Sm, ramos extremistas, mas no fazamos nada ... Outros, como Colette
Audry, se haviam dedicado poltica de esquerda; no faziam muito, porque ningum
podia fazer muito, mas agiam, e ns no.
S. de B. - Voc no era ningum naquela poca, seu nome no tinha peso algum, voc
no pertencia a nenhum partido, no queria pertencer a ttulo individual, ainda
no tinha publicado La nause. Portanto, no era ningum. Alis, as pretenses dos
intelectuais engajados nos faziam rir. Ainda assim, voc acompanhava os
acontecimentos
com enorme interesse. com Guille, com Aron, com Colette Audry, as conversas muito
frequentemente eram polticas, voc no era de modo algum o sujeito fechado
em sua torre de marfim e para quem nada disso importava.
J .-P. S. - De modo algum. Isso tinha uma importncia enorme, era a vida quotidiana, era
o que me acontecia.
500
S. de B. - Como reagiu grande ameaa de guerra que houve em 1938 e depois a
Munique?
J .-P. S. - Era a favor da resistncia dos tcheco-eslovacos e, portanto, contra o abandono
da Tcheco-Eslovqua pelas potncias aliadas a ela. Mas, no entanto depois
de Munique, senti uma espcie de alvio, pelo fato de a guerra ter sido afastada. Apesar
disso, voc e eu
estvamos pessimistas e achvamos que a guerra estava prxima.
S. de B. - Eu me senti muito mais aliviada do que voc, muito mais covarde, tinha muito
mais medo da uerra, e houve discusses entre ns, nas quais eu retomava os
argumentos pacifistas de Alain: dizia-lhe que o pastor de Landes pouco se incomodava
com Hitier e voc me respondia que isso no era verdade, que ele se preocuparia,
que tambm sentiria que isso lhe dizia respeito, se Hitler ganhasse, e que voc no
queria que arrancassem os olhos de Nizan e que obrigassem voc a queimar seus
manuscritos. Voc era vioentamente a favor da guerra no sei se por ocasio de
Munique mesmo, mas pelo menos no ano seguinte; pensava que no podamos deixar
Hitler
ganhar, que no podamos cruzar os braos e deix-lo ganhar. O que foi que o impediu
de cair no paciismo, onde, por exemplo, caram muitos alunos de Alain e onde
eu teria estado um pouco pronta para cair; naturalmente, na irresponsabilidade?
J .-P. S. - Creio que foi porque eu no tinha poltica Fazemos pltica se recusamos ou
aceitamos uma declarao de guerra, se estamos entre pessoas que decidem combater
ou que decidem resistir e no combater temos uma linha de conduta traada. Quanto a
mim, no tinha linha traada. Era profundamente hostil a Hitier depois de sua
subida ao poder; sua atitude em relao aos judeus me parecia intolervel. No podia
pensar que ele Permaneceria indefinidamente chefe de um Estado vizinho;
conseqememente,
na ocasio em que estourou o caso de Dantzig, mesmo antes, por volta do ms de maro
daquele ano, eu era contra Hitier; depois de Munique senti o alvio de todo
mundo, sem perceber que era um
501
V
#'
alvio que implicava uma poltica de perptua adeso ao que Hitier fazia. O alvio era
uma atitde que devia ser recusada. No a tive por muito tempo. Tive-a em
contradio comigo mesmo: estava contra Munique, de certa | maneira, mas aiviado
porque Munique tinha ocorrido. Por algum tempo, a guerra recuava. E depois, durante
o ano, a Polnia se tornou o ponto central dos projetos de l Hitler. Alis, pelo que
soubemos depois, e pelo que sabe- 1 ms agora lendo o livro de J . Ft sobre Hitier,
o prprio l Hitler no estava inteiramente decidido a fazer a uerra 1 no sabia
exatamente quando. E quando realizou sua ao na Polnia, estava persuadido de que
manteria a Inglaterra fora da guerra, e, conseqentemente, tambm a Frana. E ns
estvamos convencidos de que era preciso resistir crise da Polnia e tentativa
de anexao de Hitler, porque sem isso, tudo estava perdido.
S. de B. - Em nome de que? Era em nome da moral, era uma injustia?...
1
J .-P. S. - Em nome de uma vaga concepo poli- | tica que eu tinha, que no era
socialista, mas que era l republicana. Meu av teria protestado como eu. Teria
protestado
porque se tratava de uma violao, de uma agresso.
S. de B. - Era uma atitude propramente moral, ou uma atitude mais poltica que previa
qual seria o destino do mundo se Hitier reinasse?
J .-P. S. - Era isso. O poder de Hitier crescia a cada dia, e se deixssemos que
continuasse, ele se tornaria finalmente o senhor do mundo. Pelo menos da Europa.
E era isso que no podamos suportar. E o que fazia com que me levantasse contra ele
eram coisa simples, era meu sentimento da liberdade, que era o de todos os
franceses, uma certa liberdade poltica. Embora nunca tivesse votado naquela poca (
preciso no esquecer que eu no votava: no votei antes do m da guerra). E
a fazamos questo de nossa repblica, porqe a liberdade dos homens, pensvamos,
que se enconta no voto.
S. de B. - Por que fazia questo, j que no votava?
502
J .-P. S. - Fazia questo que os outros votassem. Pensava que poderia votar se a ocasio
me parecesse importante. No havia impedimento. Simplesmente, aquilo no
me interessava. E as assembleias que governaram entre as duas guerras me pareciam
grotescas.
S. de B. - Mas, no entanto, fazia questo de que essas assembleias continuassem a
existir?
J .-P. S. - Naquele momento, eu pensava que era preciso que continuassem. No tinha
nada contra a Constituio. Ocorria que o mundo poltico que eu descobria era
um mundo grotesco.
S. de B. - Um mundo gotesco e um mundo de classe. Um mundo em que os governantes
defendiam as classes privilegiadas.
J .-P. S. - Pensava que isso absolutamente no estava dado no fato de haver eleies e
assembleias. Pensava que era possvel conceber eleies que correspondessem
realmente populao. Como voc sabe, no pensava na luta de classes. S compreendi
a luta de classes por ocasio da guerra e depois.
S. de B. - Voc a compreendia um pouco, j que, quando houve a Frente Popular,
estvamos muito satisfeitos com a vitria dos trabalhadores e dvamos dinheiro aos
grevistas.
J .-P. S. - Sim. Mas no via isso como um movimento que opunha duas classes, a classe
burguesa e o proletariad, e que as opunha necessariamente, historicamente.
S. de B. - um pouco sumrio dizer que voc no tinha conscincia da luta de classes.
J .-P. S. - Eu vinha de um meio burgus que, conseqentemente, nem sequer ouvira falar
na luta de classes. Minha me, e at meu av, no sabiam o que era isso. E,
conseqentemente, eu considerava meu prximo, fosse ele proletrio ou burgus, como
um homem como eu. No levava em considerao essas distines que, depois, me
pareceram to importantes.
S. de B. - No entanto, de um modo geral, voc tinha horror burguesia?
503
#J .-P. S. - Horror. Mas no tinha horror burguesia como classe. As pessoas que se
pensavam burguesas em
1920 ou em 1930 no se pensavam como classe. Pensavam-se como uma elite, e eu
tinha horror elite burguesa, moral burguesa. Mas no via isso como uma classe,
uma classe dominante que oprimia o povo; via isso como gente que havia atingido,
atravs de determinadas qualidades, uma espcie de realidade elitista e que dominava
os outros. A ideia de classe no estava presente; alis, tambm no em voc.
S. de B. - No acho isso muito exato. Sabamos muito bem, por exemplo, que a guerra
da Espanha era uma luta de classes.
J .-P. S. - Sim, ns o sabamos. Essas palavras no nos eram estranhas. Nizan, sendo
comunista, falava de classes. Mas, poder-se-ia dizer que, como conceito, no
o havamos assimilado. Comecei a ocupar-me da luta de classes durante a guerra e
depois dela.
S. de B. - No entanto, quando lamos Histoire de Ia Rvolution Franaise de J aures ...
J .-P. S. - Foi mais tarde. Em 1937, 1938.
S. de B. - Naquela poca, compreendamos a Revoluo em termos de luta de classes.
J .-P. S. - Sim, mas naquela poca no havia proletariado. A Revoluo era o triunfo da
burguesia. Era diferente. por isso que ensinada com muita pompa nas escolas.
S. de B. - Se falo no Histoire escrito por J aures, porque ele insiste muito no lado
burgus, no chega ao ponto de radicalizar as coisas e deixa de lado o que
chamvamos de o povo excludo da vitria da burguesia. Creio que voc exagera, que
simplifica um pouco. Pelo menos conhecia a luta de classes?
J .-P. S. - Conhecia, mas era uma noo que eu no utilizava. No interpretava um
acontecimento histrico como uma oposio de classes.
S. de B. - No entanto, quando lamos Histoire de Ia commune de Lissagaray sabamos
perfeitamente que se tratava de uma luta de classes.
504
J .-P. S. - Sabamos, mas era uma interpretao que parecia vlida em determinados
casos, e no vlida em outros. Certamente no teramos reduzido a histria a luta
de classes. Voc no pensava que a histria grecoromana, ou o Antigo Regime,
explicavam-se por classes em luta.
S. de B. - Ainda no sabemos at que ponto preciso realmente ver apenas lutas de
classe nos acontecimentos histricos. A guerra rabe-israelense, por exemplo,
outra coisa.
J .-P. S. - o que ia dizer. E a luta de classes nos pareceu essencial a partir de 1945;
durante a guerra e depois de 1945; e ns a considervamos como uma das causas
essenciais dos fatos histricos, mas outras causas tambm existiam.
S. de B. - Como foi que passou de uma determinada concepo da luta de classes, que
conhecia sem utilizar, para uma concepo da luta de classes que se tornou para
voc uma explicao essencial do mundo?
J .-P. S. - Tudo mudou a partir da guerra; quando estive em contalo com outros homens,
ligados a mim porque eram do mesmo regimento, quando vi como encaravam o mundo,
o que poderia acontecer em duas hipteses, a de que 1Citler vencesse, a de que Hitier
fosse vencido; eu, que tinha partido para uma guerra de trs meses, de seis
meses, como todos os franceses, comecei a pensar o que significasse ser histrico, fazer
parte de uma histria que se decidia a cada instante por fatos coletivos.
Isso me fez tomar conscncia do que era a histria para cada um de ns; cada um era a
histria. Foi certamente a drle de guerre, isto , o estar diante de dois
exrcitos, que pratcamente no se mexiam, que me abriu os olhos.
S. de B. - No vejo em que isso lhe tenha dado o sentido da luta de classes.
J -P S. - No me refiro luta de classes: hist-
J .-P. S.
S. de B. J .-P. S.
ria.
Ah sim! A histria. O fato que, a partir de 1939, eu j no
Irle pertencia. A-t ento pensava levar a vida de um indi-
505
#vi duo absolutamente livre; escolhia minhas roupas, minha comida, escrevia; segundo
eu mesmo era, portanto, um homem livre dentro de uma sociedade e no via que
essa vida era completamente condicionada pela presena de Hitier e dos exrcitos
hitieristas em frente a ns; compreendi depois, tentei um pouco exprimir isso em
meu romance (no primeiro volume de Chemins de Ia liberte, e um pouco no segundo).
Portanto, eu estava ali, com roupas militares, que me caam bastante mal, no meio
de outras pessoas que usavam as mesmas roupas que eu;
tnhamos uma ligao que no era uma ligao familiar, nem uma ligao de amizade,
e, no entanto, importante. Exercamos papis que nos eram distribudos do exterior.
Eu lanava bales e os olhava pelo binculo. Haviamme ensinado isso, quando nunca
pensara em utiliz-lo, durante meu servio militar. E estava ali, fazendo esse
trabalho entre outras pessoas desconhecidas, que me ajudavam a faz-lo, que faziam
esse trabalho como eu, que eu ajudava a fazer, e olhvamos meus bales sumirem
nas nuvens. E isso, a alguns quilmetros do exrcito alemo, onde havia pessoas como
ns, que tambm se ocupavam disso, e havia outras pessoas que preparavam um ataque.
Havia ali um fato absolutamente histrico. Bruscamente, eu me encontrava numa massa,
onde me haviam dado um papel preciso e estpido para representar, e que eu
representava
diante de outras pessoas, vestidas como eu com roupas militares, e que tinham o papel
de frustrar o que fazamos e no fim, atacar.
A segunda e mais importante tomada de conscincia foi a derrota e o cativeiro. A partir
de certo momento fui repelido para outras posies, com meus companheiros;
de caminho, chegamos a uma cidade; a nos instalamos;
dormamos nas casas dos habitantes; lidvamos com alsacianos, de uma mentalidade
muito varivel. Lembrome de um campons aisaciano que era a favor dos alemes e
que defendia teorias pr-germnicas diante de ns; dormamos ali, partamos, mas no
sabamos se conseguiramos escapar do exrcito alemo. Ficamos nesse lugar durante
trs, quatro dias. Os alemes se aproxima-
506
t
1
ram. Uma noite, ouvimos o canho atirando sobre a cidade que ficava a uma dezena de
quilmetros; na estrada plana podamos v-lo bastante bem, e sabamos que os alemes
chegariam no dia seguinte. E a, tambm isso me impressionou muito, historicamente,
esses fatos que eram pequenos fatos, que no pertenciam a nenhum manual a nenhuma
histria de guerra; uma cidadezinha era bombardeada; uma outra aguardava e seria
tomada por sua vez. Havia pessoas bloqueadas ali, esperando que os alemes se
ocupassem
delas. Fui deitar-me; tnhamos sido abandonados por nossos oficiais, que se foram por
uma floresta, carregando uma bandeira branca, e que foram eitos prisioneiros
como ns, mas em horas diferentes Ns ficamos entre soldados e sargentos, dormimos e
no dia seguinte de manh ouvimos vozes, tiros, gritos; vesti-me rapidamente
sabia que isso significava que seria feito prisioneiro; sa dormira em casa de
camponeses que estavam ali; sa e me lembro de uma estranha impresso de cinema que
tive, a impresso de que representava uma cena de cinema e que no era real. Havia um
canho que atirava contra a igreja, onde certamente havia resistentes chegados
na vspera; sem dvida, no eram dos nossos porque no sonhvamos em resistir, no
tendo alis meios Para isso. Atravessei a praa sob os fuzis dos alemes Para
ir de onde estava ao local onde eles estavam e eles me empurraram, colocaram-me
numa imensa tropa de
e1111 para a Alemanh Contei isso em La mort dans l ame, mas o atribu a Brunet.
Caminhamos e no sabamos muito bem o que iam fazer conosco. Havia os que
esperavam
que nos libertassem em oito ou quinze dias no mximo. Era o dia 21 de junho
d a,demeu amv e, por outro lado, dia do ann icio_ Havamos sido feitos prisioneiros
algumas horas anes do armistcio. Fomos levados para uma caserna de ndarms e
ali tambm aprendi o que era a veae
epT rendi que era algum que vivia a nao exposta a diferentes perigos e que esse
algum estava ex-
peTi80s Havia ali uma espcie de unid "tre os homens que estavam l; uma ideia de
derrota,
07
#uma ideia de ser prisioneiro, o que, naquele momento, pareca muito mais importante
do que todo o resto. Tudo o que eu aprendera e escrevera nos anos anteriores
j no me parecia vlido, nem sequer como tendo um contedo. Era preciso estar ali,
comer quando nos davam comida - o que alis era muito raro; havia dias em que
absolutamente no comamos, porque no fora previsto alimentao para tantos
prisioneiros. Dormamos nessa caserna, no cho.
S. de B. - Em Baccarat, foi l?
J .-P. S. - Sim. No cho das diversas salas. Eu estava no celeiro com uma quantidade de
colegas, dormamos no cho, fiquei um pouco enlouquecido de fome durante
dois, trs dias, como vrios de meus vizinhos: delirvamos, porque no tnhamos o que
comer, estvamos ali, deitados no cho; tnhamos horas de delrio, horas de
sangue frio dependia. No ramos administrados plos alemes, eles nos enfiaram l e
depois, um belo dia, deram-nos pedaos de po e comeamos a nos sentir em melhor
estado. E depois, finalmente, tomamos um trem e fomos para a Alemanha. Foi um
golpe, porque ainda estvamos vagamente otimistas. Pensava que ficaramos ali, na
Frana,
e que um da, uma vez que os alemes estivessem instalados, nos soltariam e fariam com
que voltssemos a nossas casas. O que no era, em absoluto, a inteno deles,
j que fomos acima de Trves, para um campo de prisioneiros; do outro lado do campo
havia uma estrada e, do outro lado da estrada, ua caserna alem. Muitos de ns
trabalhvamos na caserna alem. Eu quei prisioneiro, sem fazer nada. No fazia nada,
via prisioneiros, estabelecia amizades com padres, com um jornalista.
S. de B. - Falamos sobre isso de outra vez. Mas eu gostaria de saber em que medida
tudo isso lhe revelou a luta de classes? Concordo que tenha descoberto uma dimenso
histrica da uerra.
J .-P. S. - Espere.
S. de B. - Bem.
J .-P. S. - Fiquei na Alemanha at o ms de maro. E l tomei conhecimento, de uma
maneira estranha, mas
508
que me marcou, de uma sociedade com classes, sries pessoas que pertenciam a certos
grupos outras a outros' uma sociedade de vencidos alimentados por um exrcito
que os mantinha prisioneiros. E, no entanto, a sociedade toda estava ali. No havia
ociais, ramos simples sodados; eu era soldado de segunda classe e aprendi a
obedecer a ordens malvolas, a compreender o que era um exercito inimigo; tinha
contatos com os aemes, como todo mundo, quer para obedecer-lhes, quer, algumas
vezes, para ouvir suas conversas ineptas e orulhosas; quei a ate o momento em que me
fiz passar por civil e fui libertado. Levaram-me de trem at Drancy, colocaramme
em casernas da guarda nacional mvel, que eram imensas, arranha-cus. Eram trs ou
quatro e estavam ceias de prisoneiros de guerra; fui libertado quinze dias
S. de B. - J nessa ocasio voc me escrevera cartas nas qais dizia: farei poltica. O que
queria dizer, quando escrevia isso?
J .-P. S. - Isso queria dizer que, de alguma maneira, havia descoberto um mundo social, e
descoberto que eu era forjado pela sociedade, pelo menos sob determinado
aspecto; mas forjado em minha cultura e tambm em algumas de minhas necessidades,
minha maneira de viver. De certa maneira, tinha sido re-formado pelo campo de
prisioneiro.
Vmamos em conjunto, nos tocvamos o tempo todo, e lembro-me de haver escrito que a
primeira vez que me vi ibertado em Paris, fque surpreso por ver pessoas num caf,
to distantes umas das outras. Aquilo me parecia espao perdido. Retornava pois,
Frana com a ideia de que os outros franceses no percebiam aquio; que alguns
percebiam, os que retornavam da rente e estavam em liberdade, mas que no havia
pessoas que os decdissem a resistir. Eis o que parecia ser a primeira coisa a fazer,
ao retornar a Paris, isto , criar um grupo de resstncia; tentar, pouco a pouco, engariar a
maioria das pessoas para a resistncia e criar assim um movimento de
violncia que expulsaria os alemes. No que pensasse com absoluta certeza que seriam
expulsos,
509
#mas que havia oitenta por cento de chance - continuava otimista - de que fossem
expulsos; sobravam vinte por cento de chances de que fossem vitoriosos. Mesmo neste
caso pensava que, apesar de tudo, era preciso resistir, porque de uma maneira ou de
outra acabariam cansando-se; como Roma, que conquistava territrios, mas, ao
mesmo tempo, neles se perdia.
S. de B. - Mas voc tinha em mente qualquer tipo de resistncia? Seu movimento se
chamava Socialismo e Liberdade ual a relao que voc estabelecia entre o lado
socialista e o lado resistente? Voc entrou em contato com resistentes de direita.
Tambm entrou em contato, ou fez com que entrassem, com resistentes de esquerda.
Como se situava para voc a relao da resistncia com o socialismo?
J .-P. S. - O fascismo se apresentava em primeiro lugar como um anticomunismo, e,
conseqentemente, uma das resistncias consistia em ser comunista. Ou pelo menos
socialista. Ou seja, assumir uma posio absolutamente oposta do nacional-
socialismo. Era insistindo sobre o desejo de uma sociedade socialista que melhor nos
podamos opor aos nazistas. Criamos, portanto, esse movimento, do qual fomos, voc e
eu, quase que os fundadores.
S. de B. - Fale de suas relaes com o comunismo durante a Resistncia. O pacto
germano-sovitico e a reao de Nizan o tocaram muito.
J .-P. S. - Nizan sara do partido comunista; durante a guerra, antes que eu fosse preso e
ele morto, escreveu-me uma carta na qual dizia que j no era comunista
e que estava refletindo sobre tudo isso. Adotara uma atitude de reflexo, antes de
retomar uma posio poltica definida. O pacto germano-sovitico foi para ns
um estupor, como para a maioria das pessoas.
S. de B. - Por que criou um movimento pessoal, por que no trabalhou imediatamente
com os comunistas?
J .-P. S. - Propus isso. Fiz com que amigos ligados ao partido comunista o propusessem
e a resposta foi: Sar-
510
tre foi devolvido pela Alemanha para fazer propaganda nazista entre os franceses sob a
capa de resistncia. No queremos colaborar com Sartre por nada no mundo.
S. de B. - Por que havia essa hostilidade dos comunistas em relao a voc?
J .-P. S. - No sei. No queriam ligar-se a pessoas que no estavam com eles antes da
guerra... Sabiam perfeitamente que eu no era um traidor, como eles diziam,
mas no sabiam se eu podia acompanh-los. Coisa que souberam muito bem dois anos
mais tarde.
S. de B. - Ento, voc retornou, os comunistas no quiseram unir-se a voc e voc
fundou um movimento.
J .-P. S. - Fundamos o movimento Socialismo e Liberdade. O nome foi escolhido por
mim, porque pensava num socialismo em que a liberdade existiria. Naquela poca,
tornara-me socialista. Isso ocorrera, em parte, porque, em suma, nossa vida de
prisioneiros era um triste socialismo, mas era uma vida coletiva, uma comunidade;
sem dinheiro, comida distribuda, obrigaes impostas por um vencedor; era portanto
uma vida comunitria, e era possvel supor que uma vida comunitria, que no
fosse a de prisioneiro, pudesse ser feliz. Apesar disso, no tinha em mente um
socialismo desse tipo, com mesas comuns etc., e voc tampouco, certamente.
S. de B. - Certamente que no.
J .-P. S. - Alis, voc estava pouco seduzida pela ideias de socialismo.
S. de B. - No sei. Sempre fui bastante vaga a esse respeito. De toda maneira, estava
bastante seduzida pela ideia de socialismo. Havia um lado de igualdade na penria
que me agradava bastante durante a Ocupao. E pensava que um verdadeiro
socialismo, que tivesse motivos positivos, construtivos, realmente seria o certo. Mas
atenhamo-nos
ao seu movimento. Voc ento retornara com a ideia de que o socialismo era vivel?
J .-P. S. - Sim. Mas ainda no estava muito convencido. Lembro-me de que elaborei toda
uma Constituio para o ps-guerra.
511
#S. de B. - Quem lhe pediu que elaborasse essa Constituio?
J .-P. S. - J no me lembro. Foi quando De Gaulle estava em Argel, creio eu.
S. de B. - De qualquer forma, algum lhe pediu que elaborasse um projeto de
Constituio.
J .-P. S. - Foi isso. Houve ento dois exemplares:
um, que foi enviado a De Gaulle. E outro que se perdeu, no sei aonde, e que foi
encontrado por Kanapa.
S. de B. - Kanapa era um de seus ex-alunos. J era
comunista?
J .-P. S. - Sim, claro. Havia ento, nesse projeto de Constituio, uma maneira de
habituar-me ao socialismo, de trabalhar um pouco essa ideia, para que se tornasse
algo de coerente, para que eu compreendesse seu
sentido.
S. de B. - Voc se lembra um pouco de seu contedo, de sua orientao?
J .-P. S. - Havia uma passagem grande sobre os judeus.
S. de B. - Disso me lembro, porque o discutimos; e alis era voc quem tinha razo; eu
achava que os judeus deviam ser considerados como tendo os direitos de todo
cidado, mas nem mais nem menos; quanto a voc, insistia em que havia direitos muito
precisos que lhes deviam ser concedidos: falar sua prpria lngua, ter sua religio,
ter sua cultura etc.
J .-P. S. - Sim. Isso me vinha de a ites da guerra. Quando escrevi La nause estive com
um judeu sobre quem falamos muitas vezes depois, Mendel. Ele conversou comigo
e me convenceu. Eu queria fazer dos judeus cidados como os cristos, e ele me
convenceu da especificidade do fato judeu e de que era preciso dar aos judeus direitos
particulares. Para voltar minha converso ao socialismo, foi certamente um dos
elementos que me fizeram aceitar a proposta - surpreendentemente, mas ligada
evoluo
do partido - que me dizeram os comunistas: por intermdio de Billet, um comunista que
eu conhecera quando prisioneiro em Trves.
512
S. de B. - Ah, sim, lembro-me. Eu o havia conhecido.
J .-P. S. - Era comunista. Estava em vias de constituir uma organizao de resistentes
ligados aos comunistas. E me props que integrasse o grupo. H um ano j eu
no fazia mais nada; nosso grupo se desarticulara.
S. de B. - Ento os comunistas, depois de lhe virarem as costas e se recusarem a
trabalhar com voc, espalhando que voc era um delator, finalmente decidiram trabalhar
com voc. Como ocorreu isso?
J .-P. S. - No sei, um dia encontrei um companheiro de cativeiro que me disse: por que
que voc no faz resistncia conosco e no entra para o nosso grupo que
se ocupa de arte e literatura? Fiquei muito surpreso, disse que achava timo, e,
efetivamente, houve um encontro, e poucos dias depois eu estava no C.N.E., isto
Comit National ds crivains. O C.N.E. inclua diversas pessoas:
Claude Morgan, Leiris, Camus, Deb-Bridel, e muitos outros.
S. de B. - E o que fez voc?
J .-P. S. - Entrei para esse comit. Evidentemente, algo acontecera, uma mudana ...
S. de B. - No havia s comunistas l, j que voc se refere a Leiris.
J .-P. S. - No. Leiris ou Deb-Bridel absolutamente no eram comunistas. Mas acho
que houve uma mudana nas direes do partido comunista no que se refere aos
recrutamentos.
Devem ter dito: preciso mostrar-nos mais abertos. De toda maneira, o fato que, em
1943, tornei-me membro do C.N.E. e trabalhei com eles em textos, folhas clandestinas,
essencialmente Ls Lettres Franaises, onde publiquei um artigo contra Drieu
Ia Rochelle; e, a seguir, por ocasio da Libertao, nos haviam dado a misso de
defender com armas, isto , com pistola que era comum a todos, os atores e ns,
a Comdie Franaise. Instalamo-nos, ento, s vezes uns, s vezes outros, na Comdie
Franaise; em dado momento representei o papel de diretor da Comdie Franaise.
Estava no bureau do diretor, uma noite dormi no cho. E no dia
513
#seginte impedi a entrada de Barrault. Depois, no dia da Libertao, houve lutas de rua,
houve pequenos combates na Comdie-Franaise; fizemos uma barricada e ainda
me lembro de ter visto, na rua da Comdie-Franaise, o responsvel por um gupo de
soldados alemes, prisioneiros, que estavam sendo conduzidos ao tribunal. Tambm
tive que dormir uma noite com Salacrou. Dormamos no mesmo quarto. Enfim, havia
um pouco de movimento.
S. de B. - E depois da guerra, qual foi sua atitude poltica?
J .-P. S. - Depois da guerra, os primeiros nmeros oficiais do Ls Lettres Franaises
foram publicados a partir da chegada de De Gaulle e lembro-me de ter publicado,
nos primeiros nmeros, um artigo sobre a Ocupao e as lutas da Resistncia.
S. de B. - Voc comeou a colaborar em Lettres Franaises?
J .-P. S. - Sim. Pelo menos escrevi esse artigo. No me lembro se escrevi outros. Desde o
incio, desde que o partido comunista se tornou oficial, as coisas passaram
a no correr bem. evidente que os comunistas no estavam de acordo com o fato de
que eu me houvesse tornado um escritor conhecido. Isso ocorrera bruscamente;
pessoas que retornavam da Inglaterra ou da Amrica consideravam-me um escritor
conhecido. Alis, eu estava retornando da Amrica; tinha sido enviado Amrica por
Combat; os americanos haviam solicitado jornalistas franceses.
S. de B. - Sim: por L Figaro e por Combat. J .-P. S. - Ento retornei, e me vi diante de
Lettres Franaises, do partido comunista, dos escritores de Lettres Franaises
...
S. de B. - De A ction tambm ... J .-P. S. - E de A ction, sim. A ction era um
hebdomadrio pr-comunista, que em determinada ocasio fora dirigido por Ponge e
Herv.
Tambm escrevi em A ction.
S. de B. - Voc no era apenas um escritor conhecido. Tambm tinha fundado
pessoalmente, a partir de
1945, uma revista que mobilizava muita gente e muitos
514
intelectuais, e que no era comunista. Conseqentemente, voc representava outra
possibilidade que no o comunismo para os escritores de esquerda. Como se sentia
com respeito a eles?
J .-P. S. - Bem, eu no encarava o comunismo da mesma maneira que eles encaravam,
isto , sob a forma sovitica, mas pensava que o destino da humanidade repousava
na aplicao de um certo comunismo.
S. de B. - Mas acha que teria podido haver um dilogo? Eles estavam furiosos porque
voc propunha, em suma, uma ideologia substitutiva, no dizer deles, e brindavam-no
com todos os insultos da direita. Como sentiu isso?
J .-P. S. - H vrios pontos de vista. H meu ponto de vista pessoal, de minhas relaes
com os comunistas:
achei-os infectos para comigo, e lutei contra eles. E s mudei mais tarde.
S. de B. - Sim, em 1952.
J .-P. S. - E eu era ento bastante hostil aos comunistas enquanto indivduos. Quanto a
eles no tinham nenhum born sentimento em relao a mim. Tinham ordens, e
nenhum sentimento de nenhuma espcie. Exceto, talvez, uma vaga simpatia por parte de
Claude Roy.
S. de B. - Queria saber que importncia tinham essas dissenses polticas; e quanto ao
R.D.R., em que medida voc se engajara profundamente, e em que medida continuava
um pouco ctico.
J .-P. S. - Estava ctico. No estava profundamente engajado.
S. de B. - E qual foi a sua reao quando, a propsito de Mains sales, os comunistas o
vilipendiaram?
J .-P. S. - Ah! Aquilo me pareceu normal. Estavam contra o R.D.R. e era essa a sua
maneira de atacar.
S. de B. - Aquilo lhe pareceu normal, ento, no pelo contedo da pea, mas em
consequncia da atitude poltica que teriam com respeito a voc de toda maneira?
J .-P. S. - isso. Era um pouco desagradvel para mim, sobretudo porque havia, entre
eles, pessoas de quem gostvamos muito, como Marguerite Duras, que
515
#naquela ocasio era comunista, e escrevera um artigo prfido, creio que no Ls Lettres
Franaises. Lembra-se?
S. de B. - Lembro-me que, de modo geral, todos os comunistas tinham ficado contra
voc. Ento, como que voc se situava politicamente? Porque se no tinha muita
confiana no R.D.R., por outro lado voc no queria absolutamente entrar para o partido
comunista e ser simpatizante a qualquer preo. Isto no combinava com voc:
"quanto a mim, se me do pontaps no traseiro, aceit-los-ei com prazer."
J .-P. S. - Bem! Eu no tinha posio. Naquela poca, por volta de 1950, vamos as
coisas em termos de ameaa de guerra. Eu era mal visto plos soviticos, e, se
eles invadissem a Europa, como supnhamos, eu no queria partir. Queria ficar na
Frana. Afora isso, com quem ficaria no tinha ideia.
S. de B. - Que importncia tinha para voc essa dimenso de sua vida? De toda maneira,
seus escritos continuavam a ser a coisa principal.
J .-P. S. - Sim, o que contava para mim eram meus escritos.
S. de B. - J que fazia literatura engajada e descobrira que nomear, desvendar,
significava mudar o mundo, pensava que, finalmente, sua ao individual enquanto
escritor teria peso, teria futuro?
J .-P. S. - Sim. Pensava assim.
S. de B. - Alis, creio que tinha razes para isso.
J .-P. S. - Pensava isso. Sempre o pensei.
S. de B. - Ento, por que insistia em estar ligado a um movimento poltico como o
R.D.R.?
J .-P. S. - No fazia questo. Mas quando me propuseram, pensei que devia aceit-lo.
Esperava que o R. D. R. fosse um movimento ligado ao comunismo, mas que
representaria
um pouco o que era o socialismo de Nenni na Itlia.
S. de B. - Os comunistas franceses no queriam isso. Os comunistas italianos eram
muito mais conciliadores, puderam aceitar uma aliana com o partido socialis-
516
ta de Nenni, ou seja, com um partido socialista de esquerda.
J .-P. S. - Sim.
S. de B. - Ento, a ideia era essa. Mas, na Frana, isso no era possvel. Outra coisa:
quando voc teve em mos o cdigo de trabalho, o cdigo administrativo, o
cdigo sovitico, segundo o qual era possvel internar as pessoas por simples medida
administrativa, voc o publicou.
J .-P. S. - Sim.
S. de B. - E que pensou nessa ocasio? Quando soube que os campos existiam
realmente e que havia uma quantidade considervel de deportados?
J .-P. S. - Considerei que se tratava de um regime inaceitvel.
S. de B. - Sim. Voc fez um artigo sobre isso com Merleau-Ponty.
J .-P. S. - Foi Merleau-Ponty quem o fez.
S. de B. - E ambos o assinaram. Vocs diziam que um pas onde havia tal quantidade de
deportados e de fuzilados no podia ser chamado de pas socialista. Em suma,
a partir de sua ruptura com o R.D.R., voc viveu em grande solido poltica?
J .-P. S. - Uma solido completa.
S. de B. - Digamos que voc ento deixou de fazer poltica.
J .-P. S. - No fiz poltica, em suma, at ...1968.
S. de B. - Espere. Em 1952 voc se aproximou dos comunistas. Lembra-se do perodo
entre a ruptura com o R. D. R. e essa aproximao?
J .-P. S. - Escrevia livros e isso me tomava todo o tempo.
S. de B. - Mas o fato de j no estar ligado a nenhuma organizao poltica no
representava uma certa falta, um vazio?
J .-P. S. - No. Ainda no era verdadeiramente politizado, no considerava isso
essencial. Escrevia que a poltica era uma dimenso do homem. Mas j no era de fato
uma dimenso de mim. Na verdade era, mas eu no
517
#o sabia. Comecei a perceb-lo a partir do momento em que me liguei aos comunistas,
isto , quatro anos depois. Tinha uma espcie de esteticismo poltico durante
aqueles anos. A Amrica fora durante muito tempo um pas de sonho para mim, no
tempo de Nick Crter e Buffalo Bill;
depois, um pas em que teria gostado de viver; um pas que me seduzira em certos
aspectos e me desagradara em outros. Em suma, no era um pas que eu gostaria de
ver destrudo numa guerra com a U. R. S. S. Quanto U. R. S. S., que ainda se
apresentava como o pas do socialismo, eu considerava que sua destruio tambm teria
sido terrvel. Portanto, via uma guerra russo-americana como uma dupla catstrofe. E
me mantive assim durante muito tempo, sem saber bem o que era preciso fazer.
Era preciso sem dvida no partir se houvesse uma guerra, era preciso permanecer na
Frana; era preciso fazer resistncia por um socialismo e no plos americanos,
pensava eu, era preciso, pois, ser um resistente clandestino. S. de B. - Passemos guerra
da Indochina. J .-P. S. - Fomos os primeiros a condenar a guerra da Indochina
em Ls Temps Moderns; estvamos ligados a vietnamitas, sobretudo a um a quem
conheci bem: Van Chi. Ele nos trazia informaes.
S. de B. - No era um filsofo, mas um poltico. J .-P. S. - Mas tambm era professor. S.
de B. - De quando em quando, convidava-nos para almoar num restaurante
vietnamita. Mas, exceto atravs dos artigos escritos em Ls Temps Moderns, no
tnhamos meios de agir.
J .-P. S. - De fato. Fizemos um nmero de Temps Moderns especialmente indochins e
Van Chi nos ajudou, trazendo-nos textos da Indochina.
S. de B. - Sim. Essa guerra foi uma dimenso importante no horizonte de nossa vida
poltica.
J .-P. S. - Em suma, nossa posio era a dos comunistas.
S. de B. - Nesse terreno, sim, estvamos muito prximos.
518
S. de B. - Em nossa conversa de ontem, voc me dizia que havia uma coisa que no
acentuara! a relao que sempre quis estabelecer entre o socialismo e a liberdade.
J .-P. S. - Sim, o socialismo para muita gente representa uma maior liberdade
econmica, em primeiro lugar, tambm uma liberdade cultural, uma liberdade de ao
quotidiana,
uma liberdade de grandes opes; eles se afirmam livres, isto , no condicionados por
uma sociedade, mas formando-se eles prprios, de acordo com suas prprias
opes. S que, na verdade, o socialismo tal como nos apresentado plos marxistas,
por exemplo, no comporta tal noo. Marx a tinha e quando considerava o perodo
longnquo do comunismo imaginava que a sociedade seria feita de homens livres. A
liberdade que ele tinha em mente no era exatamente a que eu tenho em mente, mas
de toda maneira elas se parecem. Apenas, os marxistas na Frana j no do
absolutamente nenhum lugar para a noo de liberdade. O que importante para eles o
tipo de sociedade que vo formar, mas nas estruturas dessa sociedade as pessoas se
inserem como mquinas; esse socialismo reconhece determinados valores, por exemplo,
a justia, isto , uma espcie de igualdade entre aquilo que a pessoa d e aquilo que
recebe, mas a ideia de que mais alm do socialismo um homem livre possa existir
- digo mais alm, no quero dizer numa poca ulterior, mas ultrapassando a cada
instante as regras do socialismo - uma ideia que os russos nunca tiveram. No me
parece que o socialismo da U. R. S. S. - se isso ainda pode ser chamado socialismo -
comporte uma permisso dada a uma pessoa para que desabroche no sentido por
ela escolhido. Foi isso que eu quis dizer, ao dar aquele pobre grupinho que formvamos
em 1940, 1941, o nome de Socialismo e Liberdade. Embora bastante difcil de
realizar a partir do socialismo, era essa ligao socialismo-liberdade que representava a
minha tendncia poltica. Era essa a minha tendncia poltica e nunca a
modifiquei. E, atualmente,
519
#ainda foram o socialismo e a liberdade que tentei defender em nossas conversas com
Gavi e Victor.
S. de B. - Sim, mas isso o presente. Para retornar ao que falvamos ontem, foi essa
vontade de ligar socialismo e liberdade que o levou a oscilar entre o partido
comunista, a formao do R.D.R., a solido, um retorno ao partido comunista etc. No
preciso refazer toda a histria cronolgica de sua vida poltica at 1962,
porque j escrevi isso, em parte ditado por voc, em La force ds choses. Mas o que eu
queria saber o que voc pensa de seu itinerrio, digamos at o fim da guerra
da Arglia.
.''p: ' Bem que eu seguia minha linha, que ela era difcil, rdua, que eu estava
frequentemente em minoria, frequentemente sozinho, mas que era indubitavelmente
isso que eu sempre desejara: o socialismo e a liberdade. Na liberdade acreditava h
muito tempo e falara a respeito em L'tre et l nant, livro do qual ela o
tema principal. Tenho a impresso de haver vivido livre, desde minha infncia at
agora, evidentemente acompanhando as correntes gerais. Mas vivi livre e finalmente
me encontro atualmente com a mesma ideia em que se ligam sempre socialismo e
liberdade.
S. de B. - Voc sempre sonhou com essa harmonizao, nunca a encontrou. Teve
alguma vez a iluso de encontr-la? Em Cuba, talvez?
J .-P. S. - Cuba, sim. Havia tendncias diversas que se opunham, mas naquela ocasio,
quando estive l, Castro no tinha verdadeiros princpios culturais, no queria
impor uma determinada cultura. Depois, mudou.
S. de B. - Foi em 1960, isto , pouco depois da tomada do poder.
J .-P. S. Ele no queria nem que se falasse em socialismo naquele momento. Pediu-me
que, quando falasse dele em meus artigos na Frana, no falasse em socialismo.
S. de B. - Na verdade, falava-se em castrismo.
520
J .-P. S. - De fato, tratava-se de uma revoluo que ainda no estava feita. Lembro-me de
que lhes perguntava sempre: se tiverem que encarar o terror, que faro?
S. de B. - E, efetivamente, tiveram depois uma espcie de terror.
J .-P. S. - J o adivinhavam, questionavam-se, mas no me respondiam, ou respondiam
que no haveria terror.
S. de B. - Volto minha pergunta: pode dizer-me o que se lembra de haver sentido,
pensado? O que significa para voc, atualmente, esse itinerrio que percorreu?
Acha que cometeu muitos erros? Que no poderia ter agido de outra maneira? Que
sempre agiu bem? Enm, como v isso?
J .-P. S. - Cometi uma quantidade de erros, sem dvida. Mas no erros de princpio:
erros de mtodo, erros nas opinies exprimidas a propsito de um determinado fato.
Mas, em princpio, continuo em concordncia com meu passado. Inteiramente de acordo
com meu passado. Penso que ele tinha que conduzir-me aonde cheguei e deste
lugar a que cheguei olho meu passado com benevolncia.
S. de B. - Quais so os erros que pensa ter cometido?
J .-P. S. - No me haver engajado violentamente, verdadeiramente, ao lado de
determinadas pessoas, quando tinha idade para faz-lo.
S. de B. - Voc quer dizer antes da guerra?
J .-P. S. - Antes e depois.
S. de B. - com quem poderia haver se engajado?
J .-P. S. - Apesar de tudo havia uma esquerda marxista, no comunista.
S. de B. - Voc fez o possvel para aproximar-se.
J .-P. S. - Talvez nem tudo. Na esquerda dos comunistas havia grupos que contestavam o
comunismo oficial, e que, s vezes, tinham razo sobre inmeros pontos; nada
fiz para conhec-los. At 1966, afastei-me de tudo o que estava esquerda do partido
comunista.
521
#Considerava que a poltica devia ser tratada com os socialstas e os comunistas, e ponto
final. E ainda estava impressionado, como todas as pessoas que me rodeavam
pela velha Frente Popular, de antes da guerra de 1939' Encontrei depois aqueles a quem
realmente era preciso aliar-se: os jovens esquerdistas.
S. de B. - Apesar de tudo houve momentos em que voc tomou decises; quais so as
opes de que voc se felicita retrospectivamente? Penso que no se sente insatiseito,
por exemplo, com sua atitude durante a guerra da Arglia.
J .-P. S. - No; penso que aquela atitude foi a que devia ser tomada.
S. de B. - Nesse caso, voc utrapassou os comunistas em sua vontade de lutar pela
independncia da Arglia, voc foi muito mais longe do que eles.
J .-P. S. - Sim. Eles queriam a possibilidade de independncia, e eu, com os argelinos,
queria a independncia propriamente dita. Alis, no compreendo essa prudncia
comunista.
S. de B. - Havia coisas ainda mais graves nos comunistas: eles haviam votado os plenos
poderes.
J .-P. S. - Sim, mas no compreendo a atitude dos comunistas. Isso mostra bem, coisa
que dgo com frequncia, que eles no querem a revoluo.
S. de B. - Indubitavelmente. Pensvamos na poca que, como eles queriam ter um
partido potente e forte, e que agradasse aos franceses, tinham que ser nacionalistas;
no queriam que se dissesse que estavam prontos para liquidar as colnias.
J .-P. S. - Mas ser nacionalista no significa ser colonialista.
S. de B. - Na poca ...
J .-P. S. - Ser nacionalista significa ter vnculos fortes com o pas em que se nasceu, no
qual se vive no signfica que se aceite uma determinada poltica desse
pais: por exemplo, a poltica colonialista.
522
S. de B. - Mas voc no acha que a atitude deles era demaggica? Eles no queriam que
se pudesse dizer que eram antifranceses.
J .-P. S. - Sim, verdade.
S. de B. - As vezes colaboramos com eles durante a guerra da Arglia; lembro-me da
quantidade de manifestos que fizemos juntos; depois, no fim, quando se tratou
de lutar contra a O. A. S. criou-se uma espcie de liga na qual entravam comunistas; foi
ento que voc dizia: no se pode fazer nada com eles, no se pode fazer
nada sem eles. Como se lembra dessas tentativas de lutas comuns?
J . P. S. - Houve um perodo que as coisas no correram mal ...
S. de B. - Mas voc nunca teve relaes amigveis com eles?
J . P. S. - Nunca.
S. de B. - Depois de Morts sans spultue, Ehrenburg disse-lhe que era vergonhoso falar
de resistentes como voc falara. Depois de Ls mains sales foi um dos que
disseram que voc vendera a alma por um prato de lentilhas. E, de repente, l estava
voc todo sorridente com Ehrenburg. Em 1955, em Helsinki, vi Ehrenburg com
voc, e voc estava todo sorridente; at a morte de Ehrenburh tivemos boas relaes
com ele. Como se explica? No o constrangia pensar que ele tinha ...
J .-P. S. - Constrangia, foi ele quem se aproximou. Recebeu-me muito calorosamente em
Moscou, quando l estive pela segunda vez, e estive em sua datcha, onde ele
morava com a mulher e as irms. Pessoalmente, ao ir v-lo - talvez nos tivssemos visto
antes numa reunio, mas simplesmente cumprimentando-nos com um aperto de
mo - sentia-me satisfeito por estar com Ehrenberg; alguma coisa se distendera entre
ns, e tinhase a impresso de que sempre estivramos bem. Alis, gostava muito
de Ehrenberg.
S. de B. - Mas, de um modo geral, a maneira com que o partido comunista se utilizava
de voc - por exemplo, no caso do livro sobre Henri Martin - sem que voc
523
#n
'. aoes 1," :0
am as pesoas como pesoa, ' qe <1 traPesoal-
r00 T oa :n
ou J a nos !timos wos de ".n. a:
S. de B. - Voc j no pensava que o P r A.. reoluaonario, m,., id, peava e n
Po10 creio que ao e" "a"
SsL ngados ao partido apresentavam imensos defeitos ue fre
quentemente foram revelados "eleitos que revi nasTrn explicar como os "nistas
que
F? -
=,
S. de B. - Como um computador programado? eles ~ ~ ca havia ariedade entre mim e
epro olu imediata do
524
S. de B. - No entanto, voc continuava com eles?
J .-P. S. - Porque no havia pessoas com quem pudesse ter outras relaes polticas. E de
fato eles tinham uma vida pessoal, momentos em que, entre eles, mais ou
menos tiravam sua mscara, mas isso era entre eles. Suas relaes com as pessoas de
fora no comportavam esse gnero de fraternidade.
S. de B. - No houve um momento em que voc se aproximou de alguns deles, que
tinham assumido, depois de Budapeste, posies mais ou menos semelhantes s suas, e
excludos do partido ou tomado distncia com relao ao partido?
j.-P. S. - Por volta de 1957, Vigier, Victor Leduc, um certo nmero deles tentavam, no
um outro partido, mas uma outra maneira de orient-lo; e efetivamente na
mesma linha que eu em "Fac"; sobre a guerra da Arglia tinha a mesma posio que eu.
S. de B. - Voc teve a mesma impresso de Vercors, que a transmitiu de uma maneira
bastante divertida, de ser um pouco um potiche para o partido comunista?
J .-P. S. - No, exatamente; no foi bem na mesma poca que Vercors.
S. de B. - E tambm Vercors era mais dcil que voc, era mais potiche.
J .-P. S. - Eu o encontrava em reunies, nas quais ele tomava a palavra para expor uma
opinio que, em geral, era a do partido, e depois se calava. Mas a mim eles
faziam trabalhar. Tratava-se de uma ao que decidamos juntos, sobre a qual fazamos
depois um meeting onde cada um tinha um papel mais ou menos estebelecido, onde
eu devia intervir, o que inteiramente natural;
no isso que censuro aos comunistas. Censuro-lhes a recusa de toda subjetividade, a
ausncia de toda relao de homem para homem.
S. de B. - Voc acha que perdeu seu tempo, tentando trabalhar com os comunistas?
J .-P. S. - No, no foi tempo perdido. Isso me ensinou o que era um comunista. Mais
tarde, quando me
52
#liguei aos maostas, que eram, sem dvida, pouco amigos dos comunistas, senti-me
inteiramente vontade com eles, porque tinham as mesmas ideias que eu sobre as
relaes com o partido comunista.
J .-P.S.- Se no tivesse feito todas essas tentativas de trabalho com os comunistas, se
tivesse reservado mais tempo para a literatura, a filosofia, se tivesse ficado
muito retrado em relao poltica, isso teria alterado alguma coisa em suas relaes
atuais com os maostas?
J .-P. S. - Sim. Porque foi atravs da poltica que cheguei aos maostas, pela reflexo
sobre 1968, sobre a obrigao de engajar-me, que me engajei junto aos maostas,
mas isso sepunha precisamente os engajamento da Ocupao, da Libertao; eu no era
uma pessoa apolitica que se engajava com eles e eles compreendiam isso Mo,
no creio que em minha idade, no tendo feito poltica, estivesse com os maostas; teria
continuado a no azer poltica. Quando se trabalha num movimento h necessariamente
idas e vindas, h muito tempo perdido Mas o que tempo perdido? H tempo perdido e
h tambm tempo em que se adquire um conhecimento das pessoas, aprende-se a
mante-las
distncia, ou, ao contrrio, que alguma coisa corre bem com elas.
S. de B. - Agora, quais so suas perspectivas polticas?
J .-P. S. - Sou um velho; aos sessenta e nove anos penso que tudo o que posso
empreender atualmente no chegara a seu termo.
S. de B. - Como assim?
J .-P. S. - Bem, desaparecerei antes que um movimento do qual faa parte tenha tomado
uma forma ntida e tenha chegado at determinado fim; estarei sempre nos incios,
o que o melhor, se no estiver nas derrotas; no momento estou nos incios, no verei
algo de mais amplo, de mais forte: h elementos, h uma multido de pessoas
que no querem entrar para o P.C. e, no entanto, querem agir.
526
S. de B. - No h uma esperana de que o P.C. possa rejuvenescer e mudar? Ou
considera isso completamente fora de questo?
J .-P. S. - Pelo menos, extraordinariamente difcil. Todos os adultos, quase todos, j
tm a mscara, j tm o computador no crebro; se os jovens forem diferentes,
talvez as coisas melhorem, mas imagino que no.
S. de B. - Resta saber se os jovens daro ao partido um sangue novo ou se, ao contrrio,
seu sangue se congelar.
J .-P. S. - Eis a questo.
S. de B. - Gostaria que falssemos hoje de um tema importante que a sua relao com
o tempo. No sei muito como formular as perguntas, creo que melhor que voc
mesmo fale do que lhe parece importante em suas relaes com o tempo.
J .-P. S. - muito difcil, porque h o tempo objetivo e o tempo subjetivo. Existe o
tempo em que aguardo um trem que parte s 8h 55min, e tambm o tempo em meu
recolhimento, em que estou trabalhando. muito difcil. you tentar falar dos dois, mas
sem verdadeiro fundamento filosfico.
Penso que at oito, nove anos, meu tempo era pouco dividido. Havia um grande tempo
subjetivo, com objetos exteriores que de quando em quando vinham dividi-lo -
objetos verdadeiramente objetivos. Por volta de dez anos - e como ver, por muito
tempo - houve uma diviso muito precisa de meu tempo: cada ano se dividia em nove
meses de estudo no liceu e trs meses de frias.
S. de B. - o que voc chamaria de diviso objetiva?
J .-P. S. - Objetiva e vivida subjetivamente. Originalmente, era objetiva: os nove meses
do liceu eram programas que me eram impostos; os trs meses de frias, eu
os vivia subjetivamente; no era a mesma coisa entrar no liceu pela manh, com uma
caneta, ou levantar-me num lugar no campo, com o sol sobre minha cabea. Isso
acarretava mudanas no que eu esperava desse tempo. Nos
527
#nove primeiros meses esperava monotonia: deveres que recebiam notas, composies
em que podia ser o primeiro ou ltimo, o conjunto de trabalhos que me impunham
e que eu fazia em casa na sala de meus pais. E depois, durante trs meses, esperava o
maravilhoso, isto , algo que no seria da mesma espcie que o quotidiano do
liceu, algo que pertencia ao campo, ao estrangeiro, em lugares de frias, algo que nada
teria em comum com o quotidiano dos nove primeiros meses, mas que representaria
uma realidade estranha, que me aparecia e me escapava ao mesmo tempo, e que era
muito bonita. Era a ideia que tinha das frias, isto , o campo ou o mar, e dentro
desse tempo em que estava em contato com o campo e o mar, coisas aparecendo, que
eram maravilhosas; era a prpria existncia do mar ou do campo. Um barco aparecendo
ao longe na gua podia ser um elemento maravilhoso; um pequeno crrego nos bosques
tambm podia ser maravilhoso. Era um outro tipo de realidade, que nunca defini
muito, mas que contrastava com o resto do mundo. Havia a realidade do quotidiano em
que nada podia surpreender, e a realidade das frias, em que, ao contrrio,
determinadas coisas podiam surpreender e enriquecer. Foi assim que vivi o tempo at a
Escola Normal e ainda na Escola. Depois, fiz meu servio militar. Tive uma
prorrogao e o z aos vinte e quatro anos no servio de meteorologia. Fiquei numa
pequena casa nos arredores de Tours. L tomava notas sobre higrometria, sobre o
tempo, aprendia um pouco de rdio, conhecia o alfabeto Morse e recebia informaes
meteorolgicas de diferentes lugares. s vezes, ia noite determinar as temperaturas,
o estado higromtrico etc., com instrumentos reunidos numa cabana perto da casa. Em
suma, tinha uma vida muito regrada e naquela ocasio, a diviso em trs meses
de frias e trs meses de estudo j no existia. Uma vez terminado meu servio militar
tornei-me professor e reencontrei o ritmo nove meses-trs meses, no mais
como aluno, mas como professor, o que de certa maneira vem dar no mesmo. Durante
nove meses preparava as aulas e as dava; tinha minha vida privada, que
528
era importante, j que dava apenas quinze ou dezesseis horas de aula por semana e
gastava outro tanto de preparao, o que representa, portanto, trinta e duas ou
trinta e trs horas por semana; passava horas em trabalhos literrios. E depois havia os
dias que passava em Rouen, com voc, e amos ambos a Paris, para passar
dois dias, quando no tnhamos aula. Tinha uma vida bem regrada e o tempo subjetivo
nela representava um papel muito grande: no Havre, o que eu fazia sobretudo era
pensar, sentir, desenvolver pensamentos filosficos; ou trabalhava em La nause. Em
Paris, em Rouen, havia coisas a fazer, reunies, amigos para ver. O Havre representava
a subjetividade - no unicamente, claro, mas em grande parte; o futuro era sua
dimenso essencial. Meu tempo subjetivo estava orientado para o futuro. Vivia
trabalhando
e trabalhava para realizar uma obra. A obra era evidentemente futuro. Trabalhei em La
nause at o fim de meus anos no Havre e isso representava um vnculo to durvel,
to estvel, e, de certa maneira, to objetivo, quanto o tempo do liceu, durante o qual eu
ensinava filosofia, ou o tempo de minhas relaes com meus
amigos ou com voc.
Durante as frias, saa da Frana. amos, voc e eu, passear um pouco por todos os
lugares, pela Espanha, pela Itlia, pela Grcia, e isso tambm era um tempo
parte. Eu s podia imaginar ver a Espanha ou a Grcia durante aqueles meses. E o
maravilhoso reaparecia, j que ia ver algo que desconhecia: uma campons grego,
uma paisagem grega, a Acrpole que eu descobria. Era bem o maravilhoso das frias
que contrastava nitidamente com os nove meses de liceu, em que ensinava sempre
a mesma coisa; esses trs meses sempre novos e nunca assimilveis de um ano a outro
eram o tempo da descoberta.
Isso durou at a guerra. Durante a guerra e at meu retorno do cativeiro ignorei
completamente essa diviso antiga de meu tempo; tudo era sempre igual, pelo menos
no que se referia a minhas ocupaes. Um soldado faz as mesmas coisas no inverno e
no vero. Eu era meteorolo-
529
#gista e levava uma vida de meteorologista. Depois, fiquei num stalag, onde os dias se
sucediam uns iguais aos outros. A seguir fugi e voltei para a Frana e nesse
momento recuperei as mesmas divises do tempo, como antes:
isto , nove meses no liceu Pasteur em Paris e trs meses de frias - de.um modo geral,
frias em zona livre, o que representava o estrangeiro, mais ainda do que
o verdadeiro estrangeiro, j que era preciso penetrar em zona livre com a ajuda de
passeurs*. No fim da guerra, quando os alemes se foram, sa do liceu; tirei
uma licena que terminou depois em demisso e tornei-me exclusivamente escritor, vivi
apenas do dinheiro que meus livros me proporcionavam. No entanto, o ano continuava
dividido em nove meses-trs meses, e, finalmente, se manteve assim durante toda a
minha vida. Ainda hoje tiro trs meses de frias. Continuo indo aos mesmos lugares;
conseqentemente, o maravilhoso mais restrito, mais esperado. you a Roma durante
minhas frias. Mas durante esse perodo, a vida muito mais flexvel, muito mais
livre, falo com voc sobre uma variadade de coisas, passeamos. portanto um tempo
diferente, de certa maneira, mas que no traz grandes novidades, porque conheo
bastante bem a Itlia e o que vejo sempre um rever. Mas a diviso do tempo
permanece. Retorno em outubro, como se desde aulas, e parto em julho, como se as
aulas
tivessem terminado. Pode-se dizer que o ritmo nove meses-trs meses persistiu desde a
idade de oito anos at a idade de setenta anos que tenho atualmente. Foi a
diviso padro de meus anos. O verdadeiro tempo de meu trabalho literrio so os nove
meses em Paris: em geral, continuo a trabalhar durante os trs meses de frias,
mas trabalho menos, e o mundo s estende em torno de mim sem ordem prefixada.
Durante os nove meses h uma ordem a priori;
depende do livro que escrevo. Durante as frias fico muito mais ligado ao lugar em que
estou. A se encontra o tempo subjetivo. Sou subjetivamente afetado por Paris
* Pessoa que faz atravessar uma fronteira, uma zona proibida etc. (N. do T.)
530
que amo e que foi sempre meu lugar principal de moradia, ou ento pelo tempo do
Brasil, do J apo, tempo que diferente, que me vem das pessoas, durante o qual
frequentemente
fao excurses e visitas, que as pessoas locais me dizem serem indispensveis. um
tempo bizarro, confuso, de quando em quando com experincias notveis. Os tempos
de minha experincia do mundo so esses trs meses. H diferentes maneiras de captar
os minutos que se escoam durante as frias. Durante o ano, os dias se atropelam
um pouco. So interrompidos pelas noites durante as quais durmo; mas, na verdade, eles
se mantm, as noites representam um repouso. E em minhas lembranas os dias
dos nove meses se insinuam lentamente uns nos outros e acabam formando um s. Nove
meses se tornam um nico dia no ano seguinte. Assim, meu tempo sempre foi dividido
e nisso ele no se assemelha ao tempo de um operrio que tem vinte dias de frias - se
os tem - e para quem o resto do ano quotidianamente o mesmo trabalho.
S. de B. - Apesar de tudo, sua vida - pelo menos depois da guerra - no assim to
metdica e regular como voc diz. Houve ocasies em que voc no passou seus nove
meses em Paris: um ano em que voc passou quatro meses na Amrica. No ano
seguinte, retornou Amrica em ocasies que no eram ocasies de frias. Quando foi a
Cuba, era fevereiro. Fizemos, tambm, uma viagem Arglia, depois frica do Norte,
em
1950, perto de abril. Naquele ano no tiramos frias longas durante os meses de vero.
O ritmo um pouco mais flexvel, um pouco mais caprichoso do que voc diz.
Alm disso, samos tambm nas frias de Pscoa.
J .-P. S. - Certamente. Mas permanece sempre o esquema nove meses-trs meses.
Ocorrem coisas imprevistas durante os nove meses, mas mantenho a diviso nove
meses-trs
meses. E se fao uma viagem durante o ano, ela no tem exatamente o mesmo sentido
que uma viagem de vero.
S. de B. - Voc diz que, em sua lembrana, seus nove meses se condensam num nico
dia. No entanto, sua
531
#vida em Paris bastante diversificada. E tambm programada.
J .-P. S. - progamada dia a dia, e cada dia tem o mesmo programa: levanto-me por
volta de oito e meia. s nove e meia j estou trabalhando e trabalho at uma e
meia: meio dia e meia nos dias em que recebo algum. Em seguida, almoo, em geral
no La Coupole. Por volta das trs horas j terminei, e das trs s cinco converso
com amigos. s cinco, trabalho em minha casa at as nove. Pelo menos era assim at
estes ltimos anos em que estou cego - ou pelo menos vejo muito pouco e j no
posso ler nem escrever. Atualmente ainda fico frequentemente durante horas em frente
minha mesa, sentado em minha cadeira, pouco escrevendo. s vezes, tomando
notas, mas que no posso reler, e que voc rel. s nove horas, you jantar com voc ou
com outra pessoa - em geral, com voc. De algum tempo para c, jantamos
em sua casa. Antigamente amos a um restaurante, mas agora jantamos em sua casa, um
pouco de pat ou qualquer outra coisa, passamos a noite conversando ou ouvindo
msica. meia-noite, you deitar. Os dias transcorrem assim. Afora isso, variam um
pouco. Posso v-la mais durante um dia e v-la menos nos dias subsequentes.
S. de B. - Voc nem sempre almoa com a mesma pessoa, nem sempre passa a noite
com a mesma pessoa, mas tudo muito programado: segunda-feira tal pessoa, tera-
feira
esta outra, quarta-feira aquela etc. Portanto, o programa da semana mais ou menos
invarivel. Isso importante, porque significa que alm de sua diviso nove
meses-trs meses, voc tem, nas minudncias, uma vida muito programada, no dia a dia
e, tambm, durante a semana. uma vida muito regular. Por que assim programada?
J .-P. S. - No sei. Mas preciso no esquecer que esse programa sobretudo uma
forma; os contedos s dependem de mim. Se disponho, por exemplo, de trs horas
para trabalhar tarde, no fao o mesmo trabalho todos os dias.
532
S. de B. - Naturalmente. No que se refere a encontros, h pessoas que desejam v-lo e
que querem saber quando podem estar com voc. E seria muito complicado se,
a cada vez, voc tivesse que marcar um encontro. As pessoas no podiam exatamente
contar com voc. Creio que voc se deixou levar um pouco pelo prtico-inerte de
suas relaes com os outros, isso fez com que voc nunca mudasse o horrio em que
costuma ver as pessoas. Todo mundo um pouco assim, mas de toda maneira tenho
relaes flexveis com as pessoas. Em seu caso, particularmente uma coero.
J .-P. S. - Sim, mas em tal coero, o elemento limitados a hora marcada para os
encontros. O contedo destes varia.
S. de B. - Exato; s vezes passamos uma noite conversando, s vezes leio para voc, s
vezes ouvimos msica.
J .-P. S. - H pessoas com quem vivo horas muito repetitivas.
S. de B. - Voltemos ao tempo subjetivo. O tempo nunca lhe pareceu muito curto, muito
longo?
J .-P. S. - uase sempre muito longo, e s vezes tambm muito curto.
S. de B. - Isso significa que frequentemente se entedia?
J .-P. S. - No bem isso, mas creio que as coisas poderiam ser mais condensadas. A
vida das pessoas poderia comportar menos repeties. No me enfado com isso.
Ver duas vezes as mesmas coisas ditas pelas mesmas pessoas algo que pode divertir-
me. No, no tdio. Mas o fato de que o tempo muito longo quase sempre. s
vezes, muito curto. Ou seja, que o tempo dado no suficiente para que preparemos e
realizemos a ao que desejamos realizar. Ele no basta, seja por causa das
pessoas, que se opem, seja por causa das dificuldades encontradas. E tambm, um
momento que passo, que acho agradvel, tem que acabar 'as dez horas, porque precise
trabalhar. Foi ento muito curto. O tempo nunca exatamente aquele que necessrio,
ou seja, aquele que con-
533
#viria exatamente a uma coisa determinada sem ser suprfluo ou sem perda.
S. de B. - Em determinada poca voce falava muito de "corrida contra o relgio",
quando realizava grandes trabalhos, como o Flaubert ou, antes, a Critique de Ia
raison dialectique. Voc tinha a impresso de que o tempo era pouco para acab-lo e
que era preciso lutar, de uma maneira quase neurtica, contra o relgio. Alis
isso explicava o corydrane.
J .-P. S. - Muito menos com relao a Flaubert;
sobretudo com relao a Critique de Ia raison dialectique. E, afinal, no o terminei.
Conservei uma longa passagem que no foi publicada e que no foi terminada,
e que representaria um segundo volume. Alis, uma das caractersticas de minha relao
com o tempo o nmero de obras que no terminei: meu romance, L'tre et
l nant Critique de Ia raison dialectique, o Flaubert etc. No terrvel que no tenham
sido terminados porque pessoas que se interessassem por eles poderiam terminlos
ou fazer coisas anlogas. Mas o fato que, de modo geral, houve em mim uma espcie
de afobao ou de mudana que me fez decidir de repente - deciso desagradvel
- parar ali e no terminar o livro no qual estava trabalhando. curioso, porque tinha
uma representao de mim mesmo inteiramente clssica e tranquila; via os livros
um pouco como os livros que meu av fazia, livros de leitura; comeava-se no incio,
terminava-se no fim. Eram rigorosos. Por volta dos dez anos pensava que todas
as obras que faria teriam um comeo e um fim, seriam rigorosamente escritas e
compreenderiam tudo o que havia a dizer. E depois, ao olhar, aos setenta anos, tudo
o que h atrs de mim, constato que h uma quantidade de obras que no foram
terminadas.
S. de B. - No seria porque seus projetos englobarn um futuro imenso: enquanto vivia
esse futuro, outras coisas e solicitavam, o interessavam e o ocupavam e ento
voc abandonava o outro projeto?
J .-P. S. - Penso que isso. E certo que meu romance foi interrompido, porque o ltimo
volume, sobre
534
Resistncia em Paris, durante a guerra, j no se enquadrava com a vida poltica na
Frana da IV Repblica. Eu no podia viver ao mesmo tempo em 1950 e tentar
reencontrar,
atravs da imaginao, a vida que tnhamos em
1942-1943. Havia ali uma dificuldade que um historiador poderia superar, mas que um
romancista no pode.
S. de B. - Em relao s outras obras inacabadas um pouco o mesmo, penso eu; o
projeto se estendia por muito tempo e, ao conceb-lo, voc no refletia que estaria
diante de outras solicitaes precisas que, nalmente, prevaleceriam porque faziam parte
do presente.
J .-P. S. - A Critique de Ia raison dialectique e L'idiot de Ia famile foram, em parte,
contemporneos;
L'idiot de Ia famile em seu incio e Critique de Ia raison dialectique em seu final;
prejudicaram-se um pouco na poca.
S. de B. - Voc disse que o tempo nunca era exato, que era muito curto ou muito longo.
Em sua relao com o tempo no h momentos de relaxamento, momentos de flanao
ou de contemplao, lazeres sem tenso?
J .-P. S. - Houve muitos momentos assim, eles existem diariamente. Sou tenso quando
escrevo em minha mesa. um tempo de tenso, ele me resiste. Sinto que no farei
ao fim de trs horas o trabalho que queria fazer. E depois h as horas que chamaria de
vida privada, embora sejam tambm coletivas, to sociais quanto o resto. Quando
estou com voc podem ocorrer situaes em que temos coisas precisas a fazer e nas
quais o tempo novamente se torna tenso. Mas numa noite como a de ontem, nada nos
pressionava e o tempo transcorria assim.
S. de B. - Sim; no h que dar a impresso de que voc to tenso com relao ao
tempo, quanto o em suas relaes com seu corpo. Voc no aceita o abandono
do corpo, mas abandonar-se ao tempo, a durao. algo quer voc sabe fazer muito
bem.
J .-P. S. - Muito bem.
S. de B. - Diria at que mais do que eu. uando em viagem, eu estava sempre vida por
ver tudo, percorrer tudo, e voc preferia muito mais ser contemplativo,
535
#ficar tranquilo, tomar seu tempo. O fato de fumar cachimbo talvez fosse tambm uma
maneira de preencher seu tempo, sem preench-lo.
J .-P. S. - Sim, para fumar cachimbo preciso estar instalado num lugar, por exemplo
numa mesa de caf, e depois olhar o mundo em torno de si, enquanto se fuma.
O cachimbo um elemento de imobilizao. Desde que fumo cigarro diferente.
certo que durante as frias eu queria mais 'tomar meu tempo' do que durante os nove
meses do ano. E tambm, durante os nove meses, havia horas de vida privada em que
queria tomar meu tempo. Olhava as coisas, falava do que via, dos objetos em torno
de mim, dos homens que passavam.
S. de B. - Creio que, embora tendo trabalhado mais do que eu em sua vida, voc sempre
foi mais capaz de permanecer sem fazer nada.
J .-P. S. - Sim, e ainda atualmente. Ontem pela manh fiquei trs horas nesta poltrona de
onde no via muito, posto que quase j no vejo. No estava ouvindo msica
porque havia a greve, e estava ali, refletindo, devaneando, sem ir muito longe no
passado, j que no gosto muito de meu passado; no que o ache pior do que qualquer
outro, mas passado. Para mim, o passado existe na medida em que, se me perguntarem
o que fazia em 1924, poderia explicar que estava na Escola Normal. Mas no existe
na medida em que cenas de minha juventude, de minha infncia, de minha idade madura
poderiam renascer e no renascem. Voc no assim.
S. de B. - No, de modo algum. Voc nunca se conta determinada viagem que fez?
J .-P. S. - Nunca. Tenho lembranas fugitivas. Por exemplo, tenho uma lembrana de
Cordes; pequenos macios de anmonas ao longo dos muros, nas ruas que sobem. No
sei por qu; mas uma rua de Cordes pode voltar-me mente.
S. de B. - Quando voc vive no presente, as coisas lhe evocam reminiscncias? O
presente invadido pelo passado?
536
T
J .-P. S. - No, ele sempre novo. E a razo pela qual sustentei em La nause que a
experincia de vida no existe.
S. de B. - No bem assim que penso. Penso nas superposies que se produzem - pelo
menos em mim isso frequente - do passado sobre o presente e que do ao presente
uma dimenso particularmente potica. Uma paisagem de neve me lembrar uma
paisagem de neve na qual esquiei com voc, e a paisagem, com isso, ser-me- mais
preciosa.
Um odor de relva cortada evocar imediatamente, para mim, as pradarias do Limousin.
J .-P. S. - Sim, sem dvida. Os odores podem levar a outros odores; mas a paisagem de
neve que evoca uma paisagem de esqui - isto , um conjunto de coisas que aconteceram
em outra poca, na mesma paisagem -, no. Minha vida passada s lembrada por mim
de forma contemplativa e no povoando lembranas presentes. claro que a cada
instante tenho lembranas, esto presentes como momentos que se perdem no presente e
no como coisas precisas que me fariam voltar ao passado. E passado, mas passado
incorporado ao presente.
S. de B. - Por exemplo, ao olhar Roma pela manh, de seu terrao, para voc a Roma
que viu inmeras vezes, mas no imediato que voc a capta.
J .-P. S. - Sim, sempre. No prendo meu passado ao presente. Sem dvida, ele prprio se
prende a este.
S. de B. - Sim, porque os objetos do mundo so constitudos, como voc explicou, por
todos os valores que a investimos; mas isso no dado diretamente como algo
situado no tempo.
J .-P. S. - Eu tinha um outro tempo quando pequeno: era o tempo de minha vida at a
minha morte, desde os quinze anos. Mas ainda assim, na poca em que as ideias
e de genialidade me interessavam, at por volta dos trinta e quatro anos, eu dividia o
tempo em um tempo de vida real, indeterminada, e depois num outro tempo,
infinitamente
maior, o tempo depois de minha morte, no qual minhas obras agiriam sobre os homens.
537
#S. de B. - De toda maneira o tempo real terminava com a morte?
J .-P. S. - Sim; em certo sentido no terminava A vida no terminava. Morria-se em meio
a uma quantidade de projetos que no se realizavam. Mas, depois de minha morte,
sobreviveria sob a forma de meus livros encontrar-me-iam em meus livros, era uma vida
imortal' A verdadeira vida, na qual j no temos necessidade de possuir um
corpo e uma conscincia, mas onde proporcionamos fatos, significaes que variam
segundo o mundo exterior.
S. de B. - Voc teve conscincia dos diferentes estgios de sua vida?
J .-P. S. - Sim e no. Captava-os mal; aos quatorze anos, por exemplo, to logo escrevia
dez linhas, tinha a impresso de ser genial. Na verdade eram frases sem importncia,
mas eu as supunha geniais. Era ao mesmo tempo uma maneira de me ver adulto.
Quando escrevia viame adulto, com a minha idade. No tive ideia, por exemplo, de que
aos dezesseis anos fazia rascunhos. Pensava todas as vezes, que estava fazendo algo de
definitivo e que agradaria a meus leitores.
S. de B. - Voc nunca teve a ideia de aprendizagem?
J .-P. S. - Isso veio depois. Mas no incio, no A aprendizagem se fazia no prprio
romance. La nause foi uma verdadeira aprendizagem. Era preciso que aprendesse
a narrar, a encarnar ideias num relato. Era uma aprendizagem como outra qualquer.
S. de B. - uma ideia foi muito importante para voc: a do progresso.
J .-P. S. - Certamente. Pensava que minhas primeiras obras seram inferiores s que
viriam depois Pensava que minha grande obra se realizaria por volta dos cinquenta
anos e que depois eu morreria. Esta ideia de progresso me vinha, evidentemente, das
aulas nas quais se
PgTeo.0 progresso e de meu av que acreditava no
538
S. de B. - E tambm de sua escolha do futuro. Voc pensava que amanh seria melhor
do que hoje. Como conciliava essa ideia de progresso, que sempre teve, com sua
recusa da experincia?
J .-P. S. - Pensava que era na forma que se fazia o progresso no meu caso. Tratava-se de
aprender a escrever melhor, a construir um estilo, a compor livros seguindo
um certo programa. Mas isso no era um progresso de conhecimento.
S. de B. - No entanto, parece-me que em filosofia a ideia de progresso implica um
conhecimento cada vez mais rico, uma reflexo cada vez mais aprofundada.
J .-P. S. - Sim, mas eu no pensava realmente assim.
S. de B. - Voc pensava que no seria o passado que o enriqueceria. Pensava que havia
uma forma que iria afirmar-se mais, que o prprio movimento em direo ao futuro
era algo de vlido?
J .-P. S. - No fundo, acreditava na frmula de Comte: "O progresso o desenvolvimento
de uma ordem oculta"; isso me parecia verdadeiro.
S. de B. - Era uma tica muito otimista ao lado da atitude de tantas pessoas que
pensavam, como Fitzgerad, por exemplo, que uma vida um empreendimento de
desagregao,
que toda vida uma derrota, uma runa.
J .-P. S. - Tambm pensava isso. Pensava-o na vida. As coisas que eram comeadas e
que deveriam concluirse eram interrompidas. Terminava-se ento num fracasso.
S. de B. - A ideia de fracasso no igual de uma desagregao, de uma decomposio.
J .-P. S. - Nunca pensei isso. Sempre pensei que uma vida era um progresso at a morte,
que devia ser um progresso.
S. de B. - O que pensa a respeito atualmente?
J .-P. S. - A mesma coisa. O progresso se interrompe antes da morte, em determinado
momento, porque estamos cansados, estamos prximos da decrepitude ou temos
preocupaes
particulares. Mas, de direito, ele de-
539
#veria continuar por muito tepo. Cinquenta anos valem mais do que trinta e cinco.
Naturalmente, podem ocorrer rupturas do progresso, podemos bruscamente dar as costas
direo que havamos comeado a tomar.
S. de B. - E tambm h obras que no podemos considerar como sendo um progresso ou
uma regresso, porque se trata de totalidades. No se pode dizer que La nause
seja menos born do que Ls mots. Em compensao, pode-se dizer que h um progresso
de Critique de Ia raison dialectique em relao a L'tre et l nant e, de certa
maneira, do Flaubert em relao Critique de Ia raison dialectique, porque sob certos
aspectos vai mais longe. A se pode falar de progresso. Mas no que se refere
ao que chamamos de arte impossvel, porque se uma obra consumada, ela
consumada.
J .-P. S. - Por outro lado, os progressos entre o que pintava, por exemplo, Van Gogh na
Holanda e seus ltimos quadros so imensos.
S. de B. - No que se refere aos pintores, muito frequentemente so suas ltimas obras
que so, de longe, as melhores, porque h um domnio do trabalho que muito
mais complicado do que no escrever.
J .-P. S. - Para mim, o prprio nstante j um progresso. Ele o presente e transborda
para o futuro, deixando muito atrs de si o pobre passado, desdenhado, desprezado,
renegado; o que faz com que eu tenha reconhecido muito facilmente falhas ou erros, j
que vinham de outra pessoa.
S. de B. - Voc tem muita constncia em sua vida, tanto no trabalho como em seus
afetos, mas ao mesmo tempo no tem solidariedade profunda com seu passado. No
entanto,
o mesmo Sartre de vinte anos que encontramos atualmente.
J .-P. S. - Solidarizar-se ou no com o passado secundrio. O trabalho a ser feito
permanece o mesmo. O passado enriquece de certa maneira o presente e tambm
transformado por ele. Mas isso nunca foi problema meu.
540
S. de B. - Gostaria de saber: em suas diferentes idades, quais foram suas relaes com
sua idade? j .p 5 _ Inexistente. Em todas as idades. S. de B. - No; quando
era criana, sentia bem
que era criana.
J .-P. S. - Sim, mas a partir do momento em que
tive treze, quatorze anos, evitaram fazer com que eu sentisse que era criana; comecei a
pensar que era um rapaz, porque h privaes especiais para um rapaz.
S. de B. - Que quer significar por privaes?
J .-P. S. - No se tem liberdade completa, depende-se dos pais, eu me deparei com
oposies, choques;
comecei a ser totalmente livre quando estava na Escola Normal e a partir de ento, sim,
podia dizer: tenho vinte anos, tenho vinte e cinco anos, e isso correspondia
a determinados poderes muito precisos que a idade proporciona; mas no sentia a idade
em si mesma.
S. de B. - No sentia uma determinada relao
com um futuro imensamente aberto?
j .p _ sim, sentia-me engajado numa histria
que no conhecia bem, mas isso no representava uma idade para mim: era preciso que
me pusesse a trabalhar,
que fizesse alguma coisa.
S. de B. - Quero dizer: tudo estava ainda sua
frente naquela poca.
J .-P. S. - Sim, mas no o pensava como uma idade; era como o comeo de um livro que
nos tomar dois anos trs anos, para ser escrito, e cuja primeira linha escrevemos.
Era uma operao que duraria um certo tempo, ou at para sempre. A ideia de
envelhecer, isto , de ter artrias cansadas, vista ruim etc, todos os achaques que temos
ao envelhecer, isso no me ocorria.
S. de B. - Naturalmente. Mas no se sentia positivamente jovem, no saa com colegas
da mesma idade que voc? No tinha uma relao com as pessoas de quarenta
e cinco anos que pertenciam a uma outra classe que
no a sua?
J .-P. S. - Sim, mas no pensava que me tornaria
um deles.
541
#S. de B. - Ento voc no tinha a impresso: sou jove?
J .-P. S. - No, isso foi uma das coisas que menos senti; naturalmente, no significa que
no o sentisse em absoluto, digamos que era apagado. Tinha um pouco a impresso
de juventude, mas era apagado. Nunca me senti muito jovem.
S. de B. - Houve um momento em que sentiu que tinha uma idade?
J .-P. S. - No, no exatamente. Estes ltimos
anos ...
S. de B. - No: antes destes ltimos anos! No houve um momento em que sentia que
estava entrando na idade adulta?
J .-P. S. - No.
S. de B. - No entanto, pelo que me lembro, sim, voc teve aquela espcie de neurose, as
lagostas que o seguiam etc, era um pouco porque se encontrava instalado na
vida adulta; pelo menos foi o que eu disse em minhas Memrias e voc no me
desmentiu: voc tinha vinte e seis, vinte e sete anos e comeava a ter a impresso de
que sua vida estava feita.
J .-P. S. - Sim, mas no era uma questo de idade. Sentia-me jovem.
S. de B. - De certa maneira, voc o era.
J .-P. S. - Alis era isso que fazia o contraste entre a vida que eu tinha e a que me
esperava, ou seja, a de professor instalado na existncia etc. E escrever pairava
um pouco sobre tudo isso. Mas no se pode dizer que tivesse o sentido de minha idade
naquela poca, que a associasse a uma quantidade de coisas, de relaes, de
trabalho, de amizade, coisas que fariam dela uma realidade viva; no, isso no me
passava pela cabea.
S. de B. - Mas, apesar de tudo, quando estava com Bost, Palie, com Olga, no se sentia
diante de pessoas nitidamente mais jovens que voc?
J .-P. S. - Sim, um pouco, no em relao a Olga:
a relao com as mulheres diferente; mas quanto a Bost e Palie, sim. No entanto, na
intimidade entre mim, Bost
542
e Palie havia algo que superava a idade: eram companheiros tambm. Eles prprios lhe
diro, nunca sentiram a minha idade.
S. de B. - Sim, como voc mesmo disse, a idade um irrealizvel, ns mesmos no
podemos nunca perceber como realizar nossa prpria idade; ela no nos est presente;
mas o fato de ter ou trinta ou quarenta anos, ou cinquenta anos, ou sessenta anos, no
acarreta relaes diferentes com o futuro, com o passado, com um a srie
de coisas? Isso no faz diferena?
J .-P. S. - Enquanto havia um futuro a idade era a mesma. Havia um futuro aos trinta
anos, havia um futuro aos cinquenta anos. Talvez fosse um pouco mais ressequido
aos cinquenta do que aos trinta, no me compete julgar. Mas a partir dos sessenta e
cinco, setenta anos, j no h futuro. Obviamente, o futuro imediato, os cino
prximos anos; mas eu mais ou menos havia dito tudo o que tinha a dizer; de um modo
geral, sabia que j no escreveria muito, que em mais dez anos isso teria terminado.
Lembrava-me da triste velhice de meu av; aos oitenta e cinco anos, ele acabara,
sobrevivia, no se entenda por que ele vivia; quanto a mim, pensava s vezes que
no desejava essa velhice; e em outras vezes pensava que era preciso ser modesto e
viver at o fim da idade que tivesse e desaparecer quando fosse a hora.
S. de B. - Na relao com a idade voc s fala na relao com o futuro, mas sua relao
com o passado tambm no mudou? No houve tambm momentos em que voc
tinha - pelo fato de haver escrito - um certo cabedal, algo atrs de voc? No houve
momentos em que lhe era agradvel ter uma certa idade? Digamos, trinta e cinco,
quarenta anos?
J .-P. S. - No me lembro disso. Como disse em La nause nunca acreditei na
experincia. Aos trinta e cinco anos era um garoto que fingia ser um adulto. Nunca tive
experincia, algo que se tivesse formado atrs de mim, que me tivesse impulsionado,
no.
S. de B. - Mas, na falta de experincia, voc tem lembranas?
543
#J .-P. S. - Muito, muito poucas, como voc sabe;
atualmente, falando com voc, tenho algumas lembranas, desenvolvo-as; mas isso
porque estamos voltados para o passado.
S. de B. - Em suma, voc nunca teve o prazer de suas lembranas?
J .-P. S. - No; tenho recordaes quando falamos do passado; mas esto j um pouco
banalizadas, em sua maior parte so reconstrudas; a direo de meu pensamento,
quando penso sozinho, no a de recordar-me.
S. de B. - Ainda assim, voc tem um certo cabedal; por exemplo, quando lhe falo do
Brasil ou de Havana voc tem uma viso diferente a respeito, diferente da que
teria se no tivesse estado no Brasil e em Havana.
J .-P. S. - Sim, mas em meu contato com o Brasil ou Havana a propsito de coisas
presentes que posso ser levado a pensar nisso.
S. de B. - Em suma, voc quer dizer que passou sua existncia, dos treze anos at hoje,
sem nunca ter tido relaes diferentes com o futuro, com o presente, com
o passado, que isso foi sempre exatamente igual?
J .-P. S. - Sim.
S. de B. - Creio que isso no possvel.
J .-P. S. - No, exatamente, mas de um modo geral, assim.
S. de B. - A que atribui isso, que inteiramente anormal? Em geral, as pessoas
percebem que tm vinte anos e se sentem mais ou menos satisfeitas com isso; outras
percebem que tm cinquenta; h momentos em que as pessoas pensam ter uma
determinada idade; quanto a mim, por exemplo, bastante evidente que tive idades.
Como
explica que no as tenha tido?
J .-P. S. - No sei. Mas sei que assim. Sinto-me como um homem jovem, cercado de
possibilidades que se oferecem a um homem jovem. Detesto pensar, o que evidente,
que minhas foras diminuram, que j no sou o que era aos trinta anos.
S. de B. - Todo mundo, ao ultrapassar uma certa idade, obrigado a pensar nisso e
detesta pens-lo.
544
J .-P. S. - Por exemplo, o fato de ter sessenta e nove anos, que pelo pensamento
transcrevo como setenta, me desagradvel; pela primeira vez, penso, de quando em
quando, em minha idade: tenho setenta anos, isto , estou terminando, mas isso tem a
ver com coisas que vm certamente do estado de meu corpo, conseqentemente
de minha idade, mas que no ligo com a idade: com o fato de enxergar mal, de j no
escrever; j no posso escrever, nem ler, porque no enxergo; todas essas coisas
esto ligadas idade ...
S. de B. - Voc as sente, mais como um homem de cinquenta anos acidentado, do que
como um homem de setenta cuja idade tem repercusses desagradveis no corpo?
J .-P. S. - Muito mais.
S. de B. - Atualmente voc ento sente uma idade?
J .-P. S. - Por momentos. Ontem pensei nisso; na semana passada, tambm, ou h quinze
dias atrs. Evidentemente, trata-se de uma realidade de fato, na qual penso
de quando em quando, mas apesar de tudo, de um modo geral, continuo a sentir-me
jovem.
S. de B. - Intemporal de certa maneira?
J .-P. S. - Sim, ou jovem. Talvez deva antes dizer que me sinto jovem em minha cabea;
talvez tenha sentido minha juventude, em todo caso, eu a conservei.
S. de B. - Como explica ento esse fato, pelo menos curioso, de nunca ter tido idade? E
por que sempre viveu intensamente no presente, um presente voltado para o
futuro, para a ao?
J .-P. S. - Sim; provavelmente no tive muita disponibilidade para referir-me a
momentos do passado considerados em si mesmos, por seu valor esttico, por seu valor
sentimental; no tive muito tempo para isso.
S. de B. - Ou no ser uma ausncia total de narcisismo? Na verdade, voc quase no
tem relaes com voc mesmo, quase nenhuma relao com sua imagem.
J .-P. S. - Certamente, as lembranas de meu passado no se ligam minha imagem;
veja, neste momento,
545
#ocorre-me uma lembrana que permaneceu muito forte: a do dia em que experimentei
mescalina. Voltei de trem, voc estava comigo, e havia um macaco debruado na janela
do vago; vejo isso muito bem. Vejo voc e vejo o macaco debruado, de cabea para
baixo, contra a vidraa.
S. de B. - Recordaes voc tinha, Ls mots comprova isso; e ao conversarmos aqui, as
lembranas surgiram; mas o que quero dizer que voc tem uma conscincia dirigida
de um modo geral para o mundo, e no para sua situao, sua posio no mundo, para
uma imagem de voc mesmo.
J .-P. S. - isso.
S. de B. -Talvez seja isso que faz com que voc tenha menos idade do que outros.
J .-P. S. - Subjetivamente, claro. Atravesso os mesmos perodos que os outros e
adapto-me a isso, sou igual, diferente, mas dentro de limites previsveis; e tambm
penso diferentemente, penso como se no me modificasse.
S. de B. - Isso no se liga, tambm, sua grande indiferena em relao morte? H um
momento em Ls mots em que voc diz que, em sua infncia, tinha muito medo
da morte. Mas, depois, parece-me que isso nunca ocupou um lugar em suas
preocupaes. Voc no pensou: agora tenho quarenta anos...
J .-P. S. - Nunca. De dez anos para c, mas objetivamente, sem que isso me transtorne de
maneira alguma, penso nisso; ainda h dois ou trs dias estava pensando nisto:
atingi a idade em que uma vida humana atualmente termina. Creio que, para os
franceses, setenta anos ...
S. de B. - No, um francs privilegiado como voc pode viver at os oitenta, oitenta e
cinco anos; mas, enfim, isso um lapso muito limitado, sinto-o pessoalmente;
j no temos a audcia de dizer: dentro de vinte anos farei isto, dentro de vinte anos irei
a tal lugar. Mas para voc indiferente esbarrar nesse limite? Nessa
espcie de muro?
546
J .-P. S. - Pouco a pouco forma-se uma idade que formada por esse limite. De outra
forma, por mim mesmo, quando estou disposto, ainda me sinto como h trinta anos
atrs. Mas sei que dentro de quinze anos terei oitenta e cinco. Se ainda viver.
S. de B. - Mas um saber que vem de fora. Isso voc explicou cinquenta vezes; o ego
no est na conscincia, portanto a conscincia est eternamente presente, fresca,
a mesma; e em suas relaes com os outros? Os outros no o fazer sentir que tem uma
determinada idade?
J .-P. S. - Em minha opinio, eles tambm no envelhecem muito. Veja os rapazes de
Temps Moderns:
penso em Bost, em Pouillon, exatamente como foram sempre.
S. de B. - No os v envelhecer?
J .-P. S. - No, vejo-os como jovens a quem ensino filosofia e a quem ensinei filosofia.
S. de B. - E em suas relaes com os jovens? Por exemplo, com Victor: uma das coisas
que o tocam que pode ensinar-lhe algumas coisas, e que pode ajud-lo;
portanto, nesse momento, h uma questo de experincia, pelo menos, algo que se liga
aos raros benefcios da idade.
J .-P. S. - Sim, preciso ver o que significa isso. Trata-se mais de considerar as coisas
atualmente, no com a experincia, mas com a idade que tenho. Sim, gosto
de estar com Victor, mas temos uma conversa de pessoa a pessoa; no um jovem que
vem ver um velho;
discutimos, temos pontos de vista sobre uma realidade qualquer, poltica ou no, que se
nos apresenta; nesses momentos ele tem a minha idade.
S. de B. - Sim, isso compreensvel. H outras coisas a dizer sobre sua relao com o
tempo, relao que talvez explique essa ausncia de um sentimento de idade.
Primeiro essa maneira que voc sempre teve de preferir o presente ao passado. O que
quero dizer o seguinte: se voc toma um copo de usque, dir: Ah! este copo
de us-
547
#que est maravilhoso, melhor do que o de ontem. De um modo geral, h sempre uma
preferncia pelo presente.
J .-P. S. - O presente concreto e real. Ontem menos ntido, e em amanh ainda no
penso. Para mim h uma preferncia do presente em relao ao passado. H pessoas
que preferem o passado, porque lhe conferem um valor esttico ou um valor cultural. Eu
no. O presente morre, ao passar ao passado. Perdeu seu valor de entrada na
vida. Pertence-lhe, posso referir-me a ele, mas j no tem essa qualidade que dada a
cada instante, na medida em que vivo, e que perde quando j no vivo.
S. de B. - E, sem dvida, por isso suas rupturas com seus amigos foram to pouco
difceis para voc.
J .-P. S. - Sim, eu comeava uma vida nova sem eles.
S. de B. - A partir do momento em que uma coisa passou, para voc ela foi realmente
abolida?
J .-P. S. - Sim. E quanto aos amigos que me restam, que esto vivos, preciso que
tenham um presente novo para no retornar sempre ao mesmo presente; preciso que
no se representem a mim como na vspera ou, na antevspera, com as mesmas
preocupaes, as mesmas ideias, as mesmas maneiras de falar; preciso que haja uma
modificao.
S. de B. - Sim, porque poder-se-ia pensar, por essas definies de suas relaes com o
tempo, que voc um homem muito verstil, que se separa de seu passado muito
facilmente, para lanar-se em novas aventuras;
mas no assim de modo algum; voc muito constante; vivemos quarenta e cinco
anos juntos, voc tem amizades, como a que tem com Bost, que duram h muito, muito
tempo; voc tambm teve longas amizades com outros membros de Temps Moderns.
Como pode explicar essa mistura de constncia, de fidelidade e de vida no presente?
J .-P. S. - A vida no presente feita exatamente dessas constncias; a vida no presente
no correr atrs de qualquer coisa, atrs de qualquer pessoa nova, viver
com os outros, dando-lhes uma espcie de dimenso pre-
548
sente que eles tm efetivamente. Por exemplo, quanto a voc, nunca a pensei no
passado, sempre a pensei no presente; ento, conseguia ligar este presente a passados
anteriores.
S. de B. - E em suas relaes com o trabalho, tambm era assim? Pensava sempre que a
ltima obra que fazia era a melhor? Ou tinha ternuras por obras anteriores?
J .-P. S. - Tinha ternuras por obras mais antigas. La nause, por exemplo. Concebia meu
trabalho como que datado. Havia obras que se compreendiam em determinada poca,
nem antes, nem depois, em virtude das circunstncias.
S. de B. - Mas, intelectualmente, voc tem a impresso de avanar, a impresso de um
progresso? Ou determinadas obras lhe pareciam to definitivas que, de certa
maneira, tinha a impresso de que no poderia super-las?
J .-P. S. - Tinha a impresso de um progresso; no diria que Ls mots superior La
nause; mas, apesar de tudo, ir mais adiante, de toda maneira, era fazer algo
que valia mais, porque eu me beneficiava das obras anteriores.
S. de B. - No seria preciso ento fazer uma distino - isso nos leva a falar de suas
obras - entre as obras literrias e as obras filoscas? Porque no se quer
que voc diga que Ls mots superior a La nause, mas voc diria de born grado, e isso
uma evidncia, que Critique de Ia raison dialectique superior a L'tre
et l nnt.
J .-P. S. - Penso que verdade, mas no o diria de born grado, porque, de certa maneira,
minhas obras passadas so marcadas pela satisfao que experimentava no
momento em que as fazia. Para mim muito difcil imaginar realmente a Critique de Ia
raison dialectique como superior a L'tre et l nant.
S. de B. - Voc quer dizer que ela no vai mais longe?
J .-P. S. - Sim, ela vai mais longe.
549
#S. de B. - Ela resolve mais problemas, d uma descrio mais exata da sociedade. S
que no teria sido possvel sem L'tre et l nant, penso que isso tambm
um fato.
J .-P. S. - Em filosofia e em minha vida pessoal sempre defini o presente - o momento
pleno - com relao ao futuro e z com que contivesse as qualidades do futuro,
ao passo que o passado sempre foi - na trade; sei, no entanto, que o passado, de certa
maneira, mais importante do que o futuro; ele nos traz alguma coisa.
S. de B. - Voc disse frequentemente que ele define a situao que ultrapassamos: o
presente a retomada do passado em direo a um futuro. Mas o que mais lhe
interessou
foi o movimento em direo ao futuro - enfim, pessoalmente - mais do que a retomada
do passado.
J .-P. S. - Se atentamos para o sentido de minha vida, que escrever, pois bem, isso
constitudo a partir de um presente que se torna passado no qual no escrevi,
para chegar a um presente em que escrevo, e em que se faz uma obra que terminar no
futuro. O momento do escrever um momento que compreende o futuro e o presente,
e o presente determinado com referncia ao futuro. Escreve-se um captulo de romance,
escreve-se o captulo 12 que vem depois do captulo lie que precede o captulo
14, o tempo se mostra, portanto, como um apelo do futuro ao presente.
S. de B. - Mas existiram, existem atualmente em sua vida, momentos em que o presente
vivido verdadeiramente por ele mesmo? Como uma espcie de contemplao, de
prazer, e no apenas como um projeto, uma prtica, um trabalho?
J .-P. S. Sim, ainda existem; existem pela manh, aqui,7 por exemplo, quando acordo,
e voc ainda no est presente, e you sentar-me numa poltrona no terrao e
olho o cu.
7. Em Roma.
550
S. de B. - Houve muitos momentos assim em sua
vida?
j .p s. - Bastantes. Considerei-os superiores aos
outros, mais interessantes.
S. de B. - Pelo fato de ter sido um homem muito ativo e que trabalhou muito, houve,
apesar de tudo, esses momentos de abandono, de mergulho no imediato?
j .p _ sim. Houve muitos.
S. de B. - E, em particular, com que contedo?
j.-p. S. - Um contedo agradvel.
S. de B. - Sim, mas refiro-me ao que o coloca nessas espcie de estado do imediato.
J -P S - Qualquer coisa. Uma manh de cu bonito: ento'olho as coisas sob esse cu; h
um momento de perfeito contentamento: as coisas esto ali, sob esse cu que
vejo; sou unicamente isso, algum que olha o cu da
manh.
S. de B. - Ser que a msica - voc gosta muito
de msica - lhe transmite s vezes o mesmo estado?
j .p S. - Sim, quando no tocada por num. Num concerto, ou ouvindo um disco, posso
ter impresses desse gnero Poderamos dizer que so contatos com a felicidade
No exatamente felicidade, j que se trata de instantes que vo desaparecer, mas so
esses os elementos
que constituem a felicidade.
S de B - Voc vivia no futuro, na medida em que o futuro era uma prtica; mas voc o
vive tambm como uma espcie de antecipao alegre? Por exemplo, quando estava
de partida para sua viagem Amrica? j .p s. - Sim, eu me via na Amrica. S. de B. -
At pensava intensamente nisso.
J .-P. S. - Sim.
S de B. - E durante um tempo cuidou dos preparativos necessrios, mas j estava na
Amrica. Tais momentos lhe acontecem com frequncia? H coisas que voc quis
muito, que imaginou, desejou e esperou muito intensamente?
j.-p. S. - Certamente.
551
#S. de B. - E na medida em que h depois uma confrontao entre esse futuro sonhado,
imaginado, e o presente, voc suscetvel ao que podemos chamar de decepo?
Ou, ao contrrio, a realidade lhe oferece mais do que voc imaginara?
J .-P. S. - Ela me d mais e algo diferente; em geral, mais porque um presente em que
cada objeto contm partes infinitas, e pode-se encontrar tudo num novo presente,
portanto mais do que se pode imaginar; o que podia imaginar eram direes, qualidades,
limites, mas no objetos reais, e a realidade era diferente da expectativa
porque, apesar de tudo, no se imagina a verdade; a Nova Iorque de Nick Crter no era
a que descobri quando cheguei a Nova Iorque.
S. de B. - Voc no dessas pessoas que se decepcionam constantemente quando no
encontram o que esperavam?
J .-P. S. - No me decepcionei com Nova Iorque, ao contrrio, no; sei o que imagino
no o que ser. Seria nesse caso, eftivamente, que se poderia conceber uma
decepo. E talvez haja algumas, pequenas, mas que desaparecem.
S. de B. - Em certo sentido, sua novela L soleil de minuit era a histria de uma
decepo?
J .-P. S. - Sim, a menina imaginava o sol da meianoite sob uma forma mgica e
decepcionava-se quando se deparava com o objeto real.
S. de B. - Mas isso foi raro acontecer em sua vida?
J .-P. S. - A prpria novela mostrava essa decepo como um erro: atravs da decepo
da menina eu devia mostrar que esse sol da meia-noite era algo belo.
S. de B. Voc teve grandes arrependimentos em sua vida? Houve momentos em que
disse a si mesmo: Ah, deveria ter feito isto, deixei passar isso, perdi tempo aqui?
J .-P. S. - No muito; quando se trata de algo urgente, sim, quando uma deciso que
envolve uma parte de minha vida, e urgente, portanto, e deve ser tomada
imediatamente.
Uma deciso no uma coisa simples; se
552
tenho que tomar uma deciso, invent-la em todos os seus
detalhes, a ento posso lastimar.
S. de B. - Uma vez tomada a deciso?
j.-p. S. - Sim, porque no considerei tudo.
S. de B. - Quer dizer que, se obrigado a decidir
muito rapidamente, pode acontecer-lhe tomar a deciso
errada?
j -p. s. - No, no uma deciso errada, mas uma
deciso imperfeita.
S. de B. - Em que caso, por exemplo, isso lhe
aconteceu?
J .-P. S. - No tenho um exemplo preciso para darlhe.
S. de B. - Nas raras ocasies em que tomamos decises em nossa vida, e no so tantas
as que toamos, tenho a impresso de que voc se sentiu satisfeito; a deciso
de ir para a Alemanha, de ir para a Havre j no primeiro trimestre, de no aceitar uma
khgne em Lyon, como era o desejo de sua famlia, e sim de aceitar um posto
em Laon: todas essas decises lhe deram satisfao?
J .-P. S. - Fiquei satisfeito com elas.
S. de B. - Que eu saiba, quando voc se sente insatisfeito porque o mundo lhe recusou
algo. Por exemplo, voc lamentou no ter ido para o J apo.
j -p. s. - Sim. No o lamentei muito. H pessoas que o haveriam lamentado muito mais
do que eu. Mas, de um modo geral, no lamento muita coisa em minha vida. Lamento
algumas; h livros que comecei e que nunca terminei e jamais publiquei.
S. de. B. - Sim, mas o pesar no devia ser to intenso, j que precisamente voc no os
escreveu e optou por fazer outra coisa.
S. de B. - Gostaria de perguntar-lhe, de uma maneira muito ampla, como v o conjunto
de sua vida?
j.-p. S. - Sempre considerei a vida de cada um como um objeto que contguo pessoa
e a envolve. De um modo geral, posso dizer que vejo, no somente a mi-
553
#nh vida, mas a de todo mundo, desta maneira: um incio muito filiforme - que se
amplia lentamente por ocasio da aquisio dos conhecimentos e das primeiras
experincias
que se amplia sempre at os vinte, trinta anos, acresce do-se sempre de experincias, de
aventuras, de uma quantidade de sentimentos. Depois, a partir de uma certa
idade, varivel segundo as pessoas, vindo em parte delas mesmas, em parte de seu
corpo, em parte das circunstancias, a vda tende para seu fechamento, sendo a morte
o ltimo fechamento, assim como o nascimento foi a abertura. Mas considero que esse
momento do fechamento acompanhado de uma ampliao constante em direo ao
universal. Um homem de cinquenta ou sessenta anos, que efetivamente, se encaminha
para a morte, apreende e, ao mesmo tempo, vive um determinado numero de ligaes
com o outro, com a sociedade, cada vez mais amplas. Ele apreende o social, aprende a
refletir sobre a vida dos outros, sobre sua prpria vida. Enriquece-se, enquanto
que, por baixo disso, morre. Uma determinada forma vai em direo a sua realizao e,
simultaneamente, o indivduo adquire conhecimentos ou esquemas que so universais,
que tendem para o universal. Ele age por uma determinada sociedade, por uma
conservao ou, ao contrrio, pela criao de uma outra sociedade. E o surgimento desta
sociedade talvez ocorra depois de sua morte; de toda maneira seu desenvolvimento se
far depois de sua morte; assim como, alis, a maioria dos empreendimentos aos
quais ele se dedica na ltima etapa de sua vida tero xito se continuam depois de sua
morte, se ele pode, por exemplo, legar a seus filhos o estabelecimento que
criou, mas fracassaro se terminam antes de sua morte - se, por exemplo, ele se arruina
e nada pode legar-lhes. Em outras palavras, h um futuro mais alm da morte
e que quase faz da morte um acidente na vida do indivduo, vida que continua sem ele.
Isso no verdade para muitos deles: por exemplo, os velhos dos asilos, que
foram operrios exerceram trabalhos muito humildes, j no tm futuro. Vivem no
presente e sua vida se aproxima da morte, sem outro futu-
554
ro que no, para cada momento, o momento imediatamente subsequente.
S. de B. - Creio que sua descrio , de fato, uma descrio que se aplica a voc,
certamente, a um determinado nmero de privilegiados e, em particular, aos intelectuais
quando estes conservam um interesse pela vida; mas, sem falar sequer dos asilos, a
imensa maioria das pessoas idosas, uma vez simplesmente aposentadas, se encontram
cortadas de seu trabalho e do mundo em geral; a velhice s muito raramente o tipo de
ampliao de que voc fala. Mas como de voc que estamos falando, o que
disse a respeito ainda assim muito interessante. Gostaria que especificasse um pouco
em que medida tem pessoalmente a impresso de que a vida continua a ser uma
ampliao para voc. A partir de que momento situaria, sob esse ponto de vista, o pice
de sua vida? Refiro-me ao momento em que se relacionou ao mximo com o mundo,
com as pessoas, com os conhecimentos.
J .-P. S. - O auge das relaes reais e que no terminam num futuro em que j no estarei
vivo, creio que foi entre os quarenta e cinco e sessenta anos.
S. de B. - Em suma, voc acha que sua vida no deixou de ampliar-se e de enriquecer-se
at os sessenta anos?
J .-P. S. - Mais ou menos. Foi ento que escrevi obras losficas. Mas ela sempre teve um
futuro que no dependia de minha morte. Havia aquela noo de imortalidade,
na qual acreditei durante muito tempo e depois deixei de acreditar. De toda maneira,
para um escritor permanece a ideia de que continuaro a l-lo quando ele no
mais existir. E isso o seu futuro. Continuamos a ser lidos durante quant tempo?
Cinquenta anos, cem anos, quinhentos anos? Isso depende do escritor. No que me
diz respeito, imagino uns cinquenta anos. Pouco importa que seja lido raramente ou com
frequncia, mas durante cinquenta anos meus livros ainda existiro, assim
como os de Andr Gide ainda existem para os jovens - cada vez menos, alis - ou seja,
cinquenta anos depois de sua morte, ou at mais.
555
#S. de B. - Voc acha que depois dos sessenta anos h uma ampliao e, ao mesmo
tempo, um estreitamento? Como v especificamente esses dois movimentos?
J .-P. S. - Falemos do estreitamento: j no me interessaria escrever um romance
descrevendo outra vida que poderia ter tido. Mathieu, Antoine Roquetin tinham vidas
diferentes da minha, mas prximas, exprimindo em minha opinio o que havia de mais
profundo em minha prpria vida. J no poderia escrever isso. Muitas vezes penso
em escrever uma novela, e depois nunca o fao. Portanto, h elementos em meu prprio
trabalho que esto suprimidos, cortados, interrompidos, todo um lado romntico
da vida, de esperanas vs, mas valorizadas enquanto vs. Todo esse lado, a relao
com o futuro, a relao com a esperana, a relao com uma vida real numa
sociedade real, em harmonia com meus desejos, tudo isso terminou. E h tambm todo
o universal - o sentido de minha vida no sculo XX - que tento conceber; isso
me distancia do sculo XX. no sculo XXI que se podero julgar, situar vidas
pertencentes ao sculo XX. Certamente imagino isso de uma maneira falsa, mas apesar
de tudo tento projetar minha viso de mim a partir do sculo XXI. E h mil outras
coisas: conhecimentos de economia, de cincias humanas, que ao mesmo tempo se
introduzem
em minha vida, modificam-na de certa maneira - e conseqentemente correm o risco de
perecer com ela - mas que so tambm leis que agem sobre todas as vidas, que,
sob esse aspecto, representam o universal. Essas leis mudaro com o sculo XXI e o
sculo XXII. Mas permitiro que sejamos compreendidos. Tudo isso um universal
que sinto, que capto parcialmente, que imagino, seja no futuro, seja a partir de seu
presente. Esse conjunto de conhecimentos constante, est em minha cabea porque
estou aqui, no sculo XX, mas na verdade est tambm em minha cabea porque existe;
so leis que temos que descobrir como descobrimos um rochedo noite, chocando-nos
contra ele.
S. de B. - Voc quer dizer que a partir da idade de sessenta anos aprendeu?
556
J .-P. S. - A partir da idade de um ano.
S. de B. - Sim, mas pergntava-lhe o que entendia por ampliao a partir da idade de
sessenta anos.
J .-P. S. - Continuei, sem dvida, a adquirir. E os conhecimentos que adquiro esto nos
livros, mas tambm em minha cabea, porque os desenvolvo, tento lig-los a
outros conhecimentos que tenho. Eles so universais, isto , no aplicam somente a uma
infinidade de casos, mas alm disso ultrapassam o tempo; tm um futuro, encontrar-se-
o
em outras circunstncias, no prximo sculo. E atravs disso mesmo, de certa maneira,
me do seu futuro. Pelo menos mo do de uma maneira formal. Os conhecimentos
que tenho e que me caracterizam so igualmente futuros e me caracterizaro. Assim sou
e serei, ainda que tenha perdido minha conscincia.
S. de B. - Pode especificar o que so esses conhecimentos?
J .-P. S. - difcil, porque se trata de todos os conhecimentos. Por exemplo, o ltimo
trabalho que escrevi em colaborao com Victor e Gavi era isso. Nele falamos
do presente, mas falamos tambm do futuro, do futuro revolucionrio, das condies
que iro constitu-lo; este futuro meu objeto e, ao mesmo tempo, sou eu.
S. de B. - Em outras palavras, voc tem a impresso de possuir uma ideia do mundo,
uma viso de compreenso do mundo mais ampla, mais vlida do que a que teve at
agora?
J .-P. S. - Sim, mas no diria que ela comea aos sessenta anos. Comea desde sempre,
amplia-se sempre.
S. de B. - O estreitamento seria ento o de determinados projetos, como, por exemplo, o
de j no fazer romances.
J .-P. S. - Sim, e de j no fazer grandes viagens, porque isso me cansa. o
estreitamento da velhice, propriamente dita, e da doena, e que atinge cada um de ns.
E este lento avano para a morte s pode ser dado em pontilhado sob o conjunto de
conhecimentos universais que me criam um futuro para alm da morte. Descreveria
ento minha vida, em direo ao fim, como
557
#uma srie de linhas paralelas e retas; seriam meus conhecimentos, minhas aes, meus
pertences, e isso representaria precisamente um universo em que o futuro est
presente, em que ele me caracteriza tanto quanto o presente. E por baixo disso indicaria
em pontilhado o que ocorre a cada instante e que no tem muito futuro a
no ser meu fim: esta vida real de cada instante, as doenas que podem alterar minhas
vsceras, as faltas de conhecimentos que tive durante toda a minha vida, mas
que podem ainda agravar-se atualmente etc. minha morte, mas represento-a em
pontilhado. E, por cima, coloco esses conhecimentos e essas aes que implicam o
futuro.
S. de B. - Compreendo o que quer dizer. Mas consideramos agora sua vida sob outro
ngulo. Gostaria que a olhasse como tentei olhar a minha quando escrevi o comeo
de Tout comptefait. Ou seja: o que aconteceu em sua vida em termos de oportunidades,
acasos, momentos de liberdade, obstculos a tal liberdade. E principalmente
- suponho, coisa que a meu ver, verdade, que se sinta satisfeito com o conjunto de sua
vida, com o que fez, com haver sido o que -o que pode considerar como
as oportunidades que zeram de voc o que ?
J .-P. S. - Creio que a maior oportunidade foi, incontestavelmente, nascer numa famlia
universitria, isto , numa famlia de intelectuais de certo tipo que tinham
uma determinada concepo do trabalho, das frias, da vida quotidiana, e que podiam
oferecer-me um born ponto de partida. evidente que, desde que fui capaz de
olhar em torno de mim, considerei a condio de minha famlia e, conseqentemente, a
minha, no como uma condio social em meio a outras, mas como a condio social.
Viver era viver em sociedade, e viver em sociedade era viver como meus avs ou como
minha me. Portanto, o fato de ter vivido inicialmente, como descrevi em Ls mots,
em casa de um av que se ocupava sobretudo de livros, que tinha alunos, foi de fato
muito importante. E o fato de no ter tido pai tambm foi certamente muito importante.
Se tivesse tido um pai, sua profisso seria muito mais visvel, muito mais rigorosa. Meu
av
558
estava aposentado, ou perto disso, quando nasci. Tinha uma escola. Tinha um curso de
alemo nos Hautes tudes Sociales. Tinha portanto um trabalho, mas esse trabalho
era remoto. Eu conhecia seus alunos nas festas que se realizavam no Instituto, em
Meudon, na casa de meus avs. Em suma, conhecia sua vida de trabalho unicamente
nas ocasies de lazer, as ligaes de seu trabalho com seus alunos quando ele os
convidava para jantar.
S. de B. - Qjue importncia teve para voc o fato de no ter tido conscincia de um
trabalho necessrio para ganhar a vida?
J .-P. S. - Enormes, porque isso suprimia a relao entre o trabalho que fazemos e o
dinheiro que recebemos para faz-lo. Eu no via a conexo entre essa vida de
festas e de convvio com os alunos que tinha meu av e que pareciam relaes de
companheirismo, de amizade, e o dinheiro que ele recebia no fim do ms. E a seguir,
nunca vi muito bem a relao entre o que eu fazia e o que ganhava, mesmo quando
professor. E nunca vi muito bem a relao entre os livros que fazia e o dinheiro
que recebia de meu editor no fim de cada ano.
S. de B. - Esse trabalho de professor foi uma escolha livre, ou foi imposto pela famlia,
j que estamos falando exatamente de liberdade, de escolhas etc.?
J .-P. S. - Isso bastante complicado. Creio que para meu av no havia dvidas de que
eu deveria ser professor. Seu filho mais velho no o fora, tornara-se engenheiro;
mas seu filho caula tinha sido professor, ainda o era, e ele achava natural que eu, em
sua opinio, to bem dotado, fosse professor como ele. Mas enm, se eu tivesse
tido uma vocao precisa para qualquer outra profisso - por exemplo, engenheiro
politcnico ou engenheiro da Marinha - ele no se oporia. Mas eu concordava em ser
professor porque via nessa categoria de intelectuais a origem, a fonte dos romancistas,
dos escritores dos quais queria fazer parte. Pensava que o trabalho de professor
dava conhecimento considerveis sobre a vida humana, e que o livro exigia
conhecimentos considerveis para ser escrito. Via uma relao entre o professor de
559
#Letras, que forma um estilo para si mesmo sendo professor, corrigindo o de seus
alunos, e esse mesmo professor utilizando-se do estilo que assim estudara, para
fazer um livro que garantiria sua imortalidade.
S. de B. - Houve, portanto, uma harmonia entre as circunstncias familiares, que o
estimulavam para o professorado, e sua prpria vontade?
J .-P. S. - Sim, se podemos cham-lo de harmonia, porque podemos ser lixeiro e escritor.
As relaes entre o fato de sermos professor e de escrevermos muito secundria.
Mas eu escolhi essa harmonia. Ou seja, vi o mundo atravs da carreira de meu av e
atravs de meu prprio desejo de escrever. Isso se ligou, j que era meu av que
me dizia: voc escrever. Alis, ele mentia, pois pouco se lhe dava, ele queria que eu
fosse professor. Mas eu o levava muito a srio, e, conseqentemente, meu av
professor, superior a todos os professores, claro, dizia-me isso como se ele prprio
tivesse escrito.
S. de B. - Ento, poderamos considerar a profisso de professor como uma espcie de
escolha livre, mas conforme ao que era desejado para voc. Voc v na infncia
ou na juventude momentos em que essa liberdade foi mais solitria? Teve a impresso
de ter iniciativas inteiramente pessoais durante toda essa primeira etapa de
sua vida?
J .-P. S. - difcil dizer.
S. de B. - No fato de escrever, por exemplo.
J .-P. S. - O fato de escrever talvez no tenha sido inteiramente pessoal quando tinha oito
anos, que, como referi em Ls mots, recopiei, reinventei textos j escritos.
No entanto, havia alguma coisa que vinha de mim. Queria ser aquele que escrevia livros
como aqueles. Depois do quinto ano fui para La Rochelle com meu padrasto
e minha me, e ali j nada justificava minha escolha de escrever. Em Paris, tivera
colegas que haviam feito a mesma escolha que eu; em La Rochelle no havia nenhum
que quisesse tornar-se escritor.
S. de B. - E ainda assim voc escrevia?
560
J .-P. S. - Escrevia, apesar de tudo, s tendo como pblico para minhas obras
coleguinhas para os quais li algumas pginas e que caoavam de mim.
S. de B. - E em casa, tambm no o encorajavam?
J .-P. S. - De modo algum.
S. de B. - Em suma, escrever era, para voc, uma espcie de aprendizado de solido e de
liberdade.
J .-P. S. - Ainda escrevi no quarto ano; muito menos, e talvez nada no terceiro e no
segundo. Concebia o escritor como um infeliz que no era lido, que no era conhecido
por seus prximos. Era depois de sua morte que sobrevinha sua celebridade. Eu escrevia
sentindo a hostilidade possvel ou real de meus colegas. Naquela poca, via
pois o escritor como um pobre-diabo condenado. Fiz romantismo.
S. de B. - Em ltima instncia, voc tem uma viso muito serena da morte.
J .-P. S. - Vejo a aproximao da morte como uma srie de privaes. Por exemplo, eu
era um grande bebedor, como voc sabe, e uma das grandes satisfaes de minha
vida, mesmo quando estava aborrecido por razes objetivas, era terminar a noite
bebendo bastante. Isso desapareceu. Desapareceu, porque os mdicos mo proibiram.
Alis, discordo dos mdicos, mas ainda assim me submeto. H, portanto, privaes que
so como coisas que tiram de mim, antes de tirar-me tudo, o que ser a morte.
E h essa disperso que o surgimento da velhice. Ou seja, ao invs de ter ainda bem
claramente a ideia de uma sntese de mim que deve consistir num s homem, isso
se dispersa numa srie de atividades, de pequenas coisas. A sntese comeou, mas
jamais ser terminada. Sinto tudo isso e, portanto, meu estado menos confortvel
do que h dez anos. Mas nem por isso, a morte, como coisa sria que surge num
momento dado, e que eu espero, algo que me assuste ou que no me parea natural.
Natural, em oposio ao conjunto de minha vida que foi cultural. De toda maneira, o
retorno natureza e a afirmao de que eu era natureza. E tambm,
561
#aquilo que recordo de minha vida, mesmo com essa nova perspectiva, mesmo com o
erro da imortalidade que alimentei durante muitos anos, me parece vlido. uma
espcie de perspectiva pr-mortal, no inteiramente a perspectiva da morte, mas uma
perspectiva de antes da morte. No lamento nada do que z. At mesmo meus maiores
erros esto ligados a mim, engajam-me, muitas vezes os resolvi atravs de outras
reviravoltas.
S. de B. - um outro assunto, mas gostaria de saber o que que voc considera como
seus maiores erros.
J .-P. S. - Oh! neste momento nada de muito particular. Mas penso que ocorreram.
S. de B. - Erros, pelo menos, sem dvida alguma.
J .-P. S. - Erros, sim. Em suma, considero que uma vida que se desfaz.
Conseqentemente, no h jamais uma vida que termine como comeou, por um ponto
que o ponto
terminal. Isso mais se ...
S. de B. - Desfia-se.
J .-P. S. - Dispersa-se, desfia-se. Ento, se excluo esse perodo de desfamento - que no
deploro, j que o destino de cada um - considero que tive um perodo,
dos trinta aos sessenta e cinco anos, em que me dirigi, em que no fui muito diferente
desde o incio at o que vim a ser; em que houve at uma continuidade, em
que utilizei minha liberdade para o que desejava, adequadamente; em que pude ser til e
ajudar a disseminar determinadas ideias; em que fiz o que queria, isto ,
escrevi, isso foi o essencial de minha vida. O que reivindiquei desde os sete anos, eu o
consegui. E consegui em que medida? No sei, mas fiz o que queria, obras
que foram ouvidas, que foram lidas. Conseqentemente, quando morrer, no morrerei
dizendo, como muitas pessoas: "Ah, se pudesse refazer a vida, eu a refaria de outra
maneira, desperdicei-a, fracassei!" No. Aceito-me integralmente e sintome, com
preciso, tal como quis ser. E certamente, se me reporto ao passado, minha infncia,
ou minha juventude, desejava menos do que fiz. Tinha outra concepo da glria,
imaginava-a para um pblico restrito, para
562
uma elite, e atingi um pouco todo mundo. Portanto, quando morrer, morrerei satisfeito.
Descontente por morrer em tal dia e no dez anos depois, mas satisfeito. E
jamais at agora - e provavelmente isso jamais ocorrer - a morte pesou sobre minha
vida. falando sobre isso que quero terminar este captulo.
S. de B. - Sim, mas h ainda uma pergunta que gostaria de fazer-lhe: nunca foi tocado
pela ideia da sobrevivncia para alm da morte, da alma, de um princpio espiritual
em ns, uma sobrevivncia como pensam os cristos, por exemplo?
J .-P. S. - Parece-me que sim, mais como um fato quase natural. A dificuldade que eu
tinha, em funo da prpria estrutura da conscincia, em imaginar um momento
em que eu j no existiria. Todo futuro que imaginamos na conscincia remete
conscincia. No podemos imaginar um momento em que a conscincia j no existiria.
Podemos imaginar um universo em que o corpo j no existir, mas o fato de imaginar
implica a conscincia no somente no presente, mas no futuro. Conseqentemente,
creio que uma das diculdades para pensar na morte exatamente a impossibilidade de se
desfazer de uma conscincia. Por exemplo, se imagino meu enterro sou eu quem
imagina meu enterro; estou ento escondido numa esquina e o vejo passar. Portanto,
tive assim uma vaga tendncia, quando era jovem, quando tinha quinze anos, a conceber
essa vida que existiria sempre, simplesmente porque, quando imaginava o futuro,
imaginavame dentro dele, para v-lo, mas isso nunca teve grande significado. Na
verdade,
sempre pensei, como ateu, que no havia nada depois da morte, a no ser a imortalidade
que eu via como uma quase-sobrevivncia.
S. de B. - Gostaria de saber como nasceu e como se desenvolveu em voc seu atesmo.
J .-P. S. - Expliquei em Ls mots que, por volta de oito, nove anos, eu j tinha com Deus
somente relaes de boa vizinhana, no realmente relaes de sujeio,
ou de compreenso. Ele estava presente, de quando em quando se manifestava, como no
dia em que, ao que parece, ateei
563
#fogo na casa. Era um olhar que, de quando em quando, pousava em mim.
S. de B. - Como assim, voc ateou fogo na casa?
J .-P. S. - Contei em Ls mots como tinha acesso a caixas de fsforos, como ateei fogo,
modestamente, alis. Efetivamente, ele me via de quando em quando; eu imaginava
que um olhar me envolvia. Mas tudo isso era muito vago, sem grande relao com o
catecismo, toda a colocao em lies dessa instituio que era, ela prpria, falsa.
E um belo dia, por volta dos doze anos, em La Rochelle, onde meus pais haviam
alugado uma vilia um pouco fora da cidade, tomava o tranvia pela manh com minhas
vizinhas, que frequentavam o liceu de meninas, trs brasileiras, as meninas Machado, e
estava passeando em frente casa deles, esperando que se aprontassem, isto
, alguns minutos. E no sei de onde me veio este pensamento, como se instalou em
mim; disse a mim mesmo de repente: mas Deus no existe certo que j deveria ter
anteriormente ideias novas com relao a Deus, e comeara a resolver o problema por
mim. Mas, enfim, naquele dia, e sob a forma de uma pequena intuio, lembro-me
muito bem que disse a mim mesmo: Deus no existe. notvel pensar que pensei isso
aos onze anos, e nunca mais tornei a fazer-me a pergunta at hoje, isto , durante
sessenta anos.
S. de B. - Voc pode detectar um pouco mais precisamente qual foi o trabalho que
precedeu essa intuio?
J .-P. S. - De modo algum. Ao que me lembre, e muito bem, com a idade de doze anos,
eu considerava isso como uma verdade que me surgira com evidncia, sem nenhum
pensamento prvio. Era evidentemente falso, mas foi assim que sempre me representei
as coisas: um pensamento que intervm bruscamente, uma intuio que surge e que
determina minha vida. Creio que as senhoritas Machado apareceram nesse instante e o
pensamento me saiu da cabea. Depois, pensei a respeito, sem dvida, no dia seguinte
ou no outro, e continuei a declarar que Deus no existia.
564
S. de B. - Essa revelao teve consequncias para voc?
J .-P. S. - No considerveis na ocasio, nem verdadeiramente muito determinantes; meu
comportamento estava ligado a outros princpios, a outros desejos; queria sobretudo
ter contatos com meus colegas. E havia tambm no liceu de meninas uma que eu queria
conhecer. Absolutamente no estava ligado religio catlica, no ia igreja
antes, nem fui depois disso. Portanto, isso no teve nenhuma relao precisa com minha
vida daquele momento. No recordo haver-me jamais lamentado ou surpreendido
pelo fato de Deus no existir. Evidentemente, ignorava os ateus, j que minha famlia
era honestamente, honradamente crente.
S. de B. - E no o incomodava o fato de estar em oposio, sobre esse ponto to
importante, com sua famlia que voc respeitava, que amava?
J .-P. S. - Sinceramente, no. Em Ls mots tentei explicar como j constitura para mim
todo um arsenal de pequenos pensamentos pessoais, em estreita oposio aos
pensamentos de minha famlia. Pensava um pouco s por mim. E a verdade era o que
me surgia como verdadeiro. Acreditava mediocremente no que meu av me dizia serem
os pensamentos dos outros, suas concepes. Pensava que ns mesmos tnhamos que
encontrar nosso prprio pensamento; coisa que ele tambm me dizia, alis, mas no
o concebia no grau de profundidade em que eu o concebia.
S. de B. - E quando cresceu, quando foi para Paris, seu atesmo mudou, lguma vez se
abalou, fortificouse?
J .-P. S. - Diria que se fortificou. Creio, sobretudo, que passou de um atesmo idealista a
um atesmo materialista, e isso durante minhas conversas especialmente
com Nizan. O atesmo idealista difcil de explicar. Mas quando dizia: Deus no existe
- era como se me tivesse desfeito de uma ideia que estava no mundo, e tivesse
colocado em seu lugar um nada espiritual, uma determinada ideia frustrada, no marco
de todas as minhas ideias.
565
#E o resultado que isso tinha pouca relao direta com a rua, as rvores, os bancos nos
quais pessoas esto sentadas. Era uma grande ideia sinttica que desaparecia,
sem ir muito longe. E, pouco a pouco, minhas conversas com Nizan, minhas reflexes
pessoais, levaram-me a outra coisa, a um pensamento diferente do mundo, que no
era algo que devia desaparecer, colocar-me em contato com um paraso onde veria
Deus, mas que era a nica realidade. A ausncia de Deus era visvel em todos os
lugares. As coisas estavam ss, sobretudo o homem estava s. Estava s como um
absoluto. Um homem era uma coisa estranha. Isso me surgiu pouco a pouco. Era um ser
perdido no mundo e conseqentemente cercado de mundo por todos os lados, como que
aprisionado no mundo. E, ao mesmo tempo, era um ser que podia sintetizar esse mundo
e v-lo como seu objeto, estando ele diante do mundo e fora dele. J no estava dentro,
estava fora. E essa ligao do fora e do dentro que constitui o homem. Percebe
o que quero dizer?
S. de B. - Sim, muito bem.
J .-P. S. - E levei alguns anos para persuadir-me disso. E muito mais simples,
evidentemente, v-lo como um dentro simplesmente, ou simplesmente como um fora. A
dificuldade
de que haja os dois, e que isso se contradiga, constitui sua contradio profunda e
primeira. Portanto, estava presente, em Tours, por exemplo, sentado mesa de
um caf, e ao mesmo tempo, estava no fora de Tours, mas capaz, em Tours mesmo,
sem me mexer, mas recusando ser um objeto simplesmente definido por meu estar ali,
podia ver o mundo como uma sntese, isto , como a totalidade de objetos que me
rodeavam, que eu via, e para alm de outros objetos, os horizontes, como diz Heidegger.
Em suma, captar o mundo como o conjunto desses horizontes, sendo constitudo
igualmente por objetos.
S. de B. - Quando voc fez filosofia, em filosofia, em hypo-khgne, em khgne etc., na
Escola Normal, at a agregao, isso teve alguma relao com seu atesmo,
fortificou-o ou deu-lhe, pelo menos, argumentos?
566
J .-P. S. - Decidi fazer filosoa em hypo-khgne, at mesmo em khgne. Naquela ocasio,
estava absolutamente seguro de no-existncia de Deus, e o que desejava era
uma filosofia que explicasse meu objeto, "meu" no sentido humano, isto , seu objeto
tambm, o objeto do homem. Ou seja, seu prprio ser, no mundo e fora dele, e
o mundo sem Deus. Parecia-me, alis, que se tratava de um empreendimento novo, j
que estava muito pouco a par dos trabalhos dos ateus. Alis eles pouco fizeram
filosofia, todos os grandes filsofos so mais ou menos crentes. Isso significa diferentes
coisas para as diferentes pocas. A crena em Deus de Spinoza no a
de Descartes ou de Kant. Mas o que me parecia era uma grande filosofia ateia,
realmente ateia, no existia na filosofia. E era nessa direo que era preciso agora
tentar trabalhar.
S. de B. - Ou seja, voc queria fazer, em suma, uma filosofia do homem.
J .-P. S. - Sim, fazer uma filosofia do homem, num mundo material.
S. de B. - Voc teve colegas - falando ainda de sua juventude - colegas que no eram
ateus? Que relaes tinha com eles? Isso o incomodava, incomodava-os?
J .-P. S. - A palavra no incomodar. Dava-me muito bem com Laroutis, que era um
rapaz encantador e de quem gostava muito; no sei bem o que se tornou. Mas
evidentemente
isso acarretava uma distncia. Falvamos das mesmas coisas, e, no entanto, sentamos
bem que no as referamos exatamente da mesma maneira. A maneira pela qual Laroutis
tomava um trago, aparentemente era semelhante minha maneira de tomar um trago e,
no entanto, no era igual.
S. de B. - Entre seus colegas, houve alguns que tentaram convenc-lo, no digo
convert-lo, mas convenc-lo da existncia de Deus?
J .-P. S. - No, nunca. De toda maneira, aqueles com quem me dava, ou bem no sabia
se eram ateus ou cristos, ou bem, se o sabia, eram extremamente discretos, porque
eram da Escola Normal, eram intelectuais. Pensavam, ento, que lidavam com homens
que criam
567
#mal, que criam pouco, que no criam, e que isso era problema de cada um; que eles
simplesmente deviam estar presentes e nada fazer, nada dizer que pudesse escandalizar
uma conscincia. De maneira que sempre me dei-
xaram em paz.
S. de B. - Houve poca em que voc conheceu cristos, de uma maneira muito ntima:
no campo de prisioneiros. Seu melhor amigo era at um padre.
J .-P. S. - Sim, l eu convivia em grande parte, essencialmente com padres. Mas eles
representavam naquela ocasio, no campo de prisioneiros, os nicos intelectuais
com quem eu tinha contato. Nem todos, mas pelo menos meu amigo, o jesuta Feller, e
o padre que depois deixou as ordens, e se casou ...
S. de B. - O abade Leroy?
J .-P. S. - O abade. Eles representavam intelectuais, pessoas que pensavam sobre as
mesmas coisas que eu, nem sempre o que eu pensava, mas era j um ponto em comum
questionar as mesmas coisas. De maneira que eu podia falar muito mais com o abade
Leroy, ou o abade Perrin, ou com Feller o jesuta, do que com camponeses prisioneiros.
S. de B. - E seu atesmo no os incomodava?
J .-P. S. - Parece que no. O abade Leroy me disse, muito espontaneamente, que no
aceitaria um lugar no paraso se me fosse recusado um lugar. Mas ele pensava
precisamente
que esse lugar no me seria recusado, e que eu aprenderia a conhecer Deus, ou durante
minha vida ou depois de minha morte. Portanto, ele considerava isso como um
limite entre ns que desapareceria. Uma separao que desapareceria.
S. de B. - E quando escreveu L'tre et l nant voc tentou, ou justificou filosoficamente
sua no-crena em Deus?
J .-P. S. - Sim, claro, era preciso justific-la; tentei mostrar que Deus deveria ter sido
"o em-si para si", isto , um em-si infinito, habilitado por um para-si
infinito, e que essa noo do "em-si para si" era em si mesma
568
contraditria e no podia constituir uma prova da existncia de Deus.
S. de B. - Era, ao contrrio, uma prova da noexistncia de Deus.
J .-P. S. - Dava uma prova da no-existncia de Deus.
S. de B. - Sim.
J .-P. S. - Tudo isso girava em torno da noo de Deus. Havia em L'tre et l nant uma
exposio de razes de minha recusa da existncia de Deus que no eram, efetivamente,
as verdadeiras razes. As verdadeiras razes eram muito mais diretas e infantis - j que
tinha doze anos - do que teses sobre a impossibilidade de tal ou qual razo
da existncia de Deus.
S. de B. - Voc disse em algum lugar que o atesmo um trabalho de grande flego, e
que voc o levou at o fim, dir-se-ia com alguma dificuldade. O que queria
dizer exatamente com isso?
J .-P. S. - Exatamente que a passagem do atesmo idealista para o atesmo materialista
difcil. Supe um longo trabalho. J lhe disse o que entendia por atesmo
idealista. a ausncia de uma ideia, uma ideia que recusada, que impedida, mas de
uma ideia, a ideia de Deus. O atesmo materialista o universo visto sem
Deus, e isso, evidentemente, de flego muito longo, o passar desta ausncia de uma
ideia a esta nova concepo do ser;
do ser que deixado nas coisas e que no eliminado das coisas numa conscincia
divina que as contemplaria e as faria existir.
S. de B. - Voc quer dizer que mesmo que no se creia em Deus h uma maneira de ver
o mundo ...
J .-P. S. - Mesmo se no se acredita em Deus h elementos da ideia de Deus que
permanecem em ns, e que fazem com que vejamos o mundo com aspectos divinos.
S. de B. - Por exemplo?
J .-P. S. - Isso varia de acordo com as pessoas.
S. de B. - Mas para voc?
569
#J .-P. S. - Quanto a mim, sinto-me no como um p surgido no mundo, mas como um
ser esperado, provocado, prefigurado. Em resumo, como um ser que s parece poder
provir de um criador, e esta ideia de uma mo criadora que me haveria criado me remete
a Deus. Naturalmente, isso no uma ideia clara e precisa que utilizo cada
vez que penso em mim; ela contradiz vrias outras de minhas ideias; mas est presente,
vaga. E, quando penso em mim, muitas vezes penso um pouco assim, j que no
posso pensar de outra maneira. Porque a conscincia em cada um justifica sua maneira
de ser, e no est presente como uma formao gradual ou feita de uma srie
de acasos, mas, ao contrrio, como uma coisa, uma realidade que est constantemente
presente, que no formada, que no criada, mas que surge como constantemente
presente toda inteira. A conscincia, alis, a conscincia do mundo,
conseqentemente, no sabemos muito bem se queremos significar a conscincia ou o
mundo, e,
conseqentemente, encontramo-nos na realidade.
S. de B. - Afora essa impresso de estar presente apenas por acaso, h outros terrenos
em que h indcios de Deus, por exemplo, no terreno moral?
J .-P. S. - Sim; no terreno moral, conservei uma nica coisa da existncia de Deus, o
Bem e o Mal como absolutos. A consequncia habitual do atesmo a supresso
do Bem e do Mal, um certo relativismo, , por exemplo, a considerao de morais
variveis segundo os pontos da terra em que os consideramos.
S. de B. - Ou ento as palavras de Dostoievski: "Se Deus no existe, tudo permitido."
Voc no pensa assim, no ?
J .-P. S. - Em certo sentido, entendo bem o que ele quer dizer, e abstratamente
verdadeiro, mas, por outro lado, vejo bem que matar um homem mau. mau
diretamente,
absolutamente, mau para um outro homem, certamente no mau para uma guia ou
um leo, mas mau para um homem. Diria que a moral e a atividade moral do homem
so como um absoluto no
570
relativo. H o relativo, que, alis, no o homem todo, mas que o homem no mundo,
com seus problemas dentro do mundo. E depois h o absoluto, que a deciso
que ele toma, no que se refere a outros homens, a respeito desses problemas, que ento
um absoluto que nasce dele, na medida em que os problemas que ele se coloca
so relativos. Considero, pois, o absoluto como um produto do relativo, ao contrrio do
que se faz comumente. Isso, alis, se liga a essas noes "fora-dentro" de
que falava ainda agora.
S. de B. - De um modo geral, como definiria seu Bem e seu Mal, aquilo que voc
denomina o Bem, aquilo que denomina o Mal?
J .-P. S. - Essencialmente, o Bem o que se presta liberdade humana, o que lhe
permite colocar objetos que realizou, e o Mal, o que prejudica a liberdade humana,
o que apresenta o homem como no sendo livre, que cria, por exemplo, o determinismo
dos socilogos de determinada poca.
S. de B. - Ento, sua moral se baseia no homem, e j no tem muita relao com Deus.
J .-P. S. - Nenhuma, atualmente. Mas certo que as noes de Bem e de Mal absolutos
nasceram do catecismo que me ensinaram.
S. de B. - No se poderia dizer que uma moral sem Deus mais exigente, j que, se
voc acredita em Deus, sempre pode ter seus erros perdoados, pelo menos na Igreja
Catlica, ao passo que, se no cr em Deus, um mal praticado contra o homem
absolutamente irreparvel?
J .-P. S. - De maneira absoluta. Considero que todo mal irreparvel em si, porque no
somente ocorre, e mau, mas ainda tem consequncias que so consequncias
de dio, de revolta, de mal igualmente, ainda que tenham um resultado que melhor. E,
de toda maneira, o mal est presente, profundo.
S. de B. - Na f que voc tinha na criao literria, em sua vontade de sacrificar tudo
pela obra de arte,
571
#quando jovem, no havia nisso como que uma espcie de resqucio de f em Deus?
J .-P. S. - Ah, j disse isso, a ltima pgina de Ls mots. Digo que a obra de arte me
parecia como que a imortalidade crist, e, ao mesmo tempo, era criar no absoluto
algo que escapava aos homens, e que devia ser lido pelo olhar de Deus. E ela assumia
seu valor absoluto e transumano, pelo fato de ser, no fundo, dada ao criador.
Portanto, a primeira relao entre a obra de arte e Deus era dada por minha primeira
concepo da arte. Eu criava uma obra e Deus a olhava, para alm de todo pblico
humano. Foi isso que desapareceu, embora sempre tornemos a dar, quando escrevemos,
uma espcie de valor transumano ao que escrevemos. O belo aparece, como aquilo
que os homens aprovam no que diferente da simples aprovao dos homens. A
aprovao dos homens um sinal de que o objeto tem um valor transumano. Claro est
que
se trata de uma iluso, isso no corresponde a nada de verdadeiro, mas conservamo-la
quando escrevemos. Porque a obra que fazemos, se deve ter xito, ao mesmo tempo
ultrapassa o pblico presente, vivo, existente, e se dirige tambm a um pblico futuro.
E, alm disso, comporta um julgamento dado por uma ou duas geraes, e que
transmitido e ligeiramente modificado, mas, de um modo geral, conservado pelas
geraes ulteriores. De maneira que h como que um olhar sobre a obra, e que ,
no fundo, o olhar dos homens, um pouco multiplicado, um pouco modificado. Voltaire,
por exemplo, quando atinge uma conscincia do sculo XX, um Voltaire j iluminado
por uma luz que o considera como Voltaire, e que no sentimos como humana. Que
sentimos como uma luz que vem dele, e que, ao mesmo tempo, poderia ser como uma
outra
conscincia iluminandoo. Ou seja, algo como Deus. em meio a noes desse gnero,
muito embaralhadas, muito disparatadas, muito pouco compreensveis, que se movem
os elementos que sobram de uma ideia divina, elementos que, em minha opinio, iro
perdendo sua fora, na medida em que o mundo continua.
572
S. de B. - Voc disse que era difcil perceber, de uma maneira materialista, o mundo
sem Deus, senti-lo nos objetos, nas coisas, nas pessoas. De que maneira? E de
que maneira chegou a isso? Houve uma evoluo? Volto questo da passagem de seu
atesmo idealista para o atesmo materialista. O que foi que isso comportou?
J .-P. S. - Em primeiro lugar, isso comportou a ideia de que os objetos no tm
conscincia, ideia essencial e muitas vezes negligenciada pelas pessoas. Dir-se-ia
que as pessoas que falam de objetos consideram que estes tm uma vaga conscincia. E
quando vivemos no mundo, em meio s pessoas, assim que os representamos esses
objetos. E essa conscincia que preciso fazer desaparecer. preciso inventar por si a
maneira de existir das coisas, existncia material, opaca, sem relao
com uma conscincia que as ilumina, exceto com nossas conscincias, e que de toda
maneira no tm relao com conscincias interiores delas.
S. de B. - Voc quer dizer que atribumos uma conscincia a objetos, por que, em suma,
a conscincia de Deus, vendo-os, que supomos neles?
J .-P. S. - Inteiramente. Deus vendo-os, Deus dando-lhes uma conscincia. E o que
captamos, ao contrrio, so esses objetos tais como os vemos; isto , a conscincia
est em ns, e o objeto, este, absolutamente desprovido de conscincia. Ele se situa no
plano do em-si. E isso uma coisa complexa que preciso estudar cuidadosamente,
antes de dizer que estamos certos de que um objeto no tem conscincia. Antes de
chegar totalizao em mundo de todo um setor de objetos sem conscincia,
necessrio
muito esforo, porque a conscincia divina, sob uma forma qualquer, acabo de explic-
lo, tende sempre a ressuscitar, a penetrar neles. E isso, exatamente, que
preciso evitar, porque no exato.
S. de B. - Voc fala do em-si do objeto, mas no quer significar que o objeto tem um
gnero de ser que absolutamente definido, determinado, independente da conscincia
humana. um em-si, no um para-si, mas isso no signica que tenha, fora de nossa
conscincia,
573
#uma realidade que se impe conscincia, que exatamente a realidade que Deus teria
criado?
J .-P. S. - o que quero dizer. Penso que, efetivamente, os objetos que vejo aqui existem
fora de mim. No minha conscincia que os faz existir, eles no existem
pela minha conscincia e exatamente por ela, no existem pela conscincia do conjunto
dos homens e exatamente por ela. Em primeiro lugar, existem sem conscincia.
S. de B. - Existem em relao com sua conscincia e no numa espcie de objetividade
suprema que viria do fato de serem vistos por Deus de certa maneira.
J .-P. S. - Eles no so vistos por Deus, de certa maneira, j que Deus no existe. Eles
so vistos pelas conscincias, mas as conscincias no inventam o que vem,
captam um objeto real que est fora.
S. de B. - Sim. Enfim, segundo voc, elas o captam sob perfi que so to vlidos uns
quanto outros.
J .-P. S. - Sim.
S. de B. - No existe uma espcie de perfil privilegiado que seria aquele que capta Deus.
J .-P. S. - De modo algum. O objeto muito complicado, muito complexo, oferece
diversos perfis s pessoas que o vem. E, tambm, h outras conscincias alm das
conscincias humanas, h as conscincias dos animais, dos insetos, por exemplo. Eles
se oferecem, ento, de maneira completamente diferente segundo as conscincias
que os apreendem. Mas o objeto est fora dessas conscincias; ele , mas sem
conscincia de si mesmo, ele em-si. Embora, naturalmente, em-si, para-si, sejam
ligados,
no como o estariam para Deus, mas quase como dois atributos de Spinoza: o em-si
sendo aquilo de que h conscincia, a conscincia existindo apenas como conscincia
do em-si. Ela pode, sem dvida, ser conscincia do para-si, o para-si se indica. Mas s
h conscincia do para-si na medida em que h conscincia do em-si.
Conseqentemente,
o em-si para si captado como o ser de Deus uma impossibilidade, uma simples ideia
da razo, sem realidade. E, por outro lado, h o vnculo em-si para si, da conscincia
e da coisa, que uma outra forma do
574
em-si para si, e que existe a cada instante. Neste momento estou consciente de uma
quantidade de coisas que esto diante de mim, que existem realmente e que capto
em sua prpria existncia. Capto o em-si de uma mesa ou de uma cadeira, ou de um
rochedo.
S. de B. - O atesmo para voc , portanto, uma de suas evidncias, uma das bases de
sua vida. Ento, que pensa das pessoas que se dizem crentes? Voc encontrou
algumas que estimou, outras que, sem dvida, no estima; creio que existem as que se
dizem crentes e que no crem. Mas, enfim, em sua opinio, o que representa
o fato de crer, quando se tem um certo grau de cultura, naturalmente quando um
Merleau-Ponty - que alis deixou de crer - dizia que acreditava em Deus, e quando
os padres amigos seus, os jesutas, diziam que acreditavam em Deus? De um modo
geral, na maneira pela qual um homem conduz sua vida, que pensa voc que representa
o fato de situar-se como acreditando em Deus?
J .-P. S. - Isso me parece uma sobrevivncia. Penso que houve um tempo em que era
normal crer em Deus, no sculo XVII, por exemplo. Atualmente, considerando a
maneira
pela qual vivemos, o modo pelo qual tomamos conscincia de nossa conscincia e pelo
qual percebemos que Deus nos escapa, no h intuio do divino. Penso que neste
momento a noo de Deus uma noo anacrnica j, e sempre senti algo de caduco, de
ultrapassado nas pessoas que me falaram de Deus acreditando nisso.
S. de B. - Mas por que acha que se mantm agarrados a essa noo caduca e
ultrapassada?
J .-P. S. - Da mesma maneira que, muitas vezes, se agarram a noes caducas e
ultrapassadas, a outros sistemas caducos e ultrapassados, porque conservaram, da poca
da grande sntese divina do sculo XVII, por exemplo, elementos que no podem
encaixar-se numa outra sntese atual. No podem viver sem essa sntese j morta dos
sculos precedentes, e so anacrnicos, superados, fora de nossa poca, quando
aparecem. Embora possam ser excelentes matemticos, ou fsicos. Tm uma viso do
mundo
que de uma poca passada.
575
#S. de B. - Mas de onde pensa que lhes vem essa viso do undo?
J .-P. S. - De sua escolha, deles mesmos, de sua liberdade, e tambm de influncias.
Foram influenciados por pessoas que tambm conservavam a viso do sculo XVII,
padres, por exemplo, mes muito crists; isso porque as mes eram mais ligadas
religio do que os homens, pelo menos no perodo anterior. Portanto, esses homens
me parecem representar alguma coisa que no atraente para um jovem que deve
formar-se, mas que j sente o passado, um velho passado. Os jovens que acreditam em
Deus precisam de vnculos com a tradio... diferentes dos nossos.
S. de B. - Voc falou da escolha de uma determinada viso do mundo. Voc acha que
essa escolha lhes traz vantagens e por isso que a fazem?
J .-P. S. - Ela certamente lhes traz vantagens. E muito mais agradvel pensar que o
mundo bem fechado, com uma sntese feita no por ns, mas por um ser todo-
poderoso,
que este mundo feito para cada um de ns e que todo sofrimento uma provao
tolerada ou desejada pelo Ser supremo, isso muito melhor do que tomar as coisas
como elas so: isto , sofrimentos que no so merecidos, que no so desejados por
ningum e que nada proporcionaro pessoa que os suporta. Ddivas tambm, que
no so ddivas de algum, que representam igualmente algo que dado sem que
ningum o tenha dado. Para restabelecer a velha noo de Deus consciente de tudo,
vendo
as relaes entre tudo, e estabelecendo tais relaes, desejando-as, bem como tambm
suas consequncias, preciso ignorar a cincia, as cincias humanas e tambm
as cincias naturais, e preciso retornar a um universo inteiramente contrrio ao que
estabelecemos depois disso. Ou seja, conservar uma noo que as cincias da
natureza e do homem, sem diz-lo, sem desej-lo expressamente, contriburam
amplamente para eliminar.
576
S. de B. - Por outro lado, voc v no fato de ser ateu, no diria vantagens, mas um certo
enriquecimento moral; psicolgico, para o homem?
J .-P. S. - Sim, mas isso vai demorar. Porque preciso exatamente livrar-se inteiramente
do princpio do Bem e do Mal que Deus, e preciso tentar repensar, reconstituir
um mundo liberado de todas as noes divinas que se apresentam como uma imensido
do em-si. difcil. Mesmo aqueles que pensam ter atingido um atesmo consciente
e refletido esto certamente imbudos ainda de noes divinas, de elementos da ideia
divina e, conseqentemente, no alcanam inteiramente o que desejm; introduzem
cada vez mais atesmo em seu pensamento, mas no se pode dizer que o mundo seja
ateu, que
o mundo humano seja ateu. H ainda muita gente que cr...
S. de B. - E para um indivduo em particular, por exemplo, pensemos apenas em voc,
qual ...digamos, qual a vantagem, alm da de haver pensado que isso era a verdade,
claro, mas qual a vantagem que lhe proporcionou o fato de no acreditar em Deus?
J .-P. S. - Isso assegurou, estabilizou a minha liberdade; agora esta liberdade no feita
para dar a Deus o que ele me pede, mas feita para inventar eu prprio,
e para dar a mim mesmo o que eu me peo. Isso essencial. E tambm minhas relaes
com os outros so diretas; j no passam por intermdio do Todo-Poderoso, no
tenho necessidade de Deus para amar meu prximo E uma relao direta de homem a
homem, no tenho nenhuma necessidade de passar pelo infinito. E tambm meus atos
constituram uma vida, a minha vida, que vai terminar, que est mais ou menos
encerrada, e que julgo sem equivocar-me muito. Esta vida no deve nada a Deus, ela
ela mesma tal como a quis, e em parte tal como a fazia sem desej-la. E quando a
considero agora, ela me satisfaz, e no tenho nenhuma necessidade de passa por
Deus para isso. Tenho apenas que passar pelo humano, isto por mim e plos outros. E
penso que na medida em que todos ns trabalhamos mais ou menos
577
#para constituir um gnero humano que ter seus princpios, suas vontades, sua unidade,
sem Deus, somos todos, ainda que no a cada instante mas realmente em todo
momento de nossa vida, ateus, ou pelo menos ateus de um atesmo que se desenvolve,
que se realiza de maneira cada vez melhor.
S. de B. - Voc pensa que a primeira das desalienaes do homem antes de mais nada
no crer em Deus.
J .-P. S. De maneira absoluta.
S. de B. - Isso consiste em tomar apenas o homem como medua co futuro do homem.
J .-P. S. - Deus uma imagem pr-fabricada do homem, o homem multiplicado pelo
infinito, e diante da qual o homem deveria esforar-se por satisfaz-la. Continua
a tratar-se, portanto, de uma relao consigo, de um relao consigo absurda, mas
imensa e exigente. essa relao que preciso suprimir, porque a verdadeira
relao consigo. A verdadeira relao consigo aquilo que somos e no com aquilo que
construmos vagamente semelhante a ns.
S. de B. - H ainda alguma coisa que voc queira dizer?
J .-P. S. - Sim e no. O fato de viver em relao muito estreita com pessoas que tambm
no acreditam em Deus suprime completamente, entre elas e ns mesmos, esse
intermedirio infinito que Deus. Voc e eu, por exemplo, vivemos sem preocupaes
com esse problema. No creio que muitas conversas nossas tenham girado em torno
disso.
S. de B. - No, nunca.
J .-P. S. - E de toda maneira vivemos, temos a impresso de nos havermos interessado
por nosso mundo, de haver tentado v-lo.
578
Fim do livro
Vous aimerez peut-être aussi
- O Heroi de Mil FacesDocument28 pagesO Heroi de Mil FacesvanderioPas encore d'évaluation
- Roy Lewis - Por Que Almocei Meu Pai PDFDocument86 pagesRoy Lewis - Por Que Almocei Meu Pai PDFespinhudo100% (2)
- Faz Escuro Mas Eu Canto PDFDocument1 pageFaz Escuro Mas Eu Canto PDFSuetam EzertPas encore d'évaluation
- O Fazedor de AmanhecerDocument2 pagesO Fazedor de AmanhecerThais Correia100% (1)
- A Nova Era e a Revolução CulturalDocument108 pagesA Nova Era e a Revolução CulturalMizael Cunha40% (5)
- O Longo Caminho para A LiberdadeDocument20 pagesO Longo Caminho para A LiberdadeOlegario CostaPas encore d'évaluation
- Ono Yoko Grapefruit O Livro de Instrucoes e Desenhos de Yoko OnoDocument328 pagesOno Yoko Grapefruit O Livro de Instrucoes e Desenhos de Yoko Onoalvaro malagutiPas encore d'évaluation
- Caio Fernando AbreuDocument16 pagesCaio Fernando AbreuRossi Henrique ChavesPas encore d'évaluation
- O Mínimo Que Você Precisa Saber para Ser Salvo (Volume 01) PDFDocument19 pagesO Mínimo Que Você Precisa Saber para Ser Salvo (Volume 01) PDFAnonymous BWVVQpx100% (1)
- Imaginação Ativa - Inner Work-1 (PDF - Io)Document533 pagesImaginação Ativa - Inner Work-1 (PDF - Io)Gabriel Limeira LimaPas encore d'évaluation
- Ronald Lang - O Eu Dividido 2Document82 pagesRonald Lang - O Eu Dividido 2Leonardo Moura100% (1)
- O Heroi de Mil FacesDocument5 pagesO Heroi de Mil FacesDominick Monteiro BritoPas encore d'évaluation
- Memórias e concepções junguianas da infânciaDocument13 pagesMemórias e concepções junguianas da infânciaRenata Fiorese0% (1)
- Teatro Oficina Os Sertoes A Luta 1 ProgramDocument84 pagesTeatro Oficina Os Sertoes A Luta 1 ProgramBob William100% (1)
- Ser-para-a-morte em HeideggerDocument3 pagesSer-para-a-morte em HeideggerLeonardo Alves de SouzaPas encore d'évaluation
- Peter e Wendy - James Matthew Barrie PDFDocument175 pagesPeter e Wendy - James Matthew Barrie PDFMaisa AndradePas encore d'évaluation
- Arthur Schopenhauer - o Vazio Da ExistênciaDocument5 pagesArthur Schopenhauer - o Vazio Da ExistênciaAlan Tanoue de MelloPas encore d'évaluation
- Cultura e ValorDocument60 pagesCultura e ValorJadsonBarrosPas encore d'évaluation
- Os 100 MelhoresDocument7 pagesOs 100 MelhoresSofia DinizPas encore d'évaluation
- Ronald Laing e a compreensão da psicopatologiaDocument13 pagesRonald Laing e a compreensão da psicopatologiaFernando100% (2)
- Resenha - Nascidos em Tempos LiquidosDocument10 pagesResenha - Nascidos em Tempos LiquidosJoel PantojaPas encore d'évaluation
- Personas Sexuais Camille PagliaDocument36 pagesPersonas Sexuais Camille PagliaMarinez Full100% (1)
- BOBBIO, N. O Tempo Da MemoriaDocument4 pagesBOBBIO, N. O Tempo Da MemoriaMitchel BatistelliPas encore d'évaluation
- O Paraíso Perdido - Targini - Tomo SegundoDocument450 pagesO Paraíso Perdido - Targini - Tomo SegundoWillamy FernandesPas encore d'évaluation
- A Razao NomadeDocument149 pagesA Razao NomadeThaysa CastroPas encore d'évaluation
- Lutas e Metamorfoses de Uma Mulher Édouard LouisDocument67 pagesLutas e Metamorfoses de Uma Mulher Édouard LouisMcbdsPas encore d'évaluation
- Janela Da Alma, Espelho Do Mundo - Marilena ChauiDocument41 pagesJanela Da Alma, Espelho Do Mundo - Marilena ChauiJosé Viana100% (3)
- O Nome - Encontro entre jovens grávidos e irmã ao chegar em casaDocument74 pagesO Nome - Encontro entre jovens grávidos e irmã ao chegar em casaPatricia Mallarini RamírezPas encore d'évaluation
- Teoria Das Quatro Causas de Aristóteles (Explicação Completa)Document9 pagesTeoria Das Quatro Causas de Aristóteles (Explicação Completa)paulo ricardoPas encore d'évaluation
- O Mundo Como Ele ÉDocument6 pagesO Mundo Como Ele ÉMarcela Maria100% (1)
- Um amigo para chamar de seuDocument1 pageUm amigo para chamar de seuAndres Felipe Castelar0% (1)
- Atualidade Do Conceito de Angustia de Kierkegaard PDFDocument13 pagesAtualidade Do Conceito de Angustia de Kierkegaard PDFmarcelo_da_luz1795Pas encore d'évaluation
- Mediação Pela ArteDocument19 pagesMediação Pela ArteGustavo AlvesPas encore d'évaluation
- A Conquista Da Felicidade, de Bertrand Russell PDFDocument4 pagesA Conquista Da Felicidade, de Bertrand Russell PDFFábio PedroPas encore d'évaluation
- A amizade e a independência do sábio segundo SênecaDocument9 pagesA amizade e a independência do sábio segundo SênecaAnny Karine Machado100% (1)
- Discurso de Poder e Conhecimento da ÁfricaDocument1 pageDiscurso de Poder e Conhecimento da ÁfricaJuan PabloPas encore d'évaluation
- Logoterapia Kronos KairosDocument12 pagesLogoterapia Kronos KairosPatricia BastosPas encore d'évaluation
- Psicologia Social: o homem em movimentoDocument20 pagesPsicologia Social: o homem em movimentoAna Paula F. GomesPas encore d'évaluation
- ALVES - Rubem - Os MorangosDocument16 pagesALVES - Rubem - Os MorangosBiblioteca Atendimento Faculdades EST100% (2)
- Gabriel Garcia Marquez - A Incrível e Triste História Da Cândida Erêndira e Sua Avó DesalmadaDocument92 pagesGabriel Garcia Marquez - A Incrível e Triste História Da Cândida Erêndira e Sua Avó DesalmadaRubens Eugenio GastaldelloPas encore d'évaluation
- Zaratustra Tragédia Nietzschiana - Roberto MachadoDocument17 pagesZaratustra Tragédia Nietzschiana - Roberto MachadoSharon Varjão Will50% (2)
- Platão - Resumo Do Sofista de PlatãoDocument7 pagesPlatão - Resumo Do Sofista de PlatãoCaius Brandão100% (2)
- Sonhos Dos Xamãs - Freud e Jung.Document7 pagesSonhos Dos Xamãs - Freud e Jung.Dom MagalhaesPas encore d'évaluation
- Teoria do pensamento de Bion e função alfaDocument2 pagesTeoria do pensamento de Bion e função alfaLuiz Henrique Sampaio JuniorPas encore d'évaluation
- A Ciência Do Filme InterstellarDocument330 pagesA Ciência Do Filme InterstellarFrederico Ribeiro Barnabé100% (3)
- Seis Séculos de Pintura Chinesa, Museu Cernuschi - ParisDocument72 pagesSeis Séculos de Pintura Chinesa, Museu Cernuschi - Parisjamil pimentelPas encore d'évaluation
- Deserto Dos Tártaros - Dino BuzattiDocument136 pagesDeserto Dos Tártaros - Dino BuzattiAline Mozzi Arantes100% (2)
- Filósofos ClássicosDocument18 pagesFilósofos ClássicosFernanda AlmeidaPas encore d'évaluation
- Milton Santos Dinheiro Territorio ArtigoDocument7 pagesMilton Santos Dinheiro Territorio ArtigoFáBio Paz100% (1)
- Tradução do Tratado do Não-Ser de GórgiasDocument7 pagesTradução do Tratado do Não-Ser de GórgiasTiãoPas encore d'évaluation
- Acuputura Urbana - Jaime LernerDocument106 pagesAcuputura Urbana - Jaime LernerLucas SoaresPas encore d'évaluation
- Grecia e Croacia - 10.06 A 26.06Document4 pagesGrecia e Croacia - 10.06 A 26.06Clêncio Braz da Silva FilhoPas encore d'évaluation
- LuxoDocument209 pagesLuxoElizandra Anjos100% (1)
- Encarnar fantasmas que falamDocument14 pagesEncarnar fantasmas que falambascam2Pas encore d'évaluation
- GATTI, Luciano Artigo Brecht, Benjamin e o Manual para Habitantes Das Cidades PDFDocument10 pagesGATTI, Luciano Artigo Brecht, Benjamin e o Manual para Habitantes Das Cidades PDFbernini1598Pas encore d'évaluation
- Humanismo e Renascença A Renovação Da Europa. CorsevierDocument13 pagesHumanismo e Renascença A Renovação Da Europa. CorsevierJoao PauloPas encore d'évaluation
- Grotowski Companhia Origens e L - by Ludwik FlaszenDocument450 pagesGrotowski Companhia Origens e L - by Ludwik Flaszenst.machadoPas encore d'évaluation
- Irving Wallace - 1969 - Os Sete MinutosDocument1 157 pagesIrving Wallace - 1969 - Os Sete Minutosapi-3813051100% (1)
- As primeiras cidades do mundoDocument32 pagesAs primeiras cidades do mundoMarta PerpétuaPas encore d'évaluation
- Memorial Valério ArcaryDocument92 pagesMemorial Valério ArcaryPaulo EstimadoPas encore d'évaluation
- Memória, Esquecimento, Silêncio - PollakDocument13 pagesMemória, Esquecimento, Silêncio - PollakJônatas S. de AbreuPas encore d'évaluation
- FERRO, Marc. Cinema e História-CapII O Filme-Uma Contra-Análise Da Sociedade PDFDocument17 pagesFERRO, Marc. Cinema e História-CapII O Filme-Uma Contra-Análise Da Sociedade PDFMarcelo Carreiro0% (1)
- A iluminação pública e o nascimento da vida noturna em ParisDocument10 pagesA iluminação pública e o nascimento da vida noturna em ParisWalter Rio BrancoPas encore d'évaluation
- Curso de Engenharia para CemitériosDocument30 pagesCurso de Engenharia para CemitériosVanessa NegrãoPas encore d'évaluation
- Ebook Livro Comuna de Paris Final 1Document637 pagesEbook Livro Comuna de Paris Final 1LeticiaBlank100% (1)
- Zola, Émile - Como Se Casa - Como Se Morre (Rev)Document61 pagesZola, Émile - Como Se Casa - Como Se Morre (Rev)Lana VerasPas encore d'évaluation
- Fortaleza, 22 de Setembro de 2022 - SÉRIE 3 - ANO XIV Nº192 - Caderno 1/2 - Preço: R$ 20,74Document60 pagesFortaleza, 22 de Setembro de 2022 - SÉRIE 3 - ANO XIV Nº192 - Caderno 1/2 - Preço: R$ 20,74Cairo FerreiraPas encore d'évaluation
- A Arquitetura do Século XIX em ParisDocument8 pagesA Arquitetura do Século XIX em ParisCarine LaserPas encore d'évaluation
- Intento Sensu Et Vigilanti Mente - O Som No Ocidente MedievalDocument648 pagesIntento Sensu Et Vigilanti Mente - O Som No Ocidente MedievalHenrique VazPas encore d'évaluation
- O Maravilhoso e A Poética Da Incerteza em A Dama Do Pé de CabraDocument17 pagesO Maravilhoso e A Poética Da Incerteza em A Dama Do Pé de CabraCristiane BauskaPas encore d'évaluation
- John Fowles A Torre de Ebano ContoDocument90 pagesJohn Fowles A Torre de Ebano Contoapi-3841412Pas encore d'évaluation
- A História das Calamidades de AbelardoDocument16 pagesA História das Calamidades de AbelardoFernando PeregrinoPas encore d'évaluation
- Teste de Historia 2bimDocument4 pagesTeste de Historia 2bimMatheus Mendonça0% (1)
- Reflexoes Feministas Sobre Informalidade e Trabalho DomesticoDocument166 pagesReflexoes Feministas Sobre Informalidade e Trabalho DomesticoCecy MeloPas encore d'évaluation
- Project - Plan - D - HE - HISTORY - OF - A - CRIME - THE - TESTIMONY - OF - AN - EYE-1-50 pt-2-60Document59 pagesProject - Plan - D - HE - HISTORY - OF - A - CRIME - THE - TESTIMONY - OF - AN - EYE-1-50 pt-2-60mf957051Pas encore d'évaluation
- História Demografia Antigo RegimeDocument16 pagesHistória Demografia Antigo RegimeSandraBolinhasPas encore d'évaluation
- UNIP EAD CONTEÚDOS ACADÊMICOSDocument5 pagesUNIP EAD CONTEÚDOS ACADÊMICOSGabriel Gomes100% (1)
- A crise da social-democracia alemãDocument103 pagesA crise da social-democracia alemãtalespintoPas encore d'évaluation
- Revolução Francesa: Julgamento de Maria Antonieta, Luís XVI e DantonDocument10 pagesRevolução Francesa: Julgamento de Maria Antonieta, Luís XVI e DantonVictória FlorentinoPas encore d'évaluation
- Revista Históra e MúsicaDocument235 pagesRevista Históra e MúsicaJoãoAugustoNevesPas encore d'évaluation