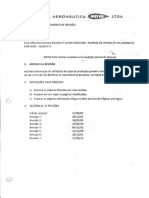Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
cp052841 PDF
Transféré par
tulioaguiask8Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
cp052841 PDF
Transféré par
tulioaguiask8Droits d'auteur :
Formats disponibles
PONTIFCIA UNIVERSIDADE CATLICA DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE DIREITO
PROGRAMA DE PS-GRADUAO EM CINCIAS CRIMINAIS
MESTRADO EM CINCIAS CRIMINAIS
Orientador: Prof. Dr. Ricardo Timm de Souza
Porto Alegre
2007
1
Dissertao apresentada como requisito para
obteno do ttulo de Mestre pelo Programa de
Ps-Graduao em Cincias Criminais da
Faculdade de Direito da Pontifcia Universidade
Catlica do Rio Grande do Sul.
rea de concentrao: Sistema Penal e
Violncia.
Linha de pesquisa: Criminologia e Controle
Social.
Orientador: Prof. Dr. Ricardo Timm de Souza
Porto Alegre
2007
2
Dados Internacionais de Catalogao na Publicao (CIP)
P659r Pinto Neto, Moyss da Fontoura
O rosto do inimigo: uma desconstruo do Direito
Penal do inimigo como racionalidade biopoltica / Moyss
da Fontoura Pinto Neto. Porto Alegre, 2007.
211 f.
Dissertao (Mestrado) Programa de Ps-
Graduao em Cincias Criminais, PUCRS, 2008.
Orientador: Prof. Dr. Ricardo Timm de Souza.
1. Direito. 2. Inimigo - Exceo. 3. Racionalidade.
4.Funcionalismo. 5. tica. 6. Alteridade. I. Souza,
Ricardo Timm. II. Ttulo.
CDD 341.5
Bibliotecria Responsvel
Isabel Merlo Crespo
CRB 10/1201
3
MOYSS DA FONTOURA PINTO NETO
Dissertao apresentada como requisito para
obteno do grau de Mestre, pelo Programa de
Ps-Graduao em Cincias Criminais da
Faculdade de Direito da Pontifcia Universidade
Catlica do Rio Grande do Sul.
Aprovada em 04 de dezembro de 2007.
Orientador: Prof. Dr. Ricardo Timm de Souza
Pontifcia Universidade Catlica do Rio Grande do Sul
_____________________________________
Prof. Dr. Salo de Carvalho
Pontifcia Universidade Catlica do Rio Grande do Sul
____________________________________
Prof. Dr. Jacinto Nelson de Miranda Coutinho
Universidade Federal do Paran
4
O mundo do cuidado precede o mundo intelectual. Sem cuidado, no h pensamento.
Por isso, meu primeiro agradecimento para minha famlia, que me at o momento de
realizao dessa Dissertao: aos meus pais, Moyss e Ftima, minha irm, Andra, minha
av, Francisca, dindos e tios.
minha namorada e amor, Maria Julia Ledur Alles, que me deu equilbrio e paz em
momentos turbulentos e agentou as minhas reflexes sobre os temas aqui trabalhados, apesar
de ser de rea distante.
Esta Dissertao no teria sido possvel se no existisse o Mestrado em Cincias
Criminais da PUCRS. A oportunidade de pesquisa transdisciplinar, to rara nos meios
jurdicos, foi nica e o aprendizado permanente. Se no existisse a liberdade acadmica com
que me movimentei ao longo de toda pesquisa, o trabalho no teria o desenvolvimento que
teve.
Ao Professor Ricardo Timm de Souza, presena intensa e permanente ao longo do
trabalho, por ter me revelado um referencial terico no qual finalmente me encontrei, e pelo
convvio pessoal e exemplo de vida.
Aos Professores Ruth Maria Chitt Gauer, com quem aprendi a olhar a diferena
cultural de outra forma, a partir das suas lies de antropologia; Salo de Carvalho, que abriu
as portas para pensarmos um horizonte criminolgico ps-crtico no qual a filosofia bem-
vinda; e Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo, pelas anlises preciosas da contemporaneidade a
partir do vis sociolgico e vislumbre de alternativas polticas viveis para rompermos com o
crculo vicioso do fenmeno criminal.
Aos meus amigos Gabriel Antinolfi Divan, companheiro de dia-a-dia no duro primeiro
ano de Mestrado, e Otvio Binato Jnior, pelas inmeras discusses e trocas de idias acerca
do nosso tema em comum. Mas, acima de tudo, pela amizade inestimvel de ambos.
Aos meus amigos-irmos Daniel, gor, Maldonado, Mariano, Ulisses, Daniel Irum,
Daniel Negro, Filipe, Moiss, Carlos e todos que esto no dia-a-dia da nossa Fraternidade.
Vocs tambm foram fundamentais!
Aos amigos do !TEC (Jr.), que represento nas pessoas de Alexandre Pandolfo, Gregori
Laitano, Marcelo Luchese e Marcelo Mayora, com quem aprendi muito no nosso grupo de
estudos sobre Emmanuel Levinas.
Aos colegas e amigos Bizzoto, Andra, Eliane, Dinia, Inezil, Gustavo, Marisa, Camile,
Marcos, Tovo, Elisa, Maura, Roberta, Vincius e todos os demais: obrigado por agentar
minha malice!
5
A presente dissertao, desenvolvida na linha de pesquisa
, articula-se como uma reflexo crtica sobre a tese do jurista alemo Gnther Jakobs
acerca do Direito Penal do Inimigo. O ponto de partida de que o Direito Penal do Inimigo
deve ser compreendido enquanto espcie de estado de exceo, no qual se suspende a
vigncia das normas jurdicas sem revog-las, formando um vazio que complementado pelas
figuras do , enquanto indivduo submetido ao Poder Soberano, e do ,
enquanto espao biopoltico anmico. A inflexo de Jakobs permite que essa desvinculao
dos textos constitucionais vigentes se situe na normativizao do conceito de pessoa, pelo
qual consegue abrir um flanco na ordem jurdica onde se infiltra o estado de exceo. Por
isso, o cotejo com a Constituio brasileira, por exemplo, mostra-se insuficiente, medida
que no toca o fundo do problema. Esse fato norteou a pesquisa no sentido de confrontar a
que orienta a construo do Direito Penal do Inimigo, enfrentando-o desde as
suas bases. Procurou-se descer at a excepcionalidade do concreto, a partir da estratgia da
desconstruo, buscando atacar a construo de Jakobs a partir da abertura de flancos de
alteridade. Dessa forma, toda uma lgica que atua de forma biopoltica no sistema penal a
lgica do Inimigo que combatida. Os conceitos que foram objeto de desconstruo,
tidos como pedras estruturais do edifcio terico de Jakobs, so os de: 1) ordem, enquanto
estratgia de construo do Inimigo; 2) representao, enquanto suporte cognitivo que
tematiza o Inimigo; e 3) persistncia no ser, como a estrutura ltima que cimenta uma ordem
de imanncia incapaz de abertura para o Outro. Portanto, desde a estratgia da desconstruo,
foi procurado um constante conflito entre a racionalidade instrumental do funcionalismo e a
racionalidade tica da alteridade.
Palavras-chave: Inimigo Exceo Racionalidade Funcionalismo tica
Alteridade.
6
The present dissertation, developed in the research line ,
is a critical reflection about the German jurist Gnther Jakobs' thesis Penal Law of the Enemy.
The starting point is that the Penal Law of the Enemy must be read as a kind of state of
7
.................................................................................................. 10
....................................................... 14
............................ 14
1. O Direito Penal do Inimigo: Noes ............................................................... 14
1.1. Pressupostos Tericos ................................................................................ 14
1.2. Delimitao e Objeto do Direito Penal do Inimigo .................................... 17
2. Estado de Exceo ............................................................................................ 20
2.1. A Emergncia inscrita no Corao da Normalidade .................................. 20
2.1.1. Estado de Exceo e Fora de Lei ........................................................ 20
2.1.2. O Direito Penal do Inimigo como Exceo Permanente ...................... 25
2.2. O ............................................................................................ 28
2.2.1. Vida Nua na Biopoltica ................................................ 28
2.2.2. O Inimigo como ............................................................... 31
2.3. Um campo sem limites? ......................................................................... 33
2.3.1. Campo como Nmos da Biopoltica .................................................... 33
2.3.2. O Campo do Inimigo ........................................................................... 37
2.4. Uma proposta de enfrentamento ................................................................ 38
............................ 41
1. Forma de Racionalidade .................................................................................. 41
2. A Desconstruo como hiperconceitualizao ................................................ 45
3. A Desconstruo como justia ......................................................................... 48
4. Desconstruindo o Direito Penal do Inimigo .................................................... 56
............................................................... 59
.... 59
1. O Inimigo o inimigo da ordem......................................................................... 59
8
2. Pureza, Perigo e Ordem ..................................................................................... 61
2.1. O Pensamento das Relaes de Lvi-Strauss .............................................. 61
2.2. Pureza ordem, impureza perigo.............................................................. 64
3. O Projeto de Engenharia Social Moderno ......................................................... 66
3.1. O Jardim sem Ervas-Daninhas ..................................................................... 66
3.2. Exacerbaes ou produtos legtimos da Modernidade? ............................... 69
3.3. Cumprindo ordens... ................................................................................ 71
4. O Contexto Social Contemporneo ................................................................... 72
4.1. O Neoconservadorismo e a Exploso do Medo ........................................... 72
4.2. A complexa situao brasileira .................................................................... 78
5. O Direito Penal do Inimigo enquanto Utopia da Pureza .................................... 81
............................................. 86
1. A Ordem convertida em Totalidade ................................................................... 86
2. A Razo como instrumento da Totalidade ......................................................... 92
3. O Direito Penal do Inimigo enquanto Projeto Totalitrio .................................. 97
.......................................... 99
................................. 99
1. Runa da Representao .................................................................................... 99
2. Estigma ............................................................................................................. 104
2.1. O que estigma? ......................................................................................... 104
2.2. Estigmas no contexto social contemporneo .............................................. 107
3. Poder Punitivo e Vulnerabilidade ..................................................................... 115
3.1. Seletividade e Vulnerabilidade ................................................................... 115
3.2. A experincia punitiva na Tolerncia Zero e no Brasil ........................... 119
4. Quem o Inimigo? ............................................................................................ 122
........................................................................ 125
1. A tica como Fundamento Crtico .................................................................... 125
2. A Crtica de Levinas a Martin Heidegger o Outro no-ontolgico ................ 126
3. O Assassinato do Outro ..................................................................................... 132
9
............................................................................. 139
................................................... 139
1. Inimigo e a Ordem da Imanncia ..................................................................... 139
2. A Ordem da Imanncia .................................................................................... 141
2.1. O Individualismo ........................................................................................ 141
2.2. Do atomismo ao narcisismo do indivduo contemporneo ......................... 146
2.2.1. Mnadas Diferentes: o turista e o vagabundo no espao social ............ 146
2.2.2. Da Solido ao Narcisismo ..................................................................... 150
2.3. Neutralizar o Outro. ..................................................................................... 153
3. O Inimigo no contexto individualista contemporneo ....................................... 157
..................................................................................... 161
1. Reconhecendo a Transcendncia: Levinas e a Alteridade ................................. 161
1.1. Relao Metafsica. tica e Discurso. ........................................................ 161
1.2. O Atesmo e a Vontade: a interioridade como condio da tica ................ 165
1.3. Liberdade Questionada a emergncia da justia ....................................... 168
1.4. O Infinito e a transcendncia como metforas de um vocabulrio tico ...... 173
2. A Hospitalidade .................................................................................................. 176
2.1. O Adeus e a Hospitalidade ........................................................................ 176
2.2. A Hospitalidade: para alm da ordem da crueldade ..................................... 180
2.3. Uma metfora para um espao poltico de justia ao Outro ......................... 183
......................................................................................................... 186
...................................................................................................... 191
10
Em 1985, na , fundada por v. Lizst e
Dochow no sculo XIX, Gnther Jakobs apresenta o trabalho
(Criminalizao no estdio prvio leso a bem jurdico), no qual
enuncia pela primeira vez a idia de Direito Penal do Inimigo, em sentido crtico,
confrontando-o com o Direito Penal do cidado e buscando fixar limites materiais a essa
tendncia legislativa. Trata-se de uma crtica da antecipao da punibilidade muita prxima ao
estado prvio e da quase equivalncia dos apenamentos com hipteses de tentativa de delitos
graves. Sua idia, em sntese, que o Direito Penal pode ver o autor como um cidado,
otimizando sua esfera de liberdade, ou como um inimigo, vendo-o como fonte de perigo.
Seria preciso revisar a teoria do bem jurdico, responsvel pela antecipao, a fim de garantir
a esfera privada do cidado. A repercusso desse artigo foi, via de regra, positiva
1
.
No entanto, j em 2000 aparece o primeiro comentrio de Jakobs das Jornadas de
Berlim, realizadas em 1999 e dedicadas cincia jurdico-penal alem frente mudana de
milnio, no qual a sua viso comea a ser tratada como descritiva, propugnando o
reconhecimento do Direito Penal do Inimigo como mal menor. Em 2003, por fim, publica
trabalho especfico sobre o tema, Direito penal do cidado e Direito penal do inimigo, vindo
primeira luz em espanhol, traduzido o manuscrito por Cancio Meli, que publica
conjuntamente resposta ao professor alemo. A partir disso, tem publicado novos artigos
abordando o tema
2
.
1
GRECO, Lus. Sobre o chamado direito penal do inimigo. , n. 56, So
Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, pp. 83-84 e 88-89; PASTOR, Daniel R. El Derecho penal del enemigo em el
espejo del poder punitivo internacional. In: . Org.
Cancio Meli e Gmes-Jara Dez. Vol. 2. Buenos Aires: Euros Editores, 2006, pp. 475-476 (doravante os
volumes sero abreviados para ); POLAINA NAVARRETE, Miguel & POLAINO-ORTIS, Miguel.
Derecho penal del enemigo: algunos falsos mitos. In: , v. 2, pp. 591-596.
2
PASTOR, Daniel R. El Derecho penal del enemigo em el espejo del poder punitivo internacional. In: , v.
2, pp. 476-477. Jakobs dedicou pelo menos mais dois artigos ao tema:
( ) (2005) e
( ) (2007).
POLAINA NAVARRETE, Miguel & POLAINO-ORTIS, Miguel. Derecho penal del enemigo: algunos falsos
mitos. In: , v. 2, p. 602.
11
Investigar o Direito Penal do Inimigo percorrer o ponto mais radical da inflexo
punitivista dos ltimos anos. A tese defendida por Gnther Jakobs de que se deve cindir o
Direito Penal em duas partes, uma aos cidados e outra aos inimigos constitui uma
espcie de formulao terica de tendncia a uma que vem percorrendo
os cenrios sociais do mundo ocidental nas ltimas dcadas. Jakobs tem o mrito de no
utilizar subterfgios retricos: argumenta claramente de acordo com as tendncias mais
antiliberais, sem fazer qualquer ressalva (sob o de ser puramente descritivo). Busca,
efetivamente e sem meios termos, o reconhecimento de um Direito Penal de , no qual o
Estado combate o Inimigo sem quaisquer espcies de restries garantistas, sintetizando
alguns sculos de atuao do Poder Punitivo em uma formulao ao estilo dogmtico-penal.
O ponto de partida do trabalho, aps apresentar a teoria de Jakobs, o de que o Direito
Penal do Inimigo uma espcie de estado de exceo, pois busca a ordem jurdica
sem revogar suas normas. Buscar-se- argumentar, nesse sentido, que, conquanto no se
esteja de acordo com a constitucionalidade dessa formulao, francamente contraditria com
os princpios elementares do texto constitucional, insuficiente a discusso no nvel tcnico-
jurdico, vez que claramente no se est diante de um conflito de normas. O que Jakobs
prope, ao contrrio, a suspenso do ordenamento jurdico em especial o constitucional
diante da presena do Inimigo, que no , circunstncia que, por bvio, motivaria a
inaplicao dos diversos princpios limitadores do Poder Punitivo. O penalista alemo
pretende, a partir disso, criar um Direito Penal ao ordenamento jurdico em geral,
tornando normas as regras de guerra que dele seriam prprias.
Isso no significa, no entanto, que estejamos atando nossas mos diante da tese. O que
se prope, ao contrrio, enfrent-la em um nvel metajurdico, ou seja, a partir dos
pressupostos filosficos informadores, sua forma de racionalidade. Com isso, no se est
apenas questionando a possibilidade jurdica de implementao de um Direito Penal do
Inimigo no Brasil, mas tambm a prpria que ampara o pressuposto de fundo
que subdivide pessoas em cidados e inimigos. a partir da estrutura que a idia de
Direito Penal do Inimigo que se pretende enfrent-lo. A partir disso, pretende-se elaborar uma
contraposio no apenas tese de Jakobs, mas ao que chamamos, com base em Giorgio
Agamben, de biopoltica do inimigo.
12
A eleita para contraposio a desconstruo, estratgia prpria
do pensamento de Jacques Derrida. A desconstruo pretende ser um mergulho radical no
texto de Jakobs para, a partir dos seus prprios conceitos, buscar a imploso das suas teses,
mostrando o fora que omitido no dentro do texto, embora pertena a ele. Esse Outro
que procuramos abrir no flanco textual tambm um Outro , o indivduo que a
representao de Inimigo e v-se reduzido, com isso, a um estigma. motivada numa
exigncia tica de a essa alteridade que a desconstruo se movimenta.
De forma distinta que Derrida, no entanto, pretende-se elaborar a pesquisa a partir de um
vis transdisciplinar e no estritamente filosfico buscando trazer aos conceitos puramente
formais sua contaminao ftica e tica. Com a transdisciplinaridade igualmente busca-se
contrapor o Direito Penal do Inimigo na excepcionalidade do concreto, ou seja, no local em
que efetivamente enquanto estado de exceo atua, no apenas no mundo metafsico do
conflito de normas jurdicas. Essa camada da desconstruo, como abordaremos adiante,
tem a dupla finalidade de, a um s golpe, atingir o purismo do positivismo jurdico, que no
enfrenta os problemas na faticidade dando espao a uma biopoltica que se infiltra entre lei e
fora de lei e de inserir o Direito Penal do Inimigo nessa faticidade, inflacionando suas
pedras estruturais at a respectiva imploso.
Esse movimento de primeira camada, que corresponde s sees 1 dos captulos,
seguido de uma segunda camada, na qual a desconstruo pretende fazer irromper o Outro
silenciado, assumindo-se enquanto uma exigncia tica de justia. o momento em que se
pretende des-neutralizar o discurso de Jakobs, confrontando-o com a alteridade engolida
pelo seu sistema totalizante, fundamentalmente a partir das teses filosficas de Emmanuel
Levinas, Jacques Derrida e Ricardo Timm de Souza.
Os conceitos eleitos enquanto pedras angulares do Direito Penal do Inimigo foram: a) a
, que o que precisamente define o Inimigo enquanto tal, na medida em que pretende a
ela se opor; b) a , intimamente pressuposta no discurso que sobrepe ao
indivduo a imagem mental do Inimigo; e c) a , que expressa no idia de
manuteno do prprio corpo, circunstncia que, ao fim e ao cabo, leva Jakobs a defender a
necessidade de suspenso da ordem jurdico-constitucional e a criao de um novo mbito
normativo, no destinado a pessoas.
13
A partir da infiltrao de elementos estranhos a essas noes abstratas, busca-se,
portanto, inflacion-los at mostrar seus limites, situando-os a partir das suas manifestaes
reais, para, em um segundo momento, confront-los com as exigncias da tica da alteridade.
14
Gnther Jakobs provocou volumosa celeuma do mbito da dogmtica penal pela
sustentao da necessidade do reconhecimento de um , que
desvincularia determinados indivduos do conceito de pessoa, admitindo que, diante da
insuficincia de pacificao interna, seria imprescindvel o reconhecimento dessa esfera
destinada aos indivduos perigosos. Antes, contudo, de ingressarmos propriamente na sua
tese, faamos uma breve incurso nos respectivos pressupostos.
Jakobs se utiliza do modelo luhmanniano de sociedade
3
, concebendo o Direito Penal
como um instrumento de garantia da identidade normativa. A sociedade, segundo ele, no
deve ser entendida a partir da conscincia individual ou do sujeito, mas como processo
comunicativo. Assim, ela poderia estar de modo diverso, tratando-se, sempre, de
um estado , e no ; determinado a partir de normas, e no de estados
ou bens. Da a importncia do Direito Penal enquanto meio de confirmao dessa identidade
normativa, em face de modelos divergentes que possam surgir, a fim de que no se tome toda
divergncia como evoluo
4
.
3
LUHMANN, Niklas. . In: Niklas Luhmann. . Org.
Clarissa Neves e Eva Samios. Trad.: Eva Samios. Porto Alegre: Editora da Universidade/UFRGS, Goethe-
Institut/ICBA, 1997, p. 80.
4
JAKOBS, Gnther. . trad. Marco Antnio R. Lopes. Barueri: Manole, 2003, pp. 10-
11. Uma excelente correlao entre Luhmann e Jakobs est em: PIA ROCHEFORT, Juan Ignacio. La
construccin del enemigo y la reconfiguracin de la persona. Aspectos del proceso de formacin de una
estructura social. In: , v. 2, pp. 571-581.
15
A teoria dos sistemas trabalha com a idia de complexidade das sociedades modernas,
onde, para facilitar a orientao do homem no mundo, devem-se criar mecanismos que
permitam a reduo dessa complexidade, entre os quais figuram os sistemas sociais,
demarcando o Direito os limites de configurao que d a si mesma a sociedade. A norma
jurdica gera, por isso, determinada , que um conceito contingente, pode ocorrer
ou no. preciso que existam mecanismos nesse sist
16
iluminista), e a possibilidade de legitimao de um Direito Penal do Terror. Jakobs entende
que equivocado atribuir ao seu modelo funcionalista um contorno totalitrio. Segundo ele,
tal inferncia possvel, embora isso corresponda a apenas de sociedade, tal
como a escravagista. O ponto de partida da teoria neutro, dependendo das caractersticas
individuais de cada sociedade. O Direito Penal funcional, alm disso, no hostil ao sujeito:
as crticas em torno disso ocultam, fundamentalmente, a realidade do sujeito, que somente se
forma a partir do meio social, predispondo uma idia abstrata que inexiste no mundo real.
Isso ocorreria em razo da alegao de fundo totalitrio no modelo funcional, que, como j
dito, restringe-o de forma equivocada, j que no est atado a qualquer modelo social.
Segundo Jakobs, a histria demonstra que, ou a sociedade funcional, ou simplesmente
desaparece
10
.
A segunda crtica, que o acusa de possibilitar um Direito Penal do Terror, poderia ser
contestada pelo fato de que o Direito Penal funcional no descreve um modelo estimado ideal,
mas simplesmente um Direito Penal gerado por sociedade. As decises sobre a
criminalizao, assim, no so jurdico-penais, mas puramente polticas, inexistindo modelo
capaz de resistir s alteraes polticas de valores
11
.
A pena, segundo Jakobs, tem sentido simblico: portadora de um significado, de uma
resposta ao fato. O autor, ao produzir um ato considerado ilcito, obtm a resposta enquanto
agente racional, ou seja, considerado seriamente como pessoa, sendo por essa razo
imperativa a resposta penal
12
. Mas a pena no tem apenas esse sentido. Ela tambm produz
fisicamente algo. responsvel por um efeito de segurana, no mnimo o de garantir que o
encarcerado, enquanto esteja na priso, no ir cometer delitos do lado de fora. Sem essa
eficcia, a pena privativa de liberdade no teria se convertido em reao habitual aos delitos.
Nessa medida, a coao no quer significar nada, mas apenas ser , produzir o desejado
efeito de segurana. Sob esse ngulo, ela no se dirige contra a pessoa, e sim ao indivduo
perigoso
13
.
10
JAKOBS, Gnther. pp. 13-20.
11
JAKOBS, Gnther. pp. 20-24; MELI, Manuel Cancio. O estado atual da
poltica criminal e a cincia do Direito penal. In: ,p. 113.
12
JAKOBS, Gnther. Direito Penal do Cidado e Direito Penal do Inimigo. In:
. JAKOBS, Gnther & MELI, Manuel Cancio. Traduo: Andr Callegari e Nereu
Giacomolli. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 22.
13
JAKOBS, Gnther. , p. 23.
17
nesse contexto que ele poder introduzir a noo de Direito Penal do Inimigo.
Jakobs proferiu sua primeira interveno sobre o tema em 1985 e o retomou em 1999
14
.
Se, na primeira manifestao, o termo parecia ter conotao nitidamente negativa, tratando
das hipteses de criminalizao do estado prvio, a partir de uma crtica que visava a
resguardar a esfera privada de liberdade
15
, na segunda, em Congresso realizado em Berlim,
Gnther Jakobs considera o reconhecimento dessa esfera como inevitvel. O Direito Penal do
Inimigo seria Direito Penal, que no o do cidado, que no teria os mesmos princpios
de funcionamento, dirigido quelas pessoas que se negam terminantemente a seguir a ordem
jurdica, pondo em risco a integridade do sistema social.
Jakobs busca a fundamentao jusfilosfica para o seu Direito Penal do Inimigo a
partir do referencial contratualista
16
. Inicialmente, menciona Rousseau e Fichte para sinalar
que, para esses autores, o criminoso seria um violador do contrato social, merecendo ser
tratado como inimigo, pois deixa de ser membro da sociedade. A separao entre o cidado e
seu Direito, de um lado, e o injusto do inimigo, por outro, seria demasiado abstrata. Por isso
Jakobs apia-se em Thomas Hobbes para lembrar que, diante do contrato de submisso ao
soberano, sobre o qual repousava a igualdade jurdica, o criminoso mantm-se na condio de
cidado, pois este no pode eliminar, por si mesmo, seu . No entanto, diante da situao
de (ou alta traio), o prprio contrato de submisso que est em jogo, de sorte que
14
CARVALHO, Salo de.
. In: . Org: SCHMIDT, Andrei
Zenkner. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006; MELI, Manuel Cancio. In: Direito
Penal do Inimigo: Noes e Crticas. JAKOBS, Gnther e MELI, Manuel Cancio, p. 54, nota 1.
15
APONTE, Alejandro. Derecho Penal de enemigo derecho penal del ciudadano. Gnther Jakobs y los
avatares de un derecho penal de la enemistad. v. 51, So Paulo:
Revista dos Tribunais, 2004, pp. 12-17.
16
JAKOBS, Gnther. , p. 25. A maioria dos autores, no
entanto, prefere aproximar Jakobs de Carl Schmitt: ABOSO, Gustavo Eduardo. El llamado Derecho Penal del
Enemigo y el ocaso de la poltica criminal racional: el caso argentino. In: , pp. 06-12, pp. 57-61; AMBOS,
Kai. Derecho Penal del Enemigo. In: , v. 1, p. 146; KALECK, Wolfgang. Sin llegar al fondo: la discusin
sobre el derecho penal del enemigo. In: , v. 2, pp. 127-132; PORTILLA CONTRERAS, Guillermo. La
legitimacin doctrinal de la dicotomia schmittiana em el Derecho penal del enemigo. In: , v. 2, pp. 668-672.
Jakobs, no entanto, ir negar posteriormente essa relao: JAKOBS, Gnther. Derecho penal del enemigo? Um
estudio acerca de los presupuestos de la juridicidad. In: , v. 2, pp. 108-109.
18
o crime pe em risco uma recada no estado de natureza. Os que cometem esses delitos, por
conseqncia, so tratados como inimigos, no cidados
17
.
Da mesma forma teria se posicionado Immanuel Kant no seu tratado , ao
reconhecer que quem no participa da vida de um estado comunitrio-legal deve retirar-se,
ou ser expelido, de forma que no tratado enquanto pessoa, mas como inimigo, pois priva da
segurana necessria e lesiona quem est ao seu lado pela ausncia de legalidade no seu
estado. Kant e Hobbes teriam, por isso, conhecido a diferena entre um Direito Penal do
cidado contra pessoas que no delinqem de modo persistente por princpio e um Direito
Penal do Inimigo, contra quem se desvia por princpio
18-19
.
A teoria de Jakobs, como foi sinalado, parte do pressuposto da expectativa normativa
provocada pelas normas penais. A norma deve, provavelmente, viger para (quase todas) as
pessoas, sob pena de o dficit de segurana cognitiva colocar em xeque a prpria vigncia
da norma, que consistiria em uma promessa vazia e sem garantia. As pessoas no desejariam
apenas direitos, mas tambm garantir a integridade
19
organizado. Nesses casos, o criminoso no proporcionaria a garantia cognitiva mnima para o
seu tratamento enquanto pessoa
21
. A reao do ordenamento, nesse caso, simplesmente a de
. Assim, o principal critrio regulador no ser a culpabilidade, mas a
do agente. Direito Penal e Processo Penal tornar-se-iam, por isso, medidas de
guerra
22
.
O Direito Penal, portanto, na viso de Jakobs deveria se subdividir entre aquele
destinado aos cidados e aquele destinado aos inimigos: o primeiro orientar-se-ia pela
culpabilidade, atuando posteriormente ao fato cometido pelo cidado; o segundo, conforme a
periculosidade, trataria de, o mais cedo possvel, eliminar o risco que pode ser causado pelo
inimigo. Ele v, inclusive, maior : evitar-se-ia, com isso, que dispositivos
relativos ao Direito Penal do Inimigo fizessem parte do Direito Penal do cidado
23
.
Jakobs ainda contesta, por fim, possvel argumentao em torno dos direitos humanos
dos inimigos. Segundo ele, nenhum pas implementou totalmente a vigncia dos direitos
humanos, estando eles ainda em fase de consolidao. Como os inimigos seriam
implementao de tais direitos, no poderiam deles usufruir, rememorando a idia contratual
que antes havia lhe servido de suporte filosfico
24
.
possvel resumir sua tese, portanto, com os seguintes pontos:
A. A funo manifesta da pena no Direito penal do cidado a , e no
Direito penal do inimigo a . Os correspondentes tipos
ideais praticamente nunca aparecero em uma configurao pura. Ambos os tipos
ser legtimos.
21
JAKOBS, Gnther. , pp. 34-35. Aqui se identifica o
Direito Penal de terceira velocidade, segundo a classificao de Silva Sanchez. SILVA SNCHEZ, Jess-
Maria. . Trad. Luiz
Rocha. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, pp.148-151.
22
Aponte anota que, no conceito de Direito Penal do Inimigo, est includa a guerra, conquanto ela dependa do
quanto se deve temer o inimigo. APONTE, Alejandro.
, p. 21. A leitura de Cornacchia
perfeita: En este contexto, se habla de Derecho penal del enemigo para indicar la idea de un verdadero y proprio
instrumento de lucha contra el fenmeno criminal: una mquina de guerra para neutralizar o, ms bien,
prevenir otras mquinas de guerra (aparatos terroristas, organizaciones criminales). CORNACCHIA, Luigi.
La Moderna Hostis Iudicatio entre norma y estado de excepcin. In: , v. 1, p. 415.
23
JAKOBS, Gnther. cit., p. 42. Como anota com
preciso Aponte, se trata de um fato trgico, que deve se verbalizar, se tematizar. APONTE, Alejandro.
, p. 24. Tambm Zaffaroni v o Direito Penal do Inimigo como proposta ttica de conteno.
ZAFFARONI, Eugenio Ral. , p. 155.
24
JAKOBS, Gnther. , pp. 45-48.
20
B. No Direito natural de argumentao contratual estrita, na realidade, todo
delinqente um inimigo (Rousseau, Fichte). Para manter um destinatrio para
expectativas normativas, entretanto, prefervel manter, por princpio, o de
cidado para aqueles que se desviam (Hobbes e Kant).
C. Quem por princpio se conduz de modo desviado, no oferece garantia de um
comportamento pessoal. Por isso, no pode ser tratado como cidado, mas deve ser
combatido como inimigo. Esta guerra tem lugar com um legtimo direitos dos
cidados, em seu direito segurana; mas diferentemente da pena, no Direito
tambm a respeito daquele que apenado; ao contrrio, o inimigo excludo.
D. As tendncias contrrias presentes no Direito material contradio
neutralizao de perigos encontram situaes paralelas no Direito processual.
E. Um Direito Penal do Inimigo, claramente delimitado, menos perigoso, desde a
perspectiva do Estado de Direito, que entrelaar o Direito penal com
fragmentos de regulaes prprias do Direito penal do inimigo.
F. A punio internacional ou nacional de vulneraes dos direitos humanos, depois
de uma troca poltica, mostra traos prprios do Direito Penal do inimigo, sem ser
s por isso ilegtima
25
.
A publicao de Giorgio Agamben, , tem gerado significativas e
relevantes discusses, especialmente nos meios filosficos e jurdicos. Ao propor, na esteira
25
JAKOBS, Gnther. , pp. 49-50. Os penalistas costumam
arrolar uma srie de caractersticas do Direito Penal do Inimigo, baseados na prpria interveno de Jakobs em
1985, a exemplo da criminalizao do estado prvio, o aumento desproporcional de penas ou a eliminao de
garantias processuais. Essa caracterizao, no entanto, suprflua, medida que, uma vez que Jakobs reconhece
a guerra como parmetro, no h quaisquer limites ou traos prprios da dogmtica penal a orientar o Direito
Penal do Inimigo. Um defensor do Direito Penal do Inimigo tem, por exemplo, que enfrentar o problema da
. KALECK, Wolfgang. Sin llegar al fondo: la discusin sobre el derecho penal del enemigo. In: , v.
2, pp. 134-135. Com uma interpretao distinta da ambgua formulao de Jakobs: PASTOR, Daniel R. El
Derecho penal del enemigo em el espejo del poder punitivo internacional. In: , v. 2, pp. 478.
26
ARENDT, Hannah. . Trad. Jos Rubens Siqueira. So Paulo: Companhia das Letras,
1999, p. 35.
21
de Walter Benjamin, que o estado de exceo perdeu seu carter de emergncia e passou a se
constituir, na realidade, a normalidade, Agamben problematiza uma srie de questes que
ainda no foram tratadas no mbito jusfilosfico.
A sistematizao do representa, de certa forma, sintoma de
que as ponderaes de Agamben encontram eco na situao atual. A partir de uma ciso
conceitual entre cidado e inimigo, Jakobs pretende a criao de dois Direitos Penais, um
dirigido ao cidado com as devidas garantias e direitos constitucionalmente assegurados -,
outro destinado aos inimigos, a quem seria conferido tratamento de . Estes no
disporiam do carter de pessoa, sem fazer jus, por isso, aos direitos e garantias assegurados
nas legislaes.
Ao propor a criao de um , Jakobs est a admitir a existncia
de uma duplicidade permanente e imanente no ordenamento jurdico, permitindo que
funcionem, simultaneamente, um Estado de Direito e um Estado de Exceo. O Direito Penal
do Inimigo, assim, seria a emergncia instalada paradoxalmente, de forma contnua no
corao da ordem jurdica.
Como, no entanto, pode legitimar Jakobs um diante da
imperatividade dos textos constitucionais no mundo ocidental, que garantem a universalidade
dos direitos humanos? Ou, por outro lado, como instalar a exceo no corao de
normalidade, tornando indistinguveis uma e outra? Por fim: ser que o discurso jurdico-
constitucional para impedir o avano do Direito Penal do Inimigo? Essas so as
perguntas que se pretende responder.
Walter Benjamin, na sua , ao afirmar que o estado de
exceo deixou de ser exceo e passou condio de regra, abriu, segundo Giorgio
Agamben, a possibilidade de repensarmos o estado de exceo no apenas enquanto tcnica
de governo, em contraposio idia de uma medida extrema, mas tambm enquanto
elemento da ordem jurdica
27
. A problemtica se torna atual e intensa se
considerarmos medidas como, por exemplo, o , promulgado em 2001, que
confere ao Executivo uma srie de poderes de forma a, inclusive, anular o estatuto jurdico
27
AGAMBEN, Giorgio. Trad. Iraci Poleti. So Paulo: Boitempo, 2004, p. 18.
22
dos combatentes inimigos, numa espcie de dominao fora da lei e do controle judicirio,
puramente ftica, comparvel apenas ao estatuto dos judeus durante o nazismo
28
.
O Estado de Exceo representa, assim, um ponto de desequilbrio entre o jurdico e o
poltico, uma franja ambgua e incerta
29
, cujo problema central seria o significado jurdico
de uma ao em si extrajurdica
30
. Consistindo em uma suspenso da norma, esta no se v
abolida e a zona de anomia instaurada no destituda de conotao jurdica trata-se, em
sntese, de uma zona de indiferena em que o dentro e fora no se excluem, mas se
indeterminam
31
.
A tentativa mais rigorosa de construir uma teoria do Estado de Exceo veio de Carl
Schmitt. Seu objetivo fundamental era, segundo Agamben, a inscrio do estado de exceo
num contexto jurdico. Tratar-se-ia de uma inscrio paradoxal, medida que se pretende
inscrever no Direito algo externo a ele; algo que significa nada menos que a suspenso da
prpria ordem jurdica
32
.
O operador fundamental, em , para efetivar a difcil ligao que
Schmitt pretendia concretizar era a distino entre dois elementos: a norma ( ) e a
deciso ( ). Mesmo suspendendo a norma, o estado de exceo
manteria intacto, na mais absoluta pureza, um elemento formal jurdico: a deciso. Os dois
elementos, norma e deciso, manteriam autonomia. O espao topolgico do estado de
exceo, por isso, um estar-fora e, ao mesmo tempo, pertencer
33
.
28
AGAMBEN, Giorgio. , p. 14. Ver, ainda: CARVALHO, Salo de.
3 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, pp. 63-77 e AGAMBEN, Giorgio.
Disponvel em: <http://www.germanlawjournal.com/print.php?id=371>.
Acesso em 08.06.2007. No constitui nenhum exagero de Agamben comparar as situaes, uma vez que, como
v Dworkin, o governo norte-americano no d tratamento de guerra, com respeito s convenes
internacionais, aos prisioneiros. CALLEGARI, Andr Luiz & DUTRA, Fernanda Arruda. Derecho penal del
enemigo y Derechos fundamentales. In: , v. 1, p. 336. Ver ainda: DONINI, Massimo. El Derecho penal
frente al enemigo. In: , v. 1, pp. 641-648.
29
AGAMBEN, Giorgio. , p. 11.
30
AGAMBEN, Giorgio. , p. 24.
31
AGAMBEN, Giorgio. , p. 39. A exceo uma espcie de excluso. Ela um caso
singular, que excludo da norma geral. Mas o que caracteriza a exceo que aquilo que excludo no est,
por causa disto, absolutamente fora de relao com a norma; ao contrrio, esta se mantm em relao com aquela
na forma de suspenso. . O estado de exceo
no , portanto, o caos que precede a ordem, mas a situao que resulta da sua suspenso. Neste sentido, a
exceo verdadeiramente, segundo o timo, e no simplesmente excluda.
AGAMBEN, G. . Trad. Henrique Burigo. Belo Horizonte: Editora
UFMG, 2002, p. 25. O livro Estado de Exceo o segundo volume da trilogia .
32
AGAMBEN, Giorgio. , p. 54.
33
AGAMBEN, Giorgio. , pp. 56-7.
23
A partir dessa distino, possvel perceber uma fenda entre a norma e sua aplicao.
Na leitura de Carl Schmitt, o estado de exceo expe o momento de maior oposio entre a
vigncia formal e aplicao real. Nessa zona extrema, ou em virtude dela, os dois elementos
mostrariam sua ntima coeso
34
.
nesse momento que Agamben, com as ponderaes de Schmitt, pode referir as
reflexes de Jacques Derrida no seu seminrio
35
. A fora de lei seria distinguida, tecnicamente, da mera . Enquanto esta
revelaria apenas a produo de efeitos jurdicos, a fora de lei, ao contrrio, significaria a
da lei em relao a outros atos do ordenamento jurdico, dotados de fora superior
(p.ex., a Constituio) ou inferior (p.ex., Decretos) a ela. O determinante, no entanto, que a
expresso fora de lei, tecnicamente, refere-se no prpria lei, mas queles decretos que o
Poder Executivo pode, em alguns casos, promulgar, com - como diz a prpria expresso -
fora de lei. Ou seja: h uma separao entre a aplicabilidade da norma e sua essncia
formal, medida que os decretos, embora formalmente no tenham partido do Poder
Legislativo, ganham uma excepcional fora
36
.
Assim, do ponto de vista tcnico, o essencial no estado de exceo no a confuso
entre os Poderes, Legislativo e Executivo, porm especialmente a entre lei e fora
de lei. Essa isolada, definindo um quadro em que a lei formal, embora ainda em
vigor, no tem aplicabilidade; e, de outro lado, atos no-legislativos adquirem idntica
fora
37
. Trata-se de um : o que est em jogo uma fora de lei sem lei,
ou, como grifa Agamben, fora de lei
38
. Utilizando as expresses aristotlicas, potncia e
ato esto separados radicalmente, por uma espcie de elemento mstico, uma fico que na
qual o direito atribui a si prprio sua anomia
39
.
34
AGAMBEN, Giorgio. , p. 58.
35
Ver: DERRIDA, Jacques. Trad. Leyla Perrone-Moiss. So Paulo: Martins Fontes, 2007, pp. 24-
28. Conferir, ainda: SOUZA, Ricardo Timm de.
Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004, pp. 130-166.
36
AGAMBEN, Giorgio. , p. 60. O particular vigor da lei consiste nessa capacidade de
manter-se em relao com uma exterioridade. Chamemos de a esta forma extrema da relao
que inclui agora alguma coisa atravs de sua excluso. AGAMBEN, , p. 26.
37
AGAMBEN, Giorgio. p. 61.
38
Tachado.
39
AGAMBEN, Giorgio. , p. 61.
25
Finalmente, na , Benjamin afirma que a tradio dos
oprimidos nos ensina que o estado de emergncia em que vivemos a regra, devendo-se
chegar a um conceito de histria que corresponda a isso
45
. Isso seria algo que Schmitt no
poderia admitir, pois, quando a exceo se torna a regra, a mquina no pode mais
funcionar
46
. Exceo e regra, por isso, se tornam indiscernveis; no h seno uma zona de
anomia em que age uma violncia sem roupagem jurdica. Nas palavras de Agamben, a
tentativa do poder estatal de anexar-se anomia por meio do estado de exceo
desmascarada por Benjamin por aquilo que ela : uma
26
constitucional, para, nesse espao entre norma e aplicao, um Direito Penal do
Inimigo.
A pessoa, segundo Jakobs, passa a ser um conceito
49
. A sociedade seria um
arranjo , construda a partir de um contexto comunicacional. A identidade desse
contexto seria mantida, por isso, no como um estado, mas simplesmente por meios das
regras de comunicao
50
. Rechaando as construes que oporiam subjetividade concreta e
sociabilidade, Jakobs afirma que equivocado contrapor-se as condies de constituio de
subjetividade s condies de constituio da sociabilidade (aqui liberdade aqui
sociabilidade), pois sem uma sociedade em funcionamento no h condies empricas da
subjetividade
51
. A perspectiva da sociedade funcional, por isso, seria neutra: no h como
se objetar, , que ela possa formar um Direito Penal do Terror; ela apenas d conta do
funcionamento da autoconservao do sistema social
52
.
Nesse contexto, a pessoa entra enquanto um a ser desempenhado. Segundo ele,
pessoa a mascara, vale dizer, precisamente no a expresso da subjetividade do seu
portador, ao contrrio a representao de uma competncia socialmente compreensvel
53
.
Assim, a pessoa no se identifica com a sua subjetividade; no arranjo de expectativas sociais
institucionalizadas que ela se forma.
Jakobs ainda argumenta que, na relao de comunicao pessoal, que supera a
comunicao instrumental por pressupor a constituio formada em sociabilidade, o mundo
se forma do eu ao outro com base em normas sociais em sentido estrito, que, se
infringidas, representam a tomada de posio em uma configurao de mundo que exonera o
49
Um curioso paralelo da limitao do conceito normativo de pessoa na releitura kantiana de Jrgen Habermas
para dar conta dos problemas suscitados pela contempornea encontra-se em PONTIN, Fabrcio.
. 2006. 111f. Dissertao (Mestrado em Filosofia)- Faculdade de Filosofia. Pontifcia Universidade
Catlica do RS. Porto Alegre, 2007, pp. 52-57. Ver, ainda: van WEELZEL, Alex. Persona como sujeto de
imputacin y dignidad humana. In: , v. 2, pp. 1057-1072..
50
JAKOBS, Gnther. . Trad. Maurcio Ribeiro Lopes. Barueri: Manole, 2003, pp.
10-11.
51
JAKOBS, Gnther. , pp. 14-15. Do que, diga-se de passagem, no se discorda de
Jakobs. invivel retornar-se idia de sujeito em grau zero inaugurado, fundamentalmente, pelo
cartesiano. O horizonte completamente distinto no heideggeriano, que se constitui a partir de mundo,
(HEIDEGGER, Martin. . Trad. Maria Schuback, Petrpolis: Vozes, 2006, pp. 106-
109); ou, por exemplo, na reconstruo das relaes entre sociedade e indivduo demonstrada por Norbert Elias
(ELIAS, Norbert. . Trad. Vera Ribeiro. RJ: Jorge Zahar, 1994, pp. 13-59). O que no
nos leva, contudo, a concordar com as concluses que Jakobs retira dessa premissa.
52
JAKOBS, Gnther. , p. 20.
53
JAKOBS, Gnther. , p. 30.
27
outro
54
. na relao de , por isso, que se constitui a relao entre sujeitos; elas, na
realidade, o mundo objetivo. Nesse cenrio, os sujeitos aparecem
como portadores de funes, ou . Do ponto de vista da sociedade, portanto, no so as
pessoas que fundamentam a comunicao pessoal a partir de si mesmas, mas a comunicao
pessoal que define os indivduos enquanto
55
.
A construo de Jakobs, por isso, chega sua sntese na seguinte frase: O
correspondente complexo de normas o que constitui os critrios para definir o que se
considera uma pessoa
56
.
Ora, uma vez definida a pessoa enquanto complexo de normas, cujos critrios de
definio deve o poder poltico definir, Jakobs est certamente abrindo uma por onde se
infiltra o estado de exceo. com base na idia de que o inimigo no pessoa, pois se
orienta de forma totalmente contraftica, que recusa a aplicao de quaisquer direitos a ele
57
.
Sua tese pode ser resumida seguinte passagem:
Portanto, o Estado pode proceder de dois modos com os delinqentes: pode v-los
como pessoas que delinqem, pessoas que tenham cometido um erro, ou indivduos
que devem ser impedidos de destruir o ordenamento jurdico, mediante coao.
Ambas perspectivas tm, em determinados mbitos, seu lugar legtimo, o que
significa, ao mesmo tempo, que tambm possam ser usadas em um lugar
equivocado
58
.
Jakobs, portanto, infiltra mediante um esvaziamento do conceito de pessoa,
normatizado, a possibilidade de instaurao de um regime de exceo, no qual caber ao
soberano distinguir entre quem deve e quem no deve ser tratado como pessoa. Com isso,
visivelmente estamos diante da anteviso de Benjamin: ,
medida que a distncia entra a lei (direitos fundamentais) e a aplicao (definio de quem
inimigo) passa apenas por uma deciso com fora de lei do soberano que instaura, no
corao da normalidade, a exceo. Mesmo a deciso que cataloga o indivduo como pessoa
ou cidado pelo estado de exceo, que tem o efeito duplo e, com isso, se
torna regra. Na medida em que existente a ciso entre Direito Penal do cidado e Direito
Penal do Inimigo, inexoravelmente se instaura a exceo total, medida que
54
JAKOBS, Gnther. , p. 54.
55
JAKOBS, Gnther. , pp. 55-56.
56
JAKOBS, Gnther. , p. 57.
57
JAKOBS, Gnther. , pp. 47-48.
58
JAKOBS, Gnther. , p. 42.
28
deciso em torna da aplicao de uma lei estatuda passar pelo crivo do soberano, a quem
incumbe a lei. E, como mostrou Agamben, exatamente nessa distncia que se
instaura o estado de exceo.
Homo Sacer
Homo Sacer
O estado de exceo caminha junto com o , a vida nua sobre a qual se exerce
o poder biopoltico.
Agamben sinala que no existia, entre os gregos, um termo nico que exprimisse a
nossa idia de vida. Havia, ao contrrio, dois termos semntica e morfologicamente
distintos: , que exprimia o simples fato de viver comum a todos os seres vivos (animais,
homens ou deuses) e , que indicava a forma de viver prpria de um indivduo ou de um
grupo
59
. Essa simples vida natural excluda do mundo clssico, da , pertencendo ao
domnio privado do
60
.
Michel Foucault teria partido dessa distino para resumir o processo pelo qual, nos
limiares de Idade Moderna, a vida natural comea a ser includa nos clculos do poder estatal,
transformando a poltica em . Na Modernidade, o indivduo passa a integrar as
estratgias polticos a partir do seu simples corpo vivente, resultando numa espcie de
animalizao do homem orientada por um controle disciplinar que formava os corpos
dceis que necessitava. A partir disso, foi possvel tanto proteger a vida quanto produzir seu
holocausto
61
. Trata-se, em sntese, do ingresso da na : politizao da vida nua
62
.
Ao identificar essa estratgia biopoltica, Foucault teria abandonado a abordagem
tradicional da questo do poder, baseada, em especial, nos modelos jurdico-institucionais na
59
AGAMBEN, G. , p. 09.
60
AGAMBEN, G. , p. 10.
61
AGAMBEN, G. , p. 11.
62
AGAMBEN, G. , p. 12.
29
direo de uma anlise sem preconceito das formas pelas quais o poder penetra no prprio
corpo de seus sujeitos e das formas de vida
63
. Foucault, portanto, parte essencialmente do
ponto em que os conceitos normativos de pessoa estancam: o poder biopoltico, que se
dirige diretamente aos corpos qualificados no pela idia de pessoa, mas pura e
simplesmente enquanto vida nua.
O conceito de homem no ser mais um obstculo epistemolgico ou moral, assim,
para que Foucault possa repensar o sujeito a partir da sua dimenso estrutural, ou seja,
especialmente tematizando a funcionalizao do que propagada a partir de
tcnicas do poder que dominam os corpos. Visivelmente, em Foucault, estamos diante de uma
ultrapassagem do horizonte jurdico-normativo da pessoa do Iluminismo para a direo de
uma problematizao do poder atuando sobre os corpos dceis.
Agamben, no entanto, v como lacuna na teoria de Foucault o ponto de interseco entre
o conceito biopoltico de poder, por ele explorado, e os modelos jurdico-institucionais.
nesse ponto de interseco que Agamben identifica, precisamente, o ncleo originrio
do poder soberano. A produo de um corpo biopoltico a contribuio
original do poder soberano. Por isso, a biopoltica to antiga quanto a exceo soberana
64
.
H, por isso, um vnculo entre o poder soberano o estado de exceo e a vida
nua o . somente a partir do desvelamento desse vnculo, que Agamben entende
obscurecido, que se poder reequacionar as contradies surgidas no nazismo e no fascismo.
A vida nua continua presa no estado de exceo, isto , de alguma coisa que includa
somente a partir da sua excluso
65
.
O termo carrega um significado ambguo, medida que, enquanto sanciona
a sacralidade de uma pessoa, torna impunvel seu homicdio. E, de forma ainda mais
contraditria, aquele que qualquer um podia matar impunemente no devia, porm, ser
levado morte nas formas sancionadas pelo rito
66
. A estrutura da consistia, assim,
na conjuno de dois aspectos: a impunidade da matana e a excluso do sacrifcio
67
. No caso
63
AGAMBEN, G. , pp. 12-13.
64
AGAMBEN, G. , p. 14.
65
AGAMBEN, G. , p. 18.
66
AGAMBEN, G. , p. 79.
67
AGAMBEN, G. , p. 89.
30
do uma pessoa simplesmente posta para fora da jurisdio humana sem atingir
a divina.
Agamben identifica, nesse caso, uma entre o estado de exceo e o
: em ambos, a estrutura topolgica aquela da dplice excluso e da dplice
captura. Assim como na exceo soberana a lei aplica-se ao caso desaplicando-se, do mesmo
modo o pertence a Deus na forma da insacrificabilidade e includo na
comunidade na forma da matabilidade. A vida insacrificvel e, todavia, matvel, a vida
sacra
68
.
Dessa forma, Agamben delineia os traos fundamentais da condio do
Aquilo que define a condio do homo sacer, ento, no tanto a pretensa
ambivalncia originria da sacralidade que lhe inerente, quanto, sobretudo, o
carter particular da dupla excluso em que se encontra preso e da violncia qual
se encontra exposto. Esta violncia a morte insancionvel que qualquer um pode
cometer em relao a ele no classificvel nem como sacrifcio nem como
homicdio, nem como execuo de uma condenao e nem como sacrilgio.
Subtraindo-se s formas sancionadas dos direitos humano e divino, ela abre uma
esfera do agir humano que no a do e nem a da ao profana
69
.
A condio do apresentaria a figura originria da vida presa no bando
soberano e demonstraria a constituio fundamental da esfera do poltico. Esse seria,
, o espao do poltico. O que pode ser sintetizado na seguinte considerao:
Soberana a esfera na qual se pode matar sem cometer homicdio e sem celebrar um
sacrifcio, e sacra, isto , matvel e insacrificvel, a vida que foi capturada nesta esfera
70
. A
produo da vida nua -, portanto, a contribuio fundamental do
poder soberano, a pedra angular da poltica.
Agamben, assim, identifica um vnculo poltico que a prpria idia de
contrato social ou uma norma positiva. na relao com o soberano que se d sob a forma de
dissoluo ou exceo que identifica o trao fundamental que o elemento poltico originrio.
A vida humana se a partir do abandono a um poder incondicionado de morte
71
.
68
AGAMBEN, G. , p. 90.
69
AGAMBEN, G. , p. 90.
70
AGAMBEN, G. , p. 91.
71
AGAMBEN, G. , p. 98.
31
O judeu durante o perodo do nazismo seria o referente negativo privilegiado da nova
soberania biopoltica e, como tal, um flagrante caso de , no sentido de vida
matvel e insacrificvel. O seu sacrifcio no constitua, na realidade, uma espcie de pena
capital nem de sacrifcio, mas apenas a realizao de uma matabilidade inerente condio de
hebreu como tal. Segundo Agamben, embora seja difcil s vtimas admitir isso, os hebreus
no foram exterminados no curso de um gigantesco holocausto, mas, como Hitler
anunciava, como piolhos, ou seja, como vida nua. A dimenso do extermnio
biopoltica
72
.
Homo Sacer
O conceito de pessoa de Jakobs igualmente capaz de proporcionar um
horizonte para que a violncia da captura do ocorra e se legitime, por meio do
estado de exceo
73
.
O Inimigo, na medida em que se v despojado dos seus direitos de cidadania, torna-se
submissa ao poder do soberano. Ele deixa de pertencer esfera da (Direito
Penal do cidado) e passa condio de , medida que o Direito Penal do
Inimigo, enquanto guerra pura e simples, no pressupe qualquer vnculo normativo.
capturado apenas na sua matabilidade.
V-se, portanto, que no se o pode sacrificar, apenas matar. O Direito Penal do
Inimigo, ao desvincular-se de qualquer contedo ontolgico de pessoa, retira da esfera
jurdica uma parcela do poder punitivo e, a critrio do soberano, multiplica o .
Trata-se no de propor um agravamento das sanes punitivas do Estado queles que
representem um perigo excepcional comunidade como um todo, mas sim de exclu-los do
ordenamento jurdico
74
, tornando-os matveis pela guerra pura e simples.
72
AGAMBEN, G. , p. 121.
73
Salientando a estrutura paradoxal do Direito Penal do Inimigo: RESTA, Federica. Enemigos y criminales. Las
lgicas del control. In: , v. 2, p. 735.
74
Essa observao, que difere o Direito Penal do Inimigo dos movimentos de Lei e Ordem em geral, ser
retomada ao longo de todo trabalho. Por Movimentos de Lei e Ordem entende-se os movimentos
tradicionalmente identificados com a direita punitiva, os MLO compreendem o crime como o (...)
.
32
Ainda mais: ao proporcionarmos ao soberano o poder de definir, normativamente, quem
e quem no pessoa, imediatamente todos os cidados ficam na condio de . O
mesmo raciocnio aplicado ao estado de exceo aqui se repete: quando o estado de exceo
para , para , pois sempre preceder o Estado de Direito. Da mesma forma,
quando h na condio de , despidos da idia de pessoa e expostos, na
sua vida nua, ao soberano, caem na mesma condio, pois no h segurana de que no
possam virem a ser considerados Inimigos. A exposio, assim, embora possa ser
inicialmente mascarada por uma condio originria de pessoa, que seria retirada em
circunstncias especiais (segundo Jakobs, diante de uma personalidade contraftica), ocorre
, pois o cidado est permanentemente ao alcance do Direito Penal do Inimigo.
Esse parece ser o elemento fundamental que invalida qualquer proposta que, em todo
caso, seria inaceitvel de que o Direito Penal do Inimigo consistiria em reduo de danos.
No h como separar, de antemo, inimigos e cidados. Portanto, todos esto ao alcance desse
Direito sem limites. E, com isso, a proteo normativa de pessoa passa fico: todos esto
expostos, de antemo, em sua .
ainda a proteo normativa da pessoa os direitos fundamentais que elide ao Poder
Punitivo a considerao de todos na sua vida nua
75
. Se, na pulsao da realidade concreta, eles
so efetivamente violados, constituindo-se um estado de emergncia que repousa no corao
da normalidade institucional (p.ex., no fato de a grande maioria das prises ser de natureza
cautelar), a introduo no mbito normativo de uma abertura ao Poder Punitivo pode ter
no o efeito de reduo de danos, mas provavelmente (arriscaramos dizer: inexoravelmente)
o efeito de multiplicar o nmero de intervenes que reduzem o ser humano condio de
. Se como demonstra Agamben o Direito, por si s, sofre do problema do
distanciamento entre lei e fora de lei, abrindo espao exceo que se dirige vida nua, criar
um intervalo explcito normativamente significa chancelar a extenso ilimitada dessa
Sua metas podem ser sintetizadas da seguinte forma: (a) justificar a pena como castigo e retribuio; (b)
instaurar regimes de penalidades capitais e ergastulares ou impor severidade no regime de execuo da pena; (c)
ampliar as possibilidades de prises provisrias; e (d) diminuir o poder judicial de individualizao da sano.
CARVALHO, Salo de. , pp. 34-35.
75
Falamos, nesse momento, de um ponto de vista jurdico. Como j colocamos na nota, o estado de exceo
pulsa na realidade concreta, em diversas brechas abertas pelo ordenamento jurdico. O Direito Penal do
Inimigo, contudo, consistiria em abrir a possibilidade ilimitada de expanso desse poder.
33
exposio, derrubando as poucas barreiras que o Estado de Direito oferece proteo do
indivduo em relao ao poder soberano
76
.
Nmos
O terceiro eixo das investigaes de Agamben ao lado do estado de exceo e o
est na idia de campo como paradigma biopoltico do moderno.
Agamben novamente menciona Foucault quando este procurou dar conta dos processos
de subjetivao que, na passagem do mundo antigo ao moderno, levaram o indivduo a
objetivar o prprio eu e constituir-se como sujeito, vinculando-se, num mesmo golpe, a um
controle externo. No entanto, Foucault deixou de proceder s suas escavaes no que seria
o local por excelncia da biopoltica moderna: a poltica dos Estados Totalitrios. Por outro
lado, Hannah Arendt, embora tenha realizado significativas consideraes sobre o
totalitarismo aps a Segunda Guerra Mundial, esbarrou no limite de no relevar uma
perspectiva biopoltica. Ainda que tenha percebido o vnculo entre o totalitarismo e a
condio de vida do , Arendt deixou escapar o processo inverso, ou seja, a radical
transformao da poltica em espao da vida nua. Segundo Agamben, somente porque em
76
nesse pequeno intervalo que o discurso garantista por ter efetividade. Diante do estado de exceo que se
aplica no intervalo entre lei e fora de lei, h pouco espao para o discurso jurdico se efetivar enquanto proteo
da vida nua, do qual, no entanto, no se deve abrir mo, sob pena de expanso ainda maior da exposio. Por
essa razo, opta-se, como adiante se explicar, por um discurso em nvel metajurdico, a fim de enfrentar a
problemtica da exceo a partir da excepcionalidade do concreto. Cf. SOUZA, Ricardo Timm de.
. Veritas, vol. 51, n. 2, junho/2006. Por discurso garantista
entendemos: o direito um universo lingstico que pode permitir, graas estipulao e observncia
de tcnicas apropriadas de formulao e de aplicao de leis aos fatos jurdicos, a fundamentao dos juzos em
decises sobre a verdade, convalidveis ou invalidveis como tais, mediante controles lgicos e empricos e,
portanto, o mais possvel subtradas ao erro e ao arbtrio. O problema do garantismo penal elaborar tais
tcnicas no plano terico, torn-las vinculantes no plano normativo e assegurar seu efetividade no plano prtico.
FERRAJOLI, Luigi. . Trad. Ana Paula Zomer . So Paulo:
Revista dos Tribunais, 2002, p. 57. Ver ainda: SCHEERER, Sebastian; BHM, Maria Laura & VQUEZ,
Karolina. Seis preguntas y cinco respuestas sobre el Derecho penal del enemigo. In: , v. 2, pp. 933-935.
34
nosso tempo a poltica se tornou integralmente biopoltica, ela pde constituir-se em uma
proporo antes desconhecida como poltica totalitria
77
.
Agamben identifica no rio da biopoltica uma espcie de dupla face: os espaos,
liberdades e direitos que os indivduos adquirem em face do poder central preparam, contudo,
uma tcita e crescente inscrio de suas vidas na ordem estatal, oferecendo, paradoxalmente,
uma nova e mais temvel instncia ao poder soberano do qual pretendiam se libertar
78
. O
paradoxo, de certa forma, pode consistir numa explicao interessante para o fato de que as
estratgias emancipatrias geralmente acabam transformando-se em repressivas. A cada
proteo concedida pelo Estado, o indivduo v ampliada a tutela e por isso a exposio
ao poder soberano.
Na vida moderna, as linhas que separam a deciso sobre a vida da deciso sobre a morte
ou, em outros termos, a biopoltica da tanatopoltica no se apresenta mais com a fixidez
que dividiria setores absolutamente distintos. Elas so constantemente deslocadas para zonas
cada vez mais amplas da vida social, nas quais h uma simbiose do soberano no apenas com
o jurista, mas tambm com o mdico, o sacerdote ou o cientista. O campo, nesse contexto,
surgir como o paradigma oculto do espao biopoltico da modernidade
79
.
Uma expresso desse mecanismo ambivalente que reconhece ao indivduo uma
limitao do poder e, simultaneamente, amplia a exposio da vida nua o .
Surgido em 1679, advm j do sculo XIII, quando, para assegurar a presena fsica de uma
pessoa diante de uma corte judicial, seu centro no estava nem do sujeito das relaes feudais,
nem no futuro cidado, mas no puro e simples . O novo sujeito da poltica torna-se o
. A democracia moderna nasce como reivindicao e exposio desse corpo. Na sua
luta com o absolutismo, coloca, portanto, no o a vida qualificada de cidado -, mas
, vida nua em anonimato, apanhada pelo bando soberano
80
. Dessa tenso emerge o
novamente:
77
AGAMBEN, G. , pp. 125-126.
78
AGAMBEN, G. , p. 127.
79
AGAMBEN, G. , pp. 128-129.
80
AGAMBEN, G. , pp. 129-130.
35
Esta a fora e, ao mesmo tempo, a ntima contradio da democracia moderna: ela
no faz abolir a vida sacra, mas a despedaa e dissemina em cada corpo individual,
fazendo dela a aposta em jogo do conflito poltico
81
.
O , por isso, torna-se bifronte: portador tanto da sujeio ao poder soberano
quanto das liberdades individuais. Esse estranho paradoxo o que permitiu, por exemplo, a
transio da democracia parlamentar ao estado nazista, e deste quela novamente. O
reconhecimento das liberdades individuais carrega a dupla inscrio de esticar o domnio do
poder soberano sobre a vida nua
82
.
Alicerado nas afirmaes de Hannah Arendt, Agamben sublinha que os direitos
fundamentais mostraram-se desprovidos de qualquer tutela quando se viram diante de
situaes em que no era possvel os concretizar enquanto direitos do cidado de um Estado
83
.
, por isso, a hora de estancarmos a concepo de que tais direitos constituiriam espcie de
valores eternos metajurdicos, vinculando o legislador, para al-los sua condio histrica
real na formao do Estado-nao moderno. A vida nua que, at a formao desses Estados,
era indiferente, pois pertencia unicamente a Deus, agora vai inscrita na ordem jurdico-
poltica, tornando-se fundamento da soberania. Eles constituem o momento de passagem da
soberania de ordem divina soberania nacional. Agamben novamente confirma o paradoxo: o
reconhecimento do de cidado ao sdito significa que a vida nua se inscreve na ordem
poltica como portadora da soberania. somente com a compreenso dos modelos estatais
modernos dos sculos XIX e XX a partir da vida nua que tomamos a amplitude exata da
controvrsia, abandonando, pois, que em seu fundamento estaria o sujeito poltico livre e
consciente
84
.
Uma das caractersticas essenciais da biopoltica moderna necessidade de redefinir os
limiares entre a vida e aquilo que est fora dela. Essa linha permanentemente redesenhada,
pois, na , que as declaraes de direitos politizaram, devem ser novamente definidos os
limiares que permitem isolar a vida sacra
85
.
81
AGAMBEN, G. , p. 130.
82
E se, notas atrs, sublinhvamos o onde o discurso garantista esboava limitao ao poder soberano,
trata-se, nesse momento, de revelar as dificuldades que esse modelo no capaz de enfrentar.
83
AGAMBEN, G. , p. 134.
84
AGAMBEN, G. , pp. 134-135.
85
AGAMBEN, G. , p. 138.
36
A condio de refugiado, trazida por Hannah Arendt, a primeira apario moderna do
homem sem mscara, ou seja, do . Diz Agamben:
Exibindo luz o resduo entre nascimento e nao, o refugiado faz surgir no timo
na cena poltica aquela vida nua que constitui seu secreto pressuposto. Neste
sentido, ele verdadeiramente, como sugere Hannah Arendt, o homem dos
direitos, a sua primeira e nica apario real fora da mscara do cidado que
constantemente o cobre. Mas, justamente por isso, a sua figura to difcil de
definir politicamente
86
.
uma constatao que se ergue veementemente ao longo de todo
, quando torna ntido que a primeira providncia necessria para iniciar o processo
de extermnio dos judeus foi eliminar sua cidadania. A condio de aptrida exps os judeus,
de todo, na qualidade de . Essa qualidade pode ser detectada na separao entre o
humanitrio e o poltico, que evidencia o descolamento entre os direitos do homem e os
direitos do cidado. O humanitrio reflexo do reconhecimento da e o campo o
espao puro de exceo.
O campo tornou-se, segundo Giorgio Agamben, a matriz oculta, o do espao
poltico em que ainda vivemos. Ele nasce no do direito ordinrio, como possivelmente uma
transformao dos crceres, mas do estado de exceo e da lei marcial
87
. o espao que se
abre quando o estado de exceo torna-se regra, na medida em que este, ao adquirir o carter
de normalidade, adquire dimenso espacial, embora inscrito estavelmente fora da ordem
jurdica
88
.
O campo tem estrutura paradoxal: espao de territrio que colocado fora da esfera
jurdica normal, mas no , por causa disso, simplesmente externo. Diz Agamben:
Aquilo que nele excludo , segundo o significado etimolgico do termo exceo,
, includo atravs da sua prpria excluso. Mas aquilo que, deste
modo, antes de tudo capturado no ordenamento o prprio estado de exceo. Na
medida em que o estado de exceo , de fato, desejado, ele inaugura um novo
paradigma jurdico-poltico, no qual a norma torna-se indiscernvel do estado de
exceo. O campo , digamos, a estrutura em que o estado de exceo, em cuja
possvel deciso se baseia o poder soberano, realizado normalmente
89
.
86
AGAMBEN, G. , p. 138.
87
AGAMBEN, G. , p. 173.
88
AGAMBEN, G. , pp. 175-176.
89
AGAMBEN, G. , p. 177.
37
Nesse cenrio, no apenas a lei suspensa, mas impossvel discernir entre fato e
direito. Ambos se confundem, de forma que tudo possvel. Uma vez que os indivduos
presentes perderam qualquer estatuto de cidadania e foram reduzidos condio de
, o campo o espao absoluto da biopoltica, no qual o poder soberano tem diante de si a
vida nua sem qualquer intermediao, diretamente exposta
90
. Trata-se, por isso, de uma
espcie de espacializao do estado de exceo, no qual todo cidado se v reduzido
condio de .
Podemos chegar, agora, ao extremo das consideraes que antes havamos
desenvolvido. O campo enquanto paradigma biopoltico significa um espao absoluto de
exceo, o limiar onde direito e fato se confundem onde .
A noo de campo parece no remeter apenas aos escritos de Arendt, mas tambm
viso da sociedade de controle desenhada por Gilles Deleuze. O filsofo francs prope, em
oposio a Foucault, que o controle j no se exerce mais de maneira disciplinar e a partir do
confinamento. Para Deleuze, o controle executado de forma aberta e contnua, produzindo a
modulao universal. Ele j no est mais vinculado a um espao de clausura: a fbrica, a
escola, o convento, a priso ou o manicmio. Sua estrutura espacial agora de um novo
regime de controle, que se d na educao contnua, na nova medicina sem mdico nem
doente, na introduo da empresa desde a educao fundamental, etc. O homem no
mais o indivduo confinado, mas o indivduo endividado. O homem da disciplina era
produtor descontnuo de energia, ao passo que o homem do controle ondulatrio,
funcionando em rbita, num feixe contnuo. O controle exercido a cu aberto e seu modelo
o banco de dados
91
.
90
AGAMBEN, G. , p. 178.
91
DELEUZE, Gilles. Post-Scriptum sobre as Sociedades de Controle. In: . RJ: Editora 34, 1992, p.
219 ss. No entanto, possvel observar que, embora Foucault tenha se referido disciplina como elemento
preponderante, sempre enfatizou a respectiva disperso, o que aproxima da tese de Deleuze. Ver: HUDSON,
Barbara A. Social Control. In: 2 ed. Edited by Mike Maguire .
Oxford: Oxford University Press, 1997, p. 458.
38
No Direito Penal do Inimigo, esse campo percorre , medida que esto
expostos na vida nua diante do poder punitivo. O campo se identifica com a prpria totalidade
poltica. O limiar que separa o cidado do inimigo est em permanente alvedrio do poder
soberano, cuja funo manter a ordem ou eliminar o perigo.
O risco do reconhecimento do Direito Penal do Inimigo significa, por isso, que se estaria
abrindo a possibilidade de transformar a totalidade social em um grande campo biopoltico
92
,
no qual poderia o Poder Punitivo dispor daqueles que fossem considerados com
personalidade contraftica. Significa estender o ingresso da no horizonte poltico at o
limite mximo, inscrevendo o prprio estado de exceo na ordem jurdica de forma
definitiva e inexorvel.
A exposio de indivduos na sua vida nua , medida que, como anotamos
atrs, existe um estado de exceo que opera de forma subterrnea no corao da ordem
jurdica, por meio de noes como periculosidade ou conduta social. A novidade do
Direito Penal do Inimigo a de tais mecanismos, abrindo a
possibilidade da espacializao da exceo em um grande campo, que constituiria, a rigor, a
das relaes sociais.
Os trs elementos que compem os eixos da tese de Giorgio Agamben
e encontram reverberao no Direito Penal do Inimigo. Uma
concepo normativa de pessoa encontra o limite significativo de no garantir argumento
convincente contra o surgimento da vida nua e da sua exposio ao poder soberano. Como
92
Tambm relacionando campo e Direito Penal do Inimigo: MUOZ CONDE, Francisco. De nuevo sobre el
Derecho penal del enemigo. In: , v. 2, pp. 357-358.
93
Assim, considerando o Direito Penal do Inimigo enquanto fenmeno de exceo, passamos ao lado da
discusso se constitui ou no um Direito Penal, fundamentalmente suscitada por Cancio Meli. O Direito
Penal do Inimigo tido como espcie de resposta de fato do Estado, como bem pontua Agamben. O objetivo
desse desvio elaborar uma contraposio da biopoltica do Inimigo que, independemente do reconhecimento
em um sistema fechado, permeia a atuao das agncias criminais. Ver: MELI, Manuel Cancio. Direito
Penal do Inimigo?. In: , pp. 66-81; SCHEERER, Sebastian; BHM, Maria Laura &
VQUEZ, Karolina. Seis preguntas y cinco respuestas sobre el Derecho penal del enemigo. In: , v. 2, p. 923.
39
este o ponto de vista de Jakobs, a teoria guarda em si mesma, por isso, coerncia, passando
ao lado dos problemas que suscitam acrscimo de compreenso
94
.
Os trs elementos identificam, inicialmente, a possibilidade de do
Direito Penal do Inimigo, medida que, constitutivamente, eles no oferecem limites
quaisquer, mas visam exatamente ao oposto: esses limites
95
. Partindo do ponto de
vista de Agamben, portanto, estamos a admitir que o discurso jurdico encontra dificuldades
diante do estado de exceo, pois este atua exatamente no seu limiar, onde jurdico e poltico
se cruzam e se constitui o poder soberano
96
.
E mais: se aderirmos perspectiva de Agamben, o reconhecimento de um vu de
pessoa que cubra a vida nua tem o efeito reflexo de alargar ainda mais a margem de exposio
ao poder soberano. A extenso dos direitos fundamentais causa um paradoxal alastramento da
exposio da vida nua.
Esse fato, no entanto, no significa que o Direito Penal do Inimigo seja inevitvel.
Embora ele se instale nas frestas do Estado do Direito, de forma sub-reptcia, a partir de
uma normativizao do conceito de pessoa, vivel pensarmos que deriva de uma
determinada , apta a descrever a realidade tal como fez Jakobs. Se
94
Muitos autores identificam, no entanto, uma circularidade na argumentao de Jakobs, como por exemplo,
GROSSO GARCA, Manuel Salvador. Qu es y que puede ser el Derecho penal del enemigo. In: , v. 2,
p. 9.
95
precisamente por este argumento que nos afastamos de todas as propostas de regulao do estado de exceo
(ou simplesmente do Direito Penal do Inimigo) no mbito jurdico, uma vez que partem da premissa falsa de que
possvel essa exceo por meio do Direito. Ver: GMEZ-JARA DEZ, Carlos. Normatividad del
ciudadano versus facticidade del enemigo. In: , v. 1, pp. 977-1002. Nas palavras de Pastor, El Derecho
penal, ms que como bienvenido instrumento apto para alcanzar cuelesquiera fines sociales, debe ser visto como
aparato que, si bien es inevitable, debe ser tratado com desconfianza y cuidado, pues es extremamente violento,
desafortunado e incitador al abuso. PASTOR, Daniel R. El Derecho penal del enemigo em el espejo del poder
punitivo internacional. In: , v. 2, p. 503. A idia de que o Estado de Direito um dique ao Estado de Polcia
tambm reflete perfeitamente nossa percepo: ZAFFARONI, Eugenio Ral; BATISTA, Nilo; ALAGIA,
Alejandro & SLOKAR, Alejandro. . 2 ed. Rio de Janeiro: Revan, 2003, pp. 92-101. A
partir desse pressuposto, como afirmam Scheerer e outros, el Derecho penal del enemigo es la regla, y la regla
es tambin que desde sus originenes siempre se h utilizado para la misma finalidad: la represin o eliminacin
de polticos internos contrarios o partes de la poblacin que se consideraban indeseables o prescindibles.
SCHEERER, Sebastian; BHM, Maria Laura & VQUEZ, Karolina. Seis preguntas y cinco respuestas sobre el
Derecho penal del enemigo. In: , v. 2, p. 923.
96
Tambm partindo do que o Direito Penal do Inimigo como um paralelo ao Direito ordinrio,
formalizando o estado de exceo: CORNACCHIA, Luigi. La Moderna
. In: , v. 1, pp. 415-456; MSSIG, Bernd. Derecho penal del enemigo: concepto y
fatdico presagio. Algunas tesis. In: , v. 2, p. 383; PASTOR, Daniel R. El Derecho penal del enemigo em el
espejo del poder punitivo internacional. In: , v. 2, p. 513. O prprio Jakobs sugere essa abordagem em
JAKOBS, Gnther. Terroristas como personas en Derecho? In: , v. 2, p. 91, quando diz que estas coisas
pertencem ao estado de exceo, e Derecho penal del enemigo? Un estudio acerca de los presupuestos de la
juridicidad. In: , v. 2, p. 95, quando afirma tratar dos pressupostos e limites da juridicidade.
40
partirmos, ao contrrio, de forma de racionalidade, podemos chegar a concluso
diversa, inclusive na prpria dos dispositivos constitucionais.
Por isso, prope-se recuperar uma matriz
97
do conceito de pessoa, a partir da
desconstruo efetuada no texto de Jakobs. Dessa forma, o Direito Penal do Inimigo vai
desmoronando desde seus alicerces e torna-se vivel conceber, desde outra matriz, o conceito
fundamental de pessoa. Com isso, tentamos nos dirigir excepcionalidade do concreto onde
essa exceo se exerce.
97
Trata-se de uma opo prpria da forma de racionalidade adotada, que abordaremos a seguir. Tambm seria
vivel, por exemplo, pensar-se em um conceito ontolgico de pessoa com forma de limitar as presses
biopolticas derivadas do poder soberano. a partir da idia de forma de racionalidade que iremos qualificar
como ingnuas ontologias sociologizantes como a de Luhmann (e, por conseguinte, Jakobs), uma vez que
acreditam esgotar a realidade nos seus esquemas abstrato-cognitivos. a partir desse argumento, externo e
interno, que se responde a formulaes aparentemente coerentes como as de PIA ROCHEFORT, Juan Ignacio.
La contruccin del enemigo yu la reconfiguracin de la persona. Aspectos del proceso de formacin de una
estructura social. In: , v. 2, pp. 581-590.
41
Pensar em forma de racionalidade j significa, de antemo, desacreditar a idia de
Razo. Em outros termos: admitir a existncia de formas de racionalidade representa
conceber que existem racionalidades em jogo.
A idia de o elo fundamental que liga todo pensamento filosfico que buscou a
neutralizao da diferena real em benefcio de uma viso lgica do mundo. Trata-se de
preservar a possibilidade de continuar a pensar a realidade, ou seja, de
identific-la enquanto correlato do pensamento lgico
98
. A recorrncia a uma essncia
fixa, que constituiria o ponto fundamental e garantiria a identificao com o pensamento,
elidiria a possibilidade de pensar-se em de racionalidade. Existiria apenas uma
Grande Razo, capaz de subsumir o mundo exterior nos seus esquemas lgico-identificantes,
a partir de uma origem que seria a .
Quando colocamos em jogo a idia dessa Grande Razo estamos vislumbrando um
paradigma civilizatrio (de ordem lgico-lingstica) a desabar, cuja essncia residia numa
atemporalidade esttica, incapaz de suportar as possibilidades de pensar um futuro realmente
ou um Outro que seja externo
99
. A impossibilidade de o pensamento alcanar
essas categorias que d conta da insuficincia da estrutura tradicional de racionalidade,
incapaz de resistir prpria realidade que bate a sua porta. A neutralizao desses
fenmenos j no parece mais reter dignidade filosfica. H uma realidade nauseante, para
usar a expresso prpria de Jean-Paul Sartre, que no espera para chegar. Ela .
O filsofo Franz Rosenzweig foi quem se caracterizou, em primeira mo, por uma
intuio da multiplicidade de origem. Sua contraposio ao pensamento identificante, que
98
SOUZA, Ricardo Timm de. Fenomenologia e Metafenomenologia: substituio e sentido sobre o tema da
substituio no pensamento tico de Levinas. In: . Org.: Ricardo Timm de Souza e
Nythamar Fernandes de Oliveira. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2001, p. 406.
99
SOUZA, Ricardo Timm de. .
So Paulo: Perspectiva, 1999, p. 23.
42
finalmente seria redutvel a alguma correlao, se d a partir de uma viso em que a realidade
aparece em toda sua multiplicidade, sem poder ser reduzida a esquemas intelectuais
100
.
O que ir em primeira mo distinguir Rosenzweig do conjunto dos pensadores
prevalentes da tradio ocidental em suas linhas mais gerais o que ir distingui-lo
de seus inspiradores estritamente filosficos mais diretos pode ser lido,
atravs do macio de sua obra, como uma espcie de intuio (ou desdobramento
da intuio) de uma determinada pluralidade, plurivocidade de
origem
101
.
Essa intuio fundamental representa a convico de que a solido do ato intelectual
tradicional, vinculado Verdade, ao Mundo, ao Ser, um processo de auto-devorao, um
alimentar-se finalmente de si mesmo da mesma forma que se alimenta do que no ele. Esse
bloco da Totalidade, habitado pelo Ser enquanto unidade de sentido, no reflete a
realidade como tal, como se fosse um espelho mgico, mas expressa apenas
possveis
102
.
Trata-se, como afirma Ricardo Timm de Souza, de uma desarticulao entre ser e
pensar, que a estrutura arquetpica do pensamento identificante. A temporalidade, nesse
sentido, ser o acontecimento decisivo que desestruturar essa unidade, temporalidade na
qual o presente do indicativo j , desde sempre, no fluxo dos acontecimentos, e em
que cada instante o instante na realidade, ao abrir um inusitado espao de liberdade
no impondervel do no qual o tempo mesmo, em ltima anlise, se
constitui
103
. Em resumo: decisivamente a categoria da que rompe a unidade
entre ser e pensar, desarticulando a sntese que pretendia abarcar a totalidade do real a partir
dos conceitos.
Rosenzweig percebe, a partir da introduo de um o tempo, que a questo
das essncias perde a consistncia, enquanto entidades em que o real viria ancorar sua
inteligibilidade. Essa ruptura, em que o tempo outro, evita a lgica da tautologia, de forma
que o da realidade se transforma, a rigor, em que a
100
Eis a, portanto, a multiplicidade e uma multiplicidade no meramente pensada como a
todo poder de sntese que possa ser realizado a posteriori por qualquer filosofia: primeiro anncio da
irredutibilidade da razo que a pensa. SOUZA, Ricardo Timm de. , p. 104.
101
SOUZA, Ricardo Timm de.
. In: Fenomenologia Hoje, p. 410.
102
SOUZA, Ricardo Timm de. , p. 23.
103
SOUZA, Ricardo Timm de. , p. 62.
43
realidade, desde sempre, comporta. O pensar vem redimensionado em manter
e viver seria levar tal multiplicidade a srio
104
.
O elemento da realidade no ser mais, portanto, as essncias enquanto
elementos privilegiados onde o real ancoraria sua inteligibilidade, mas a multiplicidade que
ocorre a partir da efetividade temporal
105
. O tempo, assim, se torna Outro e interrompe a
viagem circular do pensamento nas suas proposies lgico-identificantes. Interrompe-se a
viagem de Ulisses, que retorna a si mesma numa Odissia tautolgica
106
. a partir da
brutalidade mais crua e indisfarvel dos fatos que Rosenzweig toma impulso
107
.
O desacoplamento que ganha envergadura em Rosenzweig acaba, por isso, nos
conduzindo a uma viso que no permite conceber a idia de uma reduo intelectual da
realidade que abarque todos os sentidos possveis. A realidade permanece mais rica, sempre.
O esgotamento do sentido invivel. Como afirma Ricardo Timm de Souza,
Compreender o Ser, no como , mas como e
desinstalando-o de seu eterno presente lgico e
confrontando-o com sua prpria insuficincia, em termos de sntese absoluta: eis
uma tarefa gigantesca que perpassa o conjunto da obra de Rosenzweig
108
.
A morte exatamente o elemento que permite dar conta da finitude do pensamento. O
Todo permanece inatingvel ao mortal, exatamente por ser solitrio na sua condio real de
mortalidade
109
. H um golpe certeiro na estrutura eterna e atemporal do pensamento
tradicional: a morte o obstculo instransponvel ao pensamento, que se desfaz na prpria
mortalidade do seu pensador. Quando o pensamento tenta encontrar o que sobrou aps a
desarticulao entre ser e pensar, encontra nada. Esse nada o que exibe seu limite, pois
104
SOUZA, Ricardo Timm de. , p. 63.
105
SOUZA, Ricardo Timm de.
, p. 412.
106
Em todo este tecido, porm, fundamental a percepo da , a
grande desidentificao que permite o rompimento no s das grandes construes totalizantes idealistas, mas
44
algo para si mesmo, mas no para a unidade do pensamento
110
. Chega-se concluso de
que, ou se nega a realidade da morte, ou se admite que esse algo no concebvel
intelectualmente. A morte, por isso, traz a primeira marca da alteridade
111
.
Interessa-nos, pois, realar o sentido originrio da realidade que Rosenzweig
detecta. As descries da realidade no esgotam seu sentido, capaz de mais e mais re-
contextualizaes. A existncia dessa pluralidade constitutiva ser a matriz para que
possamos conceber a idia de forma de racionalidade e enfrentar o Direito Penal do Inimigo
enquanto tal.
Desvencilhando-nos do universo lgico da identidade entre pensamento e realidade, que
neutraliza a diferena real e busca sintetizar por meio do conceito, procurando a
45
A estratgia de desconstruo, desenvolvida fundamentalmente pelo filsofo Jacques
Derrida, peculiar, distinta da tradicional crtica ou . Na realidade, a
desconstruo est em um local entre interno e externo. Atua ao texto,
porm faz dele jorrar os elementos que indicam traos logocntricos, que o colocam em um
quadrante delimitado pelo pensamento racionalista tradicional, abrindo marcos de
temporalidade distinta e aberta. Abrindo marcos de , sobretudo
114
. tambm
medida que , uma razo plural por excelncia uma razo
anrquica (sem arch pr-definidora). A desconstruo uma , antes de tudo, de re-
definir sobre outras bases as relaes dos traos do texto. Um traado no-autorizado,
desvinculado da inteno do autor.
Essa estratgia visa a fundamentalmente expurgar elementos que remetam ao
falogocentrismo ou metafsica da presena, exibindo-os nos traos textuais. uma
estratgia que funciona especialmente , sem recorrncia a elementos histricos
ou arqueolgicos: , antes, uma forma de racionalidade que no se preocupa em erigir um
saber unificado e sistmico, contextual e histrico, mas antes em retornar
ingnita da razo
115
. Procura mostrar, a partir da prpria racionalidade, seus limites:
A desconstruo passa por ser hiperconceitual, e decerto o , fazendo um grande
consumo dos conceitos que produz medida que os herda mas apenas at o ponto
em que uma certa escritura pensante excede a apreenso ou o domnio conceitual.
Ela tenta pensar o limite do conceito, chega a resistir experincia desse excesso,
deixa-se amorosamente exceder. como um xtase do conceito: goza-se dele
transbordantemente
116
.
H, sem dvida, um vestgio da heideggeriana. Martin Heidegger pretendia
efetivar uma da tradio ontolgica anterior, a partir da pergunta pelo ser
114
CRITCHLEY, Simon. . Edinburgh: Ediburgh University
Press, 1999, p. 28.
115
La problemtica de la escritura se abre com la puesta en tela de juicio del valor del Lo que yo
propondr aqui no se desarrolar, poues, simplesmente como un discurso filosfico, que opera desde un
principio, unos postulados, axiomas o definiciones y se desplaza siguiendo la linearidad discursivo de una orden
de razones. Todo el trazado de la diferencia [ ] es estratgico y aventurado. Estratgico porque ninguna
verdad transcendente y presente fuera del campo de la escritura puede governar teolgicamente la totalidade del
campo. DERRIDA, Jacques. . Disponvel em: <http://www.philosophia.cl>.
Acesso em: 15.06.2006, pp. 04-05.
116
DERRIDA, Jacques & ROUDINESCO, Elisabeth. . Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
2004, p. 14.
46
revisitada. Essa destruio deveria seguir o fio condutor da questo do ser at chegarem s
experincias originrias em que foram obtidas as primeiras determinaes, que se tornaram
decisivas
117
.
Isso, no entanto, no significaria uma relativizao das perspectivas ontolgicas.
Heidegger no identifica um sentido de arrasar a tradio por meio da destruio.
Sua funo , antes, , medida que deve circunscrever a tradio em suas
possibilidades e isso sempre remeter aos seus constituda enquanto modo de
ser
118
. O horizonte dessa destruio se daria a partir do problema da temporalidade
119
.
Nesse sentido, a desconstruo recupera o traado na destruio na medida em que no
funciona apenas como uma espcie de crtica corrosiva aos escritos que investiga, mas
procura fundamentalmente extrapolar os seus limites a partir deles prprios. Como afirma
Rorty,
seu grande tema a impossibilidade do fechamento. Ele adora mostrar o seguinte:
sempre que um filsofo apaixonadamente d forma a um novo modelo de esfera
perfeita de Parmnides, algo escapole ou vaza. H sempre um suplemento, uma
margem, um espao no interior do qual o texto da filosofia escrito, um espao que
estabelece as condies de inteligibilidade e a possibilidade da filosofia
120
.
nesse sentido, e no como alegoria metafsica, que deve ser lida a frase de Derrida de
que os textos desconstrem a si mesmos
121
. a partir dos textos, e no eles, que
Derrida ir exibir exatamente seus limites. Isso no significa, portanto, um enunciado
metafsico que indicaria uma propriedade essencial dos textos (desconstruir a si mesmos),
mas uma estratgia prpria elaborada por Derrida a fim de esclarecer, a partir da leitura
117
HEIDEGGER, Martin. , p. 61.
118
HEIDEGGER, Martin. , p. 60.
119
HEIDEGGER, Martin. , p. 63.
120
RORTY, Richard. , p. 127. Ver: CRITCHLEY, Simon.
, pp. 20-31.
121
No que discordamos de Rorty ( , p. 128). Vasconcelos afirma: Uma das
principais caractersticas da abordagem desconstrucionista, tal como praticada por Derrida, a apropriao e
utilizao de conceitos derivados para, ao final, mostrar como esse sistema no funciona. VASCONCELOS,
Jos Antonio. O que desconstruo? , Curitiba, v. 15, n. 17, p. 76, julho/dezembro 2003.
47
rigorosa dos textos e , a impossibilidade do fechamento. esse efeito de
transbordamento
122
que se coloca como hiperconceitualizao.
Por isso, Derrida tenta desinflacionar noes como diferensa
123
ou trao de contedo
metafsico ao afirmar que no so conceitos ou palavras. Com essa proposio, que recebeu
objees importantes
124
, est tentando apenas expressar parte da estratgia desconstrutiva a
partir de termos que se recusam a fixar, no concedendo um solo ou um cho para a
anlise. Na medida em que a desconstruo pretende atuar texto, e no ele, dizer
diferensa ou trao significa, em outros termos, apenas sinalar uma estratgia de que no
ouviremos, necessariamente, o suposto desejo original do autor do texto, mas nos
aventuraremos em um terreno desconhecido, abrindo flancos inesperados no campo textual
125
.
48
tir-los do seu sossego abstrato do pensamento funcionalista-sistmico, que se estrutura
enquanto espcie de administrao da realidade por meio de esquemas fechados, procurou-
se jog-los no mundo da vida, de forma a faz-los jorrar seus limites e perigos. Essa estratgia
no foi comum a Derrida, na medida em que o seu transbordamento se dava no mbito da
ainda que a chocasse com aquilo que ela no . O sentido do movimento, contudo,
semelhante. Ao abrirmos a possibilidade de invaso de outras reas humansticas na
desconstruo, est-se sempre buscando a mesma finalidade: abrir marcos de alteridade
127
no
texto (suas margens) a partir do seu transbordamento. A alteridade vir, no caso, da forma
mais levinasiana possvel: confrontando com a realidade que o Rosto do Outro. E, nesse
caso, a pesquisa assume um contedo nitidamente , que ser esclarecido a seguir.
O seminrio , proferido na Cardozo Law
School, constitui um dos momentos fundamentais da obra de Jacques Derrida. ali que, de
forma explcita, Derrida explora a ligao entre desconstruo justia. A estratgia
desconstrutiva, at ento tratada fundamentalmente como uma exibio de limites
epistemolgicos, poderia ter implicaes no mbito tico-poltico?
Derrida admite, inicialmente, que, , a desconstruo poderia no ter
relao com a justia. Porm apenas de forma . A desconstruo, segundo Derrida,
interroga, de forma , o problema da justia. Oblqua: pois no nos
possvel interrogar a justia, o que, no seu texto , ele busca
provar
128
.
A reflexo de Derrida inicialmente se centra na relao entre justia e fora.
, expresso da lngua inglesa que remete inseparabilidade entre fora e justia, uma
127
Depois, a no uma distino, uma essncia ou uma oposio, mas um movimento de
espaamento, um devir-espao do tempo, um devir-tempo do espao, uma referncia alteridade, a uma
heterogeneidade que no primordialmente oposicional. Da uma certa inscrio do mesmo, que no idntico,
como diffr nce. DERRIDA, Jacques & ROUDINESCO, Elisabeth. , p. 34.
128
DERRIDA, Jacques. , p. 17.
49
pista para se desenvolver as implicaes dessa conjugao. O seguinte fragmento de Pascal
analisado:
. justo que aquilo que justo seja seguido, necessrio que aquilo
que mais forte seja seguido. A justia sem a fora impotente; a fora sem a
justia tirnica. A justia sem fora contradita, porque sempre h homens maus;
a fora sem a justia acusada. preciso pois colocar juntas a justia e a fora; e,
para faz-lo, que aquilo que justo seja forte, ou aquilo que forte seja justo. E
assim, no podendo fazer com que aquilo que justo fosse forte, fizeram com que
aquilo que forte fosse justo
129
.
A interpretao convencional, segundo Derrida, aquela que conduz a um pessimismo
relativista. Por essa razo, inclusive, tal fragmento teria sido retirado de uma das edies
francesas dos , sob a alegao de Pascal o havia escrito sob a influncia de
Montaigne, segundo o qual as leis so justas nelas mesmas apenas porque so leis. Montaigne
utiliza, nesse sentido, uma expresso que Derrida tem que como fundamental, e que fora
igualmente apropriada por Pascal, consistente no fundamento mstico da autoridade
130
. na
idia de crdito que Derrida coloca toda carga dessa expresso mstica do Direito. A
mstica, aqui, no tem qualquer sentido mgico ou algo do gnero; reside,
fundamentalmente, na crena, que no se reduz a um fundamento ontolgico ou racional
mas em um ato de f
131
.
A crtica pascaliana, lida fora dos quadrantes do seu pessimismo cristo, ganha ento
nova dimenso: remete a uma filosofia crtica , a partir de uma des-sedimentao das
estruturas do Direito que o ocultam e refletem, ao mesmo tempo, os interesses econmicos e
polticos das foras dominantes da sociedade
132
. Ou seja: Derrida, nesse53.077(n)-15.1425(r)-0.978452(r)1a13h.39368()-9.91104(s)8.95509(t)-9.91104(i)1314B55(a)6.37259(n)-18.2405(t)134(s)8.95545(d)-6.72545(a)-5.-6.72545((,)-3.]TJ-241.08 -18 Td[(no1c)-5.1425(211205(t)-9.91245(a)-5.1439(m)6.395.79104( )-182545(e)444]TJ/R9 6.9811245(e)-5.14,)-3.]TJ-2-6.72545(i)13.E5)6.37259260545(d)-6.7245(a)-5.143.11(d)4.79104(a)-5.1487.3.1219(a(s)8.95509(0)8.15371439()13.1219()6.374()-6a(s)8.955095.1487.3.8452(o)4.79104(p)-6.7204(i)1314B7182545(e)44n)-15.144n ov:opa d1(n)-18.2405(t)1340-604419(s)8.955(i24515.1p)-5.1425(2118(,)-3.545(,)-3.36n)-1jo79104(u)-18.2419(e791.6040024 )-164.56.37259(a)-32(e(l)-9.91104(u)1.7254d81.605.87414a4(A)-3.53986(,)-3.]T86113(e)13.8619( )-1 )250]TJ-241.08 -18 T7254d81.605.87414aom6.39368(o)-6.72545( )-74(s)-2.56141( )-118.592(c)-5.u3.8619( )-13688(e)2l4(i)1.60545(r1-2.5607( )-49.4287(q95509(e)-5.7254556141( )-1161425(s)-2.56141( ( )-184( )-1871a141(e)-5.1425(s)-2.54425( )-3.3d24515.140024 ))8.95509( )-60.9452.79104(o)-181145(a)6.373252(a)6.3735(a)-5.14251 281.04 278a78452(i)3( )-3.3005.87414a4(A)9264a4(A)9264a4(A)9264a4()13.1205(t)1el)1.60404(i)1.60404(z)-529104(i)1.6iz A A 60545(e)-5ds s ae(l)05(t)1elic0a44nt ud.05(t)1.60404(i)-9.912-15.144n e16.659(:)5.15(d)-6.7245(.05(t)1.60404(i)-9.912-15.144ni)13.1219(a)-5.1250]TJ-268.44 -18 Td[(f)1-9(a)-32(e(l)05(t).60404(e23 -9(a)-32(2 270.72 283(a)182543q.)0.978452(r)-792(u)n)1e28e8 Td[(-83i)-9.9121d)4.79104(u3.8619( )-13688(e)2l47.8792(u)n)66113(e)13.64a4439( )-14.8792(c)--( )-14.879( )-13688(e)2 u 605464452(r)-792(u-5.14,)-3. .39368(o)-6.72545( )250]TJ-247.32 -04(,)-3.36270.l05(t)1el t f o foe23 -9(a)-32(()4.79104( ))1.60404(2(r)-1444( )-187d.9452(n)-6.72r-268.64 Tm3725a0d44( )-187d.945( )25187(f)-13)6.37259s c 72(u)n()4.79104( ) opi9( )-13688(e)2 ptr -1868(o)9.l05(t)1el t l l l e e e as ee5(t)1.60404(i)-9.912459.32c-5.1425(s)-2.56141(ma.aTd[(m)6.3950 )-118.341(e)6.374( )0.978452(r)104,o e625(s)-2.56141(ma.aTd[(09(o)a18.341(5.1425(s)-2.54425( )-3.3d.79104( ))1439( )-164.594(s)6d)-62130.044(0.4878077)-2.56141(m)0441(5.1425(s)-2.54425( 5.3d.79104( r)-792(-1-9.91245(l)13. )-2.5607( )-492j2(D)-3.53845(i)1.62(u)-6.72545)-23gn37329(o)4.79104(s)-2.96119(u)-13.79104(:29104(i)5.1425(s)-05(t)1el)14619n793.36270e)-5.1425(n)-9n793.36270e)-5.( ).79104(s)-2.96119(u)-13.798452(r)104, d459sistod(4.1205(o)-6.72545( )8.153776)6d 0.4878077 -1-9.91245(l)13. dao st n t n sur d459sistod(4.1205(o)-6.72545( )8.153776)6d 0.4878077 0.4878077m5.1425(s)-2.54425( 5.3d077(n)-18.6439( )-164.687(f)-13.)-6.72545( )--176...72545( )8.1537.79245(c)-0.4878077s9245(c)-0.48-2.96119(u)-13. fop5( )8.1537.792d1045oa(a)-5.1425( )-176.11(c)-5.1118.341(e)6.374( )0.978452(r)104,o 92d1045oa(a)-41(ma.aTd[(4(A)9264a4(A)9264a4(A)9264a4()13.1205(t)1el)1.60Td[(4(A)926459)-5.1425(s)85D104)-15.144n .104(p5( )8.1537.792d1045)]TJ-241.092.56141(m)-6.721 5
50
de um poder dominante que simplesmente o constitui. As relaes so mais complexas e
. A fundao do Direito e da Justia no pode ser vista como um algo inscrito no
tecido homogneo de uma histria. H algo que o . Esse elemento precisamente a
deciso. ela que rasga esse tecido homogneo, para seguirmos na metfora. Esse momento
interrompe e funda, inaugura o Direito com um golpe de fora que no nem justo nem
injusto, nem lcito nem ilcito, pois no h qualquer fundao que o sustente. Em sntese: no
h uma metalinguagem a se apelar em relao ao momento instituinte
133
. A fundao do
Direito, portanto, vem de um golpe de fora que conjuga uma violncia interpretativa e, ao
mesmo tempo, um apelo de crena, a partir do referencial que apenas , pois no
h baliza externa a que se possa apelar. Visivelmente, portanto, Derrida se desvencilha de
qualquer esquema metafsico (dos quais poderamos destacar, por bvio, a idia de Direito
Natural) para repensar o momento de fundao do jurdico.
precisamente nesse instante que Derrida recupera o elemento mstico de Pascal e
Montaigne: nesse ato fundador, em sua estrutura violenta, h um silncio emparedado que
no exterior linguagem. O silncio sobre o mstico que Derrida aproxima do silncio de
Wittgenstein
134
. Portanto, podemos ver que Derrida atribui a uma estrutura do
momento fundador uma violncia constitutiva que no se justifica seno em si mesma, pois
no h referencial externo (metafsico) a que possamos apelar, exigindo, desde a sua
inaugurao, um apelo crena. Esse momento, inaugural por excelncia, onde se localiza a
mstica, que, como procurvamos observar, remeter constantemente idia de
contingncia. o que podemos deduzir da seguinte afirmao:
J que a origem da autoridade, a fundao ou o fundamento, a instaurao da lei
no podem, por definio, apoiar-se finalmente seno sobre elas mesmas, elas
mesmas so uma violncia sem fundamento. O que no quer dizer que sejam
injustas em si, no sentido de ilegais ou ilegtimas. Elas no so nem legais nem
ilegais em seu momento fundador. Elas excedem a oposio do fundado ao no-
fundado, como de todo fundacionismo ou todo antifundacionismo
135
.
primeira vista, as observaes de Derrida podem chocar o leitor. Ao no situar
qualquer limite nsito fundao da ordem jurdica, o filsofo franco-argelino parece
justificar o injustificvel, inclusive se pensarmos na possibilidade da fundao de algo que
133
DERRIDA, Jacques. , p. 24.
134
DERRIDA, Jacques. , p. 25.
135
DERRIDA, Jacques. , p. 26.
51
nos soaria totalmente repugnante (p.ex., um Direito que concebesse a escravido). Na
realidade, no entanto, h algo mais em jogo.
O que Derrida pretende salientar, ao evocar um momento de fundao do Direito que se
baseia em uma violncia sem fundamento, que se fundamenta por si s, a possibilidade
permanente de desconstruo do Direito. Este, ao se situar a partir de um ato de fora que se
constitui a partir de uma violncia performativa, sem justificao externa, se torna
essencialmente desconstruvel
136
. , pois, o elemento da contingncia que retorna: todo
Direito pode ser criticado desde as suas bases elementares, sem poder apelar a uma estrutura
eterna que o fundamente. Que o Direito seja desconstruvel, diz Derrida, no uma
infelicidade. Pode-se mesmo encontrar nisso a chance poltica de todo progresso histrico
137
.
Ricardo Timm de Souza anota, com propriedade, sobre o tema:
A desconstruo do direito no conduzir, portanto, a uma fundao original do
qual deriva, mas simplesmente sua ; seu fundamento
mstico, para alm da visibilidade das origens, funciona no como um repositrio
de irracionalidade atvica, mas como garantia de que a histria dessa desconstruo
no est ainda narrada no ncleo de uma origem primeira localizvel e
determinante. Trata-se portanto de uma histria , e no de alguma
espcie de retorno tautolgico e, em ltima anlise, dispensvel origem em si
mesma. A racionalidade da desconstruo, essa rdua racionalidade histrica, no
se confunde, portanto, com uma razo que se desdobra apenas a si mesma em um
processo de auto-identificao
138
.
A desconstruo, no entanto, poderia operar sem qualquer limite? A pergunta se
responde a partir do paradoxo que enuncia em seguida: a estrutura desconstruvel do Direito
(ou da Justia como Direito) assegura a possibilidade de desconstruo; contudo, a Justia
nela mesma, se algo como tal existe, fora ou para alm do Direito, .
Assim como a desconstruo, ela mesma, se algo como tal existe. E, a partir disso, Derrida
afirma, ousadamente:
139
. O Direito, pelo seu carter contingente,
136
Derrida tentou mostrar que o direito fundado sempre desconstrutvel, pois a sua fundao histrica e seu
fundamento mitolgico. Nessa medida, utilizando as chaves de leitura oferecidas por Derrida, podemos
entender os jusnaturalismos como tentativas de construir mitologias especficas e os positivismos como uma
espcie de construo de muros em torno do seu prprio fundamento, que assumido como dogma e, portanto,
no demanda justificao expressa, mas apenas proteo contra a crtica. COSTA, Alexandre Arajo.
Fora de Lei . VIRT Revista Virtual de
Filosofia Jurdica e Teoria Constitucional (01). Salvador: 2007, p. 06. Disponvel em:
<http://www.direitopublico.com.br/pdf/rv01_alexandrecosta.pdf>. Acesso em 13.07.2007.
137
DERRIDA, Jacques. , p. 26.
138
SOUZA, Ricardo Timm de. , p. 142.
139
DERRIDA, Jacques. , p. 27.
52
53
, porque exigem a experincia de uma aporia que tem relao com o termo mstico,
evocado linhas atrs. Ao exigir a experincia da aporia, afirma Derrida, podemos entender
duas coisas bastante complicadas.
1. Uma uma travessia, como a palavra o indica, passa atravs da via a
uma destinao para a qual ela encontra passagem. A experincia encontra sua
passagem, ela possvel. Ora, nesse sentido, no pode haver experincia plena da
aporia, isto , daquilo que d passagem. um no-caminho. A justia seria,
deste ponto de vista, a experincia daquilo que no podemos experimentar. (...)
2. Mas acredito que no h justia sem essa experincia da aporia, por impossvel
que seja. A justia a experincia do impossvel. Uma vontade, um desejo, uma
exigncia de justia cuja estrutura, no fosse a experincia da aporia, no teria
nenhuma chance de ser o que ela , a saber, apenas um justia. Cada vez
que as coisas acontecem ou acontecem de modo adequado, cada
54
outro, uma deciso nica e insubstituvel, com a regra, a norma, que tem necessariamente a
forma genrica? Contentar-se com a aplicao pura e simples do Direito poderia estar a salvo
de crtica, mas no seria justo. Isso significa, em outros termos, que ser jamais possvel
dizer: sei que sou justo? Eu gostaria de mostrar que tal certeza essencialmente impossvel,
fora da figura da boa conscincia e da mistificao, afirma o filsofo
147
.
A partir da delimitao de uma determinada racionalidade, Derrida procura demonstrar
o que dizamos, ou seja, que a desconstruo no significa, como afirmam seus detratores,
uma abdicao quase niilista de qualquer valor tico-poltico da justia e diante da oposio
justo/injusto, mas antes o que ele esquematiza em dois pontos.
Primeiro, o sentido incalculvel de uma responsabilidade sem limites diante da memria
e, por conseguinte, a tarefa de lembrar a histria, a origem e o sentido, isto , os limites dos
conceitos de Direito, Justia, dos valores e prescries que se impuseram e sedimentaram. A
desconstruo j est com essa exigncia de justia infinita. Para ouvir essa
justia, necessrio tentar compreender seus idiomas singulares, a
precisamente porque essa justia se enderea sempre a singularidades que mantm sempre
vivo um questionamento sobre a origem, os fundamentos e limites do nosso aparelho
conceitual. , por isso, no uma neutralizao da justia, mas antes sua exigncia hiperblica,
denunciando os limites tericos e injustias concretas
148
.
Segundo, essa responsabilidade diante da memria uma responsabilidade diante do
prprio conceito de responsabilidade que regula a justia e justeza dos nossos
comportamentos, de nossas decises tericas, prticas e tico-polticas. no
irresponsabilidade, mas antes a um acrscimo de responsabilidade, um , que a
desconstruo se refere
149
. O momento de do axioma , nesse sentido, precioso:
sem ele, no h desconstruo possvel. Significa, em outros termos, um abandonar o sono
147
DERRIDA, Jacques. , p.32.
148
DERRIDA, Jacques. , pp. 36-38. A justia realizada , porm, sempre , nica em meio ao
mltiplo que configura a realidade em sua mais remota origem. SOUZA, Ricardo Timm de.
, 148.
149
Derrida comenta, em outro texto: La desconstruccin es hiperpolitizante al seguir caminos y cdigos que son
claramente no tradicionales, y creo que despierta la politizacin de la manera que mencion antes, es decir, nos
permite pensar lo poltico y pensar lo democrtico al garantizar el espacio necesario para no quedar encerrado en
esto ltimo. Para poder continuar planteando la cuestin de la poltica, es necesario separar algo de la poltica, y
lo mismo sucede com la democracia, lo que, por supuesto, hace de la democracia un concepto muy paradjico.
DERRIDA, Jacques. , p. 166.
55
dogmtico, . precisamente nesse intervalo, nessa suspenso, que as
revolues jurdicas ocorrem. E a exigncia de que ele ocorra s pode encontrar vigor a partir
de uma exigncia de suplemento de justia
150
.
, por isso, a justia que a desconstruo. Uma justia que no se toca, pois
impossvel, mas enquanto permanece suspendendo nossas crenas e nosso sono
dogmtico a partir da denncia dos limites dos nossos conceitos, desarticulando nossas
totalidades por meio de uma introduo alteritria, uma intruso do Outro na solidez dos
nossos conceitos
151
. A exigncia de justia o que impulsiona esse movimento, uma justia
que pretende .
Derrida, portanto, de forma um tanto quanto prpria de Levinas
152
, introduz uma fissura
tica no mbito do domnio pretensamente puro do conhecimento. A suspenso das
crenas, sem a qual no vivel a desconstruo, no se fundamenta em pressupostos
abstratos, no pertence ao domnio da epistemologia: o transbordamento dos conceitos,
efetuado a partir da sua prpria hiperbolizao e, por conseguinte, exibio dos seus limites,
representa uma exigncia de ao Outro. Como a justia no se acessa por via direta,
pois a impossvel, a desconstruo procura obliquamente alcan-la
enquanto exigncia.
por isso que, ao fim e ao cabo, a desconstruo acaba tendo sentido definitivamente
como fala Derrida em dilogo com Vattimo:
Aqui poderia encontrar algo semelhante a uma dimenso tica, dado que o por vir
a abertura na qual o outro vem, e o valor do outro ou de alteridade serviria, no
fundo, como justificao. a minha maneira de interpretar o messinico: o outro
150
DERRIDA, Jacques. , pp. 38-39.
151
Sin embargo, y esto es crucial, esta experiencia indecidible de la justicia no surge de uma intuicin
intelectual o de una deduccin terica, sino en relacin com una entidad particular, la singularidad del otro.
CRITCHLEY, Simon. In: Desconstruccin y Pragmatismo. Org. Chantal
Mouffe. Buenos Aires: Paids, 1998, p. 76. Ver, ainda: CAPUTO, John. . Traduo
Leonor Aguiar. Lisboa: Piaget, 1993, pp. 259-289.
152
A referncia aqui o conceito de justia de Levinas, do qual Derrida se aproxima devido exatamente sua
irredutibilidade potncia intelectual do Mesmo na medida em que, ao ser a relao com o Outro, alteridade
que no constituo, refere-se infinitude tica que minha finitude intelectual no capaz de organizar. SOUZA,
Ricardo Timm de. , p. 156. O comentrio de
Simon Critchley sobre o tema pertinente: la desconstruccin derrideana puede, y realmente debe, entenderse
como una exigencia tica, siempre que se entienda a la tica en el sentido particular y novedoso dado a esa
palavra en la obra de Emmanuel Levinas. Planteado simplemente, para Levinas la tica es definida por la puesta
en cuestin de mi libertad y espontaneidad, es decir, mi subjetividad, por la otra persona ( ).
CRITCHLEY, Simon. In: Desconstruccin y Pragmatismo, p. 72.
56
pode vir, pode no vir, no posso program-lo, mas deixo um lugar para que possa
vir, se vir, a tica da hospitalidade
153
.
A partir do que foi exposto, podemos re-equacionar as questes colocadas desde o incio
do captulo.
Afirmvamos, inicialmente, que o Direito Penal do Inimigo no encontra adversrio
altura unicamente por meio de uma confrontao positivista-constitucional. Conquanto no
concordemos com a constitucionalidade da teorizao de Jakobs, certo que a confrontao
deve se situar para alm da invocao de dispositivos da Lei Fundamental. Enquanto espcie
de , o Direito Penal do Inimigo exibe a fragilidade das concepes
normativas de pessoa e a limitao do discurso jurdico diante do biopoder.
Alm disso, se a formulao de Jakobs, numa explicitude que no deixa dvidas sobre
as suas intenes, pode ser confrontada com relativa facilidade e aceitao por meio da
argumentao jurdica tradicional, h que se perquirir se de Direito Penal do
Inimigo sem a nomenclatura, sem ciso explcita podem ser igualmente confrontadas. O
estado de exceo, na realidade, dispe de estratgias bem mais discretas que a teorizao
de Jakobs
154
.
Por essa razo, o que se prope no o enfrentamento do Direito Penal do Inimigo a
partir do interior do ordenamento positivo. Trata-se, antes disso, de confront-lo enquanto
153
Da Violncia e da Beleza Dilogo entre Jacques Derrida e Gianni Vattimo. : Revista de Comunicao,
Cultura e Poltica, v. 7, n. 13, jul./dez. 2006, p. 287.
154
Poderamos arrolar, como exemplo, conceitos como periculosidade como vcuos em que se insere um
estado de exceo. O prprio art. 59 do Cdigo Penal, ao referir a personalidade ou a conduta social do
agente, fornece uma abertura em que, a rigor, a lei est plenamente distanciada da fora de lei que tem a deciso
judicial.
As observaes de Zaffaroni, nesse sentido, corroboram o quadro de estado de exceo em que vivemos na
Amrica Latina. Segundo ele, a caracterstica mais destacada do poder punitivo latino-americano atual em
relao ao aprisionamento que a grande maioria aproximadamente - dos presos est submetida a medidas
de conteno, porque so . Do ponto de vista formal, isso constitui uma
, porm, segundo a realidade percebida e descrita pela criminologia, trata-se de um poder punitivo
que h muitas dcadas preferiu operar mediante a priso preventiva ou por
transformada definitivamente em prtica. Falando mais claramente: quase todo poder punitivo latino-americano
exercido sob a forma de , ou seja, tudo se converteu em privao de liberdade sem sentena firme,
apenas por presuno de periculosidade. ZAFFARONI, Eugenio Ral. , p. 70.
57
, ou seja, a partir da estrutura de pensamento que legitima esse tipo de
teorizao. Cr-se, assim, que se est enfrentando o problema desde seu nascedouro, suas
razes estruturais, buscando contra-argumentar, dessa forma, todas as formulaes que
conquanto no to explcitas possam se basear na mesma configurao de racionalidade. O
Direito Penal do Inimigo no vai apenas confrontado enquanto uma tcnica jurdico-penal,
mas tambm em termos de , ou, de forma ainda mais precisa,
enquanto .
por isso que a
155
eleita foi, exatamente, a desconstruo.
O primeiro movimento, como tratado no item 2 desta Seo, busca exibir os limites
logocntricos da formulao de Jakobs. A partir de uma hiperbolizao dos conceitos que se
desencadeiam a partir da sua tese , e buscou-se
abrir fendas que desestruturam as bases do discurso. Para tanto, como salienta Derrida,
preciso uma anlise do texto, sendo por essa razo que outras obras de Jakobs, se
referidas, o so apenas de forma transversa. O jargo nada fora do texto
156
, muitas vezes
mal-compreendido pelos adversrios de Derrida, aqui tomado a srio, procurando-se
exatamente borrar as fronteiras entre o e o textual. Busca-se, a partir disso,
inflar os conceitos de Jakobs at sua respectiva imploso, mostrando, a partir de um choque
de concretude, at onde eles podem nos conduzir.
ainda nesse primeiro movimento com vistas mencionada imploso que giramos
sob um vis transdisciplinar, borrando as fronteiras entre as disciplinas para, a partir de uma
concretizao, exibir o campo em que incidiria o Direito Penal do Inimigo. por isso que, em
certos momentos, realizamos uma circunavegao em reas diversas, especialmente a
sociologia, a antropologia e a criminologia, visando imerso da formulao lgico-abstrata
de Jakobs nos quadrantes temporais que nos situamos. esse, alis, um dos sentidos da
desconstruo: ao exibir os limites do conceito, ele retirado da sua paz terica para cair na
dificuldade do mundo concreto. Em uma primeira camada de compreenso, situa-se na
pressuposio de que h uma separao entre o existir e o pensar, pertencendo
155
Estratgia, pois a desconstruo no esgota outras formas possveis de crtica. Alm disso, a desconstruo
tem esse sentido especfico de . Ver: VASCONCELOS, Jos Antonio. O que desconstruo?
, Curitiba, v. 15, n. 17, p. 74, julho/dezembro 2003.
156
CRITCHLEY, Simon. , pp. 22-23.
58
este quele, de modo que o pensamento se d e , como demonstraram
exaustivamente Franz Rosenzweig, Martin Heidegger e outros.
O movimento desconstrutivo, no entanto, precisa de outra camada. Exatamente porque,
como procurou-se demonstrar, a desconstruo se situa enquanto e no
, preciso des-neutralizar o texto de Jakobs para no apenas confront-
lo com suas dificuldades epistemolgicas, mas tambm em nvel tico. Se a justia um
espectro que ronda toda iniciativa desconstrutiva, preciso confrontar o Direito Penal do
Inimigo no apenas com seus limites logocntricos, mas tambm com a justia do Outro
silenciado.
Essa segunda camada da desconstruo orienta-se, por isso, da forma como Derrida
trabalha: abrindo-se o Outro na solidez do conceito. Emmanuel Levinas, nesse sentido, o
pensador decisivo que se introduz como referencial obrigatrio nessa operao, medida que
se pressupe, no processo de despurificao do esquema terico-abstrato do Direito Penal do
Inimigo, a primazia da dimenso tica. na confrontao permanente com o Rosto do
Inimigo aquilo que se traz como oferta de paz e no se reduz aos nossos esquemas
intelectivo-representacionais que se procura finalizar os processos desconstrutivos.
Na faticidade do mundo concreto, por isso, os conceitos de Jakobs no apenas so
criticados pela sua hiperbolizao inconsistente, mas pelo que significam no , no
e diante de um Outro que se v sufocado em uma narrativa totalizante que o reduz a
uma representao. nossa inteno, por isso, exibir, em uma primeira camada, os limites e
significados dessa totalizao (Sees 1) e, em uma segunda, confront-la com
, desta vez de ordem tica (Sees 2).
Com isso, acredita-se possibilitar uma compreenso que inviabiliza, em termos de
formulaes jurdico-dogmticas, situaes similares ao Direito Penal do Inimigo. partir de
uma forma de racionalidade para se o Direito que se procura desnortear a ciso
conceitual Inimigo/cidado, para se estabelecer a sim, mediante o direito positivo novas
formas de compreenso dos problemas poltico-criminais que vo surgindo ao longo do
tempo. nesse dilogo entre Direito e Filosofia que se buscar construir a tarefa proposta.
59
Ao separar em duas categorias inimigo e cidado, Jakobs afirma que um indivduo que
no permite ser obrigado a entrar em um estado de cidadania no pode participar dos
benefcios do conceito de pessoa
157
. Segundo o penalista alemo,
H que ser indagado se a fixao estrita e exclusiva categoria do delito no impe
ao Estado uma atadura precisamente, a necessidade de respeitar o autor como
pessoa que, frente a um terrorista, que precisamente no justifica a expectativa de
uma conduta geralmente pessoal, simplesmente resulta inadequada. (...) deveria
chamar de outra forma aquilo que ser feito contra os terroristas, se no se
quer sucumbir, isto , deveria chamar Direito penal do inimigo, guerra contida.
Portanto, diz Jakobs,
o Direito penal conhece dois plos ou tendncias em suas regulaes. Por um lado,
o tratamento com o cidado, esperando-se at que se exteriorize sua conduta para
reagir, com o fim de confirmar a estrutura normativa da sociedade, e por outro, o
tratamento com o inimigo, que interceptado j no estado prvio, a que se combate
por sua periculosidade
158
.
Detenhamo-nos na classificao de Jakobs. De um lado, o cidado, orientado pelas
normas jurdicas, a quem se pode esperar a obedincia ao ordenamento jurdico. De outro, o
criminoso da ordem econmica, o terrorista, o delinqente vinculado organizao criminosa,
o caso dos delitos sexuais e outras infraes perigosas, a quem se nomeia Inimigo. A estes,
o ordenamento deve dirigir um tratamento destinado a eliminao de um perigo
159
.
157
JAKOBS, Gnther. , p. 36.
158
JAKOBS, Gnther. , p. 37.
159
JAKOBS, Gnther. , p. 35.
60
A sociedade funcional se demarca a partir da distino entre o cidado e o inimigo.
seu trao , que no apenas reafirma, mas , propriamente, a estrutura
social, a partir do modelo normativo. A sociedade funcional se delimita a partir da marcao
entre o puro e o impuro, aqui distinguidos entre cidado e inimigo. personalidade do
Inimigo que deve o Estado voltar o combate, enquanto uma fonte de perigo.
Visivelmente, portanto, Jakobs demarca duas espcies de indivduos. O Inimigo ameaa
a prpria configurao social, abalando os alicerces da ordem funcional. O Inimigo carrega a
impureza, uma erva-daninha a ser expungida do tecido social, sob pena de sua dissoluo.
Sua orientao contraftica lhe retira o carter de e o transforma em
160
, que
pe em risco a . Nas suas palavras, ainda:
61
de um lado -, e o inimigo de outro, com a ordem funcional. Aquele que se
orienta de maneira contraftica (leia-se: de forma contrria s expectativas sociais) e
demonstra isso enquanto erva-daninha a ser retirado da sociedade.
essa noo de ordem e a relao que ela mantm com a construo do conceito de
Inimigo que ser objeto de investigao desconstrutiva.
O itinerrio que se prope passa, inicialmente, pela relao entre pureza e perigo,
formulada por Mary Douglas. O trabalho da antroploga britnica serve de norte para
estabelecer-se a pureza e o perigo em relao a uma . A partir disso, passamos pela
viso de Zygmunt Bauman, a partir e para alm de Douglas, da Modernidade enquanto
de eliminao da ambivalncia. Fixados tais pressupostos, podemos cotejar a
construo do Direito Penal do Inimigo com os efeitos que efetivamente poderia
produzir, em leitura criminolgica da sociedade contempornea, caso realmente
implementado. Nesse ponto, ter relevncia sobre a investigao sobre as relaes entre
e . Por fim, esboa-se uma tentativa de compreenso mais densa do problema da
ordem a partir da noo de Totalidade.
Octvio Paz anota que Mauss tinha como relevante no a explicao global, mas a
relao entre os fenmenos: a sociedade uma totalidade porque um sistema de
relaes
165
. A originalidade de Lvi-Strauss residiria em ver a estrutura no s como um
fenmeno resultante da associao de homens mas como um sistema regido por coeso
165
PAZ, Octvio. . So Paulo: Perspectiva, 1977, p. 10. Lvi-
Strauss igualmente reconhece que a noo de fato social total de Mauss foi decisiva para a antropologia: a
noo de fato social est em relao directa com a dupla preocupao, que nos pareceu isolada at o momento,
de ligar o social e o individual por um lado, o fsico (ou fisiolgico) e psquico por outro. LEVI-STRAUSS,
Claude. Introduo Obra de Marcel Mauss. In: MAUSS, Marcel. . Traduo Antnio
Marques. Lisboa: Edies 70, 2001, p. 22.
62
interna
166
. Isso se deve ao fato de Lvi-Strauss considerar que o pensamento selvagem
igualmente capaz de abstraes, sendo rico em definies, mesmo que estas no possuam
qualquer especial interesse pragmtico.
As classificaes do pensamento selvagem seriam heterclitas apenas em relao ao
seu contedo. Formalmente, seriam anlogas, estruturando-se a partir de uma bricolagem de
signos. , por isso, em relao forma de deveriam ser analisados, na qual seria possvel
localizar elementos que se repetiriam analogamente, tal como ocorre na questo do totem.
Este, analisado pelos etngrafos de at ento, passava sempre por explicaes em relao ao
respectivo contedo, no tendo eles atentado pela homologia estrutural presente. Ou seja,
apenas a forma comum, no o contedo
167
.
O processo de redefinio da noo de totem em Lvi-Strauss passa por uma profunda
des-substancializao do conceito
168
, entendendo-o no como algo que significa,
, algum valor concreto, regido por uma explicao racional ou irracional, mas
fundamentalmente enquanto uma , enquanto uma forma de pensar
169
.
O totem delimita posies dentro da estrutura, no sendo explicvel por si mesmo, mas a
partir das relaes estruturais que o sustentam. Ele no tem significao intrnseca; vale pela
posio que representa
170
.
Lvi-Strauss demonstra que os signos totmicos no se explicam em si mesmos; so,
antes disso, meios de transmisso de mensagens. Os antroplogos estariam equivocados em
166
PAZ, Octvio. , p. 11.
167
LVI-STRAUSS, Claude. . 5 ed. Traduo Tnia Pellegrini. Campinas: Papirus,
1989, p. 51.
168
Essa dessubstancializao (que poderia ser chamada de relativizao termo evitado para no surgirem
mal-entendidos) das relaes procedida por Lvi-Strauss est em consonncia com a superao do dilema
sociedade indivduo, que Norbert Elias, com preciso argumentativa, dissolveu. Para Elias, necessrio
desistir de pensar em termos de substncias isoladas, nicas (indivduo ou sociedade) e comear a pensar em
termos de relaes e funes. No existe grau zero de vinculabilidade social. A marca individual adquirida a
partir de uma histria de relaes sociais, a histria da rede humana em que o indivduo nasce e cresce. O
indivduo, na realidade, e da sociedade. Ao mesmo tempo em que seu eu moldado pela
sociedade, tambm a molda: a auto-regulao do indivduo em relao aos outros que estabelece limites auto-
regulao destes. ELIAS, Norbert. ,
64
formadores, mas no modifica a forma estrutural do pensamento e a relao de oposio entre
natureza e cultura. Alteram-se apenas as moedas de troca: mulheres, nas sociedades
exogmicas totmicas, e mercadorias, nas sociedades endogmicas de castas. As sociedades
de castas seriam homogneas na estrutura (intercmbios de mulheres) e heterogneas em
relao s funes (diviso de trabalho); as totmicas, ao inverso, seriam heterogneas em
relao estrutura (produo de mulheres diferentes) e homogneas quanto funo (no tem
rendimento). A funo comporia o eixo cultura; a estrutura, natureza. Trata-se, portanto, de
um jogo de oposio entre termos homlogos que tm simetria invertida
174
. A pressuposio
de que se trataria de formas completamente diversas somente seria explicvel mediante
argumentos de ordem substancial, equivocados para a anlise antropolgica.
O de Lvi-Strauss dinamiza o referencial antropolgico, retirando-lhe a
fixidez e estabelecendo uma moblia relacional, permitindo uma compreenso ampla do
pensamento primitivo, no a partir da suposta irracionalidade, mas enquanto um feixe de
relaes de proporcionam uma . Mary Douglas ir aproveitar-se dessa
pequena revoluo
175
para tratar a pureza e perigo enquanto conceitos que envolvem
sobretudo a idia de ordem. A impureza uma ofensa contra a ordem. Eliminando-a, no
fazemos um gesto negativo; pelo contrrio, esforamo-nos positivamente para organizar nosso
meio
176
, diz a autora.
Mary Douglas refuta o que William James chamou de materialismo mdico, espcie
de reducionismo que transferiria para a noo de impureza unicamente a intuio de
elementos patognicos. No se trata disso.
A impureza nunca um fenmeno nico, isolado. Onde houver impureza, h
sistema. Ela o subproduto de uma organizao e de uma classificao da matria,
174
LEVI-STRAUSS, Claude. , p. 144.
175
Veja-se, por exemplo, a seguinte passagem: o sagrado e o profano no so sempre e como que por
necessidade diametralmente opostos. Podem ser categorias relativas: o que puro em relao a uma coisa, pode
ser impuro em relao outra e vice-versa. DOUGLAS, Mary. . Traduo Snia Silva. Lisboa:
Edies 70, 1991, p. 21.
176
DOUGLAS, Mary. , p. 14.
65
na medida em que ordenar pressupe repelir os elementos no-apropriados. Esta
interpretao da impureza conduz-nos diretamente ao sistema simblico
177
.
Assim, a impureza no seria derivada de convices ntimas coisa, por exemplo, a
presena de elementos patognicos. No caso hebraico, por exemplo, com relao proibio
de alimentao de determinados animais, extrada do Levtico, costumava-se atribuir
interpretaes de ordem mdica ou moral. Alguns as tinham como alegorias das virtudes e
vcios; outros, como simplesmente disciplinares, pois arbitrrias. No entanto, a partir de
anlise minuciosa sobre os textos, concluiu Mary Douglas no ser isso que estava em jogo,
mas como formas de meditao na unicidade, pureza e plenitude de Deus
178
. O que estava em
jogo, por isso, sempre a idia relacional do totem, e no propriamente sua natureza
substancial
179
. Concedendo uma forma dinmica e estrutural ao signo, conseguimos suplantar
uma pretensa irracionalidade e perceber o objeto enquanto , como afirmava
Lvi-Strauss
180
. Sigamos o raciocnio da autora: Em suma, o nosso comportamento face
poluio consiste em condenar qualquer objeto ou qualquer idia suscetvel de lanar
confuso ou de contradizer as nossas preciosas classificaes
181
.
Mas a impureza no se reduz a esse abalo da ordem. O impuro, que vem da margem,
no apenas representado dessa forma, antes sua conduta de transgresso da sistematizao
tida como espcie de . O abalo do alicerce da ordem, assim, no apenas reduzido
impureza: representa, em ltima instncia, um definitivo perigo. Quando o indiano de casta
inferior, por exemplo, resolve transgredir conceitos de pureza a partir de um rompimento com
sua condio original, sua violao significa, ao mesmo tempo, no apenas uma impureza
temvel que pode arrastar uma srie de conseqncias, mas tambm um perigo, por ter
cruzado a linha
182
.
O perigo, assim, tal como a pureza, deve ser analisado enquanto conseqncia de uma
ordem estrutural, como conseqncia de ato que provavelmente viola as normas em questo.
177
DOUGLAS, Mary. , p. 50.
178
DOUGLAS, Mary. , p. 57-74.
179
Lvi-Strauss j havia colocado, alis, que, por meio da interdio alimentar, os homens negam sua natureza
animal real em relao a sua humanidade, assumindo o carter simblico com o auxlio dos quais eles
distinguem uns animais dos outros, para criar diferenas entre si.
180
Compare-se, por exemplo, a dessubstancializao da relao entre sacrifcio e totem, por um lado, em Lvi-
Strauss ( , pp. 250-253) e o mesmo processo em Mary Douglas, com relao s
interpretaes psicanalticas das representaes primitivas do corpo ( , pp. 137-152).
181
DOUGLAS, Mary. , p. 51.
182
DOUGLAS, Mary. , p. 163.
66
Ambos autores Lvi-Strauss e Mary Douglas retiram o contedo substancial das idias
(totem, pureza, perigo) para proporcionar uma leitura que no se desenvolva como simples e
pura irracionalidade. Alargando a compreenso do mundo das outras culturas, por meio de
um mtodo estrutural, eles nos fornecem uma viso que permite amenizar o etnocentrismo.
na referncia, portanto, a uma que essas noes vo sendo
construdas.
Zygmunt Bauman anota um aspecto interessante do problema no que diz respeito ao
Ocidente. Mary Douglas j dizia que estamos acostumados a determinada ambincia, e o puro
vir a surgir enquanto algum aspecto que abale sua ordenao. impossvel viver sem
selecionar determinados aspectos e desconsiderar outros. No h dvida que o campo do
visual, por exemplo, no esgota, como diz Lyotard, o objeto, e isso no apenas uma questo
de memorizao. O objeto sempre esconde faces que porventura podero surgir, sendo
irredutvel ao esquema conceitual na sua totalidade. O olho que se insere no visual, por isso,
j um olho que d corpo, e no apenas representa
183
.
Bauman, no entanto, nota um aspecto crucial da Modernidade: a idia de pureza foi
extremada na idia de purificao. A preocupao com os estranhos deixou de ser apenas
um separar, confinar, exilar ou destruir, como em todas as pocas. O trabalho de colocao
em ordem assumiu uma atividade e , transmutando-se de atividade
casual em , de forma que se tornou imperativa a que
desafiasse a presente uma ordem
184
.
183
LYOTARD, Jean-Franois. Se pudermos pensar em corpo. In: .
Lisboa: Estampa, 1989, pp. 17-31.
184
BAUMAN, Zygmunt. . Traduo Mauro Gama Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 1998, pp. 19-20. Ruth Gauer afirma: A civilizao perseguiu freneticamente o controle e o
domnio de toda e qualquer forma de perigo. O respeito com as converses e a higiene se constitui em duas
67
Notemos a estrutura paradoxal da formulao: a ordem no mais , mas
. A superdimenso do e do presente que engessa o futuro, essa fixao do
, caracterstica particular da Modernidade, que pretendeu anular o estranho com
uma purificao fabricada. O puro passa a no ser mais o que est a na ordem: preciso
construir uma nova ordem de pureza absoluta. o prprio projeto, e no a realidade da vida,
que orienta a purificao.
Tnhamos, ento, uma pureza que envolvia fundamentalmente uma idia de ; a
impureza era a contrariedade ao rotineiro. A eliminao da sujeira, agora, ganha outro
aspecto: o de a rotina.
Bauman aprofunda ainda mais tais relaes a partir da relao entre
. Segundo ele, classificar significa segregar dar ao mundo uma
185
. O
mundo ordeiro aquele que permite ir adiante, representando a ambivalncia, nesse caso,
como aquilo que confunde os clculos e a relevncia dos nossos padres memorizados
186
. A
ambivalncia representa, portanto, uma perda do controle.
O ideal classificador, segundo Bauman,
uma espcie de arquivo espaoso que contm todas as pastas que contm todos os
itens do mundo mas confina cada pasta e cada item num lugar prprio, separado
(com as dvidas que subsistam sendo estabelecidas por um ndice de remisso
recproca). a inviabilidade de tal arquivo que torna a ambivalncia inevitvel. E
a perseverana com que a construo desse arquivo perseguida que produz um
suprimento sempre renovado de ambivalncia
187
.
Classificar, assim, consiste nos atos de incluir e excluir. Cada ato nomeador deve
reduzir, ao final, a uma estrutura binria: entidades que respondem ao nome e o que no.
Esse ato sempre comporta certa violncia e requer uma dose de coero. O paradoxal que a
ferramentas eficazes de controle social. GAUER, Ruth.
, p. 400.
185
BAUMAN, Zygmunt. . Traduo Marcos Penchel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
1999, p. 09.
186
BAUMAN, Zygmunt. , p. 10.
187
BAUMAN, Zygmunt. , p. 11.
68
luta contra a ambivalncia autodestrutiva e autopropulsora: ela prossegue com fora
incessante porque cria os prprios problemas a resolver
188
. Diz Bauman:
Sua intensidade, porm, varia com o tempo, dependendo da disponibilidade da
fora adequada tarefa de controlar o volume da ambivalncia existente e tambm
a presena ou ausncia de conscincia de que a reduo da ambivalncia uma
questo de descobrir e aplicar a adequada uma questo
189
.
Com base no trabalho do historiador Stephen Collins, Bauman prope que a ordem,
tal como pensada pela Modernidade, se inicia em Hobbes
190
. O filsofo ingls teria pensado a
sociedade no como algo que refletiria uma estrutura transcendente pr-ordenada, mas como
criada pelo homem e manifestamente artificial
191
. Assim, precisamente a descoberta da
ordem como artificial que levantou a questo da ordem . a partir desse momento
que a ordem se coloca como e
192
.
O caos o outro da ordem, pura negatividade. contra esse negativo que a ordem se
ergue. espcie de efeito colateral, sem o qual a ordem no existe. Sem caos, segundo
Bauman, no h ordem. Dessa forma, a prtica tipicamente moderna da vida, da poltica e
do intelecto o esforo de eliminao da ambivalncia, para definir com preciso e eliminar
tudo que no fosse precisamente definido
193
. Essa tarefa impossvel o que move a
Modernidade.
A ferramenta para esse exerccio de poder a utilizao da dicotomia em que um dos
termos aparece de forma totalmente assimtrica, rebaixado que vem deste poder
diferenciador. Nas palavras do autor,
188
BAUMAN, Zygmunt. , p. 11.
189
BAUMAN, Zygmunt. , p. 11.
190
Anota Nythamar Fernandes de Oliveira sobre Hobbes: Assim, a tenso entre uma abordagem dedutivo-
racionalista, , e uma dimenso emprico-intuitiva parece guiar a reformulao hobbesiana da
questo tico-poltica nos termos clssicos de uma ( ) pr-determinada e do ( ) a ser
convencionado pelas indeterminaes de nossa imitao humana de natureza. (...) Esta , de resto, a rdua tarefa
do pensador poltico: a de imaginar situaes que possam efetivamente viabilizar uma sociabilidade to frgil
quanto artificial. E o contrato social se lhe aparece como metfora por excelncia para dar conta dessa
encenao. OLIVEIRA, Nythamar Fernandes de. .
Porto Alegre: EDIPUCRS, 1999, p. 52.
191
BAUMAN, Zygmunt. , p. 13.
192
BAUMAN, Zygmunt. , p. 14. Coincidentemente, Hobbes o primeiro autor
cronologicamente falando referido por Jakobs nos seus esboos filosficos, quando ir tratar daqueles que
conheciam a distino entre cidado e inimigo.
193
BAUMAN, Zygmunt. , p. 15.
69
Em dicotomias cruciais para a prtica e a viso da ordem social, o poder
diferenciador esconde-se em geral por trs de um dos membros da oposio. O
segundo membro no passa do do primeiro, o lado oposto (degradado,
suprimido, exilado) do primeiro e sua criao
194
.
H, por isso, no uma dualidade de termos iguais, mas fundamentalmente assimtricos,
na qual um deles desempenha um papel subserviente ao um (o outro), que depende, na
realidade, da destruio desse segundo termo para se afirmar enquanto um. o inimigo, o
forasteiro, o estrangeiro ou o brbaro. So as ervas-daninhas que sero o refugo do
Estado-jardineiro
195
, cujas manifestaes mximas foram as de engenharia social
procedidas por Hitler e Stalin, mas que no podem ser consideradas como exploses de
barbarismo
196
, e sim produtos legtimos do Estado Moderno
197
. Assim, uma vez
estabelecidas as questes de ordem social desejada, cumpria aos governantes administrar sua
instituio, o resto era questo de frio clculo de custos e efeitos arte em que o esprito
moderno tambm se destacava
198
.
A descrio de Hannah Arendt sobre Adolf Eichmann exemplar nesse sentido:
194
BAUMAN, Zygmunt. , p. 22.
195
BAUMAN, Zygmunt. , pp. 35-39.
196
O projeto alemo ganhou sua fama aterradora no por causa de sua singularidade, mas porque, ao contrrio
de sedimentos bem semelhantes em outras partes, conseguiu efetivamente atingir seu propsito: foi colocado em
prtica com a ajuda dos recursos tecnolgicos e organizacionais acessveis a uma sociedade moderna plenamente
mobilizada pelo poder inconteste de um estado centralizado. BAUMAN, Zygmunt.
, p. 41.
197
BAUMAN, Zygmunt. , p. 38. Vejamos dois personagens de
, Dr. Stahlecker e Sano Mach:
Esse Stahlecker, conforme Eichmann cuidadosamente o chamava, era, em sua opinio, um homem muito
elegante, gentil, muito razovel, livre de dio e chauvinismo de qualquer espcie, que costumava apertar as
mos dos funcionrios judeus em Viena. Um ano e meio depois, na primavera de 1941, esse fino cavalheiro foi
nomeado comandante do A, e conseguiu matar 250 mil judeus por fuzilamento em pouco mais de
um ano (antes de ser morto em ao em 1942) conforme ele prprio relatou ao prprio Himmler, embora o
chefe dos , que eram unidades de polcia, fosse o chefe da Polcia de Segurana e da SD, ou
seja, Reinhardt Heydrich (p. 88).
O que ele se lembrava era que estava l como hspede de Sano Mach, ministro do Interior no governo
marionete plantado pelos nazistas na Eslovquia. (Nesse governo catlico fortemente anti-semita, Mach
representava a verso alem do anti-semitismo; recusava-se a permitir excees para os judeus batizados e foi
um dos principais responsveis pela deportao em massa dos judeus eslovacos.) Eichmann lembrava-se disso
porque no costumava receber convites sociais de membros do governo; era uma honra. Eichmann se lembrava
que Mach era um sujeito solto, agradvel, que o convidou para jogar boliche (p. 96).
198
BAUMAN, Zygmunt. , p. 39.
70
Entre a conferncia de Wannsee em janeiro de 1942, quando Eichmann se sentiu
como Pncio Pilatos e lavou as mos inocentes, e as ordens de Himmler no vero e
no outono de 1944, quando pelas costas de Hitler a Soluo Final foi abandonada
como se os massacres no tivessem sido mais que um erro lamentvel, Eichmann
no se perturbou por questes de conscincia. Sua cabea estava inteiramente
tomada pelo gigantesco trabalho de organizao e administrao, no apenas em
meio a uma guerra, mas e isso era mais importante para ele em meio a inmeras
intrigas e disputas sobre autoridade entre os vrios departamentos do Estado e do
Partido envolvidos em resolver a questo judaica
199
.
As grandes estratgias de engenharia social, portanto, no podem ser consideradas como
fenmenos que seriam recuos em relao ao esprito moderno, mas precisamente como
desse mesmo esprito
200
. Anota Bauman:
o genocdio moderno no uma exploso incontrolada de paixes e quase nunca
um ato sem sentido irracional. , ao contrrio, um exerccio de engenharia social
racional, de produo por meios artificiais de homogeneidade livre de ambivalncia
que a realidade social opaca e confusa no conseguiu produzir
201
.
Na construo social da ambivalncia, os estranhos devem ser transformados em tabu,
desarmados, suprimidos, fsica ou mentalmente exilados ou o mundo pode perecer
202
. Em
sntese: na medida em que se constitui um par assimtrico em que um dos elementos da
relao o , portanto uma espcie de , a ser eliminado para
restaurar/instaurar a ordem, possvel extermin-lo como piolho. A mquina burocrtica,
guiada por uma razo instrumental, deve levar a tarefa a cabo. A Soluo Final, no dizer de
Arendt, seria uma nova espcie de genocdio, mais precisamente definida como massacres
administrativos:
Pois o conceito de genocdio, introduzido especificamente para cobrir um crime
antes desconhecido e embora aplicvel at certo ponto, no perfeitamente
adequado, pela simples razo de que os massacres de povos inteiros no so sem
precedentes. Eram a ordem do dia na Antigidade, e os sculos de colonizao e
imperialismo fornecem muitos exemplos de tentativas desse tipo, mais ou menos
bem-sucedidas. A expresso massacres administrativos a que parece melhor
definir o fato
203
.
199
ARENDT, Hannah. , p. 168.
200
Essa atitude objetiva falar dos campos de concentrao em termos de administrao e dos campos de
extermnio em termos de economia era tpica da mentalidade da SS, e algo que Eichmann ainda muito se
orgulhava no julgamento. ARENDT, Hannah. , p. 83.
201
BAUMAN, Zygmunt. , p. 46.
202
BAUMAN, Zygmunt. , p. 68.
203
ARENDT, Hannah. , p. 311.
71
H ainda outro aspecto que pode ser explorado: a no apenas no sentido de
relao inteligvel estabelecida entre uma pluralidade de elementos; organizao,
estrutura
204
, mas como palavra usada para transmitir mandos, instrues, pedidos,
caracterizada principalmente pela presena do modo imperativo
205
. Essa ordem enunciada
de modo imperativo. No apenas a ordem enquanto comunitria, por exemplo, mas
tambm na ambigidade de ser Jos obedece de Joo. Enquanto espcie de
mandamento.
Esse sentido pode ser importante se relacionado com a idia de fidelidade
206
. Se a
conduta fiel ao ordenamento aquela que pode ser considerada como normal, pois
provm de ordens, o caso nazista , sem dvida alguma, um elemento problematizador dessa
pretensa obviedade to visceralmente enraizada no senso comum (a expresso cidado
ordeiro comumente utilizada em sentido positivo na nossa linguagem do dia-a-dia).
Hannah Arendt explicita o paradoxo da seguinte forma:
A acusao tinha por base a premissa de que o acusado, como toda pessoa
normal, devia ter conscincia da natureza dos seus atos, e Eichmann era
efetivamente normal na medida em que no era uma exceo dentro do regime
nazista. No entanto, nas condies do Terceiro Reich, s se podia esperar que
apenas as excees agissem normalmente. O cerne dessa questo, to simples,
criou um dilema para os juzes. O Dilema que eles no souberam nem resolver,
nem evitar
207
.
Diante do assassinato de milhares de judeus por meio de providncias administrativas
friamente calculadas pela razo instrumental, de repente a ordem e s 7.9(i)13.1219(d73;.l8a )-69.13(a)
72
O problema com Eichmann era exatamente que muitos eram como ele, e muitos
no eram nem pervertidos, nem sdicos, mas eram e ainda so terrvel e
assustadoramente normais. Do ponto de vista de nossas instituies e de nossos
padres morais de julgamento, essa normalidade era muito mais apavorante que do
que todas as atrocidades juntas, pois implicava que como foi dito insistentemente
em Nuremberg pelos acusados e seus advogados esse era um novo tipo de
criminoso, efetivamente , que comete seus crimes em
circunstncias que tornam praticamente impossvel para ele saber ou sentir que est
agindo de modo errado
208
.
A ordem no sentido de mandamento pode sustentar a maior atrocidade quando ela tem
apenas a exigncia de ordem, no sentido de arrumao funcional. Eichmann e outros diziam
que apenas cumpriam ordens. Ou seja: quando a ordem (no sentido de arrumao) se funde
com a ordem (no sentido de mandamento), tudo se torna possvel. A estratgia da Soluo
Final de um crime contra a humanidade pode encontrar respaldo em uma estrutura como
essa, pois o que est em jogo sempre, de um lado, a fidelidade
209
; de outro, a eliminao do
estranho. Uma estrutura que se articula dessa forma no possui qualquer engrenagem tica
que passe pelo seu interior.
A exigncia de caminha junto com o . O medo a disposio emocional que
facilita a imposio da . O enfoque que se d, portanto, nesse item, o de
ressaltar como funcionam esses dois elementos na estrutura social contempornea. nessa
interseco entre o medo e a ordem
210
que se pretende abordar a questo propriamente
criminolgica.
208
ARENDT, Hannah. , p. 299.
209
Questionando a idia de fidelidade a partir do prisma constitucional: SCHMIDT, Andrei Zenkner.
, pp. 113-117;
FEIJOO SNCHEZ, Bernardo. El Derecho penal del enemigo y el Estado democrtico de Derecho. In: ,
v.1, pp. 810-817; GARCA AMADO, Juan Antonio. El obediente, el enemigo, el Derecho penal y Jakobs. In:
, v. 1, pp. 900-912; NEUMANN, Ulfried. Derecho penal del enemigo. In: , v. 2, p. 407-409;
CANOTILHO, Jos Joaquim Gomes. Justia Constitucional e Justia Penal.
, v. 55, So Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, pp. 336-338.
210
Por questes de foco e espao, no entanto, a temtica no se direcionar relao igualmente relevante
entre o Direito Penal e o risco. Sobre o tema: CARVALHO, Salo de. A Ferida Narcsica do Direito Penal
(primeiras observaes sobre as (dis)funes do controle penal na sociedade contempornea). In:
73
David Garland observa que, nos ltimos anos, h uma nova e crescente nfase na
necessidade de conteno do perigo, de identificao e manejo de qualquer tipo de risco.
Proteger o pblico parece ter se tornado o tema dominante da poltica criminal, de forma a
causar, inclusive, certo laxismo com respeito s liberdades pblicas e aos direitos dos presos.
O que se v, de forma ntida, que a demanda de proteo Estado transformou-se em
demanda por proteo Estado
211
.
Se, nas dcadas de 60 e 70 do sculo passado, a sociedade dos EUA se baseava, como
afirma Young, no paradigma modernista, h uma virada significativa a partir da dcada de
80. Naquele paradigma, poder-se-ia arrolar como elementos: a) a cidadania resolvida (h uma
tendncia incorporao social e igualdade); b) Estado intervencionista; c) ordem social
absolutista (a maioria dos cidados acata a ordem); d) o cidado racional conforme e o
desviante determinado (a maioria das pessoas racional e adota o consenso, no existe mais
criminoso racional); e) conexo de causalidade estreita (o desvio resultante de alguma
particularidade, freqentemente familiar); e f) Estado assimilativo (papel do
assimilar os dissidentes). O desviante visto, correlatamente, como minoria, distinto,
objetivo, constitudo por uma falta dos valores constitudos, ontologicamente confirmador (e
no ameaador) e sujeito assimilao ou incluso
212
.
Segundo Garland, o neoconservadorismo surgido a partir dos anos 80 nos EUA e na
Gr-Bretanha faz ressurgir preocupaes que ele nomeia anti-modernas, como os temas da
tradio, da hierarquia, da ordem e da autoridade. Essas exigncias conservadoras de ordem
deveriam ter se chocado frontalmente com as polticas de liberdade e desregulamentao dos
mercados. No entanto, a inexistncia desse choque comprova que os atores lograram sucesso
em vincular a problemas morais fatos que eram, efetivamente, relativos a condutas de pessoas
pobres. Assim, o neoconservadorismo proclamava uma mensagem moral de retorno aos
valores da famlia, do trabalho, da abstinncia e do autocontrole, mas na prtica essas
restries e censuras aplicavam-se apenas aos setores marginalizados da populao
. Org: GAUER, Ruth M. C. Rio de Janeiro: Lmen Juris, 2004, pp. 187-189. Especificamente em
relao ao Direito Penal do Inimigo: ABANTO VSQUEZ, Manuel. El llamado derecho penal del enemigo.
Especial referencia al derecho penal econmico. In: , v. 1, pp. 30-48; DEZ RIPOLLS, Jos Luis. De la
sociedad del riesgo a la seguridad ciudadana: el debate desenfocado. In: , v. 1, pp. 553-564.
211
GARLAND, David. Trad.
Mximo Sozxo. Barcelona: Gedisa, 2005, pp. 47-48.
212
YOUNG, Jock. .
Traduo Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Revan, 2002, pp. 19-22.
74
especialmente imigrantes, desempregados, mes que recebiam benefcios do ,
delinqentes e consumidores de drogas
213
.
Se a poltica naqueles pases havia sido, nas dcadas de 60 e 70, de controle econmico
e liberao social, nos anos oitenta a equao se inverte para a liberdade econmica e o
controle social. A doutrina moralista desse movimento dirigia-se especialmente s
comunidades marginalizadas e no afetaram em quase nada o restante da populao
214
. Essas
novas polticas tiveram o condo de produzir uma atitude cultural defensiva, em contraste
com a cultura emancipatria das dcadas anteriores
215
. Como diz Garland,
En la moderni989()-5.1a 77(p)-6.72545(r)-0.981485(,)-3.360T
itude cultural defen -s Yo aB s o l2C198 r(r)-0.978452(e)-5.1439(g)2.1439(r)10.538(a)-5.143z1f45(da119(a)6.3725)-0.978452(e)-5dC1 c(2.79104(a)-5.1425(7a)-5.1439(f)-0.9786691106( )-498-38-6.72545(n)4.444.72545(i)-)10.538(s)n( ).4198 Tf1 38.5(a)-8-38-6.7275(e)-16.65
75
de trabalho; outra, de um mercado que inclui, mas apenas de maneira precria
219
. Passa-se da
sociedade da incluso sociedade excludente
220
.
As legislaes, dessa forma, acabam vindo contaminadas da exigncia de lei e ordem.
Decises como de declarar guerra ao crime, infligir castigos cruis ou ampliar as faculdades
policiais so estratgias polticas comuns nesse cenrio
221
. A criminologia estatal,
correspondente ao imaginrio dos agentes polticos que forjam as estratgias poltico-
criminais, procura essencializar a diferena. Esse discurso acaba se produzindo como
contraponto do aos saberes de origem acadmica
222
. Zaffaroni nomeia-o de
autoritarismo cool, pois se propaga de forma publicitria e puramente emocional. Nas suas
palavras,
Esse novo autoritarismo, que nada tem a ver com o ou o do entre-guerras, se propaga a partir de um
aparato publicitrio que se move por si mesmo, que ganhou autonomia e se tornou autista, impondo uma
propaganda puramente emocional que probe denunciar e que, ademais e fundamentalmente , s
difundem e que indica, entre os mais jovens, o superficial, o que est na moda e se usa disciplicentemente:
. porque
H um uso poltico do perigo, expresso de Mary Douglas que Garland corrobora
224
.
Com a generalizao da sensao de ansiedade e desamparo, h um reforo da necessidade
sentida na imposio de ordem e na importncia de resposta estatal firme. O medo se
generaliza diante desse inimigo oculto e assustador que apavora o cotidiano contemporneo.
A reintroduo do papel da vtima no conflito penal um exemplo dessas
circunstncias. Na realidade, como aponta Garland com preciso, a estratgia punitiva tenta
dar lugar privilegiado s vtimas sem que, no entanto, esse lugar seja ocupado pelas pessoas
efetivamente ofendidas, mas por uma imagem projetada e representada que politizada
225
.
219
YOUNG, Jock. ,
p. 26.
220
Na precisa construo de Hudson: It would appear that these developments signify further progress in the
dispersal of discipline, but that the essential project of the technologies of power identified by Foucault that of
normalization has been abandoned. The objective of the new strategies of control is identification of the
different and the dangerous in order to exclude: from the club, from the apartment building, from the state, from
the shopping mall, from the country. HUDSON, Barbara A. Social Control. In:
, p. 466.
221
GARLAND, David. , p. 228.
222
GARLAND, David. , pp. 228.
223
ZAFFARONI, Eugenio Ral. , p. 69.
224
GARLAND, David. , p. 229.
225
GARLAND, David. , p. 240.
76
Essa santificao da vtima gera um jogo de soma zero em que invivel demonstrar
qualquer considerao pelo delinqente sem enfrentar o maniquesmo social. O sofrimento da
vtima explorado pelos meios de comunicao e se dirige diretamente ira e medo dos
espectadores, produzindo um sentimento de identificao que logo utilizado em termos
polticos. Diz Garland:
Este tropo personalizador, repetido insistentemente en los noticiarios y
documentales televisivos, representa a la vctima como la metonmia de la vida real,
el podras ser tu del problema de la seguridad personal
226
.
Isso no significa, por bvio, aderir a um determinismo de estilo linear do tipo: os
meios de comunicao manipulam os medos coletivos
227-228
. As polticas de lei e ordem no
surgiram do nada, elas possuam respaldo, vez que inclusive, diante da necessidade de
investimentos, geram acrscimo dos gastos pblicos e, por isso, da carga tributria. O
acrscimo do medo corresponde a ndices de crescimento das taxas de delito aps a dcada de
60. Com a permanncia e ascendncia desses delitos em escala de tempo, tambm, a classe
mdia comea a ver-se como vtima freqente de crimes, vislumbrando-se simultaneamente
como vtima do Governo Grande, que cobra impostos e os gasta com os irresponsveis do
, sindicatos e programas de ao afirmativa. A classe mdia decente e trabalhadora
sofria diante do favorecimento dos mais incivilizados que no mereciam qualquer ajuda. Esse
medo do delito estava ligado tambm ao medo dos estranhos
229
.
226
GARLAND, David. , p. 242.
227
Sobre o tema: BARATA, Francesc. Los y el pensamiento criminolgico. In:
, pp. 488-511; ROSA, Alexandre Moraes da.
. Florianpolis: Habitus, 2005, pp. 50-54; MARQUES, Braulio. A Mdia como Filtro
Social. In: Org.: Ney Fayet Jr.
Porto Alegre: Ricardo Lenz, 2003, pp. 162-184. Do ltimo artigo referido: por fora dessa concepo parcial,
estereotipada e superficial da violncia, vinculada pela mdia que explora esse tema, que a sociedade fica
dividida entre ns (os cidados honrados, pacficos e trabalhadores) e eles (os marginais violentos, perigosos e
temveis). De igual forma e por igual preconceito, vincula-se criminalidade e pobreza, marginalidade e periferia
urbana (p. 176). Ainda: CORRA, Diego Ayres. Os meios de comunicao de massa e sua influncia no
desenvolvimento da histeria punitiva e na ampliao da represso penal. , v. 03.
Porto Alegre: Notadez, 2001, pp. 96-105 e CLEINMAN, Betch. Mdia, Crime e Responsabilidade.
v. 1, Porto Alegre: Notadez, 2001, pp. 97-100. Mesmo perspectivas mais otimistas sobre o
papel miditico, como a de Michel Maffesoli, que procura ver na imagem uma fora agregadora, no escapam
de admitir que essas formaes podem ser igualmente violentas. Ver: MAFFESOLI, Michel.
. Traduo Francisco Settineri. Porto Alegre: Artes e Ofcios, 1995, pp. 75-85 e especialmente p. 151.
228
Especificamente sobre o processo de transformao de criminosos em pelos meios de comunicao
de massa: DONINI, Massimo. El Derecho penal frente al enemigo. In: , v. 1, p. 629-633.
229
GARLAND, David. , p. 255-256. Observao que Young compartilha: A privao
relativa convencionalmente pensada como um olhar para cima: trata-se da frustrao daqueles a quem a
igualdade no mercado de trabalho foi recusada face queles com mrito e dedicao iguais. Mas a privao
tambm um olhar para baixo: a apreenso diante do relativo bem-estar daqueles que, embora em posio
inferior do observador na hierarquia social, so percebidos como injustamente favorecidos: eles ganham a
vida fcil demais, mesmo que no seja to boa quanto a minha. YOUNG, Jock.
77
Todo esse quadro ligou-se situao que os socilogos costumam designar como de
insegurana ontolgica, gerada pelas transformaes culturais ocorridas ao longo do tempo,
como, por exemplo, a introduo da mulher no mercado de trabalho e os reflexos familiares.
Essa estrutura mais porosa da vida cotidiana
230
, que adquiriu uma textura mais aberta que
nas geraes anteriores, resulta numa necessidade mais imperiosa de controle de riscos e
incertezas, mantendo distncia a insegurana. E disso tambm possvel deduzir a menor
tolerncia com os riscos a que est exposta a classe mdia pelo Poder Punitivo, assim como a
ineficincia deste para a proteo dos indivduos perigosos
231
.
Las elevadas tasas de delito y desorden fueron um producto de los cambios en la
estructura social. El delito se ha convertido en una de las amenazas que las famlias
de clase media contemporneas deben tomarse en serio: otra possibilidade que debe
ser antecipada y controlada
232
.
Em sntese, est-se diante de uma situao em que tudo converge para um panorama que
congrega, de um lado, uma sensao de insegurana ontolgica geradora de medo, e, de outro,
uma exigncia de ordem por parte da autoridade estatal, que deve resultar em castigo. Garland
assim resume a situao:
1) las altas tasas de delito se consideran um hecho social normal;
2) la inversin emocional en el delito es generalizada e intensa, abarcando
elementos de fascinacin as como de miedo, indignacin e resentimiento;
3) las cuestiones referidas al delito estn politizadas y se representam
frecuentemente en trminos emotivos;
4) el inters por las vctimas y la seguridad pblica dominan la poltica
pblica;
5) la justicia penal estatal es visualizada como inadecuada o ineficaz;
6) las rutinas defensivas privadas estn generalizadas y existe un gran
mercado en torno a la seguridad privada;
, p. 26. Confiram-se tambm as observaes
de Ripolls sobre o fato de que a identificao da classe mdia com as vtimas da delinqncia no tem conexo
com a punio de poderosos, de forma que visivelmente permanece o encanto com as elites. DEZ
RIPOLLS, Jos Luis. De la sociedad del riesgo a la seguridad ciudadana: el debate desenfocado. In: , v. 1,
p. 568.
230
Ver: BAUMAN, Zygmunt. , pp. 32-37.
231
GARLAND, David. , p. 258. Tambm: YOUNG, Jock.
, pp. 33-35 e AZEVEDO, Rodrigo
Ghiringhelli. Vises da Sociedade Punitiva: elementos para uma sociologia do controle penal. In.
. Org.: Ruth Gauer. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, pp. 43-49. Destaca-se a seguinte citao: A
combinao entre industrializao, urbanizao, secularizao da cultura e do comportamento, racionalizao
das aes sociais e das instituies, mercado, produtividade, competitividade, individuao e individualismo,
gera evidentemente um ambiente social explosivo (p. 47).
232
GARLAND, David. , p. 259.
78
7) una conciencia del delito est institucionalizada en los medios de
comunicacin, en la cultura popular y en el ambiente urbano
233
.
H, portanto, um ambiente de medo generalizado que impulsiona a exigncia de ordem
e, por isso, a eliminao do estranho/perigo. O Outro sempre potencialmente desviante
234
.
Se a situao j complexa nos EUA e na Gr-Bretanha, no Brasil o quadro ainda
mais complicado. Vivendo-se num continuum temporal em que se est, simultaneamente, na
pr e na ps-modernidade, convivendo conjuntamente grandes feudos agrrios e a circulao
livre do capital internacional, focos de escravido e aes afirmativas, sequer possvel
afirmar a linearidade que se d na transio de um Estado Liberal a um Estado Social
( ), tampouco deste ao Estado Penal
235
. Tudo permanece simultneo e
multifacetado.
Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo sinala que
Nestas sociedades, com um sistema escolar fragmentado e ineficiente, que restringe
a educao superior universitria a setores sociais reduzidos; um sistema produtivo
incapaz de garantir o acesso renda e seguridade social a amplos setores da
populao; um mercado interno onde apenas uma pequena parcela tem acesso aos
bens de consumo; sociedades nas quais quase metade da populao se encontra em
condies de pobreza extrema, o sistema de justia penal acentua sua centralidade
233
GARLAND, David. , p. 271.
234
YOUNG, Jock. ,
p. 34. MELI, Manuel Cancio. De nuevo: Derecho penal del enemigo? In: , v. 1, pp. 354-356.
235
O incremento do projeto poltico de enxugamento do Estado, produziu, fundamentalmente a partir da dcada
de 80, nos pases centrais de economia avanada, o desmonte do . No obstante, inviabilizou, nos
pases perifricos nos quais o Estado social foi um simulacro, a possibilidade de atingirem relativo grau de
justia social com a implementao de polticas pblicas imprescindveis baseadas na distribuio equnime da
riqueza e erradicao da misria, otimizao e acesso das populaes carentes aos servios de sade, educao e
terra, melhoria nos sistemas de previdncia social e, principalmente, incisivas aes contra as exorbitantes taxas
de desemprego e excluso social. CARVALHO, Salo de.
, p. 190. A situao de
punitivismo na Europa e nos EUA ratificada por Rivera Beiras. Segundo ele, hace tiempo ya que EE.UU.
consagr el Estado Penal y liquid toda forma de asistencialismo. Na Europa Occidental, la
de que habla Beck dibuja un panorama que l mismo define como el de
. RIBEIRA BEIRAS, Iaki. Historia y Legitimacin del Castigo. In:
, pp. 120-121. Ver, ainda: AZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli.
So Paulo: IBCCRIM, 2000, pp. 99-103.
79
para manuteno da ordem social, incapaz de manter-se atravs dos procedimentos
ordinrios ou tradicionais de formao de consenso ou de socializao primria
236
.
E, como percebe Loc Wacquant, a insegurana criminal tem o particular trao de no
ser atenuada, mas nitidamente pela interveno das foras da ordem, pois se
inscreve numa tradio oriunda da escravido e dos conflitos agrrios, que se viu fortalecida
pela Ditadura Militar, consubstanciada na identificao entre subversivos e
delinqentes
237
.
Os administradores que assumem a partir da transio democrtica, ocorrida com o
esgotamento do regime militar, deparam-se com um acrscimo das taxas de criminalidade
decorrente, dentre outros fatores, da migrao do campo para os centros urbanos, consolidada
na Ditadura, que gerou uma srie de tenses sociais emergentes
238
. O problema da segurana
pblica passa, assim, ao local de prioridade no debate.
A chamada opinio pblica, muitas vezes amplificada pelos meios de comunicao,
anuncia que o sentimento de insegurana crescente, com o acrscimo da percepo acerca
das diferentes esferas de violncia, desde a criminalidade de rua at os crimes econmicos e a
corrupo nos rgos pblicos. A resposta estatal exaustivamente cobrada
239
.
particularmente relevante a situao da polcia. Se, no incio da dcada de 1980, com a
transio poltica, utilizava-se do crescimento da criminalidade urbana como argumento de
bice a qualquer reforma policial habituada a Polcia aos mtodos da Ditadura Militar -,
esses obstculos acabaram gerando um sistema policial autnomo em relao aos controles
das autoridades, crescendo, simultaneamente, as violaes aos direitos humanos e a corrupo
236
AZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli de. Criminalidade e Justia Penal na Amrica Latina. . Porto
Alegre, ano 7, n. 3, jan/jun 2005, pp. 220-221.
237
WACQUANT, Loc. . Traduo Andr Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, p. 09.
A ideologia da segurana nacional aparece como um dos elementos estruturantes desse discurso, que consiste,
segundo Zaffaroni, em: a) aumentar os nveis de antagonismo entre estratos sociais inferiores; b) impedir ou
dificultar a coalizo ou o acordo no interior desses estratos; c) aumentar a distncia e a incomunicabilidade entre
os diversos estratos sociais; d) potencializar os medos (espaos paranicos), as desconfianas e os preconceitos;
e) desvalorizar as atitudes e discursos de respeito pela vida e pela dignidade humana; f) dificultar as tentativas de
encontrar caminhos alternativos para a soluo de conflitos; g) desacreditar os discursos limitadores da
violncia; h) apresentar os crticos do abuso de poder como coniventes ou aliados dos delinqentes; i) habilitar,
no que concerne a esses crticos, a mesma violncia concernente aos delinqentes. ZAFFARONI, Eugenio
Ral; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. , p. 59.
238
AZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli de. , p. 221.
239
AZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli de. , p. 222. Braulio
Marques salienta que essa cobrana ganha adio do elemento autoritrio, indissocivel da abordagem miditica
acerca da violncia. MARQUES, Brulio. , p. 176.
80
policial
240
. Forma-se, assim, um sistema penal subterrneo, na expresso de Zaffaroni,
exercendo poder punitivo margem de qualquer legalidade
241
.
Por isso, conclui Rodrigo G. Azevedo, o acentuado sentimento de medo e insegurana
diante da violncia e do crime, a herana do regime ditatorial e o autoritarismo social nas
agncias encarregadas do crime, o dficit de funcionamento da justia penal e a polarizao
das opinies pr e contra os direitos humanos so fatores que tornam o cenrio visivelmente
complexo
242
.
Apesar da distncia entre as sociedades investigadas por Garland e a brasileira, ntida a
coincidncia em mltiplos aspectos, inclusive pela difuso do discurso hoje facilitada pelo
avano nas telecomunicaes. Segundo Zaffaroni, a polarizao das riquezas acentuada
tornou as classes mdias latino-americanas anmicas, exigindo normas, porm sem saber
quais. Diz o autor:
So , que clamam por normas e, desconcertados, acabam
entrincheirando-se atrs do discurso autoritrio simplista e populista do discurso
norte-americano, que aparece com o prestgio de uma sociedade invejada e
admirada. (...)
Em geral, embora se trate de uma hiptese que seria mister investigar, parece que
240
AZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli de. , pp. 226-227. Como
diz Salo de Carvalho, a consolidao da lgica militarizada nas estruturas formais de segurana pblica no
Brasil durante a Ditadura Militar, decorrncia do treinamento das Polcias (Militares e Civis) de acordo com a
cartilha da ISN [ideologia da segurana nacional], sustenta um sistema verticalizado afeito constante violao
da legalidade com alta capacidade de capilarizao. CARVALHO, Salo de.
, p. 34. No mesmo sentido: MARQUES, Brulio.
, p. 178. Ver, sobre a criao da Guarda Nacional, ainda no sculo XIX, e a ideologia de
ordem pblica que lhe subjazia, com repercusses no presente, NEDER, Gisele & CERQUEIRA FILHO,
Gislio. Da ordem pblica segurana pblica: aspectos ideolgicos das estratgias de controle social no
Brasil. Criminais, v. 20, Porto Alegre: Notadez, 2005, pp. 93-107.
241
ZAFFARONI, Eugenio Ral; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro & SLOKAR, Alejandro.
, pp. 70-71. Ao estar sustentado no fundamento da segurana (nacional, pblica), a violncia estatal
banalizada, sendo sua programao potencializada e tendendo constantemente ao abuso. Legtima ou no, a
interveno das agncias repressivas sempre considerada vlida
. CARVALHO, Salo de.
, p. 33, grifo no original. Outros exemplos de sistema penal subterrneo no Brasil
poderiam ser os grupos de extermnio, linchamentos e chacinas. Ver: ADORNO, Srgio. Excluso scio-
econmica e violncia urbana. , n. 8, Porto Alegre: jul/dez 2002. Disponvel em <www.scielo.br>.
Acesso em 19.07.2007. Ver, tambm, sobre a militarizao e papel verticalizante do Poder Punitivo:
ZAFFARONI, Eugenio Ral. . Traduo Vnia Pedrosa e Amir Conceio. Rio de
Janeiro: Revan, 1999, pp. 22-25.
242
AZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli. , p. 229.
81
vlkisch
243
.
O discurso autoritrio cool latino-americano estaria em convergncia com a matriz
simplista norte-americana, carecendo de qualquer respaldo acadmico, ,
pois a publicidade com que se alastra procura menosprezar qualquer opinio tcnica jurdica
ou criminolgica, sendo tal rumo igualmente seguido pelos polticos. Os especialistas
aparecem como meros palpiteiros, que reiteram o discurso punitivo
244
.
Em sntese, na expresso que vale a pena reproduzir do professor argentino,
Por todos estes meios pouco ticos ou diretamente criminosos, vende-se a iluso de
que se obter mais segurana urbana contra o delito sancionando leis que reprimam
acima de qualquer medida os raros vulnerveis e marginalizados tomados
individualmente (amide so dbeis mentais) e aumentando a arbitrariedade
policial, legitimando direta e indiretamente todo gnero de violncia, inclusive
contra quem contesta o discurso publicitrio
245
.
Portanto, a despeito das diferenas significativas entre o contexto brasileiro e o norte-
americano e britnico, houve, em todos pases mencionados, uma tendncia de
recrudescimento do punitivismo e da exigncia de ordem, decorrente do crescente sentimento
de medo explorado pelos e polticos demagogos.
A do inimigo est, como se pretendeu demonstrar, nitidamente em
contraposio a uma ordem. Uma ordem funcional que exige dos cidados.
Aqueles que ameaam a ordem estrutural so tratados como inimigos e, por isso, recebem
tratamento de , e no do Direito Penal tradicional, este reservado aos puros. A
impureza deve ser retirada, em passos blicos, da sociedade, sob pena de dissolv-la. No
243
ZAFFARONI, Eugenio Ral. , p. 73, itlico no original.
244
ZAFFARONI, Eugenio Ral. , p. 74. E, em particular em relao vtima: No
caso da represso ao crime, so as vtimas ou seus parentes que assumem esse papel nos meios de comunicao,
como se a justeza de sua causa a reivindicao de um melhor servio de segurana lhes garantisse
automaticamente conhecimentos tcnicos capazes de viabilizar a realizao dessa demanda (nota 143, p. 74).
245
ZAFFARONI, Eugenio Ral. , p. 75. A relao Poder Punitivo seleo
vulnerabilidade ser abordada no tpico 3 da Seo 1 do Captulo III.
82
possvel que o impuro se manifeste de forma absolutamente : ou seja,
contrariamente s determinadas pelo O ordenamento no pode ser
ameaado; a impureza deve ser eliminada enquanto sintoma de .
Mas o discurso de Jakobs no apenas a rotina de um Direito Penal simblico e
punitivista; prope, alm disso, a substituio, uma refundao das suas bases, a partir da
ciso entre Inimigo e Cidado. Sua formulao, no entanto, muito mais extremista que o
movimento norte-americano: ali, o que se prope um acrscimo da
quantidade de penas, a reduo das garantias processuais, a adoo de medidas enrgicas
contra pequenos delitos . Para Jakobs, ao contrrio, a
diviso primordial entre cidado e inimigo permite uma ciso conceitual do Direito Penal,
reservando-se quele uma forma mais liberal; para este, a guerra, pura e simples. O grande
erro atual, para Jakobs, seria a confuso entre dois Direitos Penais que tratam de indivduos
distintos, dando tratamento suave ao Inimigo e duro ao cidado, em certos casos. Estabelecida
a diferenciao inicial, identificaramos o da relao social e o eliminaramos.
Trata-se, portanto, de uma : aqueles indivduos que tivessem
personalidade contraftica e recusassem a fidelidade ao jurdico seriam
simplesmente eliminados, retirados do convvio social como ervas-daninhas pelo Estado-
Jardineiro. Construir-se-ia uma comunidade funcionalmente orientada que somente teria
indivduos, modo geral, fiis ordem jurdica, podendo vir a ser punidos em certos deslizes
que cometam.
Jakobs ir rechaar que os Inimigos faam jus aos direitos humanos exatamente por
esse argumento. Vejamos:
No se pode afirmar, de nenhum modo, que exista um Estado real de vigncia do
Direito, mas to-s de um postulado de realizao. Este postulado pode estar
perfeitamente fundamentado, mas isso no implica que esteja realizado, do mesmo
modo que uma pretenso jurdico-civil no se encontra realizada s porque esteja
bem fundamentada. Dito de outro modo: nesta medida, no se trata da
de um estado comunitrio-legal, mas, previamente, de seu . A
situao prvia criao de um estado comunitrio-legal o estado de natureza, e
nesta no h personalidade. Em todo caso, no existe uma personalidade
assegurada. Por isso, frente aos autores de vulneraes dos direitos humanos, os
quais, por sua parte, tampouco oferecem uma segurana suficiente de ser pessoas,
de per si permite-se tudo o que seja necessrio para assegurar o mbito
83
comunitrio-legal, e isto de fato o que sucede, conduzindo primeiro uma guerra,
no enviando primeiro passo polcia para executar uma ordem de deteno
246
.
A ordem comunitrio-legal, portanto, para Jakobs, no est estabelecida, mas sim
. essa vulnerao do estado de perfeio
247
de uma comunidade homognea e
perfeitamente adequada ordem funcional que lhe permite argumentar no sentido de que o
Inimigo no mereceria a guarida os direitos humanos, medida que seria
obstculo implementao desses direitos.
Ora, visivelmente est-se diante da situao que Bauman menciona. No se est apenas
diante de uma diviso social que se estabelece a partir do , mas sim diante de um
de engenharia social que nos permitiria conduzir ao estado perfeito. A ambivalncia seria
eliminada; apenas aqueles que se propusessem a ter uma personalidade no-contraftica
deveriam sobreviver. Aos demais, seria simplesmente declarada guerra.
O Inimigo, definido a partir de sua personalidade contraftica que se
ope ordem funcional conforme as observaes de Mary Douglas e Lvi-Strauss no se
manifesta, precisamente, enquanto um si mesmo. O terrorista, exemplo por excelncia do
Inimigo, no vir a ser tratado dessa forma
248
. O verdadeiro que define o
Inimigo est numa contraposio ordem dada, enquanto um cidado que renuncia
personalidade, tornando-se no-cidado. O Outro, como j ressaltara Bauman, no
propriamente , mas um arranjo assimtrico que serve como oposio para o Um, que
pretende assim se afirmar. Heterogeneidade que existe apenas para afirmar a homogeneidade,
como um trao em extino. s na relao com a que se constitui o Inimigo, par
assimtrico na relao de poder com o cidado.
Mais: essa entendida enquanto personalizao universal que garante a
os direitos humanos somente pode ser estabelecida a guerra. Antes da instituio de
uma ordem jurdica que atinja a todos, indistintamente, necessrio que o Estado-jardineiro
recolha as ervas-daninhas, sob pena de que o jardim de destrua por inteiro. Apenas o
246
JAKOBS, Gnther. , p. 47.
247
A modernidade criou essa compulso, esse desejo irresistvel de ordem e de segurana. O mundo perfeito,
utopia dos iluministas, seria totalmente limpo e idntico a si mesmo, transparente e livre de contaminaes.
GAUER, Ruth. , p.
401.
248
JAKOBS, Gnther. , p. 44.
84
estabelecimento de uma homogeneidade nas expectativas normativas possvel que os
direitos humanos sejam assegurados.
esse processo que Bauman descreve:
A definio do Outro como parasita utiliza os medos profundamente arraigados, a
repulsa e a averso a servio do extermnio. Mas tambm, e de modo mais seminal,
ela coloca o Outro a uma enorme distncia mental na qual os direitos morais no
so mais visveis. Tendo sido despojado de sua humanidade, e redefinido como
verme, o Outro no mais objeto de avaliao moral
249
.
Uma vez o Outro, a questo do exerccio dos direitos fundamentais
passa a segundo plano. No sendo o Outro , o problema no se coloca mais em termos
constitucionais. O Outro torna-se verme, algo a ser expungido da sociedade como um
cncer que poder trazer a destruio da ordem. Leia-se, novamente, as precisas palavras de
Zygmunt Bauman, referindo-se ao nazismo:
Declarando que uma categoria especfica de pessoas no tem lugar na ordem futura
dizer que essa categoria est alm da redeno no pode ser reformada,
adaptada ou forada a se adaptar. O Outro no um pecador que pode ainda se
arrepender ou emendar. um organismo doentio, enfermo e infeccioso,
prejudicado e prejudicial. Serve apenas para uma operao cirrgica; melhor ainda,
para a fumigao e o envenenamento. Deve ser destrudo para que o resto do corpo
social possa manter a sade. Sua destruio uma questo de medicina sanitria
250
.
precisamente uma ordem que est em jogo, uma ordem em que apenas aqueles
homogneos devem sobreviver, para que possam exercer seus direitos em conformidade
com a ordem funcional. E a preciosa engrenagem da fidelidade que servir de suporte
para definir o Inimigo
251
. Fidelidade que, como se viu, capaz de obedecer s mais terrveis
249
BAUMAN, Zygmunt. , p. 56.
250
BAUMAN, Zygmunt. , p. 56.
251
Como brilhantemente diz Freixedo, el Derecho acta como un catalizador de la obediencia ciudadana y, para
ello, la instituicin del se muestra del todo apta a la hora de crear mecanismos simples de sumisin. El
enemigo, utilizado como chivo expiatorio, opera de de la consciencia cvica, aleja del Estado de las
crticas que se pudieran suscitar por uma situacin problemtica y, em definitiva, refuerza la obedincia
incondicionada a las demandas institucionales. BASTIDA FREIXEDO, Xacobe. Los brbaros em el umbral.
fundamentos filosficos del derecho penal del inimigo. In: , v. 01, p. 296. E tambm Garca-Amado: el
paradigma y el punto de mira del Derecho penal no es el delincuente, sino el ciudadano obediente, entregado y
sumiso; que las normas penales existen para otorgar a los ciudadanos garantas de que los delincuentes no les
van a danr ni preocupar ms, no para asegurar a los (sospechosos o acusados de) delincuentes que no van a ser
objeto de las iras, la venganza o la bsqueda histrica de seguridad por las sociedades. En el fondo, el Derecho
penal del enemigo no reprime al delito, sino la heterodoxia. GARCA AMADO, Juan Antonio. El obediente, el
enemigo, el Derecho penal y Jakobs. In: , v. 1, p. 893. Essa engrenagem de fidelidade altamente
simplificada pelos defensores do Direito Penal do Inimigo, salientando a auto-excluso do criminoso da
condio de pessoa. Conforme: POLAINA NAVARRETE, Miguel & POLAINO-ORTIS, Miguel. Derecho
85
das ordens. O Inimigo, que se define como binrio inferior do cidado, deve ser eliminado.
obstculo.
Pois bem, precisamente no ambiente social contemporneo, no qual irrompe uma
relao de implicao entre a exigncia de ordem e o medo coletivo
252
, causado pelas altas
taxas de delito e pela insegurana ontolgica, o Direito Penal do Inimigo enquanto estratgia
de social cai como uma luva para o discurso neoconservador
253
. A criao de um
ambiente de tenso permanente onde a exigncia de ordem e autoridade ganha primazia o
local propcio para que o que era para ser exceo tornar-se regra, como previa Agamben. A
diferena que, como utopia de pureza
254
, e no simples forma de manuteno da ordem,
pode sustentar um projeto de reengenharia social, provavelmente apoiado em exigncias de
eliminao dos setores vulnerveis e marginalizados da populao que acaba por suportar a
maior parte da presso punitiva na contemporaneidade
255
. um horizonte em que o
vagabundo, contraponto do turista, definitivamente como impureza social.
penal del enemigo: algunos falsos mitos. In: , v. 2, p. 624 e prprio Jakobs, em JAKOBS, Gnther.
Terroristas como personas em Derecho? In: , v. 2, p. 90.
252
Tambm identificando o Direito Penal do Inimigo com o medo: BUSATTO, Paulo Csar. Quem o inimigo,
quem voc? Criminais, v. 66, So Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, pp. 347-
350; ASUA BATARRITA, Adela. El discurso del enemigo y su infiltracin en el derecho penal. Delitos de
terrorismo, finalidades terroristas y condutas perifricas. In: , v. 01, pp. 243-246
253
Una situacin semejante deja el terreno abonado para las respuestas polticas al ,
: al miedo al est provocando una conflictividad social en Europa que es
respondida por las agencias estatales con polticas de imigraccin restrictivas y con legislaciones que parecen
reservarse el derecho de admisin de ciertos extranjeros en los Estados europeos. RIVERA BEIRAS, Iaki.
, p. 121. Scheerer e outros tambm identificam que o Directo Penal do
Inimigo instrumento de superao de crises, servindo como elemento central a declarao do inimigo,
restabelecendo segurana e ordem, alm do sentimento de inocncia do restante da populao. SCHEERER,
Sebastian; BHM, Maria Laura & VQUEZ, Karolina. Seis preguntas y cinco respuestas sobre el Derecho penal
del enemigo. In: , v. 2, p. 927. Ainda: ALLER, Germn.
. In: , v. 1, pp. 86-88; BASTIDA FREIXEDO, Xacobe. Los brbaros em el umbral. fundamentos
filosficos del derecho penal del enemigo. In: , v. 01, pp. 291-292; CALLEGARI, Andr Luiz & DUTRA,
Fernanda Arruda. Derecho Penal del enemigo y derechos fundamentales. In: , v. 1, p. 327; TERRADILLOS
BASOCO, J. M. . Una convivencia cmplice. En torno de la construccin terica del denominado Derecho
penal del enemigo. In: , v. 2, p. 1027.
254
Salientando esse aspecto prospectivo do Direito Penal do Inimigo: ABOSO, Gustavo Eduardo. El llamado
Derecho Penal del Enemigo y el ocaso de la poltica criminal racional: el caso argentino. In: , v. 1, p. 60;
MELI, Manuel Cancio. De nuevo: Derecho Penal del enemigo? In: , v. 1, p. 370-373; DONINI,
Massimo. El Derecho penal frente al enemigo. In: , v. 1, p. 625; GARCA AMADO, Juan Antonio. El
obediente, el enemigo, el Derecho penal y Jakobs. In: , v. 1, pp. 922-924; GROSSO GARCA, Manuel
Salvador. Qu es y que puede ser el Derecho penal del enemigo. In: , v. 2, p. 38; PASTOR, Daniel R. El
Derecho penal del enemigo em el espejo del poder punitivo internacional. In: , v. 2, pp. 495.
255
Ver: LOPES Jr., Aury. .
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, pp. 11-18.
86
RAZES
A pureza elimina o Estranho, o Outro, o Inimigo. Este deve ser tratado em passo de
guerra, ante o notvel perigo que representa para a ordem social. Sua posio incmoda, ele
representa uma ameaa constante sociedade funcional. um obstculo na engrenagem do
sistema, uma presena que coloca em jogo o prprio funcionamento da estrutura. Sua
existncia coloca em xeque a da sociedade. Sua diferena insuportvel, a
impureza alcana um nvel que exige um tratamento enquanto simples perigo.
Mary Douglas sinalava que nem sempre suportar a ambigidade seria desagradvel
256
.
No entanto, ao indivduo-mnada contemporneo, fechado em si mesmo ao mundo exterior,
crendo que seu poder representacional tem a capacidade de esgotar a totalidade do Outro, a
presena do ambguo tornou-se simplesmente
Sartre descreve bem essa sensao em A Nusea
257
. Roquentin, ao tomar conscincia
de existncia de um mundo exterior independente e irredutvel a nossas classificaes, um
mundo externo bruto que chega avassalador, sem tomar qualquer considerao com a
conscincia do sujeito, enche-se de nusea
258
. A intuio fenomenolgica de Sartre demonstra
o sentimento do indivduo-mnada ao se deparar com o do Outro: aquilo que
excede minha capacidade de representao, aquilo que se mostra ambguo e infinito, causa
256
DOUGLAS, Mary. , p. 52.
257
SARTRE, Jean-Paul. . Trad. Rita Braga. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, s/d. No agentava mais.
J no podia suportar que as coisas estivessem to prximas. Empurro um porto de ferro, entro, existncias
leves se erguem de um salto e se empoleiram nos cimos. Agora me reconheo, sei onde estou: estou no jardim
pblico. Deixo-me cair num banco entre os grandes troncos negros, entre as mos negras e nodosas que se
erguem para o cu. Uma rvore raspa a terra, sob meus ps, com uma unha preta. Gostaria tanto de me
abandonar, de deixar de ter conscincia de minha existncia, de dormir. Mas no posso, sufoco: a existncia
penetra em mim por todos os lados, pelos olhos, pelo nariz, pela boca...
E, subitamente, de repente, o vu se rasga: compreendi, (p. 187).
258
No posso dizer que me sinta aliviado nem contente; ao contrrio, sinto-me esmagado. S que meu objetivo
foi atingido: sei o que desejava saber; compreendi tudo o que me aconteceu desde o ms de janeiro. A Nusea
no me abandonou e no creio que me abandone to cedo; mas j no estou submetido a ela, j no se trata de
uma doena, nem de um acesso passageiro: a Nusea sou eu. SARTRE, Jean-Paul. , p. 187.
87
nusea. O traumatismo do Encontro representado pela nusea de , pura e
simplesmente, sem convite e sem restrio, do Outro
259
.
A Modernidade, no isolamento solipsista do sujeito moderno
260
, cultivou o fechamento
do eu, enquanto suposta autonomia, de tal forma que, na presena do estranho que abala os
alicerces da estrutura, no procuramos mais um ritual salvador
261
, mas simplesmente
reduzimos o Outro impureza e o eliminamos, mediante estratgias blicas. o Outro que se
v reduzido a perigo, enquanto Inimigo.
Onde poderamos situar o enraizamento cognitivo desse do Outro?
preciso suturar nossas categorias mentais de forma a investigar o que realmente
constitui essa forma de pensar que se fecha em si mesma, proporcionando a idia de ordem
e tornando insuportvel a admisso (ou ) da diferena que no se reduz aos nossos
esquemas classificatrios. Investigar, densamente, o que realmente nos leva a formar o
em relao quilo que no se enquadra na ordem. Enfim, no apenas a
situao como um , mas adentrar-se no que esse dado.
nesse momento que podemos a idia de raiz mais nitidamente scio-
antropolgica de para a noo filosfica de Totalidade
262
, que significa, em sntese,
a reduo do desconhecido ao conhecido, a pretenso identificante que reduz a diferente ao
igual, ou seja, o impulso de neutralizao do poder desagregador do Diferente, materializado
por meio de uma construo dialtica, imanente e com pretenso de auto-compreenso e
auto-legitimao
263
. A Totalidade representa, ento, a tendncia de de
diferena, proporcionando uma homogeneidade semelhante, em nvel intelectual, ao processo
259
Ver: SOUZA, Ricardo Timm de. Sartre e a Ambigidade da Percepo. In:
. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1996, pp. 81-100.
260
Abordaremos a questo do individualismo com maior densidade no Captulo IV.
261
Ver: DOUGLAS, Mary. , pp. 75-92.
262
A similaridade pode ser observada na seguinte transcrio: O fato de que algo no seja ordenado indica
normalmente, na tradio, a necessidade de que esse algo seja ordenado, quer dizer, integrado a uma ordem.
Assim, o no-ser-ordenado percebido somente como o -no-ordenado, no sentido de ainda-no-
subsumido-na-sincronizao. A , o trao de um que porta um tempo diferente,
compreendida como um , como uma questo que achar necessariamente, no tempo da
lgica dinmica e convergente, o seu prprio . O diferente destina-se, em ltima anlise, ao no-diferente,
finalmente no Mesmo, a identidade final seu . SOUZA, Ricardo Timm de.
. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1999, pp.
72-73.
263
SOUZA, Ricardo Timm de. , p. 18.
88
de engenharia social que referimos at agora. Ela, portanto, se na forma de que
as formaes teorticas que hiperbolizam a ordem.
Ricardo Timm de Souza arrola dois princpios condutores do pensamento filosfico que
se estruturou enquanto Totalidade: o primeiro consistiria em uma tendncia classificatria,
especificadora, interessada sobretudo na referncia semntica inequvoca e na preciso da
idia expressa; o segundo, na traduo do do Ocidente que se alimenta
crescentemente ao longo da histria do pensamento e da humanidade: a tendncia de reduzir o
Diferente ao Mesmo intelectualmente ou faticamente expresso
264
. Ou seja, a histria
intelectual expressa uma pulso que se repete no mundo concreto: o sufocamento da
alteridade em esquemas que a reduzem ao Mesmo
265
.
O processo que impulsionado desde ento, que se anotava como crescente, o que
denominamos de trofismo, ou seja, aquilo que constantemente nutrido e fortalecido,
robustecendo-se em esquemas que se alimentam de si prprios, como ocorre, por exemplo, no
pensamento hegeliano
266
. Segundo Ricardo Timm de Souza, a Histria do Ocidente tem
constitudo, em suas linhas mais amplas, na histria dos processos utilizados para neutralizar
o poder desagregador do Diferente. Filosofia, em sua expresso categorial-hegemnica,
cumpriu a tarefa, at o momento, de legitimar intelectualmente essa busca pela
neutralizao. precisamente essa busca de neutralizao que consiste na Totalidade
267
.
A tentativa de reduo da diferena por meio de um esquema que se expressa enquanto
Totalidade o impulso que guia o pensamento filosfico. Ao mergulharmos essa perspectiva
conceitual em uma , a fim de compreender as razes pelas quais esse
264
SOUZA, Ricardo Timm de. , p. 17.
265
A filosofia que surgia como uma oposio opinio, tendia sabedoria como ao instante de plena posse de
si, em que j nada de estranho, nada de diferente, vinha limitar a identificao gloriosa do Mesmo no
pensamento. Caminhar em direo verdade consistia em descobrir uma totalidade onde o diverso acabava por
ser idntico, isto , dedutvel, no mesmo plano ou no plano do Mesmo. LEVINAS, Emmanuel. Runa da
Representao. In: . Lisboa: Piaget, 1997, p. 163.
266
Para Levinas, o hegelianismo o modelo desse modo de pensar. Ver: SOUZA, Ricardo Timm.
, p. 55, nota de rodap 81. Da mesma pgina: a sabedoria em sentido europeu
. Ainda: LEVINAS, Emmanuel. .
Salamanca: Sgueme, 1977, pp. 60-61; SOUZA, Ricardo Timm de. Hegel e o Infinito alguns aspectos da
questo. , v. 50, n. 2, julho/2005, pp. 155-174..
267
SOUZA, Ricardo Timm de. , p. 18. A pretenso de legitimidade absoluta e
completao, que pervade essas hermenuticas do passado e de seus problemas em sua
contempornea, mostra-se a Levinas, em ltima anlise, como um
Conhecer significa totalizar,
, em um fluxo totalizante. SOUZA, Ricardo Timm de. , p. 55.
89
movimento se produz, troficamente, inclusive, encontramo-nos diante da circunstncia de que
nascer significa inserir-se definitivamente em uma tenso vital que indica ter que, a cada
momento, sobreviver entre a vontade de inrcia, do indiferenciado, a violncia do nico
268
,
ou seja, resistir ao impulso de aderir Totalidade. no decisivo entre esse aderir, de
um lado, e o encontro tico com o Outro, que me permite romper com a inrcia do
indiferenciado, de outro, que estamos vivendo
269
. Ser humano, portanto, ter de mergulhar
na inelutabilidade de um momento, hipotecar a um momento toda a sua existncia, naquele
instante nico, e no em outro qualquer
270
. Esse intervalo, a par de toda ontologia, nos joga
numa deciso fundamentalmente , da qual impossvel escapar
271
. .
A racionalidade situa-se, dessa forma, precisamente como
a mobilizao dos recursos intelectuais que conspiram ou a favor de uma atividade
capaz de integrar o encontro com o diferente, com o Outro, ao corpo das
experincias prvias quando se constitui em racionalidade s em sentido tico -,
ou a favor de uma justificao da existncia e da recorrncia da Massa, do
Mesmo e da Totalidade, aqui considerados como sinnimos quando se
constitui ento em Razo violenta e unificadora
272
.
Nesse intervalo constitutivo, pois, estamos diante de um mundo humano, constitudo a
partir do ser humano e ser humano, sendo invivel recorrermos a fbulas como a idia de
mundo objetivo
273
. Na tenso do mundo humano, a inscrio na ordem da realidade torna-se
268
SOUZA, Ricardo Timm de. A Dignidade da Pessoa Humana: uma viso contempornea. . Passo
Fundo. Ano XIV, n. 27, p. 8, 2005-II.
269
A categoria do infinito, prpria do pensamento de Levinas, apresentada como contraponto filosfico
Totalidade. Ricardo Timm de Souza expressa: A Totalidade a , a que concentra a maior
quantidade de energia; o Infinito sugere qualidades de grandeza ao menos proporcionais, embora no acessveis
racionalidade corrente e no identificvel com a grandiosidade da filiao totalitria. SOUZA, Ricardo Timm
de. , p. 99.
270
SOUZA, Ricardo Timm de. A Dignidade da Pessoa Humana: uma viso contempornea, p. 8.
271
Aqui j nos distanciamos da proposta de antropologia filosfica trazida por Ernildo Stein, que considera
existir um aprisionamento da antropologia na tica a partir da obra kantiana. Ver: STEIN, Ernildo.
, pp. 171-192.
272
SOUZA, Ricardo Timm de. A Dignidade da Pessoa Humana: uma viso contempornea, p. 8.
273
Essa referncia certamente poderia causar significativa revolta a autores que se denominariam realistas. A
acusao de relativismo, nesse caso, a mais bvia. No entanto, ao afirmarmos que a noo de mundo
totalmente humana no se est dizendo que o mundo qualquer coisa. O que se est argumentando que a
noo de mundo precede ao empilhado de objetos que esto no seu interior. O mundo se constitui a partir do
horizonte humano. Isso no significa que neguemos a existncia de uma realidade externa, da externalidade
mesma, que existe em si mesma independente do pensamento humano. O que se prope, exatamente partindo do
entre pensamento e realidade, que toda viso de um objeto perspectiva, coloca-o entre
parnteses, como dizia Husserl, de sorte que a noo de mundo objetivo no pode se confundir com a questo
da realidade do mundo. O objetivo, por si mesmo, uma categoria relacionada ao pensamento. A
expresso mundo objetivo, por isso, estar irremediavelmente contaminada pelo humano. Como afirma
Ernildo Stein, o mundo natural e humano assim concebido est situado num contexto de conhecimento, de
familiaridade e de lidar com que lhe tira o carter simplesmente objetivo e lhe impe a marca de algo
90
irreversvel, s podendo, desde que sai do tero materno, estar numa situao de
numa reencontrar perptuo com sua unicidade
274
.
Entretanto, essa vocao de unicidade pode ser negada.
Compe-se ento a massa o retorno a um mundo primeiro e sem diferenciao,
baseado na segurana monoltica: sem intervalos. Seres individuais renunciam sua
origem particular e agrupam-se em massa compacta: a massa a ideologia concreta
e concretizada. Declinam de toda dignidade, delegam-na autoridade
275
.
Trata-se, ainda e sempre, de uma . Como j se afirmou, o instante, o intervalo em
que se constitui o existir humano no mundo no , em absoluto, . No h libi que
garanta uma integridade da deciso com base ontolgica. Est-se de um momento
inelutavelmente , cuja compreenso, a partir da dimenso do Rosto e do assassinato
276
,
Emmanuel Levinas contribuiu para esclarecer.
Nesse instante, tambm possvel a Totalidade. A subjetividade
constituda de forma solipsista, tal como Descartes e Leibniz, no seu nascedouro, expuseram
no e na teoria das mnadas. Essa a razo solitria do Ocidente, matria-prima
sobre a qual se soergueu a razo das massas. Para ela, no existe o Novo, mas sim o
dele
277
.
A subjetividade, no entanto, se d sempre no mundo plural. na diferena, na alteridade
que se d o seu sentido mais pleno e original. na relao que se constitui o Eu. Essa
dimenso de relao entre os diversos mundos humanos que se forma enquanto tica. Na
concretude do tempo, na existncia e diante da realidade do Outro que se rompe a tentao
narcisista ou auto-reflexiva da mnada.
Ou seja: estamos diante de um instante que se mostra ao mesmo tempo e
. Mas no qual a deciso , tica, precisamente aquela que significa o maior
significado, que vem ao nosso encontro enquanto inserido em uma estrutura prvia que podemos pensar como
um modo de ser-no-mundo do homem. assim que a fenomenologia hermenutica percebe que, quando
conhecemos, no lidamos simplesmente com um objeto, mas com algo que acontece em nossa perspectiva,
apresentando-se com sentido. STEIN, Ernildo. , p. 239.
274
SOUZA, Ricardo Timm de. A Dignidade Humana da Pessoa Humana: uma viso contempornea, p. 13.
275
SOUZA, Ricardo Timm de. A Dignidade Humana da Pessoa Humana: uma viso contempornea, p. 14.
276
As temticas foram exploradas nos itens 2 e 3 da Seo 2 Captulo III.
277
SOUZA, Ricardo Timm de. A Dignidade Humana da Pessoa Humana: uma viso contempornea, p. 17.
91
traumatismo. Assumir a presena do Outro , desestruturando a unidade que
antes se constitua como Totalidade do si mesmo, , sem dvida, um momento de extrema
dificuldade. E, provavelmente por essa razo, a tentao na Massa ou da Totalidade seja to
forte, a ponto de guiar o intelecto filosfico por mais de dois milnios.
O do Novo parece insuportvel, como Outro que o Novo . Por essa razo, o
conservadorismo uma opo permanente e plausvel, na medida em que fornece solidez e
ilude a diacronia do tempo. Nessa solidez distante da realidade crua e traumtica, aquilo que
aparece enquanto irrepresentvel o Outro imediatamente negado, garantindo o
conforto da unidade na Totalidade. O , enquanto uma representao que nega a
alteridade, o verso da moeda dessa totalizao. Ele aquilo que negando o Novo, ou o
Outro sobrepe uma representao irreal para garantir que a unicidade fictcia no seja
desmanchada.
O preconceito, segundo Ricardo Timm de Souza, sempre um preconceito do . Os
conservadorismos de qualquer espcie, ao pretenderem a todo custo o passado,
nada mais fazem do que truncar a raiz da vida: o decorrer do tempo. Sustenta-se, por isso,
com base no
278
.
A pretenso do Ocidente de o tempo, de reduzi-lo a um espao a um foco nico e
definitivo de sentido, de eternizar o tempo em um presente que aprisiona o futuro, tautolgico,
um presente que se repete enquanto uma narrativa universalizante, sistmica e ordenadora, ,
precisamente, a reproduo da idia de , sem a presena do Outro
279
.
Esse Outro que chega sem ser convidado e irredutvel a minha compreenso, Outro
, portador de uma ambivalncia que desestabiliza a estrutura,
278
SOUZA, Ricardo Timm de. . Porto Alegre:
Dacasa, 2002, p. 16.
279
No pode existir um futuro para a Totalidade, e o futuro que esteja presente na
dinmica de sincronizao presentificadora da Totalidade no se pode constituir em futuro desta Totalidade,
sendo, antes, uma contradio mortal para ela. A do futuro no combinvel com o da
Totalidade. SOUZA, Ricardo Timm de. , p. 119. Como nota Salo de Carvalho, na
tradio jurdico-dogmtica, porm, o importante elemento tem
92
reduzido a um perigo, que deve ser exterminado. Como diz Ricardo Timm de Souza, a atitude
preconceituosa est para alm do medo, se tratando, em ltima anlise, de uma dinmica da
anulao do em um processo de absoro pela Totalidade
280
. A imposio da ordem
inclusive significa, por isso, que a Totalidade - pretenso de neutralizar a diferena
em um processo intelectual que procura a absorver - movimenta-se troficamente,
eliminando os resqucios humanos que porventura se interponham em seu caminho.
Transplantemos tais noes para o Direito Penal do Inimigo: Jakobs entende que
somente pode ser tratado como pessoa aquele que demonstra em
conformidade com os ditames do ; aos impuros, que refugam ao esquema
totalizante, deixamos as estratgias blicas e pugnamos pela sua eliminao. A pretenso de
construir uma Totalidade diferena apenas ordem. Esse raciocnio construdo a partir
de uma ferramenta, que exploraremos a seguir.
O Direito Penal do Inimigo no pode se construir, pelo menos enquanto pretenso
terica, sem uma ferramenta. Na medida em que pretende ser uma construo racional, pois
regido por fundamentos e desenvolvido de forma argumentativa, precisa apoiar-se em uma
racionalidade prpria. Uma racionalidade capaz de sustentar esse em relao ao
Inimigo, em direo ordem.
O pensamento funcionalista-sistmico
281
o eixo que sustenta a construo de Jakobs.
Nele, so os que esto em jogo. Cezar Roberto Bittencourt anota, com preciso:
280
SOUZA, Ricardo Timm de. , p. 19.
281
O funcionalismo no um termo unvoco na doutrina penal. Inicia-se com a perspectiva dualista de Claus
Roxin, criticando o ontologismo da teoria finalista de Hans Welzel para irrigar a dogmtica penal com
motivaes poltico-criminais, porm ainda acrescido de uma perspectiva de razo prtica, fundamentalmente a
partir da obra , de 1970. O monismo de Jakobs, no entanto,
contrape a isso um sistema fechado e auto-referente que se orienta unicamente a partir de exigncias sistmicas,
sem qualquer preocupao teleolgica. Ver: BITENCOURT, Cezar Roberto. Sntese das principais fases da
evoluo epistemolgica do Direito Penal. In: , p. 90-91; ZANATTA, Arton. Teoria
do Funcionalismo Penal: uma breve aproximao por este outro lado do Atlntico. In:
, pp. 65-80 e SCHMIDT, Andrei Zenkner. Reviso Crtica
das concepes funcionalistas: em busca de um sistema penal teleolgico-garantista, no mesmo volume, pp. 107-
93
Jakobs (...), seguindo a Luhmann, concebe o Direito Penal como um
, auto-referente (autopoitico) e limita a dogmtica jurdico-
penal anlise do Direito Positivo, com a excluso de
consideraes empricas no normativas de valoraes externas ao sistema jurdico-
positivo
282
.
Nota-se, portanto, que se est diante da ferramenta que possibilita a oposio entre o
Outro e a ordem. O preconceito que sempre se api
94
expectativa de uma conduta geralmente pessoal, simplesmente resulta
inadequada
285
.
O argumento, nota-se, no passa por qualquer , mas apenas pela ausncia de
instrumentalidade necessria na situao atual. No passa, por exemplo, pela manuteno da
ordem democrtica ou qualquer situao que justifique a medida extrema: a pura e
simples manuteno da ordem, que pode ser ordem (inclusive uma injusta), que est
em jogo. o fato de consistir o Direito Penal tradicional uma atadura ao Estado que
consiste, em ltima instncia, o do argumento de Jakobs. Ou seja: a representao do
Inimigo se sobrepe de tal forma respectiva humanidade, em prol da neutralizao da
diferena, que no h , mas pura e simplesmente .
A racionalidade introduzida pela exigncia de distino, nos parmetros da ordem, entre
puro e impuro, sequer remete a um argumento plausvel. a simples manuteno da ordem
e s que est em jogo. O n da questo , apenas, a , a do sistema
286
.
No h uma distino que pudesse traduzir uma idia como, por exemplo, a orientao de
santidade na mitologia hebraica, com relao alimentao no Levtico, como nos mostrou
Mary Douglas. a ordem pela ordem, o tcnico do sistema que justifica a
ciso do Direito Penal.
preciso notar, aqui, o papel fundamental que tem o funcionalismo enquanto razo
instrumental. A racionalidade, em Jakobs, aprisionada na mera tcnica, que serviria para
efetivar o seu projeto de sociedade pura. A constatao de Adorno e Horkheimer enquadra-se
perfeitamente hiptese:
O eu, que aprendeu a ordem e a subordinao com a sujeio do mundo, no
demorou a identificar a verdade em geral com o pensamento ordenador, e essa
verdade no pode subsistir sem as rgidas diferenciaes daquele pensamento
ordenador. Juntamente com a magia mimtica, ele tornou tabu o conhecimento que
atinge efetivamente o objeto
287
.
285
JAKOBS, Gnther. , pp. 36-37.
286
Caracterizando o Direito Penal do Inimigo como eficientismo: GROSSO GARCA, Manuel Salvador. Qu
es y que puede ser el Derecho penal del enemigo. In: , v. 2, p. 24.
287
ADORNO, Theodor & HORKHEIMER, Max. . Trad. Guido Almeida. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 1985, p. 28. Do mesmo livro: Quanto mais complicada e refinada a aparelhagem social,
econmica e cientfica, para cujo manejo o corpo j h muito foi ajustado pelo sistema de produo, tanto mais
empobrecidas as vivncias do que ele capaz (p. 47).
95
O aparato lgico, com seu poder de abstrao, permitiu o avano da cincia moderna e
da tecnologia, mas elas prprias tornaram-se fetiche. Como diz Ricardo Timm de Souza, de
instncia crtica da realidade, se converteu em instrumento legitimador de um reflexo da
realidade que teria como constitutivo principal a pretenso de se substituir, com vantagem,
realidade mesma
288
. O funcionalismo representa essa tendncia de reduzir o pensamento a
instrumento.
Trata-se de um pensamento calculador, na expresso de Martin Heidegger, na medida
em que, como , no pensa. A isso ele ope a reflexo meditativa, que seria
realmente o ato de pensar. Na era atmica, o pensamento calculador trata a natureza como
uma gigantesca estao de gasolina, fonte de energia que se h de extrair a partir da tcnica.
Heidegger prope, ao contrrio, que deixemos, a partir da reflexo meditativa, que os objetos
entrarem no mundo, mas sem torn-los algo absoluto. A essa disposio fundamental que
diz sim e no tcnica ele nomeia serenidade
289
.
Ernildo Stein salienta, comentando a viso heideggeriana do pensamento calculador, que
para este
mundo o depsito, o fundo, o estoque que esconde e apresenta possibilidades para
a afirmao da vontade mediante a transformao. No modo de desvelamento da
com-posio, da manufatura, do aparelhamento se v o nico modo de acesso ao
ser. Um de seus modos de desvelamento se vela e esquece a todos e assim se
esquece a si mesmo em sua origem essencial
290
.
Heidegger sustenta que a cincia um modo de objetivao calculadora do ente, uma
condio estabelecida pela prpria vontade de vontade
291
, atravs da qual esta garante o
domnio da sua essncia. Mas, pelo fato de toda objetivao dirigir-se ao ente, permanece
288
SOUZA, Ricardo Timm de. , p. 109.
289
HEIDEGGER, Martin. . Disponvel em <www.heideggeriana.com.ar>. Acesso em 17.07.2007.
Igualmente criticando o funcionalismo a partir de um vis heideggeriano: DVILA, Fbio Roberto. O Inimigo
no Direito Penal Contemporneo. Algumas reflexes sobre o contributo crtico de um Direito Penal de base
onto-antropolgica. In: . Org. Ruth Gauer. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, pp. 95-
108.
290
STEIN, Ernildo. . Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002, pp. 155-
156.
291
Aqui evidentemente est a se referir a sua interpretao da obra de Nietzsche, que ele considera o fim da
metafsica, quando s h vontade de poder. Heidegger considera, contudo, que seria apropriado nome-la
vontade de vontade. Como diz Vattimo, ao dar-se do ser s como vontade, teorizado por Nietzsche que o
modo extremo de ocultar-se do ser e que deixa aparecer s o ente corresponde a uma tcnica moderna que d
ao mundo esta forma que hoje se chama organizao total. VATTIMO, Gianni. .
Trad. Joo Gama. Lisboa: Piaget, 1996, p. 98.
96
nele, j julgando o ser. Todo conhecimento, dessa forma, manifesta um certo saber do ser,
mas atesta simultaneamente a incapacidade de, por suas prprias foras, permanecer na lei da
verdade deste saber
292
. O pensamento calculador submete-se a si mesmo ordem de tudo
dominar, sendo incapaz de perceber que o calculvel do clculo j , antes de suas somas e
produtos calculados, um todo cuja unidade pertence ao incalculvel e sai das garras do clculo
na sua estranheza
293
. Conforme diz Vattimo, a tecnificao do mundo a realizao efetiva
desta idia, na medida em que cada vez mais completamente um produto tcnico, o mundo
, no seu prprio ser, produto do homem
294
.
O pensamento do funcionalismo sistmico de Jakobs, portanto, constitui-se apenas
enquanto , razo instrumental que no se prope qualquer limite
295
. Est, por isso, a
servio da Totalidade. E nesses domnios, como pontua Ricardo Timm de Souza, tudo tem
chance de existncia, todos os crimes contra o semelhante e a natureza so passveis de
relativizao e, posteriormente, anulveis pela sua autojustificativa, por sua liberdade auto-
referente
296
.
292
HEIDEGGER, Martin. Posfcio (1948) ao texto Que a Metafsica? In: .
Trad. Ernildo Stein. So Paulo: Nova Cultural, 1991, p. 47. O desvelamento que vige e domina a tcnica
moderna no mais um levar--frente, um trazer o ente luz da presena, mas um desafiar ( )
que estabelece, para a natureza, a exigncia de fornecer energia suscetvel de ser extrada e armazenada como
tal. DUARTE, Andr. Heidegger, a essncia da tcnica e as fbricas da morte: notas sobre uma questo
controversa. In: . Org: Ricardo Timm de Souza e Nythamar Oliveira. Porto Alegre:
EDIPUCRS, 2001, p. 42.
293
HEIDEGGER, Martin. Posfcio (1948) ao texto Que a Metafsica?, p. 50.
294
VATTIMO, Gianni. , p. 95. Sobre o papel da tcnica gerando como resultando a
sociedade do risco, ver a anlise de DVILA, Fbio Roberto.
. Coimbra: Coimbra Editora, 2005, pp. 23-29.
Segundo Andr Duarte, Heidegger teme fundamentalmente no a ameaa de destruio do mundo, mas a
impossibilidade, uma vez esgotadas as formas de desvelamento pelo pensamento tcnico, de surgimento de
novos horizontes de destino, impossibilitando uma nova escuta-meditativa ao apelo do ser. mais um sintoma
da superdimenso do conhecimento intelectual na filosofia heideggeriana, que pe em segundo plano a prpria
humanidade em prol do Pensamento. O autor procura rebater tais argumentos, mas, como teremos oportunidade
de abordar no item 2 da Seo 2 do Captulo 3, continuamos com a convico de que o diagnstico de Levinas
acerca da obra heideggeriana acertado. A discusso, no entanto, extrapolaria os limites do presente trabalho.
DUARTE, Andr. Heidegger, a essncia da tcnica e as fbricas da morte: notas sobre uma questo controversa,
pp. 50-65. Sobre o tema, a magistral anlise de CAPUTO, John. , pp. 187-207.
295
Faria Costa tambm anota tal aspecto: Por isso, quanto a ns, sublinhemos antecipadamente, ambas as
formas [direito natural e sistemismo] so expresses de um pensamento totalizante do saber e do julgar terico-
prtico, a que acresce, quanto ltima, que a aparente neutralidade cientfica nada mais do que a expresso da
prpria ideologia cientfica. FARIA COSTA, Jos Francisco de.
. Coimbra: Coimbra Editora, 2000, 111. E mais adiante, em nota
de rodap: , pois, dentro deste esprito, que consideramos o sistema como efabulao, na justa medida em que,
ao desprender-se do real, constri o real sistmico que julga ser o real verdadeiro. Deste modo o sistema, quando
se quer sobrepor, ponto por ponto, ao real, nem sequer ganha a fora explicativa que o discurso efabulante traz
compreenso das coisas do quotidiano (n. 64).
296
SOUZA, Ricardo Timm de. , p. 52.
97
O Direito Penal do Inimigo mais uma manifestao da guerra contra a ambivalncia,
travada pela Modernidade. O Outro que no reduz minha representao
297
aqui
sob a forma da expectativa deve ser destrudo. A racionalidade reduzida a um
instrumental a servio do sistema.
A pureza do cidado demarcada a partir da ordem funcional: os fiis ao ordenamento
jurdico recebem o tratamento penal tradicional; aqueles que, contrafaticamente, se opem
s expectativas sociais de maneira freqente recebem o tratamento blico. A transgresso
das linhas da ordem representa a impureza e o perigo. O indivduo v-se reduzido do carter
de ao impessoal e objetivante.
Jakobs, curiosamente, aproxima-se das categorias tratadas por Mary Douglas em
Pureza e Perigo, mas avana ao tratar o enquanto . Sua
personalidade reduzida a uma correlao com a Totalidade. E mais: no apenas, como v
Bauman, esse projeto significa um reposicionamento para determinada ordem,
mediante eliminao ou exlio de elementos a ela estranha. O Direito Penal do Inimigo
assume uma dimenso utpica: implica um com a estrutura conhecida para a
expulso das ervas-daninhas.
Esse projeto s pode se dar no tempo engessado da Modernidade. Como aponta Bhabha,
ao falar do tempo da nao, trata-se de um tempo sem durao
298
. Um tempo homogneo
que pretende reduzir o seu prprio fluxo a um mero desenrolar previsvel de um presente que
se no futuro.
No h dvida que o Direito Penal do Inimigo se constri a partir do . com essa
irrigao permanente que se alimenta o preconceito, um preconceito que sobretudo de um
tempo , de algo imprevisto que vem romper com o meu presente. E o eixo desse
297
Ver Captulo III.
298
BHABHA, Homi K. . Trad. Myriam vila et al. Belo Horizonte, UFMG, 1998, p. 202.
98
rompimento s pode ser o Outro, aquele que no se reduz s minhas categorias
representacionais, aquele que rompe com as expectativas.
O indivduo, assim, reduzido ao estado de , despersonalizado, jogado na
condio de inumano. Em estado de preconceito, no existe mais indivduo, grupo, multido
e nem mesmo, em sentido estrito, massa: apenas existe o , e isto suficiente para que
todas as distines anteriores desapaream
299
. O que integraliza a figura do Inimigo
enquanto representao despersonalizada do
300
.
A racionalidade em Jakobs um puro instrumento da Totalidade: reduz-se a tornar mais
eficaz a diviso entre puros e impuros, identificando o perigo nos ltimos e ultimando com a
idia de guerra, eliminao, destruio, com o intuito de manuteno da ordem funcional.
Prev, ainda, o rompimento com a prpria ordem funcional vigente, em prol de outra que
seria ainda mais totalitria. O impuro Inimigo excludo, mediante operaes de guerra,
azeitando das engrenagens da mquina produtora de iguais
301
fiis ao Direito
302
.
299
SOUZA, Ricardo Timm de. , p. 61.
300
Por isso, todo o preconceito, desde suas premissas, apresenta uma face de razoabilidade razovel desde o
seu princpio, e entra em contradio consigo mesmo no momento em que a outra face, face da violncia, se
mostra de maneira aberta ou velada, consciente ou inconsciente. perigosa
objeto perigoso.
SOUZA, Ricardo Timm de. , p. 63, itlico no
original, negrito meu.
301
Sonhando a vida inteira em no ser mais do que lixo, o preconceituoso se realiza quando transformado
efetivamente em lixo para combusto da explorao e violncia contra o outro. Essa sua nica festa, a nica
que se permite; no ser, no fundo, , seu sonho mais recndito, e habitar uma regio onde a esperana no
possa alcan-lo sua concepo de porto seguro. Morto-vivo, capitulou diante do mundo; fugiu da histria para
no ter de entender nem ao menos sua prpria histria. A atitude preconceituosa a negao da inteligncia, ou,
o que d no mesmo, a negao da abertura ao outro. SOUZA, Ricardo Timm de.
, p. 70.
302
O filme (V for Vendetta, EUA/Alemanha, Direo: James McTeigue, 2006) mostra, de
certa forma, o papel de ambivalncia que, em certos contextos histricos, pode ter o terrorista em relao
ordem funcional vigente e um controle social em nvel aberrante. Parece muito claro de que lado estaria a teoria
do Direito Penal do Inimigo naquele contexto.
99
O depende estrutural e , para sua prpria
consistncia e sistematizao, da categoria Inimigo
303
. partir dela que ele se conforma.
Sem ela, reduzido a p. Categoria que se move a partir de uma idia do
Outro, medida que somente com segurana cognitiva que possvel partilhar dos
direitos na sociedade. Jakobs afirma, precisamente no captulo acerca da Personalidade Real
e Periculosidade Ftica:
O mesmo ocorre com a personalidade do autor de um fato delitivo: tampouco esta
pode se manter de modo puramente contraftico, sem nenhuma confirmao
cognitiva. Pretendendo-se no s introduzir outrem no clculo como indivduo, isto
, como ser que avalia em funo da satisfao e da insatisfao, mas tom-lo como
pessoa, o que significa que se parte de sua orientao com base no lcito e no ilcito.
Ento, tambm esta expectativa normativa deve encontrar-se cimentada, nos
aspectos fundamentais, quando maior for o peso que corresponda s normas em
questo
304
.
No possvel sustentar uma expectativa normativa seno com base em uma
que se detm do Outro. A personalidade do autor de um fato delitivo no pode
estar em situao na qual no oferece qualquer garantia cognitiva. , portanto, na idia de
que se estrutura o clculo que permite medir se a personalidade suscetvel de ser
tipificada como inimiga.
303
Como diz Basoco: El concepto nuclear es el de enemigo: lo irreconciliablemente opuesto. TERRADILLOS
BASOCO, J. M. . Una convivencia cmplice. En torno de la construccin terica del denominado Derecho
penal del enemigo. In: , v. 2, p. 1016.
304
JAKOBS, Gnther. , p. 34.
100
O Outro se projeta internamente mente do aplicador do Direito Penal do Inimigo
305
, de
sorte que, mediante um clculo cognitivo, deve este analisar se a que detm
daquele suficiente para asseverar se capaz de se comportar de modo
contrrio ao ordenamento jurdico. o elemento da que ir ser decisivo.
Portanto, o Direito Penal conhece dois plos ou tendncias em suas regulaes. Por
um lado, o tratamento com o cidado, esperando-se at que se exteriorize sua
conduta para reagir, com o fim de confirmar a estrutura normativa da sociedade, e
por outro lado, o tratamento com o inimigo, que interceptado j no estado prvio,
a quem se combate por sua periculosidade
306
.
mediante uma da personalidade de Outrem que se avaliaro as condies
para que seja tratado enquanto pessoa. a partir da que surgir a questo propriamente dita
da respectiva periculosidade. Na esfera da representao o Outro ser apreendido e, mediante
um clculo , verificadas suas condies para ser tratado enquanto pessoa, usufruindo
dos direitos prprios daquele que integra a sociedade. Mediante , frise-se, como
procedimento legtimo para inferir-se a personalidade de Outrem. na via cognitiva prpria
do , na ordem do teortico que se situa o elemento-chave para desconstruir a idia.
da discusso sobre a viabilidade, no contexto de um Estado de Direito, de um
Direito Penal do Autor
307
, possvel abrir uma fenda e investigar a raiz se localiza
propriamente a pressuposio fundante, para que seja possvel na problemtica do
Direito Penal do Autor. nessa escavao que se pretende posicionar a argumentao.
305
Considerando que o Direito Penal do Inimigo no se orienta pelo , sendo
fundamentalmente um processo penal de guerra, segundo o prprio Jakobs, utilizou-se, simplesmente, o termo
vago de aplicador, pois pouco se sabe se ser um magistrado. Com a expresso, inclusive, podem estar
abrangidos eventuais peritos que poderiam ser os responsveis pela cognio da personalidade.
306
JAKOBS, Gnther. , p. 37. Sobre a periculosidade e seu
papel no contexto latino-americano: ZAFFARONI, Eugenio Ral. , pp. 40-44.
307
Sobre o tema, h uma quantidade numerosa de artigos, dos quais destacamos: MELI, Manuel Cancio.
Direito Penal do Inimigo? In: , pp. 80-81; REGHELIN, Elisangela Melo. Entre
terroristas e inimigos... , n. 66, So Paulo: Revista dos Tribunais, 2007,
pp. 298-302; AMBOS, Kai. Derecho Penal del Enemigo. In: , v. 1, p. 152; MELI, Manuel Cancio. De
nuevo: Derecho Penal del enemigo? In: , v. 1, pp. 373-374; CRESPO, Eduardo Demetrio. El Derecho
penal del enemigo In: , v. 1, pp. 493-495; DONINI, Massimo. El Derecho penal frente al
enemigo. In: , v. 1, pp. 652-665; LASCANO, Carlos Julio. La demonizacin del enemigo y la crtica al
Derecho penal del enemigo basada en su caracterizacin como Derecho penal del autor. In: , v. 2, pp. 203-
232; PASTOR MUOZ, Nuria. El hecho: ocasin o fundamento de la intervencin penal? Reflexiones sobre el
fenmeno de la criminalizacin del peligro de peligro. In: , v. 2, pp.423-548.
101
Tal itinerrio comea com a chamada runa da representao, de que falou Emmanuel
Levinas ao chamar o testemunho etnolgico de Lvy-Bruhl
308
, cujas idias sobre a
mentalidade primitiva marcaram, indelevelmente, a orientao da filosofia contempornea. O
empirismo intelectualista de Lvy-Bruhl que se exime de comentar se correto ou
equivocado no seria possvel sem uma filosofia do ser, que o embasa. O ser estruturado
como Natureza e correlativo de um conhecimento, nico acesso autntico realidade, acesso
e como que dominando a experincia. Mas precisamente a existncia de uma
mentalidade primitiva questiona a razo legisladora e mais antiga que ele
309
.
A utilizao do empirismo, mtodo prprio das cincias da natureza, acaba chegando,
por meio da investigao de fatos etnogrficos, a categorias que implodem as categorias
constitutivas do pensamento.
Essa exploso das categorias rompe com a que embasava toda vida
psicolgica, e com a substncia que fundava o ser. (...) Lvy-Bruhl questiona
precisamente a pretensa necessidade dessas categorias para a possibilidade da
experincia. Descreve uma experincia que despreza a causalidade, a substncia, a
reciprocidade como o espao e o tempo estas condies de todo objeto
possvel
310
.
a que comea, propriamente, o que Levinas nomeia de runa de representao. Ele
assim define o processo:
Por representao preciso entender a atitude teortica contemplativa, um saber,
quer seja de origem experimental, quer repouse sobre sensaes. A sensao
precisamente sempre foi tomada por um tomo de representao. O correlativo da
representao um ser posto, slido, indiferente ao espetculo que se oferece,
dotado de uma natureza e, conseqentemente, eterno, mesmo que mude, porque a
frmula da sua mudana imutvel; as relaes que ligam representao. Antes
de agir, antes de sentir, preciso o ser sobre o qual vai incidir a
ao, ou que suscita o sentimento
311
.
Mas a filosofia de hoje, dizia Levinas poca, no reconhece mais esse privilgio
representao
312-313
. Exemplifica, inicialmente, com a intuio de durao de Bergson. A
308
As idias desenvolvidas, extradas do ensaio Lvy-Bruhl e a Filosofia Contempornea, j haviam sido
ventiladas inicialmente em O Tempo e o Outro (LEVINAS, Emmanuel. . Barcelona:
Paids, 1993, p. 81). H outro ensaio, com nome idntico, j referido antes, no volume
.
309
LEVINAS, Emmanuel. Lvy-Bruhl e a Filosofia Contempornea. In: , p. 67.
310
LEVINAS, Emmanuel. Lvy-Bruhl e a Filosofia Contempornea. In: , p. 68.
311
LEVINAS, Emmanuel. Lvy-Bruhl e a Filosofia Contempornea. In: , p. 69.
312
Curiosos paralelos, na atualidade, existem com a observao de E. Levinas. Na realidade, possvel verificar,
por exemplo, que, dentro de uma tradio mais vinculada ao pragmatismo e filosofia analtica, Richard Rorty,
por influncia do pensamento heideggeriano, igualmente rechaa a idia representacional. Na sua obra
102
intuio no seria mais um saber sobre a durao, nem mesmo um saber que dura e cuja
durao coincidiria com a durao propriamente dita, como que um limite da representao
aproximando-se do objeto mesmo. A intuio no mais representao a ttulo algum:
durao simplesmente; , ao mesmo tempo, ser e experincia de ser.
Trata-se, em Bergson, de um colocar-se coisa, que no est obcecado por
encontrar a do objeto, pela sua razo ontolgica, mas pela . uma
metafsica (no sentido prprio daquele autor) em que no se pretende manter uma figurao
de determinada coisa, mas antes com ela. Naquilo que, propriamente, no se reduz
aos nossos esquemas intelectuais com os quais organizaramos uma idia da realidade. Como
nota Ricardo Timm de Souza,
trata-se de uma metafsica que no inicia como se fosse possvel, em algum
momento, transformar o pensamento em seu prprio contedo por uma prvia
depurao crtica das capacidades intelectuais do pensador, mas que o convida a
com algo, com alguma coisa: sem crticas infinitamente complicadas, mas
com a diferena entre o olhar de fora, com tudo o que isso significa, e estar dentro
de uma determinada realidade
314
.
De igual forma, na fenomenologia a intencionalidade do sentimento, na qual este
conservava o carter de , se substitui um sentimento apoio na representao. O
carter apreensor do sentimento no mais visto que espcie de ressonncia de um saber
sobre uma afetividade trancada em si mesma, ou seja, como espcie de representao do que o
sentimento propriamente seria na sua forma enclausurada, mas antes do ser
que a sensao
315
.
fundamental , Rorty desenha a imagem da filosofia tradicional a partir da
idia de conhecimento, que seria representar acuradamente o que est fora da mente; assim, compreender a
possibilidade e natureza do conhecimento compreender o modo pelo qual a mente capaz de construir tais
representaes (p. 19). Para Rorty, Wittgenstein, Heidegger e Dewey mostram-se concordantes em que a
noo de conhecimento como representao acurada, tornada possvel por processos mentais especiais e
inteligvel atravs de uma teoria geral das representaes deve ser abandonada (p. 21). Ele, ao contrrio, prope
que so as imagens mais que as proposies, as metforas mais que as afirmaes que determinam a maior
parte das nossas convices filosficas. A imagem que mantm cativa a filosofia tradicional a da mente como
um grande espelho, contendo variadas representaes algumas exatas, outras no e capaz de ser estudado por
mtodos puros, no-empricos (p. 27). RORTY, Richard. . Trad. Antnio
Trnsito. Rio de Janeiro: Relume-Dumar, 1994.
313
Mrcio Seligmann-Silva traa, a partir da noo de catstrofe, a impossibilidade de representao, prximo a
Walter Benjamin. Com a nova definio da realidade como catstrofe, a representao, vista na sua forma
tradicional, passou ela mesma, aos poucos, a ser tratada como impossvel; o elemento universal da linguagem
posto em questo tanto quanto a possibilidade de uma intuio imediata da realidade. SELIGMANN-SILVA,
Mrcio. A Histria como Trauma. In: . Org. Arthur Nestrovski e Mrcio Seligmann-
Silva. So Paulo: Escuta, 2000, p. 75.
314
SOUZA, Ricardo Timm de. , p. 25.
315
LEVINAS, Emmanuel. Lvy-Bruhl e a Filosofia Contempornea. In: , p. 70.
103
A representao do sentimento, ao contrrio de se constituir como descrio do que
realisticamente ocorreria, seria o inverso: formas coaguladas e superficiais daquilo
que constitui mais profundamente o real. Esta realidade profunda desdobra seu existir em
dimenses que as categorias prprias da idia representacional seriam insuscetveis de
reproduzir, das quais em sentido oposto a Kant nos aproximamos diretamente, sem
mediao, porm por modos de existncia distintos do teortico
316
. A fenomenologia, diz
Levinas de forma direta, a destruio da representao
317
.
precisamente essa problematizao da idia de representao que deve chamar
ateno quando nos deparamos com a suposta cognio do Inimigo. Antes, porm, entende-
se necessrio travar um percurso com as da idia representacional aplicada ao
Outro, etiquetado enquanto Inimigo, fundamentalmente a partir da periculosidade, que
funciona como critrio nodal na teoria de Jakobs.
Enquanto , ou seja, no apenas no nvel lgico e epistemolgico, a
distino entre cidado e inimigo, mediante a aplicao de um suposto critrio de
periculosidade, traz conseqncias concretas, que se conjugam com determinadas formas de
representao que devem ser analisadas de forma , ou seja, pelo que efetivamente
constituem, e no apenas pela inconsistncia cientfica ou jurdica. O esforo desconstrutivo
deve se dar, portanto, de forma a exibir, a partir do transbordamento da representao, seu
limite e sua relevncia, apresentando a ela seu Outro.
Assim, necessrio que a investigao orientada em sentido
proponha um o Inimigo, supostamente detm a personalidade contraftica,
para somente ento, exibindo as circunstncias em que se produz o fenmeno da
definio do Inimigo, reposicionar a partir da razo tica, de acordo com o que foi proposto.
Prope-se, assim, um itinerrio que passa inicialmente pela idia de estigma enquanto
situao em que, por excelncia, o Outro se submete ao esquema representacional, passando-
316
LEVINAS, Emmanuel. Lvy-Bruhl e a Filosofia Contempornea. In: , p. 71.
317
A fenomenologia a destruio da representao e do objecto teortico. Ela denuncia a contemplao do
objeto (que, no entanto, parece ter promovido) como uma abstraco, como uma viso parcial do ser, como um
, poderamos dizer em termos modernos,
. LEVINAS, Emmanuel. . In: Descobrindo a
Existncia com Husserl e Heidegger, p. 139.
104
se por uma densificao criminolgica voltada para o Poder Punitivo, especialmente no
Brasil. Finalmente, desembocamos na crtica de raiz , sustentada a partir do
concebido por Emmanuel Levinas em comentrio ontologia fundamental de Martin
Heidegger.
Estigma termo cunhado pelos gregos para se referir a sinais corporais com os quais
se procurava evidenciar alguma coisa de extraordinrio ou mau sobre o moral daquele
que os detinha. Erwin Goffman sinala que, na vida cotidiana, temos pr-concepes que
transformamos em expectativas normativas, apresentadas de modo rigoroso. Goffman define
o estigma da seguinte forma:
Enquanto o estranho est a nossa frente, podem surgir evidncias de que ele tem um
atributo que o torna diferente de outros que se encontram numa categoria em que
pudesse ser includo, sendo, at, de uma espcie menos desejvel num caso
extremo, uma pessoa completamente m, perigosa ou fraca. Assim, deixamos de
consider-lo criatura comum e total, reduzindo-o a uma pessoa estragada e
diminuda. Tal caracterstica um estigma, especialmente quando seu efeito de
descrdito muito grande algumas vezes ele considerado um defeito, uma
fraqueza, uma desvantagem e constitui uma discrepncia especfica entre a
identidade social virtual e a identidade social real
318
.
O estigma, no entanto, no diz respeito a um trao especfico profundamente
depreciativo, mas a uma que assim o trata. O contedo do estigma deve ser
dessubstancializado: a partir das relaes sociais que ele se constitui, dependendo do
contexto em que ele aparece
319
. Trata-se de uma espcie de constante sociolgica em que se
verifica que, diante de uma situao em que o indivduo poderia ser admitido sem maiores
dificuldades, h um elemento especfico que torna invivel essa aceitao pelas pessoas
normais. Goffman comenta:
318
GOFFMAN, Erwin. . Traduo Mrcia
Nunes. 4 ed. Rio de Janeiro: LTC, 1988, p. 12.
319
GOFFMAN, Erwin. , p. 13.
105
Em todos esses exemplos de estigma, entretanto, inclusive aqueles que os gregos
tinham em mente, encontram-se as mesmas caractersticas sociolgicas: um
indivduo que poderia ter sido facilmente recebido na relao social quotidiana
possui um trao que pode-se impor ateno e afastar aqueles que ele encontra,
destruindo a possibilidade de ateno para outros atributos seus. Ele possui um
estigma, uma caracterstica diferente da que havamos previsto
320
.
O estigma, assim, caminha junto com a idia de representao. um caso em que um
trao determinado sobressai sobre os demais e se pe de tal forma determinante que o
normal, ao se relacionar com o estigmatizado, no o consegue ver seno como essa
caricatura. A partir disso, inferioriza-se o estigmatizado, muitas vezes a partir de teorias que
justificariam a animosidade.
Construmos uma teoria do estigma, uma ideologia para explicar a sua inferioridade
e dar conta do perigo que ela representa, racionalizando algumas vezes uma
animosidade baseada em outras diferenas, tais como a de classe social
321
.
As observaes de Goffman podem ser cotejadas com a pesquisa etnogrfica realizada
por Norbert Elias no municpio nomeado ficticiamente , ao distinguir os
estabelecidos dos . Trata-se de uma comparao que passa do grau micro para o
macro. Do estigma que se reflete numa relao micro-social para a diviso de poder entre o
e os que coloca em uma posio inferior os ltimos. Segundo Elias,
Como indica o estudo de Winston Parva, o grupo estabelecido tende a atribuir ao
conjunto do grupo outsider as caractersticas ruins de sua poro pior de sua
minoria anmica. Em contraste, a auto-imagem do grupo estabelecido tende a se
modelar em seu setor exemplar, mais nmico ou normativo na minoria dos seus
melhores membros. Essa distoro , em direes opostas, faculta ao
grupo estabelecido provar suas afirmaes a si mesmo e aos outros; h sempre
algum fato para provar que o prprio grupo bom e que o outro ruim
322
.
Trata-se de uma disposio anloga do estigma, vez que neste especfico
particularmente em detrimento do todo do indivduo, enquanto que na organizao
social a imagem do grupo estabelecido naquilo que tem de normal e o
naquilo que tem de anmico
323
. A observao de Norbert Elias particularmente importante
320
GOFFMAN, Erwin. , p. 14.
321
GOFFMAN, Erwin. , p. 15.
322
ELIAS, Norbert. Traduo Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000,
p. 23.
323
A problemtica pode ser densificada a partir da introduo do conceito de gueto, que, como afirma Wacquant,
uma mquina coletiva de identidade potente, fixando a diviso entre duas formas bastante distintas. O gueto,
106
se, assim como j se realou em relao ao estigma, notarmos que h uma idia , de
na expresso auto-imagem.
Igualmente, como no processo de estigma, o submetido a uma racionalizao
teortica que tenta explicar o porqu da sua inferioridade. Acompanhe-se a citao de Elias:
...o estigma social que seus membros atribuem ao grupo dos outsiders transforma-
se, em sua imaginao, num estigma material coisificado. Surge como uma
coisa objetiva, implantada nos outsiders pela natureza ou pelos deuses. Dessa
maneira, o grupo estigmatizador eximido de qualquer responsabilidade: no
fomos , implica essa fantasia, que estigmatizamos essas pessoas e sim as foras
que criaram o mundo elas que colocaram um sinal nelas, para marc-las como
inferiores ou ruins
324
.
possvel, assim, correlacionar os casos anlogos em que uma determina
uma imagem que se sobrepe ao verdadeiro eu do representado. No estigma, h um ou mais
traos especficos que impedem a aceitao do Outro, sobrepondo-se a todos os demais,
enquanto que no grupo a prpria diviso de poder que assim os estabelece como
tais, sobrepondo o que anmico ao nmico. Tais fenmenos, por bvio, advm da
mesma e, por isso, podem ser simultneos.
H. Becker, citado por Goldenberg, afirma que so os grupos sociais que criam o desvio
ao fazer as regras cuja infrao o constituem, para rotular os trangressores de marginais e
desviantes. Desse ponto de vista, o desvio no uma qualidade do ato que a pessoa comete,
mas uma conseqncia da aplicao por outras pessoas de regras e sanes a um
transgressor
325
. Resta confirmada, pois, a assertiva de Goffman, de que o estigma no est na
caracterstica , mas antes no feixe de relaes que a constitui enquanto tal.
O estigma, inclusive, s vezes to forte que contamina o prprio pesquisador. Em
certos casos, segundo Goffman,
primeiramente, aprofundaria o abismo scio-cultural entre a categoria marginalizada e a populao que a
circunda, tornando seus morados objetiva e subjetivamente distintos dos demais; em segundo lugar, um
motor de combusto cultural que derrete as divises dentro do grupo confinado e alimenta o orgulho coletivo ao
mesmo tempo em que fortifica o estigma que o assola. WACQUANT, Loc. Que Gueto construindo um
conceito sociolgico. , v. 23, Curitiba, 2004. Disponvel em <www.scielo.br>.
Acesso em 13.08.2007.
324
ELIAS, Norbert. , p. 35.
325
GOLDENBERG, Mirian.
. 2 ed. Rio de Janeiro: Record, 2005, p. 20.
107
a identidade social daqueles com quem o indivduo est acompanhado pode ser
usada como fonte de informao sobre sua prpria identidade social, supondo-se
que ele o que os outros so. O caso extremo, talvez, seja a situao em crculos de
criminosos: uma pessoa com ordem de priso pode contaminar legalmente qualquer
um que seja visto em sua companhia, expondo-o a priso como suspeito
326
.
A pesquisa de Mirian Goldenberg acerca da Outra (amante de homem casado)
emblemtica. O estigma da Outra, segunda ela,
presente tambm no discurso das pesquisadas, que associam seu comportamento a
algo errado, imoral, ilegal, autodenominando-se putas, promscuas ou traidoras, ao
mesmo tempo que demonstram o desejo de serem nicas, as oficiais, as
verdadeiras, e at de se casarem no civil e no religioso com seus parceiros faz
com a ambigidade contamine a prpria identidade do pesquisador. O estigma do
tema escolhido recai tambm sobre o pesquisador que se interessa por ele
327
.
Concedendo investigao mais concretude, possvel caminhar na direo da
definio de dos estigmas presentes no cenrio contemporneo. Exemplifica-se, a
partir de exemplos coletados por Bacila, algumas das meta-regras (condicionamentos na
prtica dos comportamentos humanos com base na crena em determinados valores) que
traduzem estigmas no cenrio atual.
Bacila exemplifica, inicialmente, a mulher. Segundo ele, o estigma da mulher
simbolizou em quase todos os tempos que a mulher um ser inferior, um ser impuro, com
crebro pequeno, pervertida moralmente e sujeita s imundcies que a manchariam para
sempre
328
. Atualmente, apesar de ter obtido reconhecimento jurdico de igualdade,
permanece na condio de inferioridade social, vtima de preconceitos que podem
obstaculizar, por exemplo, o seu acesso a determinadas carreiras profissionais.
326
GOFFMAN, Erwin. , p. 58.
327
GOLDENBERG, Mirian.
, p. 18.
328
BACILA, Carlos Roberto. . Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p.
117.
108
A questo alusiva Outra, referida poucas linhas atrs, significativa. Construindo sua
argumentao a partir de Mary Douglas, Goldenberg mostra que o simples contato com um
tema impuro, como o adultrio, ou com pessoas em posies intersticiais, anti-sociais,
desaprovadas, j, por si s, pode despertar reaes semelhantes queles que nascem da
sujeira, ambigidade ou anormalidade
329
.
A mulher, embora sempre tenha praticado delitos, dificilmente caa nas malhas do
sistema penal, visto que o controle exercido era eminentemente de natureza informal,
praticado pelo chefe da famlia ou, quando fugia do lar diante da opresso sofrida, sofria
internaes em conventos ou instituies oficiais
330
. Bacila chega a radicalizar a meta-regra
reduzindo-a seguinte afirmao: o crime s pode ser cometido, via de regra, por seres
humanos; via de regra, a mulher no deve ter cometido tal crime; pois, a mulher no ser
humano; alis, um princpio inicial para a construo de todo esse raciocnio
331
.
Portanto, a mulher desempenha o papel ambivalente de autor insuspeito derivado do
deslocamento do controle formal para o controle informal e, simultaneamente, vtima
aceitvel, pois submetida a uma estrutura de poder onde ainda so dominantes os valores
patriarcais. Como afirma Bacila,
na interpretao da lei, v-se muito menos do que realmente existiu e esta
abstinncia interpretativa da lei diminui a condio humana da mulher no meio em
que vive e faz com que a sociedade adote meta-regras-estigmas na hora da
investigao e da aplicao da lei, deixando de criminalizar os autores de inmeros
delitos contra as estigmatizadas, processo este que fortalece ainda mais os estigmas,
numa espcie de cooperao implcita entre os no-estigmatizados homens para
manter a posio estigmatizada da mulher
332
.
Esse quadro j havia sido diagnosticado pela crtica Criminologia Crtica a partir do
horizonte feminista
333
, no sentido de que, ao concentrar-se sobre o surgimento do capitalismo
329
GOLDENBERG, Mirian. , p. 19.
330
BACILA, Carlos Roberto. , p. 121. Adrian Howe, citado por
Hudson, tem a mesma concluso: Howes suggestion is also consistent with the widespread finding that the
control of women is such as to uphold conventional gender and familial roles, as much as to penalize and control
criminality. HUDSON, Barbara A. Social Control. In: , p. 464.
331
BACILA, Carlos Roberto. , p. 124. Saliente-se ainda a existncia
de uma tendncia a impor tratamentos mdico e psicolgico a mulheres selecionadas pelo Poder Punitivo, em
detrimento de consider-las criminosas comuns. GELSTHORPE, Loraine. Feminism and Criminology. In:
, p. 518.
332
BACILA, Carlos Roberto. , p. 125.
333
Trata-se, aqui, sinale-se, de uma simplificao da pluralidade de perspectivas feministas. Loraine Gelsthorpe,
por exemplo, arrola seis tipos de feminismo (marxista, socialista, liberal, psicanaltico, existencial e ps-
moderno). Tm em comum, no entanto, a caractersticas de demonstrar a dominao da mulher e a formao de
109
e os cmbios que comportou, teria descurado da gnese de opresso das mulheres, que no
poderia ser reduzida a causas econmicas
334
. Segundo as feministas, seria absurdo rechaar a
utilizao simblica do Direito Penal, haja vista que sua igualmente produziria
efeitos simblicos, na reafirmao dos valores patriarcais. Alm disso, a falta de regulao da
esfera privada coloca a mulher em posio de inferioridade, abandonada lei do mais forte,
sendo que o Estado, ao renunciar interveno, mantm essa relao de poder desigual. A
no-interveno do Estado nessa esfera privada legitimaria a naturalizao da diviso
pblico-privado, aparentando naturalidade quilo que no passa de uma construo social
335
.
Independentemente dos problemas que as concepes punitivas feministas trazem, que
no cabe aqui discutir
336
, so sintomticos em relao representao diminuda que possui a
mulher nesse contexto, caracterizando uma espcie de estigma.
Outro estigma muito visvel o da pobreza. Bacila elenca o que define como fatores
objetivos e subjetivos do estigma da pobreza:
O ser humano em condies de pobreza afetado objetivamente porque a falta de
recursos econmicos priva a pessoa de produtos ou servios de subsistncia e da
moda. No primeiro caso o ser humano no tem alimentao adequada, domiclio,
remdios, assessoria educacional, jurdica, social, psicolgica... No segundo caso, a
pessoa no tem condies de acompanhar a onda e torna-se um excludo
compulsrio do sistema.
No aspecto subjetivo, sem dvida, a pobreza recebe uma valorao negativa. O
pobre tratado de forma inferior nos diversos setores sociais, fato que constrange e
arranjos institucionais masculinos para sustentar essa dominao. Ver: GELSTHORPE, Loraine. Feminism and
Criminology. In: , pp. 512-513.
334
LARRAURI, Elena. . Madrid: Siglo Vienteuno, 2000, p. 194. Nesse
caso, fica evidente que o termo utilizado em referncia Nova Criminologia defendida por Walton, Taylor e
Young, que constitui a recepo marxista do interacionismo simblico, que pouco tratava de problemas de
ordem econmica. Conforme TAYLOR, Ian; WALTON, Paul & YOUNG, Jock. .
Buenos Aires: Amorrortu editores, pp. 284-298.
335
LARRAURI, Elena. , pp. 220-221. Ver: BODELN GONZLES,
Encarna. Gnero y Sistema Penal: los derechos de las mujeres en el sistema penal. In:
, p. 266 (Esta perspectiva afirma que cuando un hombre y una mujer se enfrentan al
derecho, no se produce una discriminacin porque el derecho se aplique de forma desigual a la mujer, sino
porque se aplican criterios aparentemente objetivos y neutrales, pero en que realidad responden a un conjunto de
valores e intereses masculinos).
336
A prpria Elena Larrauri apresenta os argumentos contrrios s propostas feministas, ao enunciar que: a)
pouca proteo simblica pode advir de um sistema dominado por homens e impregnado de valores patriarcais;
b) representaria um desvio de foras, medida que o Direito Penal deveria ser dirigido a soluo mais rpidas
e eficazes; c) relegitimaria o Poder Punitivo, ignorando meios alternativos que oferecem maior autonomia e
auto-organizao das mulheres; d) vitimizao das mulheres, pois estaria a ver suas demandas contempladas com
desconfiana e mediante um exame moral; e) efeitos sobre o ofensor, pois no se escaparia da carga seletiva e
injusta do Direito Penal simblico. LARRAURI, Elena. , p. 221. Sobre o
tema, adere-se integralmente perspectiva defendida por SINGER, Helena. Direitos Humanos e Volpia
Punitiva. , vol. 37, 1998, pp. 10-19.
110
humilha, ferindo sua dignidade, que um direito humano reconhecido j no incio
do sculo XVIII. Este julgamento (e tratamento) depreciativo reflete-se em todo
mbito social
337
.
O pobre interpretado socialmente como algum que no teve xito na vida por no
dispor das mesmas capacidades daqueles que pertencem a estratos econmicos superiores.
Sua representao deteriorada em uma viso de decadncia e impureza. O de riqueza
funciona como meta-regra que condiciona a idia de gente de bem, na expresso de Bacila
(ou na vulgarmente conhecida expresso cidado de bem). Com isso, o Poder Punitivo
apesar de ubiqidade do fenmeno criminal tende a dirigir-se aos estratos que se encontra
nessa posio econmica vulnervel.
A questo se torna particularmente mais complexa na sociedade atual. Numa sociedade
que se orienta prioritariamente em direo ao consumo, aqueles que no dispem da
capacidade econmica de se manter no padro so vistos como sujeira que polui o
ambiente, desfuncionalizando-o. Os consumidores falhos, na expresso de Zygmunt
Bauman, so tratados enquanto refugo e, de preferncia, excludos mediante encarceramento
ou outras estratgias
338
. A especfica relao com o Poder Punitivo ser trabalhada a seguir,
nesse momento pretendemos apenas fixar a existncia de um estigma na pobreza, que ganha
contornos hiperblicos numa sociedade onde o consumo ganha tamanha relevncia.
Trata-se de uma poca em que cai bem a metfora que contrape e :
o viaja porque quer, dispe da faanha de no pertencer ao lugar que est visitando,
estando dentro e fora simultaneamente, permanentemente no controle de uma situao em
que sua identidade no se quer fixar. O , por outro lado, vive a circunstncia
oposta, se fixar, mas no v alternativa seno a de se manter viajando, pois nenhum lugar
em que pra bem-vindo
339
.
O pobre o vagabundo que est a servio do turista, esperando para poder se fixar em
um mundo que o expulsa constantemente. Como um resto, excludo em uma sociedade na
qual o sonho moderno de assimilao foi deixado de lado, sobre ele projetada uma
representao de impureza e sujeira, constituindo um estigma que o joga em condio de
vulnerabilidade social. Antinmico por excelncia da idia de , pela bvia
337
BACILA, Carlos Roberto. , p. 134.
338
BAUMAN, Zygmunt. , p. 24.
339
BAUMAN, Zygmunt. , pp. 114-118.
111
insuficincia de recursos, o pobre tem sua imagem ainda mais estigmatizada num panorama
onde esse valor desempenha um papel predominante.
H ainda um estigma a ser explorado: o da raa no-predominante
340
. A raa
definida como o conjunto dos indivduos com determinada combinao de caracteres fsicos
geneticamente condicionados e transmitidos de gerao em gerao em condies
relativamente estveis
341
.
No se desconhece a inconsistncia cientfica do termo, produto de um discurso
cientfico que, de forma , funcionava como legitimante da ostensividade do
poder
342
. Os ecos na Amrica Latina da produo antropolgica que sustentou o discurso da
raa surgiram a partir de Jos Ingenieros com discurso agressivamente racista contra os
negros africanos e mestios sul-americanos e Nina Rodrigues, no Brasil, no sentido de que
os mestios constituiriam sub-raa inferiorizada, propensa vadiagem e ao delito
343
.
Ruth Gauer, em interessante releitura de obras capitais latino-americanas, apoiada
sobretudo em Homi K. Bhabha, prope que a perspectiva cientificista pretendeu criar uma
dualidade entre a ordem civilizatria e a barbrie autctone. Porm, a partir de Bergson,
lembra a autora que a nossa prpria histria um mito, atravs do qual exprimimos o nosso
acordo com nossas formas de ser
344
. Bhabha chamaria ateno para o fato de que os nossos
referentes de significao (raa, povo, nao, gnero) no existem em sentido natural, mas na
tenso histrica da sua enunciao. As oposies no tm origem; apenas emergem
345
.
340
A expresso de Bacila. No entanto, notrio que os negros constituem a maioria da populao, devendo ler
a expresso como pr-dominante, hifenizada.
341
BACILA, Carlos Roberto. , p. 145.
342
DIVAN, Gabriel Antinolfi. Discurso Evolucionista nas Origens da Criminologia Latino-Americana: Racismo
e Hierarquia Social em Jos Ingenieros e Nina Rodrigues. , v. 22, Porto Alegre:
Notadez, abril/junho 2006, p. 168.
343
DIVAN, Gabriel Antinolfi. Discurso Evolucionista nas Origens da Criminologia Latino-Americana, p. 176.
Como afirma Salo de Carvalho, crendo-se longe das mistificaes e mitos da era colonial, o direito cincia,
fortemente influenciado pela criminologia [da escola positiva] e pela medicina legal, montou um projeto social
que exclua o negro dos resultados positivos que a sociedade poderia adquirir, pretenso que contrariava o
sentido cultural da miscigenao, ou seja, a pluralidade; miscigenao que somente era positiva caso limpasse e
jamais criasse. CARVALHO, Salo de. . Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 67. Ver, ainda:
SILVA FILHO, Jos Carlos Moreira. Da invaso da Amrica aos sistemas penais de hoje: o discurso da
inferioridade latino-americana. v. 07, Porto Alegre: Notadez, 2002, pp. 103-135;
GAUER, Ruth Maria Chitt. A Etnopsiquiatria na viso dos intelectuais brasileiros.
, v. 06, Porto Alegre: Notadez, 2002, pp. 91-104, defendendo que Nina Rodrigues introduziu espcie
de arianismo tropical (p. 94).
344
GAUER, Ruth Maria Chitt. Interrogando o limite entre historicidade e identidade. In:
. Org. Ruth Gauer. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 231.
345
GAUER, Ruth Maria Chitt. Interrogando o limite entre historicidade e identidade, p. 232.
112
possvel, assim, a formao de culturais, que poderiam contribuir para sobrepor essas
dualidades a partir dos entre-lugares, interstcios que implicariam a desapario das
categorias de centro e periferia
346
.
De fato, Bhabha pretende solapar o problema da diferena cultural a partir de uma
perspectiva que se desvencilhe do etnocentrismo de uma forma radical:
A diferena de outras culturas se distingue do excesso de significao ou da
trajetria do desejo. Estas so estratgias tericas que so necessrias para combater
o etnocentrismo, mas no podem, por si mesmas, sem serem reconstrudas,
representar aquela alteridade. No pode haver um deslizamento inevitvel da
atividade semitica para a leitura no problemtica de outros sistemas culturais e
discursivos. H nessas leituras uma vontade de poder e conhecimento que, ao
deixar de especificar os limites de seu prprio campo de enunciao e eficcia,
passa a individualizar a alteridade como a descoberta de suas prprias
pressuposies
347
.
A partir desse pressuposto, Ruth Gauer busca construir novas enunciaes, como, por
exemplo, na obra clssica de Alusio Azevedo, , na qual, ao contrrio da
interpretao tradicional, o amolecimento de Jernimo agora redescrito como um entre-
lugar inominvel, de sobrevivncia, que no caracteriza superioridade cultural em relao
a Rita, mas um alm que no nem Um nem Outro, porm define-se, ao mesmo tempo,
como um e outro, nem um e nem outro
348
. nesse momento de articulao cultural que se
d uma fratura na tendncia identitria moderna. Um processo de despurificao das
identidades sociais, negociao entre esses entre-lugares
349
.
Bhabha afirma, no mesmo sentido, que mesmo as lgicas crticas podem cair no mesmo
eurocentrismo. Diz o autor:
O que est em jogo quando se chama a teoria crtica de ocidental? Essa ,
obviamente, uma designao de poder institucional e eurocentrismo ideolgico. A
teoria crtica freqentemente trata de textos no interior de tradies e condies
conhecidas de antropologia colonial, seja para universalizar seu sentido dentro de
seu prprio discurso acadmico e cultural, seja para aguar sua crtica interna do
signo logocntrico ocidental, do sujeito idealista ou mesmo das iluses e deluses
da sociedade civil. Essa uma manobra familiar do conhecimento terico, onde,
tendo-se aberto o abismo da diferena cultural, um mediador ou metfora da
alteridade dever conter os efeitos da diferena. Para que seja institucionalmente
eficiente como disciplina, deve-se garantir que o conhecimento da diferena
346
GAUER, Ruth Maria Chitt. Interrogando o limite entre historicidade e identidade, p. 233-234.
347
BHABHA, Homi K. , p. 110.
348
GAUER, Ruth Maria Chitt. Interrogando o limite entre historicidade e identidade, p. 237.
349
GAUER, Ruth Maria Chitt. Interrogando o limite entre historicidade e identidade, p. 238.
113
cultural exclua o Outro; a diferena e alteridade tornam-se assim a fantasia de um
certo espao cultural ou, de fato, a certeza de uma forma de conhecimento terico
que desconstrua a vantagem epistemolgica do Ocidente
350
.
No se trata, portanto, de revitalizar o conceito de raa, tampouco conceder-lhe
contedo cientfico. Apenas reconhece-se que o fato que a noo de raa criou modelos de
diferenas deturpadas entre as pessoas, fenmeno esse conhecido por racismo
351
. Mesmo
correndo os riscos do fechamento alteridade, do sufocamento da diferena, pretende-se
apenas expor uma projeo representacional que recai sobre o Outro, com base em uma noo
de raa, e gera efeitos , apesar da respectiva inconsistncia terica.
So fortes, nesse sentido, as observaes de Luiz Eduardo Soares, MV Bill e Celso
Athade acerca do problema racial no Brasil. Segundo eles, conquanto muito se fale da
desigualdade social, ainda no possvel mencionar a cor da desigualdade. A cor o no-
dito, haveria um racismo diferente, mais cordial e doce
352
. Sobre esses muros do indizvel,
se constri uma excluso social sub-reptcia, que se manifesta a partir de um inconsciente
materializado, por exemplo, no muro da Rocinha, smbolo de um desejado social
353
.
A narrativa
uma descrio primorosa do perverso mecanismo representacional que recai sobre o negro,
em um processo de estigmatizao. Dona Nilza, personagem da narrativa, seria uma dona-de-
casa que pouco sairia rua, e veria bastante televiso, acompanhando o extraordinrio salto
da violncia desde 1988. Diante da multiplicao de vtimas derivada de uma manuteno da
taxa de crimes em longo perodo temporal e, de outro lado, o grande nmero de chacinas e
violncias diversas noticiadas constantemente, a sensao de medo tornou-se inevitvel. Foi
nesse cenrio que Dona Nilza teria sado rua, para ir ao centro da cidade. Segue a narrativa:
Entrou no elevador do edifcio comercial sozinha e apertou o boto. Ia ao 22 andar.
Na sobreloja, o elevador pra. Entra um rapaz negro, com aspecto pobre. Corria
tudo bem naquela abafada tarde de novembro, salvo pela chatice de ter de sair de
casa, tomar metr, esbarrar em tanta gente para atravessar as ruas e disputar espao
350
BHABHA, Homi K. , p. 59.
351
BACILA, Carlos Roberto. , p. 145. Ver: CATHUS, Olivier. O
preconceito forte como um leo: representaes do negro e da violncia na mdia. , v. 29,
Porto Alegre: EDIPUCRS, 2007, pp. 111-121, especialmente o experimento citado na p. 115; e GUIMARES,
Antonio Srgio Alfredo. Racismo e Anti-racismo no Brasil. , v. 43, CEBRAP: So
Paulo, 1995, pp. 26-44.
352
SOARES, Luiz Eduardo, MV BILL & ATHAYDE, Celso. . Rio de Janeiro: Objetiva, 2005,
p. 87. Ver: DAMATTA, Roberto. Rio de Janeiro: Rocco, 1984, pp. 37-47.
353
SOARES, Luiz Eduardo, MV BILL & ATHAYDE, Celso. , p. 86.
114
com os carros no trnsito selvagem. Dona Nilza nem pressentia a encrenca em que
se metera. Mal o elevador retornou seu impulso para o alto, a presso na cabea de
dona Nilza comeou a subir. Ela, enfim, se deu conta. Pronto, chegara a sua vez.
Por que no dera ouvidos aos conselhos das amigas? Por que no fizera consigo
mesma o que recomendava aos filhos? No podia ser poupada? No merecia uma
trgua? Seu problema coronrio no lhe valia um salvo-conduto? Por que diabos
no ficara em casa naquele dia? O destino estava selado. Que fazer? Numa situao
dessas no h nada a fazer. Tudo o que se fizer pode piorar as coisas. Sim,
verdade, preciso calma, preciso sobretudo manter a calma. Dona Nilza
aprendera a repetir, ensinando aos filhos: calma, mantenha sempre a calma. Se voc
fica nervoso, a tudo que se complica. Nervosa, provavelmente sob o efeito de
drogas, a pessoa capaz de tudo. Ento, nada de provocar nervosismo. Melhor agir
como se nada estivesse acontecendo.
O jeito como aquele rapaz revirava os bolsos e observava o espao sua volta,
examinando cada detalhe, olhos vermelhos, dentes cerrados e o peito explodindo de
dio, tudo indicava a iminncia do ataque
354
.
No 19 andar, o rapaz desceu, para alvio de Dona Nilza, e disse boa tarde.
Posteriormente, ao encontrar suas amigas, Dona Nilza surpreende com a seguinte expresso:
Voc nem imagina, no faz a menor idia do que me aconteceu hoje: quase, q-u-a-s-e fui
assaltada
355
.
Como afirma Luiz Eduardo Soares, ela no viu o rapaz com quem compartilhou a mais
longa viagem de elevador da sua vida. Olhou para ele e no o viu. Naquele rosto
desconhecido encontrou o que procurava, o que estava preparada para encontrar
356
. A pessoa
real do jovem negro que se colocava diante de seus olhos foi substituda por uma
representao deformada do Outro, que se projeta enquanto estigma. O racismo no foi sequer
percebido pela personagem: funcionou enquanto mecanismo inconsciente de projeo
representacional sobre o negro, esmagado pela representao.
Alm dos estigmas referidos, possvel elencar uma srie de outros que permeiam o
ambiente social (por exemplo: judeus, rabes, deficientes, etc.), o que, contudo, extrapolaria a
finalidade aqui proposta. Resta apenas acentuar os efeitos da do Outro
uma representao deformada, porm de forma ainda mais radical no caso do .
Estigma que, como se abordar a seguir, pode ser decisivo no fenmeno criminal.
354
SOARES, Luiz Eduardo, MV BILL & ATHAYDE, Celso. , p. 181.
355
SOARES, Luiz Eduardo, MV BILL & ATHAYDE, Celso. , p. 182.
356
SOARES, Luiz Eduardo, MV BILL & ATHAYDE, Celso. , p. 182.
115
A partir da virada criminolgica empreendida pela Criminologia Crtica
357
nos anos
setenta do sculo passado, deslocando-se a perspectiva dos para os
358
, foi possvel discernir, retirando-se qualquer contedo ontolgico do delito e
desfocando a questo etiolgica, a distino entre criminalizao primria e criminalizao
secundria.
A perspectiva do , contestando os fundamentos epistemolgicos da
criminologia tradicional a partir de uma crtica metodolgica, lastreada na defasagem
quantitativa e qualitativa entre delinqncia potencial e real e no relativismo cultural, retirou o
contedo ontolgico do delito
359
. Com isso, o nico trao comum entre os criminosos
passou a ser a resposta das agncias de controle
360
. Como afirma Erikson, citado por
357
Adotamos a nomenclatura de Figueiredo Dias e Costa Andrade (
. Coimbra: Coimbra editora, 1992, p. 41 e ss.), no sentido de situar a virada paradigmtica
empreendida pelo , etnometodologia e criminologia radical enquanto Criminologia Crtica.
Identificando Criminologa Crtica e Criminologa Radical (enfoque de Walton, Taylor e Young): FAYET JR.,
Ney. Consideraes sobre a Criminologia Crtica. In: Org. Ney
Fayet Jr. e Simone Corra. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, pp. 187-199. Tambm adotando a nossa
nomenclatura: ROCK, Paul. Sociological Theories of Crime. In: , p. 250.
358
Con la expresin cambio de paradigmas se describe, por conseguiente, un viraje en el objeto de estudiar al
delincuente y las causas de su comportamiento (paradigma etiolgico) se estudian los rganos de control social
que tienen por funcin controlar y reprimir la desviacin (paradigma de la reaccin social). LARRAURI, Elena.
, p. 28. Na expresso de Edwin Lemert, citado por Hudson: Older
sociology tended to rest heavily upon the idea that deviance leads to social control. I have come to believe that
the reverse idea, i.e., social control leads to deviance, is equally tenable and the potentially richer premise for
studying deviance in modern society. HUDSON, Barbara A. Social Control. In:
, p. 454. Ver, ainda: ANDRADE, Vera Regina Pereira de.
. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, pp. 182-189.
359
Pode-se afirmar que foram as investigaes de Sutherland acerca do que abriram caminho
para o repensar a conduta desviada no mais baseada em disfunes ou inadaptao do indivduo da ,
mas enquanto um fato ubquo. Ver: GARCA-PABLOS DE MOLINA, Antonio.
. 3 ed. Trad. Luiz Flvio Gomes. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, pp. 308-
312; BARATTA, Alessandro.
Traduo Juarez Cirino dos Santos. 3 ed. Rio de Janeiro: Revan, 2002, pp. 65-67 e 101-104;
MANNHEIM, Hermann. II Volume. Traduo Faria Costa e Costa Andrade. Lisboa:
Fundao Calouste Gulbenkian, s/d, pp. 721-763.
360
FIGUEIREDO DIAS, Jorge de & COSTA ANDRADE, Manuel da. , p. 346. Esta [a
criminalidade], se diz, no como um pedao de ferro, como um objeto fsico, seno o resultado de um processo
social de interao (definio e seleo): existe somente nos pressupostos normativos e valorativos, sempre
circunstanciais, dos membros de uma sociedade. GARCA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. , p.
320.
116
Figueiredo Dias e Costa Andrade, alguns homens bebem que em excesso so chamados
alcolatras, outros no; alguns homens que se comportam de forma excntrica so
compulsivamente internados em hospitais, outros no. Assim,
a diferena entre os que recebem um rtulo desviante e os que continuam o seu
caminho de paz depende quase que exclusivamente do modo como a sociedade
separa e cataloga os mltiplos pormenores das condutas a que assiste
361
.
O delito no mais descrito como um dado, seno como construo social que
requer um ato e uma reao social negativa. O delinqente no aquele que delinqe, mas
aquele a quem foi atribuda essa etiqueta. No o ato mesmo que constitui delito; mas
o que se concede a esse ato. No possvel catalogar nenhum ato como crime
antes da respectiva reao social
362
.
O dado fundamental trazido pela Criminologia Crtica a do controle penal,
que se exerce precipuamente em relao a indivduos que correspondem a esteretipos que
so costumeiramente associados imagem de delinqente
363
. Como afirma Garcia-Pablos:
O controle social altamente discriminatrio e seletivo. Enquanto os estudos
empricos demonstram o carter majoritrio e ubquo do comportamento delitivo, a
etiqueta do delinqente, sem embargo, manifesta-se como um fator negativo que os
mecanismos do controle social repartem com o mesmo critrio de distribuio dos
bens positivos (fama, riqueza, poder, etc.): levando em conta o e o papel das
pessoas
364
.
O sistema punitivo, a partir das respectivas agncias de controle, efetua o processo
seletivo de criminalizao a partir de dois momentos: 1) criminalizao primria, que ato ou
efeito de sancionar uma lei penal incriminatria; e 2) criminalizao secundria, que a ao
punitiva exercida efetivamente sobre pessoas concretas. Como nota Zaffaroni, a
criminalizao primria programa to intenso que jamais um pas conseguiu levar a cabo na
integralidade, pois . disparidade entre os conflitos efetivamente ocorridos e
aqueles que chegam s agncias criminais nomeou-se
365
.
361
FIGUEIREDO DIAS, Jorge de & COSTA ANDRADE, Manuel da. , pp. 346-347.
362
LARRAURI, Elena. , p. 30.
363
LARRAURI, Elena. , p. 35.
364
GARCA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. , p. 321.
365
ZAFFARONI, Eugenio Ral; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro & SLOKAR, Alejandro.
, pp. 43-44.
117
As agncias punitivas, dessa forma, no tm outra forma de atuar seno por meio da
seletividade, que no ocorre apenas com os criminalizados, mas tambm com os vitimizados.
Ante o escasso poder operacional para dar conta dos conflitos existentes, programa que lhe
delegado, as agncias devem optar pela inatividade ou pela seleo, seguindo, por isso, a
ltima opo, prpria da burocracia e exercida especialmente pelo aparato policial
366
.
A seleo efetivada a partir da criminalizao secundria orienta-se com limitaes
operacionais qualitativas. Como sinala Zaffaroni, em alguma medida, toda burocracia acaba
por esquecer seus objetivos, substituindo-os pela reiterao ritual
367
, de forma que a regra
geral desse processo de criminalizao acaba orientando-se por dois critrios: 1) fatos
grosseiros (obra da criminalidade, de mais simples deteco) e 2) de pessoas que
causem menos problemas (pelo acesso aos sistemas poltico
368
e econmico ou
)
369
.
Os atos mais grosseiros (criminalidade tosca) acabam sendo divulgados como os
e as pessoas que os cometem como os . A eles, segundo anota
Zaffaroni, correspondido pelos meios de comunicao um esteretipo no imaginrio
coletivo, sendo possvel, pela condio de pessoas desvaloradas, associ-los a uma imagem
pblica negativa de delinqente correspondente a preconceitos de gnero, classe, etnia,
etc.
370
. Assim, por um passo curioso, o grosseiro biologicismo criminal que imputava causas
como, por exemplo, a existncia de tatuagens
371
acaba ganhando sentido diverso e
366
ZAFFARONI, Eugenio Ral; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro & SLOKAR, Alejandro.
, pp., pp. 44-45.
367
ZAFFARONI, Eugenio Ral; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro & SLOKAR, Alejandro.
, p. 45.
368
Basta verificar-se, para tanto, que, at julho de 2007, segundo levantamento realizado pela Associao dos
Magistrados Brasileiros (AMB), no houve ainda nenhuma condenao de acusado em foro privilegiado perante
o Supremo Tribunal Federal, o que significa, em outros termos, uma do Poder Poltico ante as
agncias criminais. A NOTCIA. Santa Catarina: Procuradoria Geral da Repblica de Santa Catarina. Dirio.
Disponvel em <http://www.prsc.mpf.gov.br/noticiata17328(n) i o e
118
importante: identifica quais so os indivduos preferencialmente pelo Poder
Punitivo
372
. Se parece bvio que no h qualidades constitutivas e inatas do indivduo que lhe
o desvio, p. ex., o tamanho do nariz ou a cor da pele, certo que a pesquisa em
torno desses atributos embora nitidamente inadequada ao que se prope (etiologia criminal)
pode trazer indicativos dos critrios de seleo exercidos pelo Poder Punitivo. Atira-se no
que se v e acerta-se no que no se v, como afirma o dito popular.
A seletividade do Poder Punitivo provoca, dessa forma, uma distribuio seletiva em
forma de epidemia
373
. Pode-se aa
119
poder hegemnico e sofreu por isso uma ruptura na vulnerabilidade (
)
375
.
O poder punitivo funciona da forma exatamente inversa, portanto, ao que costuma
afirmar o discurso jurdico, que coloca em ordem legislador, juiz e d papel apenas nfimo
polcia no processo criminalizador. Na prtica, a polcia exerce o poder seletivo e o juiz pode
reduzi-lo, ao passo que o legislador apenas abre espao para o exerccio da seletividade nos
casos individuais
376
.
Se o teve indiscutvel mrito de relativizar o valor das estatsticas
criminais, exibindo a indisfarvel cifra oculta que percorre as sociedades contemporneas,
pela debilidade inerente ao Poder Punitivo, certo que na prpria perspectiva aberta pelo
as estatsticas servem como dados importantes para observarmos como funciona o
filtro seletivo. Em outras palavras: sobre quem costuma recair o processo de criminalizao
secundria nas circunstncias sociais concretas.
O estudo de Loc Wacquant sobre o programa de , estratgia
implementada em Nova York a partir do Governo Rudolf Giuliani, revela algumas nuances. O
programa baseado em teses formuladas pelo Manhattam Institute, especialmente aquelas
enunciadas por Murray e Herrnstein -, consistente na defesa de que as
desigualdades de classe e raciais nos EUA refletem diferenas individuais de carter
cognitivo, e por James Wilson a famosa , sustentando ser
indispensvel combater os pequenos distrbios cotidianos para fazer recuar as grandes
patologias criminais. Sua idia-fora , em sntese, de que o carter sagrado dos espaos
pblicos indispensvel vida urbana e, por isso, a desordem na qual vivem as classes pobres
terreno natural do delito
377
.
375
ZAFFARONI, Eugenio Ral; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro & SLOKAR, Alejandro.
, p. 49.
376
ZAFFARONI, Eugenio Ral; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro & SLOKAR, Alejandro.
, p. 51.
377
WACQUANT, Loc. , pp. 23-25.
120
Dessa forma, o objetivo da reorganizao do trabalho policial desenvolvido ser a
perseguio permanente dos pobres nos espaos pblicos para diminuir a sensao de
insegurana das classes mdia e alta
378
. O resultado dessa poltica que, como enuncia
Wacquant, a brigada especial constituda revistou e deteve mais de 45.000 pessoas sob a mera
suspeita do seu vesturio, aparncia, comportamento e, sobretudo, cor da pele. Mais de 37.000
dessas detenes foram consideradas gratuitas e, do restante, 8.000 foram consideradas
invlidas. O coeficiente final restaria, pois, de uma vlida em cada onze detenes. Cerca de
80% dos homens negros e latinos foram submetidos a esse processo
379
.
Evidentemente, a taxa de detenes no poderia ser equivalente ao total de pessoas
revistadas. Porm o que salta aos olhos o de seleo que identifica previamente
aqueles que so submetidos ao processo. Em trs quartos dos casos de queixas dessas
patrulhas, as vtimas eram residentes negros e latinos. 80% dos requerimentos de abuso foram
registrados nos bairros pobres. A esmagadora maioria dos negros de Nova York considerava a
polcia uma fora hostil, dos quais 72% consideram uso abusivo da fora e 66% identificam a
brutalidade comum entre os negros, contra apenas 33 e 24% entre os brancos
380
. Dessa forma,
como afirma Wacquant,
A tolerncia zero apresenta portanto duas fisionomias diametralmente opostas,
segundo se o alvo (negro) ou o beneficirio (branco), isto , de acordo com o lado
onde se encontra essa barreira de casta que a ascenso do Estado penal americano
tem como efeito ou funo restabelecer e radicalizar
381
.
No se trata de demonizar o programa Tolerncia Zero, podendo-se reconhecer
mritos como, por exemplo, o tratamento com a corrupo policial. Trata-se apenas de
constatar que, embora haja ubiqidade do delito nas diversas classes sociais, apenas as mais
vulnerveis sofrem punio diante de um quadro de repressivismo exacerbado. As estratgias
altamente punitivas, portanto, representam quase sempre mecanismos que recaem sobre essa
parcela da populao. Segundo Wacquant, por exemplo, embora os negros representem 13%
dos consumidores de drogas (seu peso demogrfico nos EUA), correspondem a um tero das
pessoas detidas e trs quartos das encarceradas por infrao a legislao de drogas. A
378
WACQUANT, Loc. , pp. 26.
379
WACQUANT, Loc. , pp. 35.
380
WACQUANT, Loc. , pp. 36-37.
381
WACQUANT, Loc. , pp. 37.
121
proporo das taxas de encarceramento em geral de 1995 era de 7,5 negros para cada
branco
382
. inquestionvel, pois, a seletividade do controle penal exercido furiosamente.
No Brasil, evidentemente, a situao no distinta. O problema racial, por exemplo,
percorre todo um horizonte em que se convive com o reconhecimento formal de direitos e,
simultaneamente, no se garante o mnimo de cidadania. Antonio Srgio Alfredo Guimares
expressa com preciso:
Em termos materiais, na ausncia de discriminaes raciais institucionalizadas, esse
tipo de racismo se reproduz pelo jogo contraditrio entre, por um lado, uma
cidadania definida de modo amplo e garantida por direitos formais, mas, por outro
lado, largamente ignorados, no cumpridos e estruturalmente limitados pela
pobreza e pela violncia policial cotidiana
383
.
Os cidados negros, embora no haja pesquisas empricas de maior contribuio para a
criminalidade, so alvos privilegiados das investigaes policiais, sendo percebidos, por meio
de processos de estigmatizao e preconceito, como potenciais perturbadores da ordem. Por
isso, como anota Srgio Adorno, se o crime no privilgio da populao negra, a punio
parece s-lo
384
. O Brasil ainda convive com sua herana conservadora e autoritria, legado
de um passado colonial escravista e patrimonialista
385
.
Adorno realiza uma pesquisa em torno de informaes extradas de processos penais
julgados em So Paulo em primeira instncia, durante o ano de 1990, referente a roubos
(inclusive latrocnio), trfico de drogas, estupro e extorso mediante seqestro. Conquanto a
populao, segundo o IBGE, fosse de 72,1% de brancos e 24,6% de negros (pretos e pardos),
a proporo de condenaes no crime de roubo foi de 54,33%, para negros, e 45,66%, para
brancos
386
. A pesquisa ainda revela tratamento desigual no que tange confisso no processo
judicial, priso em flagrante e negativa de liberdade provisria
387
. Os dados tambm indicam
que, enquanto os rus brancos apresentavam na proporo de 60,5% defensores constitudos,
382
WACQUANT, Loc. , pp. 94-95.
383
GUIMARES, Antonio Srgio Alfredo. Racismo e Anti-Racismo no Brasil, p. 42.
384
ADORNO, Srgio. Discriminao Racial e Justia Criminal em So Paulo. (43).
CEBRAP: So Paulo, 1995, p. 47.
385
ADORNO, Srgio. Discriminao Racial e Justia Criminal em So Paulo, p. 48.
386
ADORNO, Srgio. Discriminao Racial e Justia Criminal em So Paulo, pp. 51-52.
387
ADORNO, Srgio. Discriminao Racial e Justia Criminal em So Paulo, pp. 53-55.
122
os negros detinham apenas 38,1% nessa condio, o que influencia, inclusive, a avaliao da
prova testemunhal (cerca de 74,8% dos negros no apresentavam testemunhas)
388
.
Veja-se ainda a seguinte observao sobre a estatstica das condenaes:
O mais significativo foi verificar (...) maior proporo de rus negros condenados
(68,8%) do que de rus brancos (59,4%), em virtude do cometimento de crime
idntico. A absolvio favorece preferencialmente brancos comparativamente a
negros (37,5% e 31,2%, respectivamente). Para se ter uma melhor idia do que
podem essas propores traduzir, basta lembrar a composio racial da populao,
indicada pginas atrs. Rus negros condenados esto proporcionalmente muito
mais representados do que sua participao na distribuio racial do Municpio de
So Paulo. No o mesmo cenrio que se desenha quando esto em foco rus
brancos (...). Tudo sugere, por conseguinte, uma certa afinidade eletiva entre raa
e punio
389
.
Da mesma forma, ntida a predominncia de indivduos pertencentes a camadas
124
Particularmente no Brasil
396
, possvel que essa engrenagem punitiva, conquanto
pudesse vir eventualmente lastreada por um discurso universalista (por exemplo, propor um
Direito Penal do Inimigo aos crimes hediondos aos polticos corruptos
397
), certamente
atuaria com o funcionamento estrutural do sistema penal, operando perante a
populao estigmatizada que corresponde, sobretudo, a jovens negros de baixa de renda.
Catalisado pelo produzido pelas circunstncias contemporneas, como exposto no item
4 da Seo 1 do Captulo anterior, o Direito Penal do Inimigo atuaria como uma mquina de
eliminao da populao vulnervel, sobre a qual recaem todas as estratgias punitivas
beligerantes
398
.
No basta, no entanto, expor, a partir de um inflacionamento da representao, quem
desempenharia o papel de Inimigo no contexto contemporneo. necessrio ir mais longe,
investigando mais profundamente aquilo que constitui a representao e abrindo flancos para
que surja o Outro silenciado, mais uma vez. Com isso, chama-se o
Direito Penal do Inimigo perante aquele que ele pretende neutralizar.
normativa do Inimigo, mergulhando no texto, sem tirar a sobre a escritura, como a seguir
argumentaremos.
396
Jakobs admite, no entanto, a incidncia do Direito Penal do Inimigo na Colmbia: AMBOS, Kai. Derecho
Penal del Enemigo. In: , v. 1, p. 147. Distinguindo com preciso a aplicao do Direito Penal do Inimigo na
Amrica Latina da Europa, BELLO RENGIFO, Carlos Simn. La razones del Derecho penal. In: , v. 1, p.
322.
397
So pertinentes, nesse sentido, as agudas e precisas observaes de Ripolls ao identificar que o discurso da
sociedade do risco e toda neocriminalizao expansiva do Direito Penal fundada em avanos tecnolgicos vai
dando lugar a um processo de substituio por uma criminalizao , e no extensiva, concentrando-se
na punio de delitos clssicos, ainda que por vezes recauchutados com noes como crime organizado.
DEZ RIPOLLS, Jos Luis. De la sociedad del riesgo a la seguridad ciudadana: el debate desenfocado. In:
, pp. 570-575. Tambm nesse sentido: FEIJOO SNCHEZ, Bernardo. El Derecho penal del enemigo y el
Estado democrtico de Derecho. In: , v. 1, p. 830.
398
Trata-se de um processo de traduo da excluso ftica para a de excluso normativa, como sinalam bem
Meli e Dez. CANCIO MELI, Manoel & GMEZ-JARA DEZ, Carlos. Presentacin. In: , v. 1, p.
XVIII.
125
A falncia do pensamento representacional, tido por Jakobs como orientao para a
aplicao do Direito Penal do Inimigo projeo lgica das minhas representaes sobre
Outrem que lhe concede o carter de Inimigo pode ser conjugada com um reposicionamento
da racionalidade. A representao deteriorada do Outro, aqui representada no estigma e
desenvolvida a partir da referncia ao Poder Punitivo, ganha uma dimenso ainda mais densa
quando traamos a virada tica desenvolvida por E. Levinas sobre os ombros da
ontologia de Martin Heidegger.
Essa crtica de Levinas ontologia fundamental de Heidegger parece servir como
argumento suficiente para um deslocamento do foco da apreenso e "descrio" da
realidade, por G. Jakobs, para um pensamento que se estruture por categorias
ticas, para to-somente aps a totalidade dos problemas humanos.
Para tanto, ser necessrio demonstrar a da tica sobre o ato de conhecer. Do
contrrio, certamente os defensores do Direito Penal do Inimigo podero argumentar que,
conquanto seja deveras lamentvel a do indivduo definido pelo Poder
Punitivo como Inimigo, trata-se de submetido ao juzo da razo que apenas o
que ocorre na realidade
399
. Assim, a crtica tica estaria no nvel deontolgico, no
passando de carta de princpios sem aplicabilidade no mundo real.
399
Essa discusso feita exaustivamente ao longo de diversos trabalhos sobre o Direito Penal do Inimigo. No
entanto, os trabalhos pesquisados buscam distinguir os momentos descritivos das assunes
axiolgicas de Jakobs, mostrando que, por exemplo, a questo da contaminao ou da necessidade de
reconhecimento diz respeito a um juzo do prprio Jakobs. Ver: GRECO, Lus. Sobre o chamado direito penal do
inimigo. , n. 56, So Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, pp. 92-112.
Discutindo o tema de forma mais ampla, no sentido de que uma descrio jurdica sempre passa por um teor de
legitimidade, de acordo com a sociedade que visa: BELLO RENGIFO, Carlos Simn.
. In: , v. 1, pp. 304-324 e tambm, de forma aprofundada, SCHULZ, Lorenz. Fricciones de una
ficcin. El Derecho penal de Jakobs para enemigos. In: , v. 2., pp. 947-955. Nossa argumentao tem
ambies maiores: procura definir, a partir de outra matriz de racionalidade, como a neutralidade
, pois mesmo o conhecimento em si mesmo no neutro.
126
Apenas se demonstrarmos que o juzo tico a construo do Direito Penal do
Inimigo, que nele, antes mesmo de se formar enquanto conjunto de conceitos acerca da
realidade, j est inserida determinada forma de ver o mundo que diz respeito essencialmente
ao domnio tico, que teremos respaldo para confront-lo com outra racionalidade. Do
contrrio, o argumento ser considerado externo e, por isso, insuficiente para tocar o
do Direito Penal do Inimigo.
a partir, portanto, da crtica que Levinas faz a Heidegger, em relao idia de
ontologia fundamental, que se pretende demonstrar a existncia de uma na
obra de Jakobs, primacial em relao ao domnio da razo instrumental que posteriormente
lhe permite a formao de construtos intelectuais a gerar uma totalidade sistemtica. a partir
de uma (des)razo tica que Jakobs constri, com solidez intelectual, o Direito Penal do
Inimigo.
A ontologia heideggeriana, segundo Levinas, no permanece na ingenuidade da
ontologia tradicional, ou seja, de uma alma coeterna s idias, razo libertada das
contingncias temporais. Essa razo que conduzia a onto-teologia se esquece ou se
ignora, permanecendo ingnua diante da realidade. contingncia temporal, exatamente,
que se d a ontologia autntica na da existncia temporal. Na expresso de
Levinas, a ontologia no se realiza no triunfo do homem sobre sua condio, mas na prpria
tenso que essa condio se assume
400
.
A grande contribuio da ontologia fundamental parece ser o seu anti-intelectualismo.
Pensar no mais apenas contemplar, mas engajar-se, estar embarcado no que se pensa
acontecimento dramtico do ser-no-mundo. Pensar o ser j ser. Nossa conscincia no
esgota nossa relao com a realidade: estamos presentes em do nosso ser.
400
LEVINAS, Emmanuel. A ontologia fundamental? In: , p. 22.
127
O fato de a conscincia da realidade no coincidir com nossa habitao no mundo
eis o que a filosofia de Heidegger produziu forte impresso no mundo literrio
401
.
A existncia, portanto, transborda os limites das nossas percepes.
O mundo, na sua concretude extrema, deve servir de ponto de partida para a nossa concepo
sobre ele, provando, com isso, sua , e no uma fabulao ou um projetar-se nas
nossas crenas particularmente alienadas em um espao pretensamente vazio que nos
cercaria
402
. Compreender, nas palavras de Ricardo Timm de Souza, significa levar a
existncia realmente a srio em todas as dimenses possveis do real, ou seja, empenhar a
inteligncia para alm dos limites do existir
403
. , assim, em um cruzamento entre a
vontade de lucidez e a concretude que o mundo vai se .
Mas, apesar de todo anti-intelectualismo que rodeia a ontologia fundamental, logo a
filosofia da existncia se apaga diante da ontologia. O fato de estar lanado, ligado que estou
aos objetos no apenas pelo vnculo intelectual, se interpreta como . Em
conseqncia, o carter transitivo do verbo conhecer fica ligado ao verbo existir. A primeira
frase da de Aristteles que todo homem aspira a um conhecer permaneceria
verdadeira para uma filosofia que teria levianamente sido considerada desdenhosa do
intelecto
404
.
A leitura de no permite discordar de Levinas. Heidegger escreve:
Interpretando o compreender como existencial fundamental, mostra-se que esse
fenmeno concebido como modo fundamental de da presena. No sentido,
porm, de modo possvel de conhecimento entre outros, que se distingue, por
exemplo, do esclarecer, o compreender deve ser interpretado juntamente com
aquele, como um derivativo existencial do compreender primordial, que tambm
constitui o ser do pre da presena. (...) Enquanto abertura do em virtude de e da
significncia, a abertura do compreender diz respeito, de maneira igualmente
originria, a todo o ser-no-mundo
405
.
Assim, como afirma Gianni Vattimo, o existencial (isto , o modo de ser do )
que fornece o fio condutor desta parte da anlise , com efeito, a compreenso ( ). O
401
LEVINAS, Emmanuel. A ontologia fundamental? In: , p. 24.
402
SOUZA, Ricardo Timm de. Ontologia e Fundamentos: sobre A ontologia fundamental?. In:
. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2000, p. 72.
403
SOUZA, Ricardo Timm de. Ontologia e Fundamentos: sobre A ontologia fundamental?, pp. 72-73.
404
LEVINAS, Emmanuel. A ontologia fundamental? In: , pp. 24-25.
405
HEIDEGGER, Martin. , pp. 202-203.
128
est no mundo, antes de mais e fundamentalmente, como , alm de
tambm como afetividade
406
.
E Ricardo Timm de Souza disserta, com preciso:
Assim, temos com Heidegger uma grande sntese do que pode vir a significar a
compreenso: a resoluo mxima do que mais significativo foi sendo depurado
pela exigente tradio da filosofia ocidental; este o espao que o ser ocupa no
coroamento desta tradio e alvo precpuo e mais digno da investigao
filosfica
407
.
Heidegger, verdade, reconhece o ser-com como existencial elementar do ,
tendo-o como estrutura prvia a qualquer viso do ser-a de outrem enquanto
, que chegariam ao encontro enquanto uma soma de entes. Dentro do
mundo, o essencialmente ser-com, ainda que o outro no seja, de fato, percebido ou
dado. Mesmo o estar-s do ser-com
408
. Entretanto, na compreenso que repousar
a relao com o outro, vislumbrada a partir do prisma ontolgico-existencial.
Levinas no se ope compreenso enquanto tradio que se relaciona com o particular
colocando-se alm do particular. Mas, diz o filsofo lituano, tem-se o direito de perguntar se a
linguagem no est fundada numa relao
129
Veja-se a seguinte citao de
A abertura do co-presena dos outros, pertencente ao ser-com, significa: na
compreenso do ser da presena j subsiste uma compreenso dos outros, porque
seu ser ser-com. Como todo compreender, esse compreender no um conhecer
nascido de uma tomada de conhecimento. um modo de ser originariamente
existencial que s ento torna possvel conhecer e a tomada de conhecimento. Este
conhecer-se est fundado no ser-com que compreende originariamente. Ele se
move, no incio, segundo o modo de ser mais imediato do ser-no-mundo que com,
no conhecer compreensivo do que a presena encontra e do que ela se ocupa na
circunviso do mundo circundante. A partir da ocupao e do que nela se
compreende que se pode entender a ocupao da preocupao. O outro se
descobre, assim, antes de tudo, na preocupao das ocupaes
411
.
Pergunta, contudo, Emmanuel Levinas: na nossa relao com o outro, a questo ser
propriamente ? Ou melhor: aquele a quem se fala , previamente, compreendido
no seu ser? De forma alguma, responde. Outrem no primeiro objeto de compreenso e,
somente aps, de interlocuo. As duas relaes confundem-se. A compreenso de outrem
simultnea sua invocao
412
. Quando estou face-a-face com o Outro, imediatamente estou a
o cumprimentar, ainda que no o cumprimente.
Assim, como anota Marcelo Pelizzoli, para Heidegger o antropolgico, a subjetividade,
torna-se modalidade do ser, em um pano de fundo totalizante. O papel que a singularidade
do sujeito adquire na dialtica do Ser na prpria diferena ontolgica englobaria e
tornaria inofensivo o acontecimento capital da alteridade. Nas palavras do autor referido, o
aparecer do ente luz do ser como inteligibilidade, em que ento todo homem ontologia,
pe a ontologia (fundamental) na mesma inspirao da tradio ocidental, onde o universal
pensado impera sobre o singular fugidio
413
.
411
HEIDEGGER, Martin. , p. 180.
412
A postura mesma do Outro frente ao Mesmo, sua dignidade sumamente sutil e essencialmente intocvel, que
se d em forma de a que se deve (e no esclarecer ou violentar neste
caso sinnimos), prope a necessidade inadivel do surgir de um entre realidades visceralmente
diversas. SOUZA, Ricardo Timm de. , p. 112.
413
PELIZZOLI, Marcelo Luiz. . Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002, p.
45. Mas, eis que Levinas inverte j a relao entre o ser e a compreenso que parecia ir alm do terico: se a
relao terica com o ser, o pensamento, na ontologia clssica era apenas uma das dimenses da nossa
existncia, a mais alta e a mais digna, a extenso heideggeriana da compreenso do ser para toda a existncia no
significa o superamento do intelectualismo, mas a infiltrao do terico, da inteligibilidade, da compreenso, em
todas as dimenses da existncia concreta do homem. Tambm as dimenses que no so pensamento
interpretam-se como compreenso. A transitividade do verbo ser, que parecia impressionar Levinas, revela agora
o significado do seu parentesco com o verbo conhecer. O compreender, isto , o conhecer, esgotaria o
significado da existncia; para a filosofia heideggeriana permanece ainda verdadeira e vlida a afirmao de
Aristteles que abre a Metafsica: Todos os homens aspiram por natureza ao conhecimento. KORELC,
130
Em sntese: compreender uma pessoa j falar-lhe. Ou seja, ter aceito,
considerado ou recebido uma pessoa j , por si s, uma relao , que no se
confunde com a compreenso. A linguagem, assim, no subordinada a uma conscincia
que se tomaria na presena de outrem, mas antes propriamente a partir da sua
chegada trata-se de uma a isso
414
.
No seio da manipulao, o ente no prprio movimento que o
apreende, e se reconhece neste alm necessrio presena junto a o prprio
itinerrio da compreenso. Este ultrapassamento no depende apenas da apario
prvia do mundo toda vez que operamos com manipulveis, como quer
Heidegger. Delineia-se ele tambm na e no do objeto. Nada disso
acontece ao se tratar da minha relao com outrem. Ali tambm, querendo-se, eu
compreendo o ser em outrem, alm da sua particularidade de ente; a pessoa com a
qual estou em relao, chamo-a ser, mas, ao cham-la , eu a invoco. No penso
somente que ela , dirijo-lhe a palavra. Ela meu no seio da relao que
s devia torn-la presente
415
.
Para superar a ontologia, necessrio posicionar Outrem enquanto primeiro dos temas.
Dessa forma, a ontologia superada em direo a um horizonte onde a relao de
compreenso com o ser no detm mais primado, antes superada por outra relao, ,
cuja matriz tica. Relao de rosto-a-rosto, na qual o intelecto perde a sua fora e a
dimenso de da razo abandonada em prol de uma relao de paz.
A compreenso, segundo E. Levinas, ao se reportar ao ente na abertura do ser, confere-
lhe significao a partir desse ser. Nessa direo, ela no o invoca: apenas o nomeia. E, dessa
maneira, comete a seu respeito uma violncia e uma negao
416
. Ele constantemente
transborda da nossa compreenso. Ser contemplado no sua essncia; antes, seu essencial
poderia ser definido com a condio de separado em relao ao meu poder compreensivo, a
incapacidade de subsumi-lo por inteiro
417
, nem mesmo o assassinando
418
.
Martina. . 371f. Tese (Doutorado em Filosofia)- Faculdade de
Filosofia. Pontifcia Universidade Catlica do RS. Porto Alegre, 2006, p. 154.
414
LEVINAS, Emmanuel. A ontologia fundamental? In: , p. 27.
415
LEVINAS, Emmanuel. A ontologia fundamental? In: , p. 28.
416
LEVINAS, Emmanuel. A ontologia fundamental? In: , p. 31.
417
SOUZA, Ricardo Timm de. Ontologia e Fundamentos: sobre A ontologia fundamental?, pp. 76-77.
418
SOUZA, Ricardo Timm de. O Delrio da Solido: o assassinato e o fracasso original. In: ,
p. 41.
131
No encontro com o Outro, existe algo que no se deixa reduzir a qualquer dimenso do
pensamento, ainda que tal pensamento seja mais qualificado. Como diz Ricardo Timm de
Souza,
Algo h, da realidade, que nenhum modelo de conscincia, ou de uso, posse,
manuteno ou objetivao consegue esgotar: este algo exatamente o que sobra
alm da mera percepo do ser do outro, ou seja, a invocao do outro
separado de mim que se d pela linguagem que o outro invoca a uma res-posta
419
.
Nas bordas da relao compreensiva, que se pretendeu hegemnica a partir do
acoplamento entre ser e pensar iniciado com Parmnides, e foi hipertrofiada com uma
projeo do pensar como todo existencial do ser na compreenso heideggeriana, existe um
limite sempre fugidio: a exterioridade do Outro que se apresenta e, imediatamente aps o
contato face-a-face, revela uma grave separao, na qual outrem jamais se deixa reduzir aos
esquemas representacionais que guiam as convices no mundo. Como afirmou Martina
Korelc, a extenso heideggeriana da compreenso do ser para toda a existncia no significou
a superao do intelectualismo, mas a infiltrao do terico, da inteligibilidade, da
compreenso, em todas as dimenses da existncia concreta do homem
420
.
Quando o Outro se apresenta no seu Rosto, na sua concretude extrema, estamos diante
da ambincia em que impossvel se refugiar na neutralidade: no face-a-face, j estamos
diante da , ocorrida ou no, sem a possibilidade de encontrar abrigo numa
racionalidade intelectual. O pensamento no ser mais neutro e auto-referente, ele s ganha
sentido quanto referido a outrem, e portanto j carrega em si mesmo essa responsabilidade.
Ao exprimir-se, no pode exprimir tudo, porque no tudo. Est instaurado um universo
com, ao menos, dois
421
.
Esse vnculo que no reduz a esquemas tericos Levinas nomeia , conferindo
um sentido no-teolgico ao termo. Religio que significa, em outros termos, a relao de
invocao do Eu ao Outro que no se delineia mediante representaes que surgem no interior
de cada um nem mesmo por meio de uma abertura constitutiva que antecederia mesmo a
percepo do outro como simplesmente dado mas como vnculo , que se d no
Rosto do Outro, ou seja, na sua concretude mxima. o que afirma Ricardo Timm de Souza:
419
SOUZA, Ricardo Timm de. Ontologia e Fundamentos: sobre A ontologia fundamental?, p. 78.
420
Como na nota 413.
421
SOUZA, Ricardo Timm de. Ontologia e Fundamentos: sobre A ontologia fundamental?, p. 80.
132
Religio , neste contexto, portanto, relao, ligao em sentido forte de dois antes
no unidos por algum tipo de lgica ou mstica prvia por algum tipo de
estrutura conceitual que, para efeitos prticos, exercesse exatamente esse papel de
indiferenciao original a partir do qual dois existentes como que passam a
comungar a realidade mas instaurao pura e simples de um a que
nenhuma reproduo pode ser anterior e que caracteriza exatamente o na
face da terra. O encontro um acontecimento que se d , e no desde o
patamar de uma eternidade indiferenciada que suportasse esse acidente no mundo
das essncias reais atemporais
422
.
H uma fissura no saber teortico que estrutura o modelo de guerra do . A partir
da dimenso da alteridade, coloca-se no encontro face-a-face com outrem a primazia do saber,
tecido a partir dessa situao originria que configura, por si s, uma relao inesgotvel nos
limites da racionalidade tradicional. A compreenso heideggeriana apesar de ter aberto um
grande flanco com a introduo da e de se travar , na temporalidade e na
existncia ainda se mantm numa ordem intelectual que no d conta da relao direta, sem
contornos, com o Outro. Eis o tema, afirma Ricardo Timm de Souza, que envia para uma
reconsiderao a priori da prpria noo de racionalidade, reconsiderao tornada necessria
pela traumtica irrupo de no campo de visibilidade do sentido autnomo do
Mesmo
423
.
A partir das consideraes aqui colocadas, a pergunta que restaria seria se o Direito
Penal do Inimigo estaria apenas , em desconformidade com os fatos dados, apenas
? Seria o equvoco de Jakobs apenas de ordem metodolgica ou epistemolgica,
baseando-se em uma ontologia fora dos quadrantes temporais, fora do mundo, ,
para uma relao que se d no mbito ontolgico nos termos propostos por Heidegger,
que j, em si mesma, supera a ausncia de concretude daquele esquema?
A partir da assuno da primazia da tica, preciso posicionar o Direito Penal do
Inimigo enquanto uma estratgia , ou seja, uma posio e no, portanto,
422
SOUZA, Ricardo Timm de. Ontologia e Fundamentos: sobre A ontologia fundamental?, pp. 80-81.
423
SOUZA, Ricardo Timm de. Ontologia e Fundamentos: sobre A ontologia fundamental?, p. 82.
133
sob o da neutralidade
424
em termos ticos. Longe de constituir um mero equvoco
epistemolgico, a utilizao do critrio representacional para caracterizar o Inimigo significa,
em outros termos, a na dimenso tica. No h libi que resguarde o
Direito Penal do Inimigo da sua responsabilidade: na concretude da existncia, do encontro
face-a-face que no pode ser substitudo por esquemas intelectuais. determinada
posio
425
, que guia as demais construes. nesse nascedouro que
pretendemos finalizar a argumentao, j reposicionando a partir da demonstrao da
inconsistncia epistemolgica da representao e dos efeitos reais que ocorrem a partir da sua
admisso em relao a outrem, especialmente em se tratando de estratgias punitivas a
posio assumida enquanto do Outro.
A construo do Direito Penal do Inimigo, assim, no representa apenas um erro
epistemolgico que adviria da confiana em uma filosofia da representao que se exauriu.
Uma representao que, retomando os temas desenvolvidos, pode gerar uma exacerbao de
certos aspectos de determinado indivduo de modo a caracterizar o estigma, recaindo sobre
aqueles cuja alteridade mais traumtica de suportar, e que portanto gera efeitos concretos na
realidade. Periculosidade enquanto critrio que, na realidade, sufoca determinada parcela de
indivduos sobre os quais recai toda energia de um controle penal que, por natureza, dbil.
Periculosidade enquanto representao do Outro no interior da minha mente, que funciona
como mera caricatura que organiza minhas concepes sobre ele e na proposta de G. Jakobs
pode mesmo desempenhar um papel no Estado, no de direitos
fundamentais.
Mas antes mesmo da localizao do problema enquanto um inconstitucional Direito
Penal do Autor, que ofende vrias garantias constitucionais, entre as quais,
fundamentalmente, a dignidade da pessoa humana, de toda discusso em torno da
validade e normatividade dos direitos estendidos a todos e insuscetveis de restries que
atinjam seus prprios ncleos est a questo , enquanto dimenso primeira que
todas as demais categorias. na simplicidade do face-a-face, do Rosto do Outro que
se apresenta enquanto Outro perante meu eu seguro de si trfico e auto-suficiente , na
424
Isso no significa desembocar em um argumento contra Jakobs, mas de negar qualquer espcie
de transparncia que lhe tornaria um simples mensageiro, como pretende. LEGENDRE, Pierre.
. Rio de Janeiro: Forense Universitria, 1983, p. 85.
425
Em sentido contrrio ao que pretende Jakobs em JAKOBS, Gnther. Derecho penal del enemigo? Un
estudio acerca de los presupuestos de la juridicidad. In: , v. 2, p. 95.
134
concretude do que essa alteridade provoca que se situa a fissura que inviabiliza e
desestrutura a relao de guerra construda por Jakobs.
O Encontro com o Outro, por isso, inevitvel, mas no significa que ser bem
resolvido. Na realidade, ao romper com a totalidade de sentido prpria do intelecto, que se
fecha em si mesmo mediante esquematismos diversos, o Outro se apresenta de modo
426
. Esse Encontro , propriamente, uma abertura para o no-
conhecido, uma disponibilidade que me coloca em situao de insegurana
427
.
Do Outro no surge qualquer promessa de conciliao, mas a constatao de que a
totalidade das minhas representaes no capaz de lhe fazer justia
428
. O Outro vem
, sem se submeter a esquemas intelectuais ou projeo representacional. E, por
esse carter de , suscita o trauma. desse momento que se comea a pensar a
alteridade, a partir de um referencial , que exige uma no-violncia que reconhece a
.
Mas esse Encontro, embora e , no necessariamente se resolve em
paz. A projeo representacional, o estigma, j , por si s, circunstncia que est a indicar
isso. Um encontro em que, como na situao relatada por Luiz Eduardo Soares, o indivduo
no v o Outro, uma forma generalizada de enfrentar o trauma. a partir da noo de
que se pretende , seguindo a trama prpria da racionalidade tica, a
reduo do Outro ao carter de Inimigo, desencadeando o belicismo da teoria de Jakobs
429
.
426
SOUZA, Ricardo Timm de. A Racionalidade tica como Fundamento de uma Sociedade Vivel: reflexos
sobre suas condies de possibilidade desde a crtica filosfica do fenmeno da corrupo. In:
, p. 123; SOUZA, Ricardo Timm de. , p.
169.
427
SOUZA, Ricardo Timm de. A Racionalidade tica como Fundamento de uma Sociedade Vivel: reflexos
sobre suas condies de possibilidade desde a crtica filosfica do fenmeno da corrupo, p. 124.
428
SOUZA, Ricardo Timm de. A Racionalidade tica como Fundamento de uma Sociedade Vivel: reflexos
sobre suas condies de possibilidade desde a crtica filosfica do fenmeno da corrupo, p. 124.
429
A no-integralidade do Outro desafia qualquer vontade de integrao. A simples resposta totalizante
somente poderia significar a aniquilao dessa questo e a permanncia da
tautologia, atravs do assassinato do Outro. SOUZA, Ricardo Timm de. , p. 114.
135
Segundo diz Luis Carlos Susin, o assassinato a contradio no auge da violncia.
Nele a violncia vai at o absurdo e inverte-se em impotncia. Nele se chocam e se provam
o poder ontolgico e o poder tico
430
. Analisemos a estrutura dessa violncia/impotncia.
No assassinato, o fato puro jamais se reduz descrio do ocorrido. Algo escapa. A
fenomenologia e a hermenutica so dolorosamente levadas at seus limites. H, como diz
Ricardo Timm de Souza, uma concentrao excessiva no acontecido, e que o
discurso no acompanha
431
. Assim, o fato permanece nu, concentrado em si mesmo, sendo
que nenhum capaz de inundar de sentido ou mesmo esvazi-lo, suavizando-o, em sua
verdade que se d no tempo
432
.
Mas o assassinato clama sua condio de fenmeno : trata-se de uma
reteno da ; o instante do assassinato, contudo, demasiado , as
descries sempre chegaro tarde. H um intervalo entre e o fato
433
. A vtima, no
assassinato, um sem-voz e, por isso, sem-logos, embora seja nela que o resultado se
consubstancia. A luta em busca da alteridade do Outro, por isso, eminentemente
434
.
O assassinato pressupe , s pode se dar entre no mnimo dois. E pressupe
seres ; portanto . Nele, o adversrio foi , est em condio desigual, as
suas resistncias ontolgicas j foram derrubadas. Trata-se, por isso, de um momento
de uma de um diferente para igual , a condio
435
. Como aponta
Susin, o assassino quer, atravs do golpe, no tanto destruir as linhas do rosto ou parar os
msculos, mas destruir o outro como outro essncia da violncia infringir sua
alteridade
436
.
A alteridade, no entanto, impede que o crime transforme a vtima em
437
Ela
irredutvel ordem ontolgica, para o Mesmo, que pretende a anular. O Outro permanece
430
SUSIN, Luis Carlos. . Porto
Alegre: Escola Superior de Teologia So Loureno de Brindes, 1984, p. 133.
431
SOUZA, Ricardo Timm de. O Delrio da Solido: o assassinato e o fracasso original, p. 25.
432
SOUZA, Ricardo Timm de. O Delrio da Solido: o assassinato e o fracasso original, p. 26.
433
SOUZA, Ricardo Timm de. O Delrio da Solido: o assassinato e o fracasso original, p. 26.
434
SOUZA, Ricardo Timm de. O Delrio da Solido: o assassinato e o fracasso original, p. 27.
435
SOUZA, Ricardo Timm de. O Delrio da Solido: o assassinato e o fracasso original, pp. 28-29.
436
SUSIN, Luis Carlos. , p. 135.
437
Por isso o prazer do assassino matar o outro diante do outro mesmo: quer o outro como e como
, quer a contradio do outro morto e vivo. Seria ento
136
Outro, mesmo que quem o observa tenha poder sobre a sua vida e morte
438
. O Rosto recusa-se
posse; desafia o poder do poder
439
. Assim, o assassinato encontra um dado
; a oferta de paz e relao pode ser negada, mas no pode ser violentamente
apagada
440
. totalmente assimtrica.
O assassino, assim, aquele que, embora consume ontologicamente seu ato, esbarra em
um poder sem poder: ope-se a ele uma fora maior, que o Infinito da alteridade,
original. esse o momento que mostra o do assassinato a epifania do
Rosto mede a impossibilidade do assassinato. A guerra, por isso, supe a paz a presena
prvia no-alrgica de Outrem; no assinala o primeiro acontecimento do Encontro
441
. No
pode haver guerra sem o prvio encontro face-a-face, no qual existe a oferta da paz
442
. Por
isso, no h conceito neutro, pois todos advm da situao no-neutra pr-original que se
estabelece quando dois diferentes se encontram e podem ou no vir a estabelecer um
discurso decorrente da, intersubjetivo
443
.
O Direito Penal do Inimigo, ao pretender se confirmar enquanto construo neutra da
representao social, no pode fugir epifania do Rosto. No existe pensamento sem algum
que o enuncie, que no pode suscitar libi de neutralidade para provocar o de
Outrem. Na concretude do face-a-face, o Direito Penal do Inimigo, enquanto estratgia
beligerante que tenta subsumir a exterioridade do Outro a uma representao, representa a
assuno de uma posio tica, uma da oferta de paz
444
que o Rosto provoca
necessrio . SUSIN, Luis Carlos.
, p. 135, grifo no original.
438
SOUZA, Ricardo Timm de. O Delrio da Solido: o assassinato e o fracasso original, p. 30; LEVINAS,
Emmanuel. , p. 212.
439
Mas no momento exato em que se est por cumprir o decreto do assassino, quando cessam os traos
sensveis do olhar e a sua vivacidade, quando a objetivao est por chegar sua plenitude, a vtima se retira
deixando o assassino solitrio com sua vitria e sua conscincia, sem outro que veja sua vitria. O outro revela,
assim, na sua retirada, a infinitude do seu poder tico subtraindo-se ao poder ontolgico do assassino, mostrando
assim sua fraqueza e a impotncia deste, paralisando-o na insatisfao: impossvel que o outro veja sua
objetivao. H ento uma inverso: o poder do assassino da em diante impotente para ir mais longe e tomar o
outro que se retirou para alm da morte, resguardado no mistrio da transcendentalidade mesma que o assassino
queria esmagar. SUSIN, Luis Carlos.
, p. 136.
440
SOUZA, Ricardo Timm de. O Delrio da Solido: o assassinato e o fracasso original, p. 31.
441
SOUZA, Ricardo Timm de. O Delrio da Solido: o assassinato e o fracasso original, pp. 33-35..
442
A primeira palavra do Outro no uma palavra de guerra, tica: Eu no sou (como) tu. O sentido desta
palavra : No me matars. Esta a da palavra original do Infinito em uma linguagem compreensvel
e imediata ao Mesmo provocado. SOUZA, Ricardo Timm de. , p. 115.
443
SOUZA, Ricardo Timm de. O Delrio da Solido: o assassinato e o fracasso original, p. 37.
444
La epifana del rostro es tica. La lucha con la que este rostro puede amenazar la transcendencia
de la expresin. El rostro amenaza de lucha como una eventualidad, sin que esta amenaza agote la epifana del
137
originalmente. um poder sem poder, porque sempre existir um no apreendido, que
se nega a reduzir mesmo ao ato de maior violncia: a prpria alteridade. Algo sempre escapa
representao:
El Otro que puede decirme soberanamente , se ofrece a la punta de la espada o a
la bala del revlver y toda la dureza inamovible de su para s, con este
intransigente que opone, se borra por el hecho de que la espada o la bala ha tocado
los ventrculos y las aurculas del corazn. En el contexto del mundo es casi nada.
Pero me puede oponer lucha, es decir, oponer a la fuerza que lo golpea no una
fuerza de resistencia, sino la misma de su reaccin. As me opone
no una fuerza mayor una energa evaluable y que se presenta a la conciencia
como si fuese parte de un todo sino la transcendencia misma de su ser con
relacin a este todo; no un superlativo de poder, sino precisamente lo infinito de la
trascendencia
445
.
No face-a-face da concretude do Outro, o confronto com o Inimigo de Jakobs no
poderia redundar em uma simples representao de um demnio
446
. Para etiquetar o Outro
com um estigma, preciso primeiro recusar a relao que se oferece de antemo,
fechando-se na prpria interioridade como uma mnada solipsista. Como sinala Ricardo
Timm de Souza,
O no, possibilidade real de uma ao humana, nega, quando de seu exerccio, a
humanidade dessa ao e reduz, no fundo, o humano sua caricatura, ou seja, a
uma mnada sem relao com o outro: uma impossibilidade radical que indica,
quando desdobrada no tempo, uma atitude intrinsecamente suicida. A negao do
encontro tico a forma mais trgica de abdicao do homem
447
.
A guerra e a violncia, portanto, mostram-se permanentemente como recusas da paz
original gravada no Rosto de Outrem.
O homem sem olhar o absurdo de um homem sem humanidade. A tragdia maior
da violncia, da guerra e do assassinato, consiste, porm, no fato de que s so
possveis onde houve primeiro efetivamente o reconhecimento do outro, de sua
transcendncia, mas onde o discurso face-a-face foi substitudo por um ataque pelos
flancos atravs de intermedirios. Paradoxalmente, Lvinas nos leva assim
concluso do acerto da afirmao de Herclito sobre a guerra como revelao do
infinito, sin que formule la primera palabra. La guerra supone la paz, la presencia previa e no-alrgica del Otro;
no marca el primer hecho del encuentro. LEVINAS, Emmanuel. , p. 213.
445
LEVINAS, Emmanuel. , p. 212.
446
En efecto, la identificacin de un infractor como enemigo por parte del ordenamiento penal, por mucho que
pueda parecer a primera vista una calificacin como otro, no es, en realidad, una identificacin como fuente de
peligro, no supone declararlo un fenmeno natural a neutralizarr, sino, por el contrario, es un reconocimiento de
competencia normativa del agente, mediante la atribucin de perversidad, mediante su demonizacin, y qu otra
cosa es Lucifer que un ngel cado?. MELI, Manuel Cancio. De nuevo: Derecho Penal del enemigo? In:
, v. 1, p. 363. Prosseguindo a metfora, o Direito Penal tem como funo principal o exorcismo.
MOCCIA, Sergio. Seguridad y Sistema Penal. In: , v. 2, p. 305.
447
SOUZA, Ricardo Timm de. O Delrio da Solido: o assassinato e o fracasso original, p. 38.
138
ser, mas onde h uma verdade : a guerra possvel onde
h o encontro de uma alteridade, de uma transcendncia, mas que na violncia se
retira: O humano s se oferece se no a uma relao que no um poder. O
vitorioso faz triunfar a solido e a paz dos cemitrios, a guerra revela o ser mas vela
o outro, o humano
448
.
Admitir, portanto, a existncia de um Direito Penal do Inimigo e, por conseqncia,
todas as mais suaves verses de Direito Penal do Autor significa, em outros termos,
assassinar o Outro por uma representao que se tem dele, acreditando que o intelecto possa
dar conta sua infinitude. Quando estou diante do Outro e nenhum Direito existe que no
esteja referido ao Outro em uma situao tica, de interpelao, no posso me
evadir dessa relao, sob um libi de pretensa neutralidade cientfica. Essa relao
inescapvel. Admitir a preponderncia de uma representao sobre a prpria alteridade do
Outro decididamente tomar uma posio tica, recusar um Encontro original no qual se d a
oferta de paz. Estar diante do Outro receb-lo na sua integral diferena, sem reduzi-lo a um
esquema mental que funcionaria a servio de uma Totalidade. Ironicamente, como nos mostra
Levinas, a alteridade do Outro aquilo que o Direito Penal do Inimigo pretende efetivamente
evade-se na morte e resiste. Ao Outro resta, diante da impotncia ontolgica, a
imprevisibilidade da alteridade tica. E de relatos de indivduos esmagados por representaes
cuja exterioridade posteriormente nos foi contada estamos repletos.
448
SUSIN, Luis Carlos. , p. 138.
139
Procuramos, ao longo dos dois ltimos captulos, traar um itinerrio pelos elementos
que estruturam a arquitetura do Direito Penal do Inimigo: 1) a , enquanto Totalidade
que pretende homogeneizar, a partir do medo, neutralizando as diferenas sob a justificativa
140
A formulao de Gnther Jakobs pressupe, portanto, que no apenas o Direito que
estaria em jogo, mas tambm a preservao do prprio corpo. O que orienta essa idia a
conservao do eu. No contexto da sociedade funcional, que demarcada normativamente,
dentre outras formas, pela afirmao da pena, no est apenas em jogo uma orientao
simblica que, consoante vimos no Captulo I, consistiria no prprio mundo objetivo. H,
ainda, um interesse subterrneo que residiria na manuteno do prprio corpo do
indivduo, cuja contrapartida seria a neutralizao do Inimigo
450
.
Nesse sentido, deve-se recordar que, na construo do Direito Penal do Inimigo,
pressuposta uma funo da pena que , simplesmente ,
na medida em que neutraliza o delinqente. Ela pretende se dirigir, sob esse ngulo, ao
indivduo perigoso. Trata-se da preveno especial negativa assumida a pretexto de
manuteno da prpria integridade fsica dos cidados. nesse espao que se constri a
necessidade de reconhecimento do Direito Penal do Inimigo
451
.
Poder-se- questionar a suposta obviedade da proposio de Jakobs? Poder existir algo
para alm da ordem da proteo ao prprio corpo? Ser possvel imaginar uma ordem que
no constitua por exigncias de conservao? No ser a observao de Gnther Jakobs de tal
forma correspondente realidade que se imponha por si mesma, sem necessidade de
justificativas ulteriores?
V-se que o tema complexo. Esse ltimo pilar do edifcio conceitual que constitui o
Direito Penal do Inimigo , talvez, o de mais intrincada dificuldade desconstrutiva. De que
forma possvel questionar a persistncia no ser? Podemos perguntar ainda, com Levinas:
a aventura do ser, como ser-a como Da-sein pertena inalienvel a si mesma,
ser , autenticidade que nada altera nem apoio, nem
ajuda, nem influncia conquistadora, mas desprezando o intercmbio em que uma
vontade espera o consentimento do estranho virilidade de um livre poder-ser,
como vontade de raa e espada? Ou, ao contrrio, ser, este verbo, no significaria,
no , no-indiferena, obsesso pelo busca e votos de paz?
452
450
Esse elemento, ainda embrionrio nesse texto, foi posteriormente desenvolvido como dor penal. GMEZ-
JARA DEZ, Carlos. Normatividad del ciudadano versus facticidade del enemigo. In: , v. 1, pp. 987-988 e
994-998.
451
A problemtica foi desenvolvida com maior clareza em JAKOBS, Gnther. Terroristas como personas en
Derecho? In: , v. 2, pp. 80-86.
452
LEVINAS, Emmanuel. Morrer por... In: , p. 250.
141
O itinerrio proposto passa, na primeira camada desconstrutiva, por uma exposio da
ordem da imanncia, na qual, a partir das noes filosfico-culturais de indivduo, esboa-
se uma compreenso da mnada moderna, com amparo em Louis Dumont e Alain Renaut.
Esse traado seguido por uma exposio acerca indivduo contemporneo nas suas
peculiaridades, com base na viso sociolgica de Zygmunt Bauman e psicanaltica de Joel
Birman. A argumentao ir desembocar, no mbito criminolgico, na noo de
neutralizao. Aps, na segunda camada desconstrutiva, procuramos desvelar a
transcendncia em nvel tico que nos traz a obra de Emmanuel Levinas, concretizada, em
nvel jurdico-poltico, pela noo hiperblica de hospitalidade de Jacques Derrida.
O filsofo francs Alain Renaut pretende localizar o surgimento do individualismo
moderno a partir de Gottfried Leibniz. Renaut almeja contrapor ao anti-humanismo
contemporneo, prprio dos pensadores com inspirao em Nietzsche e Heidegger (como
Lyotard, Derrida, Deleuze, Foucault e outros), uma nova histria da filosofia, na qual a
histria da filosofia moderna (ps-cartesiana) cindida entre uma histria do sujeito, na
qual a idia de autonomia desempenharia papel fundamental, e uma histria do indivduo,
cuja idia-fora principal seria a de independncia. Nessa nova leitura da filosofia moderna,
Leibniz e Kant desempenhariam papis fundamentais: o primeiro, com a monadologia, teria
dado suporte ontolgico ao individualismo contemporneo; o segundo, com o criticismo, seria
o pensador que nos conduziria a uma teoria do sujeito capaz de dar conta dos impasses
surgidos aps as feridas produzidas pela psicanlise e pelo estruturalismo, fornecendo base
para se pensar a intersubjetividade
453
.
453
Embora estejamos de acordo com Renaut acerca da possibilidade de mltiplas redescries da histria da
filosofia, de acordo com um visado, e igualmente concordemos com a ntida relao da monadologia
com o individualismo, no se corrobora a redescrio na qual pretende salvar o sujeito da autonomia
kantiana. A tese de Renaut exigiria longa reflexo, porm podemos pressentir suas dificuldades ao buscar
enquadrar filsofos como Nietzsche, pela escassez argumentativa (to rica em se tratando de Leibniz), no vago
142
Leibniz teria procedido, primeiramente, a uma espiritualizao do real. Como crtico
de Descartes, no aceitou o dualismo entre e , baseado na
impossibilidade de ao do esprito sobre a matria ou vice-versa, dada a incomensurabilidade
de substncias distintas
454
. Dessa forma, com apoio em Malebranche e Espinosa, afirmar que
tudo regulado por Deus, no passando o corpo de um grau inferior da realidade do esprito, e
adotar um monismo no qual a matria reduzida ao esprito
455
.
Da espiritualizao da realidade surgir o segundo ponto fundamental e que marca a
monadologia: cada ser indivduo por essncia. Na medida em que o esprito existe
individualmente, o ser espiritual no seno a diferena entre os espritos, formando-se, com
isso, a idia de fragmentao dos espritos, que ir ser o mote principal para pensarmos
, nicas por essncias, inteira e intrinsecamente distintas umas das outras. As
mnadas tornam-se espcies de tomos metafsicos, que so a prpria propriedade do
real
456
. A demonstrao de Leibniz em relao ao seu argumento relativamente simples: se
no existissem mnadas qualitativamente distintas, no se poderia cogitar a hiptese de
alterao nos compostos, pois a combinao de elementos idnticos no seria capaz de obter
produtos qualitativamente diferenciados
457
.
A partir disso, Renaut reconstitui a teoria de Leibniz como analtica da
individualidade, especialmente pelo que consta no 7 da Monadologia: as mnadas no
tm janelas. nesse momento que entra a tese central segunda a qual as mnadas no tm
relao com a exterioridade, no podendo ser modificadas a partir do seu exterior. Leibniz
defende a tese com os seguintes argumentos: 1) no se concebe qualquer movimento interno
mnada, visto que isso seria invivel em um contexto de uma unidade simples; 2) sendo o
esprito uma mnada, no possvel que nada venha do seu exterior, mas deve se produzir a
dos individualistas, quando visivelmente Nietzsche se contrape ao individualismo (sobre o tema, remete-se a
ANSELL-PEARSON, Keith. . Trad. Mauro Gama e Claudia Gama. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 1997, pp. 98-112). Essa tentativa acaba forada em demasia, vez que Renaut busca separar
de forma absoluta autonomia de independncia, quando pode-se suspeitar Nietzsche tenha sido um
filsofo que procura radicalizar a , porm no em sentido contrrio a uma . Ou seja, o
problema tratar como antinmicos termos que esto em ntima correlao.
454
RENAUT, Alain. . Traduo Maria Joo
Reis. Lisboa: Piaget, 1989, p. 110.
455
RENAUT, Alain. , pp. 111-112.
456
RENAUT, Alain. , p. 115.
457
RENAUT, Alain. , p. 116. Do contrrio, a
ontologia de Parmnides seria inultrapassvel (p. 118).
143
partir de si prpria. A nica forma de no destruir a simplicidade da mnada concebendo-a
segundo um modelo de conscincia no qual ela prpria produz a multiplicidade das suas
representaes sem ficar dividida por essa multiplicidade. Ou seja, conceb-la como
458
.
Alain Renaut argumenta que, ao sustentar essa tese, Leibniz est eliminando qualquer
possibilidade de introduo de uma ordem no real por imposio humana, haja vista a
independncia ontolgica. Por isso, o fundamento do real encontrado na nica causalidade
concebvel no sistema monadolgico: a causalidade vertical de Deus, que preestabelece
harmonia entre as espontaneidades das mnadas. No se teria, com isso, a idia de autonomia
kantiana, mas a simples execuo, por parte de cada mnada, da lei constitutiva do seu ser,
da e no de
459
.
Renaut faz ainda uma interessante correlao com as teorias do mercado prprias do
liberalismo, advertindo, em primeiro lugar, que no se trata de colocar uma relao de
causalidade entre a tese de Leibniz e as teorias do mercado, mas de sublinhar o quanto so
estruturalmente aparentadas. O autor refere , de Mandeville, escrita no
mesmo ano da Monadologia (1714), considerada como a primeira aproximao das teorias
econmicas do liberalismo clssico. Na fbula, abelhas partiam de um estado de abundncia,
esbanjamento e vcios, no qual o luxo faustuoso ocupava milhes de pobres e a inveja e o
amor-prprio favoreciam o florescimento da indstria e das artes, para, em seguida, aps uma
nostalgia da virtude, passar a um estgio em que cada um tinha desejos apenas moderados,
vendo desaparecer a felicidade e a prosperidade. Nas palavras de Mandeville, o vcio to
necessrio num Estado florescente como a fome necessria para nos obrigar a comer
460
.
Para Renaut, tanto em Leibniz quanto em Mandeville possvel identificar que o
indivduo afirma sua natureza em detrimento de qualquer limitao que deveria
impor a si prprio por considerao aos outros na coexistncia. Para isso, lastreiam-se em
uma harmonia ou , na qual, escapando a qualquer concepo humana,
programa as opes individuais de forma que contribuem para o servio da comunidade
461
.
458
RENAUT, Alain. , pp. 119-123.
459
RENAUT, Alain. . 2 ed. Traduo Elena Gaidano. Rio de
Janeiro: DIFEL, 2004, pp. 79-80.
460
RENAUT, Alain. , pp. 131-133.
461
RENAUT, Alain. , p. 134.
144
Da mesma forma, a mo invisvel da Adam Smith retomar, a sua maneira, o mesmo
princpio de integrao nos valores da racionalidade
462
.
J Louis Dumont retrata, sob o prisma antropolgico, outra descrio do surgimento da
cultura individualista, contraponto o (valorizao do todo social ou poltico) e o
(valorizao do indivduo humano elementar). O indivduo que interessa a
Dumont o ser , independente, autnomo e, assim (essencialmente), no social, tal
como se encontra, sobretudo, em nossa ideologia moderna do homem e da sociedade
463
.
Dumont contrape a noo medieval de , isto , corpo social como um todo
do qual os indivduos nada mais so que partes, prpria do tomismo e dos modelos
tradicionais de sociedades, ao nominalismo de Guilherme de Occam (sic), escolstico
franciscano do sculo XIV. Occam no concebe mais uma a idia de substncias segundas
os universais afirmando que todo ser nico e individual. Dessa forma, torna-se arauto
do esprito moderno
464
. Com isso, deixa de existir uma ordem ideal das coisas da qual se
possa deduzir uma lei natural; existe apenas a . A lei torna-se expresso do poder
ou da vontade do legislador. Dumont assinala:
Falar de nominalismo, por uma parte, de positivismo e subjetivismo jurdicos, por
outra, muito simplesmente assinalar o nascimento do Indivduo na filosofia e no
direito. Quando nada mais existe de ontologicamente real alm do ser particular,
quando a noo de direito se prende, no a uma ordem natural e social mas ao ser
humano particular, esse ser humano particular torna-se um indivduo no sentido
moderno do termo
465
.
Aps o prenncio de Occam, sero os tericos do direito natural moderno que iro
desempenhar um papel fundamental histrico. Segundo Dumont, para os antigos o homem
um ser social, a natureza a ordem, podendo-se deduzir, com isso, uma conformidade da
ordem social ordem natural. Para os modernos, por outro lado, sob influncia do
cristianismo e dos esticos, o direito natural no trata de seres sociais, mas de indivduos, ou
462
RENAUT, Alain. , p. 135. Ser Nietzsche,
segundo Renaut, que ir eliminar essa dimenso de verticalidade e, com isso, desatar o ltimo n que prendia a
mnada. No entanto, possvel compreender a iniciativa de Nietzsche como espcie de entre os ideais de
independncia, como quer Renaut, e autonomia, Renaut. exatamente nesse ponto que se revela o
problema suscitado na nota anterior.
463
DUMONT, Louis. . Trad. lvaro
Cabral. Rio de Janeiro: Rocco, 1985, p. 75.
464
DUMONT, Louis. , pp. 75-77.
465
DUMONT, Louis. , p. 79.
145
seja, homens feitos imagem de Deus enquanto depositrios da razo
466
. A comunidade
medieval hierarquizada atomiza-se: substitudo por Estados individuais e, no interior destes,
por homens individuais
467
.
Todo o problema do direito natural ser encontrar a sociedade ou o Estado ideal a partir
do isolamento do indivduo natural. Para isso, o instrumento adequado o contrato. A
sociedade aqui presente contm apenas a idia de associao, no mais o sentido de
, como o local em que o homem nasce e ao qual pertence, que semeia o material do
qual suas idias so feitas
468
.
Aps traar o percurso dessas idias de Hobbes, Rousseau e Locke (no percorrido sem
alguns acidentes, como o holismo da vontade geral de Rousseau), Louis Dumont
considera que a Declarao dos Direitos do Homem e do Cidado, de 1789, marca o triunfo
do indivduo. Dumont refere os dois primeiros artigos da Declarao como prova:
Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. As distines
sociais somente podem fundar-se na utilidade comum.
A finalidade de toda associao poltica a conservao dos direitos
naturais e imprescritveis do homem. Esses direitos so a liberdade, a propriedade,
a segurana e a resistncia opresso
469
.
Chama ateno, ainda, a explicao de Dumont para a doena totalitria. Seguindo a
linha de considerar o nazismo como doena, mas uma doena do nosso mundo, e no
apenas responsabilidade de alguns fanticos
470
, Dumont v no totalitarismo uma espcie de
construo de uma subordinao ao primado da sociedade como totalidade em um contexto
no qual o individualismo est profundamente enraizado. A violncia do movimento mergulha
nessa contradio, que se espelharia nos seus prprios lderes
471
.
Assim, Dumont identifica os dois traos, holista e individualista, no de
Adolf Hitler. De um lado, o , correspondente idia de povo, e a comunidade, que
soa oposta a sociedade dos indivduos. Por isso, na Alemanha nazista utilizava-se a
466
DUMONT, Louis. , p. 87.
467
DUMONT, Louis. , p. 88.
468
DUMONT, Louis. , p. 90.
469
Ver ainda: GAUER, Ruth Maria Chitt. Porto
Alegre: EDIPUCRS, 1996, pp. 34-42.
470
DUMONT, Louis. , p. 143.
471
DUMONT, Louis. , p. 151.
146
expresso , comunidade do povo. O deve estar em relao com a
raa ariana e em contraposio ao judeu, embora o povo no seja unitrio. A partir da
expresso
147
restante da populao cada vez mais localizada, de outro
474
. H uma nova dimenso dos
problemas sociais que ope o turista e o vagabundo. As novas tecnologias, que definem
um espao virtual, no tm produzido uma homogeneizao da condio humana, mas sim
uma nova polarizao.
As elites tendem a isolar-se na localidade, despojada do seu significado social pela
emergncia do ciberespao para onde se deslocou, e v-se reduzida a simplesmente um
espao fsico. Essa condio de isolamento que bem espelhada pela no-vizinhana,
imunidade face a interferncias locais e segurana dos e condomnios fechados
mostra que a desterritorializao do poder anda de mos dadas com uma estruturao cada
vez mais estrita dos territrios
475
. Os espaos proibidos (espao espinhoso, como o
repleto de grades e muros, ou nervoso, cheio de cmeras e monitoramento) tm como
propsito transformar a extraterritorialidade de uma elite supralocal no isolamento material e
corpreo em relao localidade. o toque final da desintegrao das formas de vida
baseadas na comunho. Como diz Bauman,
Num desenvolvimento complementar, esses espaos urbanos onde os ocupantes de
diversas reas residenciais podiam se encontrar face a face, travar batalhas
ocasionais, abordar e desafiar uns aos outros, conversar, discutir, debater ou
concordar, levantando seus problemas particulares ao nvel de questes pblicas e
tornando as questes pblicas assuntos de interesse privado essas goras
pblicas/privadas de que fala Castoriadis esto rapidamente diminuindo em
nmero e tamanho. Os poucos que restam tendem a ser cada vez mais seletivos
aumentando o poder das foras desintegradoras, em vez de reparar os danos
causados por elas
476
.
Assim, h uma ciso social que divide o espao urbano em dois, tornando-se espcie de
campo de batalha de uma guerra espacial, que muitas vezes eclode em espetculos de
escaramuas com a polcia, motins internos, etc. As elites optaram pelo isolamento e pagam o
respectivo preo, vendo o resto da populao afastado e forado a pagar peso preo cultural,
psicolgico e poltico no seu novo isolamento
477
. Na forma de vagabundos que no podem
se fixar em lugar algum, constantemente expulsos (por exemplo, os imigrantes) ou de pobres
que so discriminados quando ingressam em algum espao proibido (por exemplo, shopping
474
BAUMAN, Zygmunt. . Trad. Marcus Penchel. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 1999, p. 9.
475
BAUMAN, Zygmunt. , p. 27.
476
BAUMAN, Zygmunt. , p. 28.
477
BAUMAN, Zygmunt. , p. 29.
148
centers), v-se que esse plo assimtrico da relao social acaba sofrendo um isolamento
forado, incapaz de expressar-se em meios pblicos devido eliminao das goras
478
.
A extraterritorialidade da elite tem como contrapeso, por isso, a territorialidade do resto
das pessoas, que se parece cada vez mais com a priso mais humilhante ainda se comparada
liberdade de movimento dos outros. Os locais de encontro que serviam para a definio de
regras horizontais so constantemente suprimidos pelo decreto de cima, que vem de um
espao virtual que procura no se identificar e no deixa endereo
479
.
Assim, o que se tem no espao social o projeto de implementao como
salientvamos no item 3 da Seo 1 do Captulo II (portanto, integrante da engenharia social
moderna) de um espao higienicamente puro, livre de surpresa, ambivalncia e conflito.
Essas experincias, como nota Bauman, redundaram na desintegrao dos laos humanos, na
experincia da solido e do abandono, que acabam desencadeando uma constante suspeita em
relao aos outros, intolerncia diferena, ressentimento com estranhos, preocupao
histrica e paranica com a lei e ordem
480
. Citando Nan Elin, Bauman afirma:
Nos nossos tempos ps-modernos, o fator medo certamente aumentou, como
indicam o aumento dos carros fechados, das portas de casa e dos sistemas de
segurana, a popularidade das comunidades fechadas e seguras em todas as
faixas de idade e de renda e a crescente vigilncia dos espaos pblicos, para no
falar nas interminveis reportagens sobre perigo que aparecem nos veculos de
comunicao de massa
481
.
A prpria dificuldade de da identidade na ps-modernidade contribui para que
o problema se agrave. Enquanto caracterstica do indivduo contemporneo buscar um
478
A ausncia de um espao pblico/privado traduz em manifestaes difusas em torno de um inimigo comum,
como no caso dos protestos contra o pedfilo Sidney Cooke, que Bauman descreve como por feliz coincidncia,
Cooke foi colocado num lugar que as preocupaes privadas e as questes pblicas se encontram; mais
precisamente, seu caso um cadinho alqumico no qual o amor pelos prprios filhos experincia diria,
rotineira, embora privada pode ser miraculosamente transubstanciado num espetculo pblico de
solidariedade. BAUMAN, Zygmunt. . Trad. Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
2000, p. 19. Assim, pode-se relativizar as teses de Michel Maffesoli, por exemplo, sobre o do
individualismo, pois estaramos diante de nebulosas afetuais formadas por uma aproximao esttica, um
estar-junto em pontilhado tpico da cultura de massas e contraposto ao individualismo (MAFFESOLI, Michel.
Trad.: Maria de Lourdes
Menezes. RJ: Forense Universitria, 2000, p 101). Ressalte-se, entretanto, que o prprio Maffesoli admite que
h no ar. Ora, o tero tinha sido diminudo, ou mesmo estigmatizado, em todo caso relegada esfera da
vida privada. E a volta praa pblica. MAFFESOLI, Michel. . Trad. Nathanael
Caixeiro. Porto Alegre: Sulina, 2001, p. 24.
479
BAUMAN, Zygmunt. , p. 33.
480
BAUMAN, Zygmunt. , pp. 54-55.
481
BAUMAN, Zygmunt. , p. 55.
149
espao livre de interferncias no qual ele encorajado pelos meios de comunicao cultural a
forjar uma identidade, ter uma vida, surge mais uma desvantagem para os vagabundos
(contrapostos aos turistas) que no controlam suficientemente sua trajetria de vida,
dificultando o movimento
482
.
Apoiando nos textos de Sartre e Mary Douglas sobre a viscosidade, Bauman distingue a
situao de mergulhar em uma piscina de gua, na qual possivelmente terei uma experincia
agradvel (se sei nadar...), pois poderei, em seguida, secar-me e manter intacta minha forma.
No entanto, se mergulho em um barril de resina ou mel, a substncia gruda em mim,
passando-me a sensao de que fui invadido por um elemento novo e estrangeiro, perdendo a
liberdade. A liberdade, assim, constitui-se em uma relao de poder, na qual posso agir de
acordo com a minha vontade, mesmo que tenha de submeter outras pessoas s minhas
escolhas, restringindo suas opes. Resulta da, seguindo Bauman, que a viscosidade
(aderncia, teimosia, elasticidade, capacidade de se comprometer, de transformar a posse em
ser possudo, o domnio em experincia) de outra substncia (e esta inclui, mais do que
qualquer outra coisa, outra )
483
.
Assim, o estranho aquele que representa no cenrio contemporneo dos
indivduos-mnadas preocupados em fixar suas identidades odioso e temido como se fosse
viscoso. como descreve Max Frisch, citado por Bauman no seu ensaio : h
deles demais, exatamente no nos locais de construo e no nas fbricas e no no estbulo
e no na cozinha, mas depois do expediente. Sobretudo no domingo, subitamente h deles
demais
484
. Quanto menos as pessoas controlam suas prprias identidades, com maior
agudeza sentida a estranheza e maior a sensao de viscosidade, com a conseqente resposta
de uma tentativa de desprendimento
485
.
Ao turista esse estranho muitas vezes no significar viscosidade, mas apenas pessoas
s quais se paga por um servio e pelo direito de terminar o servio quando j no lhe trouxer
prazer. Os estranhos no comprometem sua liberdade. Por vezes, podem at ser interrupo
do tdio. Quando chegam, com tumulto e clamor, vm de outro lugar, reas da cidade em
482
BAUMAN, Zygmunt. , p. 38.
483
BAUMAN, Zygmunt. , pp. 39-40, grifo no original.
484
BAUMAN, Zygmunt. , p. 40.
485
BAUMAN, Zygmunt. , p. 41.
150
que o turista no visita, habitadas por pessoas incapazes de escolher com quem se encontram
e por quanto tempo. Pessoas sem poder, experimentando o mundo como armadilha, no
como um parque de diverses; encarceradas num territrio de que no h nenhuma sada para
elas, mas em que outras podem entrar e sair vontade
486
. Reagem, assim, de maneira
selvagem, furiosa, alucinada e aturdida, como se reage viscosidade, reflexo da absoluta falta
de poder
487
. Presas no territrio viscoso em que so .
As observaes do cenrio social contemporneo trazidas por Bauman podem ser
somadas s do psicanalista Joel Birman, que analisa, sob o prisma freudiano, a nova
configurao da subjetividade nos nossos dias. Birman contrape a subjetividade construda
nos primrdios da Modernidade, portadora de contedo nitidamente voltado para a auto-
reflexo e a interioridade, com a atual, que assume posio estetizante, na qual o olhar do
outro desempenha posio estratgica na sua economia psquica. Essa relao, entretanto, tem
o carter especular, ou seja, desempenha um papel que estabelece um falso contato do
indivduo com o seu exterior, na medida em que este s existe para alimentar seu
narcisismo
488
.
Birman identifica no pouco valor concedido solidariedade um correlato de ausncia de
relaes fundamentadas na alteridade, que pressuporiam o reconhecimento da diferena e
singularidade do outro. Ao contrrio, na cultura narcisista contempornea o que se verifica a
impossibilidade de poder admirar o outro em sua diferena radical, medida que no
consegue descentrar de si mesma.
Dessa forma, o sujeito vive permanentemente em um registro especular, em que o
que lhe interessa o engrandecimento grotesco da prpria imagem. O outro lhe
serve apenas como instrumento para o incremento da auto-imagem, podendo ser
eliminado como um dejeto quando no mais servir para essa funo abjeta
489
.
486
BAUMAN, Zygmunt. , p. 41.
487
BAUMAN, Zygmunt. , p. 42.
488
BIRMAN, Joel. . 2 ed. Rio de
Janeiro: Civilizao Brasileira, 2000, p. 23.
489
BIRMAN, Joel. , p. 25.
151
No existindo mais formas de relao intersubjetiva lastreadas no reconhecimento da
diferena, resta apenas a ocorrncia de pequenos pactos das subjetividades em torno da
extrao do gozo do corpo do outro, custe o que custar. nesse cenrio que explode a
violncia, pois
saquear o outro, naquilo que este tem de essencial e inalienvel, se transforma
quase no credo nosso de cada dia. A eliminao do outro, e este resiste e faz
obstculo ao gozo do sujeito, nos dias atuais se impe como uma banalidade
490
.
O sujeito contemporneo constitui-se, por conseguinte, como espcie de narciso , a
partir de uma cultura da imagem que funciona como correlato da estetizao do eu. No caso
do comportamento sexual, por exemplo, vigoram diversas formas de predao do corpo do
outro, formando com a sua manipulao espcie de tcnica de existncia para a
individualidade, maneira privilegiada de exaltao de si mesmo. Dessa forma, para o sujeito
no importa mais os afetos, mas apenas a predao e gozo pelos quais se enaltece e
glorifica
491
.
Comparando a existncia cotidiana com o fora de si da psicose, Birman nota se est
diante de uma nova forma de alienao, na qual o sujeito efetivamente fora-de-si,
exterioridade, mas, ao contrrio do que ocorria com os psicticos, no excludo, e sim
socialmente integrado e investido uma subjetividade fora-de-si
492
.
O problema particularmente marcante tomando-se em considerao as formaes
culturais brasileiras. Traando um itinerrio que pressupe o conceito prprio da psicanlise
de castrao (registro da alteridade inscrito no psiquismo e capaz de romper o plo
narcsico), Birman problematiza a construo lacaniana que pressupe uma passagem pelo
simblico, afirmando que, como no Brasil a lei letra morta
493
, completamente dissociada
das prticas sociais e de justia, vivel pensar-se, a partir desse exemplo, em uma
constituio distinta da subjetividade
494
. H um intervalo entre o registro simblico da lei e o
funcionamento normativo da justia, refletido na beleza formal da Constituio incapaz de
produzir qualquer modificao no contexto social. Os valores da justia esto marcados pela
490
BIRMAN, Joel. , p. 25.
491
BIRMAN, Joel. , p. 167.
492
BIRMAN, Joel. , pp. 170-171.
493
Ver: DAMATTA, Roberto. , pp. 95-105.
494
BIRMAN, Joel. , pp. 279-280.
152
tradio patrimonialista e escravista do pas
495
. Assim, admitindo uma correlao entre a
economia das pulses no psiquismo e a economia poltica que regula o espao social, temos
como conseqncia as formas autoritrias e violentas de poder, nas quais se pode saquear o
Estado e considerar privados bens de uso pblico e coletivo, conduzindo-se as subjetividades
para o plo narcsico. Coloca-se entre parnteses a alteridade
496
.
Tem-se, assim, um quadro em que no nvel das elites e das classes mdias, a perverso
do sujeito transforma-se em estetizao da existncia, refletindo a cultura do narcisismo
contempornea. Segundo Birman, a nica coisa que interessa s individualidades
circunscrever rigidamente o territrio medocre da sua existncia custa do gozo predatrio
sobre o corpo do outro, a quem tratam como annimos e sem resto
497
. Por outro lado, nas
classes populares,
com a impossibilidade de essas individualidades terem respeitados seus direitos
bsicos como cidados e serem reconhecidas como tal, assiste-se crescente
utilizao da como forma bsica de tornar possvel a sobrevivncia diante
da violncia instituda pelos dispositivos de poder e formas de ao das elites.
preciso interpretar positivamente esta violncia e no a psicologizar e tratar
ingenuamente como algo moralmente inferior. A violncia a nica forma de esses
grupos sociais poderem afrontar a arrogncia, a impunidade e o saqueamento
corsrio do Estado realizado pelas elites polticas, industriais e financeiras do pas,
que esto muito mal acostumadas a serem protegidas pelo Estado custa da
predao daqueles grupos
498
.
As conseqncias da combinao entre uma tradio hierrquica e autoritria, de um
lado, e o individualismo narcisista contemporneo, de outro, no poderiam deixar de ser
nefastas.
495
Conferir a comparao da cerimnia de assuno do Presidente no Brasil e nos EUA: enquanto l temos uma
, que representa nova temporalidade, aqui temos , celebrando uma pessoa e reafirmando o
poder centralizado. DAMATTA, Roberto. O Ritual de Posse. In:
. Rio de Janeiro: Rocco, 1996, p. 22. Tambm: VELHO, Gilberto. Felicidade brasileira. In:
. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira,
2002, pp. 189-195.
496
BIRMAN, Joel. , pp. 279-283.
497
BIRMAN, Joel. , p. 284. Ver:
COSTA, Jurandir Freire. A inocente face do terror. In: . Rio de Janeiro:
Rocco, 1999, pp. 90-92.
498
BIRMAN, Joel. , p. 285.
153
Os reflexos do individualismo contemporneo no mbito criminolgico so ntidos.
Como sinalvamos no item 4 da Seo 1 do Captulo 2, com base nas investigaes de Jock
Young e David Garland, passou-se de uma sociedade que nutria o sonho moderno da
incluso para a da pura e simples excluso (bulmica). A conseqncia mais gritante desse
fenmeno a reduo da pena sua funo de preveno especial negativa, neutralizao
ou inocuizao.
Massimo Pavarini percebe em investigao acerca dos processos de recarcerizao
surgidos nos ltimos anos na Itlia que h dois discursos presentes na leitura do crcere: o
primeiro, em crise, elitista e de carter predominantemente progressista; o segundo, em
crescimento, populista e se aproxima da retrica da gente e fala diretamente s pessoas nas
palavras dos polticos e meios de comunicao de massa. Para Pavarini, por mais que essa
penologia do baixo declare querer fugir de todo compromisso com justificaes
ideolgicas, pretendendo ser tecnocrtica, acaba desembocando em concepes pr-modernas
de penas
499
.
Com base nas taxas de encarceramento dos ltimos anos da Itlia e nos ciclos mdios
que costumam acompanhar processos de descarcerizao e recarcerizao, assim como a
homogeneizao das taxas de represso na Europa, Pavarini prev que a tendncia
inflao carcerria continuar a mdio prazo, no se podendo afirmar por quanto tempo
500
.
Essas taxas estariam ligadas ao vocabulrio que trata sobre o tema, dependendo do contexto
social em que esto imersas: quanto mais o vocabulrio da represso social adquire
prevalncia, maior a tendncia produtividade do sistema repressivo
501
.
Pavarini nota que o crcere, na sua histria de dois sculos, foi prevalentemente objeto
de uma retrica elitista, no qual a sua legitimidade vinha ancorada em razes de preveno
geral ou especial, tendo, por isso, se vinculado precipuamente a movimentos minoritrios
(freqentemente encampados por profissionais com propsitos progressistas). Essa leitura, no
499
PAVARINI, Massimo. Processos de Recarcerizao e Novas Teorias Justificativas da Pena. In:
. Org. Ana Paula Zomer. Trad. Lauren Stefanini. So Paulo: IBCCRIM, 2002, p. 128.
500
PAVARINI, Massimo. Processos de Recarcerizao e Novas Teorias Justificativas da Pena, pp. 138-139.
501
PAVARINI, Massimo. Processos de Recarcerizao e Novas Teorias Justificativas da Pena, p. 141.
154
entanto, atualmente encontra-se em crise, fundamentalmente a partir do lamento diante de
uma pena que de fato no como deveria ser. A perspectiva, por isso, redundou em espcie
de pessimismo penolgico, agravado pela ausncia de alternativas para abolio da pena de
priso
502
.
Mas eclode, ao mesmo tempo, um segundo discurso, hoje em forte crescimento, que no
mostra qualquer embarao ao crcere. Esse segundo discurso, caracterizado como penologia
de baixo, no busca falar cientificamente. O crcere, segundo seus defensores, pode
funcionar, produzindo menos criminalidade e reincidncia. Certamente, como anota
Pavarini, a execuo da pena no produz ressocializao de criminosos, tampouco
intimidao, mas especialmente efeito de . Essa neutralizao surge no
mbito de uma cultura tecnocrata e administrativa na penalidade: interpreta que a justia penal
persegue apenas o objetivo da eficincia. Trata-se de uma racionalidade fundamentalmente
preocupada com objetivos sistmicos
503
, como anota o criminlogo italiano:
... a gesto administrativa das penas fala uma outra lngua: no mais aquela de punir
os indivduos, mas de gerir grupos sociais em razo do risco criminal; no mais
aquela correcionalista, mas aquela burocrtica de como otimizar os recursos
escassos, nos quais a eficcia da ao punitiva no mais em razo dos
externos do sistema (educar e intimidar), mas em razo das exigncias intra-
sistmicas (neutralizar e reduzir os riscos)
504
.
A criminologia atuarial, por isso, no se preocupa mais em superar ou reduzir a
criminalidade, mas especialmente em gerir riscos com base em valoraes atuariais. O caso
dos criminosos de carreira, nesse sentido, emblemtico (ainda mais que se vincula com a
idia de Inimigo): a partir de linhas-guias, como por exemplo o fato de j ter cometido
outros delitos, ter estado no crcere quando era menor de idade, uso de herona, ou ausncia
de trabalho nos ltimos dois anos, pretende-se definir os , cuja resposta
vir em consonncia com a respectiva periculosidade. Tudo foi ao final foi simplificado, em
algumas legislaes norte-americanas, para a regra de beisebol que define:
, ou seja, crcere por toda vida ou penas detentivas no inferiores a trinta anos para
502
PAVARINI, Massimo. Processos de Recarcerizao e Novas Teorias Justificativas da Pena, pp. 143-145.
503
PAVARINI, Massimo. Processos de Recarcerizao e Novas Teorias Justificativas da Pena, pp. 146-147.
Os temas desenvolvidos nos itens .... do Captulo III retornam, em uma espiral compreensiva, aqui: exigncia de
ordem, solido mondica, exploso do medo e racionalidade puramente instrumental.
504
PAVARINI, Massimo. Processos de Recarcerizao e Novas Teorias Justificativas da Pena, p. 148.
Tambm considerando a neutralizao como caracterstica da penalidade contempornea: RIVERA BEIRAS,
Iaki. , p. 122.
155
reincidncia agravada ou prticas de crimes no especialmente graves (v.g., trficos de drogas
leves ou roubos)
505
.
A priso ocupa assim, segundo Garland, espcie de reserva, zona de quarentena, na
qual se segregam indivduos perigosos em nome da segurana pblica. Garland chega a
comparar as prises nos Estados Unidos ao sovitico: uma srie de campos de trabalho
e prises disseminadas por um vasto pas que albergava milhes de pessoas, muitas das quais
pertencentes a classes e grupos raciais que se mostraram problemticos politicamente
506
.
Assim,
Al igual que las sanciones premodernas de deportacin o destierro, las prisiones
funcionan ahora como una forma de exilio y el uso que se hace de ellas no est tan
definido por el ideal de rehabilitacin como por un ideal al que Rutherford llama de
la eliminacin
507
.
Interessa sublinhar o seguinte aspecto: como observa Pavarini, prestando-se ateno
estatstica da penalidade do passado, pode-se perceber que a observncia dessas regras de
neutralizao geraria uma taxa de insucesso de pelo menos 50%. Metade de quem seria
definido perigoso no teria reincidido uma vez descontada a pena, enquanto metade que no
seria assim definido teria cometido novos delitos. Assim,
... se se quer elevar as possibilidades de neutralizar os sujeitos que efetivamente
continuaro a delinqir, necessrio pagar o preo que comporta em incapacitar
tambm aqueles que perigosos no resultariam (os denominados
falsos positivos)
508
.
Pavarini identifica a um trao pr-moderno na aplicao da punio. O que
Foucault
509
caracteriza como elementos da pena pr-moderna virtudes deseconmicas como
magnificncia, ostentao e dissipao parece retornar sob a superfcie de um discurso de
racionalidade burocrtica, voltada para a eficincia e baseada no clculo. Na atual
democracia da opinio, reala-se nos sujeitos suas emoes mais elementares: medo e
rancor. Com o aumento das taxas de delito e o alastramento da experincia vitimolgica, as
505
PAVARINI, Massimo. Processos de Recarcerizao e Novas Teorias Justificativas da Pena, pp. 151-152.
Sobre criminologia atuarial: GARLAND, David. , pp. 297-303.
506
GARLAND, David. , p. 291.
507
GARLAND, David. , p. 292.
508
PAVARINI, Massimo. Processos de Recarcerizao e Novas Teorias Justificativas da Pena, p. 154.
509
FOUCAULT, Michel. , pp. 09-18.
156
propostas de lei e ordem e tolerncia zero funcionam como reproposio de velhas
receitas para novos problemas
510
.
Essa tendncia pode ser ainda agravada por um discurso em que o merecimento da pena
deixado em segundo plano em prol de estratgias que no pem mais limites imposio da
pena. nesse ponto que Pavarini refere Jakobs e sua teoria da preveno geral positiva:
Consegue que se puna no para retribuir um mal com um outro mal equivalente,
nem mesmo para dissuadir os potenciais violadores a no delinqir; se pune porque
atravs da pena se exercita a funo primria que aquela de consolidar a
fidelidade seja nos conflitos do direito, seja nos conflitos da organizao social por
parte da maioria.
A justificao do direito de punir retorna assim sua primitiva origem, quela fase
que precedeu a ruptura imposta pela modernidade, isto , a uma penalidade liberada
nos seus contedos e nas suas formas de cada vnculo racional. Uma espcie de
regresso, ento, a uma penologia fundamentalista
511
.
Note-se que, nesse ponto, Pavarini ainda est referindo o primeiro Jakobs, que estaria
a tratar especialmente o Direito Penal do cidado. Essa funo de confiana, que
era um elemento a restringir a aplicao da pena (mesmo que mais compatvel com o
suplcio pr-moderno, na medida em que no vinculava a pena a uma exigncia de
proporcionalidade com o delito cometido), ir finalmente , para dar origem a duas
vises da pena, conforme se abordou no item 1.1 da Seo 1 do Captulo I
512
: reafirmao,
independente de qualquer efeito externo, da identidade normativa da configurao social e
neutralizao pura e simples, independente de significados, do criminoso.
510
PAVARINI, Massimo. Processos de Recarcerizao e Novas Teorias Justificativas da Pena, pp. 156-158. A
introduo do Regime Disciplinar Diferenciado representa o acolhimento da ideologia da neutralizao no
mbito do ordenamento jurdico brasileiro. Ver: CARVALHO, Salo de & WUNDERLICH, Alexandre Lima. O
Suplcio de Tntalo: a Lei 10.792/03 e a consolidao da poltica criminal do terror.
, v. 12, n. 134, So Paulo, 2004, p. 06.
511
PAVARINI, Massimo. Processos de Recarcerizao e Novas Teorias Justificativas da Pena, pp. 159-160.
512
Ver, ainda: PEARANDA RAMOS, Enrique, SUREZ GONZLES, Carlos & CANCIO MELI, Manoel.
. Org. e Trad. Andr
Callegari e Nereu Giacomolli. Barueri: Manole, 2003, pp. 05-06. Como nota Neumann, no h limites imanentes
ao Direito Penal preventivo, que deve ser informado por limites externos; no Direito Penal do Inimigo, esses
limites, dada a natureza do destinatrio, inexistem. NEUMANN, Ulfried. Derecho penal del enemigo. In: ,
v. 2, p. 402.
157
A plena indiferena ao falso positivo pressupe as condies sociais em que o
individualismo alcana o seu ponto mximo: por no me refletir no espelho narcsico, o Outro
me totalmente indiferente, pouco importando sua neutralizao arbitrria. A prpria idia de
neutralizao no possui qualquer consistncia jurdica
513
: apenas a
, em um processo de , que subsiste. O Outro envolvido mais do que
nunca um , que se interpe na trajetria linear da performance narcisista e deve ser
isolado, qui destrudo, para no abalar a segurana do seu fechamento.
Independente da verdadeira do individualismo, se remonta a Ockham e
passa pelo direito natural, como quer Dumont, ou se prprio da Monadologia de Leibniz,
como quer Renaut, ambas construes configuram um ambiente intelectual em que o Mesmo
se fecha para o Outro, porm um Mesmo especfico, prprio da Modernidade: o sujeito
moderno. Como j abordamos no Captulo III, h uma tendncia, detectada por filsofos
como Emmanuel Levinas e Theodor Adorno, de reduo da diferena identidade,
consistindo o impulso filosfico original essa tendncia conceituao
514
. No horizonte
moderno, esse movimento de identificao ser deslocado do cosmos grego ou da teologia
medieval para o sujeito, tornando-o uma espcie de centro da realidade. Por isso, a leitura de
Martin Heidegger da Modernidade permanece vlida, quando afirma que o Ser foi pensado
como sujeito
515
.
Como uma mnada, o sujeito moderno fechou-se ao mundo, recusando de forma radical
toda e qualquer abertura ao Outro que se apresenta como . Uma ordem de
513
ZAFFARONI, Eugenio Ral; BATISTA, Nilo; ALAGIA & Alejandro, SLOKAR, Alejandro.
, pp. 127-128; ASUA BATARRITA, Adela. El discurso del enemigo y su infiltracin en el derecho
penal. Delitos de terrorismo, finalidades terroristas y condutas perifricas. In: , v. 1, pp. 241-242.
514
SOUZA, Ricardo Timm de. Da Neutralizao da Diferena Dignidade da Alteridade: estaes de uma
histria multicentenria. In: , pp. 189-208.
515
Pelo que fica claro que discordamos, nesse ponto, de Alain Renaut ( , pp. 27-64). Ver:
SOUZA, Ricardo Timm de. . In: O Tempo e a Mquina do
Tempo: estudos sobre filosofia e ps-modernidade. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1998, pp. 66-80; VATTIMO,
Gianni. , pp. 89-101; HEIDEGGER, Martin. In: Conferncias e
Escritos Filosficos, pp. 55-63. Aderir histria contada por Heidegger, no entanto, no significa que
estejamos aderindo a todas as ponderaes posteriores, como fizemos questo de salientar na nota ... do Captulo
III.
158
imanncia estabeleceu-se, sem que nada pudesse se opor a esse sujeito auto-intitulado senhor
da natureza. O passo filosfico que comea em Ren Descartes transformou-se em fenmeno
, gerando o individualismo contemporneo.
De um sujeito capaz de subsumir a realidade e servir de pedra angular epistemolgica da
racionalidade moderna, o passo ao indivduo narcisista contemporneo no chega a ser
surpreendente. Se, poca de Leibniz, era ainda possvel acreditar na fbula de Mandeville ou
na mo indivisvel de Adam Smith, os passos que levaram a mnada a fechar-se radicalmente
sobre si mesma, ignorando tudo ao seu redor, no tardaram a chegar. Da crena de que havia
uma organizao vertical a garantir aos homens a organizao desde que cada um cuidasse
de si, passa-se indiferena absoluta ao que ocorre externamente bolha na qual se
esconde o indivduo contemporneo. Sua preocupao unicamente em satisfazer sua
performance, manter o fluxo de vida seguro e incapaz de diante do traumatismo do
Outro. O que ocorre ao Outro totalmente indiferente.
Bauman refere que
para alguns moradores da cidade moderna, seguros em suas casas prova de
ladres em bairros bem arborizados, em escritrios fortificados no mundo dos
negcios fortemente policiados, e nos carros cobertos de engenhocas de segurana
para lev-los das casas para os escritrios e de volta, o estranho to agradvel
quanto a praia da rebentao, e absolutamente no viscoso
516
.
No , no entanto, esse estranho que chega a interrompe o dia feliz do turista ao
empunhar uma arma e coloc-lo no porta-malas do seu veculo, efetivando um seqestro
relmpago? No essa alteridade irruptiva que chega, como descreve Levinas, de forma
traumtica? No se torna ela viscosa viscosa interrompendo a trajetria
linear e ilusria da mnada fechada e indiferente ao seu exterior? De que forma um ato de
extrema violncia verdadeiramente insuportvel no reflete um silenciamento absoluto e a
incapacidade de emitir uma palavra capaz de romper com a ordem que aprisiona
517
?
516
BAUMAN, Zygmunt. , p. 41.
517
Traamos interpretao nesse sentido em: NETO, Moyss & BINATO JR, Otvio. Revisitando o conceito de
sociedade e a hermenutica da violncia a partir dos ataques do Primeiro Comando da Capital em So Paulo. In:
, v. 5 n.1. Pelotas: Editora da UCPEL, jan-dez de 2006. pp.
193-198.
159
In-diferena. As relaes sociais foram corrompidas a ponto do esfacelamento integral.
O falso dilema indivduo versus sociedade
518
prova de que a crena na mnada solipsista
pde encontrar um acolhimento cultural solidificado e consolidado nos ltimos sculos. A
tendncia ao Mesmo que se mostra como constante filosfica ao longo dos tempos
transforma-se em tendncia ao Eu (como manifestao do Mesmo), e irrelevncia absoluta
do Outro. Fecham-se os espaos pblicos de negociao e reivindicao e passa-se a comprar
segurana
519
.
Quando a penologia torna-se uma estratgia de pura e simples inocuizao do Outro,
quando a sociedade se torna bulmica e aquele que se coloca enquanto alteridade ou seja,
enquanto desestruturao, traumatismo, rompimento do bloco monoltico da ordem se torna
Inimigo, o Direito Penal torna-se simples estratgia de engenharia social, sem qualquer
preocupao com a justia ou outros fins. Seu objetivo pura e simplesmente a manuteno
da ordem para que as mnadas sigam sua trajetria narcisista. Tudo aquilo que irrompe de
forma subversiva e exige uma atitude de abertura incondicional deve ser tratado como resto,
excludo e de preferncia eliminado
520
.
assim que o Direito Penal do Inimigo
521
se mostra como uma faceta
do individualismo contemporneo. O Direito Penal passa a ser no ter mais objetivo seno
realizar uma espcie de eliminao do estranho interposto no caminho suave que as mnadas
preocupadas com o prprio corpo, para usar a expresso de Jakobs almejam percorrer.
O mundo transforma-se em jardim funcional no qual o que se passa ao Outro no interessa
518
O problema foi dissolvido por diversas vias. Ver: ELIAS, Norbert. , pp. 80-101;
CAAR, E.H. 6 ed. Trad. Lcia Alverga. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989, pp. 31-49.
519
RIVERA BEIRAS, Iaki. , p. 125; GARLAND, David.
, pp. 56-58
520
Relacionando Direito Penal do Inimigo e inocuizao: CORNACCHIA, Luigi. La Moderna
. In: , v. 1, p. 438; DEZ RIPOLLS, Jos Luis. De la sociedad del riesgo
a la seguridad ciudadana: el debate desenfocado. In: , pp. 576-577; DONINI, Massimo. El Derecho penal
frente al enemigo. In: , v. 1, p. 638; FEIJOO SNCHEZ, Bernardo. El Derecho penal del enemigo y el
Estado democrtico de Derecho. In: , v.1, pp. 807-808 e 822-839; LASCANO, Carlos Julio. La
demonizacin del enemigo y la crtica al Derecho penal del enemigo basada en su caracterizacin como
Derecho penal del autor. In: , v. 2, pp. 225-228; SCHEERER, Sebastian; BHM, Maria Laura & VQUEZ,
Karolina. Seis preguntas y cinco respuestas sobre el Derecho penal del enemigo. In: , v. 2, pp. 928-930.
Vale referir concluso de Ripolls idntica nossa argumentao: La ideologia de la distribucin de riesgos
entre individuo y sociedade es, a mi juicio, un discurso que se sirve de una terminologia tecnocrtica para ocultar
su insolidaridad social que le inspira (p. 577). Recorde-se que, para Dumont, o germe da doena totalitria era
exatamente a idia de darwinismo social do cada um por si, como exploramos linhas atrs.
521
Reconhea-se, nesse sentido, que Jakobs pretende suplantar a existncia do indivduo atomizado e trazer o
contexto social. No entanto, faz parte do sentido da efetivamente borrar essas fronteiras textuais,
o dentro e o fora do texto. O fora do individualismo passa a ser dentro de um texto que pretende exum-
lo.
160
mais, mantm-se apenas o foco na prpria performance pessoal tentando atravessar a
existncia sem a experincia traumtica da alteridade. A preocupao j no mais com a
justia da pena, como ocorria com a idia retributiva (embora se possa contestar a procedncia
da tese): a pura e simples neutralizao que est em jogo, e s. neutralizado
Outro, perante o qual, como no se est no espelho narcsico, s resta a indiferena.
161
A verdadeira vida est ausente, mas estamos no mundo. Segundo Levinas, a
metafsica surge e se mantm nessa escusa. O desejo metafsico, assim, o desejo do
totalmente outro, que no corresponde ao mundo de que posso me nutrir, do pas que
habito, da paisagem que contemplo, mas daquilo que absolutamente outro, que no retorna a
mim, que no posso absorver
522
. Est alm da possibilidade de satisfao, uma relao cuja
positividade consiste, precisamente, na respectiva separao. No posso pensar esse Outro
desejado previamente nesse caso, no estaria diante da alteridade absoluta mas apenas se
embarco na aventura, como se fosse em direo morte
523
.
O movimento metafsico, por isso, transcendente e a transcendncia mostra-se como
desejo e inadequao. A distncia na qual essa transcendncia se expressa sua
exterior; sua caracterstica formal e seu contedo , precisamente, ser outro. O metafsico
e o Outro, por isso, no se totalizam, esto absolutamente separados. Para no se totalizar,
esse Outro no oposto ao Um. Isso pressuporia uma correlao em que ele seria absorvido
novamente pela totalidade, que comporia um esquema de oposio no qual estaria integrado.
A alteridade s permanece radicalmente alteridade se sua essncia permanecer no ponto de
partida, servir de entrada na relao, sem estar em correlao com o Mesmo
524
.
522
LEVINAS, Emmanuel. , p. 57.
523
LEVINAS, Emmanuel. , p. 58. H muitas semelhanas, por
isso, em relao aventura da desconstruo ou do traado da diferensa, de que fala Jacques Derrida. Ver:
DERRIDA, Jacques. Freud e a Cena da Escritura. In: , p. 187. Semelhanas que se
manifestam ao longo de toda obra desses dois filsofos. Ver: CRITCHLEY, Simon. ,
pp. 09-13. A noo de intervalo de Ricardo Timm de Souza tambm pode ser cotejada: SOUZA, Ricardo
Timm de. , pp. 25-29.
524
LEVINAS, Emmanuel. , pp. 59-60.
162
A alteridade no uma alteridade em relao a um Eu com uma identidade que se
fixa, pois esse Eu se reencontra consigo mesmo, como ocorre na fenomenologia de Hegel.
A identidade, que constitui o Eu, no uma relao de simples igualdade Eu sou Eu. Para
compreend-la, necessrio sair da explicao formal (A=A) e partir para o mundo concreto,
no qual esse Eu est em relao com o mundo. A modalidade desse Eu com o mundo consiste
em morar, habitar. O lugar, o ambiente, oferece meios. Pertence-me. Tudo est ali de
antemo a meu dispor; passvel de apreenso, apropriao, est em relao comigo. Essa
habitao consiste na modalidade do Mesmo estou em casa
525
.
Assim, a identificao do Mesmo no um esquema vazio, formal, abstrato, que nada
significa. No a simples tautologia do A=A, nem simples oposio dialtica ao Outro, que
formaria uma totalidade a abranger ambos os plos. A pretenso metafsica, com isso, seria
desmentida. no concreto do que se manifesta o Mesmo, no podendo seus dados
concretos economia, trabalho, famlia, etc. serem isolados, a pretexto de meros acidentes,
pois constituem seu mundo. O Outro, por sua vez, aquilo que no est em nenhum lugar. O
Outro no uma alteridade oposta ao Mesmo, mas o que precisamente tem como seu
contedo a alteridade
527
.
A relao do Mesmo ao Outro Levinas denomina . Na linguagem, o Outro
no precisa se reduzir ao Mesmo, essa relao do Mesmo ao Outro, metafsica, funciona como
discurso em que o Mesmo, resumido na sua ipseidade de Eu ente particular e autctone
sai de si. Essa relao no se produz no mbito do ser no qual teria de se transformar
em totalidade mas no face-a-face, irredutvel a atividade sinttica do entendimento. Ou
seja, para que a alteridade se constitua ela no pode se refletir em pensamento produz-se,
ao contrrio, exatamente onde esse pensamento. Essa ligao, que constitui a linguagem
e o discurso, chamada por Levinas de religio
528
. Em lugar de o Outro figurar como
objeto, o pensamento consistiria nesse caso em
529
.
525
LEVINAS, Emmanuel. , pp. 60-61.
526
O egosmo, no entanto, no tem sentido de defeito moral ou social, mas de tenso natural do ser sobre si
mesmo. PIVATTO, Pergentino. Responsabilidade e Culpa em Emmanuel Levinas. In: , p.
307.
527
LEVINAS, Emmanuel. , p. 62.
528
Como j havamos anotado com base no ensaio antecedente a Totalidade e Infinito a ontologia
fundamental?, que nos serviu de suporte para contestar as noes representacionais do Outro no item....
529
LEVINAS, Emmanuel. , pp. 63-64.
163
A transcendncia no pura negatividade. Pensar em negativo j estar integrado na
totalidade, permanecendo na condio de Mesmo. A idia do infinito e do perfeito que o
meu intelecto, embora possa conceber, no alcana no se reduz negao do finito e do
perfeito. Designa, ao contrrio, uma relao com o infinitamente distante, sem que essa
distncia destrua a relao e sem que essa relao constitua uma confuso com o Mesmo
530
.
Levinas ir formular novamente ento sua crtica ontologia fundamental de Martin
Heidegger: a metafsica antecede a ontologia. A relao metafsica at ento fora pensada
como relao , na qual o saber sobre o ser conhecido mantm a alteridade deste. Mas a
teoria, embora conserve esse traado de alteridade na medida em que o Outro se mantm
Outro, ainda inteligncia, e por isso privar o Outro dessa alteridade, ainda que
introduzindo um terceiro termo: o conceito. Ele viria amortecer o choque entre o Mesmo e
o Outro. O individual que existe passa ento a fazer parte do pensamento generalizante
531
. A
teoria, como inteligncia dos seres, merece o nome de ontologia. A ontologia o que retorna
o Outro ao Mesmo, promove a liberdade que a identificao do Mesmo. A teoria renuncia
ao Desejo metafsico, maravilha da exterioridade, da qual vive esse Desejo
532
. Mas, assim
como a crtica precede ao dogmatismo, a metafsica precede a ontologia
533
.
O questionamento do Mesmo no se d no mbito da espontaneidade egosta desse
Mesmo. Ele se efetua pelo Outro. A esse questionamento da minha espontaneidade se d o
nome de tica. A filosofia ocidental tem sido uma ontologia: reduo do Outro ao Mesmo, por
mediao de um termo neutro que assegura inteligncia ao ser. A razo uma manifestao
de liberdade, neutralizando o Outro e englobando-o, colocando-o como tema e objeto. A
filosofia apresenta-se como egologia: o estrangeiro e exterior manifestam-se a partir de
intermedirio (o conceito); a verdade socrtica apresenta-se como suficincia essencial do
Mesmo. A ontologia de Heidegger, particularmente, ao abordar o ente a partir do ser, mantm
uma relao impessoal com esse ente e, com isso, subordina a tica ontologia ou a justia
530
LEVINAS, Emmanuel. , p. 65.
531
LEVINAS, Emmanuel. , p. 66.
532
Este trecho est a revelar um profundo dilogo e qui provocao direta ao pensamento heideggeriano, na
medida em que a destruio da metafsica empreendida por Heidegger reinterpretada e Levinas faz questo
de se contrapor integralmente ao filsofo germnico, utilizando o termo metafsico para espelhar uma
dimenso no percebida naquele processo de destruio, que, na nossa leitura, visava eliminao da
transcendncia em sentido teolgico (onto-teolgico), no no proposto por Levinas. A supresso da tica no
pensamento de Heidegger e sua experincia com o nazismo devem ter marcado profundamente Levinas, a ponto
de adotar metforas que se contrapem diretamente aos ensinamentos de .
533
LEVINAS, Emmanuel. , pp. 66-67.
164
liberdade
534
. A ontologia como filosofia primeira, por isso, uma filosofia da potncia,
em que se suprime e possui o Outro
535
.
Levinas prope, em sentido oposto tradio, que os conflitos entre o Mesmo e o Outro
no se resolvam, em teoria, pela reduo do Outro ao Mesmo, ou, concretamente, por meio de
um Estado de poder annimo, no qual o Eu volta a encontrar a guerra na opresso tirnica que
sofre da totalidade. A tica, ao contrrio, prope que o Mesmo tenha em conta a
irredutibilidade do Outro, formando uma relao no-alrgica com a alteridade. A relao
tica, enquanto filosofia primeira, ope-se identificao entre liberdade e poder, mas no
est contra a verdade, vai em direo exterioridade absoluta do Outro e leva a cabo a
inteno mesma de caminhar at verdade
536
.
La relacin con un ser infinitamente distante es decir, que desborda su idea es
tal que su autoridad de ente es ya en toda pregunta que pudiramos
plantearnos sobre la significacin de su ser. No se interroga sobre l, se lo
interroga. Siempre nos da la cara
537
.
Essa relao do Mesmo com o Outro intuda por Ren Descartes a partir da sua idia
de infinito, na qual o eu penso mantm com o infinito, que no pode de modo algum conter
e do qual est separado, uma relao chamada de idia do infinito. O escapa
idia, a respectiva distncia entre ambos que precisamente constitui a idia de infinito. O
infinito o prprio ser transcendente enquanto transcendente, enquanto totalmente outro, est
completamente separado da sua idia e, por isso, representa a exterioridade
538
.
Dessa forma, o Outro se apresenta como Outro a mim, superando minha idia do
Outro. Quando isso ocorre, est-se diante do Rosto. Levinas afirma:
El rostro del Otro destruye en todo momento y desborda la imagen plstica que l
me deja, la idea a mi medida y a la medida de su ; la idea adecuada. () El
rostro, contra la ontologa contempornea, aporta una nocin de verdad que no es el
desvelamiento de un Neutro impersonal, sino una : el ente perfora todas
las envolturas y generalidades del ser, para exponer su forma, la totalidad de su
contenido, para suprimir a fin de cuentas la distincin de forma y contenido (lo
534
LEVINAS, Emmanuel. , pp. 68-69.
535
LEVINAS, Emmanuel. , p. 70.
536
LEVINAS, Emmanuel.
165
que no se obtiene por cualquier modificacin del conocimiento que tematiza, sino
precisamente por la modificacin de la tematizacin en discurso)
539
.
Abordar o Outro no discurso, assim, receber sua expresso para alm do pensamento,
mais alm da capacidade do Eu, ou, simplesmente, ter a idia do infinito. A relao
com o Outro no discurso, que uma relao no-alrgica, configura-se como tica, na qual o
discurso recebido torna-se ensinamento. Ensinamento que no se converte em maiutica,
mas vem do exterior e traz mais do que eu consigo conter. Na sua transitividade no-violenta
produz-se, precisamente, a epifania do Rosto
540
.
O psiquismo do Eu constitui, sem dvida, um acontecimento no ser. Mas o seu papel
no consiste em apenas o ser. Ele , j em si mesmo, modalidade desse ser, resistncia
totalidade. O psiquismo abre-se a partir do impulso de resistncia que ope um ser sua
totalizao, que a separao radical. O Cogito a partir da idia de infinito testemunha
dessa separao. Essa relao mais antiga que o ser; o ser no , embora no seja
nada, seno que mantm distncia de si mesmo. A causa do ser, nesse caso,
como se fosse seu efeito. A idia de infinito antecede o pensamento, esse antes e
simplesmente recebido
541
.
Levinas v nessa estrutura um intervalo entre o ser-que-pensa e a totalidade. Ele
somente se coloca integralmente na totalidade no momento da sua morte. A vida deixa-lhe
constantemente uma reserva, um aprazamento que precisamente a constituio da
interioridade
542
. A totalizao s se leva a cabo na histria dos historiadores, ou seja, a dos
sobreviventes. Repousa sobre a convico de que a ordem cronolgica representa a trama do
ser, anloga natureza. O tempo da histria ainda ontolgico; abstrai as existncias
particulares, que se perdem. Nesse tempo, a interioridade um no-ser onde tudo
possvel, uma espcie de tudo possvel da loucura. A interioridade apresenta-se, assim,
539
LEVINAS, Emmanuel. , pp. 74-75.
540
LEVINAS, Emmanuel. , p. 75.
541
LEVINAS, Emmanuel. , pp. 77-78.
542
Mais uma vez aqui est-se diante da semelhana com a diferensa de Derrida que protegeria a vida no seu
diferir temporal. Conforme item... do Captulo II.
166
como uma forma de um nascimento e morte que no extraem sua significao da histria.
Instaura uma ordem diversa da totalidade e do tempo histrico, uma ordem na qual tudo est
pendente, tudo segue sendo possvel. O nascimento de um ser separado pode parecer
absurdo do ponto de vista histrico, mas esses paradoxos so superados pelo psiquismo
543
.
Por la memoria, me fundo fuera del tiempo, retroactivamente: asumo hoy da lo
que, en el pasado absoluto del origen, no tena sujeto para ser recibido y que, desde
entonces, pasada como una fatalidad. Por la memoria, asumo y replanteo. La
memoria realiza la impossibilidad: la memoria, com posterioridad, asume la
pasividad del pasado y su domnio. La memoria como inversin del tiempo
histrico es la esencial de la interioridad
544
.
essa posio de interioridade que me permite sair do ponto da pura passividade. O
tempo da vida no o tempo da histria. Tempos que no correm paralelamente: o tempo
prprio transcorre em uma dimenso prpria, tem um sentido e significa triunfo sobre a morte
a partir da descendncia, que abre novas possibilidades. A interioridade est ligada com o Eu,
a separao s radical se cada um tem seu tempo ou sua e se esse tempo
no absorvido no tempo universal. essa descontinuidade que interrompe o tempo histrico
e no pode ser sacrificada. Esse secreto interrompe a continuidade e permite o pluralismo
da sociedade. Torna, por isso, impossvel pensar-se em uma totalidade humana
545
.
Esse entre-tempo, intervalo entre o ser e o nada, Levinas chama de tempo morto. a
interrupo com a durao do tempo histrico e totalizado. A separao da existncia
particular dessa totalidade da histria chamada de atesmo. a crena na existncia sem
participao naquela transcendncia demirgica
546
, ou seja, uma espcie de vida fora de
Deus. Esse o terreno do egosmo, segundo Levinas. A vontade, nessa leitura, a
manifestao de um ser que precede sua causa, sendo o psiquismo a sua respectiva
possibilidade. O psiquismo o local do gozo, do egosmo aporta um princpio de
543
LEVINAS, Emmanuel. , pp. 78-79.
544
LEVINAS, Emmanuel. , p. 79. Essa passagem indica um
profundo bergsonismo de Levinas, ao situar a memria como contedo da prpria conscincia enquanto
interioridade.
545
LEVINAS, Emmanuel. , pp. 80-81. Aqui, visivelmente, o
objeto da crtica Hegel e seu sistema que absorve o sujeito na histria.
546
precisamente nesse momento que se situam, na nossa interpretao, filosofias como as de Friedrich
Nietzsche e Gilles Deleuze, especialmente, no caso do ltimo, na idia spinoziana de um plano de imanncia.
Essas propostas filosficas anti-transcendentes representam manifestaes desse atesmo. Ver: DELEUZE,
Gilles & GUATTARI, Flix. Trad. Bento Prado Jr. e Alberto Muoz. Rio de Janeiro: Editora
34, 1992, pp. 51-79.
167
individuao. A pluralidade requerida para o discurso , est sujeita, interioridade da
qual est dotado cada envolvido, constituindo-se a partir da sensibilidade
547
.
A independncia atia do ser separado faz possvel a idia de infinito. Esta no anula a
separao, que se mantm como transcendncia. O Mesmo s pode se reunir com o Outro nas
contingncias e riscos da busca da verdade, em vez de repousar na segurana dele prprio.
Sem separao, no h verdade, s haveria o ser. No contato da verdade, o Mesmo relaciona-
se com o Outro apenas tangencialmente, sem coincidir com ele, chegando a uma totalidade. A
verdade, por isso, pressupe um ser autnomo na separao. Porque a separao se produz
como psiquismo, a relao com o Outro se d como Desejo, de forma que a teoria mesma
pressupe e precisa da exterioridade. Pressupe, portanto, a idia de infinito. o
infinito, o que se suscita como conhecimento no ele prprio (infinito), pois no pode ser
objeto, mas o desejvel, o que suscita o Desejo, que abordvel por um pensamento no
qual se pensa mais que o pensado. Infinito significa, por isso, mais que um horizonte sem
vista, mas uma desproporo que se mostra como Rosto
548
.
A situao da linguagem a de mostrar esse ser separado e autnomo, satisfeito na sua
ipseidade, que busca o Outro sem estar na carncia da necessidade. A este ateu (cujo atesmo
sem carncia, necessidade) sobrepassa o Desejo que vem da presena do Outro. O ateu
existe em um sentido eminente: sobre o ser, est feliz. Est , por gozar (felicidade) e
desejar (verdade e justia). nesse momento que pode bater seu prprio recorde, ao
suspender seu movimento espontneo de existir e dar outro sentido sua apologia,
preocupando-se com outro ser. A imortalidade no se torna seu primeiro objetivo: o
movimento do Desejo, preocupao com o Outro, estrangeiro, que se revela como justia
549
.
Afirmar essa relao de verdade que sustenta a relao do Mesmo ao Outro no se
opor ao intelectualismo, mas assegurar sua aspirao fundamental, o respeito ao ser que
ilumina o intelecto. A originalidade dessa relao segundo Levinas consiste na
autonomia do ser separado. O conhecedor no faz o conhecido ser integrado, mantm a
condio separada. A relao implica uma dimenso de interioridade inolvidvel
550
. A
experincia absoluta, por isso, no o desvelamento, no qual se tomaria um tema para
547
LEVINAS, Emmanuel. , pp. 82-83.
548
LEVINAS, Emmanuel. , pp. 84-85.
549
LEVINAS, Emmanuel. , pp. 86-87.
550
LEVINAS, Emmanuel. , p. 87.
168
interpretao e teria uma posio absoluta dominando o objeto. A experincia absoluta
: coincidncia do expressado com aquilo que expressa, manifestao por isso
mesmo privilegiada do Outro, de um Rosto para alm da forma. A forma trai freqentemente
na medida em que se petrifica em plstica. O Rosto a expresso mesma, presena viva. A
vida dessa expresso desfazer a forma em que o ente se manifesta, dissimulando-se. O Rosto
fala. Sua manifestao j discurso
551
.
Esse desfazimento de si mesmo para apresentar-se como Outro a estrutura do sentido.
O sentido no essncia ideal. dito e ensinado pela presena viva. No se reduz a
impresso sensvel ou intelectual pensamentos do Mesmo , acontecimento irredutvel
evidncia. presena mais direta que a manifestao visvel, domina aquele que a recebe
552
.
El invocador no es alguien a quien comprendo: Es alguien a
quien hablo. Slo tiene una referencia de s, no tiene . Pero la estructura
formal de la interpelacin debe ser desarrollada. El objeto del conocimiento es
siempre ya hecho y dejado atrs. El interpelado es convocado a hablar, su palabra
consiste en auxiliar a su palabra, en estar
553
.
Remeter-se ao absoluto ateu receber o absoluto purificado da violncia do sagrado. A
idia de infinito o projeto de uma humanidade sem mitos. A revelao discurso. Para
receber essa revelao, necessrio estar aberto a esse papel de interlocutor, de ser separado.
Esse atesmo condiciona uma relao com um verdadeiro Deus, distinta de objetivao ou da
participao. Escutar a palavra divina, aqui, significa estar disposto a estar em relao com
uma idia de transborda de mim no pode ser conhecida ou tematizada, sob pena da
substncia deixar de ser a si mesma
554
.
A dimenso do divino, por isso, abre-se enquanto Rosto humano. Uma relao
transcendente (que, no entanto, livre de todo domnio do transcendente) uma relao
social. Esse atesmo do metafsico representa, em outros termos, uma relao com a
551
LEVINAS, Emmanuel. , p. 89.
552
LEVINAS, Emmanuel. , p. 89.
553
LEVINAS, Emmanuel. , p. 92, grifo no original
554
LEVINAS, Emmanuel. , pp. 100-101.
169
Metafsica que no teolgica, no uma tematizao, mas um comportamento tico. O face-
a-face a sua manifestao mais direta, na qual Deus acessvel na justia. A tica , assim,
tica espiritual. A metafsica desenvolve-se ali onde se d a relao social: na nossa relao
com os homens. No pode haver acontecimento com Deus separado dos acontecimentos com
os homens. O Outro no mediador de Deus: por seu Rosto que se ocorre a altura que Deus
revela. A metafsica se d aqui embaixo, no deixando sua significao ser sacada da tica
555
.
A totalidade no pode se constituir no pela insuficincia do Eu, mas porque o Infinito
no se deixa integrar, o Infinito do Outro
556
. A religio a estrutura dessa relao. A
conjuno entre o Mesmo e o Outro o recebimento do Outro em relao
a mim. O Outro deve fazer-me frente
557
.
O Desejo da exterioridade move-se no no conhecimento objetivo, seno como
Discurso, que se apresentou como justia, retido do recebimento ao Rosto. Conhecer
justificar, fazendo intervir, por analogia ordem moral, a noo de justia. a justia que
obstaculiza nossa espontaneidade. O bloqueio dessa espontaneidade o respeito ao objeto,
vindo de um saber que questiona a si prprio (estrutura crtica que origem de todo saber).
o fracasso da minha espontaneidade que desperta a razo e a teoria, a dor me da sabedoria.
A teoria poltica pretende encontrar nessa espontaneidade o fundamento da justia, medida
que ela prpria exige, para seu exerccio, as exigncias de ordem e limitao,
compatibilizando liberdades
558
.
Essa tese, no entanto, criticvel. A conscincia da indignidade moral, segundo
Levinas, precede verdade, a compatibilizao do todo e no supe a sublimao do Eu no
universal. A conscincia da indignidade no uma verdade, uma considerao do fato;
no sequer . Ela subordinao ao Outro, ao infinito, ao
exterior. A liberdade que tem vergonha de si prpria funda a verdade (e assim a verdade no
se funda na verdade). O Outro no inicialmente fato, no obstculo. O recebimento do
Outro questiona minha liberdade, leva a cabo a vergonha de uma liberdade que descobre a si
prpria assassina no seu exerccio. O discurso e o Desejo em que o Outro se apresenta como
interlocutor como aquele que faz irromper a conscincia da vergonha. Por
555
LEVINAS, Emmanuel. , pp. 101-102.
556
LEVINAS, Emmanuel. , p. 103.
557
LEVINAS, Emmanuel. , p. 104.
558
LEVINAS, Emmanuel. , p. 105.
170
isso, no adequada uma idia terica de outro eu, sua existncia justificada fato primeiro,
como a idia de perfeio do Infinito
559
.
Contrapondo-se a Jean-Paul Sartre, Levinas afirma, ento, que a existncia no est
condenada liberdade, mas como liberdade. Filosofar remontar aqum da
liberdade, descobrir a investidura que libera a liberdade do arbitrrio. A filosofia a crtica, o
poder questionar-se, penetrar mais aqum da prpria condio
560
. O problema do
conhecimento objetivo pressupe que a liberdade s pode se fundar em si mesma, a partir de
uma determinao do Outro no Mesmo, situao que espelha o movimento da representao e
da evidncia. Identificar o problema do fundamento do conhecimento a partir do
conhecimento dar por suposto o arbitrrio da liberdade que se pretender fundamentar. O
saber cuja essncia crtica aquele que no pode se reduzir ao movimento objetivo, mas
conduzir ao Outro. Receber o Outro questionar minha liberdade
561
.
A filosofia, portanto, passa a ser uma forma de questionamento do fundamento da
liberdade, no qual o recebimento do Outro aparece como conscincia da minha injustia.
Receber o Outro como Outro significa, em outros termos, inverter o movimento da
tematizao, que no remete a um conhecer, mas a submeter-se a uma exigncia a uma
moralidade. O Outro metafsica, transcendncia que rompe com o imperialismo do Mesmo;
o fim dos meus poderes
562
.
O Eu pode, sem dvida, aderir a uma totalidade. Como acontece no pensamento de
Hegel, a liberdade remete a uma ordem universal. A tradio filosfica do Ocidente, quando
no afirmao da supremacia do Mesmo, remete a uma ordem universal. H uma
substituio das pessoas por idias, do interlocutor pelo tema, da interpelao da exterioridade
interioridade da relao lgica. Os entes remetem ao Neutro. Falar, no entanto, no sentido
que j foi exposto, numa relao de discurso que rompe e comea, separar-se dessa tradio
que busca em si o fundamento de si mesma, fora do influxo heternomo. A essncia da razo
559
LEVINAS, Emmanuel. , p. 106. Esse pargrafo explicita
bem a cadeia argumentativa que destri a Lei Moral kantiana e suficiente para perceber-se que a dimenso de
heteronomia do pensamento de Levinas vai muito alm da postura de Kant, ao contrrio do que prope Alain
Renaut. , pp. 233-239.
560
LEVINAS, Emmanuel. , p. 107.
561
LEVINAS, Emmanuel. , p. 108.
562
LEVINAS, Emmanuel. , p. 109.
171
no consiste, dessa forma, em assegurar ao homem fundamento e poderes, e sim em
question-lo e convid-lo justia
563
.
El sentido de todo nuestro discurso consiste en afirmar no que el otro escapa
siempre al saber, sino que no tiene ningn sentido hablar aqu de conocimiento o
ignorancia, porque la justicia, la transcendencia por excelencia y la condicin del
saber no es de ninguna manera, como se pretende, una correlativa de un
564
.
Nada do que toca o pensamento pode transbord-lo. Tudo assumido livremente. Nada,
exceto o juzo que julga a prpria liberdade do pensamento. A presena do Mestre que
ensina com sua palavra que vem do exterior e est aqum da tematizao no se oferece a
um saber objetivo; est, em sua presena, em sociedade comigo. A conscincia moral aquilo
que permite o questionamento da liberdade, a partir da associao com o Outro. Minha
liberdade no mais a ltima palavra; no estou solitrio no mundo. Com a conscincia
moral, tenho uma experincia sem qualquer : uma experincia sem conceito. A
experincia conceitual, que est em todas as outras modalidades de experincia, resulta da
minha liberdade. A conscincia moral e o desejo no so formas entre outras de conscincia,
mas aquilo que sua condio
565
.
A separao metafsica, que at ento fora considerada como uma espcie de
diminuio da capacidade humana expressada na idia de finitude pode agora deixar de
ser interpretada como degradao. A ontologia da existncia humana considera a finitude um
. A separao, no entanto, precisamente o que constitui o pensamento. No aquilo
que se percebe a partir dele; a estrutura mesma do pensamento e da interioridade, de uma
relao de independncia
566
.
A idia de infinito atinge meu poder, ultrapassando-o, porm no quantitativamente,
antes o questionando. No vem de um fundo , mas a experincia por excelncia. O
sentido do Rosto no pode ser compreendido ou englobado, visto ou tocado. A sensao
visual ou ttil j envolve no Eu a alteridade do objeto que chega a ser contedo. A relao
com o Outro no se comporta em termos de contemplao, introduz uma dimenso de
transcendncia totalmente diferente do egosmo do gozo. Na linguagem, no se est no
563
LEVINAS, Emmanuel. , p. 110-111.
564
LEVINAS, Emmanuel. , p. 112.
565
LEVINAS, Emmanuel. , pp. 122-123.
566
LEVINAS, Emmanuel. , pp. 125-126.
172
mundo da lgica formal, que no concebe a diferena absoluta. Os dois interlocutores so
absolutos na relao. A linguagem o que define o poder de romper com a histria. Quando
estou diante do Outro, caso o tematize, ele imediatamente evade-se. A estrutura da linguagem,
por isso, anuncia a inviolabilidade tica do Outro. A idia de infinito processa-se de forma
semelhante ao argumento ontolgico de Deus: o mais est contido no menos. Somente essa
idia mantm a exterioridade do Outro
567
.
A partir do reconhecimento da exterioridade, possvel complementar a anlise do
captulo anterior sobre o assassinato a partir do seu sentido . Ao lado da
impossibilidade tica de matar o Outro, que se ausenta quando consumado o assassinato, o
no matars inscrito no Rosto apresenta-se como nudez e misria, instaurando-se na
proximidade do Encontro. Essa expresso no o neutro de uma imagem; uma solicitude
que me toca desde sua misria e grandeza. H um Desejo que se confunde na Altura e
Humildade do Outro. O ser que se expressa me desde sua misria e sua nudez, desde
sua fome, sem que possa fazer ouvidos surdos ao seu chamado. O Outro no limita, seno
promove, a minha liberdade, suscitando minha bondade
568
.
El orden de la responsabilidad en el que la gravedad del ser ineluctable congela
todo re, es tambin el orden en el que la libertad es ineluctablemente invocada, de
suerte que el peso irremisible del ser hace surgir mi libertad. Lo ineluctable no tiene
ya la inhumanidad de lo fatal, sino la severa seriedad de la bondad
569
.
Assim, diante da fome do Outro, a responsabilidade irrecusvel. O Rosto abre o
discurso original, no qual a primeira palavra uma obrigao que nenhuma interioridade
pode pretender evitar. base do desvelamento do ser da ontologia antecede uma relao
com ente que se expressa a tica
570
. A liberdade arbitrria e culpvel converte-se em
responsabilidade, numa relao face-a-face que no se confunde, a um s tempo, com uma
relao de conhecimento, pois para buscar a verdade a epifania do Rosto pressuposta, nem
com uma mstica, pois o drama est restrito aos respectivos interlocutores, sem que
participem de qualquer rito ou liturgia que comeasse fora deles prprios
571
.
567
LEVINAS, Emmanuel. , pp. 207-209.
568
LEVINAS, Emmanuel. , p. 213.
569
LEVINAS, Emmanuel. , p. 213.
570
LEVINAS, Emmanuel. , p. 213.
571
LEVINAS, Emmanuel. , pp. 215-216.
173
Levinas est escrevendo, a partir da metfora do metafsico, no uma espcie de retorno
ao mundo das idias de Plato aps a destruio de Nietzsche e Heidegger, este ltimo
certamente interlocutor privilegiado (ao lado de Hegel) em , mas uma
forma de pensar-se, a partir dessa metfora, na relao tica, na qual o Outro no se deixa
representar pelos meus conceitos
572
. uma espcie de transposio de conceitos religiosos e
metafsicos para o domnio da tica, onde o vocabulrio da ontologia no se encaixa porque o
Outro excede constantemente conceitos e no se est apenas em uma relao de natureza
intelectual. assim que lemos tambm a metfora do infinito, enquanto uma exigncia
fenomenolgica de um sentido que exceda prpria idia do pensado, j que a minha relao
com o Outro no ser puramente intelectual. somente a partir de um rompimento
hiperblico com a prpria rigidez do pensamento que a filosofia pode expressar essas relaes
(do Dito ao Dizer).
Nossa leitura, por isso, no supe uma espcie de recuperao da religio
573
ou do
metafsico
574
a partir de Levinas, mas v nas palavras do filsofo a tentativa de construo de
um novo vocabulrio que d conta de relaes ticas no qual o Outro no absorvido e
permanece Outro, sem que isso signifique, alm disso, indiferena
575
. A ordem tica uma
ordem de , na qual as partes esto em uma relao implicada, em que no basta o
conhecimento, est-se j lanado na responsabilidade. Esse vocabulrio pretende superar, a
um s tempo, as aporias que constituem a discusso da tica em termos de razo terica,
fechando a complexidade do Outro em esquemas conceituais, de um lado, e o lanamento da
tica no terreno , por outro. A tica , em Levinas, antes de tudo ,
que se constitui a partir do Rosto/Olhar do Outro, exigindo-me atitude, no-indiferena
576
. As
metforas da altura do Outro, de Deus no seu Rosto ou do mandamento do no matars
572
Por exemplo, distinguindo transcendncia religiosa e filosfica: LEVINAS, Emmanuel.
, pp. 72, 161, 216.
573
Levinas, alis, opunha-se ao pensamento do sagrado e do mito. Ver: LEVINAS, Emmanuel.
. In: Entre Ns, ; FABRI, Marcelo. Levinas e a busca do autntico. In:
, p. 76.
574
Como, por exemplo, pensa, a nosso ver de forma equivocada, RORTY, Richard.
. In: , p. 88.
575
Ver: LEVINAS, Emmanuel. Ideologia e Idealismo. In: , pp. 26-32.
576
A no-indiferena, segundo nossa viso, sintetiza a idia central da tica da alteridade. Ver: SOUZA, Ricardo
Timm de. A racionalidade tica como fundamento de uma Sociedade Vivel: reflexes sobre suas condies de
possibilidade desde a crtica filosfica do fenmeno da corrupo. In: , pp. 121-122.
174
expressam essa relao de no-indiferena relao de responsabilidade que implica o
reconhecimento da singularidade (unicidade, alteridade, exterioridade) e a dessa
responsabilidade, trao este ltimo que distingue Levinas da maioria dos pensadores ps-
modernos
577
.
A altura com que Levinas por vezes descreve o Outro parece ser inalcanvel. No
entanto, serve como fundamento hiperblico de uma postura que almeja se aproximar mais e
mais da justia, ainda que essa justia, pela sua extrema concretude, seja praticamente
impossvel de alcanar. So as palavras de John Caputo:
Somos aterrorizados, chocados e at mesmo escandalizados pela sublimidade, pelo
excesso, do que Levinas exige, que obviamente demais. Quem poder tolerar tais
palavras to duras? O que Levinas pede no possvel. Porm, tal no serve de
desculpa, pois as coisas mais interessantes so freqentemente impossveis e
aprender a pensar o impossvel um exerccio salutar, uma forma de dar vida
filosofia, deixando o possvel para as outras disciplinas. talvez um pouco louco,
exorbitante, fora dos eixos, faz parte de uma economia irracional de excesso, do
gasto de si prprio sem exigir contrapartidas. Chega mesmo a ser violento em
relao a si prprio: somos mantidos prisioneiros, permitimo-nos a ns prprios
sofrer privaes e humilhaes contra as quais nos insurgiramos caso
acontecessem ao Outro
578
.
Assim, Levinas passa a no ser interpretado nos prprios parmetros por ele
reivindicados, em termos metafsicos. Embora sua argumentao sobre, por exemplo, a
primazia da justia sobre a verdade seja deveras admirvel, congruente e razovel, seu
acerto, do ponto de vista cognoscitivo, secundrio, na medida em que estamos diante de
uma dimenso que no pressupe a integridade e falseabilidade do conhecimento, mas sim no
domnio da tica
579
ordem da interpelao que ocorre no face-a-face humano. Mais uma vez
citamos Caputo:
577
Aderindo distino de John Caputo entre o ps-modernismo de obrigao, de Derrida, Levinas e Lyotard,
e o ps-modernismo de desculpabilizao e extravazamento, de Deleuze, Guattari e Baudrillard. Ver:
CAPUTO, John. , p. 260. Isso no significa, entretanto, simplesmente rechaar o
segundo, de feio mais prxima a Nietzsche, mas admiti-lo enquanto necessidade para constituio da
interioridade, nas palavras de Levinas. Essas filosofias, no entanto, no do conta da exterioridade.
578
CAPUTO, John. , p. 280. A mxima constantemente repetida por Levinas, retirada
dos
175
Diria que o que encontramos em Levinas uma hiprbole proftica. Se for tomada
a srio, dentro dos cnones da discursividade filosfica, no poder ser acreditado
ou defendido e, em alguns pontos estratgicos, cai na metafsica neoplatnica e na
teologia negativa mais clssicas. Assim sendo, um erro encarar Levinas dentro
dos seus prprios parmetros, dos parmetros por ele reivindicados
metafisicamente -, porquanto Levinas ficaria vulnervel a toda a crtica que rodeia a
metafsica, uma metafsica do Bem e no da verdade, uma tica metafsica, no
uma deontologia, mas, ainda assim, uma metafsica. (...) No acreditamos nas
histrias dos profetas, constituindo uma degradao e uma distoro do discurso
mtico-proftico trat-las como se fossem um registro de acontecimentos
testemunhados, avali-las em termos de verdade encarada como .
Devemos sim aprender de forma diferente com suas histrias impossveis, que por
norma se relacionam com a justia que, tal como tenho vindo a afirmar,
im/possvel. Tais histrias fazem parte do mito da justia
580
.
Cumpre, ento, examinarmos a repercusso dessas categorias que excedem o terreno
conceitual tpico da filosofia ocidental, em direo a uma transcendncia que expressa na
idia de infinito no pode ser tratada pela inteligncia humana
581
, mas de modo
fundamentalmente tico, sem reduzir o Outro ao Mesmo, questionando a liberdade a partir da
exigncia de justia. a noo de hospitalidade, que ir ser desenvolvida por Jacques Derrida
no mbito da filosofia poltica a partir de Levinas, que ir surgir.
Representao. In: , pp. 135-138; PELIZZOLI, Marcelo. Da fenomenologia
metafenomenologia e meta-ontologia aportes para uma crtica a Husserl e Heidegger desde Levinas. In:
, pp. 279-286; PELIZZOLI, Marcelo. , pp. 12-17.
580
CAPUTO, John. , p. 280. Para entender a passagem, preciso saber que o esforo
de Caputo desfazer o mito do ser, que seria a origem das confluncias entre Heidegger e o nazismo (ou
idia da pureza grego-alem), para contrap-lo ao mito da justia, que teria sido desenvolvido por Jacques
Derrida e Emmanuel Levinas. idia de mito poderamos ligar nossa defesa da existncia de formas de
racionalidade.
581
O lanamento da tica fora do terreno deontolgico para se constituir em exigncia real se d a partir da
faticidade, que o elo que liga a filosofia de Levinas de Heidegger, como se depreende do ensaio a
ontologia fundamental?. In: , pp. 21-33. O pensamento da faticidade o que permite a Levinas
conferir um estatuto de realidade tica, que se d no mundo concreto, no aqui embaixo. No entanto, como
nota John Caputo, a faticidade em Heidegger desconhece que a desconstruo das categorias da
, de Aristteles, e do Novo Testamento, enquanto metafsicas para se tornarem factuais, no levaria
ao mesmo resultado. A heideggeriana no tem espao para a carne ( ), como vulnerabilidade, corpo
em necessidade, sofrimento. Ver: CAPUTO, John. , pp. 93-112. precisamente esse
sentido de que a faticidade de Levinas ir recuperar.
176
O tema da hospitalidade tem tratamento especial na obra de Jacques Derrida a partir do
falecimento de Emmanuel Levinas (1995), quando, em discurso fnebre, reflete exatamente
sobre o Adeus, vertido em a-Deus para dar conta do problema da relao com o
tratamento ao Outro
582
, a quem se deve uma curvatura heteronmica, expressa na figura do
acolhimento. , talvez, a assuno de uma responsabilidade que lhe foi confiada pelo prprio
Levinas, numa simblica concretizao do Morrer por...
583
.
Derrida inicia abordando a concepo do ensinamento de Levinas, que rompe com a
tradio filosfica a imaginar o parto. A maiutica nada me ensina, ela revela-me apenas o
que j sou capaz. Esse ponto ir revelar, na argumentao, certa poltica de hospitalidade,
na qual o hospedeiro senhor do hspede. O ensinamento, para Levinas, , ao contrrio, um
receber para alm da minha capacidade
584
. Levinas prope pensar a abertura em geral a
partir da hospitalidade, e no o contrrio. De que forma o pensamento de Levinas, seguindo-
se a tradio kantiana desde , pode fundar um direito ou uma poltica? Essa a
questo que Derrida prope.
, diz o filsofo franco-argelino, um imenso tratado sobre a
hospitalidade. A hospitalidade torna-se o prprio nome daquilo que acolhe. O Rosto d o
acolhimento, e o Rosto deveria ser o tema da fala do prprio Derrida. Mas, como ele, nos
prprios termos de Levinas, nega-se tematizao, precisamente isso que tem em comum
com a hospitalidade
585
. Alis, Derrida chama ateno para um aspecto que a leitura de
no permite deixar observar: o uso constante da parfrase interna, a
partir de metonmias com o mesmo significado (intencionalidade, ateno palavra,
582
Como j havamos colocado, em Levinas o Outro tem a Altura de Deus, em um sentido no-teolgico. O
temtica do Adeus, por isso, s poderia ir at o a-Deus ao Outro. Submisso ordem que ordena ao homem
ao eu responder pelo outro o que , talvez, o nome severo do amor. LEVINAS, Emmanuel. Diacronia e
Representao. In: , p. 224.
583
A prioridade do outro sobre o eu, pelo qual o ser-a humano eleito e nico, precisamente sua resposta
nudez do rosto e sua mortalidade. LEVINAS, Emmanuel. Morrer por.... In: , p. 262.
584
DERRIDA, Jacques. . Trad. Fbio Landa. So Paulo: Perspectiva, 2004, p. 36.
585
DERRIDA, Jacques. , p. 39.
177
acolhimento do rosto, hospitalidade) de ao Outro
586
. Se a hospitalidade no aparece
muito, o permanentemente referido
587
.
Esse conceito opera em todo lugar para exprimir o primeiro gesto em direo ao Outro.
Est imediatamente referido ao Rosto, pois sem acolhimento no h Rosto. Essas duas
palavras seriam quase transcendentais, palavras quase-primitivas, que vm antes mesmo de
tica, metafsica ou filosofia primeira. O acolhimento o receber: a receptividade do
receber quando o faz para alm da prpria capacidade do Eu. Essa desproporo dissimtrica
marcar mais adiante a lei da hospitalidade. A razo, no texto de Levinas, seria interpretada
como receptividade hospitaleira. A razo , ela prpria, um
588
.
Mesmo o recolhimento em si no pensamento de Levinas j supe um acolhimento na
habitao. Derrida salienta um intrincado paradoxo na cronologia e na lgica: o
acolhimento por vir que torna possvel o recolhimento do em-si. O acolhimento supe o
intimidade do em-si e, com isso, a alteridade feminina. Antes do recolhimento e do colher
precisa-se ter acolhido
589
. Note-se que, para Levinas, a interioridade , inicialmente, gozo
590
, a
primeira relao que mantenho com o mundo de alimento
591
. Esse gozo com as coisas se
d no elementar, no rio que me banho, na terra, na cidade. Esse elementar no se deixa
possuir nem tem forma, tem s a face com que nos deparamos, como a ponta do vento ou a
superfcie do mar. Esse elementar vem a ns sem origem em um ser, nos oferece
familiaridade como se estivssemos nas entranhas do ser, tem um formato mtico
592
.
A habitao, para Levinas, no apenas mais um utenslio entre outros. Ela o
comeo, condio da atividade humana. A casa o mundo objetivo, que ser
atravessado pela conscincia. O recolhimento em uma morada supe-se como existncia
econmica na interioridade do sujeito
593
. O recolhimento uma suspenso das reaes
imediatas que suscita o mundo, em vista de uma maior ateno a si mesmo. A intimidade e a
familiaridade produzem-se como doura que se expande sobre as coisas. Pressupem uma
586
Palavras como discurso, palavra, ensinamento, orao, religio, linguagem parecem conter essa semelhana.
587
DERRIDA, Jacques. , p. 42.
588
DERRIDA, Jacques. , p. 43.
589
DERRIDA, Jacques. , pp. 45-46.
590
LEVINAS, Emmanuel. p. 129.
591
LEVINAS, Emmanuel. p. 147.
592
LEVINAS, Emmanuel. pp. 150-151 e 160-161.
593
LEVINAS, Emmanuel. pp. 169-171. Ver: PELIZZOLI, Marcelo Luiz.
, pp. 86-90.
178
. A interioridade do recolhimento, por isso, um recolhimento em um
mundo j humano, pressupondo um . O Outro que recebe a Mulher
594
, uma
presena discretamente ausente, condio do recolhimento interioridade da Casa e da
habitao. Este Outro no o senhor do Rosto, mas o tu da intimidade, com o qual se
traa uma linguagem silenciosa, entendimento sem palavras, expresso no segredo. uma
relao pr-tica, pr-originria, a partir da qual o existir significa morar
595
. A funo da
habitao romper a insegurana da existncia no mundo elementar, abrir um local onde o
Eu se recolhe. a casa que fundamenta o trabalho, espcie de interioridade que vai ao
mundo para possu-lo, lutar contra a insegurana do porvir
596
. O aspecto que parece
fundamental a Derrida o fato de que o hospedeiro hspede da sua prpria casa. A
habitao, com isso, torna-se terra de asilo, na qual o simultaneamente . O que
acolhe sobretudo acolhido em si. H um desapossamento originrio, situao que faz
Derrida lembrar Rosenzweig
597
.
Levinas chama de metafsica a separao que se abre idia de infinito. Essa
metafsica uma experincia de hospitalidade. A partir da utilizao de palavra velha,
Levinas abre um novo sentido no qual um ato de fora justamente uma declarao de paz. A
ess ncia do que se abre para alm do ser a hospitalidade. a partir dessa abertura que
Levinas pe a tica como filosofia primeira
598
. A razo torna-se ato sem atividade,
experincia sensvel e racional de receber, gesto de acolhimento, boas-vindas ao outro como
estrangeiro. Ao fechar a porta, a tematizao, a guerra, a alergia e a inospitalidade j
implicam a hospitalidade pr-originria, um declarao de paz original. Nesse ponto Derrida
observa a divergncia com Kant: enquanto para este a paz por fim hostilidade natural,
Levinas escreve a negatividade segunda sob um pano de fundo de paz, fundada numa
hospitalidade que no pertence ao plano poltico
599
.
594
Vamos deixar em suspenso a discusso que suscita essa afirmativa de Levinas, capaz de provocar
simultaneamente, como diz Derrida, um feminismo ou um androcentrismo hiperblico. A diferena sexual
que percorre a poltica poderia ser abordada tambm a partir da Mulher que recebe na poltica da hospitalidade
em relao ao falocentrismo que Derrida identifica nas polticas de amizade. DERRIDA, Jacques.
, pp. 60-61 e DERRIDA, Jacques. . Trad. George Collins. London:
Verso, 2005.
595
LEVINAS, Emmanuel. pp. 172-173.
596
LEVINAS, Emmanuel. p. 175.
597
DERRIDA, Jacques. , p. 58.
598
DERRIDA, Jacques. , pp. 64-65.
599
DERRIDA, Jacques. , p. 66.
179
A subordinao de receber o totalmente Outro como Altssimo o que funda, em
Levinas, a prpria subjetividade. A subjetividade torna-se a prpria hospitalidade, separao
sem negao nem excluso. O sujeito separa-se sem reduzir a uma negao do que se separa.
Justamente, pode acolh-lo. O sujeito passa a ser hspede. E, de hspede, a refm do Outro.
Situao de refm que espelha a condio de responsabilidade pelo Outro, que no acidente
mas a sua essncia. Ele nada fez e, no entanto, sempre esteve em causa. A ipseidade torna-se,
na sua passividade e sem de identidade, refm. aqui que Derrida circunscreve a
reconstruo do sujeito enquanto substituio procedida por Levinas. O hspede refm
enquanto sujeito colocado em questo, emigrado, exilado, estrangeiro, hspede sempre
600
.
A eleio que representa a unicidade do sujeito exatamente a responsabilidade pelo
Outro. Ela pertence a um passado mais antigo, um tempo que ultrapassa a representao
amnsica, precede toda relao dialgica entre hspede e hospedeiro. Sua irrupo
traumatizante, diz Derrida, perturba aquilo que chamamos calmamente hospitalidade, e
mesmo as leis da hospitalidade
601
. essa eleio que ir levar Levinas, preocupado com o
cenrio poltico e com os hspedes expulsos e presos em campos de concentrao, a admitir
uma implicao poltica de hospitalidade hiperblica:
Que um povo, enquanto povo,
, eis a aposta de um engajamento popular e pblico, uma
poltica que no se reduz a uma , a menos que esta
tolerncia no exija de si-mesma a afirmao de um amor sem medida. Lvinas
precisa, imediatamente, que esse dever de hospitalidade no apenas essencial a
um das relaes entre Israel e as naes. Ele abre o acesso
humanidade do humano em geral. Terrvel lgica de eleio e exemplaridade entre
a atribuio de uma responsabilidade singular e a universalidade humana, hoje se
diria at , uma vez que ela tentaria ao menos, atravs de tantas
dificuldades e equvocos, apresentar-se, por exemplo, como organizao no-
governamental para alm dos Estados-Naes e suas polticas
602
.
Embora reconhea que a idia de um Estado tico possa parecer utpica ou pr-matura,
Levinas sinala que ela marca a abertura propriamente dita do poltico para seu futuro, numa
direo de messianismo
603
. A paz um elemento que integra e excede o poltico, para-
alm-no, como a interiorizao poltica da transcendncia tica ou messinica. Para isso,
seria necessrio deixar no o poltico, mas o puramente poltico, sem trao de tica.
600
DERRIDA, Jacques. , pp. 72-73.
601
DERRIDA, Jacques. , pp. 82-83.
602
DERRIDA, Jacques. , p. 93. Comparar com DERRIDA, Jacques. ,
pp. 99-101.
603
DERRIDA, Jacques. , p. 94.
180
Espera-se a inveno de uma paz que no seja nem puramente poltica, nem apoltica
604
.
Derrida finaliza argumentando que se precisa encontra afinar uma diferena entre a utopia
contratualista do direito cosmopolita de Kant e o messianismo de Levinas, a fim de encontrar
soluo para os sem papis que percorrem o mundo em Israel, Ruanda, frica, Europa,
sia e todas as Igrejas de So Bernardo - reivindicando um direito internacional
verdadeiramente humanitrio que suplante o interesse dos Estados-Naes
605
.
A hospitalidade est diretamente ligada questo do estrangeiro. Antes de dizer
questo do estrangeiro, afirma Derrida, talvez se devesse precisar: questo estrangeiro. Tal
como Levinas, que focaliza a linguagem a partir do , e no do , Derrida coloca o
estrangeiro no apenas como coloca a questo, ou se enderea a
pergunta, mas tambm aquele que, ao colocar a primeira questo,
606
. O
estrangeiro aquele que contesta o Pai Parmnides, na sua afirmao do ser que e o no
ser que no . Sacudindo o dogmatismo ameaador do , o estrangeiro nos convida ao
parricdio. Eis o desafio que ele prope. nesse local que a questo do estrangeiro se articula
com a questo do ser
607
. A questo estrangeiro, por isso, a questo que contesta o logos,
onde ele parece ser mais evidente, at mesmo aos cegos
608
.
O estrangeiro ( ) tratado na Grcia Antiga no como o total brbaro, o outro
absoluto, o selvagem totalmente heterogneo, mas enquanto , que
continua estrangeiro, e aos seus: famlia e descendentes
60956.726(d)4.-14.8u [(6)18.7(0)1.51077(9)43Td[(e)6.30404(r)-0.978452(a)64.79104(m)-374(n)-6.72545(t)1.60404(e)-5.1439(,)-3.36273( )fTd[(,)-3.36273( )-7141( )-72.461Gsro o ocomc ,,3( )-14.8792s
181
romper
610
. Essa lei uma perverso e um paradoxo. O Outro absoluto o que pode no ter
nome e nome de famlia.
A reflexo sobre a , aquela que impe que abra minha casa a um
Outro absoluto, annimo, que eu lhe , sem reciprocidade, a hospitalidade que rompe
com a hospitalidade de direito, comea pela pergunta do nome. A hospitalidade consiste em
interrogar quem chega?, pergunta Derrida
611
. Ou a hospitalidade se , se ao outro
antes que ele se identifique, antes mesmo que ele seja (posto ou suposto como tal) sujeito,
sujeito de direito e sujeito nominvel por seu nome de famlia, etc.?.
A lei da hospitalidade condicional trava um conluio entre hospitalidade e o poder. Para
receber, , quero ser, em primeiro lugar, em casa. E, nesse caso, recebo quem
desejo. O estrangeiro definido como indesejvel, virtualmente ; quem quer que
pisoteie meu , minha ipseidade, minha soberania de hospedeiro
612
. Assim, no
sentido clssico, no existe hospitalidade sem senhorio, soberania de si para consigo, mas,
como no h hospitalidade sem finitude, a soberania s pode ser exercida filtrando-se,
escolhendo-se, portanto excluindo e praticando-se violncia. A injustia, uma certa injustia, e
mesmo um certo perjrio logo comeam a partir do limiar do direito hospitalidade
613
. A
inscrio da hospitalidade no direito pode ser, por isso, perversa e paradoxal.
essa hospitalidade , perversvel e paradoxal, que se rompe ao entrarmos na
hospitalidade Hospitalidade que, acrescido certo paternalismo
610
aqui, precisamente, que pode ser identifica a diferena da poltica da hospitalidade com as polticas de
amizade. Pode-se pensar em Habermas, por exemplo, que prope uma ampliao da esfera pblica e abertura
dos canais de comunicao para uma situao ideal de fala em que esses Outros igualmente fariam parte de
uma cultura poltica de patriotismo constitucional (ver: HABERMAS, Jrgen. Insero incluso ou
confinamento? In: . Trad. George Sperber et al. So Paulo: Loyola, 2004, pp. 153-182) ou
na utopia liberal de Richard Rorty, na qual as janelas prprias da cultura esto abertas para ampliar o
espectro do ns cada vez mais. Ambas propostas (poderamos pensar ainda em Rawls, Hffe, etc.) pensam a
partir de um Ns. Mas, como diz Levinas, lo absolutamente Otro, es el Otro. No se enumera conmigo. La
colectividad em la que digo tu o nosotros nos es un plural de yo. Yo, t, no son aqu individuos de un
concepto comn. Ni la posesin, ni la unidad del nmero, ni la unidad del concepto, me incorporan al Otro.
Ausencia de patria comn que hace del Otro un extranjero; el extranjero que perturba el en nuestra casa.
LEVINAS, Emmanuel. , p. 63.
611
DERRIDA, Jacques. , p. 25.
612
DERRIDA, Jacques. , p. 49.
613
DERRIDA, Jacques. , p. 49.
182
cristo (ou melhor: catlico), um aspecto de , poderamos simplesmente nomear
, o eixo fundante das nossas relaes com o Outro
614
. Ela , no entanto, o :
A tolerncia est sempre do lado da razo dos mais fortes, onde o poder est
certo; uma marca suplementar de soberania, a boa face da soberania, que fala ao
outro sobre a posio elevada do poder, estou deixando que voc exista, vocs no
inaceitvel, estou lhe deixando um lugar em meu lar, mas no se esquea de que
est o meu lar...
615
.
A lei da hospitalidade : ela j se inscreve na ordem do impossvel, exige
um rompimento com todas as leis da hospitalidade, ou seja, as condies e deveres que se
impe ao hspede para acolhida
616
. , a rigor, um , um dizer sim ao
que chega, quer se trate ou no de estrangeiro, de um imigrado, de um convidado ou de um
visitante inesperado, quer o que chega seja ou no cidado de um outro pas, um ser humano,
animal ou divino, um vivo ou um morto, masculino ou feminino
617
.
Essa Lei das leis, , um apelo que manda sem comandar.
uma lei sem ( ), que no exige ou dever ou uma dvida, sem imperativo. Se eu
pratico a hospitalidade , essa hospitalidade de quitao no mais uma
hospitalidade absoluta a um visitante inopinado
618
. essa a restrio que Derrida pe em
relao aos direitos humanos enquanto fenmeno puramente : os direitos humanos,
na medida em que so cumpridos por , enquanto pagamento de uma , no se
oferecem responsabilidade. o dever alm do dever que pode ser considerado
responsabilidade, um dever que atravessa o direito, que no esgota a justia
619
.
A hospitalidade pura e incondicional, a hospitalidade , abre-se ou est aberta
previamente para algum que no esperado nem convidado, para quem quer que
chegue como um visitante absolutamente estrangeiro, como um recm-chegado,
no-identificvel e imprevisvel, em suma, totalmente outro. A visita poderia na
verdade ser muito perigosa, e no devemos ignorar esse fato; mas ser que uma
hospitalidade sem risco, uma hospitalidade apoiada em certas garantias, protegida
por um sistema imune contra o totalmente outro, seria uma hospitalidade
verdadeira? Embora, em ltima anlise, seja verdade que suspender ou suprimir a
614
DERRIDA, Jacques. Auto-imunidade: suicdios reais e simblicos: um dilogo com Jacques Derrida. In:
. BORRADORI, Giovanna. RJ: Jorge Zahar, 2004, p. 137.
615
DERRIDA, Jacques. Auto-imunidade: suicdios reais e simblicos, p. 138. O contraponto de Habermas pode
ser lido no mesmo volume, Fundamentalismo e Terror: um dilogo com Jrgen Habermas, pp. 53-54.
616
DERRIDA, Jacques. , p. 69.
617
DERRIDA, Jacques. , p. 69.
618
DERRIDA, Jacques. , p. 75.
619
DERRIDA, Jacques. , pp. 142-143.
183
imunidade que me protege do outro possa estar muito prximo de uma ameaa de
vida
620
.
A hospitalidade, por isso, o que articula o Encontro enquanto uma disponibilidade,
uma abertura do Eu para uma posio em que pode ser colocado radicalmente em questo,
porque desde o Outro no provm nenhuma promessa de conciliao, mas a constatao
traumtica do fato de que a totalidade de minhas concepes incapaz de fazer-lhe justia
621
.
precisamente nesse traumatismo arriscado, nesse pensar o Encontro, que se d um
assumir da insegurana que evita a degenerao em injustia.
A hospitalidade a metfora utilizada por Derrida para sinalizar toda a forma de
do Outro, ou seja, para explicitar a situao tica que exige o
recebimento do Outro enquanto Outro
622
. uma forma de irresignao contra todas as
polticas que colocam condies ou simplesmente excluem aqueles que se colocam como
estrangeiros. Uma forma de defesa da pluralidade irrestrita, inscrita enquanto uma ordem do
impossvel que norteia nosso possvel.
No se trata de negar a ordem da crueldade
623
em que vivemos, contrapondo-a a uma
utopia inalcanvel. Como diz Levinas,
No se trata de dudar de esta miseria humana de este imperio que las cosas y los
malvados ejercen sobre el hombre de esta animalidad. Pero ser hombre es saber
que es as. La libertad consiste en saber que la libertad est en peligro. Pero saber o
620
DERRIDA, Jacques. , p. 138.
621
SOUZA, Ricardo Timm de. , p. 124.
622
Nythamar de Oliveira comenta sobre a expresso tout autre est tout autre: Para alm da aparente tautologia
e de todos os possveis trocadilhos e jogos de palavras ( ), podemos reafirmar, com Derrida, a
radical alteridade de cada outro como se tratasse de uma divindade, do Outro Absoluto, o (o
Todo-Outro, ) em cada um de ns, seres humanos, em cada
etnia, grupo social e identidade cultural: o Outro sagrado. OLIVEIRA, Nythamar Fernandes de. Tout autre
est tout autre: Direitos Humanos e Perspectivismo Semntico-transcendental , v. 51, n. 2, 2006, p.
107.
623
A expresso de Jacques Derrida, em discusso que se assemelha de Levinas, sinalando como possibilidade
de transcender a ordem da crueldade que a psicanlise nos ensina existir a ordem do impossvel, expressa
nos seus trabalhos sobre o dom, perdo e hospitalidade. DERRIDA, Jacques.
So Paulo: Escuta, 2001, .
184
ser consciente, es tener tiempo para evitar e prevenir el momento de la
inhumanidad. Este aplazamiento perpetuo de la hora de la traicin nfima
diferencia entre el hombre y el no-hombre supone el desinters de la bondad, el
deseo de lo absolutamente Outro o la nobleza, la dimensin de la metafsica
624
.
nesse intervalo em que vivemos que podemos romper com a imanncia e comear a
aceitar a transcendncia do Outro. Isso significa dar conta do problema infinito da justia, que
uma exigncia hiperblica de considerao alteridade, inexistente sem uma hospitalidade
que no se restringe tolerncia. A idia de hospitalidade no casual, dado que os grandes
problemas europeus da atualidade residem nas polticas de imigrao, dada a relativa
estabilidade social atingida aps o Estado de bem-estar. No Brasil e na Amrica Latina em
geral, o vagabundo no o estrangeiro jurdico, aquele que no se enquadra nos preceitos
que conferem a nacionalidade de brasileiro, mas os estrangeiros margem do prprio pas: os
excludos, em geral
625
.
Dentro do contexto de incapacidade de abertura transcendncia por uma elite narcisista
que no sai da prpria interioridade, vivendo em bolhas ilusrias absolutamente indiferentes
ao contexto exterior, o grito
626
por essa no seu prprio pas que eclode. O
Direito Penal do Inimigo a anttese simtrica da poltica de hospitalidade, no qual o Outro,
ao invs de ser recebido como Outro, precisamente por isso. a proposta de
institucionalizao de um Estado no apenas com a pretenso to robustecida pelos
discursos iluministas da neutralidade tica (essa uma ambivalncia que o discurso de
secularizao carrega
627
), mas de um Estado antitico.
Eliminar a diferena ainda que uma diferena sob pretexto de manuteno da
funcionalidade do sistema a sntese da pretenso de Totalidade que, como Levinas percebe,
jamais se instaura. No momento em que est colocada a interioridade, est-se diante de um
momento de em que possvel romper a Totalidade, subvertendo a ordem para
reconhecer e acolher a transcendncia. Diante da uma diferena hostil, antes imprescindvel
na sua diferena para, somente ento, resolver o problema terrvel da justia.
624
LEVINAS, Emmanuel. , p. 59.
625
DUSSEL, Enrique. . Trad. Georges Maissiat. So
Paulo: Paulus, 1995, p. 22.
626
DUSSEL, Enrique. , p. 19.
627
Sobre secularizao: CARVALHO, Salo de. , pp. 22-39; FERRAJOLI, Luigi.
, pp. 175-180.
185
Pensar a hospitalidade como poltica no Brasil significa e no somente
a marginalidade que produz traumas intensos, irrupes insuportveis e violentas de
alteridade em mnadas que se recusam a abrir ao Outro. Irrupes proporcionais indiferena
absoluta com que so tratadas. A hospitalidade, enquanto metfora para uma poltica de no-
indiferena, significa reconhecer o , ou seja, o direito a que aqueles que so
atingidos pelo Poder Punitivo muitas vezes com personalidade contraftica ou outras
fices que se invente para dar conta da sua inadequao usufruam dos mesmos direitos e
garantias daqueles que so os supostos donos da casa. Donos que, se entenderem as
palavras de Levinas, iro perceber que toda casa terra de asilo, todo hospedeiro um
estrangeiro na sua prpria casa, todo senhorio uma liberdade arbitrria.
186
O Direito Penal o ramo do ordenamento jurdico que, diante da figura do criminoso, se
depara com espcie de (o , anormal, estranho, ambivalente, nmade,
vagabundo, etc.). O estrangeiro o limite da ordem jurdica a ordem da fraternidade, da
amizade ordem da cidadania. Os conceitos desenvolvidos e desconstrudos ordem,
representao, persistncia no ser so constitutivos do ordenamento jurdico. O estrangeiro,
com isso, aquele que pe em constante questo o Direito.
De que forma o Direito Penal, por isso, no ser Direito Penal do Inimigo?
Articulada uma espiral compreensiva, a pergunta que suscita Giorgio Agamben no incio do
trabalho, a partir do estado de exceo e do exatamente de que forma o Direito
Penal formal no transborda, necessariamente, para um Direito Penal do Inimigo. No
intervalo entre a lei instituda e a lei do caso concreto, aparece a figura do vida
nua, exposta na integralidade do seu corpo biopoltica estatal e, com isso, estamos, na
prtica, diante da figura do Inimigo. Pode o Direito Penal, ento, ser do Inimigo?
Apenas se desvelada a ingenuidade jurdica de acreditar, piamente, no positivismo
kelseniano
629
(mesmo que reformulado em discursos constitucionalistas) e percebido o
que separa lei e fora de lei, possvel dar o passo inicial: combater o estado de
exceo na excepcionalidade do concreto. preciso descer dos mundos metafsicos do
Direito, repletos de pressupostos bvios que nada tm de neutros, e percorrer o itinerrio da
628
NIETZSCHE, Friedrich. Sobre a verdade e mentira no sentido extra-moral. In: . Trad.
Rubens Torres Filho. So Paulo: Nova Cultural, 1996, p. 55.
629
KELSEN, Hans. . 4 ed. Trad. Joo Baptista Machado. Coimbra: Armnio Machado,
1979, especialmente pp. 17-18. Basta que ver no importante livro de Gimbernat Ordeig sobre o conceito e
mtodo da cincia penal no consta uma nica linha para tratar o problema da inter ou transdisciplinaridade.
GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. . Trad. Jos Luiz Pagliuca. So Paulo:
Revista dos Tribunais, 2002, .
187
verdade acre de que nos fala Nietzsche: a verdade que no corresponde aos cdigos
jurdicos, mas ao estado de exceo que estamos inseridos. Borrando, a partir da
desconstruo, o dentro e o fora do texto jurdico. percorrendo essa direo que estaremos
transformando o Direito Penal que se vive no dia-a-dia em um Direito Penal
, que s se verifica diante da unicidade do Outro que est ali envolvido.
O giro transdisciplinar que se tentou imprimir no trabalho teve essa funo de
contaminar o Direito Penal do Inimigo, a formulao assptica, lgica e
linear de Gnther Jakobs com a complexidade e a concretude que escapam de esquemas
lgico-abstratos pretendentes a esgotar, mediante artifcios sistmicos e conceituais, a vida
pulsante que irredutvel racionalidade. O paradoxal, segundo nos ensinam Emmanuel
Levinas e Jacques Derrida, que tambm mas de outra ordem aquela
postura que esse vcuo entre conceito e realidade, admitindo a infinitude do
Outro perante meus esquemas intelectuais.
Estamos inundados, no Direito, pelo positivismo que pretende resumir a totalidade dos
fatos aos cdigos jurdicos. S pensamos com a razo tcnica. No existe uma racionalidade
tica percorrendo o Direito, preconceito ressaltado na idia de mnimo tico que nasce em
Kant. A tica no seu sentido fundante-existencial, enquanto dimenso que garante a prpria
possibilidade de o falante emitir um discurso (tcnico), enquanto pertencente a um mundo de
cuidado, foi simplesmente ignorada por seres que vivem em um mundo parte
630
:
Ora, uma mera observao histrica nos leva a perceber com muita facilidade que o
primeiro modelo [de tica] analtico-prescritivo tem preponderado de forma
muito acentuada em relao ao segundo modelo fundante-existencial -, nas mais
diversas reas de pensamento. Tal preponderncia no seria to grave, no
ocasionasse ela um desequilbrio muito marcante dos termos da questo. E tal
desequilbrio especialmente grave em locais, momentos e situaes nos quais da
presena da reflexo fundante-existencial absolutamente necessria
631
.
Derrida, em Fora de Lei, nos coloca a justia como o limite da desconstruo; e a
desconstruo como justia. Isso significa que, ao tentarmos desconstruir conceitos
como representao, ordem e persistncia no ser, deseja-se a da justia, buscando
realiz-la no mbito da extrema concretude, no limiar biopoltico onde atua o estado de
630
No por coincidncia que um famoso autor criou a idia metafsica de um mundo jurdico.
631
SOUZA, Ricardo Timm de. tica e Realidade. Sobre a tica de libertao e a libertao da tica: o repensar
dos termos essenciais da dignidade humano-ecolgica. In: . Org. Perventino Pivatto.
Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004, p. 69.
188
exceo. Exibindo constantemente o fora que o Direito quer expulsar, mas permanece
dentro, estamos diante de uma contaminao que no se dissipa, demonstrando aos juristas
sua iluso metafsica (consciente ou no), espelhada no sonho de pureza. Estamos, no espao
jurdico, diante de um que contm o paradoxo de duas impossibilidades: de um lado, o
universal falha por no poder abraar o individual, que sempre foge; de outro, o singular
impossvel, porque somente em virtude de existir uma linguagem, uma rede de universais,
que possvel alcan-lo, proferir seu nome. Est-se, assim, diante de duas impossibilidades,
duas colunas impossveis de erigir, pertencendo ao mesmo (no) sistema
632
. a conscincia
disso que deve nos impulsionar. Como diz Caputo,
A percorre o terreno entre o universal falhado e o singular inacessvel,
movimenta-se sobre o abismo que se abre entre o universal impossvel e o singular
que se esconde. Move-se no espao de duas impossibilidades, sendo essa dupla
impossibilidade que constitui a sua condio de possibilidade. O referido abismo
igualmente o intervalo entre lei e justia. O discurso acerca da justia isomrfico
(iso- mrfico) do discurso acerca da singularidade e do nome prprio. Negoceiam
nas mesmas impossibilidades, na mesma amorfia; sonham os mesmos sonhos, esto
despertos para as mesmas realidades, traficam com os mesmos mitos
633
.
A finalidade do trabalho no foi, por isso, apenas desconstruir o discurso de Gnther
Jakobs, como j sinalvamos no Captulo I. Ao examinar o seu texto, estvamos a dissecar o
do Direito Penal do Inimigo enquanto social da aplicao concreta
da lei, da biopoltica do Inimigo a partir da proposio do seu reconhecimento , que
potencializa essa aplicao. Caso merea algum reconhecimento a formulao de Jakobs,
portanto, no e nisso discordamos de Zaffaroni
634
propor uma alternativa esttica de
reduo do Poder Punitivo, mas sim de escavar e trazer luz o de todas as
pressuposies que servem de suporte para o Direito Penal do Inimigo do dia-a-dia
635
.
claro que o Direito Penal do Inimigo de Gnther Jakobs mais perigoso do que o
Direito Penal do Inimigo do dia-a-dia, pois atua ostensivamente, pretendendo-se racional e
instituindo uma ciso na cidadania. O ltimo, ao contrrio, atua de forma velada, sempre
podendo ser desconstrudo e denunciado, pois no tem pretenso de legitimidade. Atua
632
CAPUTO, John. , pp. 283-284.
633
CAPUTO, John. , pp. 284-285.
634
ZAFFARONI, Eugenio Ral. , pp. 155-167.
635
Aqui se trata, portanto, de abrir uma nova perspectiva de leitura da tese de Jakobs, no apenas focada na
crtica do Direito Penal do Inimigo enquanto conjunto normativo, mas enquanto pressuposto de fundo que
orienta a biopoltica do inimigo. Com isso, cr-se superar o fortssimo argumento da caixa de pandora. Ver:
ORCE, Guillermo. Derecho penal del enemigo. Influencia de una idea negativamente cargada em la solucin de
casos lmite. In: , v. 2, p. 416.
189
e o ordenamento jurdico, mas no encontra objees altura apenas com
argumentos tcnico-jurdicos, que no conseguem o tocar
636
. Necessita, para sua efetiva
confrontao, de uma argumentao que desa at o mundo , penetrando no concreto
para, a partir disso, confront-lo com a Constituio e as exigncias da justia.
O equvoco dos juristas que pretendem dar suporte jurdico ao Direito Penal do Inimigo,
sustentando que melhor regulament-lo, que ignoram, com base em falsa premissa, que
. Transformar o Direito Penal do Inimigo em um fenmeno jurdico significa, em
outros termos, abrir uma fresta no ordenamento jurdico que ir contaminar todo o resto, em
sentido inverso purificao que Jakobs props. Eles tm uma imagem equivocada do
Direito Penal, que funciona como um dique que tenta conter o poderoso Estado de Polcia,
sempre tendente a avanar e esmagar o Estado de Direito.
A formulao de Gnther Jakobs extraordinariamente perigosa na medida em que d
legitimao jurdica (qui constitucional, na viso de Jakobs) a situaes que denotam uma
recada ao totalitarismo, instituindo como fundamentos da sociedade (sua ,
segundo Jakobs, mais uma vez) noes que significam a pretenso de estabelecer uma
homogeneidade social incapaz de suportar a irrupo da alteridade, assumindo uma condio
de de engenharia social. Em sntese: a construo de um Estado em que a tica
morreu.
Contra isso, a hospitalidade parece ser o parmetro mais agudo que a tolerncia com
o qual o estrangeiro recebido , excedendo permanentemente os limites da
ordem jurdica e requerendo, a partir do seu Rosto/Olhar que interpela, a justia. esse
parmetro do impossvel que delimita o possvel, jogando o Direito Penal numa constante
aporia em que suas bases so permanentemente exigentes de desconstruo e reconstruo, de
circunavegao nos limites do concreto, da sua verdade acre e mal-cheirosa, para que possa
636
Essa a razo, a nosso ver, do fracasso da penetrao do discurso garantista, apesar da lgica, coerncia e
aparente irrefutabilidade, formulado em termos positivistas e no exigindo do jurista nada mais que a aplicao
da lei (Constituio). No entanto, permanece sendo um discurso de resistncia de uma minoria, e no doutrina
acatada por grande parte dos operadores do Direito (BIZZOTO, Alexandre & RODRIGUES, Andreia de Britto.
. 2 ed. Goinia: AB, 2003, p. 6). que esse
discurso no toca o do problema. Como diz Zaffaroni, por mucho que se atavie como jurdica, la reaccin
inusitada es poltica, porque . ZAFFARONI,
Eugenio Ral. La legitimacin del control penal de los estraos. In: , v. 2, p. 1118. Diramos apenas que,
antes mesmo de ser poltica, a questo tica.
190
ser cada vez mais , e com isso atender ao disposto no art. 1, inciso III, da
Constituio da Repblica. No, portanto, a partir de um mero joguete de palavras, em que a
dignidade da pessoa humana se torna um atributo de determinadas humanas, mas no
qual o termo humana soe como exigncia primeira, que joga o Direito numa situao de
permanente transbordamento de si mesmo em direo justia.
191
ABANTO VSQUEZ, Manuel Abanto. El llamado derecho penal del enemigo. Especial
referencia ao derecho penal econmico. In:
. v. 1. Org. Cancio Meli e Gmes-Jara Dez. Buenos Aires: Euros Editores, 2006.
ABOSO, Gustavo Eduardo. El llamado Derecho Penal del Enemigo y el ocaso de la poltica
criminal racional: el caso argentino. In:
v. 1. Org. Cancio Meli e Gmes-Jara Dez. Buenos Aires: Euros Editores, 2006.
ADORNO, Srgio. Discriminao Racial e Justia Criminal em So Paulo.
, v. 43, CEBRAP: So Paulo, 1995.
______. Excluso scio-econmica e violncia urbana. , n. 8, Porto Alegre:
jul/dez 2002. Disponvel em <www.scielo.br>. Acesso em 19.07.2007.
______. Racismo, Criminalidade Violenta e Justia Penal: rus brancos e negros em
perspectiva comparativa. Histricos, v. 18, Rio de Janeiro, 1996.
ADORNO, Theodor & HORKHEIMER, Max. . Trad. Guido
Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985.
AGAMBEN, G. . Trad. Henrique Burigo. Belo
Horizonte: Editora UFMG, 2002.
______. Disponvel em:
<http://www.germanlawjournal.com/print.php?id=371>. Acesso em 08.06.2007.
______. Trad. Iraci Poleti. So Paulo: Boitempo, 2004.
ALLER, Germn. El Derecho penal del enemigo y la sociedad del conflicto. In:
. v. 1. Org. Cancio Meli e Gmes-Jara
Dez. Buenos Aires: Euros Editores, 2006.
Formatado: Espanhol
(Espanha-moderno)
Formatado: Espanhol
(Espanha-moderno)
192
AMBOS, Kai. Derecho Penal del Enemigo. In:
. v. 1. Org. Cancio Meli e Gmes-Jara Dez. Buenos Aires: Euros Editores,
2006.
ANDRADE, Vera Regina Pereira de.
. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997.
ANSELL-PEARSON, Keith. . Trad. Mauro Gama e
Claudia Gama. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997.
APONTE, Alejandro. Derecho Penal de enemigo derecho penal del ciudadano. Gnther
Jakobs y los avatares de un derecho penal de la enemistad.
Criminais, n. 51, So Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.
ARENDT, Hannah. . Trad. Jos Rubens Siqueira. So Paulo:
Companhia das Letras, 1999.
ASUA BATARRITA, Adela. El discurso del enemigo y su infiltracin en el derecho penal.
Delitos de terrorismo, finalidades terroristas y condutas perifricas. In:
v. 1. Org. Cancio Meli e Gmes-Jara Dez.
Buenos Aires: Euros Editores, 2006.
AZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli de. Criminalidade e Justia Penal na Amrica Latina.
. Porto Alegre, ano 7, n. 3, jan/jun 2005.
______. So Paulo: IBCCRIM, 2000.
______. Vises da Sociedade Punitiva: elementos para uma sociologia do controle penal. In.
. Org.: Ruth Gauer. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.
BACILA, Carlos Roberto. . Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2005.
BARATA, Francesc. Los y el pensamiento criminolgico. In:
Org: Roberto Bergalli. Valencia: Tirant lo blanch, 2003.
BARATTA, Alessandro.
Trad. Juarez Cirino dos Santos. 3 ed. Rio de Janeiro: Revan,
2002.
193
BASTIDA FREIXEDO, Xacobe. Los brbaros em el umbral. fundamentos filosficos del
derecho penal del inimigo. In: .
v. 1. Org. Cancio Meli e Gmes-Jara Dez. Buenos Aires: Euros Editores, 2006.
BAUMAN, Zygmunt. . Trad. Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 2000.
______. . Trad. Marcus Penchel. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 1999.
______. . Traduo Marcos Penchel. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 1999.
______. . Traduo Mauro Gama Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 1998.
BELLO RENGIFO, Carlos Simn. La razones del Derecho penal. In:
v. 1. Org. Cancio Meli e Gmes-Jara Dez.
Buenos Aires: Euros Editores, 2006.
BENNINGTON, Geoffrey. .
Trad. Anamaria Skinner. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996.
BHABHA, Homi K. . Trad. Myriam vila et al. Belo Horizonte, UFMG,
1998.
BIRMAN, Joel. . 2
ed. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2000.
BITENCOURT, Cezar Roberto. Sntese das principais fases da evoluo epistemolgica do
Direito Penal. In: Org.: Ruth Gauer. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2006.
BIZZOTO, Alexandre & RODRIGUES, Andreia de Britto.
. 2 ed. Goinia: AB, 2003.
BODELN GONZLES, Encarna. Gnero y Sistema Penal: los derechos de las mujeres en el
sistema penal. In: Org: BERGALLI, Roberto. Valencia:
Tirant lo blanch, 2003.
194
BUNG, Jochen. Direito penal do inimigo como teoria da vigncia da norma e da pessoa.
, n. 62, So Paulo: Revista dos Tribunais, 2006.
BUSATTO, Paulo Csar. Quem o inimigo, quem voc?
n. 66, So Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.
CAAR, E.H. 6 ed. Trad. Lcia Alverga. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989.
CALLEGARI, Andr Luiz & DUTRA, Fernanda Arruda. Derecho penal del enemigo y
Derechos fundamentales. In: .
v. 1. Org. Cancio Meli e Gmes-Jara Dez. Buenos Aires: Euros Editores, 2006.
CANCIO MELI, Manoel. Direito Penal do Inimigo? In:
. JAKOBS, Gnther & MELI, Manuel Cancio. Traduo: Andr Callegari
e Nereu Giacomolli. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005.
______. De nuevo: Derecho Penal del enemigo? In:
v. 1. Org. Cancio Meli e Gmes-Jara Dez. Buenos Aires:
Euros Editores, 2006.
______. O estado atual da poltica criminal e a cincia do Direito penal. In:
. Org.: Andr Luis Callegari e Nereu Giacomolli. Trad. Andr Callegari .
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005.
______. & GMEZ-JARA DEZ, Carlos. Presentacin. In:
v. 1. Org. Cancio Meli e Gmes-Jara Dez. Buenos Aires:
Euros Editores, 2006.
CANOTILHO, Jos Joaquim Gomes. Justia Constitucional e Justia Penal.
, n. 55, So Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.
CAPUTO, John. . Traduo Leonor Aguiar. Lisboa: Piaget, 1993.
CARVALHO, Salo de. A Ferida Narcsica do Direito Penal (primeiras observaes sobre as
(dis)funes do controle penal na sociedade contempornea). In: . Org:
Ruth M. C. Gauer. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.
______. 3 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.
195
______. A Poltica de Guerra s Drogas na Amrica Latina entre o Direito Penal do Inimigo e
o Estado de Exceo Permanente. In: . Org:
SCHMIDT, Andrei Zenkner. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.
______. . Revista de Estudos Ibero-
Americanos, Edio Especial, n. 2, 2006.
______. . 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.
______ & WUNDERLICH, Alexandre Lima. O Suplcio de Tntalo: a Lei 10.792/03 e a
consolidao da poltica criminal do terror.
, v. 12, n. 134, So Paulo, 2004, p. 06.
CATHUS, Olivier. O preconceito forte como um leo: representaes do negro e da violncia
na mdia. , n. 29, Porto Alegre: EDIPUCRS, 2007.
CLEINMAN, Betch. Mdia, Crime e Responsabilidade. , n. 01,
Porto Alegre: Notadez, 2001.
CORCOY BIDASOLO, Mirentxu. Sistema de penas y lneas polticocriminales de las ltimas
reformas del cdigo penal. Tiende el derecho penal hacia un derecho penal de dos
velocidades? In: . v. 1. Org.
Cancio Meli e Gmes-Jara Dez. Buenos Aires: Euros Editores, 2006.
CORNACCHIA, Luigi. La Moderna Hostis Iudicatio entre norma y estado de excepcin. In:
Org. Cancio Meli e Gmes-
Jara Dez. v. 1. Buenos Aires: Euros Editores, 2006.
CORRA, Diego Ayres. Os meios de comunicao de massa e sua influncia no
desenvolvimento da histeria punitiva e na ampliao da represso penal.
, n. 03,. Porto Alegre: Notadez, 2001.
COSTA, Alexandre Arajo. Fora de
Lei . VIRT (01). Salvador: 2007, p. 06. Disponvel em:
<http://www.direitopublico.com.br/pdf/rv01_alexandrecosta.pdf>. Acesso em 13.07.2007.
COSTA, Jurandir Freire. A inocente face do terror. In: .
Rio de Janeiro: Rocco, 1999.
196
CRESPO, Eduardo Demetrio. El Derecho penal del enemigo In:
v. 1. Org. Cancio Meli e Gmes-Jara
Dez. Buenos Aires: Euros Editores, 2006.
CRITCHLEY, Simon. Ironista privado o liberal pblico? In:
. Org. Chantal Mouffe. Buenos Aires: Paids, 1998.
______. . Edinburgh: Ediburgh
University Press, 1999.
DVILA, Fbio Roberto. O Inimigo no Direito Penal Contemporneo. Algumas reflexes
sobre o contributo crtico de um Direito Penal de base onto-antropolgica. In:
. Org. Ruth Gauer. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.
______.
. Coimbra: Coimbra Editora, 2005.
DAMATTA, Roberto. Rio de Janeiro: Rocco, 1984.
______. O Ritual de Posse. In: . Rio de
Janeiro: Rocco, 1996.
DELEUZE, Gilles. Post-Scriptum sobre as Sociedades de Controle. In: . RJ:
Editora 34, 1992.
______ & GUATTARI, Flix. Trad. Bento Prado Jr. e Alberto Muoz. Rio
de Janeiro: Editora 34, 1992.
DENKOWSKI, Charles. La proteccin estatal en los conflictos asimtricos: Continua el
derecho policial do los alemanes, tras el 11 de septiembre, con el derecho penal
poltico antiliberal? In: Derecho Penal del Enemigo: el discurso penal de la exclusin. v. 1.
Org. Cancio Meli e Gmes-Jara Dez. Buenos Aires: Euros Editores, 2006.
DERRIDA, Jacques. . Trad. Maria Beatriz da Silva. So Paulo:
Perspectiva, 1995.
______. . Trad. Miriam Chnaiderman e Renato Janine Ribeiro. So Paulo:
Perspectiva, 2004.
197
______. . 3 ed. Trad. Rogrio Costa. So Paulo: Iluminuras, 2005.
______. . Trad. Fbio Landa. So Paulo: Perspectiva, 2004.
______. So Paulo:
Escuta, 2003.
______. . In:
Filosofia em Tempos de Terror. BORRADORI, Giovanna. RJ: Jorge Zahar, 2004.
______. Da Violncia e da Beleza Dilogo entre Jacques Derrida e Gianni Vattimo. :
Revista de Comunicao, Cultura e Poltica, v. 7, n. 13, jul./dez. 2006.
______. Trad. Leyla Perrone-Moiss. So Paulo: Martins Fontes, 2007.
______. . Disponvel em: <http://www.philosophia.cl>. Acesso
em: 15.06.2006.
______. . Trad. George Collins. London: Verso, 2005.
______. . So
Paulo: Escuta, 2001
______ & ROUDINESCO, Elisabeth. . Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 2004.
DEZ RIPOLLS, Jos Luis. De la sociedad del riesgo a la seguridad ciudadana: el debate
desenfocado. In: . v. 1. Org.
Cancio Meli e Gmes-Jara Dez. Buenos Aires: Euros Editores, 2006.
DIVAN, Gabriel Antinolfi. Discurso Evolucionista nas Origens da Criminologia Latino-
Americana: Racismo e Hierarquia Social em Jos Ingenieros e Nina Rodrigues.
, v. 22, Porto Alegre: Notadez, abril/junho 2006.
DONINI, Massimo. El Derecho penal frente al enemigo. In:
. v. 1. Org. Cancio Meli e Gmes-Jara Dez. Buenos Aires:
Euros Editores, 2006.
198
DOUGLAS, Mary. . Traduo Snia Silva. Lisboa: Edies 70, 1991.
DUARTE, Andr. Heidegger, a essncia da tcnica e as fbricas da morte: notas sobre uma
questo controversa. In: . Org: Ricardo Timm de Souza e Nythamar
Oliveira. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2001.
DUMONT, Louis.
Trad. lvaro Cabral. Rio de Janeiro: Rocco, 1985.
DUSSEL, Enrique. . Trad. Georges
Maissiat. So Paulo: Paulus, 1995.
ELIAS, Norbert. . Trad. Vera Ribeiro. RJ: Jorge Zahar, 1994.
______. Trad. Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
2000.
FABRI, Marcelo. Levinas e a busca do autntico. In: . Org.: Ricardo
Timm de Souza e Nythamar Fernandes de Oliveira. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2001.
FARIA COSTA, Jos Francisco de.
. Coimbra: Coimbra Editora, 2000.
FAYET JR., Ney. Consideraes sobre a Criminologia Crtica. In:
Org. Ney Fayet Jr. e Simone Corra. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2000.
FEIJOO SNCHEZ, Bernardo. El Derecho penal del enemigo y el Estado democrtico de
Derecho. In: . v. 1. Org. Cancio
Meli e Gmes-Jara Dez. Buenos Aires: Euros Editores, 2006.
FERRAJOLI, Luigi. . Trad. Ana Paula Zomer
. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.
FIGUEIREDO DIAS, Jorge de & COSTA ANDRADE, Manuel da.
. Coimbra: Coimbra editora, 1992.
199
______. . Volume II. Coimbra: Coimbra Editora, 2005.
______. So Paulo: Revista dos
Tribunais, 1999.
FOUCAULT, Michel. . 20 ed. Trad. Raquel Ramalhete. Petrpolis: Vozes,
1999.
______. 22 ed. Org. e trad. Roberto Machado. Rio de Janeiro: Graal,
2006.
______. . So Paulo: Princpio, 1997
GARCA AMADO, Juan Antonio. El obediente, el enemigo, el Derecho penal y Jakobs. In:
. v. 2. Org. Cancio Meli e
Gmes-Jara Dez. Buenos Aires: Euros Editores, 2006.
GARCA-PABLOS DE MOLINA, Antonio.
. 3 ed. Trad. Luiz Flvio Gomes. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.
GARCA PAZ, Isabel Sanchez. Alterativas al Derecho penal del enemigo desde el Derecho
penal del ciudadano. In: . Org.
Cancio Meli e Gmes-Jara Dez. Vol. 2. Buenos Aires: Euros Editores, 2006.
GARLAND, David.
Trad. Mximo Sozxo. Barcelona: Gedisa, 2005.
______. The Development of British Criminology. In: .
2 ed. Edited by Mike Maguire . Oxford: Oxford University Press, 1997.
GAUER, Ruth Maria Chitt.
Porto Alegre: EDIPUCRS, 1996.
______. A Etnopsiquiatria na viso dos intelectuais brasileiros. ,
v. 06, Porto Alegre: Notadez, 2002.
200
______. Interrogando o limite entre historicidade e identidade. In:
. Org. Ruth Gauer. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.
______. Conhecimento e Acelerao (Mito, verdade e tempo). In:
. Org. Ruth Gauer. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.
______. Da Diferena Perigosa ao Perigo da Igualdade: reflexes em torno do paradoxo
moderno. . Porto Alegre, v. 05, n. 02, jul-dez.2005.
GELSTHORPE, Loraine. Feminism and Criminology. In:
2 ed. Edited by Mike Maguire . Oxford: Oxford University Press, 1997.
GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. . Trad. Jos Luiz
Pagliuca. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.
GOFFMAN, Erwin. .
Traduo Mrcia Nunes. 4 ed. Rio de Janeiro: LTC, 1988.
GOLDENBERG, Mirian.
. 2 ed. Rio de Janeiro: Record, 2005.
GRACIA MARTN, Luis. Sobre la negacin de la condicin de persona como paradigma del
derecho penal del enemigo. In:
. v. 1. Org. Cancio Meli e Gmes-Jara Dez. Buenos Aires: Euros Editores, 2006.
GRECO, Lus. Sobre o chamado direito penal do inimigo.
, n. 56, So Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.
GROSSO GARCA, Manuel Salvador. Qu es y que puede ser el Derecho penal del
enemigo. In: Derecho Penal del Enemigo: el discurso penal de la exclusin. v. 2. Org.
Cancio Meli e Gmes-Jara Dez. Buenos Aires: Euros Editores, 2006.
GUIMARES, Antonio Srgio Alfredo. Racismo e Anti-racismo no Brasil.
, n. 43, CEBRAP: So Paulo, 1995.
HABERMAS, Jrgen. Insero incluso ou confinamento? In: A . Trad.
George Sperber et al. So Paulo: Loyola, 2004.
201
HALL, Stuart. . Trad. Tomaz Tadeu da Silva e
Guacira Louro. 10 ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2005.
HEIDEGGER, Martin. . Trad. Maria Schuback, Petrpolis: Vozes, 2006.
_______. . Trad. Ernildo Stein. So Paulo: Nova Cultural,
1991.
_______. . Disponvel em <www.heideggeriana.com.ar>. Acesso em 17.07.2007.
HOBBES, Thomas. . Trad.: Joo Paulo Monteiro e Maria Nizza da Silva. So Paulo:
Martins Fontes, 2003.
HUDSON, Barbara A. Social Control. In: 2 ed.
Edited by Mike Maguire . Oxford: Oxford University Press, 1997.
JAKOBS, Gnther. Direito Penal do Cidado e Direito Penal do Inimigo. In:
. JAKOBS, Gnther & MELI, Manuel Cancio. Traduo: Andr
Callegari e Nereu Giacomolli. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005.
______. O que protege o Direito Penal: os bens jurdicos ou a vigncia da norma? In:
. Org.: Andr Luis Callegari e Nereu Giacomolli. Trad. Andr
Callegari . Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005.
______. . trad. Marco Antnio R. Lopes. Barueri: Manole, 2003.
______. Terroristas como personas en Derecho? In:
. v. 2. Org. Cancio Meli e Gmes-Jara Dez. Buenos Aires: Euros
Editores, 2006.
______. Derecho penal del enemigo? Um estudio acerca de los presupuestos de la
juridicidad. In: . v. 2. Org.
Cancio Meli e Gmes-Jara Dez. Buenos Aires: Euros Editores, 2006.
GMEZ-JARA DEZ, Carlos. Normatividad del ciudadano versus facticidade del enemigo.
In: v. 2. Org. Cancio Meli e
Gmes-Jara Dez. Buenos Aires: Euros Editores, 2006.
202
KALECK, Wolfgang. Sin llegar al fondo: la discusin sobre el derecho penal del enemigo. In:
. v.1. Org. Cancio Meli e
Gmes-Jara Dez. Buenos Aires: Euros Editores, 2006.
KANT, Immanuel. . Buenos Aires: Editorial TOR, s/d.
KELSEN, Hans. . 4 ed. Trad. Joo Baptista Machado. Coimbra:
Armnio Machado, 1979.
KORELC, Martina. . 371f. Tese
(Doutorado em Filosofia)- Faculdade de Filosofia. Pontifcia Universidade Catlica do RS.
Porto Alegre, 2006.
LARRAURI, Elena. . Madrid: Siglo Vienteuno, 2000.
LASCANO, Carlos Julio. La demonizacin del enemigo y la crtica al Derecho penal del
enemigo basada en su caracterizacin como Derecho penal del autor. In:
. v. 2. Org. Cancio Meli e Gmes-Jara Dez.
Buenos Aires: Euros Editores, 2006.
LEACH, Edmund. Traduo lvaro Cabral. So Paulo: Cultrix,
1970.
LEGENDRE, Pierre. . Rio de Janeiro:
Forense Universitria, 1983.
LEVINAS, Emmanuel. . Trad. Perventino Pivatto et al.
2 ed. Petrpolis: Vozes, 2005.
______. . Trad. Marcelo Fabri et al. Petrpolis: Vozes, 2002.
______. . Trad. Fernanda Oliveira.
Lisboa: Piaget, 1997.
______. . Trad. Flix Duque. Barcelona: Paids, 1993.
______. . Salamanca: Sgueme, 1977.
203
LVI-STRAUSS, Claude. Introduo Obra de Marcel Mauss. In: MAUSS, Marcel.
. Trad. Antnio Marques. Lisboa: Edies 70, 2001.
______. . 5 ed. Trad. Tnia Pellegrini. Campinas: Papirus, 1989.
LOMBROSO, Csar. . Trad. Maristela Tomasini e Oscar Garcia. Porto
Alegre: Ricardo Lenz, 2001.
LOPES Jr., Aury.
. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.
LUHMANN, Niklas. O Conceito de Sociedade. In:
. Org. Clarissa Neves e Eva Samios. Trad.: Eva Samios. Porto Alegre: Editora da
Universidade/UFRGS, Goethe-Institut/ICBA, 1997.
LYNETT, Eduardo Montealegre. Introduo Obra de Gnther Jakobs. In:
. Org.: Andr Luis Callegari e Nereu Giacomolli. Trad. Andr Callegari .
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005.
LYOTARD, Jean-Franois. Se pudermos pensar em corpo. In:
. Lisboa: Estampa, 1989.
______. . Trad. Mariano Rato. Buenos Aires: REI, 1995.
MAFFESOLI, Michel. . Traduo Francisco Settineri. Porto
Alegre: Artes e Ofcios, 1995.
______. . Trad. Nathanael Caixeiro. Porto Alegre: Sulina, 2001.
______. Trad.:
Maria de Lourdes Menezes. RJ: Forense Universitria, 2000.
MANNHEIM, Hermann. II Volume. Trad. Faria Costa e Costa
Andrade. Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian, s/d.
204
MARQUES, Braulio. A Mdia como Filtro Social. In:
Org.: Ney Fayet .2419(s)8.95509(a)-6.725453( )-164.594(B)-02-6.659(y)27.824(e)-1650]TJ/R9 10.4198 TQ
205
_____. . So Paulo: Rideel, 2005.
OLIVEIRA, Nythamar Fernandes de. Tout autre est aout autre: Direitos Humanos e
Perspectivismo Semntico-transcendental , v. 51, n. 2, 2006.
_______. . Disponvel em:
<http://www.geocities.com/nythamar/PM1.html>. Acesso em: 28.06.07.
______. Hegel, Heidegger, Derrida Desconstruindo a Mitologia Branca. In:
. Org. Ricardo Timm de Souza e Nythamar Fernandes de Oliveira. Porto Alegre:
EDIPUCRS, 2002.
______. . Porto Alegre: EDIPUCRS,
1999.
ORCE, Guillermo. Derecho penal del enemigo. Influencia de una idea negativamente cargada
em la solucin de casos lmite. In:
v. 2. Org. Cancio Meli e Gmes-Jara Dez. Buenos Aires: Euros Editores, 2006.
PASCAL, Blaise. Penses. In: . Paris: Gallimard, 1954.
PASTOR MUOZ, Nuria. El hecho: ocasin o fundamento de la intervencin penal?
Reflexiones sobre el fenmeno de la criminalizacin del peligro de peligro. In:
. v. 2. Org. Cancio Meli e Gmes-Jara
Dez. Buenos Aires: Euros Editores, 2006.
PASTOR, Daniel R. El Derecho penal del enemigo em el espejo del poder punitivo
internacional. In: . Org. Cancio
Meli e Gmes-Jara Dez. Vol. 2. Buenos Aires: Euros Editores, 2006.
PAVARINI, Massimo. Processos de Recarcerizao e Novas Teorias Justificativas da Pena.
In: . Org. Ana Paula Zomer. Trad. Lauren Stefanini. So Paulo:
IBCCRIM, 2002.
PAZ, Octvio. . So Paulo: Perspectiva, 1977.
206
PELIZZOLI, Marcelo Luiz. Da fenomenologia metafenomenologia e meta-ontologia
aportes para uma crtica a Husserl e Heidegger desde Levinas. In: . Org.:
Ricardo Timm de Souza e Nythamar Fernandes de Oliveira. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2001.
______. . Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002.
PEARANDA RAMOS, Enrique, GONZLES, Carlos Surez & MELI, Manoel Cancio.
. Org. e
Trad. Andr Callegari e Nereu Giacomolli. Barueri: Manole, 2003.
PREZ DEL VALLE, Carlos. Derecho penal del enemigo. Escarnio o prevencin de
peligros? In: v. 2. Org. Cancio
Meli e Gmes-Jara Dez. Buenos Aires: Euros Editores, 2006.
PIA ROCHEFORT, Juan Ignacio. La contruccin del enemigo yu la reconfiguracin de la
persona. Aspectos del proceso de formacin de una estructura social. In:
. v. 2. Org. Cancio Meli e Gmes-Jara Dez.
Buenos Aires: Euros Editores, 2006.
PIVATTO, Pergentino. Responsabilidade e Culpa em Emmanuel Levinas. In:
. Org.: Ricardo Timm de Souza e Nythamar Fernandes de Oliveira. Porto Alegre:
EDIPUCRS, 2001.
POLAINA NAVARRETE, Miguel & POLAINO-ORTIS, Miguel. Derecho penal del
enemigo: algunos falsos mitos. In:
. v. 2. Org. Cancio Meli e Gmes-Jara Dez.. Buenos Aires: Euros Editores, 2006.
PONTIN, Fabrcio.
. 2006. 111f. Dissertao (Mestrado de
Mestrado)- Faculdade de Filosofia. Pontifcia Universidade Catlica do RS. Porto Alegre,
2007.
PORTILLA CONTRERAS, Guillermo. La legitimacin doctrinal de la dicotomia schmittiana
em el Derecho penal del enemigo. In:
. v. 2. Org. Cancio Meli e Gmes-Jara Dez. Buenos Aires: Euros Editores, 2006.
REGHELIN, Elisangela Melo. Entre terroristas e inimigos...
n. 66, So Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.
207
RENAUT, Alain. .
Traduo Maria Joo Reis. Lisboa: Piaget, 1989.
______. . 2 ed. Traduo Elena Gaidano.
Rio de Janeiro: DIFEL, 2004.
RESTA, Federica. Enemigos y criminales. Las lgicas del control.
v. 2. Org. Cancio Meli e Gmes-Jara Dez.
Buenos Aires: Euros Editores, 2006.
RIOS, Andr Rangel. Diferna. In: . Org.: Evando Nascimento
e Paula Glenadel. Rio de Janeiro: 7letras, 2000.
RIVERA-BERAS, Iaki. Historia y Legitimacin del Castigo Haca dnde vamos? In:
. Org: Roberto Bergalli. Tirant lo blanch: Valencia, 2003.
ROCK, Paul. Sociological Theories of Crime. In: . 2
ed. Edited by Mike Maguire . Oxford: Oxford University Press, 1997.
RORTY, Richard. . Trad. Antnio Trnsito. Rio de
Janeiro: Relume-Dumar, 1994.
______. . Trad. Marco Antnio Casanova. Rio de Janeiro:
Relume-Dumar, 2001.
______. . Trad. Marco Antnio Casanova. Rio de Janeiro:
Relume-Dumar, 1999.
______. . Trad. Paulo Ghiraldelli Jr. So Paulo: Martins, 2005.
______. Respuesta a Simon Critchley. In: . Org. Chantal
Mouffe. Buenos Aires: Paids, 1998.
ROSA, Alexandre Moraes da.
. Florianpolis: Habitus, 2005.
SARTRE, Jean-Paul. . Trad. Rita Braga. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, s/d.
208
SCHEERER, Sebastian; BHM, Maria Laura & VQUEZ, Karolina. Seis preguntas y cinco
respuestas sobre el Derecho penal del enemigo. In:
. v. 2. Org. Cancio Meli e Gmes-Jara Dez. Buenos Aires: Euros
Editores, 2006.
SCHMIDT, Andrei Zenkner. Reviso Crtica das concepes funcionalistas: em busca de um
sistema penal teleolgico-garantista. In:
. Org.: Ney Fayet Jr. Porto Alegre: Ricardo Lenz, 2003.
SCHNEMANN, Bernd. Derecho penal del enemigo? Crtica a las insoportables tendencias
erosivas e la realidad de la administracin de justicia penal y de su isoportable desatencin
terica. In: . v. 2. Org. Cancio
Meli e Gmes-Jara Dez. Buenos Aires: Euros Editores, 2006.
SELIGMANN-SILVA, Mrcio. A Histria como Trauma. In: .
Org. Arthur Nestrovski e Mrcio Seligmann-Silva. So Paulo: Escuta, 2000.
SILVA FILHO, Jos Carlos Moreira. Da invaso da Amrica aos sistemas penais de hoje: o
discurso da inferioridade latino-americana. Criminais, v. 07, Porto
Alegre: Notadez, 2002.
SILVA SNCHEZ, Jess-Maria.
. Trad. Luiz Rocha. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.
SINGER, Helena. Direitos Humanos e Volpia Punitiva. , vol. 37, 1998.
SOARES, Luiz Eduardo, MV BILL & ATHAYDE, Celso. . Rio de Janeiro:
Objetiva, 2005.
SOUZA, Ricardo Timm de. A Dignidade Humana da Pessoa Humana: uma viso
contempornea. . Passo Fundo. Ano XIV, n. 27, 2005-II.
______. Trs teses sobre a violncia. . Porto Alegre. Ano I, v. 02, dez-2001.
______. A Racionalidade tica como Fundamento de uma Sociedade Varivel: reflexos sobre
suas condies de possibilidade desde a crtica filosfica do fenmeno da corrupo. In:
. Org. Ruth Gauer. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2004.
209
______. . Porto Alegre: Dacasa,
2002.
______. tica e Realidade. Sobre a tica de libertao e a libertao da tica: o repensar dos
termos essenciais da dignidade humano-ecolgica. In: . Org.
Perventino Pivatto. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004.
______. . So
Paulo: Perspectiva, 1999.
______. Fenomenologia e Metafenomenologia: substituio e sentido sobre o tema da
substituio no pensamento tico de Levinas. In: . Org.: Ricardo Timm
de Souza e Nythamar Fernandes de Oliveira. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2001.
______. Husserl e Heidegger: Motivaes e Arqueologias. In:
. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1998.
______. Hegel e o Infinito alguns aspectos da questo. , v. 50, n. 2, julho/2005.
______. Por uma Esttica Antropolgica desde a tica da Alteridade: do estado de exceo
da violncia sem memria ao estado de exceo da excepcionalidade do concreto. ,
vol. 51, n. 2, junho/2006.
______. Porto Alegre:
EDIPUCRS, 2004.
______. . Porto
Alegre: EDIPUCRS, 2000.
______.
. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1999.
______. .
Porto Alegre: EDIPUCRS, 1996.
______. So
Paulo: Perspectiva, 2004.
210
______.
. Trad. Fabrcio Pontin. Indito.
STEIN, Ernildo. Iju: Uniju, 2004.
______. . Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002.
SUSIN, Luis Carlos.
. Porto Alegre: Escola Superior de Teologia So Loureno de Brindes, 1984.
TAYLOR, Ian; WALTON, Paul & YOUNG, Jock. . Buenos Aires:
Amorrortu editores.
TERRADILLOS BASOCO, J. M. . Una convivencia cmplice. En torno de la construccin
terica del denominado Derecho penal del enemigo. In:
v. 2. Org. Cancio Meli e Gmes-Jara Dez. Buenos Aires:
Euros Editores, 2006.
VASCONCELOS, Jos Antonio. O que desconstruo? , Curitiba, v. 15,
n. 17, p. 76, julho/dezembro 2003.
VATTIMO, Gianni. . Trad. Joo Gama. Lisboa: Piaget, 1996.
VELHO, Gilberto. Felicidade brasileira. In:
. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2002.
WACQUANT, Loc. . Traduo Andr Telles. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 2001.
______. . Revista de Sociologia e Poltica,
n. 23, Curitiba, 2004. Disponvel em: <www.scielo.br>. Acesso em 13.08.2007.
YOUNG, Jock.
. Traduo Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Revan, 2002.
ZAFFARONI, Eugenio Ral. . Traduo Vnia Pedrosa e Amir
Conceio. Rio de Janeiro: Revan, 1999.
211
______. La legitimacin del control penal de los estraos. In:
. v. 1. Org. Cancio Meli e Gmes-Jara Dez. Buenos Aires:
Euros Editores, 2006.
______. . Trad. Srgio Lamaro. Rio de Janeiro: Revan, 2007.
______; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro & SLOKAR, Alejandro.
. 2 ed. Rio de Janeiro: Revan, 2003.
ZANATTA, Arton. Teoria do Funcionalismo Penal: uma breve aproximao por este outro
lado do Atlntico. In: .
Org.: Ney Fayet Jr. Porto Alegre: Ricardo Lenz, 2003.
Vous aimerez peut-être aussi
- Cantate Domino - Santos e Devoções - 25.10.2020Document79 pagesCantate Domino - Santos e Devoções - 25.10.2020Guthierri SoaresPas encore d'évaluation
- Fundamentos Antropológicos (Material de Estudo)Document218 pagesFundamentos Antropológicos (Material de Estudo)luciana alvesPas encore d'évaluation
- Manual X Test 2Document13 pagesManual X Test 2Edson CostaPas encore d'évaluation
- Boletim Da CMF Índice Por Assunto PDFDocument31 pagesBoletim Da CMF Índice Por Assunto PDFLilianBritoAlvesPas encore d'évaluation
- Meu Caderno Do Medo - @psi - AnapaulagvDocument18 pagesMeu Caderno Do Medo - @psi - AnapaulagvJoicy OliveiraPas encore d'évaluation
- 022 - Leucemia Mieloide Aguda e Crônica Diagnósticos e Possíveis TratamentosDocument16 pages022 - Leucemia Mieloide Aguda e Crônica Diagnósticos e Possíveis TratamentosManoel VieiraPas encore d'évaluation
- BOM - Roteiro 001 (Semana 29 A 05maio)Document17 pagesBOM - Roteiro 001 (Semana 29 A 05maio)Daniel Braga100% (1)
- Manual Do Mel 2 Edicao Web PDFDocument216 pagesManual Do Mel 2 Edicao Web PDFGina Lecomte0% (1)
- Caderno de Provas - 2 EtapaDocument30 pagesCaderno de Provas - 2 EtapaIsadora CoutinhoPas encore d'évaluation
- Desenho Técnico MecânicoDocument328 pagesDesenho Técnico Mecânicopissini-1Pas encore d'évaluation
- Christina Lauren - Apenas AmigosDocument312 pagesChristina Lauren - Apenas AmigosDeilany Palmeira100% (2)
- Biologia ForenseDocument9 pagesBiologia ForenseErillene FurtadoPas encore d'évaluation
- A Erótica e o FemininoDocument186 pagesA Erótica e o FemininoMatheus HenriquePas encore d'évaluation
- Biologia TextoDocument5 pagesBiologia TextoVick FloresPas encore d'évaluation
- Atividade de Nota PromissóriaDocument4 pagesAtividade de Nota PromissóriaMARLON Bruno BarbosaPas encore d'évaluation
- Tomo VII PDFDocument857 pagesTomo VII PDFgsterrinha50% (2)
- Nit Dicla 16 - 01Document10 pagesNit Dicla 16 - 01Marcus HugenneyerPas encore d'évaluation
- Contentores Carga Trasera 120D PorDocument2 pagesContentores Carga Trasera 120D Portiago calderPas encore d'évaluation
- 2012 - o Uso Do Fardamento Diferenciado Pela Brigada Militar Na Função de CDC - SantosDocument61 pages2012 - o Uso Do Fardamento Diferenciado Pela Brigada Militar Na Função de CDC - SantosDanilloPas encore d'évaluation
- Aprendendo Assertividade 2Document2 pagesAprendendo Assertividade 2roseliverissimoPas encore d'évaluation
- Texto de Apoio - Bullying e Vitimas em Contexto EscolarDocument22 pagesTexto de Apoio - Bullying e Vitimas em Contexto EscolarDulce AlvesPas encore d'évaluation
- 1 Barbara Brito e Antonio SilveiraDocument22 pages1 Barbara Brito e Antonio SilveiraLaura CarneiroPas encore d'évaluation
- Ficha Lobisomem - UktenaDocument4 pagesFicha Lobisomem - UktenaLuciano SantosPas encore d'évaluation
- As Ações Humanas Devem Ser Avaliadas Somente Pelas Suas ConsequênciasDocument2 pagesAs Ações Humanas Devem Ser Avaliadas Somente Pelas Suas ConsequênciasDomingos GonçalvesPas encore d'évaluation
- Financiamento Veiculos Liquid Apos 24 ItauDocument3 pagesFinanciamento Veiculos Liquid Apos 24 ItauJôvaniMouraPas encore d'évaluation
- Apres. WAIS III Avançado CompletoDocument397 pagesApres. WAIS III Avançado CompletoFrancieli Oratz100% (9)
- Manual Seneca 2Document251 pagesManual Seneca 2Marcos ViniciusPas encore d'évaluation
- Homeopatia Cura Tumores - Um Cam - John ClarkeDocument62 pagesHomeopatia Cura Tumores - Um Cam - John ClarkeTaniamp SilvaPas encore d'évaluation
- Planilha de VendasDocument53 pagesPlanilha de VendasMateus AraujoPas encore d'évaluation
- Lista de Inscritos para Sorteio - Seleção de Famílias Residencial Hélade Jardim MuniqueDocument102 pagesLista de Inscritos para Sorteio - Seleção de Famílias Residencial Hélade Jardim MuniqueKhrys WandeerPas encore d'évaluation