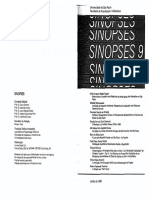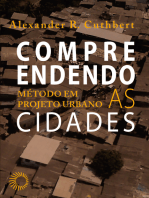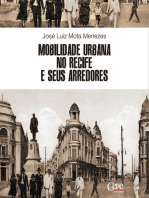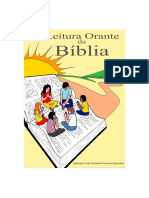Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Espaço Visual Da Cidade
Transféré par
Antonio Leandro Barros0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
161 vues9 pagesO documento discute a crise da concepção tradicional da cidade na civilização industrial e as ambiguidades do urbanismo como disciplina. O urbanismo está se separando do seu objeto, a cidade, sem ter conseguido substituí-la por uma nova concepção. Também há ambiguidade sobre se o urbanismo é arte, ciência ou tecnologia. Deve-se adotar um método analítico para planejar o desenvolvimento urbano, considerando valores estéticos e históricos ao decidir o que conservar.
Description originale:
ARGAN, Giulio Carlo. História da Arte como história da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1993.
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentO documento discute a crise da concepção tradicional da cidade na civilização industrial e as ambiguidades do urbanismo como disciplina. O urbanismo está se separando do seu objeto, a cidade, sem ter conseguido substituí-la por uma nova concepção. Também há ambiguidade sobre se o urbanismo é arte, ciência ou tecnologia. Deve-se adotar um método analítico para planejar o desenvolvimento urbano, considerando valores estéticos e históricos ao decidir o que conservar.
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
161 vues9 pagesEspaço Visual Da Cidade
Transféré par
Antonio Leandro BarrosO documento discute a crise da concepção tradicional da cidade na civilização industrial e as ambiguidades do urbanismo como disciplina. O urbanismo está se separando do seu objeto, a cidade, sem ter conseguido substituí-la por uma nova concepção. Também há ambiguidade sobre se o urbanismo é arte, ciência ou tecnologia. Deve-se adotar um método analítico para planejar o desenvolvimento urbano, considerando valores estéticos e históricos ao decidir o que conservar.
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 9
224 CRISE DA ARTE, CRISE DO OBJETO, CRISE DA CIDADE
estrutura edecorao, sendo a estrutura a realidade duradoura, a
que secalcula emsculos, eadecorao arealidade que muda ese
exprime emanos, em dias, at mesmo emhoras.
Hoje, no podemos mais conceber adistino entre umespao
interno eumespao externo, entre umespao apenas meu eumes-
pao detodos. Hoje, componente do espao urbanstico qualquer
coisa que, na contnua mutao da realidade ambiental, retm por
uminstante nossa ateno, obriga-nos areconhecer-nos (ainda que
para tomar conscincia denossa nulidade) emumobjeto ou emal-
go que, no sendo objeto no sentido tradicional do termo, ainda
algo que no conhecemos ecuja chave, cujo cdigo deinterpreta-
o devemos encontrar.
Todas as pesquisas visuais deveriam ser organizadas como pes-
quisa urbanstica. Faz urbanismo o escultor, faz urbanismo o pin-
tor, faz urbanismo at mesmo quemcompe uma pgina tipogrfi-
ca; faz urbanismo quem quer que realize alguma coisa que,
colocando-se como valor, entre, ainda que nas escalas dimensionais
mnimas, no sistema dos valores.
Omercado j no constitui ovnculo entre o artista eomundo
social, porque aobra dearte no mais objeto, mercadoria. O in-
termedirio pode edeve ser exclusivamente a escola, emtodos os
seusnveis, emtodos osseus ramos; eaescola, qualquer escola, de-
veeducar para construir acidade, como forma sensvel da civiliza-
o. Mas no; acontece, emvez disso, que, emnosso sistema, our-
banismo umensino complementar emuma faculdade dearquite-
tura. O problema da unidade urbana, da cidade como organismo
histrico emdesenvolvimento, deliberadamente posto delado, por-
que no se quer que a sociedade tenha histria.
Mas este o fima que deveria visar uma arte que fosse cons-
cientedeser edever ser, como sempre foi, umfato decultura urba-
na, ecuja teoria, mais ainda do que uma esttica, seria umurbanis-
mo geral.
1969
15
o ESPAO VISUAL DA CIDADE
I
Como disciplina que visa interpretar, estabelecer, reorganizar
efinalmente programar para o futuro aconformao. da ci~ade, .a
urbanismo est seseparando cada vez mais do seu objeto, dir-se-ia
at que aspira adestru-Io. Ora prope descentrali~ar, desa;tic.ular,
desmembrar a cidade, transformando-a emuma inflorescnca ou
emuma constelao de pequenos aglomerados sociais, coordena-
dos mas auto-suficientes, nenhum dos quais, entretanto, teria aes-
trutura, o carter, aconfigurao da cidade; ora, num movimento
apenas aparentemente contraditrio, demonsta que oprogresso tec-
nolgico das comunicaes permitir chegar, no decorrer dealguns
anos ede algumas dcadas, a cidade de trinta, cinqenta milhes
dehabitantes. Essas duas perspectivas, naturalmente, tmpor alvo
enquadrar o mesmo fenmeno - acidade - na civilizao indus-
trial; mas, na realidade, demonstram apenas que, no estado atual
das coisas acivilizao industrial colocou emcriseaconcepo tra-
dicional dacidade mas ainda no conseguiu substitu-Ia por suapr-
pria concepo. Comumrpido olhar pelavasta liter~tura u~b~ns-
tica de fato notamos facilmente que, quando ela nao selimita a
verificar ap;ogressiva erpida degradao das cidades atuais, ima-
ginamos as cidades do futuro, como se a degradao das cidades
dependesse do destino eno da nossa incapacidade de~scon~ervar
ecomo seaforma das cidades futuras dependesse denos enao das
geraes vindouras.
Essa finalidade ambgua tem, como paralelo, uma preocupan-
teambigidade metodolgica. Ainda no ficou decidido seo ur~a-
nismo arte ou cincia, sociologia, economia, poltica, tecnologia.
226 CRISE DA ARTE, CRISE DO OBJETO, CRISE DA CIDADE
Sefosse arte, deveria dar lugar a obras unitrias, avaliveis como
entidades estticas consumadas eautnomas, como as cidades con-
cebidas como uma nica egrande arquitetura pelos tericos da Re-
nascena. Sefosse cincia, deveria depender deumconjunto deleis
objetivas econstantes. Sefosse o momento prtico da sociologia,
daeconomia ou dapoltica, seriaavalivel apenas sobo aspecto tec-
nolgico e no teria carter de disciplina autnoma.
Como nenhuma dessas hipteses satisfatria, convm proce-
der commtodo analtico. Que o urbanismo , emsubstncia, pro-
gramao eprojeto, no podemos contestar. Que o projeto seba-
seia num complexo de dados estticos, sociolgicos, econmicos,
polticos, cientficos, tecnolgicos, evidente. Mas claro que our-
banista no selimita acombinar esses dados nos limites emque ca-
da um deles no contradiz os outros, porque, assim fazendo, no
projetaria mas, simplesmente, comporia. Emvez disso, aatividade
especfica o "plano diretor", o projeto dedesenvolvimento do ur-
banista. Ourbanista no executa seus planos, no sporque, quan-
do sepusesseatraduzi-los para realidades construtivas no seriamais
urbanista, esimarquiteto ou engenheiro, mas tambm porque opla-
no que elaborou geralmente orientador eno executivo, exigindo
a execuo eventual um trabalho sucessivo de projeto e, emtodo
caso, umperodo deoperao to longo que as premissas sociolgi-
cas, econmicas, tecnolgicas das quais oplanejamento partiu com
certeza teriam mudado antes de a execuo eventual ser realizada
ou apenas iniciada. Almdisso, comque direito ou mandato sepo-
de determinar hoje quais sero as condies da vida social dentro
de vinte ou cinqenta anos?
A esta pergunta podemos responder que as geraes que nos
precederam construram monumentos, palcios, catedrais, que at
hoje constituem dados, condies, limites para o planejamento ur-
bano. Mas aobjeo no temfundamento, porque os antigos cons-
truram esses edifcios para as suas exigncias, no para as nossas
- esemdvida construram-nos slidos eimponentes para queper-
manecessemno futuro, mas comaidia dequepermanecessem eter-
namente vlidos os valores que esses edifcios deveriam represen-
tar. Livres as geraes posteriores para demoli-los, como foi feito
e, infelizmente, secontinua afazer. Trata-se, enfim, deuma heran-
a, no deumplanejamento. Seconservamos essesmonumentos, o
fazemos porque esta uma exigncia da nossa cultura, tanto assim
que atribumos a eles um significado completamente diferente da-
quele para o qual foram construdos. Ao contrrio disso, oredator
deumplano diretor, serealmente planejasse para o futuro, procu-
raria impor cultura do futuro exigncias danossa, pois aquele que
O ESPAO VISUAL DA CIDADE 227
prev ou procura prever o futuro sempre umhomeI? dopresente
esua previso nada mais do que uma projeo d~~I~uaaoatual,
ou, mais exatamente, uma avaliao das suas possIbIhdades dedu-
rao ou mudana. . N-
J indicamos qual o valor do futuro no planejamento ao
seplaneja para o futuro pensando empred~spor alguma COIsaque
serfeita por quemvir depois dens; planeJa-se.par~ofuturo por-
que, do contrrio, no sepode agir tendo c~nS~Ien~Iado present~~
isto tendo conscincia deque o presente nao emais do que om
mento, sempremvel, que separa ofuturo do passado, oplano atra-
vsdo qual aperspectiva do futuro corre, desaguando na dopassa-
do. Do mesmo modo, ecomamesma parte deerro ederazao c.om
que dizemos que o urbanista projeta para o futuro, p~demos. dizer
que projeta para o passado, na medida em~ue ta_mbemprojeta o
que deve ser conservado; e, mesmo q~e pr~J~te n..a
0
conservar na-
da, projeta conservar asidiaspelas qUaISdeCIdIUn~oconservar n.ada
emudar tudo. Quemestivesse realmente convencido deque aCIda-
dedeamanh ser total, radicalmente diferent~da do passad? ~da
atual (o que, afinal, significaria totalmente p~IVadade memria) e
quisesse defato ajud-Ia aser assim, spoderia con~ebe~um.proJe-
to: adestruio total, absoluta do mur:~o. Esseprojeto Infehz~en-
teexiste mas' abomba atmica no fOI Inventada pelos urbamsta~.
Est~ndo eS\abelecido que projetar ainda conservar etransrm-
tir (ainda que to-s nosso sentimento ou nossa vontade dem~dar
tudo), resta perguntar o que propri.amente conserva o urbamsm~
queprojeta odesenvolvimento das ~Idades. Conserva oquetemva
lor. Mas o que tem valor? E que tipo de valor? Responde-se, em
geral: valor esttico ouvalor histrico, ouumeoutro J~ntos. A res-
posta parece bvia. No entanto, no , enemmesmo ecerta, tan~o
assimque inmeras coisas foram destr~das no passado, como n~o
tendo valor histrico-esttico, equehoje lamentamos aper?a deIn-
comparveis valores histrico-estticos. C?mea~os po~dizer qu~,
quando falamos de valor histrico eesttico, n~o ~1~dImosa dOIS
valores distintos, mas aums. Defato, oval~r hIstor.Icode~mmo-
numento consiste no fato deque existeeseve, ou seja, seda c,omo
forma sujeita a avaliao esttica. O Coliseu, por e,xe.mplo,e~m
lugar, umtopos, eumanel demuros comcaractenst.Ic~Sarqute-
tnicas determinantes. Do ponto devista puraI?ente histrico, tem
umvalor: a) pela histria do cristianismo primitivo, m~s~~ que ~o.
que seconte haja mais lenda do que verdad~; b) pela h~stona SOCIal
do imprio romano; c) pela histria da arqUItetura antiga. Do P?n-
to devista esttico, seque elepode ser separado do pO,ntodeVIsta
histrico, o Coliseu no temmais nenhum valor: eleestapara oque
228 CRISE DA ARTE, CRISE DO OBJETO, CRISE DA CIDADE
foi ~sua forma artstica assim como o esqueleto de um animal est
para o animal vivo. Entretanto, o Coliseu no apenas um elemen-
to do valor ou do significado urbano de Roma: foi seu smbolo, desde
a Idade Mdia. s vezes, para representar Roma, tem-se figurado
apenas o Coliseu; em todo caso, no conheo uma representao
simblica de Roma em que falte o Coliseu. Os prprios magnatas
da especulao imobiliria, ouso dizer, admitem que o Coliseu de-
ve ser conservado, econservado onde est, embora atrapalhe o trn-
sito eimpea a explorao de uma rea valiosa. Se algum o quises-
se destruir, no apenas se revoltariam os arquelogos e os historia-
dores da arquitetura, mas tambm o povo romano etodo o mundo.
Revoltar-se-iam tambm, se, dispondo de uma documentao per-
feita, algum se propusesse a reconstru-I o exatamente como era
quando foi inaugurado por Tito, em 80d.C. Portanto, querem que
o Coliseu permanea assim como chegou at ns, no estado de rUI-
na. Est certo, porque, considerando-o como smbolo, justamen-
te o smbolo da runa do imprio romano sob o impulso do cristia-
nismo; mas duvido de que a razo pela qual tambm a gente do po-
vo se revoltaria contra a destruio ou a reconstruo do Coliseu
seja exatamente esta. O fato que o anfiteatro Flvio constitui o
elemento caracterizante da paisagem urbana de Roma, embora te-
nham sido as razes histricas que indicamos que contriburam pa-
ra lhe dar este valor caracterizante. O problema esttico subsiste e
o veremos. Por enquanto, basta dizer que subsiste, na medida em
que o Coliseu no apenas um topos, talvez diferenciado por um
marco comemorativo, mas uma grande forma caracterstica, visvel
em um vasto raio urbano.
.Nosso problema justamente o do valor esttico da cidade, da
cidade como espao visual. No o colocarei em termos absolutos:
o que a arte ese uma cidade pode ser considerada uma obra de
arte ou um conjunto de obras de arte. "A cidade", dizia Marsilio
Ficino, "no feita de pedras, mas de homens." So os homens
que atribuem um valor s pedras e todos o homens, no apenas os
arquelogos ou os literatos. Devemos, portanto, levar emconta, no
o valor em si, mas a atribuio de valor, no importa quem a faa
e a que ttulo seja feita. De fato, o valor de uma cidade o que lhe.
atribudo por toda a comunidade ese, em alguns casos, este atri-
budo apenas por uma elite de estudiosos, claro que estes agem
no interesse de toda a comunidade, porquanto sabem que o que ho-
je cincia de poucos, ser amanh cultura de todos. preciso pres-
cindir, portanto, do que parece bvio e ver como ocorre, em todos
os nveis culturais, a atribuio de valor aos dados visuais da cidade.
O primeiro ponto a ser considerado a relao entre funo
o ESPAO VISUAL DA CIDADE 229
e valor. Os dois conceitos so comunicantes; al~s, uI? o prolon-
gamento do outro. Mas convm distingui-Ios. SeI perf~ltamente qu~,
a rigor, no h funo sem valor, nem valor se,:nfunaoj mas a atn-
buio dos dois tipos de valor (valor da funao e funao ~o valor)
ocorre em nveis diferentes. Tomemos o caso de uma e~ta~o fer~o-
viria. Se estou correndo para o trem que parte, aprecIar~l. a racio-
nalidade do percurso, a comodidade dos servios, ~faclll~ade de
acesso aos vages das plataformas em. nvel; mas nao terei tempo
de avaliar a qualidade esttica da arqUltet~ra. Pode aconte~er que
eu pense nisso mais tarde, na calma da cabme .do trem. Ento, tal-
vez as imagens que impressionaram minha retma ~nquanto eu cor-
ria ~ara o vago e que amemria, s~m que ~u. ~Ulsesse, rete;e po-
dem voltar minha mente, e eu terei a posslblhdade. de ol~a-Ias e
avali-Ias, ou seja, de lembrar que a estao .era a:qUltetolllcame~-
te excelente' e que foi uma pena no .t~r podido ve-I.a melhor. Nao
tenho n~nhllma dificuldade em admitir que ~arquiteto estudo~ e
projetou juntas a funo e a forma da es~aaoi mas essa. estaao,
eu a percebo, ou julgo, ou vivo em seu dmaml~mo .funclOr:al, o~
a contemplo. A estao continua sendo o que e; ~1~ha.atIt~de e
que muda ea atitude contemplativa faz parte da eXIste~Cla eemo-
do de experincia tanto quanto a atitude ativa. Isso explica por que
uma arquitetura pode conservar o valor esttico ~nclu~IVequando
cessa sua funcionalidade objetiva - como o Coh~e~, Justament~;
que conservou e talvez at aumentou s~u valor est.etIco, .~mbora ja
no sirva para os espetculos do circo. E o caso mais frequ~nt~, mas
h tambm o caso contrrio: do mesmo modo que sobrevI;e a fun-
cionalidade perdida, o valor esttico ou formal tambem pode
preced-Ia. Os desenhos de Sant'Elia ou os do Novembergruppe de
Berlim so formas de uma funcionalidade puramente hipottica e,
assim, os tantos projetos que hoje se faz.em par,: a cidade do. futu-
ro. Os desenhos de Sant'Elia do-nos a impressao de que o Jovem
arquiteto futurista queria mudar tudo: .a fo!ma ~as r~as, das pon-
tes dos edifcios dos meios de comumcaao. Dir-se-ia, portanto,
que ele queria programar o futuro - e talvez se. iludisse de o estar
fazendo. Porm, mais fcil dizer o que, na realidade, ele procura-
va conservar num futuro conjeturado: ce~ta~perspectivas, certas es-
quadrias formais que j pertenciam a histria da arquitetura, por
exemplo, da Wagnerschule. E onde propunha mudar (por exemplo,
desenvolver curvas parablicas), propunha um desenvolvimento coe-
rente de formas j conhecidas e, emtodo caso, esf?ra;~-se por con-
servar a relao histrica, teoricamente no obngat~)[la, entr~ a~-
quitetura e geometria. Apesar do seu esforo .f,ut~nsta, Sant Elia
tambm projetava e observava no futuro algo jaVIStOno passado.
230 CRISE DA ARTE, CRISE DO OBJETO, CRISE DA CIDADE
Nada d~~~is .erra~o do que identificar a funo e o significa-
do de u~ e~I!lclO msend? no contexto urbano. A funo no ou-
torga o_slgmfIca?~,. m?s slmple~mente a razo de ser. Por exemplo,
a estaao ferroviria e, para mim, funcional no momento em que
nela ~ntr~ para tomar o trem, mas est l e no cesso de "experi-
menta-Ia cad~ ~e~que, ~emter de partir ou de chegar, passo dian-
te ~o grande edifcio ou SIrvo-me dele como ponto de referncia pa-
ra Ir a qll:alquer lugar, que est aqum ou alm, perto ou do outro
lado da cidade, E uma espcie de topos privilegiado, que assim per-
rnanece, mesmo se, porventura, a estao no um grande edifcio
mas sImplesmente u: n ponto de chegada e de partida. No est d~
forma alguma excludo que, para constituir este privilgio concor-
ra o pensam~nto da contnua funcionalidde da estao: daquele
chegar e pa.rtlr de ~ente que constitui, incontestavelmente, um ele-
mento?a ~Ida da cidade. Mas no , decerto, este pensamento que
afIora. a mm~a m~nte cada vez que a imagem da estao me serve
para fixar evsualizar um ponto do contexto urbano Seu sig ifi
do t t . I . . m rca-
, .r :
0r
.an o, esta re aC.IOnado ao espao urbano, um ponto de
referncia que me permite estabelecer minha posio no contexto
~~tros ponto~ de refern~ia podem ser a catedral, o mercado, o edi~
fICIOda ~:ef~Itu~a, .a.um~ersidade, o hospital, etc.; e, no mbito
das exp~nenclas mdlvlduals, e com raios mais restritos a farmcia
da esquina, o.po~to do ?nibus, ~casa de um parente.' S recente-
n: er;te ~ ~xpenencla da cidade fOI considerada a partir da experin-
~IamdlVldu~1 e da atribuio pessoal de valor aos dados visuais. O
livro d~~evm Lynch (The Image of the City) destina-se com toda
pr~bablhdade a mudar radicalmente, desde os alicerces, a metodo-
1~~Iados estudos urbansticos e, enquanto isso, a eliminar em defi-
mtivo toda uma sene de abstraes de convenincia como "a socie-
dade" "a com id d " " f .
_ ' . um a e , a uno urbana". Que tambm so abs-
traoes mteressadas, porque levam a considerar a cidade no mais
con:
o
um lugar onde se mora, mas como uma mquina que deve
rea~Izar uma funo, que, naturalmente, sempre uma funo pro-
dutiva, retroceden?o .todas as outras atividades a atividades com-
~Iement~r.es da pnncpal, porque, depois do trabalho na fbrica
enecessan.o o recreio, _dep?is do. trabalho edo recreio preciso um~
casa, possivelmente nao distante da fbrica onde dormi S- .
tame t b ,Ir. ao ]US-
. .~e essas.a straes que corroem em profundidade o conceito
hlstonco.~e ~Idade, porque o afastam da experincia e, portanto,
da c~n.sclencla ..Que se~t~mento da cidade pode ter ou conservar o
oper~n? que ~Ive nas lindas casinhas" da aldeia empresarial ou
nos tetncos bairros populares situados na periferia para evitar o atra-
vessamento "pendular" da cidade? E que se diverte jogando bola
O ESPAO VISUAL DA CIDADE 231
no campo etalvez no time da fbrica; ou que passa a noite no cine-
ma do subrbio ou no clube empresarial? "Ir ao centro" ser, para
ele, uma faanha, como era outrora "ir cidade" para os habitan-
tes do condado; e no mnimo curioso que, cada vez que se fala
em "sociedade" e em "comunidade", se exclua, relegando-os aos
subrbios perifricos, justamente os que, alm de constituir a parte
numericamente maior da populao, so os protagonistas mais di-
retos da chamada "funo urbana".
Seria fcil e extremamente interessante estender cidade o es-
tudo feito por Gaston Bachelard sobre a casa, em especial sobre a
casa da infncia, como "modelo" sobre o qual se constri grande
parte da psicologia individual, ao menos no que diz respeito s idias,
ou antes, s imagens profundas de espao e de tempo. Emergiria
de imediato a infinita variedade dos valores simblicos que os da-
dos visuais do contexto urbano podem assumir em cada indivduo,
dos significados que a cidade assume para cada um de seus habitan-
tes. No saberia dizer se algum estudioso de psicanlise alguma vez
se preocupou em perguntar qual o significado da cidade e, ern ge-
ral, de cidades diferentes das que se conhecem, na atividade onri-
ca. Desse significado eu no poderia, com certeza, dizer nada, mas
deve ser bastante interessante se muitos tm uma cidade prpria,
que freqentam apenas no sonho.
Se, por hiptese absurda, pudssemos levantar e traduzir gra-
ficamente o sentido da cidade resultante da experincia inconscien-
te de cada habitante edepois sobrepusssemos por transparncia to-
dos esses grficos, obteramos. uma imagem muito semelhante de
uma pintura de Jackson Pollock, por volta de 1950: uma espcie
de mapa imenso, formado de linhas e pontos coloridos, um emara-
nhado inextricvel de sinais, de traados aparentemente arbitrrios,
de filamentos tortuosos, embaraados, que mil vezes se cruzam, se
interrompem, recomeam e, depois de estranhas voltas, retomam
ao ponto de onde partiram. Mesmo se nos divertssemos traando
em umvasto mapa topogrfico da cidade os itinerrios percorridos
por todos os seus habitantes e visitantes em um s dia, uma s ho-
ra, distinguindo cada itinerrio com uma cor, obteramos um qua-
dro de Pollock ou de Tobey, s que infinitamente mais complica-
do, com mirades de sinais aparentemente privados de qualquer sig-
nificado. E se, depois, nos empenhssemos em seguir qualquer um
desses percursos individuais e tivssemos condies de compar-lo
com o percurso que aquele indivduo dado deveria ter seguido obe-
decendo aos motivos "racionais" dos seus movimentos (por exem-
plo, ir para o trabalho evoltar para casa), perceberamos com sur-
presa o quanto so diferentes. Enfim, o percurso real tem apenas
232 CRISE DA ARTE, CRISE DO OBJETO, CRISE DA CIDADE
uma leve relao com o que teria sido o pattern do percurso lgico
ou necessrio. Nosso indivduo, afinal, moveu-se na cidade exata-
mente como Stephen Dedalus se movia pelas ruas de Dublin, no fa-
moso 18de junho narrado pelo Ulisses de Joyce: obedecendo a uma
srie de impulsos inconscientes, de hbitos, de desejos descontrola-
dos, mas nem por isso inexistentes ou sem motivo. Se, nos limites
em que as injunes da necessidade lhe permitiam escolher, decidiu
enveredar por uma rua eno por outra para alcanar sua meta, pa-
ra explic-lo podem existir motivos plausveis - por exemplo, en-
trar em determinado bar para tomar um caf ou deter-se diante da
vitrine de determinada loja -, mas podem existir outros absoluta-
mente inconscientes, como o inexplicvel desejo de ver a perspecti-
va da rua X e no a da rua Y, ou, simplesmente, de passar diante
daquele cinema, daquela papelaria, daquela agncia do correio.
Qualquer um de ns que experimente analisar o prprio comporta-
mento na cidade notar facilmente a freqncia destas escolhas ar-
bitrrias eat mesmo involuntrias. Ter, assim, a sensao do que
exatamente significa estar-na-cidade e de que incrvel conjunto de
pequenos mitos, ritos, tabus, complexos positivos e negativos re-
sulta nosso comportamento de habitantes da cidade. No foi por
acaso que utilizei como termos de comparao as pinturas de Pol-
lock ede Tobey, a prosa de Joyce: ningum melhor do que eles sou-
be captara imagem do espao urbano real, levantar o mapa do
espao-cidade e registrar o ritmo do tempo urbano, que cada um
de ns traz dentro de si e que constituem o sedimento inconsciente
das nossas noes de espao e de tempo, ao menos enquanto nos
servem para a existncia-na-cidade, que representa, sem dvida, a
maior parte da nossa vida.
evidente que, se nove dcimos da nossa existncia transcor-
rem na cidade, a cidade a fonte de nove dcimos das imagens sedi-
mentadas em diversos nveis da nossa memria. Essas imagens po-
dem ser visuais ou auditivas e, como todas as imagens, podem ser
mnemnicas, perceptivas, eidticas. Cada um de ns, em seus itine-
rrios urbanos dirios, deixa trabalhar a memria e a imaginao:
anota as mnimas mudanas, a nova pintura de uma fachada, o no-
vo letreiro de uma loja; curioso com as mudanas em andamento,
olhar pelas frestas de um tapume para ver o que esto fazendo do
outro lado; imagina e, portanto, de certa forma projeta, que aquele
velho casebre ser substitudo por um edifcio decente, que aquela
rua demasiado estreita ser alargada, que o trnsito ser mais disci-
plinado ou at mesmo proibido naquele determinado ponto da ci-
dade; lembra-se de como era aquela rua quando, menino, a percor-
ria para ir escola ou quando, mais tarde, por ela passeava com
O ESPAO VISUAL DA CIDADE 233
a namorada ou o famoso incndio, o crime de que falaram todos
os jornais etc. Se retomarmos ereexaminarmos com ateno o qua-
dro de Pollock formado por esses percursos individuais, supondo
agora conhece; suas motivaes profundas, ser-nos-~ f~il obser-
var que, justamente como nos quadros de Pollock, na~ h~nada de
gratuito ou de puramente casual: o emaranhado do~S!nalS, ~bser-
vado atentamente, revelar certa ordem, uma repenao do ntmo,
uma medida de distncias, uma dominante colorista, um espao,
enfim. Como o espao da pintura de Pollock, o espao da cidade
interior tem um ritmo de fundo constante, mas infinitamente va-
riado muda de figura e de tom do dia para a noite, da manh para
a tarde - o espao da rua que percorremos de manh para ir traba-
lhar diferente do espao da mesma rua percorrida tarde, vo~tan-
do para casa, ou do domingo, passeando. E, sobre esse tema ines-
gotvel, poderamos prosseguir at O' infinito. .
Mas como essa interpretao individual do espao urbano po-
de interessar ao urbanismo? Que contribuio poderia dar, no pla-
no dos problemas concretos da organizao do espao ~rbano, uma
estatstica com o mtodo Gallup ou uma sondagem Kinsey sob~e o
comportamento citadino dos homens e das mulheres da nossa ~~o-
ca? o que veremos. Por ora, basta observar q~e n~nhuma anlise
sociolgica pode ser seriamente efetuada, se nao t1v~! P?r base a
anlise psicolgica e que, portanto, o estu~o da experiencia urban~
individual o princpio de qualquer pesquisa sob:e ~s ~odos de ;1-
da urbana de uma sociedade real. Como toda disciplina, t~mbem
o urbanismo deve comear delimitando seu campo de pesquisa, seu
objeto, seus materiais, eesse campo no pode s~r a ci~ad: ideal fei-
ta por uma sociedade ideal composta por indivduos ideais. A t.a~e-
fa do urbanismo no projetar a cidade do futuro, mas ~dmmIs-
trar no interesse comum um patrimnio de valores, econmicos, p~r
certos, pois o terreno um be~ qu~ ~e~e rende; (conquanto nao
possa ser explorado), mas tambem hIstonc~s, este~Icos, m~raIs, co-
letivos eindividuais, devidamente reconhecidos emventanados, o~
sedimentados, latentes no inconsciente. Querendo tentar uma defi-
nio dessa disciplina flutuante entre estti~a. e sociologia, econo-
mia epoltica, higiene etecnologia, eu sugenna a seguinte: o urba-
nismo a cincia da administrao dos valores urbanos.
II
Como se passa da interpretao individual, e em grande parte
inconsciente, interpretao coletiva, consciente, com claras pers-
234 CRISE DA ARTE, CRISE DO OBJETO, CRISE DA CIDADE
pectivas sobre opassado esobre o futuro, do significado edo valor
urbano?
Dissemos que, imaginando representar graficamente a confi-
gurao mental do espao urbano deumindivduo qualquer, tera-
mosumemaranhado desinais no qual, porm, conseguiramos de-
cifrar certos ritmos repetidos, certos traados, certos pontos decon-
vergncia que corresponderiam comcerteza aatribuies devalor.
Esses traados eesses pontos so os elementos dereferncia do es-
pao urbano emnvel individual. Imaginemos, sempre por absur-
do, que tenhamos levantado aconfigurao do espao urbano no
de um s ?abitante, mas de muitos, de todos, e que sobrepomos
essas configuraes por transparncia. Muito provavelmente, no
obteramos uma imagemmais complicada, ou atindecifrvel, mas
uma imagem mais simples elegvel. H lugares mais freqentados
para onde todas aslinhas acabariam convergindo; percursos comuns
aos componentes decertos grupos sociais, outros comuns adiferentes
grupos; locais ou objetos para os quais a atribuio de valor seria
absolutamente concorde, outros para osquais seriacontroversa. Em
uma cidade romana do imprio, veramos todas as linhas passarem
atravs dos foros, das termas, dos circos; emuma cidade comunal,
atravs da catedral, do edifcio pblico, do mercado; emuma capi-
tal barroca, os pontos de convergncia seriam as residncias reais
ea~agncias do governo. Depois defazer essafcil verificao, de-
venamos observar que nenhuma camada independente das prece-
dentes; at o limite do possvel, so utilizadas as estruturas econ-
servados os "pontos de valor" j existentes. Esse esprito de con-
servao no temrazes puramente econmicas: no raro queuma
rua sejainteiramente reconstruda sobre umtraado precedente que
ape~as ret~ficado ou alargado, quando, comamesma despe;a, se
podena abnr umtraado completamente novo emais funcional
evidente que sempre seprocurou conservar ocarter tradicional das
cidades, ainda que apenas atravs da conservao decertos monu-
mentos. Ora, sabemos, porm, que ovalor do carter oresultado
deuma atribuio coletiva eque o carter deuma cidade no algo
que tenha valor para a sociedade emabstrato, mas para cada um
deseus componentes. Sempre seprocurou evitar ou ao menos re-
d~zir apa,ssage!ll deuma dimenso aoutra, deu~ e~pao cuja ~e-
dida nos ehabitual a um espao cuja medida nos desconhecida.
A cidade no sefunda, seforma. As cidades fundadas econstru-
d~s por imposio no tiveram desenvolvimento, no so cidades.
P.Ie~z~um.model.o, um~bjeto demuseu; Braslia umgrande mi-
mste~IO; a cidade industrial de Ledoux, ou, um sculo depois, de
Garnier, uma extenso da fbrica.
O ESPAO VISUAL DA CIDADE 235
O que define, conserva etransmite o carter de uma cidade
o impulso, apresso ou apenas a resistncia que cada um, emsua
esfera "particular", ope destruio decertos fatos que tmpara
elevalor simblico ou mtico, etodos decomum acordo destrui-
o de certos fatos sobre cujo valor simblico h consenso geral.
No se trata apenas de valores sentimentais, embora fosse tolice
exclu-los. Podemos estar sentimentalmente ligados aummonumen-
to, no podemos estar sentimentalmente ligados a certos t~posde
estrutura do espao urbano, como otipo ortogonal ou oradial, Em
alguns casos (especialmente no que diz respeito ao sistema ortogo-
nal, ou emtabuleiro, derivado da cidade castrense romana), houve
a conservao do esquema, coma substituio pura esimples dos
edifcios' na maioria dos casos, porm, esses dois tipos de disposi-
o geomtrica coincidem como grande desenvolvimento do fen-
meno urbano apartir da Renascena. Quando acidade cessadeser
uma "unidade devizinhana", emque todos seconhecem, quando
cessam as razes de defesa interna eas lutas citadinas, que torna-
vam teis as ruas tortuosas; quando a rea urbana se estende e a
atividade profissional do cidado sedesenvolve emtodo o seuper-
metro, ento comea-se a pr ordem nos movimentos urbanos,
procuram-se sistemas distributivos que permitam mover-se por li-
nhas retas, classificam-se as direes de movimento (frente, atrs,
esquerda, direita, irradiao deumcentro). A organizao perspc-
tica, que corresponde exatamente ao desejo depercursos retilneos,
devistas livres, dedistncias claramente mensurveis, no aapli-
cao deprincpios geomtricos configurao urbana; ela o re-
sultado deuma classificao ereduo apoucos tipos dos infinitos
percursos possveis ou desejveis, bemcomo oproduto deuma no-
vaconcepo da existncia que exigeacorrelaoretilnea ou lgi-
cados atos, aobteno do fimpelo caminho mais breve emais cer-
to aeliminao do acaso eda surpresa, apossibilidade devariao
dentr o dos limites de um sistema. ento que a cidade sofre uma
transformao bem mais profunda, embora menos visvel, do que
a que hoje sesugere quando se fala emcidades areas, emvrios
nveis, etc. Ou seja, acidade deixa deser lugar deabrigo, proteo,
refgio etorna-se aparato de comunio; comunicao no sentido
dedeslocamento ederelao, mas tambm no sentido detransmis-
so de determinados contedos urbanos. bvio que, nesse senti-
do constituem-se modelos dos quais no fcil seseparar, porque
prprio do monumento comunicar umcontedo ou umsignifica-
do de valor - por exemplo, a autoridade do Estado ou da lei, a
importncia da memria de um fato ou de uma personalidade da
histria, o sentido mstico ou asctico deuma igreja ou a fora da
236 CRISE DA ARTE, CRISE DO OBJETO, CRISE DA CIDADE
f religiosa, etc. assim que tambm a arquitetura privada setorna
comunicao de valores reais ou atribudos: ela denuncia, no s
com o luxo ou a grandeza, a condio social ou apenas econmica
dos proprietrios, mas tambm com a repetio de smbolos de pres-
tgio tomados de emprstimo aos monumentos-modelos e com sua
prpria situao no contexto urbano.
Considerada em seu conjunto, a fenomenologia da organiza-
o urbana e da prpria construo civil tem, incontestavelmente
muitos pontos em comum com a fenomenologia do vesturio: seja
pel? inevitvel recurso a uma tipologia bastante precisa, seja pela
derivao freqente das formas usuais das rituais ou de prestgio,
seja enfim pela possibilidade de variao dentro do sistema e pela
tendncia de cada um a tomar a iniciativa das variaes. No o
urbanista quem decide a degradao de um bairro ou a mudana
de seu contedo, a expanso da cidade para uma direo em lugar
de para uma outra, a destinao de certas zonas a uma construo
intensiva ou pouco densa. Sabemos perfeitamente que alguns des-
ses fenmenos se produzem como contragolpe de movimentos so-
ciais mais vastos ou so decididos por uma autoridade municipal
ou governamental, que, ao menos teoricamente, deveria ser porta-
dora e expoente de exigncias reais da coletividade citadina. O ur-
banista, nesses processos evolutivos, tem mais uma funo interpre-
tativa do que delberante ou de iniciativa. Sua tarefa, em substn-
cia, parece reduzir-se de "diretor", no sentido de impedir que o
desenvolvimento urbano ocorra de maneira inatural ou, como no
se trata de fatos naturais, mas de aes humanas, de maneira imo-
ral. Sua funo em relao ao organismo urbano semelhante do
mdico em relao ao organismo humano: ningum lhe pede que
crie um tipo humano perfeito e imune a qualquer possibilidade de
doena, mas que cure as doenas e, como higienista, que faa tudo
para que o processo da existncia humana se desenvolva seguindo
seus ciclos naturais, da infncia velhice.
fcil determinar que o desenvolvimento urbano moral quan-
do ocorre no interesse eem proveito de todos os cidados; imoral
quando ocorre no interesse e em proveito de uma classe ou indiv-
duo e em prejuzo dos outros. Ou, ento, o que a mesma coisa,
favorecendo o desenvolvimento exclusivo de uma ou de algumas fun-
es com a paralisao ou a reduo de outras. Convm ficar bem
claro que o desenvolvimento, ou, digamos, a evoluo de uma ci-
dade, no de forma alguma o desenvolvimento de uma funo,
mas de uma situao. Podemos dizer, em poucas palavras, que a
tarefa do urbanista sincronizar os fenmenos urbanos atuais em
relao ao desenvolvimento diacrnico, do passado remoto ao fu-
O ESPAO VISUAL DA CIDADE 237
turo, de uma determinada situao urbana. Como o pintor que pinta
uma perspectiva, o urbanista trabalha em um s plano, que para
o pintor o da tela e para ele o do presente. Neste plano, repre-
senta em grandezas decrescentes, ou com uma seleo cada vez mais
severa (mas, em geral, j realizada pelo tempo), os fatos do antigo
que conservam um significado no plano do presente, embora neces-
sariamente diverso do significado original; e, naturalmente, deter-
mina esse plano de maneira que o espao no parea deter-se e ter-
minar, mas, ao contrrio, continuar em direo ao espectador, a
ponto de incorpor-Io e entreg-l o por fim ao passado, ao fundo.
O que h ou pode haver aqum do plano que forma a superfcie
do quadro, o perspctico no diz: talvez rvores, talvez rochas, ou
um lago, edifcios. Diz-nos apenas que, do mesmo modo que sua
viso perspctica procede com uma grande variedade de formas do
horizonte ao primeiro plano, o espao continua aqum do primeiro
plano com a mesma ou at mesmo com uma maior variedade de
formas e uma.perfeita coerncia de estrutura.
Na qualidade de estudioso e diretor (se o deixassem agir) da
evoluo histrica do organismo urbano ou da cidade, o urbanista
deve ser um profundo conhecedor da estrutura do espao urbano,
no como dimenso unilateralmente funcional, mas como espao
visual. Seu problema, de fato, um problema tipicamente estrutu-
ral, no em sentido esttico e sim no sentido da evoluo ou do de-
senvolvimento de um sistema.
Chegamos, assim, analogia que mais fao questo de subli-
nhar: a analogia indiscutvel, at mesmo surpreendente, entre o fe-
nmeno da formao, da agregao, da estruturao do espao ur-
bano e o da formao, agregao eestruturao da linguagem, ou,
mais exatamente, das diversas lnguas. Analogia a que obviamente
corresponde a que existe entre o lingista (mas no sentido estrutu-
ralista de Saussure) e o urbanista. A configurao humana, enfim,
no seria mais do que o equivalente visual da lngua, e no tenho
nenhuma dificuldade em admitir que os f-atos arquitetnicos esto
para o sistema urbano assim como a palavra est para a lngua.
Como na lngua, tambm na configurao ena evoluo da con-
figurao urbana, a dinmica do sistema tem por base a relao en-
tre signo significante e coisa significada, mas com uma possibilida-
de de movimento que pode levar a uma modificao profunda, seja
de um, seja da outra. Voltando ao caso do Coliseu: conserva um
valor significante (significando justamente Roma), embora tenha per-
dido o significado e a forma significante que tinha na origem. Era
redondo (um orbis) e, j por isso, por suas dimenses es.uacapaci-
dade, evocava a coincidncia dos confins do imprio romano com
238 CRISE DA ARTE, CRISE DO OBJETO, CRISE DA CIDADE
OS confins do mundo; era a sede de jogos que, pela provenincia
das feras edos gladiadores, representavam justamente ovasto mundo
brbaro sobreoqual Roma estendera seudomnio. No entanto, para
ns, oColiseu, como runa, no scontinua asignificar Roma, mas
tambm num sentido muito diferente do antigo e, almdisso, com
toda aprofundidade perspctica da histria deRoma crist, suces-
siva runa de Roma imperial. Quantos fenmenos semelhantes a
este poder-se-iam citar no campo lingstico?
Assim como no existe uma lngua, mas apenas situaes de
lngua (oque Saussure chama detats de langue), tambm no exis-
tem cidades, a no ser como situaes urbanas. No creio que se
possa pr emdiscusso a importncia da histria de Roma; mas,
como cidade, oque realmente Roma? A deAugusto ou adeCons-
tantino? A comovente runa medieval ou acidade renovada deLeo
X? A capital poltica do cristianismo, como queria Sisto V, ou a
capital do reino e, depois, da repblica italiana? Entre todas essas
situaes, no h evidentemente nenhuma correlao, ou melhor,
nenhum desenvolvimento lgico. No podemos certamente dizer que
a Roma de Domiciano evoluiu para a Roma medieval dos Orsini
edos Colonna, nem que a Roma de Gianlorenzo Bernini evoluiu
para a Roma de Sacconi ou de Piacentini. A nica continuidade,
arigor, o nico desenvolvimento histrico dado pela transmisso
decertos significados atravs decertos signos arquitetnicos; mais
exatamente, pelos diversos significados que, nas pocas sucessivas,
foram atribudos aessessignos. No venham dizer que issovalepa-
ra Roma eno, digamos, para certas cidades modernas, por exem-
plo, americanas. Uma cidade pode ter uma histria dedcadas, ou-
tra desculos - ahistria umfato eminentemente urbano, entre
histria ecidade a relao estreitssima, tanto assim que cidade
ecivilizao so palavras que tm a mesma raiz. Mas a histria
animada dialtica, at mesmo luta, depensamentos eatos, no a
acelerao uniforme de uma funo mecnica. Existiram epodem
existir cidades histricas devinte mil almas; existemaldeias indus-
triais de quatro ou cinco milhes de habitantes.
Assim descrito por Saussure o sistema das relaes emuma
situao lingstica dada: "A relao eas diferenas entre termos
lingsticos searticulam entre duas esferas distintas, cada uma das
quais geradora de uma certa ordem de valores; a oposio entre
essas duas ordens faz compreender melhor anatureza decada uma.
Elas correspondem a duas formas de nossa atividade mental, am-
bas indispensveis para a vida da lngua.
"De umlado, no discurso, as palavras estabelecem entre si, em
virtude dasua concatenao, relaes baseadas no carter linear da
OESPAO VISUAL DA CIDADE 239
lngua, que exclui apossibilidade depronunciar dois elementos ~o
mesmo tempo. Elas sealinham, umas depois das outras, na cadela
daspalavras. Deoutro lado, fora do discurso, as palavras que ofe-
recem algo emcomum seassociam na memria, sendo assim for-
mados grupos emcujo mbito reinam relaes bastante diferentes."
Saussure chama as primeiras relaes desintagmticas, as segundas
deassociativas. E estas, esclarece, "fazem parte do tesouro interior
que constitui a lngua emcada um". E prossegue: "A relao sin-
tagmtica in praesentia; baseia-se emdois ou mais termos igual-
mente presentes emuma srieefetiva. Ao contrrio, arelao asso-
ciativa une termos in absentia, emuma srie mnemnica virtual."
"Desse duplo ponto de vista, uma unidade lingstica com-
parvel auma parte determinada deumedifcio, por exemplo, uma
coluna. Esta seacha, de um lado, emdeterminada relao com a
arquitrave que sustenta - essaorganizao das duas unidades igual-
mente presentes no espao faz pensar na relao sintagmtica. De
outro lado, seesta coluna de ordem drica, evoca acomparao
mental comoutras ordens (jnica, corntia, etc.), que so elemen-
tos no presentes no espao - arelao associativa" (DeSaussu-
re Corso di linguistica generale, pp. 149, 150).
, A funo urbana, como achamamos, pode ser facilmente com-
parada comodiscurso, comsuaconcatenao linear; oquechama-
mos deespao visual, o senso espacial da cidade, feito derelaes
associativas econstitui aquele "tesouro interior" queopensamento
da cidade eque nos permite chamar-nos de seus citadinos, da ~es-
ma forma que o "tesouro interior da lngua" edeuma determm~-
da lngua nos permite chamar-nos dehomens ehomens dedetermi-
nado pas.
As duas esferas, tambm no campo urbanstico, so distintas,
mas igualmente necessrias. Uma lngua que funcionasse apenas por
relaes associativas no permitiria fazer umdiscurso coerente; uma
lngua que funcionasse s por relaes sintagmticas seria lgica,
mas deuma extrema pobreza. Assim, umcontexto urbano que fos-
seapenas o conjunto das imagens urbanas de cada indivduo seria
umcaos; umcontexto urbano que fosseapenas omecanismo deuma
funo no teria profundidade histrica, seria indiferenciado, no
comunicaria nada que no possa ser comunicado por frmulas.
A funo, portanto, constitui o acento axiolgico, a direo
dedesenvolvimento, aexpresso da intencionalidade, que devene-
cessariamente acompanhar oplanejamento do espao urbano. Mas
no deve ser uma funo estabelecida de maneira arbitrria, assu-
mida como finalidade exclusiva de qualquer outra atividade; deve
ser a resultante de um sistema de foras. A funo dominante de
240 CRISE DA ARTE, CRISE DO OBJETO, CRISE DA CIDADE
um ncleo urbano deve ser deduzida de umprocesso de anlise: o
urbanista-projetista que, digamos, reconhece que a funo urbana
deMilo essencialmente industrial eafuno deRoma essencial-
mente administrativa epoltica formula umjuzo histrico sobre a
situao urbana de Milo ede Roma. Isso no significa que deva
dequalquer maneira secundar essa funo urbana, tornando-a at
mesmo exclusiva de toda funo colateral. A situao urbana que
seanalisa , semdvida, uma situao histrica, mas no neces-
sariamente uma situao ideal. Poderia por certo surgir aoportuni-
dade deprocurar uma alternativa a uma funo que setivesse ex-
cessivamente desenvolvido emdetrimento das outras e, acima detu-
do, dadialtica defunes que constitui agarantia dahistoricidade
do desenvolvimento deumorganismo urbano. Nesse sentido, pois,
dizemos que aatividade do urbanista umplanejamento intencio-
nado, inseparvel de uma madura experincia histrica e de uma
orientao ideolgica bem definida.
Esseacento axiolgico determinado eorientado dentro deum
horizonte, deumcampo bemdefinido, embora extremamente vas-
to. Esse campo determinado pelo espao ou pela paisagem urba-
na, assim como se configura nos indivduos: com seus pontos de
referncia afetivos ou apenas habituais, seu complicado mas rico
esignificativo conjunto designos esinais, seusmitos, seusritos, seus
complexos, suas relaes associativas, s vezes confiadas apenas
fora evocativa de uma forma, de uma cor; comsua aglomerao
deimagens mnemnicas, perceptivas, eidticas; comseu confuso e
pitoresco contexto. No qual, como j dissemos, ser sempre poss-
vel encontrar o ritmo ou aestrutura dominante, aquela sobre aqual
foi alcanado um acordo tcito e geral, uma atribuio concorde
de valor.
aurbanismo uma disciplinamoderna. apassado praticamente
ignorou a figura e a atividade do urbanista, bem diferente da do
arquiteto decidade. As cidades desenvolveram-se deuma maneira
que chamamos espontnea, mas que, na realidade, era determina-
dapelaevidnciaqueafigurahistrica dacidadetinha naconscincia
individual e coletiva.
perfeitamente compreensvel que a complexidade das situa-
es urbanas atuais, a extenso ea densidade dos aglomerados, a
quantidade das exigncias, tornem necessria afigura do especialis-
ta, do administrador dos valores culturais da cidade. Mas este age
sempre por procurao, emnome esegundo aprofunda, ainda que
nemsempre consciente edeclarada, inteno dacidadania. Suaver-
dadeira tarefa mais deeducador do que detcnico; suaverdadeira
finalidade no criar uma cidade, mas formar umconjunto depes-
O ESPAO VISUAL DA CIDADE 241
soas que tenham o sentimento da cidade. E aessesentimento con-
fuso, fragmentado emmilhares emilhes de indivduos, dar uma
forma emque cada qual possa reconhecer asi mesmo esua expe-
rincia da vida associada.
1971
Vous aimerez peut-être aussi
- Identificação dos 'cacos poéticos urbanos' e sua caracterização como HiperconcretismoD'EverandIdentificação dos 'cacos poéticos urbanos' e sua caracterização como HiperconcretismoPas encore d'évaluation
- AutenticidadeDocument122 pagesAutenticidadeDesirée SuzukiPas encore d'évaluation
- Desejode Cidade PDFDocument10 pagesDesejode Cidade PDFRebeca CunhaPas encore d'évaluation
- BUCCI São Paulo Quadro Imagens para Quatro Operações - DDocument135 pagesBUCCI São Paulo Quadro Imagens para Quatro Operações - DandresauaiaPas encore d'évaluation
- Cidades Antigas Edilícia NovaDocument22 pagesCidades Antigas Edilícia NovaGabriela AmadoPas encore d'évaluation
- Monumentalidade e Cotidiano A Função Pública Da ArquiteturaDocument6 pagesMonumentalidade e Cotidiano A Função Pública Da ArquiteturaluiscamposviolPas encore d'évaluation
- Jeudy H P Jacques P B-Cenarios UrbanosDocument182 pagesJeudy H P Jacques P B-Cenarios UrbanosLaercio Monteiro Jr.Pas encore d'évaluation
- Angelo Doutorado InternetDocument135 pagesAngelo Doutorado InternetEnk te WinkelPas encore d'évaluation
- Arq 109 - Texto - 1 - ArganDocument3 pagesArq 109 - Texto - 1 - ArganGabriella NovaisPas encore d'évaluation
- Corpos e Cenários UrbanosDocument182 pagesCorpos e Cenários UrbanosPaula Gomes CuryPas encore d'évaluation
- ESCOBAR, Arturo. SOBRE O METROFITTING ONTOLÓGICO DAS CIDADESDocument14 pagesESCOBAR, Arturo. SOBRE O METROFITTING ONTOLÓGICO DAS CIDADESCláudio SmalleyPas encore d'évaluation
- Fundamentos Arquiterura e UrbanismoDocument10 pagesFundamentos Arquiterura e UrbanismoDemetrius MendesPas encore d'évaluation
- Pedra e Discurso Cidade Historia e LiterDocument7 pagesPedra e Discurso Cidade Historia e LiterFabioPas encore d'évaluation
- GUTNOV, Alexei. A Cidade Comunista IdealDocument164 pagesGUTNOV, Alexei. A Cidade Comunista IdealClerson Klaumann Junior100% (8)
- A Arquitetura Contra A CidadeDocument10 pagesA Arquitetura Contra A CidadeHenry FarkasPas encore d'évaluation
- 13 - A - TAFURI, M. - Projecto e Utopia - As Aventuras Da RazãoDocument18 pages13 - A - TAFURI, M. - Projecto e Utopia - As Aventuras Da RazãoLiana Perez de Oliveira100% (1)
- Texto Vazio S/ADocument7 pagesTexto Vazio S/AJoao Vitor LimaPas encore d'évaluation
- MEYER 4098-Text de L'article-16805-1-10-20191231Document20 pagesMEYER 4098-Text de L'article-16805-1-10-20191231andresauaiaPas encore d'évaluation
- Ressignificação de Patrimonios Culturais de Acordo Com A Dinamica Urbana e o Espaço ColetivoDocument174 pagesRessignificação de Patrimonios Culturais de Acordo Com A Dinamica Urbana e o Espaço ColetivoIgor MendesPas encore d'évaluation
- Arquitetura e PsicoDocument26 pagesArquitetura e PsicoUltraleve LevePas encore d'évaluation
- A Cultura Na Cidade - Ricardo OhtakeDocument5 pagesA Cultura Na Cidade - Ricardo OhtakeWanessaPas encore d'évaluation
- A Rua e A Sociedade CapsularDocument12 pagesA Rua e A Sociedade CapsularMa BellePas encore d'évaluation
- Ethel Pinheiro - Cultura, Subjetividade e Experiência: Dinâmicas Contemporâneas Na ArquiteturaDocument18 pagesEthel Pinheiro - Cultura, Subjetividade e Experiência: Dinâmicas Contemporâneas Na ArquiteturaAndré MendesPas encore d'évaluation
- A Imagem Da Cidade - Kevin Lynch PDFDocument95 pagesA Imagem Da Cidade - Kevin Lynch PDFMickyReaderPas encore d'évaluation
- Cidade Comunicada Vol3Document13 pagesCidade Comunicada Vol3MaiconGarciaPas encore d'évaluation
- Arquitectura(s) Nómada(s)Document176 pagesArquitectura(s) Nómada(s)Lígia TapiaPas encore d'évaluation
- Pereira SinopsesDocument17 pagesPereira SinopsesCaro CisternaPas encore d'évaluation
- 8642546-Texto Do Artigo-14321-1-10-20160104Document9 pages8642546-Texto Do Artigo-14321-1-10-20160104Sheyla TavaresPas encore d'évaluation
- FT O Prob C PortDocument6 pagesFT O Prob C PortAna AscensãoPas encore d'évaluation
- Alternativas Contemporaneas para PoliticDocument10 pagesAlternativas Contemporaneas para PoliticbrunacordeiroPas encore d'évaluation
- Brigida Campbell PDFDocument144 pagesBrigida Campbell PDFAle AlexisPas encore d'évaluation
- #essayTI T2 Turma2 Arquiteturadepalco DanielbaptistaDocument13 pages#essayTI T2 Turma2 Arquiteturadepalco DanielbaptistaDaniel BaptistaPas encore d'évaluation
- Cidade e UrbanidadeDocument9 pagesCidade e UrbanidadeBinô ZwetschPas encore d'évaluation
- Choay LisboaDocument3 pagesChoay LisboaashemuPas encore d'évaluation
- Artigo-Patrimonializacao Do Caos As Ruinas Da Bahia de Todos Os SantoDocument19 pagesArtigo-Patrimonializacao Do Caos As Ruinas Da Bahia de Todos Os SantoRaquel Beatriz SilvaPas encore d'évaluation
- BARROS, J. A. - Cidade e HistoriaDocument28 pagesBARROS, J. A. - Cidade e HistoriaPollyanna ZalimPas encore d'évaluation
- Acupuntura UrbanaDocument2 pagesAcupuntura UrbanaLeandro Mascarenhas100% (1)
- O Espaço Público, Tópicos Sobre A Sua Mudança - Francesco IndovinaDocument5 pagesO Espaço Público, Tópicos Sobre A Sua Mudança - Francesco IndovinalipebastidaPas encore d'évaluation
- Furtado, Doutor Gonçalo (2012) Take-Away ArchitectureDocument80 pagesFurtado, Doutor Gonçalo (2012) Take-Away ArchitectureCelje1234Pas encore d'évaluation
- Robert VenturiDocument3 pagesRobert VenturiRaphaela Kailla0% (1)
- Preservar Não É Tombar, Renovar Não É Por Tudo AbaixoDocument5 pagesPreservar Não É Tombar, Renovar Não É Por Tudo AbaixoClaudia Nascimento100% (1)
- Disneyficação - Entre Os Cenários e o SilêncioDocument5 pagesDisneyficação - Entre Os Cenários e o SilêncioSilvia Aline RodriguesPas encore d'évaluation
- Cidade e Arquitetura Contemporânea (Uma Relação Necessária)Document7 pagesCidade e Arquitetura Contemporânea (Uma Relação Necessária)Duzils390Pas encore d'évaluation
- Texto 5 - O Que É Arquitetura - Alfonso Muñoz Cosme - Sugestão Leitura Jader MondoDocument4 pagesTexto 5 - O Que É Arquitetura - Alfonso Muñoz Cosme - Sugestão Leitura Jader MondoAmanda Spillere KriegerPas encore d'évaluation
- A Intangível Realidade: Atmosferas, Encontros e Percepções: Betty MirocznikDocument10 pagesA Intangível Realidade: Atmosferas, Encontros e Percepções: Betty MirocznikMayck Mattioli LimaPas encore d'évaluation
- A Cidade - Objeto de Estudo e Experiência Vivenciada PDFDocument18 pagesA Cidade - Objeto de Estudo e Experiência Vivenciada PDFAnonymous b2Ioivy1bYPas encore d'évaluation
- Lefebvre - O Campo CegoDocument11 pagesLefebvre - O Campo CegoGeraldPas encore d'évaluation
- Eloísa Petti Pinheiro - A HISTÓRIA URBANA ATRAVÉS DO DESENHO EDocument9 pagesEloísa Petti Pinheiro - A HISTÓRIA URBANA ATRAVÉS DO DESENHO EPeter GuthriePas encore d'évaluation
- A Sedução Do Lugar PDFDocument9 pagesA Sedução Do Lugar PDFElaine MartinsPas encore d'évaluation
- Projeto de Pesquisa - Maira Rios 2009 - RevisadoDocument12 pagesProjeto de Pesquisa - Maira Rios 2009 - RevisadoPep PonsPas encore d'évaluation
- Diagramas, transposições e espaço: Alternativas para a complexidade urbana contemporâneaD'EverandDiagramas, transposições e espaço: Alternativas para a complexidade urbana contemporâneaPas encore d'évaluation
- Breve história da arquitetura cearenseD'EverandBreve história da arquitetura cearenseÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Direito da estética urbana: a cidade como arte coletivaD'EverandDireito da estética urbana: a cidade como arte coletivaPas encore d'évaluation
- Compreendendo as Cidades: Método em projeto urbanoD'EverandCompreendendo as Cidades: Método em projeto urbanoPas encore d'évaluation
- Ruídos e Corroídos: Ecos de Tesouros PerdidosD'EverandRuídos e Corroídos: Ecos de Tesouros PerdidosPas encore d'évaluation
- Marcos institucionais de poder no campo visual da cidadeD'EverandMarcos institucionais de poder no campo visual da cidadePas encore d'évaluation
- Arquitetura em Transformação: configuração urbana e verticalização residencialD'EverandArquitetura em Transformação: configuração urbana e verticalização residencialPas encore d'évaluation
- Letras Expandidas 2015Document15 pagesLetras Expandidas 2015Antonio Leandro BarrosPas encore d'évaluation
- Arquitetura e EnciclopediaDocument4 pagesArquitetura e EnciclopediaAntonio Leandro BarrosPas encore d'évaluation
- "A Materia Da Obra de Arte" e "Unidade Potencial"Document9 pages"A Materia Da Obra de Arte" e "Unidade Potencial"Antonio Leandro BarrosPas encore d'évaluation
- Fato Estético Imaginação HistóricaDocument7 pagesFato Estético Imaginação HistóricaAntonio Leandro BarrosPas encore d'évaluation
- Da Maçonaria e Seus PrincípiosDocument3 pagesDa Maçonaria e Seus PrincípiosAnonymous mzDoe8Pas encore d'évaluation
- Abdruschin - Na Luz Da Verdade - Mensagem Do Graal - Vol 1 PDFDocument260 pagesAbdruschin - Na Luz Da Verdade - Mensagem Do Graal - Vol 1 PDFDecio Mallmith100% (2)
- O Behaviorismo Radical e As Agências de ControleDocument19 pagesO Behaviorismo Radical e As Agências de ControleglauciamagaPas encore d'évaluation
- Despertar Zen AULA 01 4Document10 pagesDespertar Zen AULA 01 4Arts by Tati MoraesPas encore d'évaluation
- LilithDocument6 pagesLilithJodeon CostaPas encore d'évaluation
- 15vs28rosa, VitorDocument15 pages15vs28rosa, VitorzitowskyPas encore d'évaluation
- Resumo Do livro-WPS OfficeDocument26 pagesResumo Do livro-WPS OfficeA Tall Chatinha MachacaPas encore d'évaluation
- ESTUDO 2 - Os Pobres de EspíritoDocument5 pagesESTUDO 2 - Os Pobres de EspíritoJoãoGermano100% (1)
- Novo Hinário Adventista Tem Repertório Com 600 Hinos - Portal Adventista de Baixo Guandu - ESDocument3 pagesNovo Hinário Adventista Tem Repertório Com 600 Hinos - Portal Adventista de Baixo Guandu - ESSonoplastia IASDBVPas encore d'évaluation
- Blog Luz e Vida - Limpeza Espiritual Dos 21 Dias - Arcanjo MiguelDocument1 pageBlog Luz e Vida - Limpeza Espiritual Dos 21 Dias - Arcanjo MiguelVanderson BrunoPas encore d'évaluation
- Resenha Do Livro "Surpreendido Pelas Escrituras"Document7 pagesResenha Do Livro "Surpreendido Pelas Escrituras"Carolina Granito Do Canto PontePas encore d'évaluation
- Lição IV MEDocument34 pagesLição IV MEVTZAR 3040% (1)
- 29 09 2019-N-Pacto-8 O Pacto e A Membresia Na IgrejaDocument8 pages29 09 2019-N-Pacto-8 O Pacto e A Membresia Na IgrejaEfraim P. M. FilhoPas encore d'évaluation
- 04 - Livros PoéticosDocument62 pages04 - Livros PoéticosPROFESSOR WILIAN GOMESPas encore d'évaluation
- Sintese Do Filme A MissãoDocument3 pagesSintese Do Filme A MissãoCristiane Carla CarneiroPas encore d'évaluation
- A Ética SamuraiDocument7 pagesA Ética SamuraiWoody AcePas encore d'évaluation
- Contabilidade Do Terceiro Setor - Rotinas e ObrigaçõesDocument33 pagesContabilidade Do Terceiro Setor - Rotinas e ObrigaçõesLeandro OliveiraPas encore d'évaluation
- A História Do Rito de York 2Document60 pagesA História Do Rito de York 2Vitor Sousa100% (3)
- 201 Respostas para o Seu Crescimento Espiritual e Intelectual - Abraão de Almeida - CPADDocument20 pages201 Respostas para o Seu Crescimento Espiritual e Intelectual - Abraão de Almeida - CPADHelio Dos Santos SouzaPas encore d'évaluation
- Pregação Drama de AbsalãoDocument2 pagesPregação Drama de AbsalãoPIB RolimPas encore d'évaluation
- PB 062-T PDFDocument2 pagesPB 062-T PDFLuis Ferreira FariasPas encore d'évaluation
- Leitura Orante Da Biblia Livro CompletoDocument596 pagesLeitura Orante Da Biblia Livro CompletoAna SelmaPas encore d'évaluation
- Poemas FúnebresDocument8 pagesPoemas FúnebresFlora SerejoPas encore d'évaluation
- Captura de Tela 2023-02-25 À(s) 23.35.59Document1 pageCaptura de Tela 2023-02-25 À(s) 23.35.59Gabriel Granja MarchioriPas encore d'évaluation
- Sinal de Companheiro e Passo LateralDocument3 pagesSinal de Companheiro e Passo Lateralinfochel67% (6)
- 8.cartas Aos Terapeutas - Versão Final PDFDocument13 pages8.cartas Aos Terapeutas - Versão Final PDFTeisa Rosa100% (3)
- Estudo - Resolvendo Os Conflitos No LarDocument8 pagesEstudo - Resolvendo Os Conflitos No Larpedro santosPas encore d'évaluation
- Hospitalidade e IntercessãoDocument5 pagesHospitalidade e IntercessãoNayane OliveiraPas encore d'évaluation
- Exame de Consciencia para CriancasDocument1 pageExame de Consciencia para Criancasfildu80% (5)
- Um Iniciante Na Viagem Astral - Saulo CalderonDocument70 pagesUm Iniciante Na Viagem Astral - Saulo CalderonKheóps Justo100% (5)