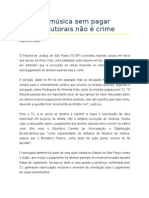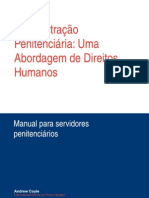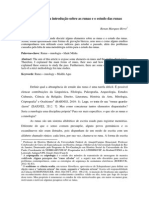Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Gilles Deleuze-A Vida Escrita
Transféré par
mostratudoCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Gilles Deleuze-A Vida Escrita
Transféré par
mostratudoDroits d'auteur :
Formats disponibles
a vida escrita | fuga da arte
Deleuze sobre Perrault
« O que está em questão é a evidência segundo a qual a imagem
cinematográfica é no presente, necessariamente no presente. Se é deste
modo, o tempo não pode ser apresentado senão indirectamente, a partir
da imagem-movimento presente e por intermédio da montagem. Mas
não é a evidência mais falsa, pelo menos sob dois aspectos? Por um
lado, não há presente que não seja obcecado por um passado e por um
futuro, por um passado que não se reduz a um antigo presente, por um
futuro que não consiste num presente por vir. A simples sucessão afecta
os presentes que passam, mas cada presente coexiste com um passado
e um futuro sem os quais ele próprio, não passaria. Pertence ao cinema
apreender esse passado e esse futuro que coexistem na imagem
presente. Filmar o que está antes e o que está depois... Talvez seja
necessário fazer passar ao interior do filme o que está antes do filme, e
depois do filme, para sair da cadeia dos presentes. Por exemplo, as
personagens: Godard diz que é necessário saber o que eram antes de
ser colocadas no quadro, e depois. “o cinema é isso, o presente nunca
existe, excepto nos maus filmes.” É muito difícil porque não basta
eliminar a ficção, em beneficio de uma realidade bruta que nos
apontaria outros mais presentes que passam. É preciso, pelo contrário,
tender para um limite, fazer passar no filme o limite antes do filme e
depois do filme, apreender na personagem o limite que ela própria
atravessa para entrar no filme e para sair, para entrar na ficção como
num presente que não se separa do seu antes e do seu depois (Rouch,
Perrault). Nós veremos que é precisamente a finalidade do cinema-
verdade ou do cinema directo: não atingir um real tal como se ele
existisse independentemente da imagem, mas atingir um antes e um
depois tal como se coexistissem com a imagem, tal como são
inseparáveis da imagem. Seria o sentido do cinema directo, ao ponto
em que é uma componente de qualquer cinema: atingir a apresentação
directa do tempo. [«Recapitulação das imagens e dos signos», pp. 57-
58]
Nós queríamos considerar um aspecto deste novo tipo de ficção, tal
como aparece num domínio diferente. Se se referir às formas que desde
há muito recusavam a ficção, constata-se que o cinema de realidade
reclamava ora fazer ver objectivamente meios, situações e personagens
reais, ora mostrar subjectivamente as maneiras de ver das próprias
personagens, a maneira como elas próprias viam a situação, o meio, os
problemas. Em suma, é o pólo documentário ou etnográfico, e o pólo
inquérito ou reportagem. Estes dois pólos inspiram obras-primas, e
misturam-se de toda a maneira (Flaherty por um lado, Grierson e
Leacock por outro). Mas, ao recusar a ficção, se este cinema descobria
novo caminhos, conservava e sublimava no entanto um ideal de verdade
que dependia da própria ficção cinematográfica: havia o que a câmara
via, o que vê a personagem, o antagonismo possível e a resolução
necessária dos dois. E a própria personagem conservava ou adquiria
uma espécie de identidade enquanto era vista e enquanto via. E o
cineasta-câmara também tinha a sua identidade, como etnólogo ou
como repórter. Era muito importante recusar as ficções pré-
estabelecidas em benefício de uma realidade que o cinema podia
apreender ou descobrir. Mas abandonava-se a ficção em beneficio do
real, conservando um modelo de realidade que supunha a ficção e dela
decorria. O que Nietzsche tinha mostrado: que o ideal do verdadeiro era
a mais profunda ficção, no âmago do real, o cinema não o tinha ainda
encontrado. É na ficção que a veracidade do argumento continuava a
basear-se. Quando se aplica o ideal ou o modelo do verdadeiro ao real,
muda muito as coisas, visto que a câmara se dirige a um real
preexistente, mas, noutro sentido, nada mudava nas condições do
argumento: o objectivo e o subjectivo eram deslocados, não eram
transformados; as identidades definiam-se de outra maneira, mas
ficavam definidas; o argumento mantinha-se veraz, realmente veraz em
vez de ficticiamente veraz. Só que a veracidade do argumento não tinha
cessado de ser uma ficção.
A ruptura não é entre a ficção e a realidade, mas no novo modo de
argumento que afecta ambos. Produziu-se uma mudança por volta dos
anos 60, em pontos muito independentes, no cinema directo de
Cassavetes e de Shirley Clarke, no “cinema da vivência” de Pierre
Perrault, no “cinema-verdade” de Jean Rouch. Por exemplo, quando
Perrault critica toda a ficção é no sentido em que ela forma um modelo
de verdade pré-estabelecido que exprime necessariamente as ideias
dominantes ou o ponto de vista do colonizador, mesmo quando é
forjada pelo autor do filme. A ficção é inseparável de uma “veneração”
que a apresenta como verdadeira, na religião, na sociedade, no cinema,
nos sistemas de imagens. Nunca o dito de Nietzsche, “suprimam as
vossas venerações”, foi tão bem entendido por Perrault. Quando
Perrault se dirige às suas personagens reais do Quebeque, não é só para
eliminar a ficção, mas para libertá-la do modelo de verdade que a
enforma, e encontra pelo contrário a pura e simples função de fabulação
que se opõe a esse modelo. O que se opõe à ficção não é o real, não é a
verdade que é sempre a dos mestres ou dos colonizadores, é a função
fabuladora dos pobres, enquanto ela dá ao falso a potência que o torna
uma memória, uma lenda, um monstro. Como o golfinho branco de Pour
la suite du monde, o caribu de Pays de la terre sans arbre e sobretudo a
fera luminosa, o Dionísio de La Bête lumineuse. O que o cinema tem de
apreender não é a identidade de uma personagem, real ou fictícia,
através dos aspectos objectivos e subjectivos. É o devir da personagem
real quando ela própria se põe a “ficcionar”, quando entra “em flagrante
delito de fazer lenda” e contribui deste modo para a invenção do seu
povo. A personagem não é separável de um antes e de um depois, mas
reúne-os na passagem de um estado para o outro. Toma-se ela própria
uma outra, quando se põe a fabular sem nunca ser fictícia. E o cineasta,
por seu lado, torna-se outro quando “intercede” nas personagens reais
que substituem em bloco as suas próprias ficções pelas suas próprias
fabulações. Ambos comunicam na invenção de um povo. Eu intercedi em
Alexis (Le Règne du jour), e todo o Quebeque, por saber quem eu era,
“de maneira que para me dizer basta dar-lhes a palavra”. E a simulação
de um argumento, a lenda e as suas metamorfoses, o discurso indirecto
livre do Quebeque, um discurso de duas cabeças, de mil cabeças,
“pouco a pouco”. Então o cinema pode chamar-se cinema-verdade,
tanto mais que terá destruído qualquer modelo do verdadeiro para se
tornar criativo, produtor de verdade: não será um cinema da verdade,
mas a verdade do cinema.
Alexis Tremblay em Le règne du jour (1967)
Se a alternativa real-ficção é tão completamente ultrapassada, é porque
a câmara, em vez de talhar um presente, fictício ou real, liga
constantemente a personagem ao antes e ao depois que constituem
uma imagem-tempo directa. É necessário que a personagem seja
primeiro real para que afirme a ficção como uma potência e não como
um modelo: é necessário que se ponha a fabular para se afirmar tanto
mais como real, e não como fictícia. A personagem não cessa de tornar-
se outra, e não é separável deste devir que se confunde com um povo.
Mas o que é que dizemos da personagem que vale em segundo lugar, e
eminentemente, para o próprio cineasta. Ele também se torna outro, no
momento em que toma personagens reais como intercessores, e
substitui as ficções pelas próprias fabulações, mas, inversamente,
atribui a essas fabulações a figura de lendas, produz a “legendificação”.
Rouch faz o seu discurso indirecto livre, ao mesmo tempo que as
personagens fazem o de África. Perrault faz o seu discurso indirecto
livre, ao mesmo tempo que as personagens fazem o do Quebeque. E,
sem dúvida, há uma grande diferença de situação entre Perrault e
Rouch, diferença que não é somente pessoal mas cinematográfica e
formal. Para Perrault, trata-se de pertencer ao seu povo dominado, e de
encontrar uma identidade colectiva perdida, reprimida. Para Rouch,
trata-se de sair da sua civilização dominante, e de atingir as premissas
de uma outra identidade. Donde a possibilidade de malentendidos entre
os dois autores. No entanto, ambos como cineastas partem com o
mesmo material ligeiro, câmara ao ombro e magnetofone síncrono; eles
têm de se tornar outros, com as suas personagens, ao mesmo tempo
que as personagens têm de devir elas próprias outras. [«As potências
do falso», 194-196, 197-198]
Em suma, se havia um cinema político moderno, seria na base: o povo
já não existe, ou ainda não... falta o povo.
Esta verdade valia, sem dúvida, também para o Ocidente, mas raros
eram os autores que a descobriam, porque estava escondida pelos
mecanismos de poder e os sistemas de maioria. Em contrapartida,
estalava no terceiro mundo, onde as nações oprimidas, exploradas,
ficavam no estado de perpétuas minorias, em crise de identidade
colectiva. Terceiro-mundo e minorias faziam nascer autores que
estariam em estado de dizer, em relação à sua nação e à sua situação
pessoal nesta nação: o povo é o que falta. Kafka e Klee tinham sido os
primeiros a declará-lo explicitamente. Um dizia que as literaturas
menores, “nas pequenas nações”, tinham de suprir uma “consciência
nacional muitas vezes inactiva e sempre em vias de desagregação”, e
substituir tarefas colectivas na ausência de um povo; o outro dizia que a
pintura, por reunir todas as partes da sua “grande obra”, tinha
necessidade de uma “última força, o povo que fazia ainda falta'. Com
mais forte razão para o cinema como arte de massa, Ora o cineasta do
terceiro mundo se encontra diante de um público frequentemente
analfabeto, alimentado por séries americanas, egípcias ou indianas,
filmes de karaté, e é por aí que é necessário passar, é esta matéria que
é necessário trabalhar, para lhe extrair os elementos de um povo que
ainda falta (Lino Brocka). Ora o cineasta de minoria encontra-se no
impasse descrito por Kafka: impossibilitado de não “escrever”,
impossibilitado de escrever na língua dominante, impossibilitado de
escrever de maneira diferente (Pierre Perrault encontra esta situação em
Un pays sans bon sens, impossibilitado de não falar, impossibilitado de
falar de modo diferente senão em inglês, impossibilitado de falar inglês,
impossibilitado de se instalar em França para falar francês ... ), e é por
este estado de crise que é necessário passar, é isto que é necessário
resolver. Esta constatação de um povo que falta não é uma nova base
sobre a qual se baseie, desde logo, no terceiro mundo e nas minorias. É
necessário que a arte, particularmente a arte cinematográfica, participe
nesta tarefa: não se dirigir a um povo suposto, já lá, mas contribuir
para a invenção de um povo. No momento em que o mestre, o
colonizador proclamam “nunca houve povo aqui”, o povo que falta é um
devir, inventa-se, nos bairros de lata e nos campos, ou então nos
guetos, nas novas condições de luta a que uma arte necessariamente
política tem de contribuir.
A tomada de consciência é desqualificada, ou porque é feita em vão
como no intelectual, ou porque é comprimida num vazio como em
António das Mortes, apta apenas para apreender a justaposição das
duas violências e a continuação da uma pela outra.
O que é que resta, então? O maior cinema de “agitação” que se tenha
feito alguma vez: a agitação já não decorre de uma tomada de
consciência, mas consiste a tudo colocar em transe, o povo e os
patrões, a própria câmara, conduzir tudo à aberração, para fazer
comunicar as violências como fazer passar o assunto privado para o
político, e a questão política para o privado (Terra em Transe). (...)
Extrair do mito um actual vivido que designe ao mesmo tempo a
impossibilidade de viver pode ser feito de várias maneiras, mas não
deixa de constituir o novo objecto do cinema político: pôr em transe,
colocar em crise. Em Pierre Perrault, trata-se exactamente do estado de
crise e não de transe. Trata-se de pesquisas obstinadas em vez de
pulsões brutais. No entanto, a pesquisa aberrante dos antepassados
franceses (Le Règne du jour, Un pays sans bon sens, Cétait un
Québécois en Bretagne) verifica por sua vez, sob o mito das origens, a
ausência de fronteira entre o privado e o político, mas também a
impossibilidade de viver nestas condições, para o colonizado que colide
com um impasse em todas as direcções. Tudo se passa como se o
cinema político moderno já não se constituísse sobre uma possibilidade
de evolução e de revolução, como o cinema clássico, mas sobre
impossibilidades, à maneira de Kafka: o intolerável.
É deste modo que se vê (...) Perrault denunciar toda a ficção que um
autor poderia criar. Resta ao autor a possibilidade de se atribuir
“intercessores”, isto é, de tornar personagens reais e não fictícias, mas
ao colocá-las elas próprias em estado de “ficcionar”, de “fazer lenda”, de
“fabular”. O autor dá um passo na direcção das suas personagens, mas
as personagens dão um passo na direcção do autor: duplo devir. A
fabulação não é um mito impessoal, mas também não é uma ficção
pessoal: é uma palavra em acto, um acto de palavra pelo qual a
personagem não pára de ultrapassar a fronteira que separa a sua
questão privada da política e produz ela própria enunciados colectivos.
(...)
É Perrault, no outro extremo da América que se dirige as personagens
reais, os seus “intercessores”, para prevenir toda a ficção, mas também
para conduzir a critica do mito. Procedendo pela colocação em crise,
Perrault vai libertar o acto fabulador da palavra, ora gerador de acção (a
reinvenção da pesca ao marsuíno em Pour la suite du monde), ora
tomando-se ele próprio como objecto (o inquérito aos antepassados em
Le Régne du jour), ora suscitando uma simulação criativa (a caça ao
orignal em La Bête lumineuse), mas sempre de tal maneira que a
fabulação seja ela própria memória, e a memória, invenção de um povo.
Talvez tudo culmine com Le Pays de la terre sans arbres que reúne
todos os meios, ou, pelo contrário, com Un pays sans bon sens, que os
rarefaz (porque, aqui, a personagem real goza do máximo de solidão, e
já nem sequer pertence ao Quebeque, mas a uma minúscula minoria
francesa em pais inglês, e salta do Winnipeg para Paris, para melhor
inventar a sua pertença quebequesa, e produzir um enunciado
colectivo). Não o mito de um povo passado, mas a fabulação do povo
por vir. É necessário que o acto de palavra se crie como uma língua
estrangeira numa língua dominante, precisamente para exprimir uma
impossibilidade de viver sob a dominação. É a personagem real que sai
do seu estado privado, ao mesmo tempo que o autor do seu estado
abstracto, para formar a dois, a vários, os enunciados do Quebeque,
sobre o Quebeque, sobre a América, sobre a Bretanha e Paris (discurso
indirecto livre). [«Cinema, corpo e cérebro, pensamento», 277-279,
280-281, 284-285]
Le pays de la terre sans arbre ou le Mouchouânipi (1980)
Se é verdade que o cinema moderno implica a ruína do esquema
sensorial motor, o acto de palavra já não se insere no encadeamento
das acções e reacções e já não revela uma trama de interacções. Curva-
se sobre si mesmo, já não é uma dependência ou uma pertença da
imagem visual, torna-se inteiramente uma imagem sonora, toma uma
autonomia cinematográfica e o cinema devém verdadeiramente
audiovisual. E é isto que faz a unidade de todas as novas formas do acto
de palavra quando passa para este regime do indirecto-livre: este acto
pelo qual o sonoro se torna finalmente autónomo. já não se trata de
acção-reacção, nem de interacção, nem mesmo de reflexão. O acto de
palavra mudou de estatuto. Se nos referirmos ao cinema “directo”,
encontramos completamente este novo estatuto que dá à palavra o
valor de uma indirecta livre: é a fabulação. O acto de palavra torna-se
acto de fabulação, em Rouch ou em Perrault, o que Perrault chama “o
flagrante delito de fazer lenda”, e que toma o alcance político de
constituição de um povo (é somente por aí que se pode definir um
cinema apresentado como directo ou vivido).
Perrault, em Un royaume vous attend, mostra os tractores lentos que
carregam desde a aurora as casas pré-fabricadas para tornarem vazia a
paisagem: trouxeram os homens para aqui, hoje vão retirá-los. Le Pays
de la terre sans arbre é uma obra-prima em que se justapõem as
imagens geográficas, cartográficas, arqueológicas, sobre o percurso que
se tornou abstracto do caribu quase desaparecido. [«As componentes da
imagem», 310, 312]
Le pays de la terre sans arbre ou le Mouchouânipi (1980)
(...) porque o falso deixa de ser uma simples aparência, ou mesmo uma
mentira, para alcançar esta potência do devir que constitui as séries ou
os graus que ultrapassa os limites, opera metamorfoses e desenvolve
sobre todo o seu percurso um acto de lenda, de fabulação. Para além do
verdadeiro e do falso, o devir como potência do falso. (...) várias figuras
nesta potência do falso. (...) Ora é uma personagem que ultrapassa ela
mesmo o limite e que devém uma outra, sob um acto de fabulação que
o relaciona com um povo passado ou por vir: vimos por que paradoxo
este cinema se chamava “cinema-verdade” no momento em que punha
em questão qualquer modelo do verdadeiro; e há um duplo devir
sobreposto, porque o autor devém outro como a sua personagem (por
exemplo, em Perrault que toma a personagem como “intercessora”...)
. [«Conclusões», 351] »
Gilles Deleuze, A imagem-tempo – Cinema 2, trad. Rafael Godinho,
Assírio & Alvim, Lisboa, 2005
Vous aimerez peut-être aussi
- Advogados Question Am Lei Do Direito Autoral No Digital Age - Andrea LombardiDocument2 pagesAdvogados Question Am Lei Do Direito Autoral No Digital Age - Andrea LombardimostratudoPas encore d'évaluation
- Frequência - Cine PotyDocument3 pagesFrequência - Cine PotymostratudoPas encore d'évaluation
- Jornada Nacional de CineclubesDocument5 pagesJornada Nacional de CineclubesmostratudoPas encore d'évaluation
- Nova LeiDocument2 pagesNova LeimostratudoPas encore d'évaluation
- Autorização de Exibição - OKDocument1 pageAutorização de Exibição - OKmostratudoPas encore d'évaluation
- Direito Autoral - Sheila Rezende - MinCDocument2 pagesDireito Autoral - Sheila Rezende - MinCmostratudoPas encore d'évaluation
- Rádio Comunitária É Isenta de Pagar Direitos AutoraisDocument1 pageRádio Comunitária É Isenta de Pagar Direitos AutoraismostratudoPas encore d'évaluation
- Direito Autoral - Entendendo o Conflito - Álvaro SantiDocument3 pagesDireito Autoral - Entendendo o Conflito - Álvaro SantimostratudoPas encore d'évaluation
- Direito Autoral - Ministro JucaDocument3 pagesDireito Autoral - Ministro JucamostratudoPas encore d'évaluation
- Reforma Da LDA - Ismália Afonso - MinCDocument2 pagesReforma Da LDA - Ismália Afonso - MinCmostratudoPas encore d'évaluation
- Ecad Perde Direitos Autorais Ao Não Indicar Composições Executadas em BaileDocument1 pageEcad Perde Direitos Autorais Ao Não Indicar Composições Executadas em BailemostratudoPas encore d'évaluation
- Vertov NosDocument4 pagesVertov NosmostratudoPas encore d'évaluation
- TJ - Tocar Músicas Sem Pagar Direitos Autorais Não É CrimeDocument1 pageTJ - Tocar Músicas Sem Pagar Direitos Autorais Não É CrimemostratudoPas encore d'évaluation
- SDE Abre Investigação Contra Ecad Por Formação de Cartel - Mariana MazzaDocument3 pagesSDE Abre Investigação Contra Ecad Por Formação de Cartel - Mariana MazzamostratudoPas encore d'évaluation
- Direitos Autorais - Carlos GerbaseDocument6 pagesDireitos Autorais - Carlos GerbasemostratudoPas encore d'évaluation
- Congresso UFSC - Guilherme Rosa VarellaDocument51 pagesCongresso UFSC - Guilherme Rosa VarellamostratudoPas encore d'évaluation
- Manuelapenafria PontovistadocDocument9 pagesManuelapenafria PontovistadocmostratudoPas encore d'évaluation
- Vertov KinoksDocument9 pagesVertov KinoksmostratudoPas encore d'évaluation
- MichelFocault-De Outros Espaços-FocaultDocument6 pagesMichelFocault-De Outros Espaços-FocaultmostratudoPas encore d'évaluation
- JoaoMoreira-O Homem Que Não EnsinaDocument4 pagesJoaoMoreira-O Homem Que Não EnsinamostratudoPas encore d'évaluation
- Ficha de Cadastro - Mostra Cá Que Eu Mostro Lá - OKDocument2 pagesFicha de Cadastro - Mostra Cá Que Eu Mostro Lá - OKmostratudoPas encore d'évaluation
- Ranciere-SERÁ QUE A ARTE RESISTE ADocument14 pagesRanciere-SERÁ QUE A ARTE RESISTE AmostratudoPas encore d'évaluation
- Colleyn 54 Anos Sem Tripe Jean RouchDocument10 pagesColleyn 54 Anos Sem Tripe Jean RouchMaria José BarrosPas encore d'évaluation
- Igualdade Dissensual-Cezar MigliorinDocument24 pagesIgualdade Dissensual-Cezar Migliorinmostratudo100% (1)
- O QUE É CONTEMPORÂNEO - Giorgio AgambenDocument10 pagesO QUE É CONTEMPORÂNEO - Giorgio AgambenCamela Maria Von ChopsPas encore d'évaluation
- DELEUZE Post-Scriptum Soc ControleDocument8 pagesDELEUZE Post-Scriptum Soc Controleapi-3752048Pas encore d'évaluation
- Gilles Deleuze - O Ato de CriaçãoDocument15 pagesGilles Deleuze - O Ato de Criaçãomostratudo100% (2)
- Debate - Cinema DocumentárioDocument14 pagesDebate - Cinema DocumentáriomostratudoPas encore d'évaluation
- O que é o DocumentárioDocument11 pagesO que é o Documentáriopedrobranco88Pas encore d'évaluation
- Trabalho IIDocument9 pagesTrabalho IIMariaPas encore d'évaluation
- Trabalho PolíticaDocument5 pagesTrabalho PolíticaJosias MacedoPas encore d'évaluation
- Identidade de Gênero em Subversão: Niketche, de Paulina ChizianeDocument14 pagesIdentidade de Gênero em Subversão: Niketche, de Paulina ChizianeMaiane Pires TigrePas encore d'évaluation
- Manual para Servidores PenitenciariosDocument187 pagesManual para Servidores PenitenciariosAmafavv AmafavvPas encore d'évaluation
- Construção da história nacional e cultura política republicana no Brasil e PortugalDocument3 pagesConstrução da história nacional e cultura política republicana no Brasil e PortugalNana GalPas encore d'évaluation
- Reflexão de Sistema de Segurança SocialDocument2 pagesReflexão de Sistema de Segurança SocialAmérico MonizPas encore d'évaluation
- Desigualdade social e preconceito racialDocument1 pageDesigualdade social e preconceito racialStudio Alpha.Pas encore d'évaluation
- A VIDA SECRETA de FIDEL - Juan Reinaldo SanchezDocument162 pagesA VIDA SECRETA de FIDEL - Juan Reinaldo Sanchezssamsao33% (3)
- O Batuque do RSDocument16 pagesO Batuque do RSAlisson Ruan100% (4)
- Convocação Processo Seletivo Cariacica ESDocument45 pagesConvocação Processo Seletivo Cariacica ESRONDISONPas encore d'évaluation
- Proteção de marcas e elementos de comércio de indústria têxtilDocument2 pagesProteção de marcas e elementos de comércio de indústria têxtilcantalupojogosPas encore d'évaluation
- Manual Sinalizacao Outubro 2021Document83 pagesManual Sinalizacao Outubro 2021rafael ferreiraPas encore d'évaluation
- Ipece Informe 64 12 Setembro 2013Document32 pagesIpece Informe 64 12 Setembro 2013Cláudio SmalleyPas encore d'évaluation
- Uma Brevíssima Introdução Sobre As Runas e o Estudo Das RunasDocument14 pagesUma Brevíssima Introdução Sobre As Runas e o Estudo Das RunasAndré HermennPas encore d'évaluation
- João Pedro Schmidt, Eliane Fontana e Isabel Grunevald - Políticas Públicas Cooperação e ComunidadesDocument188 pagesJoão Pedro Schmidt, Eliane Fontana e Isabel Grunevald - Políticas Públicas Cooperação e ComunidadesLuís Antonio ZanottaPas encore d'évaluation
- Instituições determinam riqueza de nações segundo Prêmio NobelDocument5 pagesInstituições determinam riqueza de nações segundo Prêmio NobeledgleirodriguesPas encore d'évaluation
- 1 Finding His Mark - Stealth Ops - Brittney SahinDocument320 pages1 Finding His Mark - Stealth Ops - Brittney SahinMaxmílian Costa100% (1)
- Famílias Poliafetivas - O Reconhecimento Da Realidade Social No Plano JurídicoDocument77 pagesFamílias Poliafetivas - O Reconhecimento Da Realidade Social No Plano JurídicoshinewellPas encore d'évaluation
- As Políticas Assistencialistas Do Brasil e Suas Lideranças RetrocessasDocument1 pageAs Políticas Assistencialistas Do Brasil e Suas Lideranças RetrocessasMatheus Oliveira BritoPas encore d'évaluation
- Modulo 9.1-1.1 - O Fim Do Sist Int Guerra Fria e A Persistência Da Dicotomia Norte-Sul - Colapso Do Bloco SoviéticoDocument8 pagesModulo 9.1-1.1 - O Fim Do Sist Int Guerra Fria e A Persistência Da Dicotomia Norte-Sul - Colapso Do Bloco Soviéticormr155Pas encore d'évaluation
- SS Norte Americano PDFDocument12 pagesSS Norte Americano PDFSrs SchaeferPas encore d'évaluation
- 1 SM PDFDocument11 pages1 SM PDFIrene TavaresPas encore d'évaluation
- História Da Civilização Ocidental v. II, Edward BurnsDocument27 pagesHistória Da Civilização Ocidental v. II, Edward BurnsRafaela Oliveira100% (1)
- Análise funcional do direito ao nome à luz do artigo 55 da Lei de Registros PúblicosDocument27 pagesAnálise funcional do direito ao nome à luz do artigo 55 da Lei de Registros PúblicosCaio FagundesPas encore d'évaluation
- Modelo de Contrato de Cessão de Quotas de Sociedade LimitadaDocument3 pagesModelo de Contrato de Cessão de Quotas de Sociedade LimitadaJanaina CastroPas encore d'évaluation
- Diário Oficial do Estado da Paraíba publica atos do governoDocument72 pagesDiário Oficial do Estado da Paraíba publica atos do governoJunior HenriquePas encore d'évaluation
- Movimentos femininos da primeira à terceira ondaDocument10 pagesMovimentos femininos da primeira à terceira ondaTereza OnäPas encore d'évaluation
- Temas RedaçãoDocument6 pagesTemas RedaçãoFillipe SoaresPas encore d'évaluation
- Anuario 2009Document272 pagesAnuario 2009Pedro LarrubiaPas encore d'évaluation
- Historia Da ADEFSDocument197 pagesHistoria Da ADEFSElber Marley100% (1)