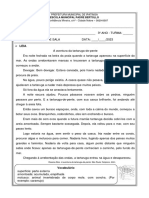Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
VEYNE, Paul. Condutas Sem Crença e Obras de Arte Sem Espectador PDF
Transféré par
César Jeansen BritoTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
VEYNE, Paul. Condutas Sem Crença e Obras de Arte Sem Espectador PDF
Transféré par
César Jeansen BritoDroits d'auteur :
Formats disponibles
Condutas sem crena e obras de arte sem espectador*
Paul Veyne
Collge de France
A realidade, segundo dizem, mais forte do que todas as descries que dela podemos fazer. E
preciso admitir que a atrocidade, quando vivida, ultrapassa todas as ideias que dela podemos ter. En-
tretanto, quando se trata de valores e de crenas, acontece o contrrio: a realidade muito inferior s
representaes que fornece de si mesma e aos ideais que professa. Chama-se mediocridade cotidiana
essa perda de energia. Madame Bovary costumava crer que em Npoles a felicidade era to fortemente
enraizada quanto os laranjais, e que tinha a densidade de uma pedra. A sabedoria das naes, por sua
vez, diz que no nada disso. O paraso desejado, porm o mais tarde possvel, afirma um provr-
bio cristo. Essa cotidianidade impe um problema, ou toda uma srie de problemas (a obra de Georg
Simmel poderia ser considerada desse ngulo), a no ser que ela seja feita de todos os nossos erros,
espontneos ou cientficos, sobre o homem e a sociedade. No sei onde li (ou talvez tenha sonhado) a
histria de um jovem etngrafo que partiu para estudar uma tribo que, segundo se dizia, acreditava
que o mundo sucumbiria se os sacerdotes deixassem que o fogo sagrado se extinguisse. O etngrafo
supunha que esses sacerdotes se sentissem muito ansiosos, como se tivessem nas mos o detonador de
uma bomba atmica. Autorizado a dar uma olhadela no templo do fogo, observou alguns eclesisticos
tranquilos que cumpriam uma tarefa de rotina. A realidade raramente enftica. Diz-se que os ritos e
os costumes, por exemplo, traduzem as crenas de uma sociedade; as imagens pintadas ou esculpidas
fazem ver aquilo que uma sociedade cr ou servem para fazer crer o que essa sociedade v; as esculturas
das catedrais eram a bblia dos iletrados. certo? Constata-se que, na maioria das vezes, as pessoas
participam dos ritos sem acreditar em suas significaes e, em todo caso, sem se interessar por elas1,
porque a liturgia no um meio de comunicao que veicula informaes. Constata-se tambm que as
pessoas no olham para as imagens (quantos parisienses olharam para os baixos-relevos napolenicos
da coluna Vendme?) e que, se tentaram faz-lo, no souberam decifrar a sua iconografia, nem mesmo
v-las: localizadas muito alto, no topo dos edifcios, as imagens so quase sempre indecifrveis. Seria
preciso, ento, esboar uma sociologia da arte em que a obra de arte, longe de veicular uma iconografia
e uma ideologia, fosse um cenrio para o qual nem mesmo se olhasse, que mal se visse, e que, contudo,
*
Conduites sans croyances et oeuvres dart sans spectateurs. Diogne, n. 143, jul./set. 1988, p. 3-22. Esta traduo foi feita
pelo Ateli de tradues do Laboratrio de pesquisa em histria das prticas letradas (PEHL), coordenado por Andrea
Daher, com a participao de Clara Carvalho, Gabriel Vertulli, Gabriela Theophilo, Henrique Gusmo, Karla de Aquino,
Isabelle Weber, Iuri Bauler, Monique Ferreira, Raquel Campos e Renata Rufino; a reviso tcnica e a edio final do texto
so da coordenadora.
1
BATESON, G. Naven. A Survey of the Problems suggested by a Composite Picture of the Culture of a New Guinea Tribe drawn
from Three Points of View. Stanford: Stanford University Press, 1936 (traduo francesa: La crmonie du Naven. Paris:
ditions de Minuit, 1971). Captulo IX: s vezes ignora-se quase que por completo a significao ritual das cerimnias,
e a nfase recai exclusivamente sobre sua funo como meio de celebrar algo. Dessa forma, no dia em que se celebrava
uma cerimnia relativa fertilidade e prosperidade, e quando um novo piso havia sido instalado na casa cerimonial, a
maioria de meus informantes me disse celebrar essa cerimnia por causa do novo piso. Raros eram os homens que tinham
conscincia plena do significado ritual da cerimnia, ou tinham por ele algum interesse; e mesmo estes interessavam-se no
tanto pelos efeitos mgicos da cerimnia, mas sim pelas suas origens totmicas, o que altamente importante para os cls
cujo orgulho nobilirio repousa largamente sobre o carter particular de sua genealogia totmica.
Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 175-188. 175
Condutas sem crena e obras de arte sem espectador
Paul Veyne
fosse muito importante. O estudo de todas as mediocridades seria um vasto programa. Limitemo-nos
aqui mediocridade da arte.
Em Roma, no muito longe do antigo Frum, eleva-se a trinta metros de altura a coluna de
Trajano, cujo eixo envolvido, numa espiral de 23 voltas, por um friso esculpido em que 184 cenas
e milhares de figuras contam, como numa histria em quadrinhos, a conquista de Dcia por Tra-
jano. exceo das duas primeiras espirais, esses relevos so indiscernveis para os espectadores. Os
arquelogos os estudam atravs de binculos. Alm do mais, ningum teria vontade de pormenorizar
essa profuso de elementos repetitivos, nem poderia seguir esse relatrio de campanhas militares
pontuadas pela conquista de aldeias brbaras2, cujo nome e posio num mapa eram totalmente
desconhecidos. Os historiadores creem conseguir explicar a coluna de Trajano dizendo se tratar de
uma obra de propaganda imperial, o que mostra o quanto uma racionalidade um tanto limitada,
que no sabe nem mesmo distinguir expresso e informao, tem prestgio, ainda hoje, ao dizer algo
sociedade ou ao enunciar o que esse algo supostamente traz sociedade. Pode-se, contudo,
duvidar que os romanos do tempo de Trajano tenham olhado muito mais para esses relevos, mate-
rialmente no visveis, do que os romanos de hoje, e duvidar tambm que tenham se lanado num
espetculo, em que acabam por desrespeitar suas prprias conscincias, dando 23 voltas em torno da
coluna, com o nariz para cima. A coluna no informa os humanos, ela os faz apenas ver que proclama
a grandeza de Trajano, diante do tempo e do cu. Da mesma forma, no topo do rochedo de Bisu-
tin, Dario, o Grande, mandou gravar uma grande inscrio trilngue glria de seu reinado. Essa
inscrio no foi feita para ser lida: foi colocada no topo de um penhasco e somente as guias ou os
alpinistas pendurados por cordas teriam podido l-la.
A coluna exprime a glria de Trajano, da mesma forma que o cu (que intil detalhar estrela por
estrela) exprime a glria de Iahweh. Em ambos os casos, preciso haver estrelas e cenas esculpidas em
demasia: a expresso de uma superioridade s indubitvel se for transbordante. Para explicar a coluna,
a histria da arte no deveria se contentar em estudar o detalhe da composio das diferentes cenas, sua
iconografia, o relato contnuo, a perspectiva em voo de pssaro, as relaes com o realismo idealizado
dos frisos helensticos etc. Deveria constatar, sobretudo, que a coluna , essencialmente, um duplo re-
corde quantitativo, pelo nmero de metros quadrados de baixos-relevos e pela altura da construo. A
coluna um tipo de arquitetura de obelisco, to apreciada em Roma quanto em Londres ou em Paris,
no sculo XIX. Ela era to alta quanto os edifcios mais elevados de Roma. O Coliseu, bem verdade,
tem 48 metros, ou seja, dez a mais. Mas, entre os obeliscos, ele como o cipreste em relao s outras
rvores que crescem em largura: o trao retilneo do cipreste, fino como uma vela, d mais impresso de
verticalidade e de altitude que as outras rvores. Quanto ao friso esculpido, seu papel meramente de-
corativo, embora seja figurado e narrativo. O melhor uso que se pode fazer de construes desse gnero
no a descrio em detalhe de sua decorao, mas subir nelas. A iconologia, segundo Panofsky, tem
aqui pouca utilidade. Em Paris, a coluna Vendme e a coluna de Julho fazem parte de um mesmo tipo
de arquitetura de vertigem. No sculo XIX, a visita e a escalada dessas duas construes eram atividades
de programas tursticos e de casamentos populares (assim como em Lassommoir, de Zola). Se estivesses
no topo da coluna Vendme, ousarias lanar-te pelos ares?, diz um heri de La peau de chagrin. No
sabemos se a escada interior da coluna de Trajano era acessvel ao povo romano, mas no importa: a
coluna exprime a grandeza vertiginosa do imperador.
2
No plano geogrfico dos frisos da coluna, ver BOBU-FLORESCU, F. Die Trajansulle. Bucarest: Akademie-Verlag,
1969. p. 52-56; GAUER, Werner. Untersuchungen zur Trajanssule. Darstellungsprogramm und knstlerischer Entwurf.
Berlin: Mann, 1977. p. 14, que afirma que as imagens dessas aldeias no so representaes fiis ou pitorescas, mas imagens
convencionais.
Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 175-188. 176
Condutas sem crena e obras de arte sem espectador
Paul Veyne
Um preconceito escreveu Robert Klein3 nos faz crer que a causa de uma obra de arte esti-
vesse naquilo que ela tinha a dizer; da o sucesso da iconologia. O momento da recepo da obra pelos
espectadores foi apenas recentemente levado em considerao. Pouqussimos arquelogos pensaram em
se interrogar sobre o curioso problema da no visibilidade dos baixos-relevos da coluna de Trajano, e
aqueles que o fizeram4 manifestaram algum embarao. Lehmann-Hartleben constata o fato e o atribui
m coordenao entre o mestre da obra e o chefe da equipe de escultores. Richard Brilliant v a um
fracasso artstico, mas reconhece, por outro lado, que o importante era que o espectador grasped all
at once wherever the view stood . Bianchi Bandinelli v uma consequncia da liberdade do artista, que
encontra satisfao ao criar, mesmo se os frutos de seu trabalho no sejam nada visveis. Werner Gauer,
por sua vez, observou que o friso, enrolado em espiral, tambm tem correspondncias verticais com
voltas sobrepostas, de modo que a obra deve tambm ser lida do alto. Um artigo publicado em 1981 na
revista Prospettiva acreditou ter resolvido o problema da no visibilidade: os relevos teriam sido destina-
dos a serem vistos do alto do terrao dos edifcios que cercavam a coluna. O autor do artigo acrescenta
que a explicao de Bianchi Bandinelli manifesta um idealismo burgus... A ideia de uma viso a meia
altura nem sequer merece discusso (permanecendo no solo ou se colocando mais acima, apenas uma
ou duas espirais so nitidamente legveis, e, alm disso, seria preciso tambm girar em torno da coluna):
mas tudo isso a demonstrao do embarao em que so postos os historiadores da Antiguidade pela
no visibilidade. Ou talvez eles nem sonhem com a no visibilidade, ou quem sabe vejam nela um aci-
dente, ou ainda uma aparente estranheza que deveria ser submetida regra.
Ora, existe em Paris uma obra, a coluna Vendme, imitao napolenica muito fiel coluna de Tra-
jano5, que apresenta a mesma no visibilidade. Simplesmente, como se trata de uma obra moderna, os
historiadores olham-na com um olho menos erudito e menos embaraado. Admitem a no visibilidade
to pacificamente que, logo aps sua construo, o escultor Ambroise Tardieu publicou num in-flio a
gravura dos relevos (A Coluna do Grande Exrcito, gravada por Tardieu) e explicou em sua Advertncia
que, uma vez que os relevos no so visveis, pensou, com isso, prestar uma contribuio. As pessoas
que olham as 23 espirais da coluna Vendme no distinguem grande coisa (mas sentem que se elas es-
tivessem mais bem posicionadas, distinguiriam, o que algo importante, como veremos). Reconhecem
confusamente cenas militares, os chapus dos marechais e, aqui e ali, o legendrio chapeuzinho do
ditador da Crsega. Podem tambm ler a coluna verticalmente: em qualquer ponto em que nos situe-
mos, se olharmos de baixo para cima, poderemos sempre avistar, numa determinada altura, o clebre
chapeuzinho, visvel de todos os lados.
Portanto, basta, para trazer tona uma evidncia, que estejamos diante de uma obra que no per-
tena a uma civilizao passada ou estrangeira. uma aplicao inesperada da parbola evanglica da
palha e da viga. Cada civilizao se considera natural, e nenhuma se surpreende consigo mesma. Os
problemas, ou sua ocultao, comeam com o outro. Ou melhor, uma vez que ultrapassamos uma fron-
teira espacial ou temporal, mudamos de critrio. Entre ns, aplicamos uma grade social, por exemplo,
e, quando estamos no estrangeiro, uma grade nacional: o que um francs perceber na Frana como
3
KLEIN, R. La forme et l intelligible. Paris: Gallimard, 1970. p. 234 (traduo brasileira: A forma e o inteligvel. So Paulo:
Edusp, 1998).
4
Citemos LEHMANN-HARTLEBEN. Die Trajanssaule: ein romisches Kunstwerk zu Beginn der Spatantike. Berlim/
Leipzig: W. de Gruyter & Co., 1926. v. I, p. 1; BRILLIANT, R. Roman art from the Republic to Constantine. Londres:
Phaidon 1974. p. 192; BANDINELLI, B. Dallellenismo al medioevo. Roma: Editori Riuniti, 1978. p. 123; La Colonna
Traiana, o della libert dellartista. In: GAUER, Werner. Untersuchungen zur Trajanssule, op. cit. p. 45; Prospettiva, n.
26, p. 2, jul. 1981 (com detalhes interessantes na nota 11 sobre a policromia desses relevos, o que completa as afirmaes
de BECATTI, G. La colona Traiana, espressione somma del rilievo storico romano. Aufstieg und Niedergang der rmischen
Welt, II, 12, n. 1, p. 550, 1972).
5
Salvatore Settis estudou brilhantemente a imitao dos relevos trajanos pelos escultores de Napoleo.
Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 175-188. 177
Condutas sem crena e obras de arte sem espectador
Paul Veyne
um defeito pequeno-burgus lhe soar, na Amrica, como um defeito americano, imputvel a toda a
Amrica enquanto tal. Da decorre tambm a iluso dos bons velhos tempos e da laudatio temporis
acti: lemos o presente atravs do fait divers e o passado atravs da norma. Se alguns relevos modernos
no so visveis, porque normal que possa ser assim: no somos problema para ns mesmos. Ao
menos nesse sentido, temos a vantagem de no levantar o problema falsamente, como fizemos no caso
da coluna de Trajano.
A m visibilidade das obras de arte um fato normal, tamanha sua frequncia. Para sab-lo, basta
vagar pela baslica de So Pedro, em Roma, e elevar o olhar para as abbadas, a cpula ou o topo do
baldaquino de Bernini. Efeitos decorativos e racionalidade museogrfica so duas coisas diferentes. Em
Santa Maria Maior, os mosaicos da nave formam pequenos quadros de pouco mais de um metro, dis-
postos a muitos metros de altura. Neles, no se distingue nada, muitas vezes no se pode sequer contar o
nmero de personagens e, para estudar seu contedo, preciso consultar as reprodues na publicao
de Wilpert. Ademais, o espectador mdio era incapaz de saber o que representava grande parte das ce-
nas bblicas: no visibilidade visual vem se somar a obscuridade da iconografia. Mas, como diz Peter
Brown,6 e da? Numa determinada cena que representa a bno de Jac por Isaac, o espectador via,
principalmente, as colinas verdes e os ciprestes, uma imagem paradisaca, menos mstica que idlica:
a cristandade antiga representava as alegrias do paraso to sensivelmente quanto, mais ou menos no
mesmo perodo, o mundo muulmano.
Podemos ver os detalhes com dificuldade, no chegar a compreend-los e mal olh-los. Basta que
o espectador, a partir do cho onde se encontra, veja o suficiente para ter certeza de que eles, mesmo
que no estejam ao seu alcance, poderiam, entretanto, ser vistos detalhadamente, caso ele estivesse mais
bem posicionado. Ou seja, basta ter certeza de que os detalhes no foram negligenciados, que o artista
no poupou esforo, nem o comanditrio poupou dinheiro. A racionalidade da expresso (Que gran-
deza a minha, cus!) no a da informao ou da propaganda (Saibam que sou grande). Uma ex-
presso calculada em excesso, que visa a maior exatido possvel, perde seu efeito: a verdadeira grandeza
no deve poupar, mas resultar em superabundncia. Deve-se, portanto, distinguir uma arte para a qual
se olha, segundo Gombrich7, de uma arte em que no se presta ateno, que se chama decorativa. No
se podia nunca esperar que o friso do Prtenon fosse decifrado: ele deveria receber apenas olhares de
passagem, de soslaio. Como afirma Leroi-Gourhan:8 O critrio da decorao est mais na inteno que
lhe dada do que nos prprios elementos: num santurio, os grandes afrescos edificantes so elementos
de decorao, simples guirlandas de folhagens.
Certamente. Mas ser esta, de fato, uma arte que se olha? No seria melhor falar em espectadores
que olham a arte e no se contentam com uma viso lateral e global? Existem, de fato, indivduos que
chamamos connaisseurs, amadores, e que olham. Eles existem at mesmo entre os primitivos, que,
segundo o testemunho de alguns etngrafos, so to capazes quanto ns de julgar se a msica tocada
naquele ano na festa tribal era mais bela que a do ano anterior. Ao mesmo tempo, esses mesmos pri-
mitivos julgam que essa bela msica a prpria voz de seus ancestrais, e ouvem-na com uma emoo
religiosa9. Trata-se, portanto, menos de espcies de indivduos diferentes do que de atitudes diferentes
diante das obras. enganoso afirmar, assim, que antigamente as esttuas gregas eram dolos e que so
obras de arte apenas para ns: elas j eram obras de arte para os gregos. Eram tambm, ao menos, uma
6
BROWN, P. Society and the holy in Late Antiquity. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1982. p. 205
(traduo francesa: La socit et le sacr dans lantiquit tardive. Paris: Seuil, 1985. p. 154).
7
GOMBRICH, E. H. The sense of order. Oxford: Phaidon, 1979. p. 116.
8
LEROI-GOURHAN, A. Le geste et la parole. Paris: Albin Michel, 1965. p. 143.
9
FELD, S. Sound and sentiment. Birds, weeping, poetics, and song in Kaluli expression. Filadlfia: University of
Pennsylvania Press, 1982, livro que conheci graas a Jean Molino.
Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 175-188. 178
Condutas sem crena e obras de arte sem espectador
Paul Veyne
terceira coisa: representaes e retratos do que acontecia no mundo divino e do aspecto das divindades.
Informavam sobre o mundo das alturas, assim como a televiso nos permite ver o mundo poltico e seus
atores. Enfim, sua beleza decorativa exprimia tambm a potncia e a piedade do devoto que as havia
construdo ou do clrigo do santurio.
Pluralidade de atitudes, muitas vezes de um s e mesmo espectador, pluralidade correlativa das fun-
es da arte: cada obra tem a sua, ou as suas. Para estudar a coluna de Trajano como obra de arte, dizer
o que a caracteriza e a distingue, preciso, antes de se perder nos detalhes, se perguntar se o friso era
destinado a fornecer uma ilustrao informativa ( maneira das pinturas que relatavam um combate de
gladiadores que tivesse se tornado famoso10); se era uma obra para o deleite ou uma simples decorao
triunfal, uma acumulao de fatos de guerra, seguramente apropriada, embora um tanto automtica.
Quanto ao estudo detalhado do friso, ele no trar grande coisa para a caracterizao da prpria coluna.
Em contrapartida, ser instrutivo para outros captulos da histria da arte romana (tradio iconogr-
fica dos atelis, histria da narrao contnua etc.), o que ser benfico para a eventual caracterizao
de outras obras. Da mesma forma, quando um mosaico antigo representa uma lenda mitolgica pouco
conhecida e razoavelmente esotrica, a iconografia da lenda oferece informaes preciosas sobre a difu-
so da erudio mitolgica, ao menos no interior do mundo dos atelis ou de seus cadernos de modelos.
Contudo, a caracterizao do prprio mosaico prope problemas bem diferentes: o comprador (diferen-
temente do artista) tinha preocupaes eruditas e sabia o que o mosaico representava? Pode ser que te-
nha visto nele apenas uma bela imagem, ou menos ainda: uma decorao que trar mais valor para sua
estima social porque custa caro. Um comprador florentino exigiu de Ghirlandajo, a quem encomendou
um afresco, que fornecesse informaes precisas sobre a vida de Batista, seu santo padroeiro (tema de
um trabalho clebre de Aby Warburg). Resta saber o que fez Ghirlandajo e o que o mais comum dos
florentinos via nisso: talvez uma decorao devota que no era para ser detalhada. No sculo XVII, em
contrapartida, um connaisseur que comprasse um Le Nain sem dvida no o fazia porque a nobreza de
toga tinha conservado laos no campo, como supunha um tanto pesadamente Anthony Blunt:11 talvez,
antes, ele admirasse a beleza da pintura, da arte pela arte, ou sonhasse devota e poeticamente perante a
diversidade das condies que Deus ofereceu aos homens, perante o formidvel desvio do destino de di-
versos filhos do Todo-Poderoso, que a mostra o seu mistrio e a sua glria. Um quadro pode muito bem
ter toda uma iconografia, porm uma iconografia no algo que se compre, ou pelo menos nem sempre.
O prprio artista pinta ou esculpe por amor iconografia, ou, mais frequentemente talvez, no
lhe d grande importncia. Em geral, o artista trabalha para um espectador ideal, anlogo ao leitor
ideal de que a semiologia atual merecidamente ergue o fantasma no horizonte de cada obra literria.
No tempo de Fdias, as esttuas dos frontes gregos foram finamente bem acabadas, tanto do lado
no visvel, que ficava apoiado no tmpano, quanto do lado visvel. O escultor quis satisfazer o espec-
tador ideal (que v tudo com os olhos do esprito) e, em primeiro lugar, a si mesmo, que tem o ideal
do trabalho bem-feito. Talvez tambm tenha querido satisfazer os deuses, que amam os trabalhadores
escrupulosos. Quando este espectador ideal que geralmente o duplo do artista se encarna, leva
o nome de connaisseur, o homem que desposa o ponto de vista do criador e que pode compreender
suas intenes.12
O que nos leva abusivamente a crer que a iconografia seja o mais importante o fato de que ela
o elemento mais visvel, e com razo: as imagens so uma descrio, e no uma linguagem. Como diz
10
Os testemunhos antigos atestam que essas pinturas de combate eram observadas em detalhe e avidamente.
11
Blunt, A. Art and architecture in France, 1500 a 1700. Melbourne: Penguin Books, 1953. p. 157 (que acrescenta,
verdade: mas isso pura especulao).
12
Gombrich, E. H. Meditations on a hobby horse: and other essays on the theory of art. Londres; Nova York: Phaidon,
2001 (1963). p. 74.
Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 175-188. 179
Condutas sem crena e obras de arte sem espectador
Paul Veyne
Jean-Claude Passeron, a imagem no uma linguagem porque ela no pode dizer sim, no, quase,
talvez, amanh e porque, se por um lado ela comporta convenes, por outro no codificada (as
nicas imagens verdadeiramente codificadas so os mapas geogrficos modernos). Entretanto, se for o
caso de mostrar como feita uma mquina complicada ou o paraso terrestre, as imagens so insubsti-
tuveis. Seu poder descritivo as torna muito apropriadas para fazer ver, ou ento para fornecer informa-
es no sentido preciso do termo (as imagens no tm shifters). Suponhamos que a decorao esculpida
ou pintada nas igrejas tenha sempre sido visvel, que tenha sido compreensvel para a mdia dos especta-
dores e que eles tenham se preocupado em olh-la: mesmo nesse caso, a igreja no foi o catecismo dos
iletrados que se diz; sua imagtica serviu ao prazer, mais que instruo. Ela desempenhou o papel que
desempenha hoje em dia a fotografia de reportagem, que agrada os leitores lhes fazendo ver como foi
a coroao da rainha, ao lado do artigo do reprter que fornece as informaes sobre a coroao. Tal
a origem, ou uma das origens, das artes naturalistas na Grcia ou na Itlia gtica.
As imagens no podem existir sem descrever, sem dizer como foi. Simplesmente no nos interes-
samos sempre em saber como foi. exatamente por isso, com exceo da fotografia de reportagem,
que no examinamos espontaneamente as imagens: mal as olhamos, a no ser que sejamos um connais-
seur, um vice-criador. Na maior parte das vezes, prestamos uma ateno distrada, lateral, nas imagens,
como define Gianni Vattimo.13 Exceto se a imagem procura um efeito de choque, como fazem os car-
tazes publicitrios. Caso contrrio, tudo se limitar ao sentimento da presena de uma imagem (Olhe,
decorado, Olhe, bonito, Olhe, um quadro e no um pster, ento custa caro) e classificao
sumria dessa imagem ( um quadro de igreja, uma mulher nua, arte abstrata para esnobes14).
Atitudes variveis historicamente ( to bem pintado que poderia ser confundido com o modelo),
mas igualmente medocres. Portanto, no h que se superestimar, primeira vista, a importncia da
arte na mentalidade de uma poca. A histria, ou pelo menos a histria geral, deve lembrar que as obras
de arte funcionam apenas a dez por cento da sua capacidade... Mais uma vez, remetemo-nos a Peter
Brown.15
Ento, seria fraca a importncia da arte na histria? No to rpido. So as funes intensas e as
atitudes fortes que desempenham um papel muito reduzido. Mesmo se considerarmos a mais fraca
das atitudes (ateno global e distrada) e a mais fraca das funes (decorao, quadro da vida), nada
pode se igualar importncia que os homens atriburam arte ao longo de sua histria, nem mesmo a
religio. Sabemos que quase todo o excedente das sociedades antigas foi aplicado em edifcios, colunas
e esttuas, de tal modo era violenta a necessidade de expresso. Digamos de passagem, a declarao de
que existe toda uma escala de graus de intensidade na arte, longe de nos tiranizar, deveria nos deixar
vontade: um conservador de museu talvez no seja obrigado a obedecer aos socilogos e a se comportar
em funo do menor desses graus, o da histria do gosto e dos modos...
A arte que importa, apesar de sua fraca intensidade ou graas a ela, a que compe o quadro da
vida, o cenrio urbano, e ningum presta ateno no cenrio desse teatro da comdia social. A toda e
qualquer interpretao sociologizante que faz da arte uma ideologia, legtimo retorquir: Quem nunca
observou as esculturas da coluna Vendme? Que habitante de Marselha nunca olhou os relevos da porta
de Aix, de David dAngers? (relevos esses, alis, melhores que a maior parte dos famosssimos relevos
histricos da Roma antiga). Essa indiferena no contradiz a destinao desses monumentos erguidos
perante o tempo, mais do que perante os homens. Os monumentos no so mensagens ao outro, nem
mesmo a expresso ideal da bela humanidade e, menos ainda, a face da sociedade. Falam para expressar
13
VATTIMO, G. La fine della modernit (traduo francesa: La fin de la modernit: nihilisme et hermneutique dans la
culture post-moderne. Paris: ditions du Seuil, 1987. p. 89-91).
14
Cf. MOULIN, R. Le march de la peinture en France. Paris: ditions de Minuit, 1967. p. 70 e 409 ss.
15
BROWN, P. Society and the holy in Late Antiquity, op. cit. p. 202 (traduo francesa, p. 151).
Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 175-188. 180
Condutas sem crena e obras de arte sem espectador
Paul Veyne
a potncia que os fez emergir, como os autores de panfletos polticos e grafiteiros militantes que escre-
vem menos para se dirigir aos leitores do que para expressar aquilo que transborda em seus coraes e
manifestar sua existncia.
O hall de uma universidade, cujas paredes esto cobertas de grafites polticos que ningum se
preocupa em decifrar, para seus frequentadores tem o mrito de no ser frio como o hall de um banco
e de faz-los viver nesse pequeno mundo, tal como o concebem. Ningum tampouco observava deta-
lhadamente a coluna de Trajano. Acontece que, simplesmente pelo fato de v-la, cada um sentia que o
espao estava ocupado por uma alta potncia de linguagem transbordante, que no era ouvida, mas que
passava, como o vento, bem alto, acima das cabeas, proferindo um discurso de que s se entendia o
sentido geral. Pois os discursos confusos ou as frases pomposas so direito e, ao mesmo tempo, signo dos
deuses, dos orculos e dos mestres. O que o monumento comporta, em suma, de ideologia, o prprio
direito que se arroga de existir, do mesmo modo que, num pas submetido a um regime autoritrio, os
alto-falantes que difundem nas ruas os discursos oficiais importam mais por sua onipresena do que por
aquilo que repetem. A coluna de Trajano , de certa maneira, propaganda, porm, justamente, no por
sua imagtica, e sim por sua presena e pela potncia que sua redundncia exprime.
O mesmo poderia ser dito das produes da natureza, da physis. A arte prova a existncia de uma
fora social, comparvel fora que levanta montanhas e que, com a mincia do cinzel, nelas esculpe
pequenas flores, que no formam um alfabeto a ser soletrado. Nesse sentido, a expresso comunicao
no intencional: ela indcio de sua autoria, e no poderia deixar de s-lo, mesmo que se recusasse. Uma
vez, um arquiteto, discpulo de Mies van der Rohe, foi incumbido de construir um banco. Seus gostos
estticos e suas convices polticas impediam-no, evidentemente, de tratar um banco como um tem-
plo do capitalismo e nele projetar colunas, esttuas e frontes. Ele ergueu um arranha-cu nu, austero,
sem o menor trao de ideologia. Infelizmente, esse edifcio provou, ento, at que ponto o capitalismo
ousava ser transparente, seguro de si e dominador, desdenhoso em relao necessidade de se justificar
e de se embelezar. Com seu gosto pela nudez funcional, o arquiteto tinha tornado aquele grande banco
autoevidente, self-evident, e seu prdio impressionava os que passavam diante dele.
A arte faz parte das condutas que no tm objetivo, tlos,16 condutas que no se compreendem por
sua finalidade e que no se medem por seu resultado. No um meio de comunicao, porque no ,
de modo algum, um meio. Ela se explica por sua origem, se exprime por se exprimir, como o fogo que
queima por queimar e que cessa, no quando atinge um resultado, mas quando esgota sua energia. A
expresso por si s no pode tampouco medir os seus efeitos, pode apenas esgotar-se. Da a importn-
cia quantitativa da arte na histria, repleta de expresses, ao mesmo tempo desinteressantes e eficazes,
pirmides, capitais, cerimoniais e panfletos. E todos so sensveis fora que nelas se expressa, ou at
mesmo ao sentido que elas implicam.
Em resumo, onde seria tentador buscar uma essncia da arte ou uma atitude fundamental (uma
esttua de uma deusa era um dolo, agora uma obra de arte) percebemos uma multiplicidade de
funes e uma distribuio social das atitudes correspondentes. Uma confuso, uma bruma de cotidia-
nidade, toma o lugar das grandes superfcies de cor intensa. Falta pensar a atitude do personagem que
o mais intenso de todos: o prprio artista, ao qual foram encomendados os baixos-relevos para a coluna
de Trajano ou as esttuas de bronze que foram colocadas acima da escadaria lateral do Grand Palais em
Paris, a 25 metros do cho. O artista hesita entre o ideal de seu ofcio como meio de expresso, um
meio de se livrar do brilho interior que o consome, um meio de dizer o que ele diante do cu e o
gosto de se comunicar com o outro e de convenc-lo, o gosto do testemunho e da mensagem, como se
dizia em meados do sculo XX, com uma ingenuidade devota. Ele hesita entre o gosto da solido e da
Cf. HADOT, P. Comment la multiplicit des ides sest tablie et sur le bien. Introduction Plotin, Trait 38. Paris:
16
ditions du Cerf, 1988. p. 69.
Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 175-188. 181
Condutas sem crena e obras de arte sem espectador
Paul Veyne
vocao, de um lado, e o do sucesso, do outro. Se o primeiro triunfar (como de se esperar) como
o gosto pelo espectador ideal que plana no ar, a 25 metros do cho, que triunfa sobre o gosto dos
espectadores reais , ento o artista dever modelar suas esttuas to cuidadosamente quanto se deves-
sem ser vistas bem de perto, com uma lupa; chegar at mesmo a cinzelar suas pupilas, como se poder
verificar ao se sobrevoar o Grand Palais de helicptero, um sculo depois da fundio dessas esttuas.
***
Pluralidade de funes de uma mesma obra, multiplicidade de atitudes segundo os indivduos: isso
verdade para obras de arte, mas no menos para costumes, rituais, mitos, cerimoniais, de tal modo
que a questo de saber o sentido de um mito ou de uma cerimnia revela-se muito sumria.
Na primeira nota deste artigo, foi citado um texto de Bateson em que se pode ler o seguinte: na
Nova Guin ou na Papua, em uma aldeia s margens do rio Sepik, muito conhecido pelos colecionado-
res de arte ocenica, uma cerimnia acontece. Nossos historiadores das religies, que se preocupariam
com a significao dessa liturgia, veriam nela uma cerimnia destinada a promover a fertilidade do solo.
Numa histria das religies ocenicas, a cerimnia seria descrita, portanto, num captulo relativo aos
rituais de fertilidade. Seus participantes, que so, no obstante, os principais interessados, no veem
nada disso, mas somente uma solenidade que celebra a ocasio pela qual executada, ou seja, a da inau-
gurao de um edifcio pblico. Enfim, um grupo de virtuoses ou de esnobes procura se interessar, no
por essa ocasio banal e nem mesmo pelo texto esotrico da cerimnia, mas por um terceiro elemento:
acontece que, com a finalidade de melhor promover a fecundidade, o ritual comemora, ocasionalmente,
determinados ancestrais mticos dos cls. Esses esnobes, que descendem desses cls, ignoram a fertilida-
de e se mostram alheios inaugurao do edifcio para se dedicarem comemorao dos velhos nomes
nobres. Qual , portanto, a verdadeira funo da cerimnia? Seria possvel ainda ousar fazer dela uma
espcie bem catalogada, um ritual de fertilidade, como nos tempos de James Frazer? Na Frana, A
marselhesa, hino guerreiro, serve para enobrecer a inaugurao de creches. sua maneira, os papuas no
fazem nada de diferente. Sua estranheza se esmigalha, portanto, e se torna medocre.
Podemos reafirmar, sobre os ritos e os cerimoniais, o que dizamos sobre as obras de arte: sua mul-
tiplicidade de significaes e a fraca intensidade da significao, mais geralmente aceita, fazem com que
os cerimoniais sejam condutas que funcionam apenas a dez por cento de sua energia; e a significao
geralmente aceita no aquela que seu contedo implica ou a que seu criador desejava: no a letra
de A marselhesa o que importa, quando, ao som da msica, se inaugura a creche mencionada. Entre os
papuas, h telogos, mitgrafos que elaboraram esses rituais de fecundidade que servem para inaugurar
uma construo pblica. Em sua maior parte, os cerimoniais so condutas que no tm por funo
afirmar a crena que veiculam. Neste momento, os catlicos franceses consideram, de modo geral, que
a reforma litrgica de sua Igreja foi mal concebida. Se isso for verdade, o erro consistiu, talvez, em ter
tomado um cerimonial por uma proclamao de f, por conta de um excesso de intelectualismo. A ana-
logia entre obras de arte e cerimoniais tem fundamento: as cerimnias so arte, como um quadro ou um
poema; os desfiles militares tambm, assim como a complicao gratuita de regras de etiqueta mesa,
no Ocidente. E dir-se-ia o mesmo dos mitos, essa literatura oral de divertimento. H sociedades, muitas
vezes ditas primitivas, em que a criao ritual tem uma importncia to grande quanto, em outras, a
criao musical ou plstica; a cerimnia a arte principal dessas sociedades. A liturgia toda uma arte:
uma arte no um meio de comunicao, de propaganda ou de instruo, mas uma celebrao. A missa
dita em latim no uma coisa mais absurda do que a no visibilidade dos relevos da coluna de Trajano.
A pluralidade das funes de um mesmo costume conduz a um erro frequente: julgamos nossos
prprios costumes a partir de uma de suas funes e os costumes estrangeiros a partir de outra. O cos-
Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 175-188. 182
Condutas sem crena e obras de arte sem espectador
Paul Veyne
tume estrangeiro reveste-se, assim, de uma falsa originalidade. Afirma-se que nossos Jogos Olmpicos
so, antes de tudo, um espetculo, ao passo que o concurso olmpico da Antiguidade teria sido uma
cerimnia religiosa, ou que a luta japonesa (sum) era outrora um verdadeiro rito. Nos Holzwege, Hei-
degger sustenta que ningum ia a Olmpia dizendo para si mesmo que era algo a ser visto uma vez na
vida. Segundo ele, os gregos aderiam sem reserva sua vida coletiva e religiosa o que ele considera
muito bom. Mas, felizmente, ele se engana: os gregos iam a Olmpia exatamente como se vai a um
espetculo, apaixonavam-se pela competio e pelos vencedores e no atribuam mais importncia ao
aspecto religioso do concurso do que ns mesmos atribumos cerimnia da tocha olmpica que abre
nossos jogos. Do mesmo modo, Martin Nilsson, que muito conhecia sobre o assunto, praticamente se
dispensou de falar de Olmpia em sua histria da religio grega. No devemos ceder, aqui, lenda das
origens mais puras, nem pretender que uma significao ritual original foi apagada ao longo dos anos:
ela se apagou desde o incio, desde Homero, que descreve os jogos fnebres em honra a Ptroclo como
um espetculo menos fnebre que esportivo.
A diferena entre a Antiguidade e ns pois essa diferena existe, entretanto no se situa a.
Primeiro, nas sociedades antigas, um costume que no servisse para nada e que fosse mais que um di-
vertimento era, por isso mesmo, dedicado aos deuses, para que tivesse uma finalidade em si mesmo e
para tirar do prazer a sua futilidade agressiva. Quanto a ns, preferimos legitimar essa futilidade fazen-
do com que os prazeres estejam sob a alada de um ministrio dos lazeres ou do tempo livre. Segundo,
a religio era tambm, na Antiguidade, um meio de estabelecer as obrigaes. Celebrava-se o concurso
olmpico uma vez a cada quatro anos numa determinada data porque era ritual, costumeira, sagrada,
ao passo que ns o celebramos numa data fixa porque necessrio estar de acordo para se decidir a data
e, uma vez fixada, cumpri-la. Da mesma forma, nas nossas estradas, os carros trafegam de um lado
direito ou esquerdo, conforme determina o cdigo nacional , pois preciso escolher um mesmo lado,
enquanto na Antiguidade se teria trafegado na faixa da direita porque a da esquerda seria considerada
nefasta e de mau agouro.
Um rito (ou cerimonial) uma obra, instantnea ou elaborada ao longo de sculos, individual ou
coletiva, que no traduz o que pensava uma sociedade: ela no sua fisionomia, porm exprime o que
seu criador sabia e pensava. Logo, evitemos inferir, por exemplo, a partir do cerimonial de coroao
dos reis, o que era a monarquia e o que se pensava dela, e com isso evitaremos contribuir com a anlise
ideolgica dos smbolos, um tanto automtica. Esse cerimonial no nos faz ver a prpria face da monar-
quia: somente um retrato seu, feito por um pintor da corte. Os sditos do rei, muito provavelmente,
pensavam outra coisa do regime monrquico. E, mais provavelmente ainda, pensavam muito menos
que isso: todo retratista embeleza, interpreta e torna precisos os traos do modelo.
Sendo a funo de um rito celebrar, solenizar, e no simbolizar e informar, quase impossvel in-
ferir, a partir de um costume ritual, a crena a que corresponde. Os ritos funerrios da Antiguidade
romana so cada vez mais conhecidos, graas s escavaes, sem que nossos conhecimentos sobre as
crenas funerrias tenham aumentado. O que pensar do fato de que se depositava, muitas vezes, um
pouco de comida junto ao morto? Que os contemporneos de Ccero e de Marco Aurlio acreditavam
que a tumba era uma casa onde o defunto continuava a viver e a se alimentar? Para termos clareza sobre
isso, passemos dos antigos romanos aos chineses de hoje ou de ontem.
H um sculo e meio, o padre Huc escrevia:17 Os chineses tm o hbito de oferecer pratos aos
mortos e, algumas vezes, refeies esplndidas, que lhes eram servidas diante do caixo, entre a famlia,
ou diante do tmulo, depois do sepultamento. O que pensavam os chineses sobre essa prtica? Muitas
pessoas acreditaram e escreveram que, em sua opinio, as almas dos defuntos gostavam de vir satisfazer-
17
HUC, R. P. Souvenirs dun voyage dans la Tartarie, le Thibet et la Chine. Paris: dition dArdenne de Tizac, 1925. v. IV,
p. 135.
Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 175-188. 183
Condutas sem crena e obras de arte sem espectador
Paul Veyne
-se com as partes mais sutis e delicadas, digamos, dos pratos que lhes eram oferecidos. Parece-nos
que os chineses no so to desprovidos de inteligncia a ponto de levarem adiante uma tolice dessas.
Um dia, perguntamos a um mandarim amigo nosso, que acabara de oferecer uma suntuosa refeio
diante do caixo de um de seus confrades defuntos, se ele compartilhava da opinio de que os mortos
tinham necessidade de alimento como tal. Como podeis supor que eu tenha um pensamento como
esse?, respondeu-me espantado. Quem seria to insensato a ponto de acreditar que os mortos precisam
comer? Minha inteligncia seria assim to limitada a ponto de no ver que isso seria uma loucura? Pre-
tendemos honrar a memria de nossos parentes e de nossos amigos, dando-lhes o testemunho de que
esto sempre vivos na nossa lembrana e de que gostamos ainda de servi-los, como se eles existissem.
O mandarim, bem verdade, acrescentou a comprovao de que o problema da crena no simples:
Entre o povo contam-se muitas fbulas, mas quem no sabe que as pessoas grosseiras e ignorantes so
sempre crdulas? Talvez. Porm, por mais grosseiras que possam ser, elas encarnam um problema: que
grau de realidade tinha a crena das pessoas grosseiras na sobrevivncia dos mortos e em sua necessidade
de alimentao?
Alm da pluralidade de atitudes, alm da multiplicidade de funes, um terceiro aspecto do esmi-
galhamento da cotidianidade aparece: a diversidade dos modos de crena (a crena na imortalidade
da alma, por mais firme que seja, no mudou em nada, por exemplo, a ideia que os homens fazem da
morte). Radcliffe-Brown relata:18 Um morador de Queensland encontrou um chins que segurava
uma tigela de arroz cozido sobre a tumba de seu irmo. O australiano, brincando, lhe perguntou se ele
pensava que seu irmo vinha com-la. O chins respondeu: No. Oferecemos arroz aos mortos para
expressar nossa amizade e nossa afeio. Mas, tendo em vista a sua pergunta, suponho que, na Austr-
lia, vocs coloquem flores sobre o tmulo de um morto porque creem que ele gostar de olh-las e de
sentir o seu perfume.
Talvez esse chins tenha um nico defeito: ser filho de seu sculo e de seu meio e ser tambm to
racionalista quanto o australiano que o interrogou. Nesse sculo, a opinio esclarecida na China era
a mesma que na Europa. Depois da China vista pelos ocidentais, eis o Ocidente visto pela China:
em 1898, quando da tentativa de reforma dos Cem Dias contra a imperatriz Tseu Hi (Cixi), um alto
mandarim modernista publicou um escrito reformador em que se lia o seguinte: Embora os Europeus
no faam oferendas ou sacrifcios sobre os tmulos, eles tm, entretanto, a prtica de visit-los; o ato
de colocar flores sobre os tmulos considerado pelos Europeus uma marca de respeito para com os
mortos que ali esto enterrados. Dessa forma, portanto, os Europeus realmente respeitam a relao que
deve existir, piedosamente, entre o pai e o filho19.
Tal era a opinio dos espritos avanados. Por que eles se recusam a acreditar que os defuntos con-
tinuam a viver em seus tmulos? Porque essa ideia do alm lhes parece contestada pela evidncia do
cadver. Isso esquecer que existem vrias maneiras de crer, vrias modalidades de crena e que, em
certo estado de mentalidade, nenhuma censura nem social, nem interna impede de acreditar
sinceramente em concepes consolatrias: no se cr da mesma maneira no paraso e nos cadveres,
mesmo que a crena em ambos tenha a mesma intensidade.
Uma mesma conduta (colocar sobre o tmulo um pouco de comida ou objetos domsticos dis-
posio do defunto) ser, segundo a sociedade ou o grupo social considerado, um cerimonial de ho-
18
RADCLIFF-BROWN, A. R. Structure et fonction dans la socit primitive. Paris: ditions de Minuit, 1972. p. 232.
19
Ver a obra do vice-rei do Hou-Koang, TCHANG TCHE TONG. K'ien-hio P'ien [Exhortation l' tude... ouvrage
traduit du chinois par Jrome Tobar, S. J.] Xangai: Imprimerie de la Presse Orientale, 1898. p. 5. Sobre as crenas funerrias
dos ocidentais, na mesma poca, ver LINTON, R. De l homme. Paris: ditions de Minuit, 1968. p. 391: O protestante
americano mdio, por volta do comeo do sculo XIX, podia se sentir profundamente abalado por um sermo sobre o Juzo
Final, dizer que seus parentes amados o esperam no Cu e sentir um medo profundo dos cemitrios com o cair da noite.
Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 175-188. 184
Condutas sem crena e obras de arte sem espectador
Paul Veyne
menagem desprovido de qualquer crena; ou um gesto de consolo a que os atores, sem acreditar ver-
dadeiramente, se entregam como atores que representam num teatro; ou, enfim, ser uma verdadeira
crena, mas que no abole por isso outras crenas que aparentemente a contradizem. No sul da Itlia,
terra crist por excelncia, um etngrafo recolheu, h uns cinquenta anos, o seguinte lamento recitado
por uma esposa: E agora devo dizer-te, tu que fostes o tesouro de tua mulher, o que pus no teu caixo:
duas camisas, uma nova e outra refeita, a toalha para que te laves o rosto no outro mundo, e tambm
teu cachimbo, pois tinhas tanta paixo pelo tabaco! E agora, como fazer para enviar-te doravante os
charutos no outro mundo?.20 Estamos diante de um tipo de teatralizao em que os vivos fingem acre-
ditar numa fico e at o tabaco e os charutos entram no jogo.
A teatralizao funerria algo muito comum e resulta numa verdadeira crena. Fala-se frequen-
temente do carter trgico que teria a alma etrusca, do colorido sombrio das crenas funerrias da
Etrria antiga, com seus assustadores demnios e demnias do inferno. Esquece-se to logo que essa
demonologia , sobretudo, o produto de um excesso de inveno expressionista por parte dos talhadores
etruscos que esculpiam os tmulos. Quase se poderia ousar dizer que os etruscos jogavam com o medo
produzido por meio dessa imagtica funerria, tal como, em determinados perodos, os americanos
produzem medo com seus prprios filmes. Mas sabe-se tambm que, com isso, acaba-se por provocar
medo, realmente, e por se acreditar na demonologia infernal. A variedade, a complexidade e a riqueza
das cerimnias funerrias atravs do mundo deixam supor que os tmulos foram o lugar eleito nesse
processo de crena pela teatralizao. Todavia, determinadas sociedades so hostis a toda e qualquer
forma de teatralizao, por um tipo de puritanismo.
A realidade de uma crena no se mede nem por sua no contradio, nem pelas aplicaes prticas
que dela so feitas: a f que no age , muitas vezes, uma f sincera. possvel se acreditar numa sobre-
vida dos defuntos no tmulo, mesmo constatando com os prprios olhos que eles no so nada alm
de poeira. possvel acreditar que continuam a se alimentar, sem tirar consequncias materiais dessa
crena (no se renova a comida sobre o tmulo, ela depositada uma nica vez, no dia do funeral). O
que desestabiliza uma crena no o choque da realidade, mas uma censura social ou pessoal. Com
efeito, uma espcie de sentido interno nos permite distinguir as diferentes modalidades de nossas cren-
as, do mesmo modo que sentimos, a cada momento, a postura de nossos membros. As modalidades
consolatrias (ou cerimoniais) de crena so, assim, marcadas por um indcio que as caracteriza e que as
crenas desencantadas, por exemplo, no tm. Esse sentimento interno do modo de crena nos permite,
em ltimo caso, controlar e censurar nossos pensamentos, da mesma maneira que controlamos o estilo
de nossos discursos (pode-se assim, por preocupao de elegncia ou por modstia, reagir contra uma
inclinao para falar enfaticamente e para multiplicar prosopopeias e metonmias: eliminam-se essas
figuras de retrica, sem que jamais, talvez, se tenha aprendido o que uma metonmia). Ora, acontece
que, em determinadas sociedades, entre as quais a nossa, uma censura recai sobre as crenas consolat-
rias, do mesmo modo como poderia recair sobre as posturas descontradas ou sobre as falas enfticas.
No crer para se consolar um imperativo de dignidade intelectual. Crer que os mortos se alimentam
dos pratos depositados ao lado deles deixa de ser, ento, verdadeira crena, para passar a ser uma simples
conduta de homenagem a que nenhuma crena responde mais.
***
Pergunta-se: psicologicamente possvel crer, ao mesmo tempo, que o corpo de um defunto est
em decomposio e que esse mesmo corpo continue a receber alimento? Deve-se responder que total-
20
Lamento recolhido na Lucnia e publicado por DE MARTINO, E. Rapporto etnografico sul lamento funebre lucano.
Societ, X, n. 4, p. 655-665, 1954.
Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 175-188. 185
Condutas sem crena e obras de arte sem espectador
Paul Veyne
mente possvel. A mquina de viajar no tempo me ensinou. Ouvi, com efeito, o poeta Ren Char, num
desses dias em que estava entregue a seu onirismo mtico pessoal, explicar que as grandes ideias so
depositadas nas praias pela mar e que so descobertas no fundo das poas dgua formadas durante a
vazante, beira-mar. Ele mesmo havia descoberto isso durante um passeio pela praia de Varengeville,
convidado por Georges Braque. Esse mito significa que as grandes ideias so postas s margens da nossa
conscincia pelo vaivm dos pequenos acontecimentos que o Eterno Retorno balana no oceano que
o cosmos, e que as descobrimos nas poas de reflexo que se formam em nossas meditaes cotidianas.
Char no dizia (e no pensava) que as reflexes eram semelhantes s poas dgua. Pensava, com efeito,
nas poas dgua reais (ao menos quando se entregava ao sonho acordado, o que, como poeta, fazia
muitas vezes). Entretanto, no tinha cavado com as prprias mos, na praia de Varengeville, os buracos
em questo. O pensamento simblico e mtico funciona sempre assim. Por exemplo, o fundador do
maniquesmo pensava que os elementos do cosmos eram purificados e elevados graas aos recipientes
de uma nria csmica, cujas trs rodas eram o ar, a gua e o fogo. Ele no dizia e no pensava que o
processo de purificao era anlogo a uma nria: pensava que era uma nria. Todavia, quando elevava
os olhos ao cu, no esperava ver essa nria (e no se decepcionava por no a ver). O pensamento sim-
blico e mtico est de acordo consigo mesmo: conhece suas prprias contradies e evita o mximo
chocar-se com elas.
Teatralizao, programas mticos de verdade, semicrenas, pluralidade de funes e de atitudes,
todo esse esmigalhamento se explica: criaes culturais, crenas, artes, itinerrios tursticos consagra-
dos so tipos de instituies, de espritos objetivos. So grandes coisas que existem em si mesmas,
que cada um se esfora para integrar e que ningum vive plenamente. Decerto, cada hora da vida
cotidiana comporta uma gota de religiosidade que se desconhece ou de prazer esttico que se ignora.
Porm, entre essa experincia individual e uma religio ou uma pera h um abismo21. A felicidade
em Npoles, sonhada por Madame Bovary, no podia existir como cotidianidade, mas apenas como
esprito objetivo, tal como as listas tursticas de lugares a serem visitados e, neles, de sentimentos a
serem experimentados.
Quando a beleza ou o divino se tornaram uma arte ou uma religio, a vida cotidiana passou a no
mais estar na mesma escala que esses espritos objetivos: Bayreuth deixou de estar na mesma propor-
o de algumas horas de prazer esttico de uma centena de indivduos. Produz-se ento uma relao
de objeto, object relationship, um investimento, tal como os capitais individuais sero investidos
em pessoas morais chamadas sociedades annimas. Quanto ao prazer esttico, tornou-se admirao e
amor, localizado fora, no seu objeto: deixou de ser uma inquietao ntima para tornar-se o fato de uma
sinfonia mostrar-se radiante. Os sacrifcios que os indivduos devotos ou estetas fazem aos seus espritos
objetivos no so, de forma alguma, pagos atravs de benefcios cotidianos (a religio ocupa apenas uma
hora ou duas do dia do mais devoto dos homens), mas por meio da importncia atribuda ao objeto.
Nunca um indivduo se torna, ele mesmo, esprito objetivo. De Hlderlin a Heidegger, o sonho de uma
antiga Grcia ideal apenas uma quimera, que prova o quanto Heidegger era um esprito nebuloso.
O retorno s origens , portanto, vo: as origens so bastante cotidianas. A religiosidade das origens,
prefervel nossa secularizao brbara, existe apenas na nostalgia dos filsofos edificantes. Longe de
estar crivada dos esquecimentos de uma autenticidade primeira, a histria feita de lutas contra a coti-
dianidade, de esforos educativos ou, mais ainda, para dizer as coisas como elas so, de adestramentos
no sentido do melhor ou do pior, Bayreuth ou Verdun. Que uma sociedade se assemelhe ao seu ideal
quando a Grcia tida por esteta ou a Idade Mdia por uma cristandade no significa um retorno
a uma autenticidade, mas o efeito de um adestramento difcil e sempre imperfeito. Um exrcito no a
21
SIMMEL, G. Philosophische Kultur. Berlim: Karl Wagenbach, 1983. p. 37.
Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 175-188. 186
Condutas sem crena e obras de arte sem espectador
Paul Veyne
mesma coisa que uma reunio de homens situados, cada um deles, diante da necessidade de se defender:
nossa biblioteca tem mais livros do que poderamos ler, e guarda muitos que jamais reabriremos.
o que George Simmel chamava de a tragdia da cultura22, que no era entendida como um dra-
ma doloroso, mas como uma leve e incessante defasagem entre a cotidianidade e os espritos objetivos.
Essa defasagem inspiradora de quimeras para uns que tomam os espritos objetivos de antigamente
pela cotidianidade das origens , e suscita em outros um dio da cultura. Por amor pela transparn-
cia e pela coincidncia consigo mesmo, Rousseau odiava as cincias e as artes; por decepo amorosa,
Ruskin odiava toda cultura que no pudesse ser possuda por seus amantes; Ren Char considera que
as civilizaes so gorduras e que seria preciso esfregar o gordo, pois, muitas vezes, os indivduos
com forte vida interior odeiam os espritos objetivos que foram a alma a sair de si mesma 23. Sneca
achava que a posse de uma biblioteca era contra a natureza.
Os valores so postos, na maioria das vezes, fora do indivduo: vivemos ou morremos por eles, no
os vivemos, no os sentimos, os professamos mais do que acreditamos neles. O verso que Apollinaire
escrevia em 1918, No corao do soldado palpita a Frana, convencional e falso: nada de parecido
palpita no prprio corao. Queria pintar o cinza, dizia o Flaubert de Madame Bovary. H um trgico
medocre e cotidiano que no nasce dos conflitos entre valores, mas das incoerncias da realidade con-
sigo mesma. Pois o mundo no mal feito: ele no nada feito.
O verdadeiro drama de Madame Bovary este: ela no podia se tornar esprito objetivo. Se tivesse
podido, teria encontrado nele a sua realizao. Seu tormento o mesmo de Flaubert em pessoa: como
encontrar uma realizao da existncia na prpria existncia?24 Est claro que uma biblioteca que se
lesse a si mesma, uma obra de arte que fosse sua prpria espectadora ou uma conduta que acreditasse,
ela prpria, no que faz seriam seres completos. E mesmo seres divinos, uma vez que, neles, o conheci-
do se conheceria a si mesmo e, como diziam os gregos, a inteligncia e os inteligveis seriam a mesma
coisa. Mas, como no o so, isso nos soa na alma como um vazio perene. Por mais que um poeta tenha
o sentimento de ter criado em seu poema um ser imputrescvel, resta-lhe o sofrimento de saber que a
inteligncia de seu poema depende de cada leitor. O poema seria divino se ele se lesse a si mesmo.
cotidiano o que no divino, ou seja, todo o resto.
***
Para resumir a diferena entre a simples experincia vivida e os espritos objetivos, trs exemplos bas-
tam. O primeiro ser a sensibilidade em relao paisagem. No se trata, justamente, de uma evoluo
22
SIMMEL, G. Philosophische Kultur, op. cit. p. 195-218 (traduo francesa de Cornille-Ivernel: La tragdie de la culture.
Paris: ditions Rivages, 1988. p. 177-216). A rplica de Ernest Cassirer (Zur Logik der Kulturwissenschaften. Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1961. captulo 5) desconhece o pensamento de Simmel, que no deplora que o
esprito objetivo bloqueie a espontaneidade individual, mas, ao contrrio, que o indivduo no chegue jamais a assimilar
suas criaes objetivas. O pluralismo trgico de Simmel incompatvel, de fato, com nossa tendncia natural para a
conciliao e o otimismo. Simmel acredita na pluralidade inconcilivel dos valores e na discrdia interna do prprio
indivduo (Einleitung in die Moralwissenschaft. Aalen: Scientia Verlag, 1983. v. 2, p. 360-426), assim como no equvoco
entre o instinto e as aspiraes mais elevadas realidade perturbada que, na falta de melhor expresso, chama vida
(seu Fragment ber die Liebe caracterstico, nesse sentido; ver SIMMEL, G. Das Individuum und die Freiheit. Berlim:
Wagenbach, 1984. p. 19-28). Estamos aqui longe de Bergson, o que por vezes foi dito. O que Simmel chama vida o
carter misto de toda e qualquer realidade, em que essncias, funes ou ordens se misturam ou se contrariam. O amor no
nem essncia una, nem agregado de pulso e de ideal, porm misto no conceitualizvel: eine unlsbare Aufgabe (p. 25).
Sobre o indivduo que no chega a assimilar todo o esprito objetivo (e, por exemplo, a aproveitar plenamente a instituio
dos museus), cf. Das Individuum und die Freiheit, op. cit. p. 90 ss.
23
CHAR, R. Oeuvres compltes. Paris: Bibliothque de la Pliade, 1983. p. 466 e 55; SIMMEL, G. Das Individuum und
die Freiheit, op. cit. p. 87; idem. Philosophische Kultur, op. cit. p. 203.
24
SIMMEL, G. Pilosophische Kultur, op. cit. p. 150.
Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 175-188. 187
Condutas sem crena e obras de arte sem espectador
Paul Veyne
da sensibilidade, mas de uma mudana de categoria. No tempo de Molire, vive-se a paisagem: O
campo, esse ms, no est muito florido, diz um heri de Tartufo. A partir de Chateaubriand, a sensibi-
lidade em relao paisagem tornou-se toda uma arte, com seu vocabulrio e com a obrigao de sentir
o que deve ser sentido. Consequncia: a dificuldade de assegurar a difuso popular das artes porque
no basta deix-las disposio do povo; preciso, principalmente, dar-lhe o sentimento de que nobre
fazer o esforo de se iniciar nesse esprito objetivo que a arte. Pois a cultura, assim como o esporte,
um prazer que exige um esforo. Enfim, falvamos da contradio entre a realidade do cadver e a cren-
a na sobrevivncia dos mortos que preciso alimentar no tmulo: a contradio pode ser vivida sem
dificuldade, pela simples razo de que a experincia do cadver uma experincia, enquanto a crena
no alm algo bem mais elaborado, ou seja, um esprito objetivo. Ora, como os espritos objetivos esto
sempre distantes, s se adere s crenas pela metade, por dever, e rindo delas, quando for o caso.
Topoi, v. 13, n. 24, jan.-jun. 2012, p. 175-188. 188
Vous aimerez peut-être aussi
- Africa em ArtesDocument30 pagesAfrica em ArtesFrancisco Neto100% (2)
- BUTLER, Judith. Relatar A Si Mesmo - Crítica Da Violência Ética PDFDocument132 pagesBUTLER, Judith. Relatar A Si Mesmo - Crítica Da Violência Ética PDFCésar Jeansen Brito100% (2)
- Transconstitucionalismo além de colisõesDocument34 pagesTransconstitucionalismo além de colisõesdaniel_lage_1Pas encore d'évaluation
- Teoria Simplificada Da Posse PDFDocument34 pagesTeoria Simplificada Da Posse PDFCésar Jeansen Brito100% (1)
- Controle das finanças públicas e cidadania fiscalDocument284 pagesControle das finanças públicas e cidadania fiscalCésar Jeansen BritoPas encore d'évaluation
- Ferreira Gullar - AntologiaDocument17 pagesFerreira Gullar - AntologiaNina LeePas encore d'évaluation
- Técnica de redação forense: princípios e boas práticasDocument54 pagesTécnica de redação forense: princípios e boas práticasLeonardo Buglione FilhoPas encore d'évaluation
- Interacionismo SimbólicoDocument16 pagesInteracionismo SimbólicoCésar Jeansen BritoPas encore d'évaluation
- A Revolução de 1817 e o BrasilDocument352 pagesA Revolução de 1817 e o BrasilZenita CorsinoPas encore d'évaluation
- Dez Anos de CNJ Reflexoes Do EnvolvimentDocument16 pagesDez Anos de CNJ Reflexoes Do EnvolvimentCésar Jeansen BritoPas encore d'évaluation
- Murilo MendesDocument78 pagesMurilo MendesRaimon Nix100% (2)
- Contra A Interpretacao Susan SontagDocument43 pagesContra A Interpretacao Susan SontagjcbezerraPas encore d'évaluation
- Outros Críticos. Revista Oc Ed8 Agosto2015 FinalDocument71 pagesOutros Críticos. Revista Oc Ed8 Agosto2015 FinalCésar Jeansen BritoPas encore d'évaluation
- Debaixo Do Pe de UmbuDocument2 pagesDebaixo Do Pe de UmbuCésar Jeansen BritoPas encore d'évaluation
- Teoria Das CoresDocument4 pagesTeoria Das CoresCésar Jeansen BritoPas encore d'évaluation
- Mesa cirúrgica motorizada multifuncionalDocument156 pagesMesa cirúrgica motorizada multifuncionalTatianaPas encore d'évaluation
- D37 (9º ANO - Mat.) - Blog Do Prof. WarlesDocument16 pagesD37 (9º ANO - Mat.) - Blog Do Prof. WarlesKeylla SantosPas encore d'évaluation
- T. MathiesenDocument32 pagesT. MathiesenLiviaMecdoPas encore d'évaluation
- Projeto de Vida Responsabilidade SocialDocument4 pagesProjeto de Vida Responsabilidade SocialIURI DOS SANTOS SILVAPas encore d'évaluation
- Boleto Bradesco ItapevaDocument1 pageBoleto Bradesco Itapevavictor100rosetoPas encore d'évaluation
- Personagens One Pach ManDocument61 pagesPersonagens One Pach ManEduardo RodriguesPas encore d'évaluation
- Direito Penal - 1 - Introdução Ao Direito Penal PDFDocument15 pagesDireito Penal - 1 - Introdução Ao Direito Penal PDFseth_fx8231Pas encore d'évaluation
- Arco HistoricoDocument19 pagesArco HistoricoJosé Pedro CoelhoPas encore d'évaluation
- Res 17-CUn-1997 Regulamento Dos Cursos de Garduação Da UfscDocument30 pagesRes 17-CUn-1997 Regulamento Dos Cursos de Garduação Da Ufscmarcelox2Pas encore d'évaluation
- Gestão Escolar: Funções e ImportânciaDocument21 pagesGestão Escolar: Funções e ImportânciaCândido Ângelo ChapéuPas encore d'évaluation
- CB10.1 PS2 SLIMDocument2 pagesCB10.1 PS2 SLIMcleber-27100% (1)
- Expansão Marítima ListaDocument9 pagesExpansão Marítima ListaRennan Azevedo RamosPas encore d'évaluation
- Gêneros Textuais e Ensino-AprendizagemDocument248 pagesGêneros Textuais e Ensino-AprendizagemMarcos Philipe100% (2)
- A Revolução Social e A Ordem Justa ADocument6 pagesA Revolução Social e A Ordem Justa AAgamenon Soares100% (1)
- A Aventura Da Tartaruga-De-Pente VERSÃO FINALDocument2 pagesA Aventura Da Tartaruga-De-Pente VERSÃO FINALdaniel francinyPas encore d'évaluation
- Confissões de Uma Mente PerigosaDocument6 pagesConfissões de Uma Mente PerigosaVictorPas encore d'évaluation
- FIchamento Do 1º Capitulo Do Conceitos e TemasDocument8 pagesFIchamento Do 1º Capitulo Do Conceitos e TemasIsa MaiaPas encore d'évaluation
- 00 07 08 10 14 - Ensino Fundamental 2 - p0914Document12 pages00 07 08 10 14 - Ensino Fundamental 2 - p0914andre galdinoPas encore d'évaluation
- Pai Contra Mãe - Machado de Assis.Document6 pagesPai Contra Mãe - Machado de Assis.Hugo FreitasPas encore d'évaluation
- Sonja BuckelDocument24 pagesSonja BuckelRafael CasaisPas encore d'évaluation
- O Amor paradoxal de CamõesDocument4 pagesO Amor paradoxal de CamõesVieirasantoswilliam33% (3)
- Analéctos Do TímidoDocument24 pagesAnaléctos Do TímidoAutor Jorge Rodrigues SOS me patrocine, e me ajudePas encore d'évaluation
- PDocument4 pagesPtsunaPas encore d'évaluation
- Bianca - 309 - Victoria Glen - O Canto Da SereiaDocument47 pagesBianca - 309 - Victoria Glen - O Canto Da Sereiaweluha100% (1)
- Muhammad Yunus - O Banqueiro Dos Pobres PDFDocument8 pagesMuhammad Yunus - O Banqueiro Dos Pobres PDFIsa Jean50% (4)
- A Saga Romanesca em Silvino Jacques de Brígido IbanhesDocument122 pagesA Saga Romanesca em Silvino Jacques de Brígido IbanhesConferencistRosePradoPas encore d'évaluation
- História Da Rainha Constância... e Outras HistóriasDocument77 pagesHistória Da Rainha Constância... e Outras HistóriasGraça Carita RodriguesPas encore d'évaluation
- Indução Percutânea de Colágeno com MicroagulhamentoDocument55 pagesIndução Percutânea de Colágeno com MicroagulhamentoYasmin Bandeira100% (1)
- Bula Vermivet Composto PDFDocument2 pagesBula Vermivet Composto PDFElen LimaPas encore d'évaluation
- 1-Indice Dos LivrosDocument42 pages1-Indice Dos LivrossaraoliviaPas encore d'évaluation