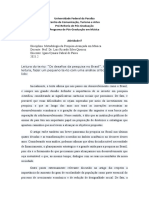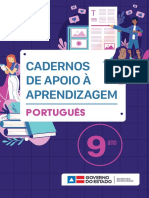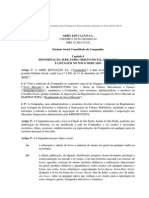Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Por Que Nossa Educação Superior Pública Deve Permanecer Gratuita
Transféré par
sdm_pedroDescription originale:
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Por Que Nossa Educação Superior Pública Deve Permanecer Gratuita
Transféré par
sdm_pedroDroits d'auteur :
Formats disponibles
Escritórios Associados:
Portugal • Argentina • EUA (Flórida) • Angola • Alemanha • China
Mário Sérgio Duarte Garcia Luiz Arthur Caselli Guimarães Marcelo Terra
Mário de Barros Duarte Garcia Luiz Arthur Caselli Guimarães Filho Luis Eduardo Menezes Serra Netto
Silvia Poggi de Carvalho Flávio Augusto Cicivizzo José Carlos Baptista Puoli
Roberto Junqueira S. Ribeiro Paola M Szanto Mendes dos Santos Anna Christina Jimenez Pereira
Natália Japur Eliane Ribeiro Gago Daniel Gustavo Magnane Sanfins
Lucia Silveira Frias Renata Lorena Martins de Oliveira Caio Mário Fiorini Barbosa
Ricardo Luiz Iasi Moura Douglas Nadalini da Silva Vanessa Scuro
Wilson de Toledo Silva Jr Natalie Collet Feitosa Lange Jayr Viegas Gavaldão Jr
Rodrigo Scalamandré Duarte Garcia Francisco Ribeiro Gago Flávio Cascaes de Barros Barreto
Guilherme Caffaro Terra Ana Cristina de Moura Carvalho Gabriela G. Quartucci Guaritá Bento
Antonio Carlos Petto Junior Arthur Liske Francisco Capote Valente
Alexsander Fernandes de Andrade José Antônio Costa Almeida José Guilherme G. Siqueira Dias
Adriana Siqueira Fausto Marcelino André Stein Gabriela Braz Aidar
Fernanda Inhasz Cesar Augusto Alckmin Jacob Nathália de Oliveira Dias Soares
Gabriela Ordine Frangiotti Raquel Guerreiro Braga Bruna G. J. Spinola Leal Costa
Thiago Borges Marra Paulo Roberto Fogarolli Filho Gabriel Bortolato
Debora Lucia Tiemy Sato de Moura Lucas Tavella Michelan Raphael Bittar Arruda
Marina Primiano Benassi Pedro Rizzo Batlouni Marcella Corrêa Martins
Marina Capote Valente
Por que nossa educação superior pública deve permanecer gratuita?
Fez barulho um working paper recentemente publicado pelo Banco Mundial sob
o título “Um Ajuste Justo: Análise da eficiência e equidade do gasto público no
Brasil”. Das 160 páginas do relatório sobre despesas estatais, chamou atenção
um pequeno trecho que foi apenas noticiado, mas não reproduzido.
As notícias diziam que o Banco Mundial recomendava o fim da universidade
pública e gratuita, sendo a gratuidade mantida apenas para os estudantes
parte dos 40% mais pobres da população.
De fato, o trecho do relatório (p. 138) diz o seguinte:
“Uma opção para aumentar os recursos das universidades federais sem
sobrecarregar o orçamento seria a introdução de tarifas escolares. Isso é
justificável, pois o ensino superior oferece altos retornos individuais aos
estudantes e, com base em dados atuais, o acesso privilegia fortemente
estudantes de famílias mais ricas. Paralelamente, é necessário facilitar o
acesso a mecanismos de financiamento para estudantes que não possam
pagar as mensalidades. Felizmente, o Brasil já possui o programa FIES, que
oferece empréstimos estudantis para viabilizar o acesso a universidades
privadas. O mesmo sistema deveria ser expandido para financiar o acesso a
universidades federais. A ampliação do FIES para incluir universidades federais
poderia ser combinada ao fornecimento de bolsas de estudos gratuitas
para os estudantes dos 40% mais pobres da população, por meio do
programa PROUNI. Juntas, essas medidas melhorariam a equidade do sistema
e gerariam uma economia para o orçamento federal de aproximadamente 0,5%
do PIB.”
A lógica faz sentido.
2.
O pensamento por trás da afirmação, de matiz microeconômica, responde ao
ensejo institucionalista de eliminar os “custos sociais” e os “pesos mortos”
criados por “externalidades” sub-tarifadas.
É um fato inquestionável que a mesma educação gratuita para alunos ricos e
pobres beneficia os primeiros – afinal, eles teriam condições de bancar seus
estudos, e mesmo assim disfrutam de uma educação gratuita, a mesma que se
oferece ao aluno pobre.
Na prática, a situação é ainda pior. A maior parte do alunado pobre sequer
desfruta da educação superior gratuita, em razão da deficiência ou da
incompletude de sua formação prévia; é esta a grande parte do corpo discente
das instituições privadas, bancada por meio do FIES, PROUNI, ou apenas por
muito suor para pagar a mensalidade universitária.
No fim, o aluno pobre mal consegue acessar o sistema superior de educação
gratuito e aquele que consegue não possui nenhuma vantagem competitiva
com o aluno rico que se gradua na mesma instituição.
A lógica, de fato, é boa e leva o órgão a concluir pela adoção de “tarifas
escolares” no ensino superior que hoje conhecemos como público e gratuito.
Mas o Banco Mundial está errado.
Não está errado na previsão de economia do PIB que a medida proposta traria.
Está errado em acreditar que essa é uma política pública “eficiente”. O grande
problema do mote da eficiência – que rege as 160 páginas do complexo
relatório – é seu aspecto reducionista. Olha apenas para a alocação
microeconômica dos recursos, e não é capaz de desvendar os quadros
políticos que perpassam as “alocações de recursos”.
Afinal, por que o ensino superior público, no Brasil, é gratuito?
A pergunta ainda mais adequada talvez seja: ao bancar o ensino gratuito, o
que o Estado está, de fato, pagando?
Para o Banco Mundial, trata-se apenas de indivíduos (não é culpa do órgão, ele
se submete aos dogmas econômicos neoclássicos), de modo que o Estado
estaria pagando pela formação individual de uma série de pessoas. Por se
beneficiarem, individualmente, dessa formação, seria justo (e eficiente),
precificar essa “externalidade” que é positiva para quem dela desfruta, mas que
gera distorções (entre o aluno pobre e o rico, e entre os alunos e o resto da
sociedade, que arca com tudo isso).
A visão microeconômica dá detalhes sobre as pequenas dinâmicas de custos
na educação superior pública – funciona como uma lente de zoom. Mas, para
vermos o quadro todo, precisamos de uma lente mais larga, uma grande
3.
angular que amplie o cenário e nos leve a pensar por que o Estado mantém
esse custoso controle da educação superior.
Afinal é isso que o Estado paga ao bancar a gratuidade das suas instituições
de ensino superior: o controle.
As universidades públicas no Brasil constituem um verdadeiro “monopólio”, ou,
ao menos, um forte agente na “economia” das cabeças pensantes e da
produção de conhecimento.
Ao manter a gratuidade, a um custo altíssimo, é verdade, o Estado consegue
afastar outros “players” interessados em controlar as universidades por meio do
gargalo financeiro, da dependência econômica.
Enquanto o Estado garantir autonomia às universidades, a manutenção da
gratuidade significa o máximo de liberdade de pesquisa dentro das instituições
superiores.
Sabemos todos que, na prática, a liberdade de pesquisa sofre muitas
limitações de pequenos jogos políticos e burocráticos, mas isso não se
compara, nem de longe, com a limitação que sofreria se dependesse
economicamente de agentes múltiplos, os quais são incapazes de manter um
mínimo compromisso com a liberdade de cátedra.
Mesmo durante a Ditadura Militar, nossa estrutura pública de ensino superior
conseguiu manter vivas diversas tradições liberais (de esquerda e de direita),
por exemplo. Isso significa que um dos maiores méritos da nossa burocracia
tem sido, no Século XX, a manutenção de boas estruturas de financiamento
universitário – estruturas que ajudaram professores e alunos a não alienar sua
parcela produtiva por razões econômicas.
Se o financiamento da educação superior vier dos alunos, ou seja, se a renda
universitária for de fato vinculada ao “serviço prestado”, o alunado pagante
torna-se verdadeiro credor do sistema de ensino superior.
Claro, o nome das instituições é muito forte e certamente não deve ruir face à
pressão de pequenos grupos econômicos. Mas não existe placa forte o
suficiente quando se precisa pagar as contas.
No momento em que o alunado (rico) se torna o mantenedor, ele pode usar seu
poder econômico para exercer poder político na Universidade, e é nesse
instante que a liberdade acadêmica se esvai, matando um projeto de
resistência do livre pensamento.
O fato de nossa política pública de educação superior ser “inclusiva” apenas
intensifica a situação. Por inclusiva entenda-se: as melhores universidades
públicas do Brasil são enormes em números, tanto de professores, quanto de
alunos e funcionários.
4.
Nunca foi parte da política educacional brasileira criar uma Ivy League – o
círculo formado pela nata das universidades estadunidenses, como Yale,
Harvard e Columbia. São universidades enxutas, com turmas pequenas, e alto
rendimento.
A USP e as grandes federais abarcam uma quantidade grande de alunos, em
grandes turmas, em grandes salas, para acelerar a profissionalização em
nosso país continental. Ao mesmo tempo, a seleção rigorosa de professores
mantém uma tradição de boa pesquisa para além dos intuitos
profissionalizantes, o que ajuda a conservar nossas instituições menos afetas a
políticas de governo massificadas.
Certamente, estou jogando luz no que nosso sistema possui de bom, mas não
é por desconhecer os inúmeros defeitos da nossa educação superior gratuita –
é apenas para mostrar o que perderíamos ao jogar o controle financeiro das
nossas universidades nas mãos de credores privados.
Por fim, é preciso dizer que a orientação do Banco Central não precisaria ser
de todo rechaçada.
Já que alunos ricos estudam nas instituições públicas, por que não os
taxamos? A medida pode ser justa, desde que desvinculada do orçamento
universitário, ou seja, desde que o orçamento seja sempre garantido pelo
Estado e o que for cobrado – apenas dos ricos – constitua receita extra, a ser
investida na própria universidade.
Meu sexto sentido – nada além disso – insiste em me dizer que, ainda assim,
correríamos o risco da tentação de “desonerar” o Estado vinculando a receita
universitária ao que vier a ser angariado do alunado pagante. Talvez.
Justamente por isso, continuo achando melhor que a receita universitária seja
pública e que usemos nossa criatividade para desenvolver outras formas de
financiamento da educação pública, sem colocar em risco nossa tão cara
liberdade acadêmica.
Vous aimerez peut-être aussi
- Fundamentos Da EducaçãoDocument212 pagesFundamentos Da EducaçãoGreice Tavares De Souza Rocha67% (3)
- História Da Educação LIVRO - UNICODocument268 pagesHistória Da Educação LIVRO - UNICOLaudineia Sartore100% (1)
- Serious GamesDocument175 pagesSerious GamesGustavo LinharesPas encore d'évaluation
- Perfil No Petit Lenormand PDFDocument39 pagesPerfil No Petit Lenormand PDFzanaPas encore d'évaluation
- Livro PDFDocument235 pagesLivro PDFMaicon BackesPas encore d'évaluation
- Física ModernaDocument57 pagesFísica ModernaWWW.CURSODEFISICA.COM.BRPas encore d'évaluation
- Desafios da educação, direitos humanos a transcendênciaD'EverandDesafios da educação, direitos humanos a transcendênciaPas encore d'évaluation
- Negocio Da Educacao FEPESP HD-Aprimorado-14mai19Document168 pagesNegocio Da Educacao FEPESP HD-Aprimorado-14mai19joao rochaPas encore d'évaluation
- 1001 Proverbios em Constraste PDFDocument116 pages1001 Proverbios em Constraste PDFAlexandre Borba Diógenes MachadoPas encore d'évaluation
- O Código de Cores de Jeff CooperDocument8 pagesO Código de Cores de Jeff Cooperdiogoss7880100% (1)
- Fundamentos Da Educação - 135x205Document208 pagesFundamentos Da Educação - 135x205Dudu Vargas100% (1)
- Responsabilidade social das empresas: A contribuição das universidades vol. 7D'EverandResponsabilidade social das empresas: A contribuição das universidades vol. 7Pas encore d'évaluation
- Konrad LorenzDocument4 pagesKonrad LorenzTatiane CristinaPas encore d'évaluation
- Vouchers na Educação: O Pobre e o Rico na mesma EscolaD'EverandVouchers na Educação: O Pobre e o Rico na mesma EscolaPas encore d'évaluation
- Inclusao e Educação 5 1Document249 pagesInclusao e Educação 5 1João AzevedoPas encore d'évaluation
- Direitos Sociais - O Artigo 6º Da Constituição Federal e Sua EfetividadeDocument274 pagesDireitos Sociais - O Artigo 6º Da Constituição Federal e Sua EfetividadeAmanda EvansPas encore d'évaluation
- Educar É LibertarDocument228 pagesEducar É LibertarDaniel KelcheskiPas encore d'évaluation
- Interconexão de SaberesDocument274 pagesInterconexão de SaberesBianca AcamporaPas encore d'évaluation
- BIBLIOTECONOMIADocument174 pagesBIBLIOTECONOMIA070281Pas encore d'évaluation
- Avaliações externas na educação básica: contextos, políticas e desafioD'EverandAvaliações externas na educação básica: contextos, políticas e desafioPas encore d'évaluation
- Entrevista Com José Carlos Libâneo - Nogueira David - Pensar A PráticaDocument8 pagesEntrevista Com José Carlos Libâneo - Nogueira David - Pensar A PráticaAdriana SouzaPas encore d'évaluation
- Legislação Da EducaçãoDocument70 pagesLegislação Da EducaçãoTamara AlmeidaPas encore d'évaluation
- Educacaoja2022 Abril02 TodospelaeducacaoDocument75 pagesEducacaoja2022 Abril02 TodospelaeducacaoPatty ReginaPas encore d'évaluation
- Educacao Superior Na (Pos) Pandemia Livraria VirtualDocument328 pagesEducacao Superior Na (Pos) Pandemia Livraria VirtualMauricio SilvaPas encore d'évaluation
- E-Book Quando A Pesquisa ContaDocument145 pagesE-Book Quando A Pesquisa ContaTheresaPas encore d'évaluation
- Ebook Temas Emergentes Educacao 120200716 4978 Mbjxd3 With Cover Page v2Document257 pagesEbook Temas Emergentes Educacao 120200716 4978 Mbjxd3 With Cover Page v2Tatiane OliveiraPas encore d'évaluation
- Ep1 PDFDocument59 pagesEp1 PDFLuci ManteufelPas encore d'évaluation
- 5 - Políticas Públicas Educação MatemáticaDocument91 pages5 - Políticas Públicas Educação MatemáticaEDUARDOPas encore d'évaluation
- Educação Pública No Brasil: Ao Mesmo Tempo Adoecida e AdoecedoraDocument6 pagesEducação Pública No Brasil: Ao Mesmo Tempo Adoecida e Adoecedora8cgswdvtmbPas encore d'évaluation
- 6 Ano Vol 1 Aluno WebDocument212 pages6 Ano Vol 1 Aluno WebCesar Lima LimaPas encore d'évaluation
- SociologiaDocument34 pagesSociologiaSamaraPas encore d'évaluation
- Curso Lic Soc Economia PoliticaDocument106 pagesCurso Lic Soc Economia PoliticaJefferson CabralPas encore d'évaluation
- E Book Educacao em Saude e Direitos Sexuais e Reprodutivos Na AdolescenciaDocument75 pagesE Book Educacao em Saude e Direitos Sexuais e Reprodutivos Na AdolescenciaveraPas encore d'évaluation
- Quadrantes Hibridos WEBDocument69 pagesQuadrantes Hibridos WEBMarceloPas encore d'évaluation
- Relatório Temático Sociologia - Desigualdades Na EducaçãoDocument14 pagesRelatório Temático Sociologia - Desigualdades Na EducaçãoBeatriz MatosPas encore d'évaluation
- Ensino Superior & Assistência EstudantilD'EverandEnsino Superior & Assistência EstudantilPas encore d'évaluation
- PegeDocument18 pagesPegeFINANCEIRO DA CAPOPas encore d'évaluation
- Tecnologia Assistiva E Comunicação AlternativaDocument60 pagesTecnologia Assistiva E Comunicação AlternativaMarivieira GuerreiroPas encore d'évaluation
- RedaçãoDocument4 pagesRedaçãoMariana AzevedoPas encore d'évaluation
- Bio Botanica PDFDocument48 pagesBio Botanica PDFAlberto Alves100% (1)
- Psicologia Social - 1Document48 pagesPsicologia Social - 1Jennifer SchardosimPas encore d'évaluation
- Pandemias e Pandemonio-Docencia2020Document32 pagesPandemias e Pandemonio-Docencia2020Crist MiyuPas encore d'évaluation
- Um diagnóstico da educação brasileira e de seu financiamentoD'EverandUm diagnóstico da educação brasileira e de seu financiamentoPas encore d'évaluation
- Revista de Tecnologia Educacional 2017 - 219 PDFDocument131 pagesRevista de Tecnologia Educacional 2017 - 219 PDFAnonymous B5xHxDDKWdPas encore d'évaluation
- Tarefa 5Document2 pagesTarefa 5Igara CabralPas encore d'évaluation
- Atuação e Expansão da Empresa Kroton Educacional na Educação BásicaD'EverandAtuação e Expansão da Empresa Kroton Educacional na Educação BásicaPas encore d'évaluation
- Gestão Escolar e Politicas PúblicasDocument158 pagesGestão Escolar e Politicas PúblicaseduardoPas encore d'évaluation
- EssetextoDocument6 pagesEssetextomagolobo7.hue.brPas encore d'évaluation
- EM 2 Série Vol 1 WebDocument220 pagesEM 2 Série Vol 1 WebdAYANNEPas encore d'évaluation
- Libertarianismo: O que não ensinam nas Escolas & FaculdadesD'EverandLibertarianismo: O que não ensinam nas Escolas & FaculdadesPas encore d'évaluation
- Projeto Integrador FormatadoDocument26 pagesProjeto Integrador FormatadoAna Isabele SantosPas encore d'évaluation
- FilSocAplSau PEGEDocument16 pagesFilSocAplSau PEGEEdilaine AlvesPas encore d'évaluation
- 202Document75 pages202KAIS RICARDO NIDAL HUSEINPas encore d'évaluation
- Livro de Resumo Webinario de Formação de Professores Esalq UspDocument460 pagesLivro de Resumo Webinario de Formação de Professores Esalq UspApoio tutoria 12 Fac São LuísPas encore d'évaluation
- 29 Educacao Infantil em Debate 1510324644Document116 pages29 Educacao Infantil em Debate 1510324644Ana Barbara Dos SantosPas encore d'évaluation
- Apostila - Concurso Vestibular - Biologia - Módulo 01Document48 pagesApostila - Concurso Vestibular - Biologia - Módulo 01adenilza silvaPas encore d'évaluation
- Terceiro Setor, Voluntariado e Responsabilidade SocialDocument50 pagesTerceiro Setor, Voluntariado e Responsabilidade SocialJanaína BeloPas encore d'évaluation
- 2034 677 PBDocument188 pages2034 677 PBrmsoaresPas encore d'évaluation
- Educação Formação e TransformaçãoDocument341 pagesEducação Formação e TransformaçãoFrancis Mary RosaPas encore d'évaluation
- A Educação Que Temos e A Que QueremosDocument3 pagesA Educação Que Temos e A Que QueremosJanaina RomãoPas encore d'évaluation
- Texto Interessante para Se Inspirar para EscritaDocument230 pagesTexto Interessante para Se Inspirar para EscritaLayanne Christinne dos Passos MiguensPas encore d'évaluation
- Caderno Do 9º Ano I UnidadeDocument35 pagesCaderno Do 9º Ano I UnidadeCarla LopesPas encore d'évaluation
- Institutes and InstitutionsDocument18 pagesInstitutes and Institutionssdm_pedroPas encore d'évaluation
- BrandãoDocument4 pagesBrandãosdm_pedroPas encore d'évaluation
- Carvalho - Sobre As Possibilidades de Uma Penologia Critica Polis e Psique - LibreDocument22 pagesCarvalho - Sobre As Possibilidades de Uma Penologia Critica Polis e Psique - Librerarbesun100% (1)
- Sin ThomaDocument8 pagesSin Thomasdm_pedroPas encore d'évaluation
- ABRE - Estatuto Social - AGOE 30-04-2015Document23 pagesABRE - Estatuto Social - AGOE 30-04-2015sdm_pedroPas encore d'évaluation
- O Princípio Do - Nemo Tenetur Se Detegere - em Operações de M&ADocument4 pagesO Princípio Do - Nemo Tenetur Se Detegere - em Operações de M&Asdm_pedroPas encore d'évaluation
- BEVILÁQUA, Conceito de EstadoDocument13 pagesBEVILÁQUA, Conceito de Estadosdm_pedroPas encore d'évaluation
- Bataille WikDocument3 pagesBataille Wiksdm_pedroPas encore d'évaluation
- File 1541Document18 pagesFile 1541sdm_pedroPas encore d'évaluation
- Individualização Da Pena e Jurisprudência Penal PDFDocument5 pagesIndividualização Da Pena e Jurisprudência Penal PDFsdm_pedroPas encore d'évaluation
- Metodo Critica Mito-LibreDocument31 pagesMetodo Critica Mito-Libresdm_pedroPas encore d'évaluation
- Aspectos Do Mal - Reflexões Filosófico-Teológicas.Document12 pagesAspectos Do Mal - Reflexões Filosófico-Teológicas.sdm_pedroPas encore d'évaluation
- Hermenêutica Jurídica - Norma e CompreensãoDocument21 pagesHermenêutica Jurídica - Norma e Compreensãosdm_pedroPas encore d'évaluation
- As Regras Do JogoDocument2 pagesAs Regras Do Jogosdm_pedroPas encore d'évaluation
- 02 Apostila Versao Digital Raciocinio Logico 711.164.834 08 1575414017 PDFDocument107 pages02 Apostila Versao Digital Raciocinio Logico 711.164.834 08 1575414017 PDFLucas AntônioPas encore d'évaluation
- Bilhete Ao FuturoDocument3 pagesBilhete Ao FuturoOliver Fausti OliverPas encore d'évaluation
- Amigo de VerdadeDocument3 pagesAmigo de VerdadeMarlon DonadonPas encore d'évaluation
- O 24Document10 pagesO 24cartografia escolarPas encore d'évaluation
- Acordo Ortográfico de 1990Document15 pagesAcordo Ortográfico de 1990Jonatan TiagoPas encore d'évaluation
- Paper ProntoDocument25 pagesPaper ProntoLuanaRodriguesPas encore d'évaluation
- Ética Empresarial Na PráticaDocument36 pagesÉtica Empresarial Na PráticaIsabela FrançaPas encore d'évaluation
- Sabrina - 147 - Sara Craven - O Templo Da LuaDocument110 pagesSabrina - 147 - Sara Craven - O Templo Da LuaAna RamosPas encore d'évaluation
- 40 Autonomia, Pós-Autonomia, An-AutonomiaDocument13 pages40 Autonomia, Pós-Autonomia, An-AutonomiaMatheus Reiser MullerPas encore d'évaluation
- Análise Crítica - Mentes PerigosasDocument7 pagesAnálise Crítica - Mentes PerigosasAdriana LoiolaPas encore d'évaluation
- Competências Gerenciais AP2Document4 pagesCompetências Gerenciais AP2Eduardo CanavarroPas encore d'évaluation
- Mudança de HábitosDocument4 pagesMudança de HábitosEric SantosPas encore d'évaluation
- Apol4 Gestao de ProjetosDocument4 pagesApol4 Gestao de ProjetosSilvanoPas encore d'évaluation
- Estudo Comparativo Entre As Diferentes Perspectivas EstratégicasDocument13 pagesEstudo Comparativo Entre As Diferentes Perspectivas EstratégicasRicardo PajéPas encore d'évaluation
- Mestre FinezasDocument9 pagesMestre FinezasSónia BaptistaPas encore d'évaluation
- Motivação Intrínseca e ExtrínsecaDocument1 pageMotivação Intrínseca e ExtrínsecaEduardo AmorimPas encore d'évaluation
- Anexo I-Como Elaborar o Projeto Laborat - 363rio de Informatica PDFDocument3 pagesAnexo I-Como Elaborar o Projeto Laborat - 363rio de Informatica PDFGiuliano BitencourtPas encore d'évaluation
- Segura Que o Filho É Teu - Jorge RaskolnikovDocument7 pagesSegura Que o Filho É Teu - Jorge RaskolnikovKatia CristinaPas encore d'évaluation
- Como Ordenar IdeiasDocument4 pagesComo Ordenar Ideiasgeovani789Pas encore d'évaluation
- EFT & EmoTranceDocument4 pagesEFT & EmoTranceandramattaPas encore d'évaluation
- 10 - A Ética e Os Negócios InternacionaisDocument2 pages10 - A Ética e Os Negócios InternacionaisMario Luis Tavares FerreiraPas encore d'évaluation
- Graciliano Os Corumbas PDFDocument6 pagesGraciliano Os Corumbas PDFVilma QuintelaPas encore d'évaluation
- Neurose Obsessiva Rubia Delorenzo PDF - Pesquisa GoogleDocument4 pagesNeurose Obsessiva Rubia Delorenzo PDF - Pesquisa GoogleLuiz Ricardo Pauluk0% (1)
- Reconciliar História e Memória - Philippe - JoutardDocument14 pagesReconciliar História e Memória - Philippe - JoutardRogério IvanoPas encore d'évaluation
- O Que Toca À Psicologia EscolarDocument5 pagesO Que Toca À Psicologia EscolarChris ZaharoffPas encore d'évaluation
- Guia Roteiros Brasilia 11x15 - PortuguesDocument73 pagesGuia Roteiros Brasilia 11x15 - PortuguesirerePas encore d'évaluation