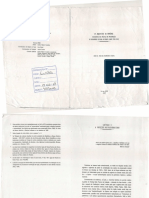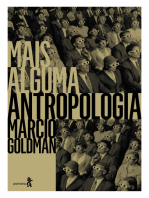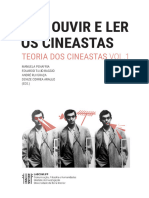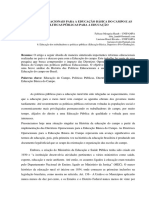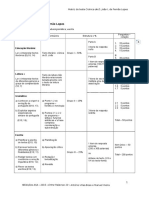Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
A Experiência Da Imagem Final
Transféré par
mvdevolderTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
A Experiência Da Imagem Final
Transféré par
mvdevolderDroits d'auteur :
Formats disponibles
A EXPERIÊNCIA DA IMAGEM
NA ETNOGRAFIA
A experiência da imagem 2p.indd 1 14/09/2016 14:27:37
A experiência da imagem 2p.indd 2 14/09/2016 14:27:48
A EXPERIÊNCIA DA IMAGEM
NA ETNOGRAFIA
ORGANIZADORES
ANDREA BARBOSA
EDGAR TEODORO DA CUNHA
ROSE SATIKO G. HIKEJI
SYLVIA CAIUBY
A experiência da imagem 2p.indd 3 14/09/2016 14:27:48
Coleção Antropologia Hoje
Conselho Editorial José Guilherme Cantor Magnani
(diretor) – NAU/USP
Luiz Henrique de Toledo – UFSCar
Renata Menezes – MN/UFRJ
Ronaldo de Almeida – Unicamp/Cebrap
Luis Felipe Kojima Hirano (coord.) – FSC/UFG
Copyright do texto © dos autores
Nesta edição, respeitou-se o novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.
Direção
Mary Lou Paris
Assessoria
Dominique Ruprecht Scaravaglioni
Preparação e Revisão
Luciana Araujo
Projeto gráfico
Antonio Kehl
Vendas
info@wmfmartinsfontes.com.br
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Vagner Rodolfo CRB-8/9410
E96 A experiência da imagem na etnografia / Andréa Barbosa ...
[et al.]. – São Paulo : Terceiro Nome, 2016.
335 p ; 16cm x 23cm.
ISBN: 978-85-7816-197-2
1. Etnografia. 2. Fotografia. I. Barbosa, Andréa. II. Título.
CDD 390
2016-259 CDU 39
Índice para catálogo sistemático:
1. Etnografia 390
2. Etnografia 39
Todos os direitos desta edição reservados à
EDITORA TERCEIRO NOME
Rua Prof. Laerte Ramos de Carvalho, 133
Bela Vista - São Paulo (SP) - 01325-030
www.terceironome.com.br
contato@terceironome.com.br
fone 55 11 32938150
A experiência da imagem 2p.indd 4 14/09/2016 14:27:48
Sumário
9 Apresentação
ANDRÉA BARBOSA, EDGAR TEODORO DA CUNHA,
ROSE SATIKO GITIRANA HIKIJI E SYLVIA CAIUBY NOVAES
19 Prefácio – Imagem e experiência
MARCO ANTONIO GONÇALVES
27 I. Cinema e Antropologia
29 Olho mecânico, ouvido eletrônico, e a atração da
autenticidade
TRINH T. MINH-HA
37 Etnoficção: uma ponte entre fronteiras
ALEXANDRINE BOUDREAULT-FOURNIER, ROSE SATIKO GITIRANA HIKIJI
E SYLVIA CAIUBY NOVAES
59 Narrativas: a verdade velada do documentário etnográfico?
PAUL HENLEY
87 Filmes indígenas no Brasil: trajetória, narrativas e vicissitudes
NADJA MARIN E PAULA MORGADO
109 A análise fílmica na antropologia: tópicos para uma proposta
teórico-metodológica
BRUNA TRIANA E DIANA GÓMEZ
A experiência da imagem 2p.indd 5 14/09/2016 14:27:48
127 O corpo no cinema
DAVID MACDOUGALL
151 II. Fotografia e Etnografia
153 Rastreando a fotografia
ELIZABETH EDWARDS
191 Fotografia, narrativa e experiência
ANDREA BARBOSA
205 Alguns apontamentos sobre fotografia, magia e fetiche
ALICE VILLELA E VITOR GRUNVALD
229 Objeto, imagem e percepção: forma e contemplação dos
altares do Horto
EWELTER ROCHA
245 III. Experiências Transdisciplinares
247 A intermitência das imagens: exercício para uma possível
memória visual Bororo
EDGAR TEODORO DA CUNHA
261 Montagem, teatro antropológico e imagem dialética
CAROLINA ABREU E VITOR GRUNVALD
285 Somos afetados: experiências mágicas e imagéticas no campo
religioso
FRANCIROSY CAMPOS BARBOSA
307 Etnografia e hipermídia: a cidade como hipertexto e as redes
de relações nas ruas em Niterói/RJ
ANA LÚCIA MARQUES CAMARGO FERRAZ
325 Posfácio – Dos dispositivos de resposta à experiência
etnográfica
CATARINA ALVES COSTA
333 Sobre os autores
A experiência da imagem 2p.indd 6 14/09/2016 14:27:48
339 DVD – Etnografia em imagens e sons
Allah, Oxalá na trilha Malê
DIR. FRANCIROSY CAMPOS BARBOSA
Baile para matar saudades
DIR. ÉRICA GIESBRECHT
Beata, uma santa que não sorri
DIR. EWELTER ROCHA
Danzas para Mamacha Carmen
DIR. ARISTOTELES BARCELOS NETO
Fabrik Funk
DIR. ALEXANDRINE BOUDREAULT-FOURNIER, ROSE SATIKO G. HIKIJI E SYLVIA CAIUBY
NOVAES
O aprendiz do samba
DIR. ANA LÚCIA FERRAZ
Pimentas nos olhos (Pepper in the Eyes)
DIR. ANDRÉA BARBOSA E FERNANDA MATOS
Vende-se pequi
DIR. ANDRÉ LOPES E JOÃO PAULO KAYOLI
trans_versus 1
DIR. VITOR GRUNVALD
A experiência da imagem 2p.indd 7 14/09/2016 14:27:48
A experiência da imagem 2p.indd 8 14/09/2016 14:27:48
Apresentação
ANDRÉA BARBOSA, EDGAR TEODORO DA CUNHA,
ROSE SATIKO GITIRANA HIKIJI E SYLVIA CAIUBY NOVAES
Imagine there’s no heaven You may say, I’m a dreamer
It’s easy if you try But I’m not the only one
No hell below us I hope someday you’ll join us
Above us only sky And the world will be as one
Imagine all the people Imagine no possessions
Living for today I wonder if you can
No need for greed or hunger
Imagine there’s no countries A Brotherhood of man
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for Imagine all the people
And no religion too Sharing all the world
Imagine all the people You may say, I’m a dreamer
Living life in peace But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will live as one.
Imagine – John Lennon. 1971
A experiência da imagem 2p.indd 9 14/09/2016 14:27:48
10 Foram três projetos temáticos financiados pela FAPESP, entre 1997 e 2015,
todos eles em torno da imagem numa perspectiva antropológica do qual par-
ticiparam pesquisadores do GRAVI – Grupo de Antropologia Visual, da USP.
Este livro é um de seus muitos resultados. A possibilidade de trazer para uma
das disciplinas das ciências sociais, a antropologia, um tema que sempre esteve
presente em toda a sua história, mas nunca como foco central, foi o objetivo
que atravessou todos esses temáticos. E os resultados foram animadores.
Nos anos 1970, quando aqui no Brasil vivíamos a repressão ao lado da eclo-
são de movimentos libertadores, como o movimento hippie, as imagens que
expressavam essa bandeira libertária eram tão fortes que algumas delas só se
traduziam pela imaginação, como na música de John Lennon. Na antropolo-
gia, a chamada crise da representação, que se expressa de modo evidente na
publicação de James Clifford e George Marcus em 1986, busca novas poéticas
e novas políticas para a etnografia, como bem o diz o subtítulo de Writing
Culture. Desde nosso primeiro temático esse contexto da disciplina a procura
de novas linguagens para a etnografia, que não deixasse de lado o imaginário, é
o pano de fundo de nossos trabalhos, e é na imagem que resolvemos apostar.
Imagens fixas e em movimento, estratégicas tanto como recursos da investiga-
ção quanto como possibilidade de construir um discurso em que pudéssemos
apresentar nossos resultados de pesquisa. Elegemos também imagens várias –
fotografias, filmes, artes visuais, imagens cênicas – como o universo empírico a
que dedicaríamos nossas análises. Se era texto o que antropólogos produziam
em campo e em suas etnografias, nosso objetivo desde o princípio era aliar ao
texto uma nova poética experimental centrada na imagem, que nos colocasse
mais próximos de nossos interlocutores de pesquisa e ao mesmo tempo do
público a que se destina o resultado de nossos trabalhos. Partimos da premissa
de David MacDougall (The Visual in Anthropology, 1997) de que a imagem
engaja o espectador a partir da familiaridade (“acquaintance”) e permite uma
percepção que é, simultaneamente, racional e sensível.
A busca por essa nova poética foi, desde o início, acompanhada de um par-
tilhar da autoria de nossos trabalhos com nossos interlocutores em campo,
numa relação de intersubjetividade efetiva e, ao mesmo tempo, de inúmeras
possibilidades de interface entre a antropologia e outros campos disciplina-
res, como a fotografia, o cinema, o teatro, a música, as artes de modo geral.
É nessas interfaces, nessas possibilidades de contato e contágio entre esses
diferentes campos disciplinares que fomos beber em busca de novas formas
expressivas para nosso trabalho, com a certeza de que nossos resultados são
sempre incompletos e fragmentários.
A experiência da imagem 2p.indd 10 14/09/2016 14:27:48
Se, por um lado, imagens têm no visualismo a sua possibilidade de emergência, 11
Apresentação
sua apropriação pela pesquisa antropológica permite uma via mais fértil ao
imaginário, às experiências sensoriais, a toda a pletora de sentidos que não se
restringem a simplesmente olhar e descrever, mas a uma experiência sensorial
sinestésica, que não deixa de lado gestos, olhares, posturas e movimentos.
Temas clássicos da antropologia como espaço, memória, corpo e religiosidade,
experiência e performance, para citar apenas alguns que aparecem nos vários
artigos deste livro, têm a partir da imagem uma perspectiva analítica inovadora.
Por outro lado, nas imagens construídas em pesquisa, nossos interlocutores
se tornam presentes de modo visível, a partir do modo como desejam que
sua presença seja divulgada. Nesse sentido, todo o processo de construção da
etnografia não aparece como algo que se dilua por trás da autoridade de seu
autor, mas como algo que explicitamente emerge da relação entre o pesquisador
e seus interlocutores no campo. A autenticidade de nossos trabalhos não está
naquilo que é filmado, fotografado ou sobre o qual escrevemos, mas na relação
entre quem pesquisa e quem é pesquisado. O que procuramos fazer é construir
em imagens a experiência do encontro e dos motivos para este encontro. E é
a ética dessa relação que será vista como estética pelo espectador.
Foi exatamente o engajamento que a imagem provoca e propicia que nos levou
a experimentar e fazer da imagem o foco de nossa experiência etnográfica,
seja a partir de fotografias, filmes ou das imagens que resultam das novas tec-
nologias de informação e que se revelam nas redes sociais e nas possibilidades
de uso do hipertexto.
Além de autores que vêm trabalhando especificamente com imagens fílmicas
e fotográficas como Jean Rouch, Catarina Alves Costa, David MacDougall,
Trinh Minh-Ha, Paul Henley, Eduardo Coutinho e João Moreira Sales, Eliza-
beth Edwards, Etienne Samain, Susan Sontag, Barbara Glowcewski, autores
da antropologia contemporânea como Alfred Gell, Bruno Latour, Carlo Severi,
Jeanne Favret-Saada, Michael Taussig, Richard Schechner, Roy Wagner, Tim
Ingold, Georges Didi-Huberman, Giorgio Agamben e clássicos como Walter
Benjamin, Aby Warburg e Frances Yates foram também referências importantes
ao longo de nossas pesquisas.
Três seções compõem esse livro. Dos catorze artigos aqui reunidos, dez foram
escritos por pesquisadores do GRAVI, e metade desses artigos é resultado de
coautoria, pois nosso objetivo era exatamente colocar em perspectiva com-
parativa o resultado de nossas pesquisas. Incluímos igualmente a tradução
de quatro trabalhos de alguns desses autores mencionados e que nos foram
inspiradores ao longo dos anos.
A experiência da imagem 2p.indd 11 14/09/2016 14:27:49
12 I. Cinema e antropologia
O flerte entre cinema e antropologia data dos primórdios dessas duas invenções.
O cinematógrafo, desde suas primeiras sessões no fim do século XIX, encanta
com a projeção de imagens cotidianas – estações de trem, saídas de fábrica,
refeições de bebês – e também acessa universos extraordinários – danças afri-
canas, cerimônias aborígenes. Cineastas e antropólogos percebem o potencial da
máquina mimética (Michael Taussig: Mimesis and Alterity, 1993) para a pesquisa
e para o entretenimento. Desde então, para a antropologia, o cinema se apresen-
ta seja como instrumento de pesquisa, linguagem com potencial de expressão
de conhecimento ou mesmo veículo de representações, valores, ideias, ethos,
códigos, dentre outras coisas que investigamos quando olhamos para o mundo.
Os artigos reunidos na primeira parte deste livro propõem reflexões acerca
das diversas apropriações do cinema pela antropologia. Potenciais e limites do
filme etnográfico, especificidades da narrativa audiovisual produzida por povos
indígenas, questões teóricas e metodológicas para a análise fílmica antropoló-
gica, e a relação entre corpo e cinema são alguns dos temas aqui abordados.
Iniciamos a seção com um artigo que lança um olhar questionador à tradição
do documentário e do filme etnográfico, a qual, segundo Trinh T. Minh-Ha,
perpetua “o mito da ‘naturalidade’ cinemática”. A cineasta, compositora, poeta
e ensaísta vietnamita aponta para a construção da autenticidade no cinema
de observação por meio de recursos técnicos e de linguagem como o plano
longo, a câmera na mão e o som sincronizado. Uma visão radical que aponta
para a necessidade da reflexão acerca da construção de representações e da
desnaturalização do ato de filmar como meio de registro e captura do real.
A experiência de construção de uma etnoficção, narrada por Alexandrine
Boudreault-Fournier, Rose Satiko Hikiji e Sylvia Caiuby Novaes no segundo
artigo desta seção, é proposta como estratégia narrativa e caminho epistemo-
lógico para a antropologia. As autoras, diretoras do filme Fabrik Funk, uma
etnoficção acerca do universo funk na periferia paulistana, inspiram-se na obra
de Jean Rouch, antropólogo-cineasta que não aceita a separação entre arte e
ciência, real e imaginário. No artigo, discutem as especificidades da ficção
neste processo de produção de conhecimento. Estão em foco os dispositivos
da improvisação por parte de atores que encenam vidas muito próximas às
suas, da criação do roteiro do filme com Daniel Hylario, morador e artivista da
localidade e da produção do filme em parceria com os protagonistas, que são
agentes do mundo do funk no contexto estudado. A etnografia como ato de
performance e mise-en-scène é o resultado da experiência discutida no artigo.
A experiência da imagem 2p.indd 12 14/09/2016 14:27:49
São as convenções narrativas do filme etnográfico o objeto da análise de Paul 13
Apresentação
Henley no terceiro artigo desta sessão. O experiente antropólogo e diretor do
Granada Centre for Visual Anthropology discute o problema da narrativa em
uma tradição que se estabeleceu baseada em uma “retórica empírica”, com
“a pretensão de estar fornecendo ao público acesso direto ao mundo que está
sendo representado”. Henley analisa algumas formas narrativas presentes
em obras clássicas e contemporâneas do cinema etnográfico. Por fim, defen-
de que nos livremos da herança positivista das ciências naturais, aceitando
que todos os filmes etnográficos são representações, envolvem necessariamente
narrativas e, portanto, devemos nos dedicar a conhecer as convenções para
usá-las de forma adequada.
O artigo de Nadja Marin e Paula Morgado também aborda narrativas, mas o
foco aqui são filmes e mídias produzidos por povos indígenas no Brasil nos
últimos trinta anos. As autoras mostram como a produção audiovisual indígena
se apresenta como uma evidência de que essas sociedades não se dissolveram
na sociedade nacional, como previsto em prognósticos pessimistas nos anos
1970. Além disso, as novas formas de comunicação mostram-se como um meio
destas populações se imporem na luta pela diversidade cultural. As antropólo-
gas, que atuam em áreas indígenas com produção audiovisual há muitos anos,
chamam a atenção para o protagonismo de jovens realizadores indígenas no
diálogo intercultural e no debate político. Analisam também diversas narrati-
vas fílmicas, as temáticas e recursos de linguagem utilizados, oferecendo um
panorama desta produção que hoje já pode ser pensada como marca do cinema
brasileiro, e não apenas indígena.
O cinema como objeto e, ao mesmo tempo, como um problema antropológico
é o tema do artigo de Bruna Triana e Diana Gómez. A partir de suas experi-
ências de análise fílmica em mestrados realizados em antropologia social, as
autoras propõem um olhar para o cinema a partir de conceitos benjaminianos,
retomados pelo antropólogo Michael Taussig. Estão em questão o afeto da
imagem, o cinema como “narrador moderno” e como “máquina mimética”. No
texto, analisam o filme Hunger (Steve Mcqueen, 2008) e levantam questões de
interesse amplo ao campo da antropologia do cinema: que tipo de experiência
o filme oferece, produz, provoca? Que tipo de associações o filme permite?
Como esse ou aquele filme consegue perturbar as convenções já consagradas
pelo cinema? Que interpretações sobre determinado tema o filme provoca?
Uma reflexão densa sobre o corpo no cinema encerra esta seção do livro. David
MacDougall, um dos principais realizadores e pensadores do filme etnográfico,
reflete acerca de diferentes corpos presentes e afetados pelo filme: o corpo do
A experiência da imagem 2p.indd 13 14/09/2016 14:27:49
14 espectador, o corpo em cena e o corpo do realizador. Os filmes nos permitem
“sermos mais do que somos. Eles distendem os limites da nossa consciência
e criam afinidades com outros corpos além do nosso”. Ao assistir a um filme,
“sentimos por nós mesmos e em nós”. Ao filmar, vivenciamos o ciné-transe
(Rouch), o êxtase, “o prazer de filmar desfaz os limites entre cineasta e sujeito,
entre os corpos que os cineastas veem, e as imagens que eles fazem”.
II. Fotografia e etnografia
A fotografia marcou presença nas pesquisas etnográficas muito cedo, desde
a tão citada expedição ao estreito de Torres em 1898 com Haddon e Rivers,
passando pelas pesquisas de Boas na Columbia Britânica entre o fim do século
XIX e início do XX, até Malinowski nas Ilhas Trobriand nos anos de 1920 e no
trabalho de vários outros antropólogos que marcam a história da antropologia.
De lá até hoje parece que a máquina fotográfica garantiu espaço cativo na
bagagem dos antropólogos que empreendem pesquisas de campo.
Se o tema da relação entre a fotografia e a etnografia não é nenhuma novidade
e a presença da máquina fotográfica como ferramenta de pesquisa é quase um
consenso hoje, a forma como os antropólogos se apropriam e lançam mão da
técnica, da linguagem e da própria fotografia pode variar enormemente.
O que propomos na seção “A imagem como experiência etnográfica” não é
nem trazer uma compilação de textos clássicos sobre essa relação nem um
conjunto de relatos descritivos do uso da fotografia no trabalho de campo.
Nossa proposta ao escolher os artigos que compõem essa parte é apresentar
um conjunto de textos que articulem uma reflexão teórica a partir da expe-
riência da pesquisa com e por imagens. Intentamos assim, compor um mapa
conceitual e imagético que nos inspire a pensar criticamente essa experiência
longeva, heterogênea e rica.
O artigo de Elizabeth Edwards, que abre a seção, vem justamente nos brindar
com uma análise diacrônica e plural do uso da fotografia em campo sem per-
der de vista as possíveis condensações e superposições. Digamos que o texto
nos oferece um balanço denso e criativo da relação entre imagem fotográfica
e antropologia. O artigo se articula em torno de três “instantâneos” cujos
enquadramentos são fundamentais para o movimento de problematização
da relação entre fotografia e etnografia. O primeiro deles é o da fotografia
considerada como evidência, ou seja, a fotografia mobilizada como técnica a
serviço da construção da “verdade etnográfica” e é nessa chave que a autora
nos mostra as estratégias de um conjunto de proposições socioestéticas como a
A experiência da imagem 2p.indd 14 14/09/2016 14:27:49
negação da “pose” em prol de um certo naturalismo antropológico. O segundo 15
Apresentação
instantâneo dedica-se a mapear e analisar um movimento no qual a fotografia
marca presença nas políticas culturais de representação e, no último instan-
tâneo, a autora traz uma análise sobre uma nova configuração para a relação
entre fotografia e antropologia quando emergem etnografias que não mais
usam a fotografia como método, mas que são, elas mesmas, etnografias das
práticas fotográficas. O que Elizabeth Edwards nos apresenta em sua análise
“é o deslocamento dinâmico de como a antropologia produz suas evidências,
como ela chega às suas verdades, como situa sua objetividade, como lida com
sua subjetividade e, enfim, como entende sua intersubjetividade”.
O segundo artigo da seção terá justamente como proposta realizar uma reflexão
sobre a potência da fotografia como elemento articulador de subjetividades em
um processo etnográfico. A experiência de uma pesquisa com jovens moradores
de um bairro “periférico” da cidade de Guarulhos em São Paulo é o ponto de
partida para a montagem de um setting etnográfico povoado por imagens
fotográficas produzidas e confrontadas tanto pelos interlocutores como pela
pesquisadora. A partir de um conjunto de fotografias que emergem dessa
experiência, o artigo nos provoca a pensar na potência dessas imagens – a de
fazer falar, a de evocar ao tornar o significativo visível e a de provocar a ima-
ginação antropológica. Como operam essas potências quando enfrentamos as
imagens acumuladas em um arquivo fruto de um processo etnográfico? Para
responder a essa questão, Andrea Barbosa desdobra a leitura dessas fotografias
em experiências que são fruto de outras experiências como a que a gestou (ato
fotográfico) e a de compartilhar as narrativas possíveis que elas podem provocar.
O que informa essa análise é a busca “pelas narrativas sobreviventes e viventes
que habitam essas imagens” apesar de terem sido tiradas por amadores, apesar
de narrarem várias histórias, apesar de suas aparições jamais corresponderem
ao presente fisionômico do seu referente.
Em seguida temos o artigo de Alice Villela e Vitor Grunvald, no qual o que
está em jogo é um exercício reflexivo sobre a fotografia como mediadora das
relações sociais. Nesse exercício, a ideia de “pessoa distribuída” de Alfred
Gell é fundamental, pois ajuda a lidar com as questões desafiadoras trazidas
pelos autores dos seus contextos de pesquisa muito diferentes entre si. Alice
trabalhou com os Assurini do Xingu e Vitor com performances de gênero – o
crossdressing – em contextos urbanos. Eles aproveitam esta heterogeneidade
de experiências com a imagem em campo para discutir a validade de se pensar
a agência social da fotografia por meio das ideias de magia e fetiche. O poder
da imagem fotográfica ao presentificar o referente é pensado por duas vias: na
relação com a magia, no qual o aspecto indicial da fotografia está em primei-
A experiência da imagem 2p.indd 15 14/09/2016 14:27:49
16 ro plano no contato entre referente e imagem; e na relação entre fotografia
e fetiche, na qual fica evidente o aspecto mimético da fotografia em que a
representação é investida da força e do poder do referente.
Terminamos essa seção com o artigo de Ewelter Rocha, que não é exatamente
sobre fotografia, mas sobre imagens e objetos ou talvez imagens-objetos. O autor
parte de um conjunto de objetos religiosos que compõe os altares domésticos
de moradores da ladeira do Horto em Juazeiro do Norte, Ceará, para pensá-los
a partir de uma experiência religiosa povoada de “expressividades e procedi-
mentos não verbais em que pessoas e objetos confundem a descontinuidade de
suas posições habituais para elaborarem um espaço único de reciprocidade”.
Ewelter constrói uma análise apoiada numa perspectiva teórica na qual não há
um privilégio da imagem percebida em relação à imagem imaginada. Ou seja,
não há separação entre percepção e imaginação. Os altares tornam-se objetos-
-imagem, ou ainda na denominação dada pelo autor, forma-altar, e acabam,
nessa trajetória, se constituindo como narradores privilegiados desse universo
religioso popular. A fotografia aqui não é representação nem índice somente,
mas a forma visual da própria reflexão.
III. Experiências transdisciplinares
Um aspecto importante do trabalho com imagens no campo da antropologia
tem sido seu caráter transdisciplinar. Nesta última parte nomeada “Experiências
transdisciplinares”, o escopo do livro e do trabalho coletivo realizado se abre
para outros campos disciplinares, como a história, a religião e o teatro, mas
também para outras linguagens e possibilidades de pensar as imagens a partir
de uma perspectiva antropológica, enquadrada por esses trânsitos. Imagens de
arquivo, quando ativadas, ou seja, quando organizadas em um fluxo narrativo
ou em algum processo de (re)contextualização, podem nos trazer sentidos de
experiências do passado e dessa forma se configurar enquanto uma narrativa
que é histórica, mas que dizem também muito sobre o presente, justamente
sobre os processos que engendram esses reaparecimentos e nexos de sentido.
É justamente sobre um processo como esse que trata o capítulo “A intermi-
tência das imagens: exercício para uma possível memória visual Bororo”, de
Edgar Teodoro da Cunha. A partir de um conjunto de imagens, principalmente
fílmicas mas não apenas, sobre os Bororo, sociedade indígena do Mato Grosso,
o autor busca compreender as possibilidades de estabelecimento de sentido
e de compreensão de uma experiência coletiva marcada pela invisibilidade,
pela opressão de uma sociedade envolvente, urbana, da técnica, industrial,
A experiência da imagem 2p.indd 16 14/09/2016 14:27:49
que desqualifica essas alteridades originárias e que liga a experiência dos povos 17
Apresentação
indígenas contemporâneos a esse passado de uma relação intercultural assimé-
trica. Imagens fragmentárias que se potencializam para lançar luz às margens,
ao segmentado, iluminando os indícios e rastros dessa experiência coletiva,
como “formas que pensam”.
A ideia da montagem, enquanto elemento distintivo da linguagem cinematográ-
fica e de um pensamento por imagens, surge associada às diferentes vanguardas
artísticas do início do século XX. Nesse contexto, com a montagem, novas
luzes são lançadas sobre as relações entre técnica, estética e conhecimento,
para além das fronteiras do cinema e envolvendo outras formas expressivas e
de produção de conhecimento. O capítulo “Montagem, teatro antropológico e
imagem dialética”, de Carolina Abreu e Vitor Grunvald, propõe uma aproxima-
ção entre o conceito de montagem a partir do campo dos estudos do cinema,
para pensarmos suas possibilidades e seu rendimento no âmbito do teatro e
da experiência antropológica, que se corporifica em seus aspectos literários
e de estilo. Tudo isso para nos oferecer a possibilidade de uma visão crítica
de práticas envolvendo formas expressivas, com foco em um conhecimento
etnográfico mais consciente da dimensão política e ética de suas escolhas,
de forma especial aquelas que envolvem a textualização. Assim, transitando
pela história do cinema, sobretudo a do documentário e do filme etnográfico,
os autores mobilizam aspectos de uma tradição, que abrange o conceito de
montagem e a reflexividade antropológica por ele oferecida, para tratar das
práticas de campos como a antropologia visual, história, teatro e literatura,
mas para ressaltar a imbricação entre esses diferentes campos e a antropologia.
A partir da experiência da produção de um documentário que se aproxima dos
universos do candomblé e do islamismo, Francirosy Campos Barbosa aborda
a questão do mistério, da magia que escapa ao domínio da ordem no fazer et-
nográfico, e que afeta os pesquisadores que lidam com o universo da religião.
É essa experiência de pesquisa que informa o capítulo intitulado “Somos afe-
tados: experiências no campo religioso”. Aqui adentramos em outro campo, o
dos estudos sobre religião, a partir de um projeto apoiado em uma etnografia
aprofundada e nas possibilidades narrativas oferecidas pelo material audiovisual
produzido nesse processo. A primeira questão que se coloca é o significado
ético e estético de se produzir imagens nesse contexto, que por vezes oferece
limitações em função de concepções de ordem êmica. Outra questão impor-
tante é a condição do etnógrafo, sempre afetado pela experiência de campo,
aqui tomada como objeto de reflexão. Sua experiência e a de outros colegas
que compartilham o interesse por temáticas religiosas e episódios de contato
A experiência da imagem 2p.indd 17 14/09/2016 14:27:49
18 com o inexplicável são entrelaçadas em um texto que indaga a relação entre
etnografia, imagem e magia.
Ana Lúcia Ferraz discute, em seu artigo “A cidade como hipertexto: redes de
relações nas ruas de Niterói/RJ”, as possibilidades do recurso à hipermídia para
a construção da narrativa etnográfica. Dialoga com autores que refletem sobre
como o digital pode fornecer novos recursos para abordagens antropológicas,
seja por meio da restituição da experiência, seja por meio da difusão do co-
nhecimento produzido. Discute ainda a criação de uma cartografia imagética,
sonora e hipermidiática – o projeto “Cartografias da Margem”, coordenado pela
autora, junto a um grupo de moradores pobres, muitos deles na condição de
moradores de rua, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Além da discussão
da linguagem que permeia a etnografia, está em questão a construção de nar-
rativas sobre um mundo marcado pela invisibilidade das vielas, praças e ruas,
morros e ocupações, habitações precárias e situações de violência cotidiana.
A visibilidade aqui não é um elemento simples: como se trata de grupos e pes-
soas à margem, em condição de vulnerabilidade, muitas vezes estigmatizadas,
expõe um processo que quando envolve imagens carrega ambiguidades quanto
à visibilização dessa condição, quanto ao limite do possível enquanto crítica
social, quanto à possibilidade de expressão de um ponto de vista local, grande
parte das vezes encoberto por imagens sociais que os silenciam.
O lugar da imagem, nesta experiência etnográfica e em suas expressões cartográ-
ficas, é paradoxal: representação, presença, sintoma, as margens e o (in)visível.
IV. DVD – Etnografia em imagens e sons
A experiência do filme na antropologia, título do projeto de pesquisa no qual
gestamos este livro, não é aqui debatida apenas em textos. Muitos filmes foram
produzidos nos cinco anos em que a equipe de pesquisadores deste temático
se reuniu. Como diz a antropóloga-cineasta Catarina Alves Costa, no posfácio
em que comenta os filmes apresentados no DVD que acompanha o livro, os
filmes podem ser pensados como dispositivos cinematográficos para elaborar
a “passagem de uma etnografia com vista à elaboração de um projeto para a da
criação de um objeto visual que dialoga com a inquirição teórica”. Convidamos
os leitores a experimentar o diálogo entre os textos e os filmes aqui reunidos,
a nosso ver, nossa melhor tradução da Experiência da imagem na etnografia.
A experiência da imagem 2p.indd 18 14/09/2016 14:27:49
Prefácio
Imagem e experiência
MARCO ANTONIO GONÇALVES
A experiência da imagem na etnografia traz importantes contribuições à
antropologia visual, aqui compreendida a partir da reflexão sobre as imagens
em movimento e a fotografia na etnografia. O livro é uma bem sucedida
articulação entre novos autores e os de renomada importância nesta área do
conhecimento, o que permite renovar as discussões antropológicas a partir da
“experiência da imagem”.
O tema da imagem ganhou, nas últimas décadas, lugar central nas reflexões an-
tropológicas. A imagem propicia à antropologia uma conexão com o cinema de
ficção, o documentário, a fotografia, a cultura visual, a arte e o teatro, construindo
um campo fértil de comunicação com as chamadas formas expressivas. Mas qual
seria, afinal, a contribuição mais substancial da antropologia à essa temática?
O ponto central desta reflexão se redobra na própria contribuição dos traba-
lhos aqui reunidos ao nos lançar, primordialmente, ao terreno da etnografia.
A partir deste “campo situado” a antropologia repensa questões filosóficas
centrais sobre a percepção da imagem em múltiplas áreas do conhecimento.
A experiência da imagem na etnografia remete, por definição, à imagem on the
ground. Engendra, assim, uma experiência da imagem que se encontra longe
de um disinterestedness universalizante, que, inspirada por uma definição de
estética kantiana, tem assombrado as mais correntes percepções e reflexões
sobre o cinema e a fotografia. Na procura por uma avaliação não situada, o
A experiência da imagem 2p.indd 19 14/09/2016 14:27:49
20 disinterestedness adota forçosamente um ponto de vista cêntrico, estabelecen-
do cânones e hierarquias guiadas por uma noção de juízo de valor que se vê
materializada nos concursos premiados e nas aclamações como award winning,
que povoam o imaginário e a cosmologia sobre as imagens no mundo ocidental.
A antropologia e, mais especificamente, a etnografia nos oferecem, através
da experiência da imagem, uma contraimagem capaz de colocar em xeque
uma naturalizada noção cultural que instaura a crença na universalidade da
imagem, estabelecendo assim um ao invés de o modo de nos aproximarmos
dela. Do ponto de vista da etnografia, a imagem é apreendida de modo que
revele que, desde que a imagem é imagem, ela é sempre situada num olho,
num corpo, numa cultura, numa concepção estética. Essa condição da imagem
na etnografia cabe na afirmação clássica de Boas quando nos diz que “o olho
que vê é o órgão da tradição”.
Assim, o gesto da antropologia é o de pensar as imagens e os campos expressivos
se interrogando mutuamente, a começar pela questão se a estética é ou não
um conceito transcultural.1 Procura-se escapar de uma concepção de estéti-
ca coincidente com o senso comum do que é a arte, o cinema, a fotografia.
A experiência da imagem, ao nos situar em seu campo como experiência,
põe em relevo uma percepção imagética encorporada. Dali advém a noção de
imagens, enquanto campo de força conceitual plural que funda um contra-
campo em que a noção de estética, para ser aplicada, exige, no mínimo, uma
reflexividade que instaura contradições e contradiscursos a uma concepção
hegemônica da imagem no singular, como algo constituinte do ser humano
ou como elemento da cognição estruturadora do pensamento humano. Nes-
te registro das imagens e de suas experiências como produtoras de mundos
específicos, situa-se a contribuição essencial e original da antropologia e, con-
sequentemente, é sobre esta questão que se interrogam os autores deste livro.
Os regimes imagéticos apresentados a partir da experiência etnográfica propiciam
novas formulações teóricas que questionam os gêneros, as fórmulas imagéticas, a
definição de ficção, de realidade, de referente, de índice. Os sistemas outros de
representações imagéticas impactam, dessa maneira, o modo de pensar e aceder
às imagens, instaurando novas proposições que se acercam dos elementos visuais
através de processos, relações, colaborações e percepções culturais.
As contribuições deste livro, avançando por meio de torções, reenquadram
a noção de imagem, revelando sistemas imagéticos que são, antes de tudo,
1
OVERING, J. & GOW, P. “Aesthetics Is a Cross-Cultural Category”. In: INGOLD, Tim (org.).
Key Debates in Anthropology. Londres: Routledge, 1996, pp. 249-93.
A experiência da imagem 2p.indd 20 14/09/2016 14:27:49
campos de conhecimento que nos dão acesso a outras formas de compreender 21
PrefácioImagem e experiência
as imagens. Questionam, portanto, os conceitos mais basilares sobre imagem,
cinema, corpo, visão, conhecimento, percepção que reaparecem revitalizados
em discussões etnográficas sólidas. As imagens necessitam, pois, de mediações,
de aportes, de contextos para serem compreendidas.
Assim, nos defrontamos com questões instigantes como as que refletem as
técnicas, os conceitos de filmagem, a mecânica, a subjetividade, a pretensa
objetividade no documentário, desarticulando uma série de pressuposições
sobre a maneira que enquadramos a imagem percebida como dado objetivo.
Questiona-se a linguagem do documentário de modo a expor suas entranhas,
desvelando o que está por trás de uma imagem pretensamente científica. Ao se
colocar em suspeição o que parecia ser simples técnicas de filmagem (travelling,
panorâmica, som direto, música), tomadas como registros de verdade ou veros-
similhança, desconstrói-se esta “naturalidade” das imagens no documentário.
O estatuto da imagem no filme etnográfico é enfrentado a partir de uma
interrogação sobre os conceitos de documentar e documentação que acabam
por retirar do filme etnográfico a responsabilidade de produzir a realidade. A
aposta na etnoficção, como formulação capaz de engendrar, simultaneamente,
reflexão e reflexividade sobre o mundo pesquisado, aponta para uma nova
configuração na produção das imagens que se baseia em parceria e colabo-
ração com os sujeitos pesquisados. Levando a ficção a sério, como estratégia
narrativa e esforço epistemológico, derrubam-se as frágeis fronteiras erguidas
entre ficção e documentário. Ficção, nesta nova acepção, passa a ser pensada,
no contexto da etnografia, como uma poderosa ferramenta capaz de engendrar
um novo modo de conhecimento. Nesta chave, a ficção permite reconfigurar
os lugares do sujeito que filma e do objeto filmado. A ficção constitui uma
relação entre sujeitos que, colaborativamente, produzem o conhecimento
dado a ver através das imagens.
Esta percepção sobre a importância da ficção enquanto construção ecoa nas
palavras do montador Dai Vaughan, que servem de epígrafe ao texto de Paul
Henley: “um filme é sobre algo e a realidade não é”. Portanto, a edição não é
mutilação mas criatividade demonstrando que o cinema não coincide com a
realidade. Questão central que tensiona a relação entre imagem e verdade e
que nos impele a pensar o que as imagens “revelam” e o que elas “enganam”.2
A narrativa passa a ser, portanto, o maior desafio do filme etnográfico, uma vez
que amplifica concepções epistemológicas complexas, rupturas cronológicas,
2
XAVIER, Ismail. “Cinema: revelação e engano”. In: O olhar e a cena. São Paulo: Cosac Naify, 2003.
A experiência da imagem 2p.indd 21 14/09/2016 14:27:49
22 mudanças de perspectivas. Resulta daí uma questão que insiste em nos inter-
rogar, que é a de como transpor em imagens os modos de olhar e dar a ver na
antropologia. O filme etnográfico e, consequentemente, o modo de construir
sua narrativa, torna explicita uma tentativa de ultrapassagem do textual em
direção ao imagético. A narrativa, agora imagética, se vê obrigada a deixar a
retórica textual e, uma vez realizado este deslocamento, passa a um enfrenta-
mento com o problema da representação. A narrativa e as reflexões advindas de
suas possibilidades de construção são, por assim dizer, o fundamento do cinema
etnográfico. Neste sentido, a consciência sobre as convenções narrativas permite
avançar uma reflexão sobre o que é um filme etnográfico, suas intenções, suas
limitações, seus problemas. Mesmo quando suas estratégias narrativas sejam
inconscientes, é importante uma reflexão a posteriori que permita perceber
como representamos, enquadramos, ficcionalizamos, produzimos sequências
e formulamos ideias. O filme etnográfico surge como um espelho onde os
problemas mais centrais da disciplina antropológica se veem refletidos.
A montagem no cinema, tomada como construção, atenta para uma percep-
ção das imagens como fluxo, expansão, ressignificação. A montagem seria,
por assim dizer, a prova cabal de que as imagens são indomáveis, irredutíveis
a um pensamento racionalizante. Como construção baseada na dialética, a
montagem gera reflexividade sobre as imagens, o que nos reenvia ao modo de
pensar por imagens como uma forma de produção de conhecimento. Neste
sentido, a capacidade narrativa da montagem tem papel crucial na construção
da imagem como experiência, uma vez que a montagem produz choques de
imagens, criando contextos de conversação, conexões que estabelecem novas
relações e novos sentidos. Reside, aqui, o encontro definitivo entre etnografia
e imagem mediado pela experiência.
O livro apresenta, também, uma reflexão original sobre o fato de as imagens
e o cinema estarem hoje nas mãos dos chamados “nativos”, produtores de
cinematografias indígenas. As imagens produzidas pelos indígenas são fruto
de um importante diálogo intercultural em que a criação da figura do cineasta é
mais conjugada no verbo estar do que no ser. Uma concepção de imagem e de
filme que enfatiza processos, construções políticas em que se aponta mais para
um “estado de cineasta” do que para uma condição de “ser cineasta”, aderida
a concepções estéticas como as de autoria, singularidade, criação e obra. A
potência das imagens indígenas como comunicação intercultural ultrapassa as
imagens propriamente cinematográficas, aportando a uma tradição imagética
que remonta das pinturas do México no século XVII e XVIII às imagens e
objetos que se encontram em museus e galerias de arte. O cinema é, hoje, uma
das possibilidades de produção imagética em contexto ameríndio. Universo
A experiência da imagem 2p.indd 22 14/09/2016 14:27:49
gerador de uma multiplicidade de imagens que são, antes de tudo, modos de 23
PrefácioImagem e experiência
mediação cultural. Esta reflexão encaminha uma pergunta formulada por Mor-
gado e Marin: “Mas serão os filmes apenas instrumentos culturais e políticos?
Existiria um ‘cinema indígena brasileiro’ ou, para quem esta pergunta teria
sentido ontológico?”. A nomenclatura “cinema indígena” explicita, assim, um
paradoxo, pois ao impormos o conceito de cinema às imagens produzidas pelos
indígenas podemos atribuir a elas sentidos outros como aqueles endereçados
a concepções estéticas ocidentais contemporâneas da prática cinematográfica.
Neste contexto, pensar as imagens produzidas pelos indígenas torna-se um de-
safio instigante que ajuda a repensar os princípios de uma estética universalista
na leitura das imagens. Uma característica marcante do “cinema indígena” é
que os personagens dos filmes são tão realizadores quanto os diretores, uma
vez que o filme se converte em empreitada coletiva, exigindo uma redefinição
de criação estética, de autoria. As imagens produzidas por outras culturas e
suas aparições nas concepções de cinema ou arte afetam as formas canônicas
e estabelecidas de se conceituar cinema, arte ou imagem.
Outro eixo em torno do qual gravita a discussão dos textos aqui reunidos
é o aspecto sensorial do cinema, das imagens. Reside, pois, no corpo esta
manifestação da sensorialidade, que atua como elemento infraestrutural da
narrativa cinematográfica. O sensorial possibilita reconceituar o cinema como
evento construído mais em torno de uma percepção corporal-sensória do que
propriamente escópica. É através dos corpos que emergem no plano do filme
que temos acesso às imagens no cinema. Neste sentido, o cinema etnográfico
redobra esta questão dos corpos uma vez que nos reenvia a outros corpos e,
portanto, a outros mundos. O corpo do espectador, o corpo do personagem e
o corpo dos cineastas formam o tripé sensorial da produção e da recepção das
imagens em movimento. Ideias que nos reenviam ao cinema indígena que, ao
radicalizar a corporalidade como condição de aceder às imagens, constrói-se
através de uma hiper-sensorialidade. O pensamento indígena foi capaz de com-
preender rapidamente a linguagem do cinema e de transformá-la. Do mesmo
modo que suas percepções corporais estruturam-se a partir de um sistema de
transformação, o cinema indígena seria, ele mesmo, esta fabricação do corpo
através de imagens.
Um outro conjunto de contribuições do livro investe na relação, contato e
contágio entre antropologia e fotografia. A fotografia etnográfica, ao apon-
tar para a imprevisibilidade das relações humanas, aprofunda os modos de
percepção e reflexão sobre si e sobre o outro. A fotografia, percebida en-
quanto uma viagem enquadrada por uma narrativa imagética, ao encontrar a
antropologia exprime confusão e criatividade através da fluidez das imagens
A experiência da imagem 2p.indd 23 14/09/2016 14:27:49
24 fotográficas. Encontro que ressalta uma percepção da imagem fotográfica
fundada num modo de olhar que coincide, por assim dizer, com o modo da
antropologia operar. Neste sentido, a fotografia “faz ver, aponta e cutuca.
Ela faz falar. Evoca subjetividades, memórias compartilhadas e abre espaços
comunicacionais” (BARBOSA)3. O aspecto sensorial das imagens fotográ-
ficas, por ser sempre aberto, evoca múltiplas faces e modos de se estar no
mundo. O olhar, o imaginar, o enquadrar uma foto, atos culturalmente lo-
calizados, fazem “as imagens falar”, nos dando a ver a potência da produção
do conhecimento através de imagens. Neste sentido, a ideia de narrativa-
-imagética-experienciada ganha pleno sentido através da imagem fotográfica.
A junção de fotografia e etnografia faz aderir ao retrato, à foto, camadas de
experiência e narração, produzindo uma dimensão etnofotográfica. Nesta
condição, a fotografia engendrada pela etnografia ou a etnografia engendra-
da pela fotografia não apenas problematizam o significado de imagem mas
sobretudo interrogam o que e para quem significam, demonstrando-se como
uma forma de compreensão do mundo.
Fotografia e magia se conectam ao partilharem um mesmo campo semântico,
ambas tomam as coisas como pessoas e as pessoas como coisas. As imagens foto-
gráficas oferecem, a partir de uma base etnográfica, uma contraimagem. Assim, a
fotografia no contexto da etnografia radicaliza seu traço indiciático, enfatizando
o contágio entre o objeto e sua representação. A fotografia pode operar no re-
gistro do fetiche ou do animismo tencionando os conceitos de racionalidade e
racionalismo propostos pela tradição iluminista no Ocidente.
A etnografia é capaz, portanto, de inverter o ponto da observação, repensando
conceitos que pareciam estabelecidos como os de imagem fotográfica ou ima-
gem cinematográfica. Se há uma mecanicidade na máquina, há também um
sujeito que a opera, um corpo, um olhar, uma perspectiva que potencializa a
significação da imagem capturada. Desse modo, uma análise da fotografia, da
magia e do fetiche nos reenvia a um outro enquadramento sobre as imagens.
Imagens contaminadas que produzem pessoalidades, agências e subjetividades.
Adentramos numa dimensão em que as imagens, ao se ligarem aos objetos,
fundem-se a eles, produzindo objetos-imagens. As imagens dos altares domés-
ticos no Nordeste do Brasil nos enviam a mais um questionamento sobre o
próprio conceito de imagem: estes objetos aderidos a uma concepção imagética
transformam-se em objetos-imagens em que é enfatizado seu excesso, seu
perigo, sua densidade de contágio capaz de agenciar e criar relações próprias.
3
Ver texto de Andrea Barbosa neste livro.
A experiência da imagem 2p.indd 24 14/09/2016 14:27:49
A relação entre etnografia e hipermídia transborda as imagens para o mundo. 25
PrefácioImagem e experiência
As imagens adquirem potência de mapas que orientam e engendram relações.
Mosaicos, montagem, colagem de imagens que propulsionam uma cartografia
dialética do mundo. As imagens, agora, como vivências e sobrevivências das
pessoas nas ruas, reconstroem imageticamente o espaço da cidade, das ruas
e de seus habitantes, situando-se numa nova configuração: “Aqui a cidade,
ela própria, se reconfigura como hipertexto que contém retratos e paisagens,
música e ruído, narrativas e performances em mosaico” (FERRAZ)4.
Uma das contribuições da coletânea, por fim, coloca de modo contundente o
problema da experiência da imagem: “Uma inquietação que perpassa todo esse
período e tem ganhado diferentes desdobramentos é o tropo “como abordar as
imagens?”. Pergunta de aparente simplicidade, mas que pode encerrar diferentes
respostas e algumas complexidades” (CUNHA)5. É, justamente, este questiona-
mento sobre as imagens que esta coletânea busca produzir ao formular potentes
respostas à complexidade de pensar as imagens sempre no plural.
4
Ver texto de Ana Lucia Ferrz neste livro.
5
Ver texto de Edgar Teodoro da Cunha neste livro.
A experiência da imagem 2p.indd 25 14/09/2016 14:27:49
A experiência da imagem 2p.indd 26 14/09/2016 14:27:49
I.
Cinema e Antropologia
A experiência da imagem 2p.indd 27 14/09/2016 14:27:49
A experiência da imagem 2p.indd 28 14/09/2016 14:27:49
Olho mecânico, ouvido eletrônico, e a
atração da autenticidade1
TRINH T. MINH-HA
Alguns chamam isso
de documentário. eu2
chamo de Não Arte, Não
Experimento, Não Ficção,
Não Documentário. Dizer
algo, coisa alguma, e
permitir que a realidade
entre. Capturar-me.
Sinto que isto é não se
render. Os contrários se
Na busca por um uso científico do filme, há, encontram e se combinam,
e trabalho melhor nos
tipicamente, uma tendência a validar certas es-
limites de todas as
tratégias técnicas para assegurar a defesa da categorias.
neutralidade ideológica da imagem. O olho pro-
posital da câmera, orientado para o objeto, não
permite que nenhum evento filmado seja sim-
plesmente fortuito. Tudo precisa vir envolto em
significado. Traduzido ou interpretado cientifica-
mente. Ao contrário do que foi dito por muitos
escritores sobre filmes documentários, o esforço
por verossimilhança e por aquele contato “autên-
tico” com a realidade “vivida” é, precisamente, o
que liga os filmes “factuais” (o “direto” e o “con-
creto”, segundo outra classificação) aos que são
feitos em estúdio, e confunde os limites que os
1
Análise apresentada em “The Documentary Today: A Symposium”, Film in the Cities (Minneapolis)
10-12 de novembro de 1983. Publicado inicialmente em Wide Angle, v. 6, n. 2 (1984). Tradução:
Elisa Nazarian; revisão técnica: Rose Satiko Gitirana Hikiji.
2
Aqui se respeitou o uso de inicial minúscula conforme o original (N. T.).
A experiência da imagem 2p.indd 29 14/09/2016 14:27:49
30 distinguem. Ambos perpetuam o mito da “natu- Remontagem. De
ralidade” cinemática, ainda que um deles faça o silêncio em silêncio, a
possível para imitar a vida, enquanto o outro frágil essência de cada
fragmento centelha pela
alega reproduzi-la. É ASSIM QUE É. Ou era. A
tela, abranda, e alça voo.
cena que se revela é capturada, não apenas por Quase lá, seminomeada.
um indivíduo, mas também por um aparato me-
cânico. O mecânico carrega o testemunho de sua
própria existência, e é uma garantia de objetivi- Não há uma unidade
dade. “Ver é acreditar.” A fórmula, valorizada oculta a ser apreendida.
tanto pelos filmes ficcionais quanto factuais, as- Sua. Talvez um momento
plural de encontro,
sume que o papel do cinema permanece o de
ou apenas uma nota
hipnotizar e propagandear. Diz-se que quanto significativa ao longo do
mais sofisticada a tecnologia de registro, mais processo. Assumi-la como
próxima do real fica a prática do filme. Os filmes substância é confundir
(documentários) que atraem a mente científica as pegadas feitas pelos
e objetiva são os que anseiam “ligar a linguagem sapatos com os próprios
cinemática a um rigor científico”. Com o desen- sapatos. Fixá-la como um
momento puro, uma nota
volvimento de uma tecnologia cada vez mais
pura, é restituí-la ao vazio.
discreta, espera-se que o olho humano se identi-
fique com o olho da câmera e sua neutralidade
mecânica. O cineasta/operador de câmera deve- A natureza de muitas
ria ou permanecer o mais ausente possível da questões feitas leva,
obra, encobrindo, assim, o significado construído infalivelmente, a respostas
sob a aparência do significado naturalmente dado, orientadas. Na linha de
frente, cada intervenção
ou aparecer ele próprio no filme, para garantir a
da minha parte tem sua
autenticidade da observação. Tal ousadia, ou razão de ser. Verdadeira.
concessão (dependendo de como é interpretada), Mas a verdade da razão
denota menos uma necessidade de reconhecer a não é necessariamente
subjetividade do ponto de vista de um indivíduo a realidade do vivido.
(se isso acontece, será certamente uma solução Filmar supõe tanto
muito simplista ao problema do sujeito e do premeditação quanto
poder), do que um desejo de mesclar observação experimentação.
Intencionalmente
impessoal com participação pessoal. Acredita-se
acidental, então?
que esta síntese feliz do “científico universal”
com o “humanista pessoal” resulte numa huma- Os tolos são pessoas
interessantes, diz um
nidade maior, e, ao mesmo tempo, numa objeti-
filme. E eu olho para fora.
vidade maior. No avançar em direção à Verdade, Não posso fazer sem os
parece claro que uma pessoa pode apenas ganhar, outros. Os tolos não podem
nunca perder. Em primeiro lugar, adequar-se às ser tolos também?
A experiência da imagem 2p.indd 30 14/09/2016 14:27:49
exigências científicas, depois, mostrar que os Todos nós vemos de modo 31
Olho mecânico, ouvido eletrônico, e a atração da autenticidade
cientistas também são seres humanos. A ordem diferente. Como poderia
é irreversível. E a ideologia adotada não é nada não ser assim, quando as
imagens já não ilustram
mais do que a de capturar o movimento (objetos)
palavras, e as palavras já
da vida, ou restituí-lo(s) de maneira crua, reve- não explicam as imagens?
lando a realidade autêntica por intermédio de Qual é a progressão? Qual
uma câmera neutra, bem como de um cineasta é o desenrolar?
neutro, cujo papel é interferir/participar o míni-
mo possível, ocultando, assim, tecnologicamente,
o tanto quanto for praticável. As intervenções
humanas na filmagem e no processo de edição Que auto-expressão? eu me
são conduzidas “cientificamente” e reduzidas a expresso mal mais vezes,
um mínimo. O cineasta ainda escolhe o enqua- do que ela me expressa
dramento, a luz (seja natural ou artificial), o foco, mal. Ela se imprime em
mim. Até entrar. Penetrar.
a velocidade, mas deve seguir estratégias técnicas
Capturar. Agora me vejo
válidas e evitar toda montagem – considerada um e me ouço reconstruindo o
artifício passível de comprometer a autenticida- objetivo da minha obra.
de do trabalho. A questão a ser discutida é a de
uma maior ou menor falsificação. Apesar de a
seleção e o tratamento do material que esteja Jump cuts; panorâmicas
entrecortadas, inacabadas,
sendo filmado já indicarem o lado escolhido pelo
insignificantes; rostos
realizador (com seus vieses e restrições ideológi- divididos, corpos, ações,
cos), uma menor falsificação – tais como editar eventos, ritmos, imagens
na câmera (sic) ou expor cortes como espaços ritmadas, ligeiramente
negros na estrutura do filme – frequentemente fora do compasso,
implica não falsificação. Pelo menos, é isto que dissonância; cores
uma pessoa sente com o discurso de muitos do- irregulares, vibrantes,
cumentaristas, e com o que seus trabalhos deno- saturadas, ou muito
intensas; enquadramento
tam. Porque, apesar de negarem as noções con-
e reenquadramento,
vencionais de objetividade e do seu desprezo pelo hesitações, frases
naturalismo romântico, eles continuam a pergun- sobre frases, frases
tar: como podemos ser mais objetivos? Capturar entrelaçadas, fragmentos
melhor a essência? “Vê-los como eles se veem um de conversas, cortes, falas
ao outro?” e “deixar que falem por si?” Entre as interrompidas, palavras;
estratégias válidas que refletem tal anseio e esta- repetições; silêncios;
câmera em perseguição;
do de espírito estão: a tomada longa, a câmera na
posição de cócoras; à
mão, o som sincronizado (som autêntico) reves- procura de uma tomada;
tido de comentários oniscientes (a razão das ci- perguntas, perguntas
ências humanas), lentes grande-angulares, e o devolvidas; silêncios.
A experiência da imagem 2p.indd 31 14/09/2016 14:27:49
32 anti-esteticismo (o natural versus o lindo, ou o Para muitos de nós,
real/nativo versus o ficcional/estrangeiro). Valo- a melhor maneira de
rizar as tomadas longas como uma tentativa de ser neutro e objetivo é
copiar meticulosamente a
eliminar distorções é, de certa maneira, dizer que
realidade. Repetida.
a vida é um processo contínuo, sem rupturas, sem
vazios, sem interrupções. Quanto mais longo,
mais verdadeiro. A montagem hollywoodiana
também pretende o mesmo: criar a ilusão de
continuidade e imortalidade. Porque a morte
passeia entre imagens e o que a tecnologia avan- A descontinuidade começa
com a não-segmentação.
çada nos oferece são as perspectivas de uma vida
Dentro/fora, pessoal/
cada vez mais longa. A fusão do tempo real com impessoal, subjetividade/
o tempo do filme pode denotar uma intenção de objetividade.
desafio aos códigos dos truques cinemáticos, bem
como um rigor ao se trabalhar com as limitações.
Mas a tomada longa raramente é usada como um Não é possível ser feito
princípio de construção em si mesma, envolven- sem segmentações. Sempre
pisco, quando olho. No
do não apenas sua extensão, mas também sua
entanto, eles fingem olhar
qualidade e estrutura. Na maioria dos casos, ela para aquilo, por você,
é defendida com base no seu realismo temporal, durante dez minutos,
e seu objetivo permanece, sobretudo, o de impe- meia hora, sem piscar. E
dir que a realidade seja falsamente interpretada, frequentemente eu volto
ou deformada, através da eliminação de técnicas atrás no que acabei de
expressivas de edição. O mesmo pode ser dito mostrar, porque gostaria
de ter feito uma escolha
da câmera na mão. Mais uma vez, a ênfase apoia-
melhor. Como você se
-se na coerência do espaço cinemático, não na dispõe em relação ao
descontinuidade (a câmera na mão pode ser enquadramento da vida?
usada precisamente para negar e desestruturar Nós nos estendemos,
essa coerência.). O traveling dá à imagem um acreditando que tudo que
toque de autenticidade: diz-se que o movimento mostramos vale a pena ser
da pessoa que filma e o da câmera se mesclam, mostrado. “Vale?”
ainda que nada em seu resultado pareça sugerir
um desvio radical do relato realista convencional Isto não é impor,
de uma ação. Andar com uma câmera concede a é compartilhar.
seu operador uma maior liberdade de movimen- Frequentemente aceito
to, portanto, uma maior habilidade em capturar fórmulas semelhantes...
pessoas desprevenidas, ou agindo naturalmente,
ou seja, enquanto ainda estão “vivas”. A câmera
muda situações, principalmente quando perma-
A experiência da imagem 2p.indd 32 14/09/2016 14:27:49
nece estática em um tripé, e quando seu operador 33
Olho mecânico, ouvido eletrônico, e a atração da autenticidade
precisa se deslocar de um “posto de observação” “Quebrar regras” ainda se
para outro. Mas o que, com frequência, perma- refere a regras.
nece incontestado aqui – tanto no tripé, quanto
na câmera na mão – é a necessidade assumida de
se oferecer várias visões do mesmo sujeito/obje- À procura de “mensagens”
que possam ser extraídas
to, de diferentes ângulos, segui-lo, ou rodeá-lo; e
dos objetos em observação.
a exigência de uma identificação entre o olho da
câmera e o do espectador, bem como de um
“perfeito equilíbrio” entre os movimentos do
operador da câmera e dos sujeitos que estão
sendo filmados. Onisciência. O registro sincroni-
zado de imagem e som reforça ainda mais o
contato autêntico com a realidade vivida e a re- A música é o ópio do
alidade existente. Considerando a fase atual da cinema.
tecnologia, o uso do som sincronizado tornou-se
quase obrigatório em todos os documentários.
Por que não colocar
O mesmo acontece com a prática de traduzir e alguns sons naturais, em
legendar as falas dos depoentes. Existe certa vez de silêncios? alguém
veneração pelo som verdadeiro do filme (um som pergunta.
eletrônico que geralmente é citado como o
som da “vida real”), e pelo testemunho oral das
pessoas filmadas. Existe também uma tendência Imagens. Não apenas
imagens, mas imagens e
a se apreender a língua exclusivamente como
palavras que confrontam
Significado. TEM QUE FAZER SENTIDO. palavras e comentários.
QUEREMOS SABER O QUE ELES PENSAM
E COMO SE SENTEM. Fazer um filme sobre os
“outros” consiste em deixá-los, paternalistica-
mente, “falar por si mesmo”, e, como, na maioria Uma relação que desliza
dos casos, isso se revela insuficiente, completar entre ouvido e olho. As
sua fala com a inserção de um comentário que repetições nunca são
descreverá/interpretará objetivamente as ima- idênticas.
gens, segundo uma razão humanista-científica.
A linguagem como voz e música – timbre, tom, Dizer nada, coisa
inflexões, pausas, silêncios, repetições – segue alguma, e bloquear aquele
rebaixada. Em vez disso, pessoas de cantos remo- vertiginoso superlativo
tos do mundo tornam-se acessíveis através de verbal.
dublagem/legendagem, transformadas em ele- Ou fragmentar aquela
mentos do inglês falado, e em conformidade com fala externa, interna,
A experiência da imagem 2p.indd 33 14/09/2016 14:27:49
34 uma mentalidade definida. Isto é, de modo que preenche cada espaço
bastante astuto, chamado de “dar voz” – signifi- temporal, permitindo que
cando literalmente que aqueles que devem/ eu exista como um Eu
cristalizado.
precisam receber uma oportunidade para se ex-
pressar, não haviam tido voz antes. Sem seus
benfeitores, estão fadados a permanecer à mar- Ouvir com aquele olho
gem, não incorporados, portanto, não ouvidos. mecânico, e ver com aquele
Uma das estratégias que vem ganhando terreno ouvido eletrônico. O texto
no cinema etnográfico é o extenso, se não exclu- não pretende duplicar ou
sivo, uso da grande angular. Aqui, mais uma vez, reforçar a verossimilhança
das imagens. Ele pode, no
a grande angular é favorecida por sua habilidade
máximo, privá-las de sua
em reduzir falsas interpretações, e é especialmen- falação costumeira.
te valorizada por cineastas interessados, por
exemplo, em estruturas complexas de parentes-
co dos povos indígenas, e sua noção de comuni- A tirania da câmera segue
dade, de grupo, ou de família. Desta vez, o inquestionável. Em vez de
princípio é: quanto mais amplo, mais verdadeiro. moderá-la, e reconhecê-
la, muitos a declaram
Os close-ups são parciais demais; a câmera que
arrogante e ela segue livre
foca em um indivíduo, ou em um grupo, revela- de pressão.
-se tendenciosa ao extremo, porque não consegue
relacionar as atividades daquela pessoa ou daque-
le grupo às de sua família. O raciocínio funciona
da seguinte forma: é como se um enquadramen-
to mais amplo (com maior abrangência) enqua-
drasse menos, como se a grande angular não re-
duzisse a vida, como acontece com o close-up. Certamente, “a Arte é
Além disso, sabe-se que a grande angular distor- mais do que a retidão
das linhas e a perfeição
ce imagens. Dessa maneira, quando é usada ex-
de imagens”. De igual
clusiva e indiscutivelmente ao longo de um filme, maneira, a Vida tem que
mesmo em situações onde só há uma pessoa em ser mais do que analogia e
frente à câmera, ela deforma voluntariamente as acúmulo do real.
figuras abordadas, dando ao espectador a impres-
são de estar o tempo todo olhando através de um
aquário. Alguns cineastas não hesitarão em res- Uma ficção de segurança.
Quando falei sobre
ponder a isso, afirmando que a qualidade estéti-
relacionamentos,
ca do visual é de segunda importância. Não há imediatamente me
Arte aqui. Uma bela tomada consegue mentir, perguntaram: “Entre o
enquanto que uma má tomada “é uma garantia que?” Sempre pensei:
de autenticidade”, perdendo em atrativo, mas “Dentro do quê?”
Porque “entre” pode ser
A experiência da imagem 2p.indd 34 14/09/2016 14:27:49
ganhando em verdade. Afinal, que verdade? infindável, começando em 35
Olho mecânico, ouvido eletrônico, e a atração da autenticidade
E que realidade, quando “vida” e “arte” são per- você e em mim, câmera/
cebidas dualisticamente, como dois polos mutu- cineasta/ espectador/
acontecimentos/pessoas
amente exclusivos? Quando imagens mortas, rasas,
filmadas/imagens/som/
sem imaginação (un-imag-inative) são validadas silêncio/música/linguagem/
sob pretexto (pre-text) de “capturarem a vida cor/textura/associações/
diretamente”? Talvez seja, com precisão, a alega- cortes/sequências/...
ção de capturar a vida em movimento, mostrando-
-a “como ela é”, o que tenha levado um grande
número de “documentaristas” não apenas a apre- O próprio esforço a
destruirá.
sentar “tomadas ruins”, mas a nos fazer acreditar
que a vida é tão maçante quanto as imagens que
eles projetam na tela. A beleza pela beleza soa Eles só falam sua própria
estéril ao extremo no contexto atual da realização língua, e quando ouvem
cinematográfica. No entanto, entre um filme que sons estranhos – que não
não seja atraente (no sentido de não estar preocu- soam como linguagem
pado com a estética em si), um que mergulhe no a seus ouvidos – saem
discretamente, dizendo:
romantismo natural, e um que registre de manei-
“Não é bastante profundo,
ra mecânica, ou sem vitalidade o que vê, há dife- não aprendemos nada”.
renças. E as diferenças, ao que me consta, nunca
apresentam duas oposições absolutas.
Frame do filme Naked Spaces - Living is Round. 135 Mins. Cor. 1985. Dir.: Trinh T. Minh-Ha.
A experiência da imagem 2p.indd 35 14/09/2016 14:27:49
36
A experiência da imagem 2p.indd 36 14/09/2016 14:27:49
Etnoficção: uma ponte entre fronteiras1
ALEXANDRINE BOUDREAULT-FOURNIER
ROSE SATIKO GITIRANA HIKIJI
SYLVIA CAIUBY NOVAES
Só se documenta aquilo de que não se participa.
Arthur Omar
Essa frase tomada como epígrafe aplica-se bem à Enciclopédia do Instituto do
Filme Científico, de Götingen, na Alemanha, cujos autores realizaram, entre
1956 e 2010, filmes nas mais diversas áreas da ciência e apresentados sob a
forma de verbetes enciclopédicos. Há, nesses filmes, uma concepção de ciên-
cia que não vê grande diferença entre a descrição do sistema de circulação do
sangue e o acontecimento de um ritual. Nos verbetes dessa enciclopédia cien-
tífica o filme é o instrumento principal da pesquisa, instrumento que para tais
autores se iguala ao microscópio para o biólogo ou aos tubos de ensaio para os
químicos. Neste sentido, interações sociais são de algum modo equivalentes
à evolução de bactérias ou à reação de elementos químicos.
Em 2000 foi publicada em português uma coletânea organizada por Claudine
de France: Do filme etnográfico à antropologia fílmica que, de certo modo, pa-
rece seguir os mesmos princípios adotados por Göttingen. Claudine de France
1
Este artigo é resultado de pesquisa desenvolvida junto ao GRAVI - Grupo de Antropologia Visual
da USP, no âmbito do projeto temático “A Experiência do Filme na Antropologia”, financiado pela
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processo n. 2009/52880-9 e
do projeto “Images and Sound Making: A Comparative and Collaborative Approach to Visual An-
thropology”, que contou com apoio da University of Victoria e da Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo, processo FAPESP 2013/50222-0. Rose Satiko G. Hikiji e Sylvia Caiuby
Novaes são pesquisadoras do CNPq.
A experiência da imagem 2p.indd 37 14/09/2016 14:27:49
38 está ligada à Universidade Paris X em Nanterre e essa coletânea tem como
objetivo estabelecer os cânones de uma antropologia fílmica. Como se dá a
pesquisa nas diversas áreas das ciências sociais e, em especial, na antropologia?
Pesquisamos: observamos, anotamos no caderno de campo, entrevistamos,
colhemos informações aqui e ali, focando uma temática previamente definida.
Planejamos nossas observações, os dados a serem colhidos. Buscamos interpre-
tações e checando-as por meio de novos dados de campo, avaliamos se o foco
escolhido é adequado. Esta é a forma tradicional de pesquisa.
Algo parece mudar quando um novo recurso é introduzido: a observação fíl-
mica. Se a observação direta da realidade sensível é mediada pela linguagem,
que se interpõe entre o olhar e o pensamento, “a observação fílmica, apesar de
não totalmente liberada da linguagem – longe disso – possui a vantagem, em
relação à observação direta, de conferir a seu resultado, o observado fílmico,
um status de referência epistemológica mais legítimo, sob vários aspectos, que
aquele conferido à observação direta”, como afirma Claudine de France (2000,
p. 19), no artigo que introduz a coletânea. Mas não é só isso. A antropologia
fílmica traz ainda a possibilidade de aliar a dimensão sensível – associada à
imagem – ao inteligível que a ciência domina.
Dito assim parece mesmo o melhor dos dois mundos. Mas o que os cinco artigos
reunidos nesta coletânea trazem está bem longe disso. Por uma razão muito
simples. Todos eles estão ainda muito ligados a uma concepção de etnografia
ultrapassada, uma enorme distância entre o sujeito que pesquisa e os sujeitos
pesquisados, vistos como objetos, hiperdescritiva, onde se supõe a possibilidade
de uma total objetividade, e os fatos sociais são literalmente tratados como
coisa. As exigências de realismo do filme etnográfico para estes autores não
são em nada diferentes daquelas do filme científico. Quanto mais simples o
objeto, mais será submetido à rígida lei da microdescrição.
Espantoso é que um dos maiores nomes do cinema documentário francês –
Jean Rouch – pareça tão afastado de seus contemporâneos na Paris X-Nanterre.
Apesar de antecedê-los cronologicamente, Rouch está anos à frente destes
autores. Sabemos, todos os pesquisadores, o quanto as notas de campo são
reordenadas, reagrupadas e cruzadas para que os dados possam “fazer sentido”.
Não passa pela cabeça de um pesquisador apresentá-las na ordem em que
foram colhidas. No entanto, algumas escolas do filme etnográfico insistem na
sequência cronológica das tomadas, no “realismo” que pode chegar a impedir
uma iluminação mais adequada, na recusa à utilização de efeitos sonoros.
Rouch sempre teve total liberdade com seus filmes. Manipulava as sequências,
para criar não um filme de pesquisa, mas uma verdadeira obra cinematográ-
A experiência da imagem 2p.indd 38 14/09/2016 14:27:49
fica, sabia bem fazer uso do transe que o próprio ato de filmar provocava. 39
Etnoficção: uma ponte entre fronteiras
A entrevista com Jean Rouch, no final desta coletânea é, com certeza, o que
de mais interessante estes autores nos trazem. Rouch fala sobre a inserção
dos comentários nos filmes, que eram sempre feitos de modo improvisado, a
partir da projeção das imagens para os próprios protagonistas. Gravava assim
os comentários feitos “na imagem” e as vozes eram então pós-sincronizadas,
numa época em que o som sincronizado não era ainda possível. “Aqueles que
fazem filmes querem ter um tom objetivo. Os eruditos é que falam. Os eruditos
não têm coração” (ROUCH, 2000, p. 127), diz sabiamente o mestre Rouch.
Criador do que ele mesmo denominou de antropologia compartilhada, Rouch
foi provavelmente um dos antropólogos mais criativos no uso e produção de
imagens em nossa disciplina. Visionário, por paradoxal que possa parecer, não
via uma nítida distinção entre filmes documentários e filmes de ficção.
É bem possível que a distinção entre ficção e realidade seja uma invenção típica
das sociedades ocidentais. Certamente essa oposição não existe no mundo
ameríndio, onde os sonhos, ou os transes dos xamãs não se caracterizam como
uma não realidade. Distinções ou fronteiras entre ficção e realidade – esse
é um tema que parece continuar a animar a discussão de cineastas e teóricos
do cinema. Vejamos alguns autores que tem uma posição da qual nos aproxi-
mamos. Commoli, por exemplo, “insiste na relação particular entre as imagens
(e os sons) e a cena profílmica, sob o modo do que ele denomina inscrição
verdadeira, isto é, essa ligação indissolúvel – permitida e testemunhada pela
máquina do cinema – entre o discurso, os corpos filmados e o lugar onde os
eventos ocorrem. A inscrição verdadeira concerne a duração partilhada entre
quem filma e quem é filmado, de tal modo que o tempo do filme se compõe
com o tempo do mundo, que sempre deixa seu vestígio nas imagens, nos sons
e nas falas” (CAIXETA & GUIMARÃES, 2008, p. 44).
Para Commoli, esses são os filmes que se fazem sob o risco do real. Trata-se
de um cinema que não se afasta da singularidade dos sujeitos reais e de sua
subjetividade. Um cinema que “vai de encontro ao mundo, que se realiza como
práxis, forjando-se a cada passo, ‘esbarrando em mil realidades que, na verdade,
ele não pode nem negligenciar nem dominar” (id., ibid., p. 33). A dificuldade
de sua “escritura” vem do fato de que sendo relação, o documentário destitui
aquele que filma de toda e qualquer soberania.
Se essa é a grande dificuldade do documentário – a impossibilidade de soberania
por parte do diretor, acreditamos que pode igualmente se transformar em um
de seus pontos mais fortes e positivos, se temos em mente filmes contempo-
râneos feitos por antropólogos que desejam a imersão em um universo outro
A experiência da imagem 2p.indd 39 14/09/2016 14:27:49
40 por meio do cinema. Por uma razão muito simples: a não soberania do diretor
implica necessariamente um espaço de liberdade de atuação para aqueles que
são filmados e mais: implica colaboração entre quem filma e quem é filmado.
Neste artigo nos debruçamos sobre uma experiência recente – a realização de
uma etnoficção por três antropólogas no universo do funk em Cidade Tira-
dentes, periferia da cidade de São Paulo. Nosso objetivo é aqui refletir sobre
essa experiência no contexto de uma antropologia que se realiza por meio da
colaboração com nossos interlocutores nesse universo e que apresenta como
resultado não um filme documentário, mas uma etnoficção. A experiência
de realização desse filme nos mostrou que a ficção, e mais especificamente a
etnoficção, pode ser uma excelente estratégia narrativa e um caminho epis-
temológico para a antropologia. Não se trata de esmiuçar as fronteiras entre
documentário e ficção, se elas existem ou não, e sim de pensar a ficção no
contexto de uma das disciplinas das ciências sociais – a antropologia.
Por que etnoficção? Porquoi pas?
Jean Rouch é a principal referência para quem se arrisca a transitar na fron-
teira. Antropólogo-cineasta, percebe no cinema um meio de compartilhar a
antropologia, não apenas com seus pares na Sorbonne, mas com seus amigos
africanos. Entre o ofício do antropólogo e a tarefa do cineasta,2 Jean Rouch
nunca aceitou a separação rígida entre arte e ciência, pelo contrário, via no
cinema a única possibilidade para sua antropologia.
Em suas pesquisas entre os Songhay, os Dogon e os Bambara, o cinema é
sempre chamado como meio de criação de diálogo com a população estudada.
Tal preocupação resulta em um projeto inédito que alia as inovações técnicas
e estéticas do “cinema direto”, com a câmera na mão e o som sincrônico, ao
projeto ético e epistemológico da “antropologia compartilhada” (SZTUTMAN,
2004).
Stoller batizou o método de Rouch com o nome do barco em que seu pai, o
metereologista Jules Rouch, viajou em expedições pela Antártida no início do
século XX: Porquoi pas? [Por que não?]. Com isso, afirma a presença do im-
proviso na pesquisa de campo e na filmagem do realizador, além de evocar uma
conexão genealógica curiosa! (STOLLER, 1992, p. 37). É com sua imaginação
e seu espírito aventureiro e subversivo que Rouch recusa a estabilidade das ca-
2
Sztutman (2004, p. 50) comenta depoimento de Rouch, em que afirma, aos 82 anos, a antropologia
como ofício e o cinema como “tarefa necessária”.
A experiência da imagem 2p.indd 40 14/09/2016 14:27:49
tegorias convencionais, como branco/negro, irracional/racional, campo/cidade, 41
Etnoficção: uma ponte entre fronteiras
verdade/ficção, África/Europa (GRIMSHAW, 2001) e subverte as fronteiras3
entre arte e ciência, documentário e ficção, real e imaginário:
Para mim, como etnógrafo e cineasta, não há quase nenhuma fronteira entre filmes
documentários e ficcionais. O cinema, arte do duplo, é já a passagem do mundo do
real ao mundo do imaginário, e a etnografia, ciência dos sistemas de pensamento
dos outros, é uma travessia permanente de um universo conceitual a um outro,
ginástica onde perder o pé é o menor dos riscos. (apud STOLLER, 1994, pp. 96-
97; trad. nossa4)
O que resulta desse cinema é a queda de “todo o jogo das oposições regradas
(confortáveis, falsas) pelo qual, desde o eixo inaugural Lumière-Méliès, eram
pensadas as categorias documentário, ficção, escrita, improvisação, naturali-
dade, artifício etc.” (FIESCHI, 2010, pp. 19-20).
Em seus primeiros filmes, Rouch registra ritos, costumes e técnicas dos povos
do Níger. Mais tarde, diria que tais cerimônias ou técnicas comportam já sua
própria mise en scène,5 daí seu interesse excepcional para o filme etnográfico.
A característica deste cinema rouchiano é sua constante invenção, que se dá no
desenrolar do filme, que acompanha o ritual; o roteiro só é fixado pela ordem
do cerimonial. Cinema que “não pode ser escrito previamente, tributário que
é do acontecimento, do instante, do lugar” (id., ibid., p. 22).6
Após alguns documentários7 ainda filiados a uma “forma relativamente clássica
de testemunho” (id., ibid., p. 25), já surge nos filmes dos anos 1950 “a evidên-
cia de uma poética” (id., ibid.). Perturbadora, em Os mestres loucos (1954-55),8
provocadora e reflexiva em Eu, um negro (1957-58), de matriz surrealista, que
3
Título, aliás, de um filme realizado por pesquisadores do Laboratório de Imagem e Som em Antro-
pologia (LISA-USP), que é um exercício reflexivo sobre a obra do autor: Jean Rouch, subvertendo
fronteiras (Ana Lúcia Ferraz, Edgar T. da Cunha, Paula Morgado e Renato Sztutman, 2000).
4
No original: “For me, as an ethnographer and filmmaker, there is almost no boundary between
documentary film and films of fiction. The cinema, the art of the double, is already a transition
from the real world to the imaginary world, and ethnography, the science of thought systems of
others, is a permanent crossing point from one conceptual universe to another: acrobatic gymnastics
where losing one’s footing is the least of the risks”.
5
Rouch (1968, p. 454, apud FIESCHI, 2010, p. 22). Mateus Araújo Silva chama a atenção para o
tratamento que Rouch dá aos ritos de possessão entre os Songhay e aos ritos funerários Dogon,
“tratados de modo a salientar sua dimensão teatral” (2010, p. 68).
6
Fieschi (2010) refere-se aqui aos filmes de Rouch realizados no início dos anos 1950, como Les
Fils de l’eau (1952/8),Yenendi, les hommes que font la pluie (1951).
7
Como Les Magiciens de Wanzerbé (1948-49).
8
Sobre este filme, ver Fieschi (2010, pp. 26-27), Gonçalves (2008) e Sztutman (2009), por exemplo.
A experiência da imagem 2p.indd 41 14/09/2016 14:27:49
42 valoriza o sonho e o desejo, por meio da improvisação “metódica e delirante”
(id., ibid., p. 32) experimentada em odisseias inventadas coletivamente, como
Jaguar (1954-67).
De toda a sua produção, cerca de 140 filmes9 realizados entre os anos 1946 e
2004 (quando morre, em um acidente de carro no Níger), a maioria na África
Ocidental, alguns dos que se tornaram mais conhecidos são Eu, um negro, A
pirâmide humana (1959-60) e Jaguar. Esses filmes são mencionados como as
etnoficções de Rouch, termo que passará a definir parte da obra do autor, apesar
de não ter sido por ele cunhado; Rouch sugerira “ciné-fictions” [cineficções]
ou ainda “science fictions” [ficções científicas] (HENLEY, 2010, p. 74).10
Em Eu, um negro, Rouch nos apresenta um grupo de adolescentes africanos
de Treicheville, bairro popular de Abidjã, então capital da Costa do Marfin.
Eles são operários, jornaleiros e fazem biscates. Nós os descobrimos no seu
cotidiano, no trabalho ou nas horas vagas. Bastante influenciados pelos mitos do
cinema, se autodenominam Eddie Constantine, Edward G. Robinson, Tarzan.
Eles narram suas histórias a partir de suas personagens, personagens que nas
palavras de Gonçalves “davam conta de sua própria existência”, falando de si
a partir de um outro.
Essa condição da etnografia, de se ter acesso ao mundo do outro pela palavra do
outro sobre si próprio e sobre quem lhe pergunta como é o seu mundo, dá à etno-
grafia a confiança de tomar o que as pessoas imaginam como sendo uma verdade,
isto é, a verdade da etnografia. (GONÇALVES, 2008, p. 115)
Verdade construída a partir de um descentramento, “um tecido de monólogos
se unindo em uma única via feita de uma soma de diferenças” (FIESCHI, 2010,
p. 29). Estranha polifonia produzida pelos amigos de Rouch, que interpretam
jovens imigrantes, imaginando-os a partir de suas próprias vidas, mas também
das referências que o cinema lhes oferecia: o agente federal norte-americano,
o campeão mundial de box. O que resulta desta cine-etnografia é a “mistura
indissociável” (id., ibid.) que liga condutas, sonhos e discursos subjetivos.
9
Não há uma contagem definitiva dos filmes de Rouch. Esse número é citado por Maxime Schein-
feigel, em uma das primeiras publicações integrais sobre o autor, lançada em Paris em 2008.
10
Kelen Pessuto (2015), em seu relatório de qualificação para doutorado, chama a atenção para a
origem enigmática do termo etnoficção: apesar de sua associação à obra de Rouch, o termo não
foi criado pelo autor, mas teria sido utilizado para descrever alguns trabalhos do próprio Rouch e
de outros cineastas, como Luc de Heusch, por críticos de cinema. As fontes de Kelen são Sjöberg
(2009) e Henley (2010). Kelen chama a atenção ao trabalho de Stoller (1992) que classifica como
etnoficções, além das obras acima citadas, os filmes Petit à Petit (1969), Babatou, lês trois conseils
(1975) e Cocoricó, monsieur Poulet (1974).
A experiência da imagem 2p.indd 42 14/09/2016 14:27:49
O filme demonstra de forma etnograficamente densa, através de sua narração dra- 43
Etnoficção: uma ponte entre fronteiras
mática, a dificuldade da migração, os desejos, as frustrações, os valores que estão
em jogo quando se é estrangeiro, o viver em um outro país e, sobretudo, enfrentar
naqueles dias a urbanização da África. (GONÇALVES, 2008, p. 113)
Peter Loizos (1993) nota que Rouch sinaliza um rompimento com a repor-
tagem e o documentário ao trabalhar com personagens que improvisam. Diz
Rouch a respeito de Eu, um negro: “Sugeri que eles fizessem um filme no qual
pudessem desempenhar os seus próprios papéis, onde eles tivessem o direito
de fazer e dizer qualquer coisa” (1993, p. 50; trad. nossa11). Estratégia que,
segundo Loizos, foi absolutamente adequada para retratar, numa improvisação
projetiva, a vida de jovens migrantes do Níger que conseguiam trabalho oca-
sionalmente em Abidjã e sonhavam com uma vida melhor, com uma mulher,
uma casa e um carro.
Em A pirâmide humana, Rouch propõe a um grupo de jovens, brancos e negros,
que interpretem papéis de estudantes em uma escola de Abidjã. Não ficamos
sabendo se as posições que os personagens assumem (que envolvem relações
entre brancos e negros, marcadas por tensões e preconceitos) são as mesmas
que as pessoas que os interpretam afirmariam na “vida real”. A possibilidade de
agir como se fosse um outro permite que questões delicadas sejam tratadas
de forma mais livre, talvez mais perto da realidade. Gonçalves (2008, p. 117)
destaca uma reflexão do próprio Rouch em depoimento no filme Mosso mosso:
Jean Rouch comme si (1998), de Jean-André Fieschi:
[...] aprendi com os Dogon uma regra incrível, que se transformou na norma da
minha vida, que é “fazer de conta” como fazemos agora. “Faire comme si” “Fazer
de conta” é… “Fazer de conta” que o que dizemos é verdade… os Dogon contam
uma história que não aconteceu com eles, mas nas montanhas mandingas, há uns
mil anos talvez. Eles fazem de conta que aconteceu no país Dogon. Eles dizem:
“aqui se criou fulano, aqui desceu e morreu a raposa…”. Eles narram um mito que
nunca aconteceu lá, mas foi em outro lugar, mas eles “fazem de conta”, e “fazendo
de conta ficamos mais perto da realidade”.
Ana Lúcia Ferraz interpreta como jogo de papéis o que Rouch realiza em A
pirâmide humana, e que ele próprio nomeou como psicodrama: “O jeu de
roles, role playing ou psicodrama – modos de nomear a elaboração do duplo na
representação de papéis para distanciar-se da experiência vivida e assim poder
11
No original: “I suggested to them making a film in which they would play their own roles, where
they would have the right to do and say anything”.
A experiência da imagem 2p.indd 43 14/09/2016 14:27:49
44 ver-se – instaura um trabalho lúdico no processo de formação da consciência”
(FERRAZ, 2013, pp. 326-27).
Ferraz aproxima a abordagem psicodramática do interesse pelas “dimensões
patéticas da vida humana” (id., ibid., p. 327), distanciando-a, em Rouch, de
uma abordagem terapêutica, que opõe normal e patológico:
No filme, o que prometia ser a problematização das relações interétnicas numa
África que vive guerras anticoloniais, que se configuram como processos de inde-
pendência nacional, torna-se o espaço para emergência do mais patético dos temas,
as relações amorosas quando se é jovem e apaixonado. (id., ibid., p. 329)
Apropriando-se da experiência de Rouch para pensar seu próprio trabalho com
a etnoficção, Ferraz nota que mais do que uma reprodução do imaginário, a
etnoficção traz a possibilidade da criação de “novas resoluções para dramas
vividos e conflitos já experimentados. Surge a possibilidade de ensaiar o futu-
ro [...]. Projetar devires, presentificando desejos ou revivendo a experiência
difícil” (id. ibid., p. 334).
Em seu doutorado em Teatro, na University of Manchester, Johannes Sjöberg
também se aproxima da obra de Rouch para investigar se a improvisação com-
binada à observação participante poderia se constituir como um método de
pesquisa etnográfica eficaz para abordar o universo dos transgêneros e travestis
em São Paulo, combinando elementos da antropologia e do teatro (SJÖBERG,
2006). Sjöberg identifica então cinco aspectos na etnoficção de Rouch, que
decide aplicar a seu próprio filme, Transfiction (2007): são filmes baseados
em métodos etnográficos de filmagem, produzidos como antropologia compar-
tilhada, em um espírito colaborativo e por vezes reflexivo, usando elementos
de filmagem improvisada para se aproximar da atuação improvisada12 de seus
protagonistas (Id., 2008, p. 232).
Os métodos etnográficos na filmagem são bastante discutidos: um período
extenso em campo, a equipe pouco numerosa, a câmera na mão e sob a batuta
do próprio antropólogo-cineasta. A antropologia compartilhada, aqui já men-
cionada, passa também por técnicas específicas de realização, como o feedback
por meio de projeções de trechos do filme em realização, discussão a partir
destes (técnica inaugurada por Flaherty, que Rouch indica como uma de suas
grandes inspirações – ao lado de Vertov) e debate sobre o roteiro do filme
com os seus participantes. Sjöberg identifica a reflexividade principalmente
12
Os grifos são do autor. No original: “ethnographic filmmaking, shared anthropology, reflexive, im-
provised filmmaking e improvised acting”.
A experiência da imagem 2p.indd 44 14/09/2016 14:27:50
na presença de Rouch em seus filmes e no uso das vozes que muitas vezes 45
Etnoficção: uma ponte entre fronteiras
são conversas e narrações improvisadas gravadas a partir da projeção do filme
sem a banda sonora. A filmagem improvisada se dá com a presença de Rouch
no filme, na postura de uma cine-provocação – bem diferente de seus colegas
anglo-saxões que defendiam a não interferência do realizador. Sem um roteiro
definido, sem diálogos escritos, os atores também improvisam, construindo
personagens a partir de suas próprias experiências.
Transfiction é uma etnoficção na qual as atrizes interpretam mulheres trangê-
neras em São Paulo que convivem com memórias de abuso, com a intolerância
e buscam formas alternativas à prostituição para viver suas vidas. Uma das
atrizes, Fabia, era dona de um salão de beleza na periferia de São Paulo e a
outra, Bibi, trabalhava como prostituta. Ambas estavam estudando teatro na
companhia Os Satyros e participam do filme interpretando personagens que
criam: Zilda e Meg. Para Sjöberg, a improvisação é o que permite a liberdade
das protagonistas, que podem contar suas histórias a seu modo. Por vezes,
Zilda, a personagem criada, funcionava para a atriz Bibi como uma oportuni-
dade de “escapar de sua própria realidade”: Zilda servia à Bibi como um filtro
que a protegia de suas própria memórias de dor e sofrimento. A personagem
também permitiu a descrição de ações que não poderiam ser mostradas
sem o filtro da ficção, dado seu caráter ilegal ou constrangedor.
De certo modo, é possível dizer que na etnoficção, em que os personagens
improvisam ao desempenhar seus próprios papéis, estamos mais próximos da
realidade do que se estivéssemos entrevistando essas mesmas pessoas sobre
sua vida. Na “Introdução” a uma coletânea sobre criatividade e improvisação
cultural, afirmam os organizadores: “Não há roteiro para a vida social e cultural.
As pessoas têm que se virar na medida em que seguem por ela” (HALLAM &
INGOLD, 2007, p.1; trad. nossa)13.
Essa frase talvez resuma de modo claro a importância da improvisação dos
personagens em uma etnoficção e o quanto essa pode ser estratégica para
penetrar a realidade, como já queria Jean Rouch. “[...] a vida não escolhe
seu caminho na superfície de um mundo em que tudo esteja fixado em seus
devidos lugares, mas é um movimento por um mundo dinâmico” (id., ibid.,
p. 12; trad. nossa14). Se a improvisação, como afirma Ingold, é inerente à vida
social, é efetivamente complicado pensar sobre ela a partir de generalizações
e abstrações como as que são enunciadas por entrevistados, num tipo de
13
No original: “There is no script for social and cultural life. People have to work it out as they go along”.
14
No original: “[...] life does not pick its way across a surface of a world where everything is fixed
and in its proper place, but it’s a movement through a world that is crescent”.
A experiência da imagem 2p.indd 45 14/09/2016 14:27:50
46 comunicação que é no mínimo opaca, como muitos já disseram. A vida social
é processo, em que as formas culturais são produzidas e reproduzidas, e não
meramente replicadas ou transmitidas de geração a geração.
Antropólogos que produzem filmes dificilmente trabalham com atores pro-
fissionais. Nesse sentido, a etnoficção, ao abrir às personagens a possibilidade
de desempenharem seus próprios papéis, ainda que de forma ficcional, possi-
bilita um cenário em que o trabalho do antropólogo deve ser necessariamente
colaborativo com os sujeitos que participam de seu filme.
Tanto no gênero literário, como no espetáculo teatral ou cinematográfico, é a
personagem que realmente constitui a ficção. Não sendo descrição ou mero
relato, o elemento humano é absolutamente essencial. Antonio Candido lembra
que mesmo em Kafka o terrível não é a barata, “mas a lenta desumanização
do inseto” (1968, p. 28). Seja na ficção, seja na etnoficção, o indivíduo está
presente em sua individualidade mais concreta.
A ficção é um lugar ontológico privilegiado: lugar em que o homem pode viver e con-
templar, através de personagens variadas, a plenitude de sua condição, e em que se
torna transparente a si mesmo; lugar em que, transformando-se imaginariamente no
outro, vivendo outros papéis e destacando-se de si mesmo, verifica, realiza e vive
a sua condição fundamental de ser autoconsciente e livre, capaz de desdobrar-se,
distanciar-se de si mesmo e de objetivar a sua própria situação. (id., ibid., p. 48)
Vale a pena aqui mergulharmos um pouco mais na especificidade da ficção,
para melhor entendermos as possibilidades da etnoficção como estratégia
narrativa para antropólogos que fazem filmes. No romance, na peça teatral
ou no filme, qualquer ficção que procurar imitar o real estará fadada ao fra-
casso. Como diz Candido, “o princípio que rege o aproveitamento do real é a
modificação, seja por acréscimo, seja por deformação de pequenas sementes
sugestivas” (id., ibid., p. 67). Para o autor, “só há um tipo eficaz de persona-
gem, a inventada; mas [...] essa invenção mantém vínculos necessários com
uma realidade matriz” (id., ibid., p. 69).
Por outro lado, a eficácia da ficção está ligada a sua verossimilhança, que por
sua vez depende do funcionamento das personagens, de um critério estético
de sua organização interna. Candido aponta uma questão óbvia, mas funda-
mental para aqueles antropólogos que querem desenvolver filmes de ficção:
na vida tudo é praticamente possível, mas no romance (e diríamos, também
nos filmes) a lógica da estrutura impõe limites mais apertados resultando,
“paradoxalmente, que as personagens são menos livres, e que a narrativa é
obrigada a ser mais coerente do que a vida” (id., ibid., p. 76).
A experiência da imagem 2p.indd 46 14/09/2016 14:27:50
No caso da etnoficção, como os personagens desempenham papéis muito 47
Etnoficção: uma ponte entre fronteiras
próximos daqueles de sua vida real, a verossimilhança está dada. O persona-
gem não “imita” o que faz, apenas age naturalmente e improvisa diálogos em
cena a partir de um plano prévio com o realizador do filme. Na etnoficção,
os protagonistas do filme evidenciam para o próprio realizador suas formas
específicas de comunicação, o modo como se vestem, seus relacionamentos
interpessoais, seus sonhos e dissabores. Esse é um material precioso para qual-
quer antropólogo que queira mergulhar num universo outro, que dificilmente
se conseguiria num filme documentário.
Fabrik funk15
A experiência das autoras deste artigo com a etnoficção concretiza-se com
a realização de Fabrik funk, um filme de 25 minutos, gravado em 2014 e
finalizado em 2015. Neste trabalho, pudemos experimentar de forma radical
a prática da etnoficção e da antropologia compartilhada. O cinema de Jean
Rouch inspira nosso projeto, desde os primeiros contatos com os protagonistas
do filme, alguns deles, parceiros em projetos audiovisuais desde 2005.16 Com
Daniel Hylario, artivista, cabeleireiro afro e morador de Cidade Tiradentes,
roteirizamos o filme e organizamos o dia a dia da produção. JC e Montanha –
realizadores de audiovisual retratados em Cinema de quebrada (2008) e hoje
sócios da Funk TV, uma das principais produtoras de clipes de funk em Cidade
Tiradentes – encenaram seus próprios papéis no filme, além de colaborar no
casting, indicando a MC Negaly para o papel principal.
Colaboração, criação coletiva, improvisação são alguns dos instrumentos co-
locados em ação em nossa etnoficção. O trabalho com atores que encenam
suas próprias vidas – ou algo muito próximo a elas – permite a expressão
de subjetividades, emoções, e de conhecimentos encorporados (embodied).17
15
Algumas das reflexões aqui desenvolvidas foram apresentadas originalmente no artigo “Fabriquer le
Funk à la Cidade Tiradentes, São Paulo: performance en ethnofiction”, na Culture-Kairós, Revue
d’Anthropologie des Pratiques Corporelles et des Arts Vivants (no prelo).
16
Rose Satiko realizou pesquisa com realizadores de audiovisual moradores nas periferias de São Paulo
entre 2005 e 2008, que resultou no filme Cinema de Quebrada (2008), do qual JC e o coletivo
Filmagens Periféricas, de Cidade Tiradentes, são protagonistas. Em 2009, conheceu Daniel Hylario,
que protagoniza e passa a compor a equipe dos filmes Lá do Leste (2010), A arte e a rua (2011),
co-dirigidos por Rose e Carol Caffé, e Fabrik funk (2015), realização das autoras do artigo.
17
Richard Schechner identifica na encorporação a “experiência como base do conhecimento nativo
que é compartilhado por meio da performance”, “epistemologias e práticas nativas que realizam
(enact) a unidade do sentir, pensar e fazer (2013, p. 39). Para Diana Taylor (2013, p. 10), as “prá-
ticas encorporadas (embodied practices) [...] oferecem um modo de conhecimento”.
A experiência da imagem 2p.indd 47 14/09/2016 14:27:50
48 A etnoficção revela-se meio de acessar experiências sensíveis e formas expres-
sivas de forma muito particular.
A colaboração para a realização de Fabrik funk também se dá entre as an-
tropólogas brasileiras e a canadense, as autoras deste artigo, que se reúnem
com o objetivo inicial de realizar um filme em conjunto para experimentar as
possibilidades da troca e produção de conhecimento por meio da realização
audiovisual antropológica.
Em nosso primeiro encontro, em Victoria, Canadá, em abril de 2014, elencamos
possibilidades temáticas, levando em conta um pouco o histórico de nossas pes-
quisas. Alexandrine havia pesquisado o hip-hop e o reggaeton em Cuba em seu
doutorado e pós-doutorado e demonstrou grande interesse em uma de nossas
ideias, um filme sobre o Funk Ostentação, gênero que sabíamos estar em evi-
dência na periferia de São Paulo, em especial no distrito de Cidade Tiradentes,
onde Rose Satiko havia realizado pesquisas desde 2009 também sobre o universo
do hip-hop. A familiaridade de duas das antropólogas com um universo artístico
ligado à juventude – o hip-hop – forneceu uma base comum de diálogo, a partir
da qual iniciamos o processo criativo.
Algumas semanas antes da chegada de Alexandrine a São Paulo, Rose encon-
trou-se com Daniel Hylario, morador de Cidade Tiradentes e importante
interlocutor em suas pesquisas nesta localidade. O objetivo era saber deste
pensador de Cidade Tiradentes mais a respeito de suas impressões sobre o
funk. Em um shopping center, Daniel e Rose conversaram por horas sobre este
estilo e as questões a ele associadas: consumo, juventude, gênero e sexualidade.
Ao ouvir a ideia do filme, Daniel expressou um certo desânimo com a
produção de documentários (Daniel foi aluno das Oficinas Kinoforum de
Realização Audiovisual, fez alguns documentários,18 protagonizou outros, fez
produção para cinema). Para Daniel, esta linguagem cinematográfica era vista
com certo desinteresse pelos próprios moradores de sua comunidade. Neste
momento, Daniel trouxe a ideia da realização de uma ficção. Rose gostou do
desafio e apresentou-o às parceiras do projeto, que abraçaram a tarefa – para
as três, inédita – de realizar uma etnoficção.
Nossos primeiros interlocutores em Cidade Tiradentes foram os proprietários
da Funk TV, Negro JC e Montanha. Com eles, aprendemos mais sobre o estilo
que “toca na quebrada e nas baladas de playboy”. Soubemos que esta música
compartilha com o futebol o lugar de projeção de ascensão social do jovem da
18
Dentre eles, “Defina-se”, curta de 2002, selecionado para o Toronto Film Festival (2003) e para o
Tampere 36th Short Film Festival (2006).
A experiência da imagem 2p.indd 48 14/09/2016 14:27:50
periferia: “todo menino sonha ser um MC”. Cidade Tiradentes teria virado 49
Etnoficção: uma ponte entre fronteiras
uma “fábrica de funk”, nas palavras de seus produtores.
Negro JC e Montanha tem uma interessante trajetória: começaram como
realizadores de vídeos independentes, atuaram no mercado das produtoras de
imagens de festas e casamentos, e conseguiram se estruturar com a produção de
clipes de Funk Ostentação. Com a Funk TV os dois vêm gravando alguns dos
videoclipes que já alcançaram milhões de exibições no YouTube.19 A produção
dos clipes de funk para artistas locais é uma outra fonte de renda.
A Funk TV está montada em um imóvel alugado na principal avenida comercial
de Cidade Tiradentes. Em um dos cômodos, que ainda passa por reformas, foi
montado um estúdio equipado com equipamentos sofisticados, como câmeras
profissionais, mini grua, iluminação, gravadores de som de última geração. No
outro cômodo, uma mesa comporta os computadores que são usados como ilhas
de edição. Outros dois cômodos são usados como recepção e mesas de apoio para
os estagiários da Funk TV. A simplicidade do imóvel contrasta com a sofisticação
dos equipamentos da produtora e com a qualidade técnica dos vídeos que produz.
Ao ouvir sobre nossa intenção de realizar uma etnoficção, Negro JC e Mon-
tanha sugeriram o nome da jovem que viria a ser a protagonista do filme, a
Karoline, ou MC Negaly. Ela é uma das artistas promovidas pela Funk TV,
além de ser apresentadora do programa Funk TV Visita, que retrata a cena
funk ao apresentar alguns dos principais MCs atuantes hoje em São Paulo. Em
uma conversa na Funk TV, gravada no estúdio da produtora com iluminação
cedida e montada por nossos interlocutores, apresentamos o projeto do filme
para Karoline, que imediatamente se colocou à disposição para representar o
papel da jovem que sonha em ser uma MC.
Após as breves sessões em que definimos o casting principal, em um encontro
com Daniel, escrevemos o roteiro básico do filme, que seria depois trabalhado
e improvisado com os atores nas diferentes locações que imaginamos e que nos
foram sendo apresentadas. O filme aborda o funk a partir da história de uma
jovem que, como tantas outras na periferia, trabalha numa firma de telemarke-
ting, onde o ruído de muitas operadoras falando ao telefone ao mesmo tempo
é intenso e o trabalho entediante, sem exigências de qualificação profissional.
Traz também a questão do conflito entre gerações e estilos de vida diversos: os
enfrentamentos se dão no gosto musical (nossos protagonistas ouvem, além do
funk, samba, pagode, gospel e rap...), nos hábitos de lazer e de consumo, nas
19
As visualizações são hoje uma das principais fontes de renda da produtora, pois o YouTube as
remunera, principalmente quando atingem as cifras de milhares e milhões.
A experiência da imagem 2p.indd 49 14/09/2016 14:27:50
50 formas de comunicação, nos sonhos e utopias de cada geração. Ser mulher no
universo do funk é outro desafio que nossa história pretendeu narrar.
Por meio da etnoficção, buscamos abordar questões caras à antropologia de
uma forma mais sensível e partilhada. Com a intensa participação de atores
que improvisam vidas mais ou menos próximas às suas, percorremos mundos
imaginados e reais e nos aproximamos da enorme criatividade que se expressa
nas bordas da cidade de São Paulo.
Interpretação, improvisação e alteridade
Em Fabrik funk, os personagens são interpretados por moradores de Cidade
Tiradentes que de alguma forma se relacionam com o universo do funk. Karoline,
a atriz que interpreta a protagonista, efetivamente trabalhava em uma central de
telemarketing, tal como a personagem Karoline, que aparece na primeira cena do
filme. Se no filme ela sonha em ser uma cantora de funk, na realidade Negaly já
é uma MC, que vem sendo promovida pela Funk TV, empresa que na história é
quem se encarrega da seleção de dançarinas para um videoclipe, atividade que
efetivamente costuma empreender. O cabeleireiro com quem Karoline trava
um diálogo a respeito de diferentes gêneros musicais é Daniel Hylario, que de
fato possui um salão afro em Cidade Tiradentes, e é também um “filósofo da
periferia” apaixonado por música e bastante crítico com relação ao funk.
Para o filme, estas pessoas emprestaram seus corpos, suas vozes, histórias, seus
pensamentos e sua imaginação. As diretoras contaram para cada um dos atores
principais a história que planejavam filmar. O roteiro, escrito juntamente com
Daniel Hylario, o cabeleireiro-pensador, indicava apenas a ação a ser desen-
volvida em cada cena. Não escrevemos diálogos. Cada ator deveria, uma vez
ciente da ação, improvisar sua atuação, com base na experiência que possuía
com relação a cada situação filmada.
A ficção supõe, ao menos teoricamente, a possibilidade de definir um rotei-
ro e segui-lo com personagens criados especificamente para o filme. Como
antropólogos, por vezes lidamos com assuntos considerados tabus ou ilegais,
nos quais não podemos envolver diretamente as pessoas. Tratar a temática no
plano ficcional pode revelar-se uma estratégia para aprofundar uma exposição
e reflexão sobre conflitos, atividades ilegais ou assuntos tabus sem envolver
diretamente as pessoas, o que seria impossível num documentário.
Em Fabrik funk não foram a ilegalidade ou o tabu os principais motes para o
recurso à ficção. Não é tampouco motivo de vergonha o desejo da protagonista
A experiência da imagem 2p.indd 50 14/09/2016 14:27:50
de reverter sua trajetória de vida rumo ao “estrelato” no mercado da música. No 51
Etnoficção: uma ponte entre fronteiras
entanto, os conflitos vividos pela jovem são expressos de maneira intensa pela
personagem – o que de fato seria bastante difícil se apenas verbalizados em uma
entrevista, por exemplo. Seu embate com a mãe, sua expectativa com um teste
para um videoclipe, sua gana para apresentar da melhor forma possível sua com-
posição para o DJ são claramente apresentados no contexto da ação dramática.
Por outro lado, a ficção, como toda obra de arte, tem uma maior possibilidade
de recortes e seleção de temáticas e, ao reconstruir sinteticamente a realidade
pode apresentá-la de modo mais eficiente e sensível. Como diz Rosenfeld “a
ficção é o único lugar – em termos epistemológicos – em que os seres huma-
nos se tornam transparentes à nossa visão, por se tratar de seres puramente
intencionais sem referência a seres autônomos [...] os seres aí vivem situações
exemplares de modo exemplar” (1968, pp. 35-45). Rouch é enfático: “A
ficção é o único modo de penetrar a realidade” (apud GONÇALVES, p. 76).
Um outro problema para os antropólogos é que além da construção de persona-
gens, filmes igualmente investem na ação. No entanto, a ação, no teatro como no
filme, “não é necessariamente movimento, atividade física: o silêncio, a omissão,
a recusa a agir, apresentados dentro de um certo contexto, postos em situação
também funcionam dramaticamente” (ALMEIDA PRADO, 1968, p. 92).
O desafio para o realizador da etnoficção é definir, juntamente com os partici-
pantes do filme, as situações nas quais os personagens são “colocados em ação”.
Cabe notar que no caso de Fabrik funk tal desafio foi realmente estimulante
para o processo de criação e, consequentemente, de compreensão etnográfica.
Em nossa etnoficção, as personagens interpretadas pelos atores são ora mais
ora menos próximas deles próprios. Todos os MCs que aparecem no filme
são de fato MCs.20 Dominam a performance do funk, são compositores das
canções que interpretam, já gravaram música em estúdio e/ou videoclipes que
são veiculados no YouTube. No entanto, as situações que foram convidados a
“representar” não são, necessariamente, fatos já vividos pelos mesmos.
Rimbaud resume bem a potência da etnoficção com uma frase curta e emble-
mática: “Car Je est un autre”.21 Ao desempenhar um papel que corresponde
em muito àquilo que vive em sua vida real a personagem pode, tal como o
20
Sigla para Master of Ceremony, que, no universo do funk, corresponde ao músico que canta e, em
geral, compõe as canções. No funk praticado hoje em São Paulo, o MC em geral é acompanhado
apenas pelo DJ, que compõe as bases eletrônicas e as executa ao vivo nas apresentações.
21
Car Je est un autre. Si le cuivre s’éveille clairon, il n’y a rien de sa faute. Cela m’est évident: j’assiste
à l’éclosion de ma pensée: je la regarde, je l’écoute : je lance un coup d’archet: la symphonie fait son
remuement dans les profondeurs, ou vient d’un bond sur la scène. Rimbaud, Lettres du voyant, 1871.
A experiência da imagem 2p.indd 51 14/09/2016 14:27:50
52 faz o poeta, testemunhar a eclosão de seu pensamento, escutar-se, perceber a
si mesma a partir de sua ação no filme. A alteridade se transforma quando o
próprio eu se transforma em outro. Esse é, provavelmente, o grande interesse
da etnoficção para os antropólogos e a chave para se entender a antropologia
compartilhada.
“A realidade de um sonho”
Ao longo de todo o processo de realização do filme Fabrik funk, nós nos
perguntamos sobre os desafios de “criar uma etnoficção”, do que isto poderia
significar para a antropologia, tanto no nível teórico-metodológico como no
ontológico. Por exemplo, nos questionamos desde o início da realização do
filme sobre os temas da criatividade e da imaginação em relação aos modos
de representação. É evidente que a pesquisa implica um processo de criação,
mas esta é ao mesmo tempo regida por normas associadas à nossa disciplina.
Entretanto, e apesar do trabalho de Jean Rouch, assumir a criação de uma
ficção no contexto da pesquisa continua a ser algo relativamente incomum
em antropologia. Apenas alguns antropólogos se “arriscaram” a se aventurar
na ficção por meio da escrita. Um dos raros exemplos é Alejo Carpentier,
antropólogo cubano apaixonado por música, que escreveu, entre outros, o
romance Os passos perdidos, publicado em espanhol no início dos anos 1950.22
O livro conta a viagem de um músico sul-americano em busca de instrumentos
considerados “primitivos”. Sem se distanciar do tema da música, o romance
de Carpentier descreve detalhadamente os instrumentos e seus sons. Lendo o
romance, temos a impressão de que a ficção permite ao autor estabelecer uma
relação com os instrumentos pelos sentidos, de um ponto de vista reflexivo
e artístico. Essa abordagem não é utilizada por Carpentier em seus textos
“científicos” ou descritivos.23 Em uma nota no final de seu primeiro romance
intitulado Jaguar: A Story of Africans in America (1999), o antropólogo Paul
Stoller nos conta que, sem seus 33 anos de pesquisas etnográficas no Níger,
esse romance não seria jamais realizado. Ao escrever Jaguar, Stoller (1999,
p. 212) deseja amplificar a história dramática, abordando os temas do amor,
do arrependimento e da obrigação social, que, segundo ele, se prestam bem à
ficção. No prefácio de seu segundo romance, Gallery Bundu (2005), Stoller
anuncia que seu livro é uma obra de ficção. Os personagens representam um
22
Versão original intitulada Los pasos perdidos, publicada em Cuba, em 1953.
23
Por exemplo, ver La música en Cuba (1946).
A experiência da imagem 2p.indd 52 14/09/2016 14:27:50
grupo de vários outros personagens que ele teria encontrado durante suas 53
Etnoficção: uma ponte entre fronteiras
pesquisas de campo; todos eles provêm do imaginário etnográfico do autor.
Assim como Stoller, incluímos um letreiro no fim do filme, anunciando o cará-
ter fictício de Fabrik funk e sugerindo que alguns elementos provêm de nossas
observações etnográficas em campo ou se assemelham à vida real. Incluímos
a seguinte advertência : “Nem todos os personagens e eventos deste filme são
fictícios. Qualquer semelhança com pessoas ou eventos reais não é mera coinci-
dência”. A ficção permitiu que nos aventurássemos por temas bem conhecidos,
em função de nossas pesquisas, mas adotando uma estética narrativa e um tipo
de escrita diferente do que é comum na antropologia. Assim, por meio da ficção,
temas como os sentidos, emoções e afeto puderam ser abordados.
Deve-se lembrar que depois de Writing Culture (CLIFFORD & MARCUS,
1986) e a crise da representação dos anos 1980 que o seguiu, a maior parte
dos avanços experimentais foi realizada no domínio da escritura e da etno-
grafia.24 Até os anos 1990, os antropólogos não tinham explorado de maneira
coerente a noção de estética com relação ao conteúdo etnográfico. George
Marcus (2010) afirma que uma apropriação radical do visual teria o potencial
de alargar as perspectivas da pesquisa na nossa disciplina (CALZADILLA &
MARCUS, 2006, p. 96; MARCUS, 2010). No que nos diz respeito, estamos
convencidas de que a etnoficção na produção fílmica tem a capacidade de
gerar novos questionamentos sobre o campo etnográfico.
A etnografia pode ser considerada como um ato de performance (CALZA-
DILLA; MARCUS, 2006, p. 98), e uma mise en scène (MARCUS, 2010;
CALZADILLA & MARCUS, 2006). O imaginário etnográfico se cria por asso-
ciações, conexões e relações que os antropólogos observam e consideram como
importantes para explicar um grupo ou fenômeno social. A mise en scène do
campo etnográfico significa, então, a disposição de elementos, objetos, pessoas,
eventos, lugares e artefatos culturais na perspectiva de criar uma compreensão
de um determinado fenômeno (MARCUS, 2010, p. 268). A noção de mise en
scène, emprestada do teatro e do cinema por Marcus, se aplica naturalmente
ao processo da realização de uma etnoficção.
No nosso caso, o processo de criação da trama narrativa nos permitiu identificar
os componentes-chave da música funk, mas também da vida daqueles que a
consomem. Sem perder de vista o “real”, nossa intenção era representar uma
situação relacionada ao fenômeno do funk, tal como ela é vivida atualmente
24
Ver o artigo “Yellow Marigolds for Ochun: An Experiment in Feminist Ethnographic Fiction”,
escrito por Ruth Behar (2001).
A experiência da imagem 2p.indd 53 14/09/2016 14:27:50
54 na periferia de São Paulo, criando uma atmosfera, para não dizer uma histó-
ria, que seria representativa de uma situação possível e realista. O slogan “A
realidade de um sonho”, que adotamos para promover o filme Fabrik funk,
propõe a justaposição do real e do imaginário, não de forma dicotômica, mas
complementar. Realidade e ficção estão tão imbricadas que o espectador
não consegue distinguir facilmente entre as duas – essa é a arte da etnoficção!
Daniel e os participantes agiram como barômetros da realidade da periferia,
indicando as práticas comuns de linguagem, formas de comunicação, atitu-
de, relação social, pensamento etc., que caracterizam a vida dos jovens de
São Paulo hoje. Graças a essas trocas, que aconteceram durante e depois da
produção do filme, pudemos aprofundar nosso conhecimento da cultura dos
jovens associada à música funk. Dessa maneira, o processo global de produção
do filme se transformou em nosso campo etnográfico.
Segundo David MacDougall (2006), Jean Rouch e John Marshall teriam es-
colhido criar um discurso fílmico, ao invés de utilizar o visual para descrever
a experiência humana. Seus trabalhos convidam à participação ativa dos es-
A experiência da imagem 2p.indd 54 14/09/2016 14:27:50
pectadores no imaginário geográfico e em um espaço social criado pelo filme 55
Etnoficção: uma ponte entre fronteiras
(MACDOUGALL, 2006, p. 67). Ainda segundo MacDougall e em comparação
com os filmes de estilo observacional, o valor principal dos filmes de Rouch e
Marshall está não somente no seu conteúdo etnográfico, mas também na ex-
ploração de emoções, do intelecto, dos desejos, das relações e das percepções
mútuas dos espectadores (id., ibid.).
Nosso slogan “A realidade de um sonho” também nos encoraja a pensar em
termos de desejo e fantasia. A confecção do discurso fílmico nos levou ao espaço
do sensível, um espaço que não poderíamos ter explorado tanto, caso tivésse-
mos abordado a questão do funk a partir de uma perspectiva documentária.
A etnoficção, graças a seu discurso fílmico e sua trama narrativa, convida o
espectador a se identificar com os protagonistas e com o tema do filme. Assim,
como MacDougall, acreditamos que o gênero da etnoficção contribui com a
antropologia se aprofundando na apresentação dos sentimentos, do imaginário
e da fantasia vividos pelos protagonistas do filme.
A fabricação da ficção - considerações finais
Durante o processo de produção da etnoficção, o papel das antropólogas se
transforma e elementos tradicionalmente exógenos à disciplina são por nós
incorporados. Mais que observadoras participantes, nos tornamos antropólogas
criadoras que jogam com a ficção. Nós elaboramos e dirigimos um projeto de
colaboração que nos permitiu criar um texto audiovisual que não se enquadra
nas convenções associadas à nossa disciplina. Nós realizamos conscientemente
uma etnoficção a partir de fatos observados combinados a uma trama narrativa
que nós mesmas criamos em colaboração com nossos parceiros em Cidade
Tiradentes.
Em nossa experiência com Fabrik funk, nossa aproximação com a ficção nos
convenceu que a tênue linha entre a ficção e a realidade está em constante
movimento e é permeável. Sem opor ficção e realidade, nós buscamos explorar
como essas duas dimensões fazem parte de um contínuo e se entrelaçam, para
usar um termo típico de Ingold.
Além disso, a realização de uma etnoficção nos permitiu entender o potencial
de tal empreendimento na divulgação da pesquisa antropológica. A etnoficção
representa para nós uma abordagem metodológica, um instrumento que nos
permite questionar os fundamentos teóricos de nossa disciplina, mas, mais do
que isso, uma estética que nos leva para além dos muros acadêmicos. Com
a etnoficção, construímos uma ponte entre a antropologia, as antropólogas e
A experiência da imagem 2p.indd 55 14/09/2016 14:27:50
56 aqueles que vivem na periferia de São Paulo e que participaram da realização
do filme. É também uma estética que permite tocar – como discutimos an-
teriormente – os espectadores de uma maneira mais direta, mais individual e
nuançada. Observamos, por exemplo, as reações vivas dos espectadores, após
terem assistido ao filme, que se identificam com Negaly, sofrem com suas
frustrações e vibram com suas alegrias. A etnoficção permite uma aproxima-
ção entre as diferentes estéticas visuais das realizadoras, dos participantes e
também dos espectadores.
Curiosamente, o primeiro trabalho do engenheiro Rouch na África – a cons-
trução de estradas e pontes – é a metáfora ideal para pensar a etnoficção:
fabricamos ligações, caminhos por onde transitam pessoas, coisas, ideias e
sentimentos. A etnoficção é um caminho em direção à alteridade em todos
os sentidos do termo.
Bibliografia
BEHAR, Ruth. “Yellow Marigolds for Ochun: An Experiment in Feminist Ethnographic Fiction”.
International Journal of Qualitative Studies in Education, v. 14, n. 2, pp. 107-16. 2001.
BOUDREAULT-FOURNIER & HIKIJI & NOVAES. “Fabriquer le Funk à la Cidade Tiradentes, São
Paulo: performance en ethnofiction”. In: L’Ethnologie, no prelo.
CAIXETA & GUIMARÃES. “Pela distinção entre ficção e documentário, provisoriamente”. In:
COMMOLI, Jean-Louis. Ver e Poder – a inocência perdida: cinema, televisão ficção, documentário.
Editora UFMG: Belo Horizonte, 2008.
CALZADILLA, Fernando & MARCUS, George. “Artists in the Field: Between Art and Anthropology”.
Dans Contemporary Art and Anthropology. SCHNEIDER, Arnd & WRIGH, Christophe (orgs.),
pp. 95-116. Oxford: Berg, 2006.
CANDIDO, Antonio & ROSENFELD, Anatol et al. A personagem de ficção. São Paulo: Perspectiva,
1968.
CANDIDO, Antonio. “A personagem do romance”. In: A personagem de ficção. São Paulo: Perspec-
tiva, 1968.
CARPENTIER, Alejo. Le Partage des eaux. Paris: Gallimard, 1956.
_____. La música en Cuba [1946]. Havana: Colección Popular, 1981.
CLIFFORD, James & MARCUS, George E. (orgs.). Writing Culture: The Poetics and Politics of Eth-
nography. Berkeley: University of California Press, 1986.
COMMOLI, Jean-Louis. Ver e Poder – a inocência perdida: cinema, televisão ficção, documentário.
Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008.
FERRAZ, Ana Lúcia M. C. “Dramaturgia da vida social e a dimensão patética da pesquisa antropoló-
gica”. In: DAWSEY et al. (orgs.). Antropologia e performance: ensaios napedra. São Paulo: Terceiro
Nome, 2013.
FIESCHI, Jean-André. “Derivas da ficção: notas sobre o cinema de Jean Rouch”. In: SILVA, Mateus
A. Jean Rouch 2009: retrospectivas e colóquios no Brasil. Belo Horizonte: Balafon, 2010.
A experiência da imagem 2p.indd 56 14/09/2016 14:27:50
FRANCE, Claudine de (org.). Do filme etnográfico à antropologia fílmica. Campinas: Editora Uni- 57
Etnoficção: uma ponte entre fronteiras
camp, 2000.
GONÇALVES, Marco Antonio. O real imaginado: etnografia, cinema e surrealismo em Jean Rouch.
Rio de Janeiro: Topbooks, 2008.
GRIMSHAW, Anna. The Ethnographer’s Eye. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
HALLAM, Elizabeth & INGOLD, Tim. Creativity and Cultural Improvisation. Oxford/Nova York:
Berg, 2007.
HENLEY, Paul. The Adventure of the Real: Jean Rouch and the Craft of Ethnographic Cinema. Chicago/
Londres: University of Chicago Press, 2010.
HIKIJI, Rose S. G. “Rouch compartilhado: premonições e provocações para uma antropologia con-
temporânea”. In: Iluminuras, v. 14, pp. 113-22, Porto Alegre, 2013.
LATOUR, Bruno. Reassembling the Social. Oxford: Oxford University Press, 2005.
LOIZOS, Peter. Innovation in Ethnographic Film: From Innocence to Self-consciousness 1955-1985.
Manchester: Manchester University Press, 1993.
MACDOUGALL, David. 2006. The Corporeal Image: Film, Ethnography, and the Senses. Princeton:
Princeton University Press.
MARCUS, George E. “The Modernist Sensibility in Recent Ethnographic Writing and the Cinematic
Metaphor of Montage”. In: TAYLOR, Lucien (org.), Visualizing Theory: Selected Essays from V.
A. R. 1990-1994. Nova York: Routledge, pp. 37-53. 1994.
_____. “Contemporary Aesthetic in Art and Anthropology: Experiments in Collaboration and Inter-
vention”. Visual Anthropology, v. 23, n. 4, pp. 263-277. 2010.
PESSUTO, Kelen. “(Em)cena: os “não” atores em Salve o cinema”. In: DAWSEY et al. (orgs.). An-
tropologia e performance: ensaios napedra. São Paulo, Terceiro Nome, 2013.
_____. Relatório de qualificação. Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (FFLCH-USP),
2015 (mimeo).
PRADO, Décio de Almeida. “A personagem do teatro”. In: A personagem de ficção. São Paulo: Pers-
pectiva, 1968.
RIMBAUD, Arthur. Lettre du voyant, 1871. Carta endereçada a Georges Izambard, cujo facsimile foi
publicado pela primeira vez por iniciativa do destinatário, em outubro de 1928 na Revue Européenne
ROSENFELD, Anatol. “Literatura e personagem”. In: A personagem de ficção. São Paulo: Perspectiva,
1968.
ROUCH, Jean. O comentário improvisado “na imagem” – Entrevista com Jean Rouch a Jane Guéronnet
e Philippe Lourdon. In: FRANCE, Claudine de (org.). Do filme etnográfico à antropologia fílmica.
Campinas: Editora Unicamp, 2000.
_____. “The Staging of Reality and the Documentary Point of View of the Imaginary”. In: _____.
(org.). Cine-ethnography. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003a.
_____. “Jean Rouch with Enrico Fulchignoni”. In: FELD, Stephen. Cine-ethnography: Jean Rouch.
Minneapolis: University of Minneapolis Press, 2003b.
SALES GOMES, Paulo Emílio. “A personagem cinematográfica”. In: A personagem de ficção. São
Paulo: Perspectiva, 1968.
SCHECHNER, Richard. “‘Pontos de contato’ revisitados”. In: DAWSEY et al. (orgs.). Antropologia
e performance: ensaios napedra. São Paulo: Terceiro Nome, 2013.
_____. Between Theater and Anthropology. Philadelphia: The University of Pennsylvania Press, 1985.
_____. Performance Theory. Nova York/Londres: Routledge, 1988.
A experiência da imagem 2p.indd 57 14/09/2016 14:27:50
58 SCHNEIDER, Arnd. “Expanded Visions: Rethinking Anthropological Research and Representation
through Experimental Film”. In: Redrawing Anthropology. Materials, Movements, Lines. INGOLD,
Tim (org.). Surrey: Ashgate, pp. 177-94. 2011.
SILVA, Mateus Araújo (org.). Jean Rouch 2009: retrospectivas e colóquios no Brasil. Belo Horizonte:
Balafon, 2010.
SJÖBERG, Johannes. “The Ethnofiction in Theory and Practice”. In: Nafa Network, v. 13, n. 3A, 2006.
_____. “Ethnofiction: Drama as a Creative Research Practice in Ethnographic Film”. Journal of Media
Practice, v. 9, n. 3, pp. 229-42. 2008.
STOLLER, Paul. The Cinematic Griot. Chicago: The University of Chicago Press, 1992.
_____. “Artaud, Rouch and the Cinema of Cruelty”. In: TAYLOR, Lucien (org.). Visualizing theory.
Nova York: Routledge, 1994.
_____. Jaguar: A Story of Africans in America. Chicago: The University of Chicago Press, 1999.
_____. Gallery Bundu. Chicago: The University of Chicago Press, 2005.
SZTUTMAN, Renato. “Imagens-transe: Perigo e possessão na gênese do cinema de Jean Rouch”. In:
BARBOSA et al. (orgs.). Imagem-conhecimento: antropologia, cinema e outros diálogos. Campinas:
Papirus, 2009.
_____. “Jean Rouch: um antropólogo-cineasta”. In: NOVAES et. at., (orgs.). Escrituras da imagem.
São Paulo: Edusp/Fapesp, 2004.
TAYLOR, Diana. “Traduzindo performance” [prefácio]. In: DAWSEY et al. (orgs.). Antropologia e
performance: ensaios napedra. São Paulo, Terceiro Nome, 2013.
Filmografia
A arte e a rua. Carolina Caffé e Rose Satiko Hikiji. 2011.
A pirâmide humana (La Pyramide humaine). Jean Rouch. 1959-60.
Babatou, lês trois conseils. Jean Rouch. 1975.
Cinema de quebrada. Rose Satiko Gitirana Hikiji. 2008.
Cocoricó, monsieur Poulet. Jean Rouch. 1974.
Defina-se. Kelly Regina Alvez, Claúdio N. de Souza e Daniel M. Hylario. Oficinas Kinoforum. 2002.
Eu, um negro (Moi un Noir). Jean Rouch. 1957-58.
Jaguar. Jean Rouch. 1954-67.
Jean Rouch, subvertendo fronteiras. Ana Lúcia Ferraz, Edgar T. da Cunha, Paula Morgado e Renato
Sztutman. 2000.
Lá do Leste. Carolina Caffé e Rose Satiko Hikiji. 2010.
Les Fils de l’eau. Jean Rouch. 1952-58
Les Magiciens de Wanzerbé. Jean Rouch. 1948-49.
Mosso mosso: Jean Rouch comme si. Jean-André Fieschi. 1998.
Os mestres loucos (Les maitres fous). Jean Rouch. 1954-55.
Petit à Petit. Jean Rouch. 1969.
Transfiction. Johannes Sjöberg. 2007.
Yenendi, les hommes que font la pluie. Jean Rouch. 1951.
A experiência da imagem 2p.indd 58 14/09/2016 14:27:50
Narrativas: a verdade velada do
documentário etnográfico?1
PAUL HENLEY
E se por vezes [o editor do documentário] começa a sentir que edi-
tar é menos um ato criativo do que uma mutilação inflingida sobre
algum simulacro sem defesa da vida, ele é, no entanto, forçado pela
lógica de seu ofício a reconhecer a distinção entre cinema e realida-
de: esse filme é sobre algo, ao passo que a realidade não é.
Dai Vaughan
A verdade velada
A fim de atribuir significado aos eventos que eles retratam e ao mesmo tempo
envolver o público, quase todos os documentários etnográficos, em comum
com quase todos os documentários em geral, oferecem algum tipo de estrutura
narrativa que pode ser identificada desde o início da exibição e seguida até o
fim. Se um filme não tem uma estrutura narrativa, ou se ele é muito difícil de
interpretar, há então o risco de que o filme vá se deparar com uma sequência
de vinhetas incompreensíveis e o público em breve ficará desinteressado. Antes
que isso aconteça, há evidências consideráveis que sugerem que o espectador
vai tentar construir uma narrativa, mesmo que o cineasta não tenha apresen-
tado uma: desde as famosas experiências de Pudovkin e Kuleshov na década
de 1920, ficou estabelecido que o público tende a narrativizar uma série de
imagens, mesmo quando não havia esta intenção. Entretanto, só se pode con-
1
Este ensaio é uma grande reformulação de um artigo publicado pela primeira vez em inglês em
2006 (HENLEY, 2006). Outras versões desse artigo apareceram no periódico francês L’Homme
(HENLEY, 2011) e no periódico chinês Thinking (HENLEY, 2013). Tradução: Isabel Novaes de
Medeiros; revisão técnica: Sylvia Caiuby Novaes.
A experiência da imagem 2p.indd 59 14/09/2016 14:27:50
60 fiar nessa capacidade do público sintetizar uma narrativa até um certo limite
e durante um determinado período. Além disso, como realizadores de filme
etnográfico, geralmente não queremos que se construa qualquer narrativa,
totalmente ao acaso, mas sim aquela que corresponde, pelo menos até certo
ponto, à narrativa que se tinha em mente na criação do filme.2
Na década de 1970, tornou-se quase que uma regra nos estudos de cinema e
teoria literária enfatizar o papel do espectador ou leitor no desenvolvimento
da narrativa em que um trabalho representacional é compreendido. Notoria-
mente, Roland Barthes chegou a anunciar a morte do autor.3 De acordo com
a versão mais extrema desta abordagem, não são apenas as intenções do autor
irrelevantes para a compreensão do significado de uma obra, mas o número de
significados que podem ser interpretados são potencialmente infinitos, uma
vez que a resposta de cada leitor/espectador é necessariamente dependente de
uma ampla variedade de fatores, incluindo não apenas disposições subjetivas,
mas as circunstâncias particulares em que a leitura ou visualização do trabalho
em questão ocorre. Neste ensaio, no entanto, eu adoto a perspectiva de um
autor que está muito vivo e que aspira ser um agente ativo comunicando um
conjunto particular de significados através de uma narrativa. Mesmo assim, ao
mesmo tempo, eu também reconheço que a completa eliminação das “leituras
aberrantes” não só é impossível, mas nem mesmo necessariamente desejável,
pois pode muito bem haver um rico filão de significados no trabalho, do qual
não temos conhecimento e que pode talvez somente vir à tona através da
interpretação do espectador.
Quando teóricos do filme de ficção referem-se à “narrativa”, eles podem estar
se referindo a uma ampla gama de diferentes questões estilísticas ou estéticas.
Isto poderia incluir, por exemplo, a posição do sujeito a partir do qual uma
história é narrada (por exemplo, seria a narração interna ao filme e relacionada
através dos personagens, ou seria ela externa, através do voice-over), como os
personagens são desenvolvidos ou elaborados (são personagens totalmente
elaborados, que o espectador passa a conhecer de alguma maneira, ou são
arquétipos anônimos?), como o mundo no qual a ação ocorre é evocado pela
utilização de estratégias cinematográficas particulares (seria este mundo evo-
2
No mais famoso dos experimentos de Pudovkin e Kuleshov um close-up de um ator com uma ex-
pressão impassível imutável foi justaposto sequencialmente a três imagens diferentes: uma tigela
de sopa, uma mulher em um caixão e uma menina brincando com um ursinho de pelúcia. Não só
o público percebeu que o ator estava olhando para as coisas nas cenas adjacentes, mas eles acredi-
tavam que ele havia demonstrado grande habilidade como ator em ajustar sua expressão facial em
resposta ao assunto de cada filmagem. (BARBASH & TAYLOR, 1997, pp. 372-73).
3
Ver Barthes (1977).
A experiência da imagem 2p.indd 60 14/09/2016 14:27:50
cado através de uma combinação de longas tomadas e cortes contínuos ou seria 61
Narrativas: a verdade velada do documentário etnográfico?
ele representado através de montagem?). Ou eles podem estar se referindo
a questões mais substantivas, tais como a maneira em que tropos específicos
convencionais são usados e as variações deste uso ao longo do tempo (por
exemplo, o contraste entre a década de 1920, quando o mundo natural foi
simplesmente concebido como uma força hostil a ser conquistada, como em
Nanook of the North, em oposição à tendência atual para representar a natu-
reza como uma força benéfica, na qual qualquer grupo humano deve buscar a
harmonia). Todos esses aspectos da narrativa, tais como encontrados no filme
etnográfico, certamente merecem mais atenção, mas vou me restringir neste
ensaio exclusivamente às questões estruturais.
Eu suspeito que muitos cineastas etnográficos experientes concordariam com
minha visão de que a capacidade de definir e desenvolver uma estrutura narra-
tiva eficaz ao longo de todo o processo de fazer um filme, desde a captação até
a edição final, representa a habilidade mais valiosa e também a mais difícil de
adquirir entre todas as necessárias para a realização de documentários etnográ-
ficos. No entanto, a sobreposição de uma estrutura narrativa sobre o material
que foi filmado traz uma dificuldade epistemológica potencial. Isso ocorre
porque a sobreposição de uma narrativa em geral envolve alguma intervenção
autoral importante na cronologia dos eventos tal como eles ocorreram na rea-
lidade. No mínimo, envolve na maioria das vezes a quebra da cronologia dos
acontecimentos representados, mas não tão frequentemente, como também
pode envolver uma grande alteração dessa cronologia.
Esta é uma questão que é particularmente problemática para os cineastas cujo
trabalho é baseado no que se poderia chamar de uma “retórica empírica”, ou
seja, a pretensão de estar fornecendo ao público acesso direto ao mundo que
está sendo representado. Este tipo mais comum de reivindicação está na base
de muitas das mais influentes abordagens do cinema etnográfico, incluindo
tanto a tradição do cinema observacional quanto a tradição Rouchiana do ciné-
ma vérité. Os cineastas que trabalham nestas tradições parecem ser pegos em
uma contradição: por um lado eles estão reivindicando mostrar o mundo como
ele realmente é, mas, por outro lado, eles estão manipulando a cronologia de
seu material, a fim de produzir uma narrativa coerente e envolvente. Filmes
baseados em uma retórica mais discursiva, ou seja, aquelas estruturadas por
uma combinação de “cabeças falantes” e uma narração, também exigem uma
estrutura narrativa. Mas isso é tipicamente fornecido por parágrafos de um
argumento verbal que conectam vários elementos do filme, muito mais do que
a apresentação dos eventos em si. Sequências de eventos reais podem muito
bem ser usadas nesses filmes, mas apenas como prova para o argumento dis-
A experiência da imagem 2p.indd 61 14/09/2016 14:27:50
62 cursivo. Em filmes deste tipo, não há nenhuma pretensão de se oferecer acesso
direto ao evento, por isso, se deve haver alguma manipulação da cronologia
dos acontecimentos representados, isso não é tão problemático do ponto de
vista epistemológico.
É talvez por causa dessa dificuldade que a história do cinema etnográfico é
pontuada por várias tentativas de evitar a sobreposição de uma narrativa, ou
pelo menos de algo que é estranho aos eventos retratados. As estratégias ado-
tadas têm sido inúmeras. Uma estratégia muito comum é a de fazer filmes
estruturados por narrativas que simplesmente seguem as narrativas intrínsecas
aos eventos representados, como nos filmes etnográficos sobre inúmeros ri-
tuais, processos técnicos e viagens. Uma versão teoricamente um pouco mais
elaborada dessa estratégia foi o método do “evento-sequência” desenvolvido
pela primeira vez por John Marshall e Timothy Asch no início dos anos 1960,
quando eles estavam editando o material de Marshall sobre o Ju/’hoansi do
sul da África. A ideia essencial subjacente a este método etnográfico foi que o
cineasta deve ter como objetivo identificar eventos no cotidiano dos sujeitos
que tenham estruturas narrativas intrínsecas e, em seguida, fazer filmes que
os sigam em sua totalidade. Estes poderiam ser grandes eventos públicos, como
cerimônias e rituais, mas eles também poderiam ser privados, mais íntimos,
como conversas ou argumentos. Este método permitiu eliminar momentos de
redundância na ilha de edição, então estes filmes foram realmente cortados ao
invés de simplesmente serem descrições não expurgadas do evento represen-
tado. No entanto, os cortes deveriam apenas interromper, ao invés de alterar
a cronologia do evento.
Vários aspectos problemáticos do método do “evento-sequência” foram iden-
tificados, principalmente por Peter Loizos (1993, pp. 16-21). Mas, para os
objetivos atuais, a desvantagem mais significativa do método para os “eventos-
-sequência” era que implicava colocar a interpretação do significado do evento
fora do filme, quer sob a forma de uma explicação verbal sobre uma monta-
gem anterior de imagens fixas resumindo o evento, ou numa documentação
que o acompanhava. Tal como demonstrado pelo desenvolvimento posterior
do método por Ash, ao fazer seus filmes sobre os Yanomami, sobretudo seu
mais conhecido The Ax Fight (1975), assim que alguém procura introduzir
alguma forma de interpretação do significado de um evento no próprio filme,
isto requer a sobreposição de uma narrativa externa e alguma manipulação da
cronologia intrínseca ao evento.
Uma tentativa um tanto diferente, para contornar a imposição de uma estru-
tura narrativa externa, foi a estratégia de Jean Rouch do plano-sequência. Isto
A experiência da imagem 2p.indd 62 14/09/2016 14:27:50
envolveu uma filmagem ininterrupta, no maior tempo possível, de um evento 63
Narrativas: a verdade velada do documentário etnográfico?
até chegar num total de onze minutos de duração de um filme de dezesseis
milímetros de quatrocentos pés. Realmente, a preocupação de Rouch era pre-
servar não só a ordem cronológica original, mas também a duração original do
evento filmado. No entanto, ao invés de a captação ser limitada por quaisquer
propriedades narrativas inerentes ao evento em si, como no caso do método
do evento-sequência, no plano-sequência ela seria limitada pela duração do
filme padrão dezesseis milímetros.
A arbitrariedade desta duração em si levanta algumas questões sobre o método,
particularmente agora que a tecnologia de dezesseis milímetros é totalmente
obsoleta no cinema etnográfico e, com os discos rígidos modernos disponíveis,
tornou-se possível filmar por uma hora ou mais, sem interrupção. No entanto,
mais pertinente para a presente discussão é o fato de que, embora tenha
seguido o que estava acontecendo na frente da câmera sem interrupção, o
plano-sequência ainda envolvia a imposição de uma narrativa externa sobre o
evento que está sendo representado. Isto é claramente demonstrado pelo mais
longo plano-sequência que o próprio Rouch já obteve, que é o que constitui a
quase toda totalidade de Les Tambours d’avant: Tourou et Bitti, filmado em
1971, e que consumiu quase um filme inteiro de quatrocentos pés. Embora
tenha sido inteiramente rodado espontaneamente, este curta-metragem é es-
truturado por um tropo de narrativa clássica, começando com uma filmagem
andando por uma aldeia, descobrindo uma falta (a ausência de possessão entre
os membros de um culto), registrando a superação dessa falta (a chegada dos
espíritos), antes de recuar para acabar com uma filmagem em plano aberto do
pôr do sol e as crianças na plateia, olhando metaforicamente para o futuro.4
A lição que se pode tirar desses exemplos é que mesmo que se tente evitar isso,
a realização de um documentário etnográfico envolve quase que inevitavelmen-
te a sobreposição de uma estrutura narrativa estranha aos eventos retratados.
No entanto, apesar do fato de que a maioria dos cineastas reconheceriam
isso e que todos nós passemos muito tempo pensando a respeito da estrutura
narrativa na ilha de edição, a mecânica de fazê-lo não é um assunto a que
dedicamos muito tempo escrevendo ou falando, pelo menos não em público.
É como se, se admitíssemos publicamente que nós sujeitamos cotidianamente
nosso material bruto a manipulações cronológicas, no interesse da produção
de narrativas coerentes, isso seria confessar uma verdade velada que é melhor
manter em segredo.
4
Ver Henley (2009, pp. 270-74) para uma discussão mais aprofundada da estrutura narrativa deste
filme.
A experiência da imagem 2p.indd 63 14/09/2016 14:27:51
64 Suspeito eu que essa atitude é sintoma do fato de que na realização do filme
etnográfico nós permanecemos nas garras de um resíduo persistente de positi-
vismo e, como resultado, tendemos a acreditar que qualquer fuga de um relato
literal da realidade, à exceção talvez por razões de redundância, não é realmente
legítimo. Mas é certamente tempo de nos livrarmos desse fantasma de nossa
herança das ciências naturais e realmente aceitarmos que, em primeiro lugar,
todos os filmes etnográficos são representações que, necessariamente, envol-
vem narrativa e, em segundo lugar, o desenvolvimento de uma narrativa eficaz
e coerente envolve necessariamente intervenções na cronologia. O primeiro
passo nesse processo de autolibertação deve ser o de dirigir a nossa atenção
de maneira mais sistemática ao modo como nós realmente usamos a narrativa
e de que forma. Isto é o que vou tentar fazer – de uma forma necessariamente
sumária – no restante deste ensaio.
Narrativas intrínsecas e a fórmula “clássica”
A vantagem de rituais como tema de um filme etnográfico é que, não só eles
têm uma narrativa intrínseca que pode ser reciclada como uma narrativa ci-
nematográfica, mas que nesta reciclagem eles geralmente podem ser acomo-
dados sem muita dificuldade no que se poderia chamar a fórmula “clássica”,
para produzir narrativas envolventes e compreendidas com facilidade. Esta é
atrelada a normas dramatúrgicas desenvolvidas na Grécia Antiga e tem sido
com frequência descrita na literatura teórica sobre narrativa, embora com uma
variedade de diferentes ênfases e graus de complexidade.
Na versão mais simples, diz-se que a fórmula é constituída por apenas três
fases, tal como consagrado no mantra do cineasta profissional, de que todas
as narrativas devem ter um Começo, um Meio e um Fim. Colocado de uma
maneira um tanto mais complexa, diz-se que a primeira dessas fases deve ser
a de exposição, em que os personagens e a situação geral são apresentados.
Em seguida, um evento desequilibrante deve desencadear a segunda fase em
que uma série de outros eventos culminam, eventualmente, em algum tipo de
crise ou clímax. A resolução deste ápice constitui a terceira e última etapa.
Várias outras elaborações sobre esta fórmula clássica foram propostas, consis-
tindo em cinco ou mesmo sete estágios variantes. De modo geral, representam
pouco mais que uma subdivisão mais pormenorizada do modelo original de
três partes. No entanto, uma característica interessante adicional implícita
em pelo menos algumas dessas fórmulas mais elaboradas é um elemento de
circularidade, pelo qual a fase final da narrativa é reconectada, em certo sen-
A experiência da imagem 2p.indd 64 14/09/2016 14:27:51
tido, com o início. Desta forma, argumenta-se, uma estrutura narrativa pode 65
Narrativas: a verdade velada do documentário etnográfico?
sugerir uma sensação de completude e, consequentemente, de fechamento.5
Os teóricos da narrativa discordam fundamentalmente sobre o estatuto onto-
lógico dessas várias versões da fórmula narrativa clássica. Alguns, como Edward
Branigan, consideram-no ser nada menos do que a expressão de um “esque-
ma” fundamental da cognição humana, enquanto outros, como Bill Nichols,
argumentam que são nada mais do que uma construção cultural “ocidental”
que serve o propósito hegemônico de manter a distância entre o poderoso Self
observador e o subalterno Outro observado. No entanto, qualquer que seja o
real estatuto das variantes na fórmula clássica, a maioria dos teóricos concorda
que a fórmula é muito eficaz como meio de produção de narrativas que audiên-
cias europeias cultas consideram envolventes e facilmente compreensíveis.6
É fácil visualizar como a estrutura narrativa de filmes sobre rituais pode ser
acomodada ao padrão clássico. Se a sequência explicativa preliminar, que
estabelece os personagens e a situação, representa a fase de exposição, então
o início do ritual representaria o evento desequilibrante que desencadeia a
ação. A fase central seria a ação do ritual que progressivamente se desenvolve
e o clímax da narrativa seria o ponto alto do evento, ou seja, o momento em
que a criança é iniciada, a despedida do espírito do falecido, a chegada do ano
novo em vigor ou o que seja o caso. A fase final, a resolução, iria lidar com
coisas como a transformação psicológica, social ou simbólica dos principais
participantes, a partida dos celebrantes, as discussões post-mortem do dia
seguinte e assim por diante.
Embora possam não envolver completamente o grau típico de um ritual
performativo ou teatral, há uma série de outros tipos de eventos de interesse
específico para antropólogos, que também apresentam narrativas intrínsecas
que podem ser acomodadas, sem muita dificuldade, nos requisitos da fórmula
clássica. Estes incluem uma ampla gama de processos técnicos, a produção de
obras de arte, a preparação das refeições e a semeadura, cultivo e colheita. Em
5
A fórmula proposta pelo narratologista russo Tzvetan Todorov tem cinco estágios: equilíbrio, ruptura,
reconhecimento da ruptura, tentativa de reparar o rompimento, restabelecimento do equilíbrio.
Neste esquema, a terceira fase pode constituir como uma inversão do primeiro e quinto estágio
e a quarta uma inversão da segunda fase. Há também uma circularidade implícita em que a fase
final representa um retorno para o estado da primeira fase. Edward Branigan, por sua vez, propôs
um “esquema” de sete fases: (1) introdução de cenário e personagens (2) explicação de um estado
das coisas; (3) evento de iniciação; (4) resposta emocional ou declaração de um objetivo por um
protagonista; (5) ações complicadoras; (6) resultado; (7) reações ao resultado (ver Branigan (1992,
pp. 4-5,14)).
6
Ver Nichols (1992).
A experiência da imagem 2p.indd 65 14/09/2016 14:27:51
66 todos estes processos, a etapa de preparação ou a coleta das matérias-primas e
da apresentação dos agentes humanos corresponderiam à fase expositiva, a ela-
boração dos materiais corresponderia à fase de desenvolvimento enquanto que a
emergência final do artigo acabado, banquete, colheita ou o que quer que seja,
agiria como a fase de resolução.
O mesmo pode ser dito de viagens, que podem ser definidas amplamente para
abranger essas diversas formas de deslocamento espacial como peregrinações,
o pastoreio de animais provenientes de um ambiente para outro, comércio
ou expedições de caça, até mesmo missões científicas de natureza antropoló-
gica. Aqui a preparação para a jornada oferece a oportunidade de apresentar
os viajantes e sua missão, a partida representa o momento desequilibrante,
a própria jornada o estágio de desenvolvimento e a chegada o momento
do clímax, enquanto a transformação na condição geral do viajante ou seu
estado de espírito constituiria a resolução da história. Em suma, ao fazer um
filme sobre os acontecimentos destes inúmeros tipos, como no caso de rituais,
o cineasta etnógrafo pode ter o melhor dos dois mundos uma vez que sem
qualquer grande grau de artifício, ele ou ela pode contar uma história envol-
vente embora ainda amplamente fiel à realidade pró-fílmica.7
No entanto, quaisquer que possam ser as suas vantagens, há alguns teóricos
que se opõem ao uso da fórmula clássica para fins etnográficos, argumentando,
em comum com Bill Nichols, que é uma construção cultural muito particular
de origem europeia. Neste sentido, aplicá-la à representação de realidades
culturais não europeias seria deturpar essas realidades e perpetuar a hege-
monia cultural europeia. Ao invés disso, propõem que realizadores de filmes
etnográficos devem trabalhar em conjunto com os seus interlocutores para
desenvolver narrativas que surjam das próprias tradições culturais dos sujeitos
e empregá-las na construção de seus filmes.
Este argumento suscita uma série de questões gerais sobre as ramificações
políticas e éticas da realização do filme etnográfico, que são muito complexas
para enfrentar aqui de modo extenso. Mas, como um primeiro passo, gostaria
de sugerir que é importante distinguir entre o conteúdo e a forma de uma
narrativa. No que diz respeito ao conteúdo, eu concordo que há boas razões
para o cineasta etnográfico trabalhar em conjunto com seus interlocutores, a
fim de estabelecer o que eles consideram ser importante sobre o fenômeno
com que o filme proposto vai lidar e como este deve ser apresentado ou in-
7
Ver Crawford (1992, pp. 130-31) para a análise narratológica do célebre travelogue, Grass (1925)
que mostra que esse filme está em conformidade muito próxima da fórmula narrativa clássica.
A experiência da imagem 2p.indd 66 14/09/2016 14:27:51
terpretado. Na verdade, a maioria dos filmes etnográficos que são feitos hoje 67
Narrativas: a verdade velada do documentário etnográfico?
são, provavelmente, participativos nesse sentido.
Também pode haver um caso, tanto por razões éticas como razões políticas, de
discutir certas considerações estilísticas com os sujeitos. Por exemplo, é possível
que em algumas sociedades o grau de aproximação do espaço pessoal implícito
num close-up extremo possa ser considerado como abuso de privacidade e
este poderia, portanto, ser um recurso estilístico que um cineasta eticamente
consciente pode ter o intuito de evitar. Ou pode haver considerações políticas
locais para levar em conta, como Alessandro Cavadini e Carolyn Strachan des-
cobriram ao fazer Two Laws (1981) com a comunidade Borroloola aborígene na
Austrália. Neste caso, os sujeitos preferiram o uso de lentes grande angular, não
para evitar a intrusão de uma lente close-up, mas sim para aqueles que iriam
necessariamente aparecer falando nas imediações da filmagem, proporcionando
assim a autoridade e a confirmação do que estava sendo dito.8
No entanto, com relação à forma de uma narrativa, como representada pe-
los aspectos estruturais que eu tenho abordado neste ensaio, eu diria que a
preocupação mais premente do cineasta deve ser a de apresentar ao eventual
público alvo para o filme uma narrativa que eles considerem ser compreensível
e envolvente. Se este eventual público alvo é culturalmente europeu, então
não vejo dificuldade em tirar proveito das convenções europeias estabelecidas
de estrutura narrativa ao abordá-los. Não estou certo de que a adoção da fór-
mula clássica, ou alguma variante, sirva para perpetuar a hegemonia cultural
europeia, como Nichols imagina, assim como, por outro lado, não posso ver
como a ruptura intencional destas convenções de alguma forma leve a uma
alteração das relações de poder entre cineasta e os sujeitos.9
Por outro lado, o que é certo é que a aplicação impensada da fórmula clássica
tem muito mais probabilidade de produzir filmes muito maçantes. Se um filme
se torna apenas uma passarela de pedestres, uma cena após outra de um ritual,
processo técnico ou viagem, a paciência do público será colocada à prova, por
8
Ver MacBean (1983).
9
Nichols é um grande admirador do trabalho de Trinh T. MinHa, cujos filmes envolvem a ruptura
sistemática de convenções documentais, incluindo a fórmula narrativa clássica. Talvez o mais conhe-
cido de seus filmes, que poderia ser amplamente interpretado como etnográfico, é Reassemblage
(1982). Mas, embora este filme seja sem dúvida interessante na medida em que destaca a natureza
de algumas das convenções que sustentam a prática do documentário, ele consegue comunicar muito
pouco sobre a vida dos indivíduos senegaleses do filme. A respeito disso, concordo totalmente com
Peter Crawford quando ele sugere que os indivíduos não são mais do que “reféns simbólicos” da
crítica do que ela considera ser o personagem colonial da representação do documentário ocidental
(CRAWFORD, 1992, p. 125).
A experiência da imagem 2p.indd 67 14/09/2016 14:27:51
68 mais que se possa estar de acordo com a fórmula clássica. Infelizmente, muitas
vezes os filmes etnográficos sobre esses temas acabam por ser justamente assim.
A fim de evitar tal tédio, é importante dar ao material mais significado e mais
interesse através da superposição de algum elemento de narrativa extrínseca
idealizada pelo cineasta.
Histórias e tramas
Um dos meios mais eficazes de aumentar o poder de uma narrativa para envol-
ver o público é reforçar as ligações entre os seus diversos componentes. Aqui é
útil a referência a um outro conceito muito citado na literatura narratológica,
ou seja, a distinção entre uma “história” e um “enredo”. Recentes teóricos
da narrativa tem uma gama de diferentes perspectivas sobre como deve ser
estabelecida essa distinção, mas a visão mais convencional é que, enquanto
uma “história” descreve o que aconteceu, um “enredo” descreve como isso
aconteceu. Assim, enquanto uma “história” meramente detalha uma série de
episódios ou eventos, um “enredo” postula uma conexão entre eles, seja ela
motivacional ou causal e, portanto, produz um tipo mais envolvente de nar-
rativa. Se essa trama é complexa, envolvendo reversões de fortuna ou trilhas
falsas, que introduzem drama e suspense, então ela pode se tornar ainda mais
atraente para o público. É por essa razão que no filme típico de ficção ocidental,
a progressão narrativa de uma situação inicial para a conclusão final geralmente
envolve muitas reviravoltas ao longo do caminho, mesmo que ainda atinja algum
tipo de clímax e resolução, pouco antes do final do filme.10
Qualquer evento ou série de eventos que são estruturados de alguma forma,
mas cujo resultado permanece incerto, se presta bem a esse tipo de trama no
âmbito de uma narrativa de documentário. Esta foi a fórmula implícita na
chamada “estrutura de crise” subjacente aos filmes dos diretores do cinema
direto nos anos 60 e 70, que construíram seus filmes em torno de tais eventos
como uma eleição, um julgamento por assassinato e uma crise política. Isso
também explica por que competições de todos os tipos – sejam elas espor-
tivas, concursos de soletração ou exibição de cães – são tão frequentemente
10
Em seu famoso texto, Aspects of the Novel, o escritor britânico E. M. Forster contrastou as de-
clarações “O rei morreu e a rainha morreu” e “O rei morreu e, em seguida, a rainha morreu de
tristeza”. A primeira, ele sugere, é uma mera “história”, enquanto a segunda é um “enredo”. De
acordo com Arthur Asa Berger, Aristóteles especificamente criticou tramas episódicas nas quais
episódios eram seguidos um do outro “sem sequência provável ou necessária” e diferenciava entre
enredos simples e complexos, sendo estes últimos superiores e envolvendo reversões de fortuna
que foram reconhecidas e postas em prática pelos personagens (BERGER, 1997, p. 22).
A experiência da imagem 2p.indd 68 14/09/2016 14:27:51
o foco de documentários de televisão. Filmes etnográficos, pelo contrário, 69
Narrativas: a verdade velada do documentário etnográfico?
tendem a ser mais semelhantes a uma história e baseiam-se numa sequência
simples de episódios vinculados no tempo ou no espaço que, gradualmente, se
desdobram e eventualmente resultam em uma conclusão, mas entre os quais
não há a tensão dramática encontrada em uma trama. Como resultado desta
falta de trama, documentários etnográficos têm uma tendência a ser bastante
entediantes e previsíveis.11
No entanto, é perfeitamente possível introduzir um elemento de trama num
filme etnográfico, utilizando a estrutura de um evento para proporcionar uma
estrutura narrativa, mas, ao mesmo tempo, utilizando a incerteza que atende ao
desenrolar da narrativa para explorar temas de interesse etnográfico. Um bom
exemplo disso é The Wedding Camels (1977), o filme de David e de Judith
MacDougall sobre um casamento entre os pastores Turkana da África Oriental.
Neste caso, a trama consiste no fluxo e refluxo de intriga em torno da distri-
buição dos animais do dote da noiva durante o período de preparação para o
casamento. Isso mantém o interesse do público ao longo do filme que tem
quase duas horas de duração. É também um dispositivo que tem mais do que
mero valor de entretenimento, uma vez que é através das tensões e argumentos
que aprendemos muito sobre as relações entre homens e mulheres, jovens e
velhos, bem como entre os parentes realmente envolvidos nas negociações.
Essas percepções poderiam não ter vindo muito bem à tona no decorrer das
filmagens se não tivesse havido disputas sobre a distribuição dos animais. Em
vários momentos, as disputas tornaram-se tão aguçadas que parecem colocar em
dúvida a celebração do casamento, criando, assim, um elemento de suspense
que incentiva ainda mais o engajamento do público.
Quando o objeto de estudo de um documentário não proporciona por si só
uma oportunidade para a trama, ainda há a possibilidade de aumentar o engaja-
mento do público através da introdução de uma ou mais perguntas no início do
filme, que são respondidas aos poucos, possivelmente com a possibilidade de
várias falsas trilhas ao longo do caminho. Esta forma de trama pode ser usada
para animar esse outro produto do filme etnográfico, o filme de viagem. Um
exemplo que vem à mente aqui é Long Time No See (2001), um filme feito
por Johannes Sjöberg, quando ele era estudante de mestrado, no Granada
Centre for Visual Anthropology. A viagem no cerne deste filme é pessoal, ao
invés de viagens coletivas que são mais frequentemente objeto de documen-
tários etnográficos. Mas os princípios permanecem os mesmos: fazendo uma
pergunta no início do filme, cuja resposta não é óbvia, o público será levado
11
Sobre “estrutura de crise” utilizada pelo grupo do Cinema Direto, ver Mamber (1974, pp. 115-40).
A experiência da imagem 2p.indd 69 14/09/2016 14:27:51
70 na viagem de uma etapa para a próxima até que o destino – simultaneamente
físico, temporal e metafórico – seja atingido no final do filme.
A viagem que Johannes faz em Long Time No See é uma viagem de retorno, de
volta para o orfanato na Guatemala, onde ele havia trabalhado como voluntário
dando aulas de teatro entre a saída da escola e o caminho para a universida-
de. No início do filme, ele se faz uma série de perguntas: o que aconteceu
com as crianças com quem ele havia trabalhado, como sobreviveram às crises
econômicas e à guerra civil que ocorreu desde a sua última visita, como é que
elas, voltando no tempo, se percebem à época do orfanato, e em especial
como elas percebem seu papel nisso? Enquanto ele viaja pelo país buscando
as crianças, ele faz algumas descobertas indesejáveis: a maioria delas se lembra
de sua experiência no orfanato como um momento muito infeliz, em grande
parte por causa do regime autoritário imposto pelo diretor que veio depois e,
além disso, elas associam Johannes a este regime. Mas ainda mais chocante é
a descoberta de que elas se ressentem do fato de que, depois de terem feito
amizade com ele, ele então as deixou e voltou para o seu próprio país. Ele
percebe que, como órfãos, as crianças teriam sentido essa perda intensamente.
Ele tinha pensado em si mesmo como engajado em uma missão altruísta, mas,
na verdade, ele começa a perceber que tinha ido para a Guatemala em uma
aventura egocêntrica sem pensar no custo para aqueles com quem ele estava
trabalhando. Ele gradualmente se torna consciente de que, ao trabalhar como
voluntário, estava usando as crianças para seu próprio ganho pessoal e, o que
é pior, ao fazer este filme, ele está fazendo isso de novo.
O auge do desespero coincide na estrutura narrativa do filme com uma visita
às ruínas do orfanato. Estas encontram-se à montante da cidade onde Johannes
ficou em grande parte da filmagem, no meio da floresta. Acompanhado por
um dos ex-trabalhadores do orfanato, que se debulhou em lágrimas, Johannes
inspeciona os patéticos restos do que foi outrora um lugar ativo, ecoando vida,
agora tomado pela vegetação. Esta cena é colocada a cerca de quatro quintos
da trajetória do filme, embora, na realidade, Johannes tenha visitado o local
logo após sua chegada na Guatemala. Mas na edição do filme, ele alterou a
cronologia real para que este momento específico da viagem física e temporal,
quando ele visita as ruínas do orfanato, coincidisse com o ponto mais baixo
na jornada metafórica de autoconsciência, que ele também estava fazendo.
Na parte final, o filme consegue, quase milagrosamente, sair do buraco que ele
cavou para si mesmo. Nós encontramos um simpático guatemalteco diretor da
escola que fala calorosamente da contribuição que os voluntários europeus têm
feito para sua escola. Vemos, então, uma jovem inglesa ensinando uma classe.
A experiência da imagem 2p.indd 70 14/09/2016 14:27:51
Em contraste com Johannes, ela está lá para uma longa jornada e vai estar lá 71
Narrativas: a verdade velada do documentário etnográfico?
por vários anos. A moral da história é bastante clara: para fazer uma verda-
deira diferença para resolver os problemas do mundo em desenvolvimento,
é necessário empenhar-se por um período mais longo. O filme termina com
o som alegre de ocarinas tocadas pelas crianças na sala de aula da inglesa. Até
mesmo o filme encontrou uma espécie de salvação uma vez que embora possa
ter em algum sentido explorado seus interlocutores, ele tem uma importante
mensagem para comunicar a outros voluntários ingênuos.12
Cronologias fictícias
Nem todos os temas etnográficos ou tópicos têm uma narrativa intrínseca que
possa ser tão facilmente transposta para uma narrativa cinematográfica como é
o caso de rituais, processos técnicos e viagens. De um ponto de vista narrativo,
um desafio bem mais exigente é apresentado quando se procura fazer um filme
sobre um determinado período na vida de uma comunidade, que envolve uma
série diversificada de eventos que, de alguma forma, tem que ser consolidados
em uma única narrativa linear. Filmes deste tipo são frequentemente ordena-
dos numa base temática, com material de filmagem em diferentes momentos
e diferentes lugares justapostos, a fim de demonstrar a sua relevância um para
o outro. Mas este material muitas vezes é novamente reorganizado na base do
que se poderia chamar de uma “cronologia fictícia”, isto é, uma cronologia que
é uma invenção do cineasta, mas que é modelada por uma cronologia natural.
Além disso, esta cronologia fictícia é, em si, estruturada de tal maneira que,
geralmente se conforma, pelo menos em algum grau, à fórmula narrativa clássica.
Desta forma, o cineasta pode ter o melhor dos dois mundos. Isso pode dar
coerência temática à narrativa e ao mesmo tempo envolver o público por meio
de uma cronologia fictícia que cumpre a função narrativa de moldar e fazer
progredir a ação. Estas intervenções cronológicas variam consideravelmente
em grau e extensão nos cânones do filme etnográfico, de ajustes sutis a se-
quências temporais reais, até a fabricação direta de cronologias sem relação
com qualquer sequência temporal que tenha sido registrada no mundo real.
Filmes deste tipo, obviamente, levantam questões epistemológicas mais sérias
do que aqueles que são baseados em não mais do que a elaboração de narra-
tivas intrínsecas. Eu voltarei a estas questões depois, mas primeiro devemos
examinar alguns casos reais.
12
Johannes Sjöberg depois foi fazer Transfiction (2007), um filme sobre transexuais que vivem em
São Paulo, provavelmente mais conhecido pelos leitores brasileiros.
A experiência da imagem 2p.indd 71 14/09/2016 14:27:51
72 A história do filme etnográfico está cheia de exemplos que provam este ponto,
mas por razões de espaço, podemos considerar apenas alguns casos emblemá-
ticos. Podemos começar com o que é amplamente considerado como o filme
que dá origem ao documentário etnográfico, Nanook of the North, lançado
em 1922. Este começa com uma sequência relativamente longa de cenas que
estabelecem tanto o ambiente hostil quanto os personagens, principalmente
Nanook, que é mostrado para ser não apenas um “alegre e despreocupado”
esquimó como os letreiros do início sugerem, mas também um canoísta qua-
lificado, pescador e valente caçador de morsas. Como Brian Winston apontou,
não há lógica dominante que ligue essas várias cenas expositivas preliminares:
elas são meramente “iterativas”, isto é, elas mostram Nanook e sua vida no
Ártico no que é aparentemente seu cotidiano mais rotineiro. Mas então um
intertítulo repentinamente anuncia “inverno” e o filme entra no modo cro-
nológico fictício. Todas as cenas posteriores são ligadas pelo fato de que elas
supostamente acontecem de modo sequencial no decorrer de uma jornada
específica. Isso culmina, na forma clássica, em uma crise quando Nanook
e sua família são pegos fora da base por uma súbita tempestade de neve, e
obrigados a refugiar-se em um iglu abandonado. Aqui eles dormem à noite e
o filme termina com Nanook roncando suavemente.13
A narrativa do filme também apresenta um elemento de circularidade, obtido
através do uso do que se poderia chamar de um “mecanismo de enquadramen-
to”. É bem sabido que ao fazer este filme, Flaherty organizou a construção de
um iglu maior do que o normal, sem uma parte da parede, de modo que ele
teria espaço e luz suficientes para filmar Nanook e sua família na parte interna.
Muito menos comentado é como ele utilizou o material filmado neste quase-
-iglu para reforçar a cronologia fictícia do filme. O material bruto original teria
mostrado a família se recolher para dormir debaixo de uma pilha de peles e,
em seguida, levantando-se. Obviamente, essas ações devem ter sido realizadas
nessa ordem, pois a família claramente não poderia ter levantado a menos que
eles tivessem feito a arrumação para dormir primeiro. No entanto, Flaherty
depois cortou a sequência em dois e usou a primeira parte do material bruto,
mostrando o ir para a cama logo no final do filme, quando os protagonistas
13
Winston atribui particular importância na história do documentário para a estrutura narrativa de
Nanook, propondo que, quando adotamos a perspectiva de Todorov (considerando narrativa como
um processo de transformação, onde o desequilíbrio causado pelo inverno é restabelecido quando
Nanook encontra abrigo), ou a de Barthes (considerando narrativa como dar respostas a uma série
de perguntas) ou quando pensamos na narrativa em termos da cadeia sintagmática de Metz, é a vida
cotidiana que pela primeira vez testemunhamos de forma narrativizada neste filme (WINSTON,
1995, pp. 101-2).
A experiência da imagem 2p.indd 72 14/09/2016 14:27:51
supostamente se recolhem durante a noite no iglu abandonado. Enquanto isso, 73
Narrativas: a verdade velada do documentário etnográfico?
ele usou a segunda parte do material bruto, o levantar-se, imediatamente antes
da viagem fictícia que compõe a parte principal do filme. Embora a viagem
pareça, se observamos detidamente, ocorrer durante dois dias, mostrando
a família aparentemente se levantar de manhã e ir para a cama à noite, este
dispositivo de enquadramento introduz um elemento de circularidade que
aumenta a sensação de fechamento no final do filme.14
O uso de tais cronologias fictícias como base para uma estrutura narrativa tem
sido a ferramenta principal de cineastas etnográficos desde então. As utilizadas
por John Marshall em The Hunters, lançado em 1957, também são muito bem
conhecidas. Aparentemente, este filme retratava a busca de uma girafa pelo
deserto do Kalahari por quatro caçadores Ju’/hoansi, durante um período de
cinco dias. No decorrer dessa busca, eles sentem muita fome e sede, mas, fi-
nalmente, quando estão quase a ponto de desistir, eles conseguem com muito
trabalho matar o pobre animal com suas lanças. Porém, na realidade, o filme
envolveu várias girafas diferentes e vários homens, que tinham viajado com o
cineasta em um jipe com alimentos e água gelada. Embora a girafa finalmente
entre em colapso como resultado da lança, ela já havia sido ferida por uma
flecha envenenada atirada do jipe, à qual não é feita qualquer referência. Muitas
tomadas utilizadas no filme foram feitas em outro momento. No exemplo mais
extremo, o close-up, as tomadas de ângulo inversas dos homens atirando suas
lanças na girafa no momento da morte foram captadas quase dois anos após a
longa tomada da girafa ser atingida com as lanças.15
Esta cronologia totalmente fictícia é posteriormente moldada por uma nar-
rativa que é muito próxima da fórmula clássica. Como em Nanook, há uma
seção expositiva preliminar em que os quatro caçadores são introduzidos e há
várias cenas recorrentes sobre a vida cotidiana entre os Ju’/hoansi. O filme
entra então totalmente num modo de cronologia fictícia quando os caçadores
saem de cena. A caçada em si é tema de várias tramas, pois eles tiveram muito
azar, o que torna o filme mais envolvente, mas finalmente eles alcançam seu
objetivo. Esse clímax é seguido por uma fase de resolução quando o filme
retorna ao acampamento onde os homens celebram e contam a história da
caçada. O uso hábil destes dispositivos narrativos bem afiados provou ser
muito bem sucedido e The Hunters se tornou um dos filmes etnográficos mais
14
Editores de filmes às vezes se referem a dispositivos de enquadramento deste tipo como um
“aparador de livro”, uma alusão aos conjuntos geminados de pesos tradicionalmente utilizados para
conter uma fileira de livros em uma prateleira, com um peso em cada extremidade.
15
Ver Marshall (1993, pp. 35-36).
A experiência da imagem 2p.indd 73 14/09/2016 14:27:51
74 frequentemente exibido nos campi dos Estados Unidos por muitos anos após
seu lançamento. Mas talvez castigado por todas as críticas que recebeu por ter
manipulado o registro fílmico original, Marshall então mudou para o método
do evento-sequência que eu descrevi acima.
Outro exemplo clássico semelhante é Crônica de um verão (1960), codirigido
por Jean Rouch e Edgar Morin. Este filme acompanha um grupo de jovens
parisienses durante o verão de 1960 e tem uma nítida estrutura cronológica
começo-meio-fim: na primeira parte, os protagonistas nos são apresentados na
cidade, como eles refletem sobre seus relacionamentos no trabalho, entre si e
com as guerras coloniais em curso naquele momento na África; então nós nos
juntamos a eles em suas férias de verão no sul da França e em outros lugares;
finalmente, eles estão todos reunidos novamente para o clímax no meio das
chuvas de outono. No entanto, a partir do espirituoso livro de memórias que
Morin escreveu logo após o lançamento do filme, fica claro que esta estrutura
tripartite só foi possível através da manipulação da cronologia dos eventos
filmados originalmente. Algumas cenas que são apresentadas como tendo ocor-
rido antes das férias de verão no filme, tinham efetivamente ocorrido depois.
Surpreendentemente, estas incluem a célebre cena de abertura em que duas
das protagonistas, Nadine e Marceline, andam pelas ruas de Paris perguntando
a transeuntes, “Você é feliz?”. Morin relata que, na realidade, esta cena foi
filmada no final da produção, mas eles decidiram na edição final colocar logo
na abertura do filme porque sentiram – com razão – que a cena fornecia uma
entrada efetiva no tema alienação-no-trabalho, que constitui uma vertente
importante do filme na seção pré-férias. Curiosamente, as vozes de Nadine e
Marceline desta sequência de abertura do filme, assim como a música melodiosa
de uma máquina de música mecânica de propriedade de um casal de artistas
que elas entrevistam, são colocadas novamente quando Morin sai pela Champs
Elysées na cena final e os créditos começam a rolar. Isto é, efetivamente, um
dispositivo de enquadramento sonoro que leva a narrativa de volta ao início e,
assim, aumenta a sensação de encerramento sinalizada pela viagem de volta de
Morin – em si um dispositivo muito bem estabelecido, é claro, muito usado
por Charlie Chaplin, entre muitos outros.16
No entanto, mesmo essa grande reformulação da cronologia na Crônica não
é nada em comparação ao que se encontra na obra-prima de Robert Gardner,
Forest of Bliss, lançado cerca de 25 anos depois, que pretende mostrar as ati-
16
Ver Morin (2003) e também Henley (2009, pp. 145-175) para uma discussão mais extensa de
Chronicle of a Summer.
A experiência da imagem 2p.indd 74 14/09/2016 14:27:51
vidades que ocorrem durante um período de 24 horas e em torno de piras de 75
Narrativas: a verdade velada do documentário etnográfico?
cremação à beira do Rio Ganges, enquanto atravessa a cidade santa hindu de
Benares. Como em muitos documentários, o filme começa ao amanhecer e
então segue ao longo do dia. Mas, enquanto muitos documentários terminam
ao anoitecer, Forest of Bliss continua pela noite e termina no amanhecer se-
guinte. No entanto, na realidade, Gardner captou o material para este filme
ao longo de um período de cerca de dez semanas. Podemos confiantemente
assumir então que certas sequências filmadas no período da tarde, na realidade,
são apresentadas como se elas tivessem ocorrido no período da manhã e vice-
-versa. O mesmo pode ser assumido com relação às sequências filmadas ao
amanhecer e ao entardecer. Este quadro temporal cumpre a função básica de
todas as estruturas narrativas, ou seja, leva o público adiante com a ajuda
de sinais quase subliminares, que indicam a progressão do dia. O retorno ao
amanhecer do segundo dia aumenta a sensação de encerramento, mas, espe-
cificamente nesse caso, também representa um eco ao princípio da reiteração
cíclica subjacente à escatologia Hindu.17
Também se pode encontrar reelaborações da cronologia de filmes entre os
mais escrupulosos dos cineastas do cinema observacional. Essas manipulações
são evidentes, por exemplo, no filme de David MacDougall, The New Boys,
lançado em 2003 e que faz parte de sua série Doon School, sobre uma escola
privada de elite na Índia. Esta reelaboração cronológica é muito discreta e
em nada parecida com a escala que eu descrevi nos exemplos anteriores, mas
não deixa de estar lá. Este filme apresenta a experiência dos internos em Foot
House ao longo de seu primeiro ano, mas ele passa por uma série de cinco
ou seis dias que podem ser mais ou menos identificados. Mais importante talvez
seja que também há um clássico desenvolvimento temático. O filme começa
com um dormitório vazio sendo arrumado, com a limpeza de uma janela. Após
a sequência inicial, há uma série de cenas que sugerem uma normalidade rei-
terada (aulas, jogo de damas, corte de cabelo etc.), mas, em seguida, surgem
desequilíbrios, primeiro sob a forma de saudade, depois, na forma de brigas
entre dois meninos. No entanto, tudo se resolve pela paciente intervenção
do diretor e seguem-se algumas cenas redentoras de meninos se divertindo,
comendo e falando sobre comida, nadando e, a maior parte do tempo, falando
sobre antecipar as férias. Um instrutor da casa faz uma breve observação que
assinala o encerramento, enquanto olha para o futuro: eles são todos indiví-
duos, ainda não meninos Foot House, mas eles o serão quando voltarem depois
de sentir falta de seus amigos nas férias. O filme termina com uma sequência
17
Ver Henley (2007) para uma discussão mais extensa da estrutura narrativa deste filme.
A experiência da imagem 2p.indd 75 14/09/2016 14:27:51
76 de cenas que nos traz o final: a última noite de disco no dormitório é seguida
na manhã seguinte pelos meninos entrando em um ônibus com suas malas.
Num toque cíclico final, de volta ao início do filme, voltamos para a faxina,
quando observamos a retirada das roupas de cama dos meninos do dormitório,
agora novamente vazio.18
Temas e variações
Todos os exemplos de cronologia fictícia considerados acima possuem uma
forte qualidade linear, embora alguns deles também apresentem um certo
elemento de circularidade no sentido de que a narrativa retorna de alguma
forma ao início, quer através do progresso da narrativa em si, quer por meio
de um “mecanismo de enquadramento”.
No entanto, estruturas narrativas documentais não precisam ser sempre tão
fortemente lineares, como Toni de Bromhead mostrou em sua monografia
sobre este assunto. Neste trabalho, ela contrasta filmes com uma linearidade
pronunciada, como The Wedding Camels, com aqueles que têm uma estrutura
mais episódica. Como exemplo desta última, ela cita, entre outros, o filme
de Fred Wiseman Hospital (1969), que em comum com muitos dos seus ou-
tros filmes, consiste de uma série de episódios dispostos sobre um princípio
tema-com-variações, com pouca ou nenhuma continuidade cronológica entre
eles. Entre esses dois polos, De Bromhead identifica dois outros tipos: o road
movie e o diary film. Estes ela descreve como “híbridos”, pois embora eles
consistam tipicamente de uma série de episódios, estes são ordenados den-
tro de um princípio linear, espacial e temporal no primeiro caso, puramente
temporal no segundo caso.19
Todas estas formas mais episódicas merecem maior exploração por cineastas
etnográficos. A forma tema-com-variações é particularmente apropriada
quando o material bruto não apresenta quaisquer personagens dominantes ou
eventos em desenvolvimento que poderiam fornecer a espinha dorsal de uma
18
Isso não é um exemplo isolado na obra de David MacDougall. Seu filme mais recente no momento
em que escrevo, Under the Palace Wall, lançado em 2014, apresenta uma série de cenas da vida
na aldeia de Delwara no sul de Rajastão, presumivelmente filmado durante um período de várias
semanas, como se estivessem ocorrendo ao longo de um único dia.
19
Ver De Bromhead (1996). Este trabalho representa uma exceção à regra geral de que os cineastas
etnográficos tendem a não discutir aspectos de estrutura narrativa (um ponto em que ela se faz de
documentarista, no geral, ver p.117). Embora o escopo do livro seja sobre a estrutura narrativa em
todos os tipos de documentário, ela mesma tem um doutorado em antropologia social e muitos de
seus exemplos são retirados do cânone do filme etnográfico.
A experiência da imagem 2p.indd 76 14/09/2016 14:27:51
estrutura narrativa. Esta é uma forma que no caso ideal deve ser planejada 77
Narrativas: a verdade velada do documentário etnográfico?
com antecedência e filmada com uma ideia clara do que o eventual tema e
variações serão. No entanto, também é a forma que pode ser adotada se o
cineasta retornar com material bruto que não se preste a um tratamento mais
linear. A forma de road movie é, obviamente, apenas uma variante do filme de
viagem, que, como descrevi acima, já é uma forma básica regular do cânone
do filme etnográfico. O diary film talvez seja menos comum nos cânones do
filme etnográfico, embora haja alguns exemplos ilustres, como o de Melissa
Llewelyn-Davies Diary of a Maasai Village (1985).
Mesmo um filme episódico, entretanto, requer algum grau de trama narra-
tiva se o objetivo é dar algum significado à sequência de episódios e manter
o interesse do público. Na verdade, a diferença entre as formas “episódicas”
e “lineares” de De Bromhead é mais uma diferença de grau do que uma dis-
tinção absoluta. Um dos seus exemplos da forma episódica é Nanook, que,
como já descrito, certamente tem uma estrutura episódica na parte inicial
iterativa do filme, mas, em seguida, assume um caráter marcadamente linear
na parte principal do filme. Mesmo em Hospital, um certo grau de linearida-
de pode ser detectado. Pois, como Brian Winston colocou, as sequências do
filme parecem ser organizadas “em uma curva ascendente”, culminando com
uma morte, seguida de uma coda na capela do hospital e do tráfego que passa
indiferente do lado de fora. Como a própria De Bromhead assinala, o som do
tráfego que passa sobre uma grade nesta última tomada ecoa o pulsar de uma
máquina de coração, exibida na sequência de abertura, agindo assim como
um dispositivo de enquadramento sonoro que nos leva de volta ao início do
filme na forma bem estabelecida. Mesmo que o próprio Wiseman não tenha
tido conhecimento desta estrutura, como Winston sugere que possa ter sido
o caso, demonstra a força da fórmula linear clássica, seja influenciando Wise-
man inconscientemente, ou influenciando Winston e outros espectadores na
construção que eles atribuem a seu filme.20
Onde quer que possa estar precisamente a origem da linearidade em Hos-
pital, o ponto importante a sublinhar aqui é que é uma linearidade temática
que controla o filme, ao invés de uma linearidade inerente à cronologia dos
acontecimentos em si, ou a cronologia fictícia criada pelo realizador do filme.
20
Ver Winston (1995, pp. 156-57) e De Bromhead (1996, p. 77). Melissa Llewelyn-Davies (co-
municação pessoal) relata que, embora ela tenha concebido seu Diário como sendo basicamente
episódico, no sentido de que a ligação entre as várias partes foi geralmente destinada a ser não mais
do que temporal, ela descobriu que muitos espectadores viram o filme como sendo principalmente
um veículo para, em uma forma altamente linear, seguir o andamento de um processo judicial no
qual foram envolvidos vários dos personagens.
A experiência da imagem 2p.indd 77 14/09/2016 14:27:51
78 Uma vez que esta linearidade temática é claramente sustentada, é bem pos-
sível cortar um filme com uma narrativa que será compreensível e cativante,
mesmo que não se conforme com o caráter convencionalmente progressivo
de uma cronologia natural.
Nas mãos de um diretor experiente, a linearidade temática pode até mesmo
ser usada para controlar um número de diferentes sequências cronológicas no
mesmo filme e entre elas andar para trás e para frente. Esta é a estratégia que
Paul Watson adotou em seu célebre documentário de televisão, The Fishing
Party (1985). Este não é um filme que foi feito para fins etnográficos – em-
bora, ainda assim, sem dúvida, possua uma certa “etnografia” – mas oferece
um modelo interessante de uma estrutura narrativa que poderia ser emprega-
da por cineastas que têm objetivos etnográficos mais explícitos. Ele começa
com uma sequência de quatro homens que saem para pescar em um barco de
pesca próximo da costa da Escócia. Nós, então, voltamos no tempo para
descobrir que eles todos são extremamente ricos e estão todos envolvidos,
direta ou indiretamente, no mundo das finanças na cidade de Londres. Tendo
estabelecido que eles são em sua maioria partidários do governo Thatcher e,
em diferentes graus, completamente implacáveis em seus negócios, voltamos
para a festa da pesca, para descobrir que eles vão ficar entediados com a pesca
e começam a atirar em gaivotas como esporte. Assim, cada parte do filme
comenta sobre a outra.
Em suma, embora uma cronologia normal, seja ela intrínseca ao evento, seja ela
a criação do cineasta, possa ser uma maneira de estruturar a narrativa de um
filme documentário, uma estrutura linear tematicamente bem concebida pode
permitir quebrar as regras de uma cronologia normal e ainda assim produzir
uma narrativa compreensível e cativante.
A sequência preliminar
Outro dispositivo narrativo que rompe com a cronologia em tempo real e que
é muito utilizado por cineastas etnográficos é o que se poderia chamar de uma
“sequência preliminar”, que é uma sequência que é colocada logo antes ou in-
tercalada com o título principal de um filme. Por vezes dizem que a sequência
preliminar teve origem na prática de televisão, onde é conhecida como um “gan-
cho” e foi desenvolvida como uma forma de manter a atenção de telespectadores
que não tinham ligado a televisão para assistir a um programa específico, mas
tinham simplesmente ficado ligados no programa anterior. Como este nome
sugere, o “gancho” deveria conter algum material particularmente dramático,
A experiência da imagem 2p.indd 78 14/09/2016 14:27:51
a fim de manter esses espectadores sem compromisso que poderiam mudar 79
Narrativas: a verdade velada do documentário etnográfico?
canais a qualquer momento com um toque no controle remoto.
Quaisquer que sejam suas exatas origens, a sequência preliminar é usada para
uma variedade de propósitos na realização do filme etnográfico, apesar de
muitos filmes etnográficos serem feitos para serem assistidos nos cinemas,
salas de aula ou outros locais de onde o público tipicamente não pode sair
tão facilmente. Por exemplo, Robert Gardner, que nunca fez seus filmes para
televisão, muitas vezes usa sequências preliminares, como no início de Dead
Birds (1963) e mais de vinte anos depois, no início de Forest of Bliss (1986).
Em ambos os casos, embora de maneiras estilisticamente muito diferentes,
estas sequências preliminares vêm antes do título principal e fornecem uma
síntese metafórica densa e dramática dos temas-chave que serão aprofundados
no corpo principal do filme. Também em ambos os casos, a mensagem meta-
fórica é comunicada não só pelas imagens, mas também pela trilha sonora e
até mesmo pelos títulos.21
David MacDougall também usa frequentemente sequências preliminares
em seus filmes, mas de uma forma um tanto diferente. Suas sequências in-
trodutórias tendem a estabelecer um estado de espírito geral e um senso de
lugar, e em contraponto a Gardner, ele nunca os cobre com voice-over. Elas
também têm ressonâncias metafóricas, mas são normalmente mais discretas.
Em The Wedding Camels (1977), a sequência preliminar consiste simplesmen-
te de três imagens de camelos e cabras sendo pastoreados no severo ambiente
semidesértico do norte do Quênia, antes de dirigir-se a um grupo de homens
discutindo os preparativos para o casamento sob a sombra de uma árvore. Em
Tempus de Baristas (1993), um filme sobre a vida de pastores de cabra tradi-
cionais em uma aldeia da Sardenha, a sequência introdutória é mais elaborada,
mostrando um idoso sineiro levantar-se, calçando as botas e indo até a torre
da igreja para tocar o sino, presumivelmente chamando os fiéis para a oração.
A visão geral da torre do sino é então usada para motivar uma montagem de
tomadas da vila e as encostas circundantes, incluindo as cabras com seus sinos
tilintantes. Em seu filme mais recente, Gandhi’s Children (2008), sobre uma
instituição para crianças de rua nos arredores de Nova Deli, a sequência pre-
liminar é um pouco mais à la Gardner. Ela consiste de uma série de tomadas
que entremeiam a proibição real do exterior da escola e da estrada principal
externa, com tomadas dos meninos dormindo, aparentemente vulneráveis,
alguns delicadamente entrelaçados uns com os outros. Na trilha sonora, há
sons de tráfego, o grasnar das aves e o ameaçador som pulsante de máquinas.
21
Ver Henley (2007).
A experiência da imagem 2p.indd 79 14/09/2016 14:27:51
80 Um menino solitário é mostrado de pé em uma escada e logo depois um corvo
comendo um rato. Isto aparece como uma abertura, na forma clássica, no início
do dia, quando os meninos fazem suas purificações religiosas.
Em meu próprio trabalho, lancei mão de sequências preliminares de uma ma-
neira também diferente. Nos dois filmes que fiz sobre celebrações rituais em
Cuyagua, uma pequena aldeia na costa caribenha da Venezuela, Devil Dancers
(1986/2011) e The Saint with Two Faces (1987/2011), fiz uso de sequências
introdutórias para dar uma informação contextual geral em voice-over sobre
a história e circunstâncias culturais da aldeia. Eu também as uso, um pouco à
maneira de um “gancho televisivo”, para dar uma prévia da dança cerimonial
que o público iria gostar de ver posteriormente. Pois sempre há um risco, em
um filme sobre um evento ritual, que o público vá se cansar da fase expositiva
que lida com a preparação para o evento. Através do uso criterioso de uma
sequência preliminar, pode-se dar ao público a possibilidade de algumas cenas
dramáticas que são como que antecipadas.
O uso de uma sequência preliminar para oferecer uma amostra do que está por
vir também pode ser valioso na luta contra o efeito “uma-coisa-após-a-outra”
que é a ruína de todos os documentários históricos ou biográficos. Foi assim
que procuramos usar o dispositivo em We Are Born to Survive (1995), um fil-
me dirigido por Paul Okojie, e para o qual eu atuei como produtor e principal
editor responsável. Este filme apresenta uma biografia do então recém-falecido
ativista negro de Manchester, Kath Locke e foi feito para marcar o quinqua-
gésimo aniversário do VI Congresso Pan-Africano que tinha sido realizado em
Manchester em 1945. O filme começa com uma sequência que caracteriza
uma reencenação da canção cantada no funeral de Kath Locke, Nkosi Sikelel’
iAfrika, o hino do partido do Congresso Nacional Africano e depois da nova
África do Sul. Foi executado por Abasindi, um grupo cultural de mulheres
negras de Manchester, vestidas com magníficas roupas africanas e que foram
filmadas na mais baixa e oblíqua iluminação. A narrativa então volta, por meio
de algum acervo e música de 1930, evocativo do período, para uma entrevista
na qual Kath Locke fala sobre sua vida inicial em Blackpool. Posteriormente, o
filme segue sua vida em uma ordem cronológica mais ou menos fiel, mostrando
como seu encontro precoce com o pan-africanismo, na época do Congresso de
1945, deu a ela meios de compreender suas experiências como uma pessoa
negra na Grã-Bretanha nos anos seguintes. No final do filme, há um retorno
para a performance de Nkosi Sikelel’ iAfrika, em parte de modo que ele possa
agir como um dispositivo de enquadramento e produzir uma sensação agradável
de encerramento, e em parte para assinalar a importância do Congresso Pan-
-Africano em despertar a consciência política de Kath Locke.
A experiência da imagem 2p.indd 80 14/09/2016 14:27:51
Narrativa e síntese de um mundo ideal 81
Narrativas: a verdade velada do documentário etnográfico?
A prevalência de manipulações da realização na tomada do filme etnográfico não
deveria ser objeto de fofocas, vergonha ou indignação, mas simplesmente nos
lembrar do fato de que a realização de um filme etnográfico não consiste em
segurar um espelho para o mundo, mas, ao invés disso, obriga à produção de
uma representação do mesmo. Esta representação não pode nunca ser uma
reprodução literal do mundo e será sempre parcial, em ambos os sentidos do
termo. Como uma representação, a fim de comunicar um significado para o
público alvo, um filme etnográfico sempre requer algum tipo de organização
narrativa e esta, por sua vez, quase sempre envolve alguma forma de intervenção
na cronologia dos acontecimentos reais representados.
Mas também deveríamos lembrar que o simples fato de filmes etnográficos
serem estruturados por uma forma narrativa convencional não significa em si
desqualificá-los de serem levados a sério como um meio de representar a rea-
lidade. Afinal, em muitos campos bem estabelecidos da atividade acadêmica,
que também aspiram a fazer alguma “reivindicação sobre o real”, convenções
narrativas têm sido há muito tempo reconhecidas como sendo um aspecto
integrante e necessário da representação. Historiadores, particularmente,
têm dado grande atenção para o papel da narrativa na construção de relatos
históricos.22 Narrativas também foram identificadas como um importante
meio de representação em muitas outras áreas das ciências sociais desde a
paleontologia até a sociologia.23 Na verdade, entre nós, tem sido argumentado
que as narrativas são um aspecto importante de representação na etnografia
baseada em texto.24
À luz desta crescente consciência da natureza narrativizada da escrita etno-
gráfica, fica pelo menos mais fácil defender a legitimidade da manipulação
narrativa na realização do filme etnográfico. Como comentou Peter Loizos,
etnografia escrita é muito raramente um registro literal, apresentando em
tempo real um único fluxo de eventos sem interrupções. Normalmente, ele
comenta, uma monografia etnográfica “é uma destilação de um período de
trabalho de campo, e sintetiza centenas, se não milhares de encontros, eventos
e conversas a fim de produzir um resumo coerente [...]. A etnografia escrita
tem que ser sintética e complexa; ela tem que transpor, para descontextualizar,
22
Ver por exemplo White (1973).
23
Sobre paleontologia, ver Landau (1993) e sobre sociologia, Van Maanen (1988).
24
Ver, dentre muitas possíveis referências, Marcus e Cushman (1982), Bruner (1986), Geertz (1988),
Hammersley e Atkinson (2007).
A experiência da imagem 2p.indd 81 14/09/2016 14:27:51
82 e reagregar. Caso contrário, uma monografia teria que ser uma série de notas
de campo coladas além de um “comentário”. Mesmo a pedra fundamental da
literatura antropológica, Argonauts of the Western Pacific, Loizos nos lembra, é
o produto de tal processo. O próprio Malinowski na verdade nunca participou
de uma expedição kula mas escreveu-a como se tivesse ido, baseado em uma
síntese de suas próprias observações de primeira mão com relatos de segunda
mão, fornecidos por informantes (LOIZOS, 1995, p. 313).
Em suma, ao invés de pensar no relato sobre o mundo oferecido pelo filme
etnográfico, estruturado por uma narrativa que é uma cópia imperfeita da reali-
dade, nós deveríamos pensar nisso mais como um relato que é necessariamente
idealizado, tal como as descrições textuais etnográficas são necessariamen-
te idealizadas, como no modo descrito por Loizos. O filme etnográfico também
representa uma “destilação da experiência do trabalho de campo”, assim como
um texto etnográfico. A fim de comunicar a natureza e o significado daquela
experiência, alguns pequenos fragmentos de filme ou fita no qual aquela ex-
periência foi registrada – ou seja, o reduzidíssimo número de imagens e sons
selecionados do material bruto – são reunidos em uma representação coerente
na forma de um filme. Montando essa representação, o cineasta se baseia
necessariamente em seu próprio juízo sobre o que incluir e como apresentá-
-lo. Mas isso é algo que devemos saudar ao invés de deplorar, uma vez que é
ao fazer julgamentos que estes cineastas podem mobilizar seu conhecimento
etnográfico do mundo mais amplo representado no filme, bem como, embora
talvez indiretamente, o seu conhecimento de casos comparativos e suas incli-
nações teóricas.25
Eu gostaria de sugerir que o mundo representado em um filme etnográfico
pode ser melhor concebido como uma espécie de tipo ideal, que é de certa
forma semelhante ao mundo representado por meio do “presente etnográfico”
em textos antropológicos. Embora as sequências de um filme representem mo-
mentos específicos que de fato possam ter ocorrido na realidade, elas podem
25
Aqueles que não estão familiarizados com os procedimentos de produção de filmes são muitas vezes
surpreendidos quando descobrem o quanto as filmagens acabam na proverbial “sala de edição”.
Na era dezesseis milímetros, quando a película cinematográfica era muito cara, alguns cineastas
etnográficos trabalharam na proporção de 2:1, ou seja, poderiam usar duas horas de captação para
cortar um filme de uma hora, eliminando cinquenta por cento do seu material. No entanto, mesmo
na era dezesseis milímetros, a maioria dos cineastas etnográficos trabalhava em uma proporção muito
maior. Eu estimaria que 6:1 foi aproximadamente a norma, resultando na eliminação de mais de
oitenta por cento do material bruto. Agora que estamos na era de fita digital barata e até mesmo
de discos rígidos, muitos cineastas etnográficos trabalham em proporções que são novamente muito
elevadas, com proporções de 30:1 sendo comum, o que implica a eliminação de 97 por cento do
material bruto.
A experiência da imagem 2p.indd 82 14/09/2016 14:27:51
substituir, por implicação, toda uma classe de ações similares que poderiam ter 83
Narrativas: a verdade velada do documentário etnográfico?
ocorrido, antes ou depois que as filmagens aconteceram. Quando montada em
uma narrativa, elas não representam a realidade diretamente mas uma síntese
da mesma. Nestas circunstâncias, não importa necessariamente se a crono-
logia dos eventos apresentados no filme está em desacordo com a cronologia
exata dos acontecimentos na realidade. Será que importa mesmo, por exem-
plo, que a cena de Nadine e Marceline perguntando aos surpresos cidadãos de
Paris se eles estão felizes na sessão de abertura de Chronicle of a Summer foi
realmente filmada depois de algumas das sequências que seguiram no filme?
Pode fazer sentido, por exemplo, se o filme alegou que esta questão causou
diretamente algo que ocorreu mais tarde no filme, ou se foi usada para dar algum
sentido a um evento que aconteceu antes de um outro no tempo. Em ambos
os casos, claramente um grau inaceitável de distorção teria sido envolvido.
Mas se – como parece ter sido o caso – a pesquisa popular específica poderia
ter ocorrido em qualquer momento ao longo do período de verão-outono em
que foi feito o filme, então certamente não importa se, para efeito narrativo
e coerência temática, foi apresentada como acontecendo antes das férias de
verão, quando na realidade ela aconteceu depois.
Na prática, na maioria dos casos, o público terá que confiar que o mundo
típico-ideal sintetizado pelo cineasta foi legitimamente alcançado. Mas se eles
têm algum conhecimento adicional da situação representada e acreditam que
a correspondência entre o tipo ideal e original possa ser muito remota, ou se
detectam inconsistências internas, ou acham que as interpretações oferecidas
são falhas ou inadequadas, então o público tem todo direito de criticar um
filme etnográfico. Mas o que não é legítimo é criticar um filme etnográfico
pelo simples fato de não ser uma cópia literal do mundo em uma ordem cro-
nológica ou em qualquer outro sentido. Isso seria interpretar mal a natureza
do empreendimento.
A ser continuado…
Muitos escritores de texto etnográfico, se não a maioria, provavelmente agora
aceitam que suas publicações são obras de literatura, e, como tal, necessaria-
mente obedecem a certas convenções narrativas. Já há tempos chegou a hora
de reconhecermos, nós que fazemos filmes etnográficos, que devemos aceitar o
fato de que fazer filme também implica certas convenções narrativas. Cineastas
etnográficos tendem a não pensar sobre elas de uma forma autoconsciente, mas
fazendo-o ou não, estamos no entanto de fato envolvidos com elas cada vez que
A experiência da imagem 2p.indd 83 14/09/2016 14:27:51
84 fazemos um filme. Certamente não podemos esperar alcançar um grau maior
de verdade simplesmente por ignorá-las.
Antes de se tornar um romancista, o falecido Dai Vaughan era um editor de do-
cumentário de grande experiência, que também teve a oportunidade de observar
os cineastas etnográficos de perto, uma vez que ele editou Diary of a Maasai
Village, Photo Wallahs, Tempus de Baristas e vários outros bem conhecidos do-
cumentários etnográficos. Ao escrever sobre estas colaborações, ele observa que
ele achou intrigante que “antropólogos cineastas” estejam tão preocupados em
assegurar que a seleção inevitável de filmagem deve ser neutralizada – ou talvez
“meramente reparadas”, sugere ele – pelo mínimo de estruturação na edição,
como se o mínimo de estruturação, de alguma forma pudesse obter o máximo
da verdade. Mas, como ele comenta tão acertadamente, “a antítese do estrutu-
rado não é o verdadeiro, nem mesmo o objetivo, mas simplesmente o aleatório”
(VAUGHAN, 1992, p. 100).
Convenções narrativas podem ou não ser arbitrárias; elas podem ou não ser
culturalmente específicas. Mas elas são certamente necessárias. Deveríamos
aprender como usá-las de maneira mais determinada.
Bibliografia
BARBASH, Ilisa & TAYLOR, Lucien. Cross-Cultural Filmmaking: A Handbook for Making Documen-
tary and Ethnographic Films and Videos. Berkeley: University of California Press, 1997.
BARTHES, Roland. “The Death of the Author”. In: HEATH, Stephen (trad.; org.). Roland Barthes,
Image Music Text. Londres: Fontana, 1977.
BERGER, Arthur Asa. Narratives in Popular Culture, Media, and Everyday Life. Nova York: Sage, 1997.
BRANIGAN, Edward. Narrative Comprehension and Film. Londres/Nova York: Routledge, 1992.
BRUNER, Edward M. Ethnography as Narrative. In: TURNER, Victor W. & BRUNER, Edward M.
(orgs.). The Anthropology of Experience. Urbana/Chicago: University of Illinois Press, 1986.
CRAWFORD, Peter. “Grass: The Visual Narrativity of Pastoral Nomadism”. In: CRAWFORD, Peter
& SIMONSEN, Jan Ketil (orgs.). Ethnographic Film Aesthetics and Narrative Traditions. Aarhus:
Intervention, 1992.
DE BROMHEAD, Toni. Looking Two Ways: Documentary Film’s Relationship with Reality and Cinema.
Højbjerg: Intervention, 1996.
GEERTZ, Clifford. Works and Lives: The Anthropologist as Author. Stanford: Stanford University
Press, 1988.
HAMMERSLEY, Martyn & ATKINSON, Paul. Ethnography: Principles in Practice. Londres/Nova
York: Routledge, 2007.
HENLEY, Paul. “Narratives: The Guilty Secret of Ethnographic Documentary?”. In: POSTMA, Metje &
CRAWFORD, Peter Ian (orgs.). Reflecting Visual Ethnography: using the camera in anthropological
research. Højbjerg/Leiden: Intervention/CNWS, 2006.
A experiência da imagem 2p.indd 84 14/09/2016 14:27:51
_____. Beyond the Burden of the Real: Anthropological Reflections on the Technique of “a Masterful 85
Narrativas: a verdade velada do documentário etnográfico?
Cutter”. In: BARBASH, Ilisa & Taylor, Lucien (orgs.). The Cinema of Robert Gardner. Oxford:
Berg, 2007.
_____. The Adventure of the Real: Jean Rouch and the Craft of Ethnographic Cinema. Chicago/Londres:
University of Chicago Press, 2009
_____. “Le Récit dans le film ethnographique”. L’Homme, n. 198-99, pp. 131-58. 2011.
_____. “Narratives: The Guilty Secret of Ethnographic Documentary?”. Thinking, v. 39, n. 2, pp.
34-41. 2013.
LANDAU, Misia. Narratives of Human Evolution. New Haven/Londres: Yale University Press, 1993.
LOIZOS, Peter. Innovation in Ethnographic Film: From Innocence to Self-consciousness 1955-1985.
Manchester: Manchester University Press, 1993.
_____. “Robert Gardner’s Rivers of Sand: Toward a Reappraisal”. In: DEVEREAUX, Leslie & HILL-
MAN, Roger (orgs.). Fields of Vision: Essays in Film Studies, Visual Anthropology, and Photography.
University of California Press, 1995.
MACBEAN, James R. “The Theory and Practice of Ethnographic Film”. Film Quarterly, 1983.
MAMBER, Stephen. Cinema Verité in America: Studies in Uncontrolled Documentary. Cambridge/
Massachusetts/Londres: MIT, 1974.
MARCUS, George E. & CUSHMAN, Dick. “Ethnographies as Texts”. Annual Review of Anthropology,
n. 11, pp. 25-69. 1982.
MARSHALL, John. “Filming and Learning”. In: RUBY, Jay (org.). The Cinema of John Marshall.
Philadelphia: Harwood Academic. 1993.
MORIN, Edgar. “Chronicle of a Film”. In: FELD, Steven (trad.; org.). Ciné-Ethnography. Minneapolis/
Londres: University of Minnesota Press, 2003.
NICHOLS, Bill. “The Ethnographer’s Tale”. In: CRAWFORD, Peter & SIMONSEN, Jan K. (orgs.).
Ethnographic Film Aesthetics and Narrative Traditions. Aarhus: Intervention, 1992.
VAN MAANEN, John. Tales of the Field: On Writing Ethnography. Chicago/Londres: University of
Chicago Press, 1988.
VAUGHAN, Dai. “The Aesthetics of Ambiguity”. In: CRAWFORD, Peter & TURTON, David (orgs.),
Film as Ethnography. Manchester: Manchester University Press, 1992.
_____. “The Space Between Shots”. In: For Documentary: Twelve Essays. Berkeley: University of Ca-
lifornia Press, 1999.
WHITE, Hayden. Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. Baltimore/
Londres: Johns Hopkins University Press, 1973.
WINSTON, Brian. Claiming the Real: The Documentary Film Revisited. Londres: British Film Ins-
titute, 1995.
Filmografia
Todos os filmes coloridos, exceto quando indicado p&b.
Ax Fight, The. Timothy Asch & Napoleon Chagnon. 1975. 30 min.
Chronique d’un été). Jean Rouch & Edgar Morin, 1960. 90min. p&b.
Cuyagua: Devil Dancers. Paul Henley. 2011. 41 min. (Realizado originalmente em 1986 em versão
estendida)
A experiência da imagem 2p.indd 85 14/09/2016 14:27:51
86 Cuyagua: The Saint with Two Faces. Paul Henley. 2011. 43 min. Royal Anthropological Institute. (Realizado
originalmente em 1987 em versão estendida)
Dead Birds. Robert Gardner. 1963. 83 min.
Diary of a Maasai Village. Melissa Llewelyn-Davies. 1985. 220 min.
Fishing Party, The. Paul Watson. 1986. 40 min.
Forest of Bliss. Robert Gardner. 1985. 89 min.
Gandhi’s Children. David MacDougall. 2008. 185 min.
Hospital. Frederick Wiseman. 1970. 84 min. p&b.
Hunters, The. John Marshall. 1957. 72 min. p&b.
Long Time No See. Johannes Sjöberg. 33 min.
Nanook of the North. Robert Flaherty. 1922. 65 min. p&b.
New Boys, The. David MacDougall. 2003. 100 min.
Photo Wallahs: An Encounter with Photography in Mussoorie, a North Indian Hill Station. David &
Judith MacDougall. 1991. 59 min.
Reassemblage: From the Firelight to the Screen. Trinh T. Minh-ha. 1982. 40 min.
Tambours d’avant, Les: Tourou et Bitti. Jean Rouch. 1972. 12 min.
Tempus de Baristas. David MacDougall. 1993. 100 min.
Transfiction. Johannes Sjöberg. 2007. 57 min.
Two Laws. Alessandro Cavadini, Carolyn Strachan & the Borroloola Community. 1981. 130 min. cor.; p&b.
Under the Palace Wall. David MacDougall. 2014. 53 min.
We are Born to Survive. Paul Okojie. 1995. 29 min.
Wedding Camels, The. David & Judith MacDougall. 1977. 108 min.
A experiência da imagem 2p.indd 86 14/09/2016 14:27:51
Filmes indígenas no Brasil: trajetória,
narrativas e vicissitudes1
NADJA MARIN
PAULA MORGADO
Em 1992, durante as comemorações dos quinhentos anos da América, o Me-
morial da América Latina, em São Paulo, promovia uma instigante discussão
na mostra O índio: ontem, hoje e amanhã.2 Era um momento em que alguns
grupos indígenas começavam a se apropriar do vídeo e faziam desta forma de
registro um instrumento em prol de suas lutas sociais. Do outro lado, estavam
os antropólogos e todos aqueles que há muito se dedicam ao estudo das cul-
turas indígenas, para os quais começava a ficar claro que o vídeo era um meio
poderoso para entender, dialogar e difundir a diversidade dos povos indígenas.
Contrário aos prognósticos negativos de até meados dos anos 1970, que dis-
sertavam sobre o inevitável fim das populações indígenas no Brasil, a crescente
produção audiovisual nos últimos vinte anos prova que essas sociedades não
apenas não se dissolveram na sociedade nacional, mas que por meio das novas
formas de comunicação encontraram um meio de se impor na luta pela diversi-
dade cultural. Dos fins dos anos 1980 até os dias de hoje há um interesse cada
1
Este artigo é resultado de pesquisa desenvolvida junto ao GRAVI - Grupo de Antropologia Visual
da USP, no âmbito do projeto temático “A Experiência do Filme na Antropologia”, financiado pela
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processo n. 2009/52880-9.
2
Que resultou na coletânea O índio: ontem, hoje e amanhã (TASSARA, E. (org.) & BISILLIAT, M.
(coord.), 1991).
A experiência da imagem 2p.indd 87 14/09/2016 14:27:51
88 vez maior das comunidades indígenas pela produção de filmes. Se inicialmente
“fazer cinema” era visto com suspeita pelos anciãos das comunidades, pouco
a pouco os jovens “cineastas” foram assumindo um papel cultural e político
importante no diálogo intercultural e, desta forma, conquistaram um novo
status. O que notamos é que nas sociedades indígenas esse papel de realizador
de filmes caracteriza-se mais como uma atividade temporária e política (“eu
estou cineasta”) e menos como uma atividade especializada (“eu sou cineasta”),
articulada ao cinema e a interesses estéticos.
Ao longo da história do encontro entre os povos indígenas e as chamadas
sociedades nacionais, presenciamos – de forma marcante nas Américas – a
constituição de mediadores que passam a desempenhar um papel fundamen-
tal de comunicação nas sociedades onde circulam. Cada vez mais atuam em
distintas frentes: na política, assistimos continuamente à emergência de líderes
indígenas estimulados por instituições ocidentais para lidar com questões de
política exterior; na economia nacional novas lideranças indígenas são cooptadas
a trabalharem em projetos mitigatórios dos impactos ambientais; no campo
da educação cresce o número de indígenas universitários e professores; nas
artes, vale pensarmos nos antigos pintores indígenas oriundos das sociedades
astecas e maias do México que circularam nas cortes do século XVII a XVIII
e nos artistas indígenas contemporâneos que transitam em galerias e museus.
Os jovens que aprendem e se apropriam das ferramentas midiáticas têm
igualmente se tornado mediadores culturais, atraídos cada vez mais por esse
trânsito e pela vontade de conhecer outros mundos. Tal mediação faz parte
de um processo mais amplo de comunicação interaldeias, intergeracional,
regional, nacional e internacional. Seja qual for o espaço de comunicação,
potencializa-se a discussão sobre o conteúdo e a veiculação dos saberes, os
interditos e o que deve ser popularizado, dentro das aldeias, para fora delas
ou em ambos os espaços.
Embora estejamos testemunhando um crescente surgimento desses novos
líderes indígenas – universitários, profissionais liberais, escritores, cineastas,
blogueiros –, os povos indígenas no Brasil continuam a enfrentar toda a sorte
de preconceito por parte de uma grande parcela da sociedade brasileira, ora
tratados com descaso ou ignorância, ora brigando por um espaço no território
nacional.3 Para se entender a explosão da produção audiovisual indígena no
3
Em 2010, a população contava com um total de 896 mil indígenas, distribuídos em 4.800 aldeias
dentro ou fora dos limites de 673 terras indígenas, correspondendo a 448 municípios em 24 estados
brasileiros. 37,4 por cento da população indígena na região Norte, 25,5 por cento no Nordeste,
dezesseis por cento no Centro-Oeste e 21,1 por cento nas regiões Sul-Sudeste. Quinhentos e dois
A experiência da imagem 2p.indd 88 14/09/2016 14:27:51
Brasil é preciso, portanto, levar em conta o contexto político local e nacional 89
Filmes indígenas no Brasil: trajetória, narrativas e vicissitudes
e a enorme diversidade entre os povos. Trata-se de uma diversidade visível
nas diferentes instâncias da vida social, responsável não apenas pelo ecletismo
temático, mas pelas diferentes formas de narrativa fílmica, como trataremos
adiante. De antemão devemos dizer que o que chamamos aqui de “filmes
indígenas” refere-se a toda a produção audiovisual feita por indivíduos que
se autodenominam pertencentes a um grupo indígena, independentemente,
portanto, de habitarem uma terra indígena e/ou da dimensão do contato com
a sociedade não indígena.
Face à extensa ignorância da sociedade brasileira sobre a realidade multicultural
indígena, os filmes produzidos sobre tais povos foram enormemente idealiza-
dos, imaginados ou recriados. São imagens que falam muito mais do olhar de
quem está atrás das câmeras do que sobre seus protagonistas, revelando di-
lemas de um Brasil plural sobre o qual pouco se sabe. Em 2000, no contexto
das comemorações dos quinhentos anos do descobrimento do Brasil, realizou-
se a Mostra Os Brasis indígenas,4 sob a curadoria de Paula Morgado, com a
intenção de retratar esse imaginário e, ao mesmo tempo, celebrar o início de
uma filmografia indígena própria. A mostra apontava para o fato de que não
apenas os índios continuavam a inspirar cineastas e antropólogos na produção de
documentários e ficções, como revelava a emergência dos primeiros filmes nos
quais se detectavam as primeiras assinaturas indígenas: Xavante, Waiapi, Kaxi-
nawa, Yanomami, Guarani etc. Nesse contexto, filmes como Wapté Mnõhnõ,
iniciação do jovem Xavante (1999), dirigido por quatro índios Xavante e um
Suyá revelava, pela primeira vez, um interesse dos próprios grupos indígenas
em se igualar a outros profissionais do campo do cinema. Wapté é um filme que
se firma em um estilo de fazer cinema e que passa a inspirar novas produções.
Wapté é um vídeo “sem pressa”, acompanha este longo ritual nos detalhes, tem
intimidade, traz as brincadeiras jocosas dos Xavante, assim como dados muito
específicos a esta cultura – a relação entre pai e filho, entre padrinhos e afilhados,
entre homens de diferentes classes de idade. Os Xavante não expressam apenas
orgulho por sua cultura, parecem ter a exata noção da importância do dado cultural
não só para o contexto interno à aldeia, mas, principalmente, para as relações que
mil vivem em área rural e toda a população não chega a 0,50% da população total do país, conforme
dados do IBGE, disponíveis em: <http://www.ibge.gov.br/indigenas/indigena_censo2010.pdf>
e <http://www.brasil.gov.br/governo/2015/04/populacao-indigena-no-brasil-e-de-896-9-mil>.
Acesso em dez. 2015.
4
A mostra Os Brasis indígenas foi realizada no ano 2000, entre 7 e 17 de agosto no CINUSP, na
USP, São Paulo e de 15 a 22 de junho na sala Unibanco, em São Paulo: <http://www.mnemocine.
com.br/osbrasisindigenas/>. Acesso em dez. 2015.
A experiência da imagem 2p.indd 89 14/09/2016 14:27:51
90 estabelecem com o mundo de fora – a sociedade brasileira (CAIUBY NOVAES,
2000, p. 90).
Mas o que leva os povos indígenas a se sentirem tão à vontade atrás e à frente
das câmeras? O que os motiva a se tornarem cineastas? Como já anunciavam
as primeiras reflexões (GALLOIS & CARELLI, 1995a, 1995b), os intercâm-
bios culturais motivados pela introdução do vídeo evidenciam que a interação
entre os grupos se processa menos em função de uma demanda de “resgate”
de tradições, majoritariamente reproduzida nos projetos governamentais, mas,
acima de tudo, de uma política de enfrentamento mais eficiente com relação
aos mundos dos “Brancos”. Isso implica tanto a ativação (e não resgate) de
manifestações culturais “adormecidas”, presentes nos discursos nativos, como
também a necessidade do registro de expressões culturais e saberes dos mais
velhos, com o objetivo de que os mesmos não sejam perdidos ou esquecidos.
Mas serão os filmes apenas instrumentos culturais e políticos? Existiria um “ci-
nema indígena brasileiro” ou, para quem esta pergunta teria sentido ontológico?
Trajetória da produção audiovisual indígena: das origens ao
cenário atual
As primeiras experiências com vídeos entre populações indígenas no Brasil
começaram a se desenvolver na segunda metade dos anos 1980, graças a ini-
ciativas de ONGs em parceria com antropólogos e grupos de pesquisadores
que, trabalhando com um grupo específico viram a possibilidade e potência do
uso político do audiovisual pelos povos indígenas. Dentre essas experiências,
destacamos o projeto de ensino do vídeo entre os Kayapo, primeiro projeto de
mídia indígena brasileira realizado em 1985, intitulado Mekaron Opoi D’joi,
do qual participaram adultos e jovens dessa sociedade. Monica Frota, antro-
póloga e uma das responsáveis pelo projeto, afirma que logo de início o uso
político do vídeo foi superado pela vontade de registrar danças e rituais, de
forma a perpetuar a cultura Kayapo para as gerações futuras (FROTA, 1996).
Na fala de uma liderança Metuktire aparecia o discurso que acompanha toda a
história do cinema indígena, de que muitos fotógrafos passam em suas aldeias,
tiram fotos e nunca mais retornam com tais imagens. Para além de produzir
mensagens para um público externo, o que estava em jogo era a producão de
um material de circulação interna passível de uso pelas gerações futuras. A
utilização das câmeras de vídeo pelos Kayapó nessa região teve continuidade
graças ao trabalho desenvolvido pelo antropólogo Terence Turner (1992) que
percebeu nos primeiros usos do vídeo, as diferenças das representações de si
A experiência da imagem 2p.indd 90 14/09/2016 14:27:51
feitas pelo grupo em comparação com a mídia externa. Em tais experiências 91
Filmes indígenas no Brasil: trajetória, narrativas e vicissitudes
os Kayapo não tinham a preocupação de mostrar uma cultura “original”,
“pura”, “tradicional”, apreciando, ao contrário, serem vistos fazendo uso das
tecnologias. A observação de Turner pode hoje ser aplicada em muitas socie-
dades indígenas, nas quais não é raro nos filmes por elas produzidos vermos
expostos quadros dos cineastas indígenas filmando, segurando o microfone
e fazendo uso dos apetrechos tecnológicos. Em outras palavras, não há a
preocupação de ocultar o processo de produção na edição final do filme ou
em forjar uma tradicionalidade indígena. Além disso, por trás da exibição das
câmeras e dos processos de filmagem, estaria implícito o desejo de revelar aos
“tradicionais” detentores das tecnologias (os não indígenas) que eles, os povos
indígenas, são capazes também de dominá-las. Nesse mesmo trabalho, Turner
discorre sobre o que está por detrás do ato de filmar, quem filma e o que se
filma, preocupações estas que ainda fazem sentido hoje e são responsáveis
pelos temas e narrativas privilegiadas. Como o autor ressalta, a apropriação
e produção de imagens estão intimamente relacionadas à dinâmica de cada
sociedade, isto é, às intenções e os agenciamentos acionados pela câmera.
Para o autor, a ação de filmar adquire para o grupo um sentido de evento e
de performance mais importante que o produto fílmico em si, discussão que
retomaremos mais adiante.
A mais bem sucedida das iniciativas de ensino e utilização do vídeo com popu-
lações indígenas foi, sem dúvida, o projeto Vídeo nas Aldeias, criado pela ONG
Centro de Trabalho Indigenista que passou a reunir, em 1979, antropólogos,
educadores e indigenistas. O projeto tem como marco de criação a realização
do filme A festa da moça (1987) entre os índios Nhambiquara do oeste do
Mato Grosso. Durante as filmagens, os índios, que não mais praticavam a
furação de lábios, resolveram retomar a prática e, após a primeira exibição
do filme, avaliaram que era preciso refilmar o ritual, dessa vez usando trajes
“tradicionais”. Vincent Carelli diz ter criado durante a realização desse filme
uma rotina de registro e exibição que se tornaria a metodologia central do
projeto: o feedback imediato das filmagens e a autorreflexão sobre as imagens
de si, que acompanhariam todas as produções posteriores.
Rapidamente outros povos que tinham sua existência cultural e física amea-
çada compreenderam a potência das câmeras de vídeo como uma ferramenta
importante, cúmplice na luta desigual pela preservação de seus modos de vida.
Numa explícita perspectiva política, o projeto iniciou nas comunidades indí-
genas várias atividades de sensibilização audiovisual e, de modo sistemático,
organizaram as primeiras oficinas de formação audiovisual nas aldeias.
A experiência da imagem 2p.indd 91 14/09/2016 14:27:51
92 A questão que se colocava no Brasil em fins dos anos 1970, tanto para os
antropólogos quanto para os defensores da causa indígena, era a invisibilidade
dos povos, até então desconhecidos por grande parte da população, os quais
se acreditava estarem “condenados ao desaparecimento”.
Não há como negar que foi um período no qual muitos povos foram ou
dizimados ou sofreram uma drástica redução populacional, em decorrência
da expansão da fronteira agrícola, do incentivo à ocupação amazônica e dos
grandes projetos de desenvolvimento incentivados pelo governo militar. Os
primeiros filmes feitos em parceria com indígenas, ora denunciavam esta situa-
ção, abordando toda a sorte de conflitos (agrários, agropecuários, minerários
etc.), ora exploravam os sinais diacríticos desses povos para marcar a diferen-
ça com a sociedade nacional, destacando em especial seus rituais e práticas
culturais específicas. Progressivamente, o cotidiano começou a ser retratado
nos filmes e depois incorporado ao gênero da ficção, numa mescla de ficção e
documentário, nos quais temas míticos passaram a ser encenados.5
Processo semelhante ocorria no Canadá, Austrália e África entre povos que
antes não tinham voz. Escreve David MacDougall (1994):
Nos anos 70, uma corrente do filme etnográfico em moda preconizava a partici-
pação dos cineastas e seus “objetos”, ambos se tornando quase coautores. É o que
Jean Rouch chamava a “antropologia compartilhada”. Nossa política, no Australian
Institute of Aboriginal Studies, se baseava no princípio de que todo filme rodado
na Austrália deveria corresponder às solicitações dos aborígenes. Era uma época em
que as pressões que recebiam eram cada vez mais fortes. Seus territórios estavam
ameaçados por interesses de mineiros, suas populações dizimadas pela violência e
pelo álcool, e sua cultura cada vez mais alterada pela cultura branca dominante.6
No contexto dos primeiros filmes indígenas produzidos, nos anos 1990, a
antropóloga Sylvia Caiuby Novaes ressalta,
A introdução do vídeo desencadeia nestas comunidades um processo de reflexão
sobre a imagem em que os índios são, simultaneamente, sujeito e objeto desta re-
flexão, o que não era possível com o texto, que jamais despertou grande interesse
entre eles. É, certamente, uma reflexão guiada e dirigida, onde se pode perceber as
5
Nesse tipo de narrativa fílmica destacamos: Segredos da mata (Dominique Gallois & Vicent Carelli.
1998. 37 min.); Moyngo, o sonho de Maragareum (Natuyu, Karané & Kumaré Ikpeng. 2002. 44
min.); Nguné Elu, o dia em que a lua menstruou (Takumã Kuikuro & Maricá Kuikur. 2004. 28min.),
e O cheiro de pequi (Coletivo Kuikuro. 2006. 36min).
6
“Mas afinal, existe uma antropologia visual?” In: II Mostra Internacional do Filme Etnográfico. Rio
de Janeiro, 1994.
A experiência da imagem 2p.indd 92 14/09/2016 14:27:51
diretrizes dos coordenadores do projeto, assim como suas necessidades de obtenção 93
Filmes indígenas no Brasil: trajetória, narrativas e vicissitudes
de financiamento. Isto é bastante visível nos vídeos de Caimi Waiassé: Tem que ser
curioso (16’. CTI. 1996) e no de Divino Tserewahu: Hepari Idub’rada – Obrigado
irmão (17’. CTI. 1998). Ambos realizados por índios Xavante, têm uma mesma
estrutura de roteiro: trata-se do depoimento de índios cinegrafistas, que narram
como começaram a se interessar por gravar com a câmera de vídeo, como desco-
briram a importância da imagem tanto para os velhos como para as crianças, num
tempo em que a memória é muito curta. A imagem é aqui vista como depositária
da memória, num tempo de rápidas e intensas mudanças por que passam estas
sociedades. Memória que é fundamental para grupos em que a mudança e a su-
peração da situação presente não são valores em si, ao contrário do que ocorre em
nossa sociedade, que parece apostar cada vez mais na obsolescência programada.
Os depoimentos são explícitos: a câmera grava, permite lembrar, não deixa esque-
cer, diz Divino. Aí está a importância da imagem gravada. A possibilidade de uma
sociedade reproduzir-se e manter-se como uma sociedade diferenciada no interior
de uma sociedade mais abrangente. (CAIUBY NOVAES, 2000, p. 88)
Assim, pouco a pouco, a introdução do registro fílmico proporcionou uma
fluidez, a um só tempo, da apropriação dos saberes de fora e a continuidade
da transmissão dos saberes locais (transmitidas privilegiadamente pelos ges-
tos e oralidade). Cientes disso, os primeiros indígenas que se lançavam nessa
empreitada reconheciam a importância da capacitação no campo da imagem
para que pudessem estabelecer uma relação de maior igualdade na produção
de imagens e controle sobre a sua autoimagem.
O Programa de Índio, formado por quatro programas de 26 minutos, criado em
1996, em conjunto com a TV Universidade do Mato Grosso (UFMT), foi uma
experiência inédita na TV brasileira no sentido de buscar preencher um espaço
genuinamente indígena numa televisão pública.7 Os alunos do projeto partici-
pavam ativamente na elaboração e produção dos programas, tomando contato,
pela primeira vez, com a linguagem televisiva. Cada programa trazia o retrato de
um povo, o perfil de uma personalidade indígena, matérias de atualidade sobre
educação, conflitos fundiários, aspectos culturais e do meio ambiente e entrevis-
tas de rua nas quais o povo expressava a sua visão sobre os “índios” que, por sua
vez, tinham espaço à resposta. O projeto, no entanto, não durou muito tempo,
por não conseguir apoio necessário para sobreviver no cenário midiático regional
e nacional. Todavia, treze anos depois, o projeto Vídeo nas Adeias produziu a
série Índios do Brasil, entre os anos 2009-2011, e graças à internet disponibilizou
7
Disponível em: <http://www.programadeindio.org/index.php?s=pi&n=pi_historia>. Acesso em
dez. 2015.
A experiência da imagem 2p.indd 93 14/09/2016 14:27:51
94 integralmente seu acesso on-line.8 Fenômeno semelhante das breves séries de
TV deu-se com as enciclopédias indígenas que, idealizadas para circularem em
escolas, bancas de jornal e livrarias, somente, quase vinte anos depois, atingiu
êxito de circulação na plataforma da web <www.socioambiental.org>.9
Em meio ao processo de midiatização da cultura indígena, nasceram os fil-
mes produzidos pelas próprias associações indígenas, as quais começaram
a se organizar e a se autorrepresentar, notadamente a partir dos anos 2000.
Tais filmes, gravados em ocasiões ritualísticas e políticas, como no caso da
Hutukara Associação Yanomami ou da ASCURI Brasil, são registros que se
voltam em particular para denunciar os conflitos em área ou para comemorar
conquistas.10 Observamos que, em contextos como esses, as lideranças falam
para a câmera em um esforço de sensibilizar a grande mídia sobre o tema.11
Nesse movimento, conhecimentos tidos como secretos, que antes somente
circulavam internamente, começam a ser divulgados, tais como alguns filmes
que tratam do consumo da Ayahuasca entre os índios Kaxinawa, ou Huni
Kuin, “gente verdadeira” como preferem se autodenominar. Vale notar que
esse movimento de expansão e de contração do que deve e pode ser difundido
para fora, ou do que é exclusivamente para consumo e vizualização dentro da
aldeia, acompanha toda a história da produção audiovisual indígena e persiste
no espaço cibernético. Tal movimento está relacionado tanto a proibições cul-
turais como, por exemplo, a proibição das mulheres Kamaiurá verem as flautas
sagradas masculinas, quanto ao medo da biopirataria e da perda do controle
sobre os conhecimentos tradicionais associados.
Nos últimos dez anos, muitos projetos de ensino do audiovisual entre povos
indígenas emergiram em universidades, associações, ONGs e só recentemente
8
Disponível em: <http://www.vimeo.com/videonasaldeias e a partir do link: <http://www.video-
nasaldeias.org.br/2009/indios_no_brasil.php.> Acesso em dez. 2015.
9
Taru Andé: o encontro do céu com a terra foi uma série feita em treze episódios produzidos pela TV
Futura (2007) que retrata a vida, as origens e os costumes de doze diferentes etnias: Krenak, Pataxó,
Maxacalí e Xacriabá, de Minas Gerais; Ashaninka, Yawanawa e Kaxinawa, do Acre; Guarani, de
São Paulo; Suruí e Gavião, de Rondônia; Xavante, do Mato Grosso; e Terena, do Mato Grosso do
Sul. Outras séries, como essa, emergiram com o objetivo de explicar para o mundo de fora como
é o universo indígena.
10
Citamos como exemplo o segundo encontro de xamãs Yanomami, integralmente registrado pelo
cinegrafista Yanomami Morzaniel Iramari que editará um vídeo sobre o evento no quadro das co-
memorações dos vinte anos da Terra Indígena Yanomami. Inicialmente o filme foi produzido pela
Hutukara para ser divulgado em todas regiões da área Yanomami e colocado a disposição do público
no site da Hutukara: <http://www.youtube.com/watch?v=1sfy3VxQ2Ak>. Acesso em dez. 2015.
11
Citamos o líder Davi Kopenawa: <http://www.vermelho.org.br/noticia.php?id_noticia=181147&id_
secao=8>. Acesso em dez. 2015.
A experiência da imagem 2p.indd 94 14/09/2016 14:27:51
o governo voltou sua atenção para esse tipo de produção. Ainda que o governo e 95
Filmes indígenas no Brasil: trajetória, narrativas e vicissitudes
a FUNAI não tenham apoiado sistematicamente um curso ou uma política
específica para o tema como nos casos do Canadá e Austrália, a abertura
de editais nos últimos anos pelo Ministério da Cultura permitiu que as associa-
ções indígenas e as aldeias recebessem verba para a compra de equipamentos
e investissem na realização de peças audiovisuais.12 Nesse mesmo movimento,
merecem menção os projetos de salvaguarda do patrimônio cultural imaterial
apoiados pelo IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional –
incentivando o registro em vídeo de estórias, mitos, rituais e práticas indígenas
como ferramentas adequadas para “salvaguardar” o patrimônio cultural.
Nesse sentido, um elemento importante a ser destacado é como o audiovisual
indígena no Brasil esteve e está ligado a objetivos mais amplos que o da co-
municação em si, emergindo como reação numa estratégia de enfrentamento
sociopolítico. O processo de criação do filme, a relação com a comunidade, a
reflexão sobre os rituais, a preocupação com a transmissão dos conhecimentos,
faz com que os projetos audiovisuais propostos estejam ligados em sua maioria
a projetos de manejo ambiental, recuperação de matas, plantações de árvores
nativas, segurança alimentar, viveiros de plantas medicinais, pinturas corporais,
artesanato, educação musical, transmissão dos conhecimentos, entre outros,
tendo como objetivo não o filme em si, mas o que ele provoca em termos de
reflexão e desencadeia nesse processo. Não é incomum assim que as oficinas
de audiovisual dividam espaço com festas: “festa do milho” Guarani, “festa
dos legumes” Kaxinawa, “festa do rato” Kisedjê, “festa do Porcão” Cinta Larga,
Encontro de pajés Yanomami, festa do dia do índio etc., ou oficinas, como
oficina de artesanato, cerâmica, confecção de redes, de roupas, arco e flecha,
piscicultura, plantas medicinais etc.13
12
Criado pelo Ministério da Cultura, vale mencionar o Prêmio Culturas Indígenas e o programa Cultura
Viva, que subsidiou a instalação dos Pontos de Cultura Indígena. O Prêmio Culturas Indígenas foi
criado pelo MinC em 2006, em parceria com organizações da sociedade civil e com o Colegiado
Setorial de Culturas Indígenas. Com a premiação, já foram reconhecidas 276 iniciativas de fortaleci-
mento cultural dos povos indígenas. Em 2012 ocorreu a quarta e última edição do Prêmio <http://
semanaculturaviva.cultura.gov.br/linhadotempo/editais_premios.html>. Acesso em dez. 2015. Em
2015 foi aberto o edital Pontos de Cultura Indígena, uma parceria da Secretaria da Diversidade
Cultural com a Secretaria de Audiovisual do MinC, que prevê premiar setenta iniciativas culturais
e vinte projetos específicos da área de audiovisual nas comunidades indígenas.
13
Cabe destacar o trabalho da ASCURI (Associação dos Realizadores Indígenas do Mato Grosso
do Sul), que desenvolveu trabalhos com apoio do PNUD (Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento), utilizando o audiovisual em trabalhos de construção de fornos agroecológicos e
segurança alimentar, em parceria com o projeto GATI (Gestão Ambiental e Territorial Indígena) da
FUNAI. No próprio discurso dos membros da ASCURI, o audiovisual é considerado uma ferramenta
para a conquista de objetivos mais amplos na luta política pelo reconhecimento cultural e territorial
A experiência da imagem 2p.indd 95 14/09/2016 14:27:51
96 Narrativas fílmicas indígenas
Ao nos debruçarmos sobre a nascente produção indígena dos anos 1990, quais
elementos são recorrentes ao analisarmos suas narrativas fílmicas? Em sua
grande maioria os temas versam sobre rituais e seus discursos visam impactar
um público externo sobre o que cada grupo considera como sendo “tradição”,
ou ainda sobre o conjunto de bens culturais que consideram relevante para a
sua reprodução. À medida que a produção audiovisual vai sendo incorporada
pelas comunidades, os temas vão se diversificando e a valorização dos conteúdos
culturais passa a ter uma importância para a circulação interna, ou seja, dentro
dos grupos. Assim, além dos rituais, aspectos do cotidiano começam a ser
explorados e, progressivamente, ganham um sabor de intimidade.14 Aparecem
então filmes sobre as ervas medicinais, as práticas de cura, a preparação dos
alimentos e os cantos associados à colheita, as restrições e dietas alimentares, o
feitio do artesanato, da cerâmica, as práticas relacionadas a cada etapa da vida,
os ritos de puberdade e de morte, entre outros. O fato dos cineastas filmarem
na maior parte das vezes pessoas da sua própria família, parentes da própria
aldeia, como é o caso de Takumã Kuikuro, que realizou dois filmes tendo sua
mãe como protagonista, colabora para a estética de proximidade e intimidade
com o personagem bastante visível nos filmes, que os diferencia dos filmes et-
nográficos sobre os indígenas feitos por pessoas de fora. Nesse sentido, Vincent
Carelli (2011) afirma que os personagens nesses filmes são tão autores quanto
os cinegrafistas, uma vez que o filme se faz sem um roteiro preconcebido e em
que os personagens são livres para criar e conduzir as narrativas. A atenção aos
gestos, a câmera que se move lentamente, a ausência de entrevistas formais, a
cumplicidade entre os personagens, a atenção com que é filmado o cotidiano,
esses elementos ajudam a formar uma estética que pode ser percebida numa
variedade de filmes realizados pelos cineastas indígenas.15
Os antropólogos Demarchi e Madi Dias em um instigante artigo (2013) irão
mostrar que no caso dos Mebêngôkre-Kayapó, “o ato de filmar supõe uma
dos povos do Mato Grosso do Sul. Gilmar Galache, um dos coordenadores indígenas Terena da
ASCURI, realizou curso de especialização na Bolívia, na Escuela de Cine y Artes Audiovisuales,
país em que o audiovisual indígena tem uma forte história no contexto das lutas políticas nacionais.
14
No Tempo das chuvas, filmado entre os Ashaninka (povo do extremo oeste amazônico, situado no
Acre), abordam-se atividades corriqueiras numa determinada época do ano – numa grande faixa
do Brasil há duas estações bem definidas, o verão, marcado pela seca, e o o inverno, marcado pelas
chuvas.
15
Bicicletas de Nhanderu (2011), do coletivo Mbya-Guarani, é um exemplo de filme que mescla
cotidiano, performance e memória, revelando a intimidade dos realizadores com os personagens,
o velho karaí e os meninos Neneco e Palermo.
A experiência da imagem 2p.indd 96 14/09/2016 14:27:51
relação simbiótica entre homem e máquina, uma atividade corporal mais do 97
Filmes indígenas no Brasil: trajetória, narrativas e vicissitudes
que uma ação baseada em regras previamente internalizadas”. Reiterando
o que Turner (1992) observava quanto às primeiras experiências de apro-
priação audiovisual indígena, sobre o processo de “empoderamento étnico
através das mídias audiovisuais” e sua articulação com os dados etnológicos
dessa sociedade, os autores acima apresentam um diálogo entre corporalida-
de, identidade e alteridade. Ao filmarem, os Mebêngôkre-Kayapó estão mais
interessados na continuidade das imagens do que nas imagens em si, sendo
um bom cineasta aquele capaz de manter o quadro e a sequência (DEMAR-
CHI & MADI DIAS, 2013), estando em julgamento o corpo que filmou. Em
outras palavras, “a beleza de uma imagem não está exatamente na imagem,
mas em como ela foi filmada” (id., ibid., p.155). Tal raciocínio nos conduz a
refletir sobre as narrativas indígenas de um modo mais amplo. Ao se filmar
não se está interessado em substituir a realidade ou escamotear quem está
por detrás da câmera, ao contrário. Isso parece-nos ser determinante, na
perspectiva indígena, no papel conferido ao “autor” no cinema – ou do papel
que atribuem à autoria de objetos audiovisuais – como de “mediador” e não
“criador”. O que mais importa no ato de filmar é o encontro com a alteridade,
promovendo relações entre corpos, objetos e sujeitos que, ao invés de valori-
zar a criatividade pessoal, é norteada pelo ideal da dessubjetivação (id., ibid,
2013). Outro elemento importante a reter do caso Kayapo é a ampliação da
capacidade visual para além do órgão do olho, uma vez que todo o corpo passa
a estar envolvido. Ánalises recentes sobre as narrativas indígenas brasileiras
corroboram a relação entre corpo-câmera-performance, (BELISÁRIO, 2015;
MIGLIORIN, 2013) e entre memória-câmera-performance (BRASIL, 2011).
No filme As hipermulheres, Belisário mostra como os cantos rituais participam
da mise-en-scène dos sujeitos filmados e da própria câmera:
No que concerne à Antropologia Fílmica, estas impressionantes etnografias filma-
das que os cineastas indígenas realizam dos seus próprios rituais parecem oferecer
mais que um conjunto de dados ou informações registradas em suporte fílmico.
O que estes filmes propõem são também (e principalmente) métodos e modos
de elaboração da mise-en-scène cinematográfica capazes de fazer inscrever ali as
forças e vetores em jogo em seus rituais. Nossa análise buscou então identificar e
descrever alguns deles, partindo do canto como uma espécie de elemento catali-
sador das interações entre filme e ritual (mesmo quando o ritual não passa de uma
sutil maquinação dos corpos em cena). A ressonância surge então como uma figura
capaz de caracterizar estas diversas maneiras como os distintos corpos (dentre eles
a própria câmera) são mobilizados neste regime da intensidade próprio ao ritual.
Como vimos, os cantos que escutamos em cena são formados por um complexo
A experiência da imagem 2p.indd 97 14/09/2016 14:27:51
98 sistema de repetições e variações que relacionam figuras melódicas, fonéticas e
rítmicas num jogo de ressonâncias e defasagens que mobilizam e agenciam o próprio
corpo das mulheres que cantam. O balanço pendular dos braços, a percussão dos
pés e o movimento coreográfico são então componentes deste grande sistema de
ressonâncias que, em última instância, é o próprio ritual. E quando aquele outro
agenciamento, a câmera-cinegrafista, passa a habitar este tempo e espaço fabricados
pelos cantos e pelas danças no ritual, é o próprio filme que se transforma. O ritual
se lança em direção ao filme com suas forças de captura e vetores de ressonância,
assim como o filme se lança no ritual instaurando ali um outro ponto de vista e
de escuta. É este tipo de agenciamento que propomos chamar de filme-ritual.
(BELISÁRIO, 2015, p. 21)
Migliorin (2013) irá nos mostrar como, motivadas pelas tecnologias cine-
matográficas, “as festas retornam ao cinema”, assim como tudo aquilo que
está relacionado à tradição da festa Jamunkumalu – hipermulheres na língua
Kuikuro. Para que esta se realize são necessárias condições materiais e graças
ao cinema ela pode ser ativada.
Essas passagens [do filme], idas e vindas entre a vida inventada e a vida vivida, dão
o tom do filme e serão decisivas para chegarmos à festa – paradigma dessa mistura
entre performance e cotidiano, entre memória e fabulação, cosmologia a atualidade.
A festa não é algo que existe e será documentada, mas algo que com o filme irá
se produzir. Sucedem-se sequências em que os personagens ensaiam, lembram, se
corrigem. (MIGLIORIN, 2013, p. 282)
André Brasil (2011, p. 115), em um artigo sobre o filme Bicicletas de Nhanderu
(2011), conclui suas considerações com uma hipótese e uma boa reflexão para
pensarmos a relação entre cinema e cosmologia no contexto indígena:
É como se o cinema indígena reelaborasse a tradição escópica ocidental a partir de
sua própria cosmologia, de sua própria perspectiva, como se os Guarani, ao acolher
o cinema, continuassem agindo como outrora, quando acolhiam as religiões trazidas
pelos missionários sem perder sua condição de “incrédulos”: continuam incrédulos,
ainda depois de crer. Acolhem-se as tecnologias, as poéticas e as categorias vindas
do cinema – aquelas em que o dentro e o fora se definem, ainda que não abso-
lutamente, pelo enquadramento e pelo campo – e reelaboram, reinventam estas
categorias em suas próprias práticas. Ao afirmar uma “incompletude ontológica
essencial”, a filosofia indígena subordina o interior e a identidade à exterioridade
e à diferença, prevalecendo-se, nesse caso, o devir e a relação ao ser e à substância.
(BRASIL, 2011, p. 115)
A experiência da imagem 2p.indd 98 14/09/2016 14:27:51
Voltando aos temas, não é raro que tais produções fílmicas revelem modos 99
Filmes indígenas no Brasil: trajetória, narrativas e vicissitudes
de vida não alheios às transformações, mas fundamentadas em lógicas e
temporalidades distintas de existência, como buscam apontar de longa data
pesquisadores que se dedicam ao estudo dessas sociedades. Dos filmes emer-
gem concepções de mundo em que natureza e cultura não estão separadas,
como seus agentes “não-humanos”. Essa relação com a natureza não-humana,
indissociável da cultura, transparece em diversas produções fílmicas, seja na
forma de estórias, na explicação da origem dos clãs, na explicação das doen-
ças, dos efeitos de um raio, de um eclipse, nos rituais, na relação dos cantos
com a colheita etc.16 A base cosmológica dessas produções mostra uma lógica
de ação própria desse pensamento, em que restrições alimentares, de caça, de
colheita, de casamento, de comportamento, aparecem ligadas a essa agência
não-humana17. Assim, entre os povos indígenas fazem parte da vida social:
os seres da mata, das águas, os espíritos, os deuses, os seres-doença, os seres
curadores, ou seja, uma diversidade de seres não-humanos que agem sobre
os humanos e com os quais as relações cotidianas não são menos presentes.
Uma característica marcante das narrativas baseadas em relatos míticos (surgi-
mento da humanidade, de plantas, de alimentos, das doenças etc.) é a junção
estética de elementos documentais e ficcionais nas cenas. Não há, na maioria
dos casos, a preocupação em ocultar objetos, vestuário ou sons para que a
estória pareça mais “real”, como nos casos dos filmes de ficção convencionais
e das telenovelas. Aqui parece mais adequado pensar na ideia de simulacro,
de uma terceira imagem que representa a coisa em si mas não tem a preten-
são de subsituí-la (BAUDRILLARD, 1988). Nesse sentido, a representação
não tem como objetivo escamotear aquele que atua – sua identidade, suas
características –, mas sim mostrar que qualquer coisa relacionada à realidade
é irrelevante para entender o significado da coisa. Nesses filmes emergeria
uma espécie de hiper-realidade, um simbolismo que forma uma realidade
fora da realidade física, capaz de agir sobre a imaginação, sucitar emoções, ao
mesmo tempo em que explicita o caráter arbitrário do binarismo que criamos
16
Em um trecho do filme Teko Rexai: saúde Guarani Mbya, dirigido por Nadja Marin com a antro-
póloga Adriana Calabi e em colaboração com índios Guarani Mbya, o pajé da aldeia Rio Silveira,
SP, conta o caso da criança que adoeceu porque foi lhe dado o nome “errado” durante o batismo,
vindo ela somente a melhorar depois que o nome recebido em sonho foi atribuído a ela correta-
mente. Em outro trecho, nesse mesmo filme, um rapaz descreve como quase ficou louco por ter
comido carne na cidade na época em que seu filho era recém-nascido, desrespeitando a restrição
alimentar aos quais pais com filhos pequenos devem se submeter. Segundo depoimento da anciã
Doralice, no mesmo filme, o ser-doença mbae axy dja que cuida das cachoeiras e dos rios seria o
responsável por trazer as enfermidades.
17
Ver Viveiros de Castro (2002).
A experiência da imagem 2p.indd 99 14/09/2016 14:27:52
100 entre aquilo que é real e aquilo que não é. Tal é o caso, portanto, do filme
Shuku Shukuwe: a vida é para sempre (2013), dos índios Kaxinawá, em que
o personagem pajé Augustinho Munduca, ao relatar a história da origem das
doenças, se confunde por vezes com aquele sobre o qual fala, o próprio yuxibu,
“espírito”. Os cantos são entoados por ele, como se saíssem do próprio ser da
mata, estando ele coberto com algumas plantas as quais não têm a intenção
de ocultar a identidade do pajé. Experiência semelhante presenciou uma das
autoras durante a realização do filme Nzakapuuj (2014) com o Coletivo Cinta
Larga de Cinema, na área indígena em Rondônia. Nesse filme tanto diretores
como produtores não pareciam estar preocupados com a veracidade da cena
por intermédio das vestimentas e do cenário escolhido, apesar do cacique ter
se retirado irritado durante a exibição do filme ao assistir sua mulher deitada
na rede com o suposto companheiro na história mítica representada no filme.
A partir da experiência das autoras no contexto de produção indígena,18 do
conjunto da filmografia existente e dos estudos sobre as produções fílmicas,
nota-se que a especificidade desses filmes resulta de uma forte relação entre o
“autor” ou “autores do filme” e a coletividade, representada por um povo ou
por um conjunto de aldeias reconhecidas entre si como unidade étnica ou cul-
tural. Antes dos filmes serem realizados, as propostas são geralmente discutidas
pela comunidade ou por um grupo de representantes, os quais dão sugestões e
contribuem com ideias que posteriormente passarão pelo aval dos mais velhos,
lideranças políticas e espirituais cujo apoio é fundamental para que o filme seja
realizado. Observamos a grande presença de pessoas velhas nos filmes dos jovens
cineastas indígenas, cujos pais e avós frequentemente viveram uma situação de
contato e de mudanças sociais, transformando-se em personagens que atuam
como portadores da “cultura tradicional” e conhecedores da espiritualidade e
de práticas de cura. Não é raro, igualmente, que os filmes sejam realizados por
coletivos – tais como Coletivo Kisêdjê de Cinema, Coletivo de Cinema Mbya-
Guarani, Coletivo de Cinema Kuikuro, Coletivo Cinta Larga de Cinema – ou
de associacões – como a Associação dos Realizadores Indígenas do Mato Grosso
do Sul. E vale notar que, se os filmes começam a ser assinados individualmen-
18
Oficinas ministradas por Nadja Marin e Paula Morgado: Oficina de Audiovisual do Projeto Realités
Autochtones entre os índios Guarani Mbya do litoral sul do Rio de Janeiro, 2012. Nadja Marin:
Oficinas de audiovisual e criação do coletivo Cinta Larga de Cinema, 2013 e 2014. Oficinas de
Audiovisual do Projeto Videogame Huni Kuin: os caminhos da Jibóia, 2014 e 2015. Paula Morgado:
Projeto Wayanas e Aparais: Tecendo o Seu Tempo. Filmografia de Nadja Marin: Napëpë (2004),
Palmito, crianças! (2006), Tenondeí: um futuro bonito (2008), Teko Rexai: saúde Guarani Mbya
(2010), Saúde, educação e interculturalidade: diálogos com os povos indígenas do Vale do Javari
para a prevenção das DSTs e hepatites virais (2011), Festa do Porcão (2014), Os caminhos da Jiboia
(2015). Filmografia de Paula Morgado: Do São Francisco ao Pinheiros (2007).
A experiência da imagem 2p.indd 100 14/09/2016 14:27:52
te, é extensa a participacão de membros do grupo na produção, comumente 101
Filmes indígenas no Brasil: trajetória, narrativas e vicissitudes
nomeados de “colaboradores” nas fichas técnicas.
Alguns jovens indígenas começam a se destacar no cenário nacional, como é
o caso de Takumã Kuikuro formado em uma oficina pelo projeto Vídeo nas
Aldeias e cofundador do Coletivo Kuikuro. Takumã foi um dos responsáveis
pela produção do filme As hipermulheres (2011) – uma parceria entre esse
cineasta indígena Kuikuro, o antropólogo Carlos Fausto e o cineasta brasileiro
Leonardo Sette –, filme que se consagrou e foi exibido em importantes festivais
de cinema.19 A inserção desse e de outros filmes indígenas no cenário nacional
parece inaugurar uma nova fase do audiovisual indígena brasileiro na qual, para
além da parceria entre profissionais da imagem e membros indígenas e o inte-
resse de ambas as partes na realização de um produto audiovisual de qualidade,
emergeria, de um lado, um público brasileiro sensível à questão indígena, e de
outro, a ampla disseminação do audiovisual no interior das sociedades indígenas
como uma nova ferramenta no processo de transmissão cultural.20
As colocações até aqui levantadas nos levam a refletir sobre a obsessão em
qualificar de “cinema indígena” o que para os povos indígenas não se coloca
como uma preocupação ontológica, mas resultado de mais um processo de
enfrentamento político e cultural com a sociedade envolvente. Uma das
formas de confronto e marcador privilegiado das diferenças interétnicas é o
ritual e o modo como ele é interpretado localmente. Não é à toa que muitos
deles, e os mitos que os fundamentam, transformam-se em potentes argu-
mentos fílmicos.21 Nesse sentido, os filmes resultam de um longo movimento
19
Destacamos o Prêmio Especial do Júri e de Melhor Montagem no festival de Gramado (2011) e
sua participação na mostra Native: A Journey Into Indigenous Cinema no 65o Festival Internacional
de Cinema de Berlim em 2015 (com três outros filmes do projeto Vídeo nas Aldeias: Obrigado
irmão, de Divino Tserewahú (1998) e Já me transformei em imagem, de Zezinho Yube (2008), O
mestre e o divino, de Tiago Campos Torres (2013). Cabe notar que este último retrata o cotidiano
na aldeia e o registro fílmico realizado há anos por DivinoTserawú, com quem em 2009 dirigiu o
filme Pi’õnhitsi mulheres Xavantes sem nome (2009).
20
Nos últimos anos tem crescido o número de festivais e mostras audiovisuais dedicadas exclusiva-
mente ao cinema indígena, tanto no Brasil como no restante da América Latina. Esses espaços de
exibição e discussão dos filmes produzidos por realizadores indígenas permitiu a criação de uma
rede voltada para o debate sobre o ensino do audiovisual nas aldeias e as demandas políticas espe-
cíficas a esse campo. Nesse sentido foram criados recentemente durante o 45o Festival de Inverno
da UFMG em Diamantina o CAIB - Coletivo Audiovisual Indígena Brasileiro e uma carta assinada
pelos coletivos indígenas e representantes endereçada ao Estado Brasileiro, na qual reivindicam
políticas específicas para a exibição e distribuição de suas produções, incluindo a abertura de janelas
com conteúdos indígenas nas TVs públicas brasileiras.
21
Os exemplos de filmes nesse sentido são diversos. O vídeo Bimi: mestra de kenes (2009), de Zezinho
Yube, mostra como os kenes – desenhos e grafismos utilizados em roupas e ornamentos – pelos
A experiência da imagem 2p.indd 101 14/09/2016 14:27:52
102 de etnicidade: sob o prisma dos grupos indígenas, resultam do forjamento de
uma indianidade na busca por seus direitos; e na perspectiva de quem vai ao
encontro deles, os filmes são meios potentes de comunicação para melhor
compreendê-los. Todavia, não podemos perder de vista que são sociedades na
sua origem ágrafas, nas quais gesto e falas desempenham um papel de destaque
e se articulam a mídias audiovisuais (TURNER, 1992; DEMARCHI & MADI
DIAS, 2013; MIGLIORIN, 2013; BELISÁRIO, 2015). Dito de outro modo,
as linguagens audiovisuais externas encontram respaldo na forma de estar no
mundo dessas sociedades. Como Barbara Glowczewski (1992, 2012, 2015)
chama a atenção, não se trata unicamente de entender o contexto político capaz
de criar novas condições de comunicação, mas compreender que as escolhas,
as tomadas de decisão e as atitudes empreendidas pelas sociedades indígenas
dependem também de suas posturas cosmopolíticas e dos mapas filosóficos que
as norteiam. Para essa autora, os rituais aborígenes australianos são “processos
contínuos de reengendramentos do atual” e não repetições cíclicas (2015, p.
35). O factual alimenta permanentemente estados ontológicos do ser e esses
ressoam sobre a compreensão dos primeiros, produzindo cosmopolíticas e
“devires existenciais”.
Sem dúvida, o cinema vem desempenhando um papel mnemônico de des-
taque em diversos grupos, quando antigamente a transmissão oral e gestual
desempenhava com exclusividade tal papel e hoje estas se veem ameaçadas.
Se a performance, ou o “repertório incorporado” (TAYLOR, 2013), é o que
preserva a memória nas sociedades indígenas latino-americanas, os vídeos pro-
duzidos pelos membros indígenas podem ser vistos como arquivos de memória,
anteriormente inexistentes nas sociedades sem escrita. Porém, não apenas a
memória está sendo produzida nesses filmes, mas o próprio processo de trans-
missão dos conhecimentos é alterado. A transmissão que antes era tributária da
performance, ou no sentido de Diana Taylor do repertório incorporado de uma
dada sociedade, passa a ser operada também pelo vídeo. E qual a consequência
dessa alteração na forma de transmissão? Taylor afirma que o repertório, ao
contrário do arquivo, teria uma capacidade de agência individual que permite
que ele seja modificado ou atualizado constantemente por aquele que o per-
formatiza, diferentemente portanto do arquivo cujo esforço seria de eliminar
qualquer traço individualizante que não permita um acesso objetivo a ele.
Kaxinawá – não são simplesmente aprendidos pelas mulheres, as quais devem ter uma preparação
com plantas para conseguirem visualizar os desenhos e assim aprenderem a partir dessas visões.
Outros exemplos nesse sentido são os filmes O cheiro de pequi (2010), da etnia Kuikuro, A histó-
ria do monstro Khatipy (2009), dos Kisedjê, Moyngo, o sonho de Maragareum (2000), dos índios
Ikpeng, entre outros.
A experiência da imagem 2p.indd 102 14/09/2016 14:27:52
O caráter dinâmico da cultura, que vem exatamente da atualização constante 103
Filmes indígenas no Brasil: trajetória, narrativas e vicissitudes
através da performance, dos gestos, das danças, dos movimentos, dos cantos,
da temporalidade, parece se alterar com o repertório transformado em arquivo
pelo vídeo, que funcionaria mais como um fixador das identidades em um
contexto de história arquivística. A forma como esses dois tipos de memória
se afetam trazem assim novas questões para a antropologia, a performance e
os estudos de mídia indígena.
Quando observamos o longo processo de encontros e desencontros entre povos
indígenas e sociedades nacionais, nos deparamos com a constante objetivação das
diferenças culturais, em um movimento permanente dos povos na demarcação de
seus modos de ser. Esse processo afeta como as sociedade indígenas estão orga-
nizadas. Ao comentar sobre as mudanças no mundo Kuikuro (povo do Parque
Xingu no Brasil Central, Mato Grosso) o antropólogo Carlos Fausto escreve:
O tema tantas vezes repetido de “perda da cultura”, que ressoa nos quatro can-
tos da Amazônia, parece ser, assim comparável ao sentimento de orfandade e
abandono que caracteriza o doente, que está prestes a perder o seu mundo por
transformar-se em outro tipo de gente: espírito, animal, morto. Nesta lógica fa-
talista – que contamina tanto quem faz parte da realidade indígena, como quem
está fora dela –, os rituais agem majoritariamente para evitar que se deixe de ser
“Índio” e se vire “Branco”. (2011, p. 167)
Igualmente os novos meios de comunicação são incorporados para que as iden-
tidades indígenas não sejam esquecidas, contrariando a tese de que a tecnologia
nas aldeias é sinal de que se estaria deixando de ser “Índio”.
A presença indígena no ciberspaço: primeiras indagações
A internet permitiu a descentralização da difusão dos conhecimentos e sua
melhor distribuição tanto social como geográfica. Com o nascimento da WEB
assistimos a uma imensa potencialização dos processos cooperativos no interior
de sociedades de economia descentralizada não escapando portanto o cinema
indígena a essa tendência. De uma perspectiva indígena, o que mudou na
passagem de uma mídia à outra?
No campo do ciberativismo, uma das questões delicadas enfrentadas pelos
grupos é como ajustar demandas e ofertas numa arena que sempre foi desigual
ou, em outras palavras, como adequar desejo de compartilhar com a real possi-
bilidade de se expressar. O diálogo que se estabelece entre os grupos indígenas
e as novas tecnologias de comunicação não se faz sem dificuldades, não sendo
A experiência da imagem 2p.indd 103 14/09/2016 14:27:52
104 muito distinto do que assistimos nos anos 1990 com a introdução do vídeo nas
aldeias. As tecnologias de informação e comunicação requerem uma formação
técnica e exigem condições estruturais – acesso à rede e equipamentos em
constante manutenção – que possibilitem o acesso às informações produzidas.22
Além disso, a introdução de tais meios de comunicação na cadeia de trans-
missão cultural tem um impacto na gestão da sua difusão, isto é, o que deve e
pode ser difundido internamente e externamente.23 O ciberespaço, espaço por
excelência do no man’s land, potencializa a questão da gestão da circulação dos
saberes, entre quem detém a autoria das informações e seu controle. De uma
perspectiva interna às sociedades indígenas o que está em jogo é a continuidade
da transmissão dos valores éticos, em detrimento de novos valores individuais
que emergem em um campo que propicia a produção de tais valores. Nesse
sentido, penetramos no terreno da relação entre autoridade e autoria, entre
os que têm legitimidade e entre os que produzem o conhecimento.
Com o intuito de compreendermos as web-representações indígenas em ex-
pansão, devemos levar em conta três elementos principais: em primeiro lugar
que na luta pelos direitos indígenas, os povos frequentemente se apropriam
de formas de expressão que tradicionalmente lhes são exteriores; em segundo,
que o processo dos empréstimos culturais implica compreender o contexto
nos quais tais lutas se inserem; e, finalmente, que não é possível negligenciar
uma boa etnografia dos grupos para se compreender como se dão os emprésti-
mos de fora. Não foi com o advento da internet que os grupos culturais passaram
a objetivar suas próprias manifestações culturais para fins políticos. Mas se
nas últimas décadas e, ainda hoje, o vídeo vem servindo como instrumento de
afirmação étnica, as web-páginas, além de desempenharem a mesma função,
possibilitaram o alargamento do público e de um público especial, ao mesmo
tempo heteróclito e anônimo. Como muito do que se lê na internet não é
posto à prova, é um espaço propício ao imaginário. Além disso, não devemos
perder de vista o universo off-line dos novos autores virtuais, verificando se
essas mídias estão sendo usadas para afirmar as identidades locais já dadas na
cultura off-line (off-line culture) ou se estamos assistindo, como entre outras
comunidades virtuais, à proliferação de novas identidades na internet. Parece-
nos que conforme a arena política, assistimos a ambas as forças se alternando.
22
Ainda no Brasil rural a manutenção de aparelhos de informática e o acesso à internet é algo incons-
tante e por vezes inexistente.
23
1o Simpósio Indígena sobre Usos da Internet no Brasil”, organizado entre 24 e 26 de novembro
de 2011na Universidade de São Paulo, que reuniu 24 membros indígenas, suscitou uma discussão
aclamada sobre a difusão de saberes ditos “tradicionais” no ciberespaço. Ver: <http://www.usp.
br/nhii/simposio/>. Acesso em dez. 2015.
A experiência da imagem 2p.indd 104 14/09/2016 14:27:52
Em muitas web-páginas indígenas, os textos e imagens selecionados reiteram 105
Filmes indígenas no Brasil: trajetória, narrativas e vicissitudes
o discurso da valorização sobre o que consideram constituir suas “tradições”,
distinguindo-os dos demais. Por meio das web-páginas, os autores desejam
que as próximas gerações não se esqueçam de seus valores: não importa se
estes últimos não se realizam tanto mais pelas ações, pois o que importa é que
continuem atuando como princípios éticos e identitários. O que se percebe é
que diante da gigantesca desigualdade existente entre as forças políticas, off
ou on-line, os grupos indígenas acabam por reforçar suas fronteiras. Ao fixar
símbolos de um passado por vezes imaginado, o conteúdo das páginas acaba
por transmitir valores culturais que reforçam o espírito de pertencimento a
uma tradição invariável e não de uma dinâmica cultural vivida por eles. A ar-
madilha, portanto, do processo de etnicidade é a produção de manifestações
exóticas, de criar algo que não mais existe (ou do que nunca existiu), e que no
ciberespaço é capaz de ser projetado na sua potência máxima, reinventando-se
permanentemente.24 Paralelamente, nunca presenciamos a expressão de tan-
tas vozes marginais na luta pela diferença. E, ao explicitarem tais diferenças,
as novas ferramentas tecnológicas nos desafiam a investigar as maneiras distintas
pelas quais os grupos vêm produzindo a diferença.25
Para finalizar, sobre os usos da internet entre os povos indígenas não poderíamos
deixar de ressaltar o número cada vez maior de indígenas nas redes sociais, em
especial no Facebook. Estar na rede social representa mais uma porta de contato
com o mundo de fora, numa rede que possibilita o encontro e o diálogo entre
distintos povos, dessa vez não mais por meio de seus líderes, mediadores ou dos
filmes que circulam extra-aldeias, mas através de perfis virtuais construídos.
Recentemente, uma das autoras presenciou uma cena, que não poderia existir
há alguns anos e que demonstra as rápidas transformações nas formas de co-
municação dos povos indígenas. Em uma aldeia Kaxinawa à beira do rio Jordão
no Acre, perto da fronteira entre o Brasil e o Peru, um rapaz escala os troncos
da maloca grande em busca do sinal de internet. É o único ponto da aldeia de
onde se consegue tal acesso. O vilarejo mais próximo está a duas horas de barco,
só existe energia solar na aldeia e não há nenhum sinal de televisão. As fotos
da festa do dia do índio, no dia 19 de abril, haviam acabado de serem postadas
pelo rapaz e já tinham cerca de cinquenta “curtidas” quando o mesmo retornou
ao chão. São amigos de São Paulo, Rio de Janeiro, Maceió, Belo Horizonte,
24
Essa questão é desenvolvida por Paula Morgado em outro texto, em que ela analisa especificamente
o conteúdo de algumas web-páginas do povo indígena Innu. “Les Innu sur l’internet: représentation,
identité et enjeux politiques” (2010).
25
Ver levantamento com a lista dos sites, blogs e portais sobre a temática indígena brasileiros no
endereço: <www.etnolhar.wordpress.com/web-paginas>. Acesso em dez. 2015.
A experiência da imagem 2p.indd 105 14/09/2016 14:27:52
106 parentes que moram em Tarauacá, Rio Branco e até estrangeiros e parceiros de
projetos espalhados pelo Brasil e pelo mundo que puderam olhar e comentar
suas fotos quase em tempo real. Quais impactos tais “curtidas” têm na vida
desse rapaz? Ainda é cedo para analisarmos como tal fenômeno reverbera nas
relações sociais das aldeias. Todavia, a velocidade da comunicação, das trocas,
dos aprendizados, do intercâmbio entre os povos, da possibilidade de articulação
e organização do movimento indígena, dos encontros de jovens, da divulgação
de festivais, do acesso ao mundo dos projetos e editais, todos esses elementos
trazem novas questões com as quais os grupos indígenas se deparam e sobre as
quais necessitamos refletir e aprofundar. Trata-se de questões e informações
que antes passavam pelos filtros das lideranças e dos mais velhos e agora, com
o advento da internet, têm a possibilidade de circular de forma livre e entre
quaisquer indivíduos. Tal mudança não ocorre, tal como se processou com o
vídeo, sem debates fervorosos e conflitos políticos; e, não é por acaso, que anciãos
e jovens lideranças são os que passam a dominar as tecnologias emergentes. A
visibilidade ainda faz parte da agenda da grande maioria dos povos indígenas e
o sucesso da sua produção audiovidual (filmes ou informações pensadas para
circularem na web) depende desse complexo movimento, ancorado nas vicis-
situdes políticas e no modo como cada sociedade reage a elas.
Bibliografia
BAUDRILLARD, Jean. “Simulacra and Simulations”. In: LODGE, David & WOOD, Nigel (orgs.).
Modern Literary Theory and Criticism: A Reader. Harlow/Nova York: Longman, 1988.
BELISÁRIO, Bernard. As hipermulheres: cinema e ritual entre mulheres, homens e espíritos. Dissertação
de Mestrado. PPGCOM/UFMG, 2014.
_____. “Ressonâncias entre cinema, cantos e corpos em um ritual do Alto Xingu”. Manuscrito, 2015.
BRASIL, André. “Bicicletas de Nhanderu: lascas do extracampo”. Revista Devires: Cinema e Huma-
nidades. Universidade Federal de Minas Gerais, n. 9, pp. 1: 98-117. 2012.
CAIUBY NOVAES, Sylvia. “Quando os cineastas são índios”. Sinopse Revista de Cinema, São Paulo,
v. 2, pp. 88-90. 2000.
CAIXETA DE QUEIROZ, Ruben. “Cineastas indígenas e pensamento selvagem”. Devires, v. 5, n. 2,
pp. 98-125. 2008.
DEMARCHI, André. & MADI DIAS, Diego. “A imagem cronicamente imperfeita: o corpo e a câmera
entre os Kayapo”. Espaço Ameríndio, Porto Alegre, v. 7, n. 2, pp. 147-171. jul./dez., 2013.
FAUSTO, Carlos. “No registro da cultura: o cheiro dos brancos e o cinema dos índios”. In: Vídeo nas
Aldeias: 25 anos. CARVALHO, Ana et al. (orgs.). Olinda: Vídeo nas Aldeias, 2010.
FROTA, Mônica. “Taking Aim: The Video Technology of Cultural Resistance”. In: RENOV, Michael
& SUDERBURG, Erika (orgs.). Resolutions: Contemporary Vídeo Practices. Minnesota: The
University of Minnesota Press, 1996.
A experiência da imagem 2p.indd 106 14/09/2016 14:27:52
GALLOIS, Dominique T. “Materializando saberes imateriais: experiências indígenas na Amazônia 107
Filmes indígenas no Brasil: trajetória, narrativas e vicissitudes
Ocidental”. Revista de Estudos e Pesquisas (Fundação Nacional do Índio), v. 4, pp. 10-20. 2011.
GALLOIS, Dominique T. & CARELLI, Vincent. “Diálogo entre povos indígenas: a experiência de dois
encontros mediados pelo vídeo”. Revista de Antropologia. Universidade de São Paulo, São Paulo,
v. 38, n. 1, pp. 205-258. 1995a.
_____. “Vídeo e diálogo cultural: experiência do projeto Vídeo nas Aldeias. Horizontes Antropológicos
, Porto Alegre, a. 1, n. 2, pp. 61-72. jul./set., 1995b.
_____. “Intercâmbio de imagens e reconstruções culturais”. Revista Sinopse, Cinusp, 2000.
GINSBURG, Faye. “Mediating Culture: Indigenous Media, Ethnographic Film, and the Production of
Identity”. In: DEVEREAUX, L., HILLMAN, Roger (orgs.). Fields of Vision: Essays in Film Studies,
Visual Anthropology and Photography. Berkeley: University of California Press, 1995.
_____. “Native Intelligence: A Short History of Debates on Indigenous Media”. In: RUBY, Jay &
BANKS, M. (orgs.). Made to Be Seen: A History of Visual Anthropology. Chicago: University of
Chicago Press, 2011.
GLOWCZEWSKI, Barbara. Du Rêve à la loi chez les aborigènes: mythes, rites et organization sociale
en Australie. Paris: PUF, 1991.
_____. “Linhas e entrecruzamentos: hiperlinks nas narrativas indígenas australianas”. In: GROSSI, M. et
al. (orgs.). Conferências e diálogos: saberes e práticas antropológicas. Blumenau: Novas Letra, 2007.
_____. “From Academic Heritage to Aboriginal Priorities: Anthropological Responsabilities. Revista
de Antropologia, v. 4. São Carlos, UFSCar. 2012.
_____. Devires totêmicos: cosmopolítica do sonho. São Paulo: N-1, 2015.
MIGLIORIN, Cezar. “Território e virtualidade: quando a ‘cultura’ retorna no cinema”. Revista Fla-
mecos: Mídia, Cultura e Tecnologia, v. 20, n. 2, pp. 275-295. 2013. Disponível em: <http://revis-
taseletronicas.pucrs.br/scientiamedica/ojs/index.php/revistafamecos/article/view/14207/9966>.
Acesso em dez. 2015.
MORGADO, Paula. “Les Innu sur l’internet: représentation, identité et enjeux politiques”. Les Cahiers
du Ciéra, v.5, pp.75-100. 2010.
“Programa de índio”. 2009. Ikorĕ – projetos culturais e artísticos (production). Disponível em: <http://
www.programadeindio.org/index.php?s=pi&n=pi_historia>. Acesso em dez. 2015.
“Vídeos Kayapó”. 2008. Disponível em: <http://www.correiocidadania.com.br/index.php?option=-
com_content&view=article&id=1513:amcid050308&catid=28:ambiente-e-cidadania&Ite-
mid=57> . Acesso em dez. 2015.
TASSARA, E. (org.) & BISILIAT, M. (coord.). O índio: ontem, hoje e amanhã. São Paulo: Memorial
da América Latina/Edusp, 1991.
TAYLOR, Diana. O arquivo e o repertório: performance e memória cultural nas Américas. Belo
Horizonte: UFMG, 2013.
TURNER, Terence. “Defiant Images: The Kayapo Appropriation of Video”. In: Anthopology Today,
v. 8, n. 6, pp. 5-16. 1992.
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. A inconstância da alma selvagem e outros ensaios de antropologia.
São Paulo: Cosac Naify, 2002.
Filmografia
Bicicletas de Nhanderu. Ariel Duarte Ortega & Patricia Ferreira. 2011. 48 min.
Hipermulheres, As. Carlos Fausto & Leonardo Sette. 2011. 80 min.
A experiência da imagem 2p.indd 107 14/09/2016 14:27:52
108 Huni Meka. Os cantos do Cipó. Tadeu Siã Kaxinawa & Josias Maná Kaxinawa. 2006. 26 min.
Moyngo, o sonho de Maragareum. Ikpeng, Karané et al. 2002. 44 min.
Nguné Elu, o dia em que a lua menstruou. Takumã Kuikuro & Maricá Kuikuro. 2004. 28 min.
Porcos raivosos. Isabel Penomi & Leonardo Sette. 2012. 10 min.
Segredos da mata. Vincent Carelli & Dominique Gallois. 1998. 37 min.
Wapté Mnõhnõ, initiation du jeune Xavante. Divino Tserewahú. 1999. 56 min.
Morzaniel Yanomami. II Encontro de Xamãs Yanomami. 2012. 3 min; 16sec. Disponível em: <http://
www.youtube.com/watch?v=1sfy3VxQ2Ak> . Acesso em dez. 2015.
Páginas na internet
Todos os links foram acessados em dez. 2015
Coletivo Kuikuro de Cinema Blog:
<http://coletivokuikurodecinema.blogspot.fr/?zx=c5a2321efbf4013b>
Coletivo Pajé filmes Blog:
<http://www.paje-filmes.blogspot.com.br>
De La Plume à L’Écran. 2008. Siteweb:
<http://www.delaplumealecran.org>
Hutukura. 2010. Siteweb:
<http://www.socioambiental.org/pt-br/tags/hutukara>
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Notícias: “IBGE mapeia a população indígena”:
<http://www.ibge.gov.br/indigenas/indigena_censo2010.pdf>
A experiência da imagem 2p.indd 108 14/09/2016 14:27:52
A análise fílmica na antropologia: tópicos
para uma proposta teórico-metodológica1
BRUNA TRIANA
DIANA GÓMEZ
O cinema enquanto objeto antropológico
Esta é uma superfície, uma mesa de experimentos, onde se encontram duas
trajetórias de pesquisa que, se já se encontraram em outros lugares e situações,
agora, confluem para olhar as vias de mão dupla pelas quais as áreas do cinema
e da antropologia se cruzam e se conectam. Aqui, pretendemos não apenas usar
os filmes para discutir temas caros à antropologia, mas discutir, também, a forma
fílmica, seu estilo. Neste encontro de trajetórias, algumas categorias de análise,
propostas por Walter Benjamin (1987; 1994; 2006), estruturam nosso diálogo:
experiência, narração e mimesis. Nessa medida, a proposta que iremos desenvolver
parte do filme Hunger (Steve McQueen, 2008), por meio do qual gostaríamos
de refletir a questão de que o cinema cria e trabalha com diferentes ritmos, sen-
sibilidades, temporalidades quando fala e pensa em torno de seus temas.
Assim, o objetivo deste texto é discutir o cinema enquanto objeto e, ao mesmo
tempo, como um problema antropológico, de modo a refletir sobre a análise
1
Este artigo é resultado de pesquisa desenvolvida junto ao GRAVI - Grupo de Antropologia Visual
da USP, no âmbito do projeto temático “A Experiência do Filme na Antropologia”, financiado pela
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processo n. 2009/52880-9
e das pesquisas de mestrado vinculadas ao projeto temático: Bruna Nunes da Costa Triana, bolsa
FAPESP (processo n° 2011/03554-1), e Diana Paola Gomez Mateus, bolsa CAPES.
A experiência da imagem 2p.indd 109 14/09/2016 14:27:52
110 fílmica na antropologia e, mais propriamente, pensar algumas relações entre
cinema e alguns conceitos benjaminianos. Tendo isso em vista, nosso objetivo
é problematizar a interface entre os campos do cinema e da antropologia a
partir de um conjunto de questões, tais como: que tipo de experiência o filme
oferece, produz, provoca? Que tipo de associações o filme permite? Como esse
ou aquele filme consegue perturbar as convenções já consagradas pelo cinema?
Que interpretações sobre determinado tema o filme provoca?
Hunger foi lançado em 2008, dirigido pelo cineasta, produtor, roteirista e vídeo-
-artista inglês Steve McQueen, autor dos filmes Shame (2011) e 12 years slave
(2013). A obra que nos propomos a analisar coloca em imagem a greve de fome
dos prisioneiros do IRA,2 em 1981, na prisão de Maze, na Irlanda do Norte.
O longa-metragem aborda esse evento histórico em seus efeitos políticos e,
principalmente, na dimensão angustiante dessa greve, chamando atenção para
os detalhes sensíveis, como o olhar perdido na infância, as letras pequenas da
memória, as lágrimas de um policial da tropa de choque etc. Tal codificação
de um evento histórico em aspectos sensíveis permite que nós, espectadoras
privilegiadas, analisemos sua forma fílmica, observando os possíveis cruzamentos
com dimensões da antropologia e, então, organizemos nossas percepções em um
texto que proponha uma maneira de se aproximar dos filmes a partir da antro-
pologia – ou mesmo uma maneira de pensar a antropologia a partir dos filmes.
Por fim, se o título do artigo propõe pensar “tópicos” para uma análise fílmica
na antropologia, tentamos abordar conceitos e categorias que, em nossa pers-
pectiva, desencadeiam a elaboração das ideias de perturbação e interpretação,
bem como os temas sobre corpo, memória e detalhes. Com efeito, esperamos
que esta reflexão contribua com orientações teórico-metodológicas capazes
de conformar uma agenda de pesquisa dentro daquilo que convencionamos
chamar “antropologia visual”.
Problematizando o filme
Quando assistimos ao filme Hunger, de Steve McQueen, de imediato, podemos
observar que os mundos criados pelo diretor3 situam-se entre uma narração
2
IRA é a sigla para Irish Republican Army (Exército Republicano Irlandês). Trata-se de um grupo repu-
blicano e católico, formado, aproximadamente, em 1919, que lutava pela separação da Irlanda do Norte
do Reino Unido. Classificado como “terrorista” pelo governo do Reino Unido (bem como por outros
países aliados), o IRA anunciou seu “fim” em meados de 2005. Sobre isso, ver Patterson (1997).
3
Não é intenção deste artigo aprofundar a discussão sobre a autoria no cinema, mas vale dizer que, para
além do diretor, há uma equipe de especialistas que também faz parte de sua elaboração e construção.
A experiência da imagem 2p.indd 110 14/09/2016 14:27:52
subjetiva e objetiva, sendo que a linha entre essas duas formas é tênue e bas- 111
A análise fílmica na antropologia: tópicos para uma proposta teórico-metodológica
tante desfocada. O que vemos na obra é uma problematização de questões
da existência humana ocidental, como a liberdade e a agência/devir e, com
efeito, referências às situações históricas e políticas específicas de um período,
colocadas em imagens por intermédio de uma narrativa fragmentada e aberta.
Se o argumento do filme tem um contexto histórico claro, os dados específi-
cos desses eventos não o são: eles se apresentam em fragmentos de discursos
transmitidos pela rádio e alguns letreiros iniciais e finais, que permitem saber
onde e quando acontecem os fatos, assim como o destino das personagens.
Essa inconsistência em relação ao contexto permite a construção de uma
narrativa aberta, fragmentada, de movimentos não lineares, portanto. O que
não significa que nós, como espectadoras, não possamos situar o argumento
e entender essas pequenas referências ao contexto histórico mais amplo.
O que realmente acontece é que somos convidadas a circular pelos espaços
da memória das personagens, memórias que são mobilizadas em momentos
de sofrimento, violência e aproximação com a morte.
Nesse sentido, aqui, situa-se um primeiro ponto para se levar em conta quan-
do nos aproximamos analiticamente de um filme: afinal, qual é o lugar que o
filme reserva a nós, espectadores? Ele apresenta uma quantidade de dados,
espaços, nomes e situações do mundo empírico/histórico? Ou ele privilegia a
indefinição? Enfim, qual a relação entre o cinema-narrador e os espectadores?
Quando Walter Benjamin (1994) afirmava, na primeira metade do século
XX, que o universo do homem moderno tem muito menos “magia” do que
o do homem primevo, uma das questões que movia tal pensamento estava
ancorada, sobretudo, no fato de que perdemos muito de nossa capacidade de
reconhecer a presença mimética para além da aparência – como ler o futuro
nas estrelas, na borra do café ou nas entranhas de um animal. Dessa forma, é
quando atenta para o esfacelamento da capacidade de narração, para os peri-
gos da racionalidade e a perda na habilidade de reconhecer semelhanças não
sensíveis, que o filósofo alemão mostra querer desvelar como o mito e a magia
ainda atuavam no pensamento racional e na vida moderna.
A partir dessas reflexões, podemos conjecturar que a ambivalência moderna
explicitada por Benjamin está presente, também, no cinema: magia e técnica,
mimesis e razão. Ora, a fotografia e o cinema provocaram uma mudança não
só na imagem e na fruição, mas, inclusive, uma mudança na experiência – ou,
pelo menos, na forma de experienciar as coisas do mundo. Nessa medida,
podemos perceber que, na construção narrativa do filme Hunger, relampejam
espaços de alteração, o que nos faz inquirir em que medida o cinema atua como
A experiência da imagem 2p.indd 111 14/09/2016 14:27:52
112 “máquina mimética” (TAUSSIG, 1993a), quer dizer, enquanto um dispositivo
que carrega o potencial de comunicar, transmitir, formar e educar, a partir da
experiência, tanto o olhar como os sentidos e os corpos.
Nessa medida, podemos pôr em foco, desde já, a capacidade de invenção
da imagem, sua força de identificar, criar, expressar, chamar atenção para os
detalhes, fazer pensar. A partir disso, podemos analisar o processo pelo qual a
imagem é concebida e através do qual ela volta ao mundo e o reflete de forma
distinta, multiplica-o ou, até mesmo, imagina-o. Trata-se de uma imagem que
não é natural, tampouco um espelho: é resultado de uma elaboração intelectual
e plástica que tem a capacidade de devolver olhares diferentes sobre o mundo.
Hunger não explica a situação dos presos do IRA na prisão de Maze – quem são,
o que fizeram para estarem lá, como foram capturados. Todavia, o filme nos faz
sentir o encarceramento e o suplício na/da prisão, a capacidade de agência dos
prisioneiros (antes e depois de serem presos), bem como a opressão e a injustiça
que, não obstante, não aparecem como empecilhos para o sentimento de um
coletivo, uma comunidade de afetos, e também para a busca de mudanças.
É um sentir que o diretor elabora durante o filme e sobre o qual Hunger vai
construir com um sentido duplo: fome de direitos (básicos e humanos) e fome
de alimentos; fome de mudanças e liberdade e fome do corpo. É um sentido
duplo e contraditório: buscam-se mudanças para a sociedade, liberdade para
o país, mas, tudo isso, a partir da prisão e da destruição do próprio corpo.
Bobby: É garantido que haverá uma nova geração de homens e mulheres ainda mais
fortes, mais determinados [...]. O que tem acontecido nos últimos quatro anos?
A brutalidade, a humilhação. Tiraram nossos direitos humanos básicos, tudo isso
tem que acabar.
Don: Através do diálogo...
Bobby: Então o quê? Aceitamos a oferta deles e colocamos o uniforme, porque os úl-
timos quatro anos não significaram nada. Podemos fazer isso, Don. Ou podemos agir
como o exército que dizemos ser e resignar nossas vidas por nossos companheiros.
Don: [...] Gostaria de saber se sua intenção é apenas se suicidar aqui.
Bobby: [...] De um lado, você chama de suicídio, eu chamo de assassinato, e essa
é apenas mais uma pequena diferença entre nós dois [...] (trecho de diálogo de
Hunger).4
4
A transcrição desse diálogo foi feita a partir das legendas em português do filme. Podem existir
equívocos na tradução, mas tentamos conservar o máximo possível o sentido geral dessa transcrição.
A experiência da imagem 2p.indd 112 14/09/2016 14:27:52
A análise fílmica: perspectivas duplas em contato 113
A análise fílmica na antropologia: tópicos para uma proposta teórico-metodológica
Enfatizamos nossa opção de construir o cinema como objeto de estudos pro-
priamente antropológico mediante dois enfoques principais: a) as relações entre
cinema e antropologia mediadas/estruturadas pelos conceitos de experiência,
narrativa e mimesis; b) as interpretações, leituras e associações que os filmes
sugerem acerca dos mais variados temas, como violência, morte, ética e política.
A partir dessa dupla perspectiva teórico-metodológica também é preciso expor
as condições de produção das narrativas, bem como seu contexto histórico
-político. Encontramos, aqui, outro ponto sobre o qual desejamos insistir, o
filme na antropologia não se torna objeto de estudo apenas em função de seu
argumento, da forma documental ou de personagens. Ele é objeto de estudo
porque a construção fílmica de uma ideia impõe a questão das relações entre
sujeitos e objetos – nesse caso, os filmes, que têm a capacidade de moldar
as relações e as percepções do mundo. Aqui, enfatizaremos essas relações a
partir de três conceitos já citados, a saber: experiência, narrativa e mimesis.
É para dar conta da especificidade das obras cinematográficas que Aumont
(2007), assim como Vanoye e Goliot Lété (1994), reforça a utilização da
metodologia da análise fílmica. Segundo os autores, a análise fílmica autoriza
decompor a obra em seus vários elementos constitutivos para, então, trans-
cendê-la em uma reconstrução epistemológica, que possibilita o estudo crítico
dos sentidos estruturados pelo autor (o diretor ou o coletivo de realizadores),
perpetrando um reexame das questões colocadas em seu contexto histórico
e político. Segue-se a isso que a perspectiva teórico-metodológica da análise
fílmica possibilita enfrentar a interpretação do diretor sobre um tema com
uma interpretação analítica baseada nos filmes, detalhadamente descritos e
examinados, fundamentada teoricamente em pressupostos e conceitos que o
pesquisador considerar mais profícuos para o estudo do objeto proposto pelo
longa-metragem.
Assim, a análise fílmica pode ser vista como processo de desconstrução (a
descrição) e reconstrução (a interpretação), tal qual demonstraram Vanoye e
Goliot Lété (1994). E, nesse processo, busca-se revelar a construção fílmica –
ou seja, a forma e os elementos mobilizados para trabalhar a história – e, por
conseguinte, interpretar essa construção. Nesse processo de desconstrução,
podemos utilizar estratégias como a descrição em texto de cenas, a “decupa-
gem” ou a remontagem, dependendo do interesse do investigador e da própria
forma fílmica em questão. Em qualquer um desses casos, não se espera dar
conta da totalidade do filme, mas sim dos aspectos que servem para construí-lo
A experiência da imagem 2p.indd 113 14/09/2016 14:27:52
114 enquanto objeto de análise, seja no que ele aporta à discussão de interpreta-
ções especificamente temáticas, seja no trabalho que a obra faz sobre algum
aspecto essencialmente fílmico, como, por exemplo, o “plano sequência”. O
que não se deve perder de vistam nesse processo, é que o horizonte de pesquisa
está dentro do universo da antropologia. É por nos localizarmos dentro desse
universo que propomos determinadas questões aos filmes.
Nossas pesquisas de mestrado buscaram pensar o cinema de ficção para discutir
temas caros à antropologia. Gómez (2012) optou por explorar a maneira como
um país (Colômbia) está criando uma narrativa da sua história de violências
através de longas-metragens de ficção. Na descrição textual de dois filmes
colombianos, segundo eixos que as obras propunham (o olhar como vetor, o
rosto, a desfiguração e o tempo), analisou-se o problema de como narrar uma
situação de violência e sofrimento de uma maneira que explicasse ou forne-
cesse ferramentas para se aproximar à violência sem, com isso, alargar o reino
do medo, que torna possível a violência. No estudo detalhado dos filmes, e
com essa problemática em mente, a relação entre experiência e mimesis na
narração da história, para além de uma preocupação com a verossimilhança,
demonstrou a capacidade dos filmes de imaginar e de fazer refletir ao subverter
imagens tidas como óbvias ou necessárias para contar uma história de violência.
Ainda com referência à proposta metodológica descrita por Vanoye e Goliot
Lété (1994), na pesquisa citada acima, foram empregadas duas estratégias:
descrição textual e decupagem. No primeiro caso, a descrição entrelaçava
aspectos técnicos com aqueles do argumento, visando dar conta da construção
de uma situação emotiva que prepara o espectador para a revelação do segredo,
um tipo de “conhecimento venenoso” (JIMENO, 2008; 2010), mas que liberta
(TAUSSIG, 1999). No segundo caso, a decupagem serviu para dar conta da
construção de um tempo tenso e denso, que seria o sentir a ameaça de morte.
Dessa forma, para cada um dos filmes analisados na pesquisa, uma estratégia
de descrição foi utilizada para observar, nas obras, tanto as questões fílmicas
como as questões temáticas.
Triana (2013), por sua vez, partindo da obra Trilogia das cores, do diretor polo-
nês Krzysztof Kieślowski (1941-96), produzida entre 1992 e 1994, na França,
Polônia e Suíça, respectivamente, buscou articular a obra com determinadas
discussões, como a questão do cinema como narrador moderno e como meio
de transmissão de experiências, bem como com questões éticas, políticas e
históricas que perpassam os filmes e, portanto, a própria análise. Desse modo,
o trabalho refletiu a imagem de Europa que transparece e tangenciam os filmes
e a possibilidade de viver sob a ética iluminista em um mundo contemporâneo,
A experiência da imagem 2p.indd 114 14/09/2016 14:27:52
como as associações possíveis entre o cinema como uma forma narrativa que 115
A análise fílmica na antropologia: tópicos para uma proposta teórico-metodológica
possibilita uma experiência sensível.
A descrição, decupagem e análise de frames dos longas procurou dar conta
dos diversos elementos abertos pela narrativa fílmica: as distintas formas de
contar a história de cada longa, os elementos comuns às três obras, a busca
das personagens por se colocar no espaço público, a ideia imaginada de União
Europeia que se firmava, a utilização das cores e dos sons de formas distintas
e/ou semelhantes em cada filme, o encontro com as alteridades, os detalhes
e gestos, os tempos e espaços (TRIANA, 2013). Assim, nesse trabalho, a
interpretação dos filmes se deu tanto pelos aspectos contextuais e históricos,
quanto pelos elementos sensíveis e sensoriais (as cores, os sons, os detalhes)
e pelas formas de intensificar e trabalhar com a linguagem fílmica, de modo a
provocar/transmitir uma experiência no/ao espectador.
Conforme apontamos nesses trabalhos anteriores, um ponto importante que
é necessário elucidar é a participação e a importância do espectador para
significar e construir a imagem; isso, porque, ao demonstrarmos a abertura e
a incompletude da imagem como características fundamentais das narrativas
cinematográficas, não objetivamos estudar as recepções dos filmes pelo público.
A argumentação acerca do diálogo espectador-filme e da experiência fílmica
direciona-se, pelo menos teoricamente, a partir de nossa própria experiência
enquanto espectadoras privilegiadas.
Ao introduzir o espectador como uma variável na análise, que constrói o sen-
tido do filme ao visualizá-lo e, depois, ao recontá-lo, não pensamos em um
espectador ideal, mas chamamos a atenção para as distintas possibilidades de
análise e interpretação e, com efeito, sobre uma qualidade particular das obras
fílmicas que nos interessam, a saber, sua incompletude. O filme, então, é uma
“elaboração do real” que apela a dimensões sensíveis (afinal, o filme toca a
experiência), performativas (as imagens que fazem coisas)5 e criativas. Isso, ao
invés de abalar as possibilidades analíticas, demonstra a qualidade do material
fílmico, pois não se trata de uma pretendida “função social do cinema”, mas
da maneira com que os filmes criam realidades e significados quando atuam
como interlocutores, ou melhor, como formas de interpelar o espectador.
É desse modo que, considerando as características estilísticas e narrativas do
filme Hunger e, ainda, as perturbações na forma fílmica presentes no longa,
podemos pensar a obra a partir do instrumental analítico de Walter Benjamin,
combinados à sua retomada antropológica efetuada por Michael Taussig. Am-
5
Para uma discussão da capacidade performativa das palavras, ver Austin (1962).
A experiência da imagem 2p.indd 115 14/09/2016 14:27:52
116 bos os autores são interessantes porque, juntos, conseguem discutir o afeto da
imagem, o cinema como “narrador moderno” e como “máquina mimética”.
Como nos recorda Benjamin (1994), com as imagens cinematográficas, os
gestos mais banais tornaram-se estranhos, pois o cinema nos revelou todos
os detalhes que envolvem esse gesto já comum. Com efeito, e tendo em vista
que talvez, hoje, os próprios filmes tornaram-se tão triviais que podem não
ser mais alvos de estranhamento, propomo-nos estranhar essas imagens de
Hunger, de maneira a desmontá-las, para, só então, proceder à remontagem
em um nível de argumentação teórica que se constrói a partir da metodologia
da análise fílmica.
Contudo, somos duas espectadoras que, nesse filme, observamos de diferentes
lugares. Enquanto uma se preocupa com os detalhes, os gestos, a lentidão,
a angústia, outra se propõe a olhar as desfigurações do corpo, a violência, a
narrativa do sofrimento. Há certo descompasso de interesses e de formas de
assistir ao filme. Encontramo-nos, nesse sentido, na perspectiva de como esses
elementos confluem para contar uma história que provoca diferentes afetos,
porque interpela os espectadores de uma maneira específica. Consideramos
que o filme é uma experiência capaz de invocar sentidos e construções sociais,
pois desenvolve uma questão acerca do mundo, um ponto de vista determinado
de como estar e se relacionar com os outros, desvenda e reflete os sentidos,
memórias e experiências pessoais de cada um. Como observou Jameson, os
“filmes são uma experiência física e, como tal, são lembrados e armazenados
em sinapses corpóreas que escapam à mente racional” (1995, p. 1). O cinema
é, portanto, um vício que deixa marcas no corpo, uma atividade profundamente
assinalada em nosso cotidiano.
Cada espectador, de acordo com suas memórias e experiências, pode ter uma
sensação distinta, uma compreensão diferente. Porém, é preciso considerar
que o filme também se posiciona perante o seu público. Isto é, em sua cons-
trução, o diretor e a equipe de produção pensam e pesam o tipo de relação
que querem estabelecer com o público e como querem contar sua história.
Não há uma total indeterminação de sentidos: são fornecidas informações pelo
próprio filme, além da própria maneira como a história é filmada – tudo isso
influi na maneira de perceber e experienciar os filmes.
Assim, como duas espectadoras que veem o mesmo filme em lugares e posições
distintas, escrever essa análise é recombinar e reconstruir imagens diferentes
que se apresentam a nós. As questões que levantamos em comum – e as que
compreendemos de jeitos diferentes – colocam-nos, então, em uma posição
de estranhamentos e deslocamentos mútuos, que devemos fazer dialogar. Essa
A experiência da imagem 2p.indd 116 14/09/2016 14:27:52
questão de comunicação, de produção de um texto como local de reconstru- 117
A análise fílmica na antropologia: tópicos para uma proposta teórico-metodológica
ção analítica, é, de fato, um exercício metodológico interessante para pensar
a própria comunicação no cinema.
Cinema, narrativa e experiência
Refletindo sobre o filme Hunger, a questão da comunicação com o espectador
é intensificada; mas isso não ocorre pelos moldes clássicos,6 e sim pela inclusão
de imagens duráveis, que demandam a atenção e o olhar do espectador. Os
planos de detalhes, longos, de objetos e partes do corpo, buscam um olhar
próximo que tenta revelar a sensibilidade, a memória e os desejos. Também
é preciso considerar que as personagens não se revelam prontamente (seus
nomes, passados, motivações, sentimentos), pois o espaço e o tempo da trama
não são tão claros (somos informados por letreiros sobre o país e a prisão, pelo
rádio sobre as ações dos prisioneiros e as respostas de Margareth Thatcher),
e não há preocupação em elucidar essas questões (traços psicológicos, ações
passadas que os colocaram na prisão).
É importante notar que o trabalho da narração no cinema clássico procura não
ser perceptível, isto é, o olhar mediador que nos apresenta a história busca
ocultar-se. “No cinema corrente, e em certa linguagem naturalista, a figura do
narrador se esconde por trás do seu próprio ato, o qual ele executa com certos
cuidados. Não é palpável, não tem rosto, nem deixa nenhum outro traço que
não seja o ato mesmo de narrar” (XAVIER, 2007, p. 17). Nesse cinema, de-
terminadas regras, técnicas e procedimentos buscam dissimular a presença de
uma instância narrativa e garantir um princípio de continuidade. Em Hunger,
ao contrário, a mediação da câmera se desloca, não mantendo uma referência
fixa. Com isso, queremos dizer que o olhar da câmera faz uma mediação com
o que dá a ver: oculta-se em certos momentos, mas se revela em outros.
É possível observar esse uso estilístico das convenções clássicas no filme no
recurso a planos de detalhe e na montagem da sequência da morte de Bobby,
que contribuem para a construção de uma imagem muito vaga, opaca, quase
ambígua. A câmera em planos de detalhes, nas mãos, olhos, objetos (cigarro,
isqueiro) buscam aprofundar esses gestos, dores, coisas. Na sequência da morte
de Bobby, por exemplo, o primeiro plano em seu rosto, alternado com uma pos-
sível lembrança de infância (correndo no meio de uma floresta), a lágrima que
cai de seus olhos, sua boca aberta, contraposta à revoada de pássaros, seu
6
Estamos nos referindo ao cinema clássico, tal como definido por Xavier (2003; 2008).
A experiência da imagem 2p.indd 117 14/09/2016 14:27:52
118 rosto já sem vida. Ainda podemos notar no filme que, nos diálogos, tal qual
nas imagens, predominam a tensão, as meias-palavras, os equívocos. Logo,
as elipses, os cortes descontínuos, os planos de detalhes, a lentidão dos mo-
vimentos são elementos para uma busca de novas imagens, tensas, sensíveis.
Esses aspectos formais procuram apresentar a violência em suas tonalidades,
ritmos, traços, dificuldades, limites; isso, no entanto, sem uma psicologização
dramática das personagens. Utilizando-se de elementos de uma decupagem
clássica, que explica e se esconde, o filme está em um intenso diálogo com
ela, transformando-a, transgredindo-a.
Veja-se, nesse sentido, o enquadramento das mãos, do olhar e do corpo que
ocorrem no filme sobre algumas personagens. Já no início do filme vemos as
mãos de um homem em close; essas mãos, saberemos depois, são as que cor-
tam os cabelos e revistam o ânus dos prisioneiros – são mãos que espancam,
repetidamente, os presos, e, por isso, a contração quando entram em contato
com a água.
Da mesma forma, o filme enquadra repetidamente os olhares: do policial
chorando enquanto seus companheiros batem nos prisioneiros, de Bobby
delirando no hospital – já extremamente debilitado pela greve de fome. Não
são imagens usuais da violência nua a que os prisioneiros estão expostos, mas
sim detalhes dessa violência. Em relação ao corpo, são corpos sujos (o dos
prisioneiros), débeis, magros, feridos. O corpo de Bobby, por exemplo, não é
um corpo forte de herói, mas um corpo imundo, desgrenhado e, com a greve
de fome já avançada, cheio de escarras, esquelético.
A problemática da narração é fundamental em Benjamin, pois condensa um
dos paradoxos da modernidade: a impossibilidade da narração e a exigência de
se ouvir histórias. Podemos assumir essa problemática na análise de Hunger,
sobretudo a partir das cenas citadas: como narrar sem sufocar os silêncios, as
hesitações, as lacunas e as ambiguidades? Ao examinarmos o filme, observamos
temporalidades cruzadas, o inacabamento do que passou e sua interferência
no presente fílmico (as ações passadas, a primeira greve de fome). De fato, o
longa privilegia as angústias, as dores e perturbações, os momentos de tensão,
as contradições e as tentativas das personagens se colocarem no mundo. Tra-
ta-se, então, em Hunger, de olhar com atenção para os detalhes, fragmentos,
gestos, para o subentendido.
Como Taussig (1993a), concebemos o cinema como “máquina mimética”, ou
seja, como narrador moderno capaz de nos provocar e transmitir conhecimentos
que afetam sensivelmente o espectador. Ao analisar filmes, estamos expostos à
linguagem cinematográfica, aos seus equívocos, à sua opacidade. Os equívocos
A experiência da imagem 2p.indd 118 14/09/2016 14:27:52
são muitos, e a transparência e a opacidade estão em constante relação dialética. 119
A análise fílmica na antropologia: tópicos para uma proposta teórico-metodológica
É importante ressaltar, por isso, que o que nos é dado a ver no cinema muitas
vezes é mais uma significação do que propriamente um fato; e a significação
do que vemos se faz na montagem, nos detalhes (TRIANA, 2013).
No cinema, as relações entre visível e invisível, a interação entre o dado imediato
e sua significação, tornam-se mais intrincadas. A sucessão de imagens criada pela
montagem produz relações novas a todo instante e somos sempre levados a es-
tabelecer ligações propriamente não existentes na tela. A montagem sugere, nós
deduzimos. As significações engendram-se menos por força de isolamentos [...] e
mais por força das contextualizações para as quais o cinema possui uma liberdade
invejável. É sabido que a combinação de imagens cria significados não presentes
em cada uma isoladamente. (XAVIER, 2003, p. 33)
A articulação entre cinema e experiência utiliza-se de alguns conceitos funda-
mentais: narração, mimesis, tempo e rememoração. O cinema é uma experiên-
cia do olhar e, assim, uma experiência de formação e reflexão; é, sobretudo,
uma experiência que propõe a participação afetiva e uma ponderação reflexiva
sobre o mundo e sobre os homens (TRIANA, 2013). Portanto, “se os filmes
tivessem uma função crítica, cognitiva, eles teriam que quebrar essa cadeia e
assumir a tarefa de toda arte politizada, como Buck-Morss parafraseia o ar-
gumento do Artwork Essay: ‘não duplicar a ilusão como real, mas interpretar
a realidade como a própria ilusão’” (HANSEN, 1987, p. 204; trad. nossa).7
De fato, assistir a um filme é uma experiência cotidiana para muitas pessoas
– seja no cinema ou em casa. O antropólogo, ciente da perda do papel do
contador de histórias, do declínio da comunicação artesanal ligado à figura do
narrador tradicional, atenta que o cinema se coloca como narrador atual; e as
histórias que ele narra são poderosas.
Porque, se o papel do trabalho manual como história é menos importante hoje do
que em tempos passados e, junto com ela, toda uma comunicação artesanal da
experiência ligada ao narrador, há, no entanto, este novo, este moderno, “contador
de histórias”: o filme. Isso preserva – na verdade, revigora – o trabalho manual na
forma de um olho tátil, na forma de uma nova constelação da mão, alma e olho, for-
necida pela abertura do inconsciente óptico. (TAUSSIG, 1993a, p. 36; trad. nossa)8
7
“If film were to have a critical, cognitive function, it had to disrupt that chain and assume the
task of all politicized art, as Buck-Morss paraphrases the argument of the Artwork Essay: ‘not to
duplicate the illusion as real, but to interpret reality as itself illusion’” (HANSEN, 1987, p. 204).
8
“For if the role of the gesturing hand as story is less today than in times gone by, and along with it
a whole artisanry of experiential communication bound to the storyteller, there is nevertheless this
A experiência da imagem 2p.indd 119 14/09/2016 14:27:52
120 A abertura do inconsciente ótico inova a arte narrativa, atualiza a relação ar-
tesanal entre “a alma, o olho e a mão [...] inscritos no mesmo campo” (BEN-
JAMIN, 1994, p. 220). Ou seja, o cinema atualiza a narração; como gênero
comunicativo, inova sobre as narrativas tradicionais e as transforma; as histórias
que o cinema nos narra contam-nos sobre experiências, próximas ou longínquas,
sem ter qualquer preocupação em ser plausível ou verificável. Nesse sentido,
compreendemos que o cinema logra provocar um efeito sensorial, um conhe-
cimento sensível que tomamos como campo em nossas análises. A inovação
sobre as técnicas cinematográficas, o uso conceitual da montagem e a mimesis
suscitam, por sua vez, o despertar dessa sensibilidade para ver, nas imagens já
cotidianas, o impenetrável, o longínquo, o insondável.
Seria interessante, assim, pensar a questão da “imitação do real” presente
no cinema, de modo a tomá-lo como forma e força expressiva e analisá-lo a
partir do conceito de mimesis, isto é, como meio mimético que imagina, que
reestrutura o que copia (o mundo vivido, o exterior). O conceito de mimesis
que mobilizamos segue os termos trazidos por Taussig (1993a), que retoma
a discussão iniciada por Benjamin (1994), compreendendo a mimesis para
além da mera imitação; ou seja, como algo que, ao imitar, deseja e desloca.
A mimesis, ao “copiar”, move para outro plano, desvela sentidos, incorpora
significações, proporciona conhecimentos agora estranhados e provoca expe-
riências sensíveis diversas.
Ademais, o cinema possibilita, por sua mimesis, a transmissão e a vivência de
experiências: ele se utiliza de elementos formais (linguagem técnica, trilha
sonora, fotografia) e temáticos para provocar uma experiência específica, que
envolve reflexão, apreensão mimética e, assim, abarca, em alguma medida,
uma potência de alteração. Um filme é uma experiência que ocupa um espa-
ço, um tempo, uma memória. A mimesis opera, desse modo, como força tátil
do olhar e do corpo, que coloca em relação tempos, espaços e materialidades
diferentes; não é simples réplica ou imitação, mas uma rua de mão dupla: “a
mimesis não só tira do mundo mas lhe entrega algo que ele não tinha. [...] Ao
fazer ver doutra maneira, ela reconhece a existência do que dela não depende;
ao mesmo tempo, provoca o conhecimento de que, sem ela, não seria possível
de obter” (LIMA, 2000, p. 328). Para Taussig (1993b, p.139), a magia da
mimesis se encontra justamente “na transformação pela qual a realidade passa
quando se descreve sua imagem”.
new, this modern, “storyteller”, the film. This preserves – indeed reinvigorates – the gesticulating
hand in the form of the tactile eye, in that the new constellation of hand, soul, and eye, provided
by the opening of the optical unconscious” (TAUSSIG, 1993a, p. 36).
A experiência da imagem 2p.indd 120 14/09/2016 14:27:52
Em Hunger, essa duplicidade da imagem pode ser encontrada tanto em detalhes 121
A análise fílmica na antropologia: tópicos para uma proposta teórico-metodológica
(as mãos machucadas, que tremem em contato com a água, que pegam o cigar-
ro), como no corpo fragmentado, desfigurado, violentado. Pensar essa situação
em imagens – a greve de fome dos prisioneiros do IRA, em 1981, a violência
dos policiais e do governo Thatcher que se seguiram a isso – é tencionar esse
contexto, pressioná-lo. Não se trata de se ater ao que “aconteceu” de fato, mas
de fazer pensar, abrir interstícios possíveis a partir do que é apresentado no
filme. As imagens de Hunger carregam, nesse sentido, contradições e tensões
– na narrativa, nas personagens, nas sonoridades e texturas. Com efeito, sua
narrativa é aberta, fragmentada, seus meandros revelam brechas a partir das
quais afloram conflitos não explicitados com clareza e não resolvidos, assim
como crises, aflições, desejos e sofrimentos.
A montagem, como técnica cinematográfica, também é essencial para a reestru-
turação da percepção e da recepção. Ela pode ser entendida como justaposição
de fragmentos, como uma especificidade, segundo Eisenstein: “dois pedaços de
filme de qualquer tipo, colocados juntos, inevitavelmente criam um novo conceito,
uma nova qualidade, que surge da justaposição”. E, continua o diretor um pouco
mais adiante dizendo que: “em toda justaposição deste tipo o resultado é qualita-
tivamente diferente de cada elemento considerado isoladamente” (EISENSTEIN,
1990, pp. 14 e 16: grifos do autor). A montagem, nessa medida, é o princípio
formal necessário e mais característico do cinema.
A associação de ideias do espectador é interrompida imediatamente, com a mu-
dança da imagem. Nisso se baseia o efeito de choque provocado pelo cinema, que,
como qualquer outro choque, precisa ser interceptado por uma atenção aguda.
O cinema é a forma de arte correspondente aos perigos existenciais mais intensos
com os quais se confronta o homem contemporâneo. Ele corresponde a metamor-
foses profundas do aparelho perceptivo. (BENJAMIN, 1994, p. 192)
O que se fabrica pela mimesis cinematográfica é uma possibilidade de mundo.
A mimesis, como conhecimento sensível, uma das primeiras faculdades do
homem, ressurge no cinema. E essa faculdade reaparece nele porque as tec-
nologias modernas de reprodutibilidade permitem ao homem reencontrar
uma experiência primeva, de cópia e restauração, de imitação e compreensão
das diferenças, experiência mimética que, no cinema, aparece sob a forma de
imagem. Reconhecimento, rememoração e conhecimento estão interligados
e são interdependentes na experiência cinematográfica.
O poder atrativo do cinema, sua imbricação na memória do público, faz
com que ele atravesse e transforme nossas relações com o mundo e com as
A experiência da imagem 2p.indd 121 14/09/2016 14:27:52
122 categorias que organizam a vida social (por exemplo, o tempo, o espaço, os
comportamentos e a alteridade), de forma que percebemos que esse poder e
influência do cinema é parte mesma de sua íntima relação com a sociedade;
afinal, o cinema fala ao homem e fala também desse homem (HIKIJI, 2012).
Como a criança em Infância em Berlim, de Walter Benjamin (1987), que ex-
perimenta nos cheiros, texturas, densidades, espessuras, enfim, na experiência
do sensível, os objetos com os quais se depara e os territórios que percorre,
também no cinema o público passa a ser um examinador sensível e distraído,
experienciando os filmes e participando de sua tessitura. Envolto pela narrativa,
o espectador passa por uma experiência que desestabiliza a subjetividade, a
percepção e o corpo. Pois a narrativa, como forma de comunicação da expe-
riência, supõe a presença somática daquele que narra e de seus ouvintes. Seu
ritmo é o do trabalho manual; não se abrevia o tempo, mas dele se dispõe com
intensidade. No trabalho do narrador, a alma, o olho e a mão estão “inscritos
no mesmo plano” (BENJAMIN, 1994, p. 220).
O que as imagens nos dizem, afinal?
A força mimética que encontramos no cinema se deve a seu impacto sensorial:
provocador de uma experiência sensível e uma reflexão ética. Hunger aponta
para os desvios, interrupções, angústias e sufocamentos de uma realidade dura
e violenta. Os espectadores e personagens olham e sentem essa realidade de
outra forma; não se trata de uma violência como já nos acostumamos a ver no
cinema clássico de Hollywood, tampouco se trata de uma imagem-violência,
tal como elaborado por Hikiji (2012). É, para além disso, uma violência nua
e, ao mesmo tempo, grotesca e angustiante – justamente por seus detalhes
ínfimos nas mãos, olhos, pela câmera que acompanha esses corpos mutilados
e violados. A mimesis, tal como discutimos anteriormente, é entendida como
a capacidade de explorar a diferença, o desejo de “tornar-se outro”, como uma
“imagem dialética”, capaz de provocar no espectador “iluminações profanas”.
Mas, no filme em questão, ela conta uma narrativa de terror e sofrimento.
O filme coloca o espectador em espaços extraordinários, de forma a configurar
novas sensibilidades, ritmos, experiências. Mas que experiências são essas?
Voltemos à conversa entre Bobby e o padre Don, transcrita na parte inicial
desse artigo. Na discussão, uma câmera fixa enquadra os dois personagens
inteiros, sentados, de perfil, o ambiente da sala de visitas é cinzento, a luz
vem de cima e deixa os perfis dos dois em meio a sombras. Don acusa Bobby
de entrar na greve de fome já sabendo que irá morrer e disposto a isso, já que
A experiência da imagem 2p.indd 122 14/09/2016 14:27:52
não negociará com o governo – para Bobby, a greve só deve ser interrompida 123
A análise fílmica na antropologia: tópicos para uma proposta teórico-metodológica
quando todas as exigências feitas pelos prisioneiros forem aceitas e cumpridas.
A conversa, que se inicia com assuntos triviais, mas espinhosos, com provo-
cações cautelosas, vai se tornando densa até chegar a esse ponto de troca de
acusações dos significados e consequências da greve de fome; mas a câmera
permanece fixa. Só quando a tensão da discussão passa é que a câmera corta
para as mãos de Bobby pegando o maço de cigarros, acompanham seu movi-
mento de acendê-lo e, então, fixa-se no rosto de Bobby enquanto ele conta
uma memória de infância.
Para Don, a greve de fome é uma intransigência e um suicídio planejado; para
Bobby, uma forma de ação contra a violência do Estado. Esse conflito entre
visões é narrado a partir de um enquadramento distante: as vozes se alteram,
mas o olhar da câmera fica impassível. Quando a tensão começa a se dissipar
(Don percebe que nada fará Bobby voltar atrás em sua decisão), a câmera se
aproxima de Bobby, suas mãos, seu rosto em primeiro plano, disponível ao
escrutínio do espectador que o encara enquanto ele narra uma história de sua
infância, uma história dura, que, para Bobby, explica suas ações e suas certezas.
Taussig (1999) afirma que nós conhecemos a experiência do terror pela
narrativa, mas a narrativa do cinema não fala de uma experiência do diretor,
da equipe, nem dos atores. Desse modo, o narrador do cinema é um tipo de
“bricoleur” que junta pedaços de histórias, situações e pesquisas que, no caso
de Hunger, falam e fazem ver um tipo de situação de sofrimento, de angústia.
Se não temos acesso à experiência do diretor ou da equipe, temos acesso a
uma posição desse diretor e equipe acerca de determinada questão, porque a
montagem feita com esses pedaços de histórias não é arbitrária ou aleatória,
mas pensada e arranjada de modos específicos e planejados.
Esse é um aspecto muito importante que ressaltamos neste artigo, espe-
cialmente ao aproximar tópicos como violência, política, memória e ética.
O filme de McQueen aporta elementos para tratar esses temas tão sensíveis ou,
digamos, inenarráveis, mas que devem ser narrados para não serem perdidos
no esquecimento (ou em narrações oficiais da história). Tais elementos não
vitimizam o sujeito da narração. O corpo magro e chagado que sofre durante
quase todo o filme não é o corpo de uma vítima limitada e diminuída pelo
poder do Estado. É um corpo que se torna símbolo de resistência e coragem, o
que liga o sofrimento individual a uma questão política e a uma temporalidade
histórica mais ampla.
Ora, o filme não produz, ao nível da linguagem, uma empatia, pelo menos
não em um primeiro momento, com nenhuma das personagens, o que nos faz
A experiência da imagem 2p.indd 123 14/09/2016 14:27:52
124 pensar que as imagens das violências vividas/praticadas por eles poderiam não
nos “doer” – afinal, não os conhecemos. Dessa forma, o filme aposta não na
fabricação da relação com o espectador a partir da empatia, mas sim na relação
que se estabelece ao longo do filme, a partir do processo, detalhado, lento, de
ações, detalhes, violências, circulações, palavras, silêncios.
As mãos do policial, as marcas da violência com que os presos são lavados
depois de quatro anos de greve sem banho, as perguntas como “Eles estão
cuidando disso?”, a classificação “Preso não conforme” inscrita nas fichas de
cada um dos prisioneiros, o fato de os prisioneiros fumarem o livro bíblico
“Lamentações” – tudo isso agride o corpo e os coloca como homens com
sonhos (correr, namorar, cuidar do filho), com ideais (o IRA, a liberdade, a
resistência, a religião), com posições que são sustentadas até o limite final.
Dessa forma, vê-se o cotidiano de uma situação excepcional: não só o cotidiano
da violência ordinária e extraordinária, mas também do que se faz, do como
é, de como se tece o cotidiano dentro dessa prisão (olhar pela janela, juntar
restos de comida e excrementos corporais, apanhar, fumar, escrever/ler cartas
que serão enviadas/recebidas no dia de visitas).
Mas também podemos assistir a Hunger dentro do contexto dos filmes do
diretor Steve McQueen, que, em Shame e em 12 years slave, fala de questões
que se aproximam de alguma maneira, mas a partir de pontos de vista e pers-
pectivas diferentes. Apesar disso, notamos nos três filmes uma aposta política
por construir em imagens situações extremas, controversas, sob as quais ronda
certo silêncio e, por isso mesmo, são obras que se afastam de formas fílmicas
mais convencionais. Em Hunger há uma certa diferença, uma especificidade
que deve ser mencionada, pois o longa detém uma forma bem particular
de introduzir a questão da dor. Não há um protagonista anunciado, não
há herói, pelo menos não desde o início do filme. Bobby surge no enredo,
pelo ritmo, sendo que ele não nos é apresentado nos primeiros planos nem é
explicado ou colocado em uma posição de simpatia. O protagonista vai sendo
introduzido no filme aos poucos e, a partir daí, a narrativa segue suas ações,
seus discursos, sua morte.
A prisão de Maze, em Hunger, aparece como um lugar de despejo: local onde
o governo britânico encarcera os “terroristas” do IRA, local onde os prisionei-
ros despejam seus excrementos corporais. É um espaço concentracionário,
palco de violências, mas a narração joga com a frieza do espaço, sua amplitude
e, ao mesmo tempo, os detalhes dos corpos. O corpo nos parece uma chave
central no filme: mãos, olhos, pernas, braços; um corpo que apanha repeti-
damente, que cheira mal, que passa fome, exposto, desfigurado, nu. Trata-se
A experiência da imagem 2p.indd 124 14/09/2016 14:27:52
de um corpo em imagem, despido, sem pudores, corpo marcado por feridas, 125
A análise fílmica na antropologia: tópicos para uma proposta teórico-metodológica
estigmatizado, mas corpo que busca prazer, que sofre e deseja e, por tudo
isso, um corpo que interpela pela sua simplicidade, sem arte, performance ou
beleza. Um corpo que expõe as marcas da história e que se aproxima, desse
modo, da política e da memória coletiva de um povo.
A experiência cinematográfica proposta por Hunger envolve uma força tátil,
pois a mimesis desloca o olhar e o próprio corpo do espectador ao lhe contar
sobre as posições, ações, violências, corpos e memórias dos acontecimentos
narrados. As imagens na tela ganham profundidade, fazem refletir e afetam
sensivelmente o espectador.
Biliografia
AUSTIN, John. How to Do Things with Words. Nova York: Harvard, 1962.
BENJAMIN, W. Rua de mão única. São Paulo: Brasiliense, 1987.
_____. Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1994.
_____. Passagens. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006.
DELEUZE, G. Cinema II: a imagem-tempo. São Paulo: Brasiliense, 2007.
EISENSTEIN, S. O sentido do filme. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990.
GOMEZ, Diana. Quanto dura o terror? A narrativa da violência em dois filmes colombianos. Disser-
tação (Mestrado em Programa de Pós Graduação em Antropologia Social), Universidade de São
Paulo, 2012.
HANSEN, Mirian. “Benjamin, Cinema and Experience: ‘The Blue Flower in the Land of Technology’”.
New German Critique, n. 40, Inverno/1987.
HIKIJI, Rose S. Imagem-violência: mímesis e reflexividade em alguns filmes recentes. São Paulo:
Terceiro Nome, 2012.
JAMESON, Fredric. As marcas do visível. Rio de Janeiro: Graal, 1995.
JIMENO, Myriam. “Emoções e política: a vítima e a construção de comunidades emocionais”. Mana,
v. 16, n. 1, pp. 99- 121. 2010.
_____. “Lenguaje, subjetividad y experiencias de violencia”. Antípoda: Revista de Antropología e
Arquelogía, n. 5, pp. 169-190. jul.-dez., 2008. Disponível em: <http://antipoda.uniandes.edu.co/
view.php/70/index.php?id=70>. Acesso em dez. 2015.
LIMA, Luiz Costa. Mímesis: desafio ao pensamento. Rio de janeiro: Civilização Brasileira, 2000.
MORIN, Edgar. “A alma do cinema”. In: XAVIER, Ismail (org.). A experiência do cinema. Rio de
Janeiro: Graal, 1983.
PATTERSON, Henry. The Politics of Illusion: A Political History of the IRA. Chicago/Londres: Serif,
1997.
RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível: estética e política. São Paulo: 34, 2005.
TAUSSIG, Michael.Mimesis and Alterity. Nova York: Routledge, 1993a.
_____. Defacement. Standford, Standford University Press, 1999.
A experiência da imagem 2p.indd 125 14/09/2016 14:27:52
126 _____. Xamanismo, colonialismo e o homem selvagem. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993b.
TRIANA, Bruna. Ensaio sobre as cores: ética, mimesis e experiência na trilogia de Krzysztof Kieślowski.
Dissertação (Mestrado em Programa de Pós Graduação em Antropologia Social), Universidade
de São Paulo, 2013.
VANOYE, F; GOLIOT-LÉTÉ, A. Ensaio sobre a análise fílmica. Campinas: Papirus, 1994.
XAVIER, Ismail. O olhar e a cena. São Paulo: Cosac Naify, 2003.
_____. Sertão mar: Glauber Rocha e a estética da fome. São Paulo: Cosac Naify, 2007.
_____. O discurso cinematográfico: a opacidade e a transparência. 4 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2008.
Filmografia
12 Years a Slave. Steve McQueen. Inglaterra, Estados Unidos. Roteiro: John Ridley. Montagem: Joe
Walker. Produção: Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Bill Pohlad, Steve McQueen, Arnon
Milchan, Anthony Katagas. 2011. 134 min.
Hunger. Steve McQueen. Irlanda. Roteiro: Enda Walsh, Steve McQueen. Montagem: Joe Walker.
Produção: Laura Hastings-Smith, Robin Gutch 2008. 96 min.
Shame. Steve McQueen. Inglaterra. Roteiro: Abi Morgan, Steve McQueen. Montagem: Joe Walker.
Produção: Iain Canning, Emile Sherman. 2011. 101 min.
Trois Couleurs: bleu. Krzysztof Kieślowski. França, Polônia, Suíça. Roteiro:Krzysztof Piesiewicz,
Krzysztof Kieślowski, Agnieszka Holland, Edward Żebrowski. Montagem: Jacques Witta. Produção:
Marin Karmitz. 1993. 94 min.
Trois Couleurs: blanc. Krzysztof Kieślowski. França, Polônia, Suíça. Roteiro: Krzysztof Piesiewicz,
Krzysztof Kieślowski. Montagem: Urszula Lesiak. Produção: Marin Karmitz. 1994. 87 min.
Trois Couleurs: rouge. Krzysztof Kieślowski. França, Polônia, Suíça. Roteiro: Krzysztof Piesiewicz,
Krzysztof Kieślowski. Montagem: Jaques Witta. Produção: Marin Karmitz. 1994. 99 min.
A experiência da imagem 2p.indd 126 14/09/2016 14:27:52
O corpo no cinema1
DAVID MACDOUGALL
Em uma “antologia” de filmes britânica da década de 1950, constituída de
três histórias diferentes de fantasmas, um guia de museu torna-se obcecado
por uma pintura exposta em uma de suas galerias.2 Nela, aparece uma casa
em uma colina, e a estrada solitária que leva até a casa. Um dia, o guia se vê
cruzando a linha entre a vida e a arte, ao ser puxado para dentro da pintura,
que se revela um outro mundo, autossuficiente e tridimensional. Ali, descobre
o artista aprisionado em sua própria pintura. Será que eles escaparão de volta
para o mundo real? A resposta está no restante da história.
Esta história não é nem tão sinistra, nem tão tola quanto possa parecer, uma
vez que muitos de nós já tiveram a experiência de se ver perdidos em uma obra
de arte. Na verdade, o propósito da arte é nos tocar e conquistar. As músicas,
as pinturas, e os filmes fazem isto vezes sem conta. Em seu último livro, Art
and Agency, Alfred Gell sustenta que a arte é feita para nos capturar, para nos
fascinar e até nos confundir. Nossas mentes e nossos corpos não são receptores
passivos da arte, são seu foco.
1
Tradução: Elisa Nazarian; revisão técnica: Edgar Teodoro da Cunha.
2
Three Cases of Murder/ Três casos de assassinato (1953), Wendy Toye, David Eady, e George More
O’Ferrall, 99 min. O segmento citado é “In the Picture”, baseado em uma história de Roderick
Wilkinson, com roteiro de Donald B. Wilson, dirigido por Wendy Toye.
A experiência da imagem 2p.indd 127 14/09/2016 14:27:52
128 Os filmes, assim como as histórias de fantasmas, estão cheios de corpos, e
embora esses corpos sejam, em certo sentido, fantasmagóricos e evanescentes,
também são, sob diversos aspectos, para nossos sentidos, corpóreos. Em seu
livro sobre cinema intitulado The Material Ghost, Gilberto Perez sustenta
que “a presença não é uma ilusão nos filmes”, e sim (adotando a expressão
de André Bazin) uma “alucinação que é verdadeira” em seus efeitos (PEREZ,
1998, pp. 26-28; BAZIN, 1967, p. 16).3 Sempre há associações entre as obras
de arte e a vida, mesmo que sejam apresentados mundos imaginários, porque,
como sugere Bazin, a arte é a ligação entre o mundo físico e nosso eu físico.
As tecnologias da arte também garantem uma conexão entre nós mesmos e
algo físico. Muitas obras têm uma base material – outro trabalho que as tenha
inspirado, um tema vivo, ou simplesmente o material físico com o qual são
feitas. A música é produzida com peças de madeira e metal, ou com gargan-
tas e bocas humanas – o que Roland Barthes chamou de o “focinho” humano
(BARTHES, 1975, pp. 66-67). Os filmes, por sua vez, evidenciam os corpos
presentes perante a câmera, sejam eles de estrelas de cinema, pessoas na rua,
ou corpos em decomposição num necrotério.
O que esses corpos significam para nós, e como estão associados a nossos
próprios corpos, têm sido objeto de fascinação desde a invenção do filme,
mas com muita frequência a perturbação que eles criam é desmembrada em
vias alternativas de teorias estéticas, psicanalíticas e políticas. É importante
recuperar essa perturbação, se não pretendemos reduzir os filmes a signos,
símbolos, e outros significados domesticados. Alguns filmes não nos permi-
tem fazer isto.
Em Le Sang des bêtes (1949), de Georges Franju, a câmera percorre de ma-
neira não muito inocente um abatedouro de Paris, onde descobre corpos que
desmoronam da vida para a morte (figura 1.1). A plateia é envolvida tanto
pela beleza fotografada dos animais quanto pelo horror do que lhes está sendo
feito. No filme posterior de Franju, Les Yeux sans visage (1959), o dr. Genes-
sier remove o rosto de uma sucessão de jovens mulheres, assassinadas para
ele por sua assistente, Louise, numa tentativa de enxertá-los no rosto de sua
filha, desfigurado por um acidente (figura 1.2). A banalidade da vida cotidiana
circunda esses procedimentos. Aqui, o espectador também se vê envolvido,
atraído para os corpos, pelas tentativas e falhas no manuseio do médico.
A ação deste filme é como um contágio.
3
Perez de certa forma modificou a tradução de Hugh Gray, que é: “uma alucinação que também é
um fato”.
A experiência da imagem 2p.indd 128 14/09/2016 14:27:52
129
O corpo no cinema
1.1 De Le Sang des bêtes/O sangue das bestas (1949). Cortesia do British Filme
Institute. Copyright de Georges Franju.
1.2 De Les Yeux sans visage /Os olhos sem rosto (1959). Cortesia do British Film
Institute. Copyright Gaumont.
A experiência da imagem 2p.indd 129 14/09/2016 14:27:52
130 Os documentários acrescentam a autoridade de objetos “descobertos” às in-
venções do artista. Duka’s dilemma/O dilema de Duka (2001), de Jean Lydall
e Kaira Strecker, mostra a produção de um corpo humano de uma maneira
bem diferente dos filmes sobre nascimento em voga nas décadas de 1960 e
1970, com seus ângulos obstétricos de câmera e tomadas de pais radiantes.
O nascimento – neste caso, de uma criança Hamar no sul da Etiópia – quase
parece um esforço coletivo, da mãe, de sua coesposa, e de outras mulheres
da família. Embora haja dor e perigo, há também humor e uma aceitação da
subjetividade compartilhada da experiência corporal. O restante do filme está
impregnado do mesmo espírito. As mulheres não apenas parecem fisicamente
próximas umas das outras, como as imagens do filme nos levam a uma proxi-
midade semelhante em relação a elas. Através do nascimento, o filme adentra
uma relação sensorialmente diferente entre os sujeitos do filme e sua plateia,
onde o corpo humano pode “falar” com mais eloquência.
Estes dois últimos filmes estão em polos opostos de um espectro de envolvi-
mento, mas eles enfatizam a centralidade do corpo humano em quase todos
os filmes. No entanto, também há outros corpos a serem considerados, os do
espectador e o do cineasta, e até mesmo o corpo do próprio filme.
O corpo no filme
Os limites entre nossas experiências imediatas, e as maneiras como as recorda-
mos e as recriamos, são frequentemente obscuros. Podem ser os limites entre
a percepção sensória e a memória (ou sonho); entre o que designamos como
vida e arte; ou entre o corpóreo e o incorpóreo. No final, essas categorias são
tão enganadoras, que podemos nos ver tentados a desistir delas. Afinal, uma
pessoa vista num sonho, ou na televisão, pode ser tão viva quanto uma pessoa
vista do outro lado da sala, e as obras de arte podem ser tão concretas quanto
torrões de terra. As representações da experiência imediatamente criam novas
experiências por sua própria conta.
As sociedades traçam tais limites em diferentes pontos e lhes atribuem di-
ferentes graus de importância, mas em quase todos os lugares é feito algum
esforço para mantê-los. Como Mary Douglas observa, a diferença entre espí-
rito e matéria continua importante, mas as maneiras como o organismo social
governa o organismo corpóreo varia enormemente (1973, p. 12). A mudança
das circunstâncias, tais como a introdução de novas modas e tecnologias, testa
constantemente esse controle, e é no limite dos limites, por assim dizer, que
os princípios que o regulam se revelam com mais clareza. Os desafios à auto-
A experiência da imagem 2p.indd 130 14/09/2016 14:27:55
ridade política podem resultar numa repressão feroz em uma área diferente, 131
O corpo no cinema
a dos princípios morais, por exemplo.
O filme está entre as últimas tecnologias que provocam distúrbios nos limites
da arte e da experiência cotidiana, juntamente com suas mais recentes e pode-
rosas ramificações: a televisão, a gravação em vídeo, a transmissão via satélite
e via internet. Aqui, também, os extremos constantemente revelam com mais
clareza nossas fundamentais reações biológicas e culturais. Linda Williams
analisou profundamente os “gêneros físicos” da pornografia, do horror, e do
melodrama, para ver como seus excessos desafiam mecanismos de controle
físico, e como eles revivem (mas nunca realmente fecham) as brechas entre as
experiências primevas e suas alucinações produzidas pelo cinema (WILLIAMS,
1991). De maneira semelhante, Klaus Theweleit (1989) discute os excessos
de brutalidade e tortura engendrados pelo treinamento militar alemão, como
expressões das fantasias psicossexuais do corpo “protegido por uma armadura”.
Barbara Creed (1995) vê o “corpo-monstruoso” dos filmes de terror como
simultaneamente o corpo ameaçado do espectador, explodido, invadido, ou
corrompido por substâncias abjetas, e às vezes, também, como uma reafirmação
da pureza e integridade físicas do espectador.
No entanto, todos os filmes, e não apenas os desses gêneros “brutos”, são
potencialmente perturbadores à equanimidade corpórea do espectador, e na
verdade isto é parte do seu atrativo. Williams sustenta que assistir às experiên-
cias de outras pessoas nos filmes não é apenas uma questão de compartilhá-las,
mas de descobrir em nós mesmos respostas físicas autônomas, que podem
diferir daquelas que testemunhamos (1995, p. 15). Os filmes nos permitem ir
além de limites estabelecidos culturalmente e entrever a possibilidade de
sermos mais do que somos. Eles distendem os limites da nossa consciência e
criam afinidades com outros corpos além do nosso.
Por outro lado, a inabilidade da arte (ou de suas tecnologias) em representar
o corpo tem sido frequentemente notada. Em 1556, Abu’l-Fazl, cronista do
reinado de Akbar, imperador mongol, escreveu sobre uma carga de 1.500
elefantes militares: “Como é que as qualidades dessas montanhas impetuosas
podem ser dispostas na linha frágil das palavras?” (KEAY, 2000, p. 310). Em
Let Us Now Praise Famous Men/Elogiemos os homens ilustres, James Agee la-
menta a fragilidade das palavras, e as substituiria por fotografias e “fragmentos
de tecido, chumaços de algodão, torrões de terra, registros de fala, pedaços de
madeira e ferro, frascos de odores, pratos de comida e excremento” (AGEE &
EVANS, 1960, p. 13). Ainda assim, devotou centenas de páginas à descrição
de objetos físicos. Ao escrever sobre “questões de magnitude”, o tema de Bill
A experiência da imagem 2p.indd 131 14/09/2016 14:27:55
132 Nichols é uma quantidade igualmente incomensurável de imagens, corpos
humanos, filmes e histórias.4 Assim como Susan Stewart, ele afirma que
os filmes e outras obras de arte são sempre produtos da redução e miniatu-
rização.5 Embora pudesse ser argumentado, como Nichols de fato o faz, que
são precisamente as inadequações e brechas nas obras de arte que servem para
restaurar o mistério e a plenitude do real, quero primeiramente falar aqui a
favor da ampliada presença material do filme, às vezes expressa pelos primeiros
escritores vanguardistas do século passado, como photogénie.
Entre as muitas referências à fotogenia, que diz respeito à magia, à poesia e
ao fantástico, pelo menos duas outras são relevantes aqui. A primeira é que a
fotogenia é um fenômeno tecnológico. A fotogenia, segundo o crítico cinema-
tográfico francês, Léon Moussinac, é “aquilo que nos é revelado exclusivamente
pelo cinematógrafo” (apud MORIN, 1956, p. 23). O extraordinário disso não
é sua transmissão da realidade, mas sua criação de uma nova imagem mecânica
da realidade. Se quiséssemos ver apenas a realidade, ela está toda ao nosso
redor, mas assistir a um filme nos presenteia com uma aparição estranha, uma
impressão fotoquímica do mundo.6 Embora essa imagem possa aumentar a visão
ótica normal através da ampliação, da câmara lenta, e daí por diante, esses são
efeitos secundários. Seu valor fundamental é seu trunfo sobre a visão direta e
real. A imagem resultante não apenas transcende a realidade como produz uma
percepção estrangeira da realidade, suscetível a qualidades desconhecidas. O
surrealismo da imagem cinematográfica reside, precisamente, em nos tornar
conscientes de uma realidade além do nosso conhecimento.
Esta visão da fotogenia, no entanto, tende a ignorar seu outro aspecto distinto,
as reações “bloqueadas” do espectador. Sobreposto à visão “empírica” da fo-
tografia – sua precisão fotoquímica – está o que Edgar Morin chama de visão
“onírica”, uma perspectiva particular suspensa em algum ponto entre privilégio
e paralisia, com todo o poder de ver, mas uma incapacidade de agir (1956, p.
24). Isto deve contribuir para a terrível experiência de ver certas imagens de
um filme. Testemunhas de acontecimentos chocantes frequentemente con-
tam que eles lhes parecem muito mais chocantes quando vistos em um filme.
A visão mecânica da câmara é mais inumana, mais implacável. A privação sensória
de uma área tende a isolar e enfatizar os outros sentidos. Nichols observa que
a ausência de som no que foi acertadamente intitulado The Act of Seeing with
4
Ver Nichols (1986, 1991).
5
Ver Susan Stewart (1984).
6
Garry Winogrand disse: “Eu fotografo para descobrir como algo vai parecer fotografado” (SONTAG,
1977, p. 197).
A experiência da imagem 2p.indd 132 14/09/2016 14:27:55
One’s Own Eyes/O ato de ver com os próprios olhos (BRAKHAGE, 1971) ajuda 133
O corpo no cinema
a fazer daquele filme (sobre autópsias em um necrotério de Pittsburgh) “um
dos filmes mais difíceis de serem vistos” (NICHOLS, 1991, p. 144). Ele deixa
o espectador mais desprotegido do que o normal, sem uma via de escape para
as convenções “realistas” do cinema. A noção de fotogenia também pode ser vista
como um aprofundamento do “excesso” cinemático – aquele resíduo físico da
imagem que resiste à absorção em símbolo, narrativa, ou discurso explanatório.
Como excesso, esses subprodutos da visão mecânica desafiam a contenção da
obra e estão mais aptos a tocar a sensibilidade exposta do espectador.
A contemplação de corpos em Death in the Seine/Morte no Sena (1988), de
Peter Greenaway, é mais formal e melancólica do que The Act of Seeing. Nesta
reconstrução ficcional, vemos uma sucessão de cadáveres retirada do rio Sena
entre 1796 e 1800, enquanto eles são registrados e preparados para o enterro
por dois atendentes mortuários. A câmera percorre delicadamente cada corpo.
Em sua nudez, eles formam um catálogo de tipos humanos: masculino e femi-
nino, débil e robusto, gordo e magro, adultos, adolescentes, crianças. Ficamos
sabendo os poucos detalhes registrados sobre eles: um nome, uma ocupação,
às vezes o conteúdo dos seus bolsos. Essas pessoas testemunharam a Revolu-
ção Francesa, e os eventos subsequentes. O filme sugere que cada corpo era o
receptáculo de uma vida extremamente particular e desconhecida, e mesmo o
pouco que se sabe sobre eles logo será esquecido. Os corpos parecem despidos
das pretensões e dos desejos dos vivos. Ao assistir ao filme, nossa experiência
torna-se mais complexa pelo conhecimento de que seus “atores” só estão
fingindo estar mortos. Eles nos confiaram seus corpos com certa inocência.
O filme pode ser uma ficção, mas os corpos não são.
Como Williams, Nichols cita vários exemplos de corpos humanos em filmes em
extremos de exposição e destruição, e sua ressonância peculiar em corpos fora
dali; no desastre de Hindenberg, na explosão do Challenger, veículo espacial da
Nasa, em filmes pornográficos, na exumação de vítimas de assassinato em El
Salvador, no necrotério de Pittsburgh, e assim vai. Sabe-se que os espectadores
apresentam fortes reações físicas a tais imagens, de choque, estremecimento,
tontura, excitação sexual, e até vômito (NICHOLS, 1994, p. 76). Essas re-
ações reforçam a opinião de Williams de que ao assistir a um filme, nós não
sentimos, necessariamente, pelos outros, sentimos por nós mesmos e em nós.
Também é uma falácia deduzir que a visão não passa de uma maneira de possuir
um “outro ausente” (como em muitas teorias do “olhar”), ou interpretar as
tecnologias cinematográficas como uma extensão de mão única dos sentidos.
Isto, segundo Williams, perpetua o “cartesianismo persistente” do voyeur des-
A experiência da imagem 2p.indd 133 14/09/2016 14:27:55
134 conectado, quando, de fato, a visão está ligada muito mais diretamente com
nossos próprios processos corporais (WILLIAMS, 1995, pp. 14-15).
Filmes bem comportados, ao contrário dos gêneros extremos de pornografia e
horror, espelham os tipos de vieses e reticências em relação ao corpo, vistos, de
maneira geral, no organismo social. Mary Douglas descreveu as maneiras como
as sociedades enxergam o corpo humano, e relacionam suas funções com a vida
material e espiritual.7 Isso tem a ver com as hierarquias baseadas na posição físi-
ca das partes do corpo (isto é, alta e baixa), seu papel percebido ou metafórico
em cognição e emoção (a cabeça, o “coração”, as “entranhas”), e sua função
orgânica (sensação, respiração, excreção etc.). Douglas observa que a excreção,
vista às vezes de maneira natural, e em outras como impura e perigosa, nunca é
virtualmente associada à espiritualidade. Na tradição judaico-cristã, “os órgãos
da nutrição nunca são atribuídos a Deus; são imediatamente reconhecidos como
sinais de imperfeição” (DOUGLAS, 1973, p. 13). Em outras tradições, os
deuses são alimentados, mas não se supõem que excretem. Douglas é menos
expansiva quanto às associações entre sexualidade e espiritualidade, talvez por
apresentarem uma gama mais ampla de variações culturais.
As hierarquias simbólicas se revelam no cinema, ao regular o que pode e o
que não pode ser visto. Elas também podem delinear mudanças culturais,
como na introdução gradual do beijo no cinema indiano e indonésio. Assim,
o “realismo” é muito claramente um termo relativo, porque algumas das
experiências corporais mais familiares estão ou completamente ausentes no
cinema, ou são tratadas com exagerada cautela. Isso inclui, como seria de
se esperar, nudez, excreção e relações sexuais, mas também outras experiên-
cias corporais comuns, como menstruação e masturbação, e atos mais banais
como cuspir, coçar, barbear-se, cortar as unhas, banhar-se e assim por diante.
Robert Gardner observa que os filmes de ficção, apesar de frequentemente
se afirmarem realistas, “nunca mostram nada tão comum ou inocente como
alguém mijando” (GARDNER & ÖSTÖR, 2001, p. 41). Em Le Fantôme de
la liberté/O fantasma da liberdade (1974), Buñuel zomba desta anomalia,
invertendo-a, ao fazer do ato de comer algo privado e repulsivo, e da excre-
ção, um ato social e aberto. Os filmes de não ficção não estão imunes a esses
tabus, apesar de seu compromisso com a realidade. Em muitos aspectos,
eles são ainda mais limitados, porque sofrem mais restrições por retratarem
pessoas reais e precisarem respeitar sua privacidade. Tanto a ficção quanto a
não ficção, no entanto – incluindo até a pornografia – evitam a normalidade
de nossas verdadeiras experiências cotidianas, particularmente em relação a
7
Ver M. Douglas (1966, 1970).
A experiência da imagem 2p.indd 134 14/09/2016 14:27:55
nossos próprios corpos. Os filmes mais abertos frequentemente revelam essas 135
O corpo no cinema
restrições com mais clareza (na intimidade de sua filmagem e edição) do que
os filmes que evitam totalmente os assuntos tabus.
O corpo experiente e funcional é rotineiramente contestado e contradito
em filmes pelo corpo higienizado, pelo corpo heroico, e pelo corpo bonito,
de acordo com a determinação das práticas culturais e sociais das sociedades
onde são feitos. Contudo, não se pode ter uma garantia da homogeneidade da
audiência, e isto se torna cada vez mais verdadeiro à medida que os produtores
cinematográficos focam em audiências multiculturais. O sexo, a idade, ou o
contexto do espectador não asseguram necessariamente uma reação previsí-
vel. Além disso, as características do próprio corpo do observador podem ter
apenas uma influência limitada em como ele ou ela vê o gênero, a idade ou o
desenvolvimento de outros corpos nos filmes. Suposições sobre maneiras de ver
quanto ao gênero, em particular, postulam uma resposta mais polarizada do que
mais complexa e variável, e negam a possibilidade tanto de uma sensibilidade
que independa de gêneros, quanto de uma sexualidade amplamente inclusiva.
A atração pelos corpos de outros (e a identificação com eles) no cinema perma-
nece um assunto mais multifacetado do que o que trata de gênero, ou mesmo
de idade, psique, nacionalidade, sexualidade, ou classe. Existem muitas gradua-
ções na maneira como reagimos, influenciados tanto pelas narrativas nas quais
as pessoas aparecem quanto por sua aparência. No contexto adequado, o
personagem mais repulsivo pode ser atraente, e o rosto mais comum, lindo.
O corpo do espectador
Embora os exemplos extremos de Nichols e Williams destaquem enfaticamente
(ou morbidamente) certos assuntos, é importante lembrar que todos os filmes
são feitos para gerar uma interação contínua de estímulo e reação física, entre
tela e espectador. Isto é exercido, primeiramente, nos níveis dinâmico e plástico
de luz, forma e edição; em seguida, no nível da representação; e finalmente
nos espaços imaginativos criados pela convenção cinemática.
Williams caracteriza a resposta ideal aos gêneros “brutos” como sobressaltos ou
espasmos de vários tipos: estremecimentos, soluços e orgasmos (WILLIAMS,
1991, pp. 4-5). Não é por acaso que Einstein escolheu a palavra “colisão” para
expressar o efeito de justaposição de dois planos, e é este conceito de energia
dinâmica que permeia grande parte dos seus textos sobre as várias formas de
montagem: rítmica, métrica, gráfica, plana, tonal, atonal, intelectual, e daí por
diante. A certa altura ele descreve o efeito “psico- fisiológico” de uma série de
A experiência da imagem 2p.indd 135 14/09/2016 14:27:55
136 planos de fazendeiros ceifando, levando a plateia a se balançar “de um lado a
outro” (EISENSTEIN, 1957, p. 80). Pudovkin também sugere que a manipu-
lação do ritmo da edição pode afetar o espectador física e emocionalmente,
embora haja certa confusão no que escreve quanto a se isso imita ou realmente
dirige os processos psicológicos do espectador (1960, p. 73). De maneira mais
geral, nos primórdios do cinema soviético, a edição não é um reflexo nem da
psicologia dos personagens nem do espectador, mas um fluxo constante de
intervenções autorais, designadas a chocar, estabelecer comparações e forçar
associações complexas.
A habilidade do espectador em reconhecer objetos e pessoas é essencial para
a maioria desses efeitos, que dependem de respostas condicionadas. Quan-
do reconhecemos um objeto, estamos, ao mesmo tempo, lhe atribuindo as
qualidades físicas que associamos a ele em nossas próprias vidas. Ao ver uma
pessoa, ou um rosto, atribuímos tanto nossas próprias experiências anteriores
quanto as associações culturais prevalecentes em nossa sociedade. Também é
possível haver um grau de reação idiossincrática a itens com associações muito
pessoais – o triunfo do punctum, por assim dizer, sobre o studium. Além dessas
reações, é provável haver outras variáveis sempre que houver uma ambiguidade
cultural, falta de familiaridade com o assunto, ou um excesso que não possa ser
facilmente assimilado em experiência anterior. Talvez isto fique mais aparente
nos casos limites do horror e da pornografia.
Os neurocientistas, teóricos da arte, e fenomenólogos observaram que não
percebemos os objetos de maneira completa ou unitária. Na verdade, não
os vemos como um todo, mas (a não ser que os rodeemos) apenas uma face
deles por vez, de uma determinada perspectiva. Inferimos o resto, a partir das
probabilidades envolvidas, e dos estímulos fragmentados de sombra, posição,
e tamanho em relação a outros objetos.8 Isto significa que produzimos obje-
tos ativamente, de uma maneira que sugere que eles sejam tanto projeções
de nossos próprios corpos quanto independentes deles. Sendo assim, se
outros corpos influenciam os nossos, nós também os influenciamos e os enri-
quecemos com nossas próprias reações.
Nos filmes, o close-up cria uma proximidade com os rostos e corpos de outros,
muito menos vivenciada por nós, comumente, na vida cotidiana. As convenções
da distância social em geral restringem a proximidade, exceto em momentos
íntimos. O cinema, assim, combina a visão particular com espetáculo público,
8
Para uma introdução de vários desses princípios, ver o clássico Arte e ilusão, de E. H. Gombrich
(1960). Ver também The Perceptual World (1990), organizado por Irvin Rock.
A experiência da imagem 2p.indd 136 14/09/2016 14:27:55
criando uma sensação aguda de exposição íntima do assunto filmado, e uma 137
O corpo no cinema
sensação secundária no espectador do filme de estar pessoalmente exposto ao
testemunhar a exposição do outro. Para a maioria de nós, o rosto é o local de
existência de outro ser, talvez refletindo nossos próprios sentimentos de como
somos construídos como pessoa aos olhos dos outros. O rosto tem sido uma
das constantes preocupações de cineastas e teóricos do cinema. Em um ensaio
publicado em 1923, Béla Balázs afirmou sua crença de que o cinema restauraria
para a humanidade a linguagem da expressão facial, que se tornara “ilegível”
por causa do letramento e da palavra impressa (BALÁZS, 1952, pp. 39-42).
A atração pelo rosto humano, tão evidente nos filmes, pode ser remontada
através da prática de retratos europeus até o ponto em que esta desaparece,
no início do período clássico, quando o corpo todo foi objeto de atenção. Em
grande parte das esculturas gregas, e nas pinturas de vasos, o rosto era padrão,
o corpo nem tanto. Mas no final do período romano, a escultura retrato tinha
alcançado um alto patamar que permanece insuperável, e mais ou menos na
mesma época, os retratos pintados em cera nas múmias egípcias conferiram
rostos surpreendentemente realistas aos corpos laboriosamente envoltos em seu
interior. A relação recíproca entre corpo e rosto reaparece no corpo desnudo
da alta renascença italiana quando, com exceção dos retratos, o tratamento dos
rostos era rotina. Aqui, o corpo continuamente “rouba” a importância do rosto.
No norte da Europa, onde o corpo permaneceu com mais frequência vestido,
tanto as roupagens quanto o rosto eram representados com mais detalhes, e
o corpo permanecia, na melhor das hipóteses, uma estrutura correta, na pior,
uma forma bruta, sem articulação, movimento ou graça.
A escultura e a fotografia conferem permanência ao corpo humano e per-
mitem que ele seja examinado de uma maneira que o filme, com seu prazo
de tempo restrito, nega ao espectador. Talvez esta seja uma das razões pela qual
o rosto assumiu tão grande importância no cinema. Embora a câmara possa se
mover ao redor do corpo, e mostrá-lo em ação (compromisso fundamental da
pornografia), existe algo inalcançável e insatisfatório em sua transitoriedade.
Os movimentos do corpo são flagrados apenas em sua passagem, sem o sistema
coerente que têm, por exemplo, na dança. O espectador do filme está muito
mais limitado do que um observador da vida cotidiana, que pode parar pelo
tempo que quiser para observar operários trabalhando, atletas se exercitando,
crianças brincando, ou pessoas sentadas em um café. O rosto nos filmes, em-
bora também visto de passagem, torna-se um objeto de atenção mais estável,
e um receptáculo para muitos de nossos sentimentos em relação ao corpo como
um todo. Como a parte mais destacada do corpo não coberta por roupas, sua
tendência é se tornar isso seja qual for o caso.
A experiência da imagem 2p.indd 137 14/09/2016 14:27:55
138 Os filmes demoram-se nos rostos a tal ponto que alguns (como Passion of
Joan of Arc/A Paixão de Joana d’Arc, de Dreyer [1928], Persona, de Bergman
(1966), e Beppie, de Johan van der Keuken [1965]) tornam-se estudos coreo-
grafados de expressões faciais. O rosto passa a ser uma extensão das linhas
e superfícies do corpo como um todo. Os cineastas procuram rostos onde a
sensibilidade e as qualidades táteis do corpo estejam concentradas nos olhos,
na boca, nas maçãs do rosto, nas texturas do cabelo e da pele. Assim, o rosto
serve como um emblema do corpo, mas também como a ponta que emerge do
corpo vestido. O poder revelador dos rostos humanos assemelha-se ao poder
revelador do próprio filme, que sucessivamente revela novas superfícies. Como
a revelação do corpo e a liberação das amarras sociais que frequentemente o
acompanham, o filme proporciona uma sensação de libertação fundamental
para a magia, a fotogenia, e o erotismo subjacente do cinema.
Ao exagerar a proximidade, o close-up traz para o cinema quase uma qualidade
tátil ausente nas relações humanas comuns. Quando encontramos outras pes-
soas nas relações do dia a dia, não exploramos seus rostos com as pontas dos
dedos, mas no cinema chegamos perto disso, ficando especialmente atentos
à liquidez dos olhos e da boca, e, num nível mais interpretativo, aos sinais
mais fugazes de emoção. Perez cita a observação de Ortega y Gasset de que
a proximidade também enfatiza o volume, ou a tridimensionalidade. Isto se
aplica tanto a objetos quanto a rostos ou outras partes do corpo humano:
Se pegarmos um objeto, um pote de cerâmica, por exemplo, e o trouxermos para
bem perto dos olhos, eles convergem para ele [...] parecendo envolvê-lo, possuí-lo,
enfatizando sua rotundidade. Assim, o objeto visto em proximidade adquire a materia-
lidade e solidez indefiníveis de um volume preenchido. (apud PEREZ, 1998, p. 135)
Dessa maneira, o cinema permite-nos deter a corporalidade de objetos ina-
nimados com o que poderia ser chamado de uma visão “preênsil”. Ele altera
nossa relação com o mundo material em termos de volume, peso, texturas,
cores e detalhes. Permite-nos incorporar objetos em nossa própria experiência
de maneiras que possam refletir mais diretamente a experiência daqueles que
os manejam intimamente, sejam os ceramistas, sejam os operários industriais.
Muitos filmes exploram as possibilidades de uma relação especial com o
mundo material. O último filme (póstumo) de Shinsuke Ogawa, Manzan
Benigaki/Caquizeiros vermelhos (2001), por exemplo, diz respeito ao pro-
fundo envolvimento de uma aldeia com o desenvolvimento, a preparação e o
acondicionamento do caqui vermelho. Day After Day/Dia pós dia, de Clé-
ment Perron (1962), mostra a maneira como como as máquinas e os produtos
dominam os sentidos em uma fábrica de papel. Os filmes de Robert Gardner,
A experiência da imagem 2p.indd 138 14/09/2016 14:27:55
tais como Rivers of Sand/ Rios de areia (1975) e Forest of Bliss/Floresta de 139
O corpo no cinema
beatitude (1985), exploram como os corpos humanos e os objetos materiais
oscilam entre a vida fluida, assuntos ligados à morte e os símbolos.
Um fenômeno relacionado é o mimetismo involuntário implícito na visão de
outros corpos, mimetismo que pode até mesmo se estender a objetos inanima-
dos. Essa reação é vista na tenra infância, quando os bebês imitam as expres-
sões faciais de suas mães, e choram ao ouvir outras pessoas chorando, tendo
provavelmente se desenvolvido como parte da estruturação do sistema nervoso
humano. Ela traz uma dimensão tanto motora quanto emocional, afetando a
maneira como mantemos nosso corpo, frequentemente num estado de tensão
e ação não consumada. Merleau-Ponty descreveu a experiência como sendo
de “uma impregnação postural do meu próprio corpo pelos comportamentos
que presencio” (1964, p. 118). A noção de impregnação sugere uma reação
mais profunda do que a empatia, como se o corpo tivesse sido penetrado, ou
tivesse assumido as qualidades físicas do outro corpo.
Ao discutir o mimetismo, o psicólogo Martin Hoffman menciona a observação
de Adam Smith, de 1759, de que os espectadores, ao observar alguém andando
na corda-bamba, “naturalmente retorcem, contorcem e oscilam seus próprios
corpos como o veem fazer” (apud HOFFMAN, 2000, p. 37). Uma reação
semelhante pode ser observada em pessoas que assistem a um jogo de futebol,
ou mesmo a uma partida de bilhar. Hoffman, citando um ensaio de Theodor
Lipps de 1906, divide esta reação em duas fases, a primeira, uma resposta
motora; a segunda, uma resposta emocional, embora as duas aconteçam numa
sucessão próxima. Na primeira, o espectador involuntária e inconscientemente
imita as expressões e posturas da outra pessoa e tende a se mover em sincronia
com elas. Na segunda, há um feedback dessas expressões e posturas para as
emoções, criando sentimentos que lhes são apropriados (id., ibid., pp. 39-45).
Prova disso é que se uma pessoa adota artificialmente uma expressão facial
particular, tal como um sorriso, este tende a gerar a sensação relacionada
de felicidade. Darwin, que fez um estudo sobre as expressões faciais, foi o
primeiro a anunciar a hipótese do feedback, e William James adotou-a como
um princípio básico, escrevendo que “sentimos tristeza porque choramos”
(id., ibid; p. 40). Assim, sob um aspecto, a habilidade dos cineastas em criar
respostas físicas nos espectadores pode ser tão básica quanto lhes mostrar
certas expressões faciais, e isto pode ser transmitido através das tecnologias de
registro e projeção, como se fosse um verdadeiro contato pessoal. Como Morin
afirma: “a palavra universal da fotografia – sorria – implica numa comunicação
subjetiva de pessoa para pessoa, através da intermediação do filme, que se
A experiência da imagem 2p.indd 139 14/09/2016 14:27:56
140 torna o portador de uma mensagem da alma” (1956, pp. 25-26; trad. nossa).9
Gell faz uma observação correlacionada, ao dizer que nós nos aproximamos
dos objetos de arte como se eles tivessem “fisionomias”: “Quando vemos um
retrato de uma pessoa sorrindo, atribuímos uma qualidade amistosa à ‘pessoa
da fotografia’.” Temos acesso a uma “mente retratada” (1998, p. 15).
Nossa relação com imagens envolve não apenas olhar além de limites, mas nos
submetermos a efeitos além deles, muito semelhante a como nos submetemos
ao resultado de olhar para pessoas na vida cotidiana, e sermos olhadas por
elas. Neste sentido, a obra de arte adquire um corpo, ou, como Gell coloca:
“para todas as finalidades e propósitos, ela se torna um indivíduo, ou, no
mínimo, um indivíduo parcial [...] um resíduo congelado de performance e
agencia em forma de objeto” (id., ibid; p. 68). Chris Pinney descreve o efeito
“corpotético”10 das imagens religiosas indianas, com as quais os fiéis estabe-
lecem uma relação que difere marcantemente da visão mais dissociada de
imagens, que prevalece nos países ocidentais e ocidentalizados. Na verdade,
ele olha estes últimos de maneira mais moderada, uma relação “kantiana” com
imagens é mais a exceção do que a regra (PINNEY, 2001). Na Índia, ela só
foi associada com a nova escola de arte “naturalista”, introduzida da Europa,
na qual não há uma comunicação direta com o observador. Por contraste, na
iconografia tradicional hindu (bem como em muita arte moderna religiosa e
de calendários), a divindade olha para o observador e o observador passa por
esta experiência de estar sendo olhado (ou darshan) como akarshan. Em
alguns casos, a imagem se funde com uma pessoa viva, como é o caso de todas
as fotografias. (Este também é o destino de todas as estrelas de cinema.) Gell
observa que no costume de se adorar jovens mulheres como a deusa Durga, no
Nepal, a menina é reconhecida imediatamente como a deusa viva, e a imagem
da deusa, ou murti (GELL, 1998, p. 67). Tais intercâmbios fluidos podem
ser considerados perigosos. Poder-se-ia prever que a desaprovação a reações
“corpotéticas” à arte viria das autoridades que, segundo Douglas, procuram
impor ordem pelo controle do corpo. E, de fato, os filmes populares indianos,
com seu uso extravagante de efeitos visuais, cores, e números de dança, são
geralmente desprezados pelos críticos e desfavoravelmente comparados com
9
“Le maître mot de la photographie ‘Souriez’ implique une communication subjective de personne à
personne par le truchement de la pellicule, porteuse du message d’âme” (MORIN, 1956, pp. 25-26).
10
A partir da noção de imagem enquanto performance desenvolvida por Roy Wagner e Marilyn
Strathern, para a Melanésia, Pinney propõe a noção de “corpothetics” para pensar imagens não
como representações, como uma tela na qual o sentido é projetado, mas para pensá-la como uma
experiência, incorporada, que nos propõe sentidos a partir de uma estética corpórea (PINNEY,
2004, p. 8) [R.T.].
A experiência da imagem 2p.indd 140 14/09/2016 14:27:56
a “austeridade neorrealista” de Satyajit Ray, por seu “excesso de afetividade 141
O corpo no cinema
corporal” (PINNEY, 2000, p. 20).
O cinema opera com mais uma maneira de afetar o espectador fisicamente,
através da construção de espaços imaginários e sua evocação dos espaços
reais. Como vimos, a visão de um filme está longe de ser uma experiência
passiva. O reconhecimento de objetos e pessoas envolve uma constante
análise de hipóteses quanto ao que vemos, a partir de nossos hábitos de
percepção aprendidos e automáticos (a interpretação de indícios quanto a
formas, volumes, disposição em profundidade etc.) e de nossa experiência
pregressa. Nosso sentido de espaço no cinema apóia-se no reconhecimento,
mas também na junção dos planos em uma estrutura imaginária maior. Ao
participar desta construção, somos atraídos mais profundamente de corpo
e alma para dentro do filme.
Os primeiros filmes, feitos a partir de 1895, tendiam a enfatizar suas próprias
qualidades pictóricas – imagens enquadradas para serem vistas como objetos
–, embora ocasionalmente, como em alguns filmes dos irmãos Lumière, esta
esperada qualidade tivesse sido suplantada pela imprevista autonomia das ima-
gens (VAUGHAN, 1999, p. 3). Os exibidores apresentavam os filmes como
espetáculos independentes e curtos, que maravilhavam e divertiam, mas não
buscavam grande identificação com a plateia. O reconhecimento era essencial
para sua eficácia, e frequentemente a mimese também era um componente.
Embora esses filmes, às vezes, se dirigissem ao espectador diretamente (como
na famosa cena do The Great Train Robery/O grande roubo do trem [1903]
de um revólver disparado contra a plateia), não tentavam construir um espaço
fílmico em torno do espectador.
Com um maior desenvolvimento do cinema, os cineastas descobriram novas
maneiras de criar sensações físicas, explorando o potencial sinestésico de
imagens através do trabalho da câmera, mas ainda mais profundamente por
meio da narrativa. Outra descoberta importante foi a de que, por meio da
edição, o espectador poderia ser levado a “habitar” o espaço tridimensional
dos personagens. Os princípios formais e psicológicos envolvidos nisto foram
explorados com considerável detalhamento desde 1916, quando Hugo Muns-
terberg escreveu sobre filmes, aos escritos de Pudovkin na década de 1920, e
nas análises posteriores de Balázs, Arnheim, Burch, Oudart, Bordwell, Deleuze
e outros. Sejam quais forem seus vieses específicos – psicológico, formalista,
histórico – todas essas teorias procuram explicar a maneira como a consciên-
cia do espectador é alterada e conduzida pelo cinema tanto em suas reações
perceptivas quanto cognitivas.
A experiência da imagem 2p.indd 141 14/09/2016 14:27:56
142 Seja o espectador caracterizado como um sujeito determinado ideologicamente,
um “observador imaginário”, ou o substituto do cineasta, fica claro que o cinema
tem maneiras poderosas de “incorporar” o espectador ao filme. Como a palavra
sugere, este envolvimento é tanto corpóreo quanto psicológico. Ao fornecer
uma série de indícios perceptivos, os filmes constróem espaços análogos aos
que vivenciamos na vida cotidiana, quando registramos informações visuais e
outras informações sensoriais, e construímos um cenário aparentemente regular
e completo de nosso entorno. Assim como na vida cotidiana, esta informação
está longe de ser completa, e preenchemos os vazios com suposições. Os filmes
criam a informação e os vazios de maneiras estilisticamente variadas, e ao se as-
sistir a um filme, esta mesma inconformidade, ou distinção estilística, age como
um estímulo a mais para nossa reação criativa. A narrativa cinemática pode,
de fato, estar longe de ser “regular” – ela é, com frequência, deliberadamente
irregular e oblíqua –, mas mesmo assim sentimos a urgência de completude,
até de associações abstratas e “impossíveis”. Como David Bordwell observa:
“A arte do preenchimento deve, então, incluir nossa vontade de aceitar, em
nome da percepção, imensas violações de um tempo e espaço convencionais
ou internamente inconsistentes” (1985, p. 247).
A interpretação e o preenchimento é a versão do espectador do funcionamento
da imaginação cinemática. Isso cria um impulso quase contínuo para uma con-
vergência com os objetos e corpos na tela. Nisto, e em sua retenção, podem
ser encontradas a atração e muitas das qualidades “fotogênicas” das imagens
cinematográficas. Os filmes excedem a observação normal e, no entanto,
apresentam enormes barreiras a essa observação. Eles nos dão os pontos de
vista privilegiados do close-up, do plano fechado, do “aspecto” fotográfico das
coisas – suas texturas luminosas, suas prolongadas distâncias focais, sua gama
monocromática em branco e preto – na verdade, tudo que enfatiza ou tira a
familiaridade da percepção cotidiana –, no entanto, ao mesmo tempo, eles nos
restringem a planos limitados, nos dão um tempo limitado para analisá-los,
e em outros aspectos nos privam de nossa vontade. Isto se torna uma brecha
em maior escala, de um tipo diferente. Pode criar uma compulsão para ver,
até mesmo para ver algo terrível.
O estado sonhador, receptivo da visão de um filme, acrescenta uma sensação
de inevitabilidade à percepção individual de como as pessoas se comportam
na tela, uma sensação que parece aumentar ao se assistir repetidamente a um
filme. O status mítico das estrelas de cinema deriva, parcialmente, do acúmulo
dessa exposição e redundância. O efeito pode ser mais bem entendido ao se
observar o que acontece quando um cineasta assiste a seu próprio filme. Em
vários pontos ao longo do processo, o cineasta controlou ativamente as ima-
A experiência da imagem 2p.indd 142 14/09/2016 14:27:56
gens das pessoas no filme, mas isto desaparece depois que as imagens ficaram 143
O corpo no cinema
estabelecidas. Assistir ao filme pode, então, se tornar quase insuportável, uma
vez que há uma renovada sensação de responsabilidade por imagens que a esta
altura assumiram vida própria, muitas vezes no que parece ser uma maneira
arbitrária. Um processo que se pensava completo volta com uma intimação de
sua indeterminação original, deixando o cineasta impotente, com a sensação
de estar encalhado no presente.
O corpo do cineasta
Assistir a um filme envolve a conjunção de dois atos de olhar, e dois corpos,
no mínimo. O espectador vê os objetos na tela – objetos que já foram vistos
e selecionados pela câmera. Não é preciso dizer, portanto, que o que quer
que seja visto foi mediado pela visão do cineasta, mas isto é mais do que um
processo de pensamento; é também uma ação física. A presença do corpo do
cineasta torna-se um “resíduo” no trabalho, do tipo a que Gell se referiu. Os
seres humanos no filme criam outro resíduo que não é tão diferente daquele
do próprio cineasta, porque ambos estão impressos nas imagens do filme
como fatos equivalentes. Talvez isto fique mais evidente quando o cineasta
está empunhando a câmera, porque, então, a câmera registra seus movimentos
e, paralelamente, os movimentos dos sujeitos do filme. A imagem é afetada
tanto pelo corpo por detrás da câmera quanto pelos que estão à sua frente.
Assim como outros artistas, os cineastas veem muitos acontecimentos transitó-
rios que gostariam de mostrar a outras pessoas. Na verdade, eles querem que
esses acontecimentos se repitam para que outros os vejam. Parece um sonho
inalcançável, e, no entanto, com uma câmera, é quase possível. Os anseios
miméticos do cineasta são satisfeitos pela câmera com um imediatismo sem
paralelos em tempos passados, na criação de poemas, romances e pinturas.
Exatamente por que alguém deveria querer mostrar a outros o que viu é outra
questão. Trata-se de uma afirmação da própria coisa, ou da própria visão desse
alguém, ou um desejo de comandar a consciência alheia? Ou talvez seja para
transcender a si mesmo, para extravasar sua própria autocontenção? Às vezes,
as descrições do processo do cineasta soam mais como esta última hipótese.
Porque todas as descrições dos vanguardistas da autonomia mecânica da câmera
soam suspeitosamente como o corpo participante do cineasta.
Isto começa historicamente com a fotografia still, e não se trata meramente de
uma expressão de jouissance masculina. Julia Margaret Cameron, que começou
tirando fotografias em 1863, escreveu: “Eu desejava captar toda a beleza que
A experiência da imagem 2p.indd 143 14/09/2016 14:27:56
144 aparecia à minha frente, e no final, o desejo foi satisfeito” (apud SONTAG,
1977, p. 183). Nas celebrações de Vertov da câmera móvel, não é que a câ-
mera seja tão antropomorfizada, mas o próprio Vertov se torna o objeto que
se move. Basil Wright fica hipnotizado pelo voo dos martins-pescadores, pelo
movimento dos braços de um pescador, pelas pernas de crianças dançando.
Ao filmar, Rouch vivencia o ciné-transe: “Para mim, filmar é escrever com os
olhos de alguém, os ouvidos de alguém, o corpo de alguém; é entrar em algo
[...]. Sou um cine-Rouch em cine-transe, no ato de cine-filmar [...]. É a alegria
de filmar, o ‘ciné-plaisir’” (FULCHIGNONI, 1981, pp. 7-8). Rouch observa
a sincronia entre ele e seu sujeito, a “harmonia [...] que está em perfeito equi-
líbrio com os movimentos dos sujeitos” (1975, p. 94). O êxtase do corpo que
filma é capturado na descrição de John Marshall: “Você tem esta sensação:
‘É isto aí, é isto aí’. Sabe como é, ‘Estou conseguindo. Está acontecendo, está
acontecendo’” (ANDERSON & BENSON, 1993, p. 144). Aqui, com certeza,
quem está “conseguindo” é Marshall, não a câmera. Para Robert Gardner,
a sensação é “o mais perto de um orgasmo cinemático que vou conseguir”
(GARDNER & ÖSTÖR, 2001, p. 37).
Temos que concluir que para muitos cineastas existe um êxtase, até mesmo um
prazer erótico em filmar outras pessoas. Isto se assemelha ao processo criativo
de outras artes, mas difere dele em sua relação com seus materiais, quase
sempre objetos “encontrados”, mesmo quando preparados para serem desco-
bertos pelo filme. Talvez um artista que realiza colagens ou máscaras a partir
de pessoas vivas sinta algo equivalente, ainda que não reaja tão diretamente
ao corpo humano vivo, e suas expressões efêmeras. O cineasta não “faz” nada
num sentido óbvio, mas conduz uma atividade em conjunção com o mundo
vivente. O prazer de filmar desfaz os limites entre cineasta e sujeito, entre os
corpos que os cineastas veem, e as imagens que eles fazem. Filmar é funda-
mentalmente aquisitivo na “incorporação” dos corpos de outros. A consciência
do cineasta também precisa se expandir para acomodar esses outros corpos,
mas ela não pode abrigar a todos; eles precisam ser dados a outros – ou, pelo
menos, ser devolvidos ao mundo. Ao conseguir isto, os corpos do sujeito, do
cineasta e do espectador tornam-se interconectados, e, sob alguns aspectos,
indiferenciados.
Falar desta maneira da dissolução de limites é realmente falar da identidade
geralmente frágil do cineasta no momento da filmagem, e, posteriormente,
ao assistir a um filme. Às vezes indiferente, às vezes obcecado, os cineastas
experimentam uma ampla gama de sensações com relação a seus sujeitos.
Ocasionalmente, a presença física de outra pessoa domina a consciência do
cineasta. Em parte, isto resulta da sincronia que tanto Hoffman quanto Rouch
A experiência da imagem 2p.indd 144 14/09/2016 14:27:56
notaram, e de uma mimese interna dos gestos, das posturas, da voz, e dos es- 145
O corpo no cinema
tados emocionais da outra pessoa. Isso pode produzir uma sensação de poder
e expectativa, um desejo de que os outros sejam precisamente o que são, e
façam precisamente o que estão fazendo, como aparecem no visor. Isto se torna
uma sincronia espiritual, talvez melhor expressa nas palavras de Marshall: Está
acontecendo. É isto aí.
O corpo do filme
O corpo humano tem sido frequentemente retratado como uma máquina. No
início do século XX, ele começou a ser descrito como uma fábrica, consumindo
e processando matérias brutas.11 Bem antes disso, no entanto, a dissecação de
corpos por Leonardo e Vesalius havia estabelecido os princípios mecânicos que
regem as juntas e a circulação do sangue. No século XVI, a visão humana era
frequentemente igualada à camera obscura, cujo princípio era conhecido desde
a Antiguidade. Da mesma maneira, deduziu-se que a câmera escura refletia a
estrutura física do olho humano e, num nível mais abstrato, a relação do olho
com a mente. Logo após a sua invenção, a câmera tornou-se uma extensão
mecânica do corpo, a ser usada em vigilância, inicialmente para “retratos” po-
liciais, e mais tarde em prisões, bancos, shopping centers, e escritórios (TAGG,
1988). Subsequentemente, a interação entre corpo e máquina tornou-se um
tema recorrente nas discussões dos filmes e do que eles fazem. Assim como
na ideia de fotogenia, acreditava-se que as imagens fotográficas transcendiam
a visão normal. Para Louis Delluc, a câmera incorporava as características de
um corpo, mas de um corpo liberto de prévias limitações físicas, culturais,
e psicológicas. Para Fernand Léger e os futuristas, a câmera cinematográfica
produzia uma nova “máquina estética”. Jean Epstein denominou-a “um cérebro
de metal padronizado, fabricado e vendido em milhares de exemplares, que
transforma o mundo externo em arte” (1974, p. 92). Na imaginação arrebatada
de Vertov, a câmera era o “cine-olho”, capaz de uma visão eternamente livre
da “imobilidade humana”.
Tais conceitos da câmara como um corpo autônomo são, em parte, sinais de
uma revolta contra a arte acadêmica, mas também uma maneira paradoxal
de reconhecer a conexão da câmera com os corpos que ela toca, inclusive
o do cineasta. Vertov prosseguiu, imaginando a câmera como um corpo fundido
11
Em um estudo inédito, Jakob Tanner discutiu com alguma profundidade as ilustrações de “máquinas
humanas” na anatomia popular do corpo humano de Fritz Kahn, Das Leben des Menschen, surgida
na década de 1920.
A experiência da imagem 2p.indd 145 14/09/2016 14:27:56
146 no seu. “Estou em constante movimento. Aproximo-me, e depois me afasto
de objetos. Rastejo por debaixo, subo neles. Movimento-me com a rapidez de
um cavalo galopando. Penetro a toda velocidade em uma multidão” (VERTOV,
1984, p. 17).
Os romancistas do século XIX já tinham produzido um olho móvel, às vezes
anônimo, às vezes associado a um narrador identificável. O foco nos sentidos,
geralmente dissociados uns dos outros, e, no entanto, criando uma percepção
sensória aguçada, continuou num ritmo acelerado no romance moderno. Joyce
concebeu Ulisses (1922) como uma “enciclopédia do corpo”, com quinze dos
seus dezoito capítulos correspondendo a um dos distintos órgãos do corpo
(DANIUS, 2002, p. 150). Em romances, e em muitos filmes (especialmente
na fase do cinema mudo), há uma hipertrofia que se alterna de um sentido
para outro, provocada pela separação entre eles; como em The Act of Seeing
with One’s Own Eyes, a ausência de som consegue produzir uma agudez de
visão quase insuportável. Da mesma forma, uma tela escura, ou extremamente
limitada, produz sons mais evocativos, efeito explorado assim que foi inventado
o cinema sonoro, por Hitchcock, Lang, e mais tarde Bresson.
Ao contrário do que foi feito por Joyce em Ulisses, não é comum que os ci-
neastas relacionem seus filmes tão intimamente com o corpo humano e seus
órgãos, talvez porque um filme já esteja tão intimamente identificado com
os olhos e os ouvidos. (Uma quantidade muito pequena de filmes de ficção,
no entanto, tais como The Last Laugh/O último dos homens (1924), Lady in
the Lake/A dama do lago (1947), e Sunset Boulevard/Crepúsculo dos deuses
(1950), transformam a câmera em um personagem vivo ou morto.) No en-
tanto, os cineastas herdaram, do pensamento clássico, certas noções sobre
o corpo da obra, bem como sobre o corpus de obras de um artista. Aristóteles
comparou os argumentos das tragédias a organismos vivos compostos de par-
tes específicas. De maneira semelhante, os cineastas frequentemente concebem
um filme como um todo orgânico com começo, meio e fim, que correspondem,
grosseiramente, a exposição, conflito e resolução. Estes, por sua vez, podem
ser vistos sob uma luz mais corpórea, correspondendo, primeiramente, à per-
cepção cognitiva e sensória, depois à força da ação, e finalmente ao processo
emocional ou orgânico de liberação. Sabe-se que os cineastas referem-se ao
esqueleto e carne de um filme, sua estrutura intelectual versus seu “coração”
ou suas “entranhas”, e por aí segue. Também se considera que os filmes tenham
vida própria no âmbito do público, um período de tempo não diferente dos
estágios de vida de um organismo. E, embora longe em espírito das noções de
corpo mecânico dos vanguardistas, a crítica cinematográfica psicanalítica da
A experiência da imagem 2p.indd 146 14/09/2016 14:27:56
década de 1970 associou o filme a muitos dos atributos do corpo (sobretudo 147
O corpo no cinema
masculino): seus desejos, seu “olhar”, sua autorreflexão.
Os filmes são, portanto, vistos em diferentes contextos como corpos simbólicos,
mas a que corpo eles correspondem? O corpo do sujeito? O corpo do especta-
dor ou do cineasta? Ou será um corpo “aberto”, capaz de receber todos eles?
Alfred Gell insistiu que a arte era mais uma questão de agência do que de
estética, de poder do que de significado. A arte opera num campo de dese-
jos e convenções, como uma tecnologia de influência e “encantamento”.12
E, contudo, este potencial da arte tem seu próprio ser material. Ele atrai
para ele – para seu próprio corpo – os que estão à sua volta. Adquire uma
força física própria. O poder de um filme é tanto gravitacional como dirigido
para fora, para um lugar descrito por W. J. T. Mitchell como “buraco negro”,
nos discursos da cultura verbal (1995, p. 543).
Muito tem sido dito sobre o que querem o cineasta e o espectador de um filme.
Mas se poderia perguntar, usando um exemplo de Susan Sontag, e mais tarde,
de Mitchell, “O que quer um filme?”.13 Além da influência, da estética, ou
do significado, os filmes são feitos para se tornarem objetos no mundo, para
existirem por sua própria conta – como coloca Sontag, na “própria lumino-
sidade da coisa” (1966, p. 13). Se um filme pretende algo, é para preservar
seu imediatismo a cada vez que é visto, sem se afetar por época, moda, ou
reputação. Nisto, é claro, ele nunca pode lograr seu intento. Um filme quer
mais poder, mais autonomia, do que jamais foi assegurado por historiadores
ou críticos, ou até mesmo pelo cineasta, de quem todos esperam saber o
que “o filme tenta dizer”. Um filme sabe de sua própria fraqueza. Do alto
de seu poder, até o melhor filme dá uma indicação do que perdeu, e do que,
se aperfeiçoado, poderia ter sido.
Bibliografia
AGEE, James & EVANS, Walker. Let Us Now Praise Famous Men. Boston: Houghton Mifflin, 1960.
ANDERSON, Carolyn & BENSON, Thomas W. 1993. “Put Down the Camera and Pick Up the
Shovel: An Interview with John Marshall”. In: RUBY, Jay (org.). The Cinema of John Marshall.
Chur: Harwood Academic, 1993.
BALAZS, Bela. 1952. Theory of the Film. Londres: Dennis Dobson Ltd., 1952.
12
Ver Gell (1992, 1998).
13
Sontag (1966) e Mitchell (1996), em um ensaio intitulado “What Do Pictures Really Want?”.
A experiência da imagem 2p.indd 147 14/09/2016 14:27:56
148 BARTHES, Roland. The Pleasure of the Text. Nova York: Hill and Wang, 1975.
BAZIN, Andre. What Is Cinema? Berkeley: University of California Press, 1967.
BORDWELL, David. Narration in the Fiction Film. Madison: University of Wisconsin Press, 1985
CREED, Barbara. “Horror and the Carnivalesque: The Body-monstrous”. In: DEVEREAUX, Leslie
& HILLMAN, Roger (orgs.). Fields of Vision: Essays in Film Studies, Visual Anthropology, and
Photography. Berkeley: University of California Press, 1995.
DANIUS, Sara. The Senses of Modernism: Technology, Perception, and Aesthetics. Ithaca/Nova Yorka/
London: Cornell University Press, 2002.
DOUGLAS, Mary. Natural Symbols: Explorations in Cosmology. Londres: Barrie and Jenkins, 1973.
_____. Purity and Danger: an Analysis of Concepts of Pollution and Taboo. Londres: Routledge &
Kegan Paul, 1966.
EISENSTEIN, Sergei. Film Form and the Film Sense. Nova York: Meridian Books, 1957.
EPSTEIN, Jean. Ecrits sur Ie cinema, 1921-1953, v. 1. Paris: Seghers, 1974.
FULCHIGNONI, Enrico. “Entretien de Jean Rouch avec Ie Professeur Enrico Fulchignoni”. In: Jean
Rouch: une retrospective. Paris: Ministere des Affalres Etrangeres, 1981.
GARDNER, Robert & OSTOR, Akos. Making Forest of Bliss: Intention, Circumstance and Chance in
Nonfiction Film. A Conversation between Robert Gardner and Akos Ostor. Cambridge/Massachu-
setts/Londres: Harvard Film Archive, 2001.
GELL, Alfred. “The Technology of Enchantment and the Enchantment of Technology”. In: COOTE,
Jeremy & SHELTON, Anthony (orgs.). Anthropology, Art, and Aesthetics. Oxford: Clarendon
Press, 1992.
_____. Art and Agency: An Anthropological Theory. Oxford: Clarendon, 1998.
GOMBRICH, E. H. Art and Illusion. Princeton: Princeton University Press, 1960.
HOFFMAN, Martin L. Empathy and Moral Development: Implications for Caring and Justice. Cam-
bridge: Cambridge University Press, 2000.
KEAY, John. India: A History. Londres: Harper Collins, 2000.
MERLEAU-PONTY, Maurice. “The Child’s Relation with Others”. In: EDIE, J. M. (org.). The Primacy
of Perception. Evanston: Northwestern University Press, 1964.
MITCHELL, W.J.T. “Interdisciplinarity and Visual Culture”. Art Bulletin, v. 76, n. 4, pp. 540-44. 1995.
_____. “What Do Pictures Really Want?”. October, n. 77, pp. 71-82. 1996.
MORIN, Edgar. Le Cinema ou l’homme imaginaire: essai d’anthropologie sociologique. Paris: Minuit,
1956
NICHOLS, Bill. “Questions of Magnitude”. In: CORNER, J. (org.). Documentary and the Mass
Media. Londres: Edward Arnold, 1986.
_____. Representing Reality: Issues and Concepts in Documentary. Bloomington: Indiana University
Press, 1991.
_____. Blurred Boundaries: Questions of Meaning in Contemporary Culture. Bloomington: Indiana
University Press, 1994.
PEREZ, Gilberto. The Material Ghost: Films and Their Medium. Baltimore: Johns Hopkins University
Press, 1998.
PINNEY, Christopher. “Introduction: Public, Popular, and Other Cultures”. In: DWYER, Rachel &
PINNEY, Christopher (orgs.). Pleasure and the Nation: The History, Politics, and Consumption of
Public Culture in India. New Delhi: Oxford University Press, 2000.
_____. “Piercing the Skin of the Idol”. In: PINNEY, Christopher & THOMAS, Nicholas (orgs.). Beyond
Aesthetics: Art and the Technologies of Enchantment. Oxford/ Nova York: Berg, 2001.
A experiência da imagem 2p.indd 148 14/09/2016 14:27:56
_____. Photos of the Gods. Londres: Reaktion Books, 2004. 149
O corpo no cinema
PUDOVKIN, V. Film Technique and Film Acting. NovaYork: Grove, 1960.
ROCK, Irvin (org.). The Perceptual World: Readings from “Scientific American Magazine”. Nova York:
W. H. Freeman and Company, 1990.
ROUCH, Jean. “The Camera and Man”. In: HOCKINGS, Paul (org.). Principles of Visual Anthropo-
logy. The Hague: Mouton, 1975.
SONTAG, Susan. “Against Interpretation”. In: Against Interpretation, and Other Essays. Nova York:
Farrar, Straus and Giroux, 1966.
_____. On Photography. Nova York: Farrar, Straus and Giroux, 1977.
STEWART, Susan. On Longing: Narratives of the Miniature, the Gigantic, the Souvenir, the Collection.
Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1984.
TAGG, John. The Burden of Representation. Amherst: The University of Massachusetts Press, 1988.
THEWELEIT, Klaus. Male Bodies: Psychoanalyzing the White Terror. Minneapolis: University of
Minnesota Press, 1989.
VAUGHAN, Dai. For Documentary: Twelve Essays. Berkeley: University of California Press, 1999.
VERTOV, Dziga. Kino-Eye: The Writings of Dziga Vertov. Berkeley: University of California Press, 1984.
WILLIAMS, Linda. “Film Bodies: Gender, Genre, and Excess”. Film Quarterly, v. 44, n. 4, pp. 2-13.
1991.
_____. “Corporealized Observers: Visual Pornographies and the ‘Carnal Density of Vision’.” In:
PETRO, Patrice (org.). Fugitive Images: From Photography to Video. Bloomington/ Indianapolis:
Indiana University Press, 1995.
A experiência da imagem 2p.indd 149 14/09/2016 14:27:56
A experiência da imagem 2p.indd 150 14/09/2016 14:27:56
II.
Fotografia e Etnografia
A experiência da imagem 2p.indd 151 14/09/2016 14:27:56
A experiência da imagem 2p.indd 152 14/09/2016 14:27:56
Rastreando a fotografia1
ELIZABETH EDWARDS
Ajustando o foco
Este ensaio explora a conturbada história da fotografia na prática antropológica,
interpretando-a enquanto uma série de interações transculturais, agências, en-
gajamentos e potenciais de evidência. Para tanto, apresento três “instantâneos”
temáticos de momentos de entrelaçamento, os quais mapeiam o deslocamento da
relação antropológica com o meio fotográfico. Isso, porque, tal como argumentou
Pinney (1992a), existe uma confluência histórica no paralelo entre antropologia e
fotografia que ainda atravessa e ampara, de forma mútua, suas histórias, em uma
complexa matriz de inscrição mecânica, desejo, poder, autoridade e agência. Nes-
sa medida, os “instantâneos” que propus poderiam ser resumidos a questões de
evidência, poder e agência. Esses motes não são mutuamente excludentes – eles
se sobrepõem e se amalgamam em vários pontos –, mas constituem momentos
de foco. Ademais, embora haja uma grande variação cronológica – de 1890 a
1970, de meados de 1970 até finais de 1990, e de meados de 1990 até os dias
de hoje –, é necessário dizer que tal variação, com frequência, dobra-se sobre si
mesma para, assim, constituir uma história linear. Refletindo acerca das multi-
1
Artigo originalmente publicado em: EDWARDS, Elizabeth. “Tracing photography”. In: RUBY, Jay
& BANKS, Marcus (orgs.). Made to Be Seen: Perspectives on the History of Visual Anthropology.
Chicago: University of Chicago Press, pp.159-89, 2011. Tradução: Bruna Triana e Lucas Amaral
de Oliveira; revisão técnica: Andréa Barbosa.
A experiência da imagem 2p.indd 153 14/09/2016 14:27:56
154 facetadas histórias da antropologia, pondero, aqui, as fotografias com as quais os
antropólogos se envolveram, e não apenas aquelas que eles produziram.
Obviamente, há muita coisa que ficou de fora. Neste texto, concentro-me em
registros históricos e resultados de pesquisa, mais do que na apresentação de
uma história da metodologia – ainda que, é preciso ressaltar mais uma vez, que
essas questões estejam longe de serem mutuamente excludentes. Os últimos
desenvolvimentos contemporâneos sobre o tema podem ser rastreados em al-
guns livros, como os de Pink (2001), Banks (2001) e, também, nas páginas de
algumas revistas especializadas. Devido às limitações que um curto ensaio como
este impõe, devo restringir-me, em grande medida, ao universo da língua inglesa,
não obstante essa história e suas análises possam ser escritas, igualmente – com
sobreposições, por um lado, e inflexões específicas, por outro –, por intermédio
de imagens produzidas em práticas antropológicas realizadas, por exemplo, por
falantes de língua francesa, alemã ou holandesa,2 bem como em quaisquer outros
lugares ao redor do mundo em que se note a aplicação do método antropológico.
No primeiro instantâneo, que trata de questões de evidência, abordo as ma-
neiras pelas quais a fotografia (meio) e as fotos (objetos materiais) têm sido
utilizadas para estabelecer o fato antropológico. Nesse sentido, sigo o desloca-
mento de respostas em direção ao realismo e aos valores de verdade da foto-
grafia, que se instauram através de um conjunto de proposições socioestéticas
reunidas em torno do discurso da “pose”, com todas suas implicações para o
não-natural, o irreal e o “naturalismo” antropológico.3 Essas questões estão
integralmente associadas às ideias de observação, evidência, verdade e inte-
gridade cultural – cujos pesos morais são o cerne do projeto antropológico.
No segundo instantâneo, olho para os modos pelos quais as práticas represen-
tacionais da fotografia tornaram-se presença marcante em políticas culturais
de representação, dentro e fora da disciplina. A fotografia, especialmente seu
papel na produção do corpo colonial enquanto objeto antropológico, tornou-se
um elemento-chave da crítica cultural na chamada “crise da representação”,
que começou na década de 1970. Assombrada por seu passado colonial e,
ainda, incerta de seu papel em meio a um ambiente pós-colonial cada vez mais
global, a disciplina encontrou, no legado visual de seu passado, um rico prisma
mediante o qual pode explorar a construção do conhecimento antropológico.
2
Ver Dias (1994; 1997), Blanchard et al. (1995), Theye (1989), Schindlbeck (1989), Zimmerman
(2001), Roodenberg (2002).
3
Faço isso para manter algum tipo de enquadramento sobre essa parte da história – um domínio
maciço, confuso e alastrado da disciplina que então emergia. Outros elementos, como a intencio-
nalidade, a subjetividade ou a seletividade poderiam, muito bem, terem sido usados aqui.
A experiência da imagem 2p.indd 154 14/09/2016 14:27:56
Por fim, exploro o papel revitalizado e reinterpretado da fotografia dentro da 155
Rastreando a fotografia
antropologia, nomeadamente a emergência de etnografias de práticas fotográ-
ficas, de um lado, e o reengajamento histórico com o legado visual da antro-
pologia, de outro. Tais estudos não apenas abriram a possibilidade de agência
no domínio da história cultural, mas, também, desestabilizaram a autoridade
tanto de antropólogos quanto de suas produções fotográficas. Isso permitiu o
surgimento de micro-histórias visuais críticas, reflexivas e colaborativas, bem
como encontros transculturais e relações da fotografia com o material e o sen-
sorial. Esses estudos revelam as complexas ordens da fotografia; porém, ainda
mais significativamente, eles usam a fotografia não somente para registrar, de
acordo com a melhor prática do momento, mas como um prisma a partir do
qual se torna possível pensar outras áreas do empreendimento antropológico.
Assim, de modo geral, este ensaio analisa como a fotografia pode ser situada
não apenas na antropologia visual, mas na disciplina como um todo. Através
da circulação fluida de imagens e das estratégias de representação, bem
como das fronteiras movediças da prática disciplinar e da multivalência e possi-
bilidade de recodificação da fotografia em si, constituiu-se uma complexa teia
de influências, ideologias e abordagens teóricas e metodológicas em relação à
fotografia, de modo que as práticas contemporâneas da disciplina e o legado
visual da antropologia não podem, necessariamente, estar desvencilhados.
O que está implícito nessa história é o deslocamento dinâmico de como a
antropologia produz suas evidências, como ela chega às suas verdades, como
situa sua objetividade, como lida com sua subjetividade e, enfim, como entende
sua intersubjetividade (PINK, 2001, pp. 19-21).
Estratégias de evidência
A natureza mecânica e indicial das fotografias, enquanto inscrições aparen-
temente não mediadas, fez com que elas se tornassem centrais para o esta-
belecimento e articulação do método objetivo e do desejo de objetividade por
uma ampla gama de disciplinas. Entretanto, embora a fotografia possa ser uma
ferramenta realista por excelência, a validação da evidência tem sido atribuída,
há mais de um século, à qualidade da observação. Isso foi sendo crescentemen-
te incorporado à presença de pesquisadores de campo, na medida em que o
corpo se tornou uma espécie de câmera, absorvendo dados por intermédio da
observação controlada em termos científicos e realizada por olhos analíticos
treinados (GRIMSHAW, 2001, p. 53; GRASSENI, 2011). Assim, a fonte da
fotografia, ou seja, o olho antropológico criador, tornou-se tão importante
A experiência da imagem 2p.indd 155 14/09/2016 14:27:56
156 quanto o conteúdo inscrito de modo mecânico, abrangendo, com efeito, tanto
a confiabilidade empírica quanto a correção procedimental (DASTON & GA-
LISON, 1992, p. 82), de modo a criar um realismo antropológico autoritário.
É claro que o realismo e seu empiricismo – como um cúmplice político, he-
gemônico e mais apropriado – têm sido objeto de especial atenção no cinema
e na fotografia ao longo dos últimos trinta anos, talvez mais.4 Mas este não é
o espaço para revisitar tais argumentos. O que é significativo, aqui, é a ma-
neira pela qual o efeito fortemente realista da fotografia e sua transparência
forneceram autoridade à atividade etnográfica, pelo menos até os anos 1960,
e deram uma forma concreta ao ilusionismo da representação antropológica,
proclamando: “Isso é o que você teria visto se estivesse lá comigo, observando”
e “Você está lá... porque eu estive” (CLIFFORD, 1988, p. 22). Desse modo,
as fotografias tornaram-se lugares privilegiados para comunicar o sentimento
de imersão cultural, uma espécie de substituto da experiência pessoal do tra-
balho de campo, apresentando – com autoridade – o que poderia ter sido visto.
Foi precisamente por tais razões que a afirmação dos parâmetros da imagem
tornou-se tão importante. A fotografia tinha não apenas que registrar, mas que
preservar a autoridade da evidência e a ilusão. O ato fotográfico, em si mesmo,
devia ser imperceptível e transparente: em 1951, o livro Notes and Queries on
Anthropology desaconselhava o uso da câmera 35 milímetros, que era mantida
em frente aos olhos, mascarando, portanto, a face de forma “indesejavelmente
intrusiva” (RAI, 1951, p. 354); e, ao longo do século XX, o mesmo manual
exortara o sentido de espontaneidade e invisibilidade da câmera, pois “muitas
fotografias [...] são estragadas porque o sujeito está olhando para o fotógrafo”
(BAAS, 1912, p. 271), conselho repetido na edição de 1929. Olhar para a
câmera, numa representação autoconsciente, marca a presença do sujeito, do
autor e do espectador, desafiando a autoridade do antropólogo, o que pertur-
ba o sentido de imediatismo, espontaneidade e naturalismo sobre os quais a
validade da observação e a representação ilusionista estão baseadas.
Posar é, nesse sentido, considerado algo “não natural”, considerando que a
antropologia está preocupada, justamente, com o fluxo natural da cultura, não
mediado e direto. Esses valores foram articulados com clareza por Margaret
Mead e Gregory Bateson, cujo trabalho seminal sobre o desenvolvimento in-
fantil, a socialização e a personalidade em Bali, entre 1936 e 1938, resultou em
um tour de force da tradução observacional nas ciências sociais, na medida
em que eles tentaram usar a câmera como uma nova metodologia sistemática
4
Ver Krauss (1982), Nichols (1991) e Roberts (1998).
A experiência da imagem 2p.indd 156 14/09/2016 14:27:56
de precisão e integridade.5 Mais de 750 fotografias foram publicadas em Ba- 157
Rastreando a fotografia
linese Character: a Photographic Analysis (1942), organizadas em séries de
“ensaios fotográficos” científicos que demonstram a tese dos antropólogos, sob
determinadas rubricas, tais como “Stages of Childhood”, “Autocosmic Play”
e “Boys’ Tantrums” (JACKNIS, 1988, pp .168-70).
Vale a pena considerar o método usado por Mead e Bateson porque ele articula
um ponto culminante de um conjunto específico de relações entre a antropologia
de campo, a fotografia e a construção de seu objeto, sobretudo no que tange à
pose e ao “natural”. A pose, a intervenção ou a reencenação poderiam consti-
tuir uma verdade antropológica? Eles afirmam: “Nós tentamos capturar o que
acontecia normalmente e espontaneamente, em vez de decidir sobre normas e,
então, fazer os balineses repetirem os comportamentos em condições adequadas
de iluminação” (BATESON & MEAD, 1942, p. 49). Em outras palavras, os
valores dominantes de tradução imediata da visão e da experiência moldaram
tanto a metodologia fotográfica quanto a análise subsequente (figura1).
Figura 1. Mulher Karma
amamentando um de seus filhos.
19 ago. 1937. Foto: Margaret Mead
e Gregory Bateson. Margaret Mead
Papers, Divisão de Manuscritos,
Biblioteca do Congresso, Washington,
(container P39, negative #LC-
MSS-32441-559-33, digital ID
#10961).
5
Mead e Bateson tiraram mais 25 mil instantâneos fotográficos e gravaram mais de 22 mil rolos de
filmes. Apesar da experiência fotográfica de Mead em seu trabalho de campo anterior, em Samoa,
foi Bateson quem tirou a maioria das fotografias, concebeu os métodos de documentação para elas
e empreendeu a maior parte da análise (JACKNIS, 1988, pp. 161-62).
A experiência da imagem 2p.indd 157 14/09/2016 14:27:56
158 No entanto, a situação não é assim tão clara. Apesar de sua preocupação com
“o normal” no “espaço e tempo naturais”, eles escreveram o seguinte: “Em
muitos casos, nós criamos o contexto em que as notas e as fotografias foram
produzidas, seja mediante pagamento pela dança seja pedindo para que a
mãe atrasasse o banho de seu filho até que o sol estivesse alto”; porém, eles
salientam: “isso é muito diferente de fotografias posadas” (id., ibid.; p. 50).
A criação intervencionista de contextos se justificava como uma extensão dos
parâmetros aceitos de participação e, assim, da própria verdade disciplinar,
em que o pagamento era, de fato, a base econômica para performances tea-
trais ou que o atraso do banho servia para focar a atenção natural no bebê,
diminuindo a consciência problemática de ser fotografado, algo que podia
desestabilizar conceitos-chave da validação da disciplina – como a normalidade
e a espontaneidade.
No entanto, simultaneamente, Bateson e Mead localizam a verdade antro-
pológica na inscrição química não mediada do negativo. Inclusive, Bateson
(id., ibid.; p. 51) tem o cuidado de salientar que qualquer intervenção nas
fotografias fora feita dentro de “convenções científicas [...] escrupulosamente
respeitadas”, que nada fora adicionado às fotos, e que qualquer manipulação
dos negativos ou da impressão na câmara escura servira, meramente, para
“fazer o possível para que o papel obtivesse o máximo de rendimento sobre
aquilo que está presente no negativo” (id., ibid.; p. 52). Nos negativos que
foram aperfeiçoados, o processo foi gravado com cuidado extremo, tornando
os parâmetros da manipulação claros. Da mesma forma, os parâmetros da
seleção e apresentação das fotografias no livro foram esclarecidos, mais uma
vez, articulando a qualidade e a forma do valor evidenciativo: “Cada fotografia
pode ser vista como quase puramente objetiva; mas, a justaposição de duas
fotografias diferentes ou contrastantes já é um passo em direção à generalização
científica” (id., ibid., p. 53). Em tal declaração, percebem-se valores morais
em torno da articulação de uma verdade antropológica que emerge como pre-
missa não apenas de uma verdade da natureza (o normal e o espontâneo), mas
também da moralidade da autorrestrição científica. Isso excluiu o potencial
desestabilizador da “pose” e criou um enquadramento científico no qual as
subjetividades podem ser controladas.
Se é possível notar no trabalho de Bateson e Mead uma antecipação dos deba-
tes posteriores sobre a fotografia e a construção da autoridade antropológica,
pode-se, também, encontrar ressonâncias dessas preocupações muito antes.
Os valores agrupados em torno da fotografia, bem como da cristalização da
verdade da observação enquanto algo a ser articulado através da câmera, surgem
no começo do século XX. Na medida em que a prática do trabalho de campo
A experiência da imagem 2p.indd 158 14/09/2016 14:27:56
foi se estabelecendo com mais forma e mais forte, os valores de verdade em 159
Rastreando a fotografia
torno da fotografia também foram mudando. Mais uma vez, é possível ver esse
processo refletido nas atitudes em relação à questão da pose. Apesar do difícil
relacionamento de Malinowski com o meio fotográfico e suas implicações
(MALINOWSKI, 1935, pp. 161-62; YOUNG, 1998, pp. 5-6), ele foi um
fotógrafo ativo e competente. Inclusive, ele usava extensamente as fotografias
em suas publicações, com cuidadosa montagem e com referências cruzadas
(SAMIAN, 1995). Sua atenção à natureza de suas evidências fotográficas
contradiz sua postura manifesta. Contudo, Malinowski, assim como Mead e
Bateson, foi cuidadoso ao tirar suas fotografias dentro das práticas correntes do
realismo e da autoridade etnográfica. Isto está mais acentuado na legenda para
a foto número cem de Coral Gardens and Their Magic, onde ele é cauteloso
ao salientar a base de observação da autoridade do pesquisador de campo: “Esta
foto não é posada; ela foi tirada durante o verdadeiro rito gibuviyake, e mostra
a concentração do feiticeiro no trabalho” (MALINOWSKI, 1935, p. 280). Ou
seja, pode parecer posado, mas não é. A despeito de sua ênfase na observação
imediata, ele não era avesso ao uso cuidadosamente controlado da pose ou da
reencenação para fazer imagens que não poderiam ser obtidas “naturalmente”,
tais como em situações de magia de guerra ou relações sexuais (id., ibid., pp.
461-62; YOUNG, 1998, p. 17). Ao atentar para os parâmetros da fotografia,
Malinowski está, também, definindo os parâmetros da observação participante
no campo e, com efeito, a própria validade antropológica de suas evidências e
o papel da fotografia dentro dela.
De modo similar, em sua clássica etnografia, Bruxaria, oráculos e magia entre
os Azande (1937), Evans-Pritchard chama a atenção para os parâmetros da
foto treze, “Kamanga assoprando um apito mágico (foto posada)”. Ele está
consciente das questões acerca do status da evidência e da autoridade, como
Malinowski. Entretanto, a fotografia de Evans-Pritchard carrega uma marca
visual de seu próprio status. Não apenas os lábios de Kamanga não chegam a
tocar o apito (o ângulo baixo da câmera mostra isso de forma clara), como o
enquadramento próximo da fotografia sem corte é estilisticamente diferente
do “estilo sem estilo” e do imediatismo que está incorporado na observação
que informa grande parte de suas fotografias (MORTON, 2005).6 É como se
ele estivesse afirmando que essa fotografia é de outra ordem (figura 2).
6
Agradeço a Chris Morton por discutir essa imagem comigo. Chamo o estilo da imagem de “sem
estilo” porque quaisquer que sejam os parâmetros de objetividade, a nulidade estilística é, clara-
mente, impossível; a articulação entre uma falta de mediação e a supressão estilística constitui um
estilo em si mesmo.
A experiência da imagem 2p.indd 159 14/09/2016 14:27:56
160 Claro, é possível argumentar que a necessidade da pose ou da reconstrução
depende das tecnologias disponíveis. Seguramente, isso é parte da equação. As
possibilidades técnicas mudam as expectativas sociais que se agrupam em torno
da fotografia – de fato, o que é tecnicamente possível está enredado de forma
integral com o que é concebível em um dado momento histórico (WINSTON,
1998, pp. 120-23). No entanto, não podemos reduzir as relações entre o natural
e o posado, o real e o “falso”, a absolutos determinados tecnicamente; em vez
disso, como sugeri, devemos considerar o deslocamento dos parâmetros de
objetividade e as manifestações visuais que lhes estão associadas.7
Figura 2. Kamanga assoprando
um apito mágico, reencenado
para a câmera de Evans-
-Pritchard. Foto: E. Evans-
-Pritchard. Pitt Rivers Museum,
University of Oxford (PRM
1998.341.282.2).
7
Isso está admiravelmente demonstrado em dois artigos fundamentais sobre a fotografia antropo-
lógica, que apareceram nas páginas do Journal of the Anthropological Institute, em 1893 e 1896,
respectivamente. Im Thurn, com base em sua experiência na Guiana Britânica, argumentou que,
além das imagens para referência antropométrica, fotografias mais naturalistas ou espontâneas de
pessoas “como seres vivos” deveriam ser tiradas (THURN, 1893, p. 184; TAYLER, 1992). Por
outro lado, M. V. Portman, um administrador colonial e etnógrafo nas Ilhas Andaman, argumentou
que o conhecimento científico poderia ser controlado somente quando as fotografias, posadas com
cuidado, que demonstrassem fatos observados (por exemplo, a realização de um adze), fornecessem
evidências primárias (THURN, 1896, p. 76).
A experiência da imagem 2p.indd 160 14/09/2016 14:27:56
No período inicial, a pose e a reencenação devem ser entendidas como uma 161
Rastreando a fotografia
forma de demonstração científica, na qual a replicação era parte, ela mesma,
do sistema evidenciativo. Por exemplo, respondendo à primeira edição de
Notes and Queries (1874), E. H. Man inscreveu em uma chapa fotográfica
um quadro cultural, “Andamanese Shooting, Dancing, Sleeping and Greeting”,
que foi reproduzida como evidência demonstrativa nas páginas do Journal of
the Anthropological Institute (figura 3).
Figura 3. Quadro
cultural: caçando,
dormindo, saudando
e dançando.
Andaman Island,
ca. 1874. Foto: E.
H. Man. Pitt Rivers
Museum, University
of Oxford (PRM
1998.230.4.1).
O conceito de demonstração científica do método e da evidência, e seu conceito
correlato de “testemunho virtual”, ressoa através do trabalho de muitos antro-
pólogos cientificamente treinados do final do século XIX e do início do XX.
Haddon, por exemplo, usa a pose e a reencenação para verificar e esclarecer seus
dados e para demonstrar um ponto científico (EDWARDS, 1998). De modo
similar, Boas não só produziu “fotografias posadas” para demonstrar seus dados
(JACKNIS, 1984), como ele mesmo posou para fotos, a fim de demonstrar a
forma exata da cerimônia Hamat’as e no intuito de fazer representações cientifi-
camente acuradas para o Museu Americano de História Natural (GLASS, 2006).
O conceito de demonstração, no sentido de confirmação performativa de
evidência e cientificidade, embora proveniente da ciência do século XIX,
permaneceu central para o estabelecimento da autoridade antropológica nas
publicações. Bateson e Mead, por exemplo, “objetivaram nos mostrar que
as fotografias são uma demonstração de como os vários hábitos dos balineses
formam seu caráter” (SULLIVAN, 1992, p. 29; grifo meu).
No entanto, a relação entre antropologia e fotografia foi assombrada pela
impossibilidade de controlar a inclusão aleatória desse meio. Todas as estra-
A experiência da imagem 2p.indd 161 14/09/2016 14:27:58
162 tégias de evidência são tentativas, em suas diferentes maneiras, de controlar
o excesso de significados nas fotografias (PINNEY, 1992b, p. 27; POOLE,
2005), que, por sua instabilidade inerente, ameaçou desestabilizar não
apenas os dados antropológicos, mas a própria autoridade antropológica.
A intervenção científica e a pose constituíram, juntas, uma forma de controlar
o excesso fotográfico, organizando os dados e focando a atenção. Porém, se as
fotografias não poderiam ser contidas no nível da inscrição, elas poderiam ser
contidas, então, por intermédio da retórica do olhar da disciplina. No século
XIX, foi argumentado que o “olho” cientificamente treinado suprimiria algu-
mas categorias da informação visual ao privilegiar outras, de maneira a criar
evidências científicas. Isso foi crucial, dado que, no período em questão, poucas
“fotografias antropológicas” foram feitas com uma intenção científica especí-
fica, tornando-se “antropológicas” somente por intermédio de categorias de
consumo, conforme as imagens foram, frequentemente, sendo negociadas
entre os regimes escópicos concorrentes do voyeurismo popular e da ciência
(EDWARDS, 2001, pp. 27-50; ZIMMERMAN, 2001, pp. 174-75).
Todavia, a apropriação das imagens pela ciência tornou-se cada vez mais pro-
blemática para os antropólogos do final do século XIX. Os conceitos de rigor
científico e objetividade não poderiam mais, sozinhos, serem investidos na
recodificação do traço indicial – e sim, como sugeri, por meio da qualidade da
observação. Os modos de produção da evidência visual que presumiam um nível
de intervenção não se encaixavam mais no modo “naturalista” da antropologia
– tal como quando ela surgira no início do século XX. Esse naturalismo, como
vimos, privilegiou a experiência direta de campo, mais que o desenvolvimen-
to de capacidades dos dados científicos (GRIMSHAW, 2001, p. 52). Nessa
medida, não só a pose e a intervenção tiveram desagradáveis ressonâncias com
o mapeamento fotográfico da raça e cultura material da geração anterior – o
qual Malinowski (1935, p. 460) descreveu como “cientificamente estéril” –,
como isso também foi entendido como falta de valores intelectuais e morais de
imediatismo, proximidade e observação. De fato, no momento em que Collier
publicou Visual Anthropology, em 1967, questões sobre a pose não eram dis-
cutidas – o realismo sem mediações, que traduz a experiência da observação
participante para fins inter-relacionados de registro, foto-entrevista, síntese e
análise, tinha se tornado o valor assumido da fotografia.
Não podemos, contudo, ver esse processo de refinamento da evidência desde
um isolamento disciplinar. Grimshaw apontou para as fronteiras fluídas entre
a antropologia e outras práticas visuais; e, se o excesso fez da fotografia algo
difícil de ser controlado dentro da própria antropologia, ele também conectou
a antropologia a outras práticas e discursos fotográficos (RUBY, 1976; BEC-
A experiência da imagem 2p.indd 162 14/09/2016 14:27:58
KER, 1981; EDWARDS, 1997; GRIMSHAW, 2001). A antropologia sempre 163
Rastreando a fotografia
teve consciência de seu “outro fotográfico” – de uma inscrição mais criativa da
realidade das artes e das práticas documentais.8 Nesse sentido, passo, agora, a
explorar, de maneira breve, o status da evidência nessa fronteira.
Becker definiu a diferença entre as ciências sociais e a fotografia, afirmando
“uma como a descoberta da verdade sobre o mundo e a outra como a expres-
são estética da visão única de alguém”; mas ele também sugeriu que as duas
vertentes estavam indissociavelmente enredadas (BECKER, 1981, p. 9). Co-
nexões desse tipo podem ser feitas, por exemplo, entre o arranjo fotográfico
de Malinowski, em Coral Gardens and Their Magic, a sequência de Bateson
e Mead, em Balinese Character, e a forma foto-ensaística emergente em
revistas como Life e Picture Post. Existem claros paralelos estilísticos entre a
verossimilhança sem mediações da fotografia antropológica de campo e outras
práticas amadoras de fotografia instantânea.
Um bom exemplo desse enriquecimento recíproco entre antropologia e fo-
tografia documental pode ser encontrado no trabalho de Tim Asch, realizado
na Ilha Cape Breton, na província canadense da Nova Escócia, um projeto de
documentação rural executado durante alguns anos, a partir de 1952 (HAR-
PER, 1994). Ainda que a importância do projeto não tenha sido reconhecida
por antropólogos naquele tempo, ele é interessante porque data do período
pós-Segunda Guerra Mundial, quando a antropologia visual, enquanto subárea
totalmente articulada, emergiu a partir de um grande número de diferentes
habilidades e experiências visuais, especialmente dos estudos em comunicação
visual, enquanto que, ao mesmo tempo, esboçava um estilo fotográfico auto-
consciente para criar um senso de imediatismo e de solidez da observação – em
vez do “estilo sem estilo” antropológico.
Embora mais conhecido como cineasta etnográfico, Asch possuía um pano de
fundo fotográfico que era bastante rico e eclético. Ele tinha trabalhado com
fotógrafos modernistas, tais como Minor White, Edward Weston e Ansel
Adams, e foi influenciado por outros, como Eugene Smith (NORDSTRÖM,
1994, p. 97). No projeto de Cape Breton, Asch trabalhou muito próximo a
John Collier, que, no período, estava elaborando suas ideias sobre a fotografia
como um método de pesquisa na antropologia. Entretanto, a própria inspiração
de Collier veio não apenas da antropologia, mas também de Roy Stryker e seu
8
A fronteira entre a antropologia e as práticas artísticas está além do escopo deste artigo. Todavia,
uma discussão sobre o tema pode ser encontrada, por exemplo, em: Schneider & Wright (2006) e
Schneider (2011).
A experiência da imagem 2p.indd 163 14/09/2016 14:27:58
164 trabalho na Farm Security Administration.9 Nesse empreendimento, Stryker
tinha empregado fotógrafos como Dorothea Lange e Walker Evans, cujas ima-
gens sobre a miséria agrária dos anos 1930, nos Estados Unidos, tornaram-se
clássicos do cânone documental humanista e progressista.10 Por conseguinte,
enquanto as fotografias de Cape Breton estavam fundadas nos princípios da
observação antropológica – “as pequenas coisas da vida” (HARPER, 1994,
p. 13), que têm ressonâncias nos “imponderáveis” de Malinowski –, elas de-
monstram, no entanto, a clássica articulação modernista do caráter do meio
fotográfico. O impacto do detalhe etnográfico ostensivo repousa, então, em
seu efeito sobre os elementos de composição (NORDSTRÖM, 1994).
Todavia, apesar do potencial para uma base estendida de trabalho fotográfico
dentro da antropologia, do surgimento cada vez maior de volumes focados em
metodologia, tais como o Visual Antrhopology, de Collier (1967), e das preo-
cupações persistentes sobre a evidência metodológica (RUBY, 1976; HARPER,
1987; LARSON, 1981; CALDAROLA, 1998; GRADY, 1991; PAUWELS,
1993; SIMONI, 1996), parece ter havido, simultaneamente, uma negação
sistemática do potencial das fotografias em adicionar algo ao entendimento
antropológico. Essa “iconofobia” sistêmica é demonstrada por outro livro nas
fronteiras da antropologia e da prática fotográfica. Trata-se de Death Rituals
of Rural Greece (1982), metade etnografia, metade ensaio fotográfico, que
contou com o antropólogo Loring Danforth interagindo com um conjunto de
fotografias de Alexander Tsiaras. As narrativas de cada seção, intercaladas com
versos de lamentos fúnebres, efetivamente, espelham-se de maneira mútua.
A intenção dos autores foi, precisamente, “comunicar tanto uma resposta
intelectual quanto uma emocional” e, com isso, “colapsar a distância entre
o Eu e o Outro” (DANFORTH & TSIARAS, 1982, p. 7). As fotografias de
Tsiaras, em uma tradição documental humanística, proporcionam uma sensa-
ção de emoção e afeto por meio de um forte sentido de engajamento pessoal.
Entretanto, quando o volume foi resenhado em revistas antropológicas, ele
foi analisado como texto. Os percursos de Danforth, que passam por Van
Gennep, Hertz e Geertz, em relação ao ritual, à morte e ao cotidiano, foram
dissecados com pouca ou nenhuma referência às fotografias.11 Será que isso
9
Collier dedicou a obra Visual Anthropology (1967) a Stryker.
10
É significativo que o trabalho da Farm Security Administration começou, precisamente, no mesmo
tempo em que Mead e Bateson estavam realizando seu trabalho de campo em Bali (LARSON,
1993, p. 15).
11
Por exemplo, James M. Redfield, em American Ethnologist (1984 [1193], pp. 617-18); e Ruth
Gruber Fredman, em Anthropological Quarterly (1983 [53-4], pp. 119-200), que descreveu as
A experiência da imagem 2p.indd 164 14/09/2016 14:27:58
ocorreu porque as fotografias, com suas fortes credenciais de geometria visual 165
Rastreando a fotografia
e documentação humanística, não poderiam constituir uma autoridade antro-
pológica? Sua força de evidência engaja mais respostas emocionais ao tema em
questão do que uma descrição racional? Ou por que a imagem, em si mesma,
estava simplesmente “invisível” e marginalizada no debate intelectual? Talvez
Geddes tenha resumido bem o dilema ao resenhar outro livro fotográfico,
Gardens of War, de Robert Gardner (1968), na American Anthropologist. Ainda
que possam ser vistas como “excessivamente subjetivas”, ele escreveu: “[...] as
interpretações transculturais, no entanto, devem, necessariamente, ir além do
fato. O teste final para saber se elas devem ser tidas como apenas subjetivas
ou perspicazes de fato deve ser o grau de convicção que elas proporcionam ao
indivíduo – leitor, espectador e ouvinte” (GEDDES, 1971, p. 347).
Voltamos, então, às questões acerca dos muitos significados e da possibilidade
de controle da evidência.
O resultado parece ser uma fotografia que, apesar das lutas metodológicas,
foi, efetivamente, marginalizada, pelo menos intelectualmente, no interior do
debate antropológico. De fato, as fotos praticamente desapareceram de textos
antropológicos sérios na década de 1960 (HEUSCH apud POOLE, 2005, p.
690), tirando as fotografias de autenticação das observações do trabalho de
campo e de montagem de cenas. Além disso, o advento de tecnologias mais
fáceis e acessíveis de filmagem ofereceu formas de registro que pareceram
mais apropriadas ao projeto antropológico. E, ainda mais importante, a des-
confiança contínua da antropologia acadêmica em relação ao visual – especial-
mente à fragmentação e à reificação, qualidades do instantâneo fotográfico
–, tornou isso não apenas problemático, mas intelectualmente estéril, quase
uma ferramenta de uma velha antropologia, que permaneceu delineadora de
superfícies e não reveladora de verdades profundas da experiência humana.
O poder da representação
O prefácio de Mead para a obra Principles of Visual Anthropology, de Hoc-
king (1975), lamentando a condição do visual em uma disciplina de palavras,
constitui, de fato, uma declaração final da confiança realista e da preocupação
de salvamento – mais do que uma mudança radical no perfil da fotografia
que estava sendo colocada em cena. Como em outras disciplinas das ciências
“tocantes fotos” e como uma “nota para o texto”. Apenas Peter Metcalf, em American Anthropologist
(1984 [88-1], p. 208), se envolveu com as fotografias que “ofuscam o texto”.
A experiência da imagem 2p.indd 165 14/09/2016 14:27:59
166 sociais e humanas, a virada pós-estruturalista na antropologia olhou para a
construção do conhecimento disciplinar e para suas práticas representacionais
e instituições associadas, do trabalho de campo ao museu.12 Apesar da icono-
fobia da disciplina, os debates sobre fotografia se misturaram às críticas mais
amplas ao “ocularcentrismo” da antropologia e a suas ansiedades sobre a visão,
especialmente nos contextos de colapso do paradigma científico antropológico
(GRIMSHAW, 2001, pp. 6-7). A fotografia se tornou central na mudança do
visual enquanto metodologia de campo para coleta e análise de dados (ainda que
de forma cada vez mais reflexiva) para uma antropologia dos sistemas visuais.
Esta última, sobretudo num sentido mais amplo e, por se ocupar da natureza
social e politicamente construtivista das práticas de imagem, talvez tenha sido
a contribuição mais significativa da fotografia ao pensamento antropológico.
Conceitos antropológicos abstratos, tais como etnicidade, gênero e identidade,
assim como a própria história da disciplina, entrelaçada com o colonialismo e
sua autodefinição, passaram a ser crescentemente explorados através do prisma
da fotografia. Esse momento, quando a fotografia, mais efetivamente, torna-
-se metáfora para o conhecimento antropológico e suas estruturas de poder,
constitui meu segundo instantâneo.
A fotografia e suas práticas significantes foram foco de uma análise de pro-
gressiva sofisticação teórica e complexidade no contexto de fomento de polí-
ticas culturais e identitárias que desafiaram a hegemonia ocidental. Seguir os
trabalhos de Foucault sobre as estruturas de poder, disciplina, vigilância e as
complexas políticas do saber tornou-se parte integrante dos regimes discursivos
de verdade que definiram, apropriaram, construíram e objetificaram o escopo
da antropologia. Embora os argumentos e suas ferramentas teóricas estivessem
profundamente informados pela teoria literária, pela teoria pós-colonial e
pelos estudos culturais, a própria teoria da fotografia forneceu ferramentas
críticas específicas. Os antropólogos se juntaram não apenas a Foucault, mas a
uma série de debates pós-estruturalistas e de inspiração marxista. Em especial,
podem ser citadas as abordagens construtivistas de Tagg (1988); a consideração
semiótica e psicanalítica de Burgin (1986); as aplicações fotográficas da semiótica
de Charles Pierce e dos modelos linguísticos de Saussure, mais notavelmente na
obra de Roland Barthes (1977); a análise foucaultiana dos arquivos e do desejo
taxonômico de Sekula (1989); e as novas releituras que foram realizadas de
Walter Benjamin. Foi a própria natureza da fotografia, enquanto traço mecânico
e químico do corpo do sujeito, que a tornou tão poderosa, ao mesmo tempo
12
Para um resumo útil das políticas mais amplas de representação em relação às fotografias, ver, por
exemplo, Kratz (2002, pp. 219-23).
A experiência da imagem 2p.indd 166 14/09/2016 14:27:59
uma metáfora e uma força retórica. A objetificação foi entendida, nesse sentido, 167
Rastreando a fotografia
como algo inerente à própria imobilidade e fragmentação do meio fotográfico,
permitindo que o olhar relaxe, deseje e aproprie-se do sujeito, construindo
categorias como raça, classe e gênero, que foram normalizadas por intermédio
da transparência e das práticas discursivas da própria fotografia e legitimadas
através dos conceitos antropológicos de raça e hierarquia (GREEN, 1984;
ALLOULA, 1986; CORBEY, 1988; LALVANI, 1996).
As ambiguidades espaciais e temporais do meio fotográfico e suas propensões
reificantes estiveram lado a lado das críticas na antropologia. Por exemplo, a
análise de Fabian (1983, p. 32) das metáforas visuais da antropologia, e sua
crítica da construção do objeto antropológico atemporal, ressoa na famosa
descrição de Barthes da fotografia como “lá-antes, tornando-se aqui-agora”,
reproduzindo ao infinito o que não poderia ser reproduzido existencialmente
(BARTHES, 1977, p. 44; id., 1984, p. 4) e, ainda, reforçando as diferentes
temporalidades envolvidas no “imediatismo fugaz do encontro e da perma-
nência estabilizadora do fato” (POOLE, 2005, p. 172).
Essas características da fotografia também mapearam teorias do olhar e da
construção dos estereótipos por meio da estrutura semiótica da imagem, prin-
cipalmente os modelos dicotômicos de branco/preto, vestido/nu, civilizado/
primitivo, dominante/dominado e as significações hierárquicas que lhes estão
associadas. A instabilidade do significante e a infinita possibilidade de recodifi-
cação da fotografia permitiram a reprodução e a performance de tais metáforas,
mesmo em face da inerente ambiguidade de formas. Algumas ideias, como
as metáforas violentas de Sontag acerca da apropriação visual voraz da câmera –
caçar, tirar, tomar (SONTAG, 1979, pp. 14-15) –, tornaram-se metáforas da
opressão colonial, do olhar ocidental e da impotência do sujeito. A combinação
entre captura e rastreamento, em contextos de políticas culturais especifica-
mente focadas, tornou-se simbólica do espaço entre o coletor e o coletado,
o fotógrafo e o fotografado, a comunidade e as estruturas institucionais da
antropologia – as assimetrias de poder e os espaços nos quais as comunidades
indígenas estão trancadas, despojadas, privadas de seus direitos, silenciadas,
marginalizadas e apropriadas (HARLAN, 1995, p. 20).
As fotografias apresentaram-se, nessa medida, como uma mina de um século
de pressupostos disciplinares e relações de poder assimétricas a ser escavada.
Com isso, a questão da pose, em particular, o corpo arranjado e manipulado,
permaneceu como um significante das relações de poder entre a “ciência branca
e os corpos negros” (WALLIS, 1995), em uma ampla gama de materiais: os
daguerreotipos de escravos de Zealy, feitos por Louis Agassiz (WALLIS, 1995);
A experiência da imagem 2p.indd 167 14/09/2016 14:27:59
168 o trabalho antropométrico de Lamprey e Huxley, ou, na França, de Broca e
Topinard; ou a remoção das roupas para a exposição dos corpos, sobretudo dos
corpos femininos (PETERSON, 2003, pp. 124-25; EDWARDS, 2001, p. 145).
Em consequência, o corpo racializado e, às vezes, o corpo patologizado foram
tornados visíveis e expostos para o mapeamento somático, quantificados e
calculados para o olhar (PINNEY, 1992a; GREEN, 1984; 1986; DIAS, 1994).13
É significativo que grande parte desse debate centrou-se no século XIX e na
imagem colonial que tinha sido absorvida e, de fato, legitimada como dado
científico nesse século, em vez de focar na massiva produção de fotografias no in-
terior da antropologia depois de, aproximadamente, 1910. Essas imagens iniciais
assumiram o caráter de um marcador político e ideológico do corpo colonizado,
controlado sob o olhar apropriador da câmera. Alloula, por exemplo, escreve
sobre isso: “O modelo é uma figura da apropriação simbólica do corpo (de uma
mulher argelina), o estúdio é uma figura da apropriação simbólica do espaço
[...]. Esse duplo movimento de apropriação nada mais é que uma expressão
da violência veiculada pelo cartão-postal colonial” (ALLOULA, 1986, p. 21).
O conceito de instrumentalidade ideológica do arquivo foi uma importante parte
dessa crítica. Influenciados por alguns trabalhos foucaultianos, tais como “The
Body and the Archive”, de Allan Sekula (1989), e a análise de Tagg (1988) sobre
a instrumentalidade da fotografia, o arquivo antropológico se tornou uma dupla
alegoria da fixação pós-moderna, da fotografia e da taxonomia, através da qual o
corpo objetificado do “Outro” foi produzido. O arquivo foi analisado enquanto
uma articulação do desejo enciclopédico, da produção do conhecimento e da
certeza taxonômica, reproduzindo os valores hierárquicos dominantes.14
Esse é apenas um resumo do conjunto labiríntico e de longo alcance dos
argumentos interconectados. Todavia, as vertentes e nuances dessa posição
tornaram-se cada vez mais confusas, à medida que, dentro da disciplina, a
possibilidade da representação fotográfica foi se paralisando de forma cres-
cente. Nesse sentido, enquanto abordavam os enquadramentos ideológicos
13
Um foco analítico particular foi dado às imagens antropométricas produzidas nos primórdios da
antropologia, a mais extrema e desumana forma de pose e de controle científico. Em especial, fora
da antropologia, a fotografia antropométrica se sobrepôs a todos os outros tipos de imagens antro-
pológicas, independentemente da historicidade específica do encontro fotográfico. As fotografias
feitas para demonstrar o sistema antropométrico de John Lamprey, publicadas em Journal of the
Ethnological Society (1869), por exemplo, tornaram-se imagens características para toda a fotografia
no interior da disciplina antropológica durante mais de um século, mormente nos estudos de cultura
visual, e têm sido reproduzidas indefinidamente. Ver Green (1984, p. 34); Sturken & Cartwright,
(2001, p. 285); Ryan (1997, p.150); S. Edwards (2006, p. 25).
14
Ver Green (1984; 1985).
A experiência da imagem 2p.indd 168 14/09/2016 14:27:59
mais amplos – que tornaram concebíveis certos tipos de práticas fotográficas 169
Rastreando a fotografia
em determinado momento histórico –, tais críticas, caíram, quase que muito
confortavelmente, em uma série de interpretações sobredeterminadas, redu-
cionistas, a-históricas e reificantes (SPYER, 2001, p. 182).
Ao mesmo tempo em que boa parte desse debate estava sendo travado fora da
própria antropologia, houve críticas similares vindas de dentro da disciplina,
sobretudo da parte de antropólogos engajados, cada vez mais densamente,
com o conceito de “arquivo”, tais como as análises de Corbey (1988) dos
cartões-postais da África. As fotografias eram, também, parte dos debates mais
amplos sobre a política de produção do texto e da autoridade etnográficas. Por
exemplo, tanto Hutnyk (1994) quanto Wolbert (2000) analisaram as fotogra-
fias de Evans-Pritchard enquanto parte integrante das práticas discursivas de
apropriação do trabalho de campo e sua disseminação da observação, levantando
questões mais gerais sobre a natureza dessa observação e as relações a partir
das quais ela é sustentada. Talvez o mais extensivo e implacável exame seja
a discussão de Faris sobre as culturas da imagem e da imaginação dos povos
Navajo. Em The Navajo and Photography, ele explora a política sistêmica e
de “sucesso predatório” (FARIS, 1996, p. 301) de apropriação que apresen-
tam os Navajos como impotentes e passivos diante da câmera, tida como um
instrumento da opressão ocidental.15
Ainda que esse processo e sua articulação de estruturas de poder sejam in-
contestáveis, assim como seu impacto político, tratou-se de uma crítica que
negou à fotografia e à disciplina antropológica sua própria mudança e dinâmica
crítica.16 Isso, de modo redutor, postulou que todas as fotografias antropoló-
gicas e todos os encontros fotográficos transculturais estivessem operando,
“estatiscamente, dentro de uma ‘verdade’ que reflete, de forma simplista, um
conjunto de disposições culturais e políticas mantidas pelos produtores dessas
imagens” (PINNEY & PETERSON, 2003, p. 2). Um dos primeiros volumes a
explorar isso foi Anthropology and Photography (EDWARDS, 1992). Talvez eu
não seja a pessoa mais adequada para discutir o legado desse livro, destinado
tanto a leitores antropólogos como a não antropólogos, e que tentou dar um
enquadramento crítico da prática, da história e das estruturas institucionais
15
Para uma resenha que destaca os problemas metodológicos dessa abordagem, ver: Jay Ruby, no
Journal of the Royal Anthropological Institute (v. 4, n. 2, 1998, pp. 369-79).
16
Como Pink apontou, muitas dessas discussões sobre a imagem antropológica implicam em um
“desrespeito [por] qualquer trabalho que tenha sido feito desde 1942” – data da publicação de
Mead e Bateson (2003, p.185) – e, consequentemente, falham ao situar o trabalho antropológico,
tanto histórica quanto teoricamente, ou ao se envolverem com a maior parte dos trabalhos críticos
saídos da própria antropologia.
A experiência da imagem 2p.indd 169 14/09/2016 14:27:59
170 articuladas, por intermédio de breves estudos de casos de imagens específicas,
tomadas como declarações históricas, emolduradas por uma série de ensaios
teóricos e metodológicos. Embora não seja de todo sem problemas (agora,
sinto que alguns dos argumentos foram sobredeterminados pela maneira como
eu me referi logo acima), o livro, contudo, abriu uma gama de debates sobre
a história da imagem na antropologia, suas estratégias e sua relevância para as
preocupações antropológicas contemporâneas.
Conquanto profundamente informados pelos debates aqui mencionados, os
antropólogos que trabalham com a fotografia desafiaram, cada vez mais, as lei-
turas reducionistas e, muito frequentemente, presentistas; e, assim o fazendo,
exploraram as fotografias como “um lugar produtivo para repensar as formas
particulares de presença, incerteza e contingência que caracterizam tanto os re-
latos etnográficos quanto os relatos visuais do mundo” (POOLE, 2005, p. 159).
Inclusive, eles abordaram o assunto em questão como uma cultura de imagens
que, em si, poderia ser explorada antropologicamente, complicando as assime-
trias de poder, o processo de estereotipagem, objetificação e apropriação,17 para
“criar arenas totalmente novas de investigação” (SCHERER, 1995, p. 201).18
Uma preocupação adicional sobre as análises redutoras foi sua negação da
agência do Outro. Houve um sentido muito real no qual modelos homoge-
neizantes de relações de poder manifestas, apesar de reconhecerem nelas
tropos e formações ideológicas, não as desestabilizaram ou as deslocaram,
mas se limitaram a reproduzir essas mesmas relações de poder que preten-
diam criticar.19 O Outro, o sujeito da fotografia percebido como Objeto,
permaneceu impotente, passivo, sem voz, objetificado. Tal posição analítica
concedeu pouco espaço para uma voz indígena; sem dúvida, isso, pelo me-
nos por um momento, promoveu uma forma de política radical, além de ter
“desempoderado os povos tribais, que viam seus ancestrais nessas fotografias,
simplificando as específicas e, muito frequentemente, complexas relações
humanas, ou simplesmente encerrando a discussão” (DUBIN, 1999, p. 71).
Em meados da década de 1990, as abordagens foucaultianas à fotografia an-
tropológica estavam procurando, “de forma irremediavelmente pessimista,
uma visão do controle social total, na qual uma força misteriosa, o ‘poder’,
reinava absoluta” (BANKS, 2001, p. 112). Para contrariar tal abordagem, os
17
Ver Poignant (1992a; 1992b), Pinney (1997), Edwards (2001), Jacknis (1984) e Scherer (1988).
18
O significado desse afastamento é assinalado pela inclusão de uma resenha sobre o assunto, feita
por Scherer, na segunda edição de Principles of Visual Anthropology (HOCKINGS, 1995).
19
Ver, por exemplo, a crítica de Meike Bal (1996, pp. 195-96) a Corbey.
A experiência da imagem 2p.indd 170 14/09/2016 14:27:59
antropólogos se engajaram em uma crítica incisiva e em uma reavaliação que 171
Rastreando a fotografia
abarcava o potencial da nova reflexividade crítica e da multivocalidade, a fim
de escavar as complexas relações históricas a partir das quais foram constituídos
os encontros fotográficos (POOLE, 1997; PINNEY, 1997). Tais posições come-
çaram a emergir em Anthropology and Photography, especialmente nos ensaios
de Salmond (1992), Binney (1992) e Hamouda (1992), e no trabalho sobre as
respostas indígenas às fotografias, tais como Partial Recall (LIPPARD, 1992),
que apresentou uma série de leituras fotográficas dos nativos americanos.
Em particular, os anos 1980 e 1990 viram o amadurecimento de uma série
de etnografias. Apareceram estudos detalhados sobre os mundos de imagens
e trabalhos sobre antropólogos específicos, como, por exemplo, Boas (JACK-
NIS, 1984), Baldwin Spencer (WALKER & VANDERVAL, 1982),20 Mooney
(JACKNIS, 1992), Malinowski (YOUNG, 1998), Haddon e a expedição ao
Estreito de Torres (EDWARDS, 1998), e Mead e Bateson (JACKNIS, 1988;
SULLIVAN, 1992). Algumas expedições, tais como a de 1927, do Denver Afri-
can à Namíbia (GORDON, 1997), e a de Jesup North Pacific, de 1897-1902
(KENDALL et al., 1997), foram exploradas como entidades culturais. Houve,
também, alguns estudos regionais, tais como o Camera Indica, de Pinney (1997),
que explorou as continuidades, as contestações e o caráter onírico em torno
da fotografia na Índia; um exame de uma ampla série de imagens coloniais e
seus legados na Namíbia (HARTMANN et al., 1998); e uma análise detalhada
das complexas dinâmicas fotográficas transculturais entre missionários e elites
locais dos planaltos camaroneses (GEARY, 1988). Essas análises foram com-
plementadas por estudos das práticas institucionais e de coleta, de modo geral
(EDWARDS, 2001), e em instituições específicas, como o Peabody Museum,
em Havard (BANTA & HINSLEY, 1986), o Royal Anthropological Institute,
em Londres (POIGNANT, 1992a), e o Musée de L’Homme (DIAS, 1994).21
O que surgiu foi uma leitura mais complexa da dinâmica fotográfica em encon-
tros transculturais. O poder foi um elemento central, mas seu funcionamento
emergiu como algo discursivamente complexo. As fotografias foram tidas não
apenas enquanto instrumentos evidentes de vigilância, disciplina e controle
político, mas como lugares de interseção e contestação de histórias, intenções e
inscrições. Mesmo a produção das imagens mais manifestadamente opressivas, as
20
Uma nova edição, com o conteúdo analítico bastante prolongado, apareceu em Batty, Allen e Morton
(2005).
21
Grandes exposições, como From Site to Sight (BANTA & HINSLEY, 1986), Observers of Man
(POIGNANT, 1990) e Der Geraubte Schatten (THEYE, 1989), aumentaram a consciência crítica
do legado fotográfico antropológico.
A experiência da imagem 2p.indd 171 14/09/2016 14:27:59
172 fotografias antropométricas, revelou pontos de fratura e resistência, que funcionou
para restaurar a humanidade dos sujeitos (EDWARDS, 2001, pp. 144-47). Em
suma, a distância entre o espectador e o corpo objetificado, bem como a natureza
opressiva de tais práticas imagéticas, foi trazida para um foco ainda mais nítido.
Esses estudos constituíram uma base densa, crítica e teoricamente ponderada
das etnografias históricas que, de modo geral, abordaram a seguinte questão: “O
que a visão do projeto antropológico inspira no trabalho de indivíduos particu-
lares?” (GRIMSHAW, 2001, p. 7). Coletivamente, eles não apenas mapearam
os contextos da fotografia em detalhes, mas, antes disso, complexificaram os
modelos dominantes das relações de poder entre observador e observado, eu
e outro, sujeito e objeto, e, assim, as próprias problemáticas de transparência
e verdade, que tinham caracterizado muitos dos escritos pós-coloniais e pós-
-estruturalistas sobre fotografia.
Um modelo influente que surgiu a partir disso foi a “economia visual”, de
Deborah Poole, desenvolvida em relação às tradições imagéticas, suposições
e performances das fotografias dos e nos Andes peruanos. Poole argumentou,
nesse contexto, que as fotografias operavam em matrizes políticas, econômicas
e sociais que não eram redutíveis a códigos semióticos isolados; em vez disso,
era necessário considerar todo o padrão de sua produção, circulação, consu-
mo, posse e preservação, abrangendo, portanto, tanto os grandes modos de
produção quanto os microníveis de seus usos individuais (POOLE, 1997, pp.
9-13). Apesar de ainda trabalhar dentro de um amplo quadro foucaultiano,
das “práticas mundanas de inscrição, registro e inspeção” e suas “maquinarias
representacionais” (id., ibid., p. 15), o modelo apontou para a fluidez das
imagens e das relações sociais que lhes fornecem significado.
Tal abordagem estava ligada, de modo conceitual, aos trabalhos de cultura
material sobre a sociabilidade dos objetos, especialmente nas pesquisas de Ap-
padurai (1986) e Kopytoff (1986) acerca da biografia social dos objetos. Esses
estudos argumentaram que os objetos não poderiam ser entendidos como que
possuindo identidades e significados estáveis; em vez disso, eles assumiriam
e acumulariam significados na medida em que se movessem por diferentes
espaços interpretativos. Quaisquer que sejam suas limitações, esse modelo
revelou-se especialmente relevante para a fotografia, com seus múltiplos origi-
nais, suas variadas performances e seus significados instáveis e dependentes do
contexto. Por exemplo, Morton (2005) discute a transformação das fotografias
de Evans-Pritchard, do trabalho de campo até a publicação, complexificando
as ideias de relações de campo e autoridade. Embora esse modelo ressoe na
possibilidade de recodificação da imagem, ele também apresenta uma preocu-
A experiência da imagem 2p.indd 172 14/09/2016 14:27:59
pação com a possibilidade de significado gerado materialmente. O livro Camera 173
Rastreando a fotografia
Indica, de Pinney (1997), para citar mais um exemplo, seguiu a fotografia por
intermédio da interseção das paisagens culturais e históricas da Índia. Ligando
práticas históricas e contemporâneas, tanto em termos de continuidade quan-
to de contestação, ele argumenta sobre a transformação do meio fotográfico
através de três momentos históricos diferentes: o colonial, o estabelecimento
do moderno Estado-Nação da Índia, e as práticas cotidianas contemporâneas
de envolvimento imaginativo com a fotografia. Embora vindas de uma forte e
eclética base teórica, esses estudos gerais, de forma crescente, caracterizaram
a fotografia não como discurso abstrato, mas, sim, como algo situado no real,
como encontros constituídos materialmente entre pessoas no espaço e no tempo.
A densidade e, por vezes, a natureza praticamente paralisante do debate sobre
as políticas de representação e o status simbólico da fotografia nas relações
transculturais, pode-se argumentar, permitiram elaborar uma contribuição
substancial ao pensamento teórico dentro da antropologia. A emergência de
políticas reconfiguradas do conhecimento, que afetaram o relacionamento
entre antropologia e fotografia, é parte de um deslocamento mais amplo na
produção do conhecimento, que é “simultaneamente colaborativo, crítico
e intervencionista” (id., 2005, p. 170). A maneira pela qual as fotografias
tornaram-se lugares verdadeiramente reais de contestação e símbolos do
enorme vazio nas relações de poder, do controle da história e da voz, e, assim,
do poder no mundo – particularmente entre os povos subjugados pelo colo-
nialismo –, é registro de que suas significações vão além daquelas meramente
representacionais. As respostas antropológicas a isso constituem alguns dos
mais importantes trabalhos recentes em antropologia visual.
Reexperienciando e reposicionando
Tendo isso em consideração, meu terceiro instantâneo trata de duas das ver-
tentes contemporâneas que têm suas raízes nos debates acima discutidos. Em
primeiro lugar, eu olho para a reconfiguração das questões e metodologias
que, novamente, engajaram-se com os repertórios históricos da antropologia
e fizeram deles o foco da pesquisa de campo contemporânea.22 Em segundo
lugar, exploro a etnografia da prática fotográfica da forma como ela emergiu
nos últimos tempos dentro da antropologia visual. Nesse sentido, os dois eixos
22
É importante notar, aqui, que a pesquisa colocou juntos, de forma cada vez mais forte, o arquivo
e o trabalho de campo. Ver, por exemplo Pinney (1997), Wright (2004), Bell (2004) e Geismar
(2010).
A experiência da imagem 2p.indd 173 14/09/2016 14:27:59
174 estão ligados conceitualmente e não estão, tão e somente, preocupados com a
questão da voz e da agência; pelo contrário, ambos abordam os usos específicos
em termos culturais da fotografia no cotidiano.
Primeiramente, considerarei a reavaliação das práticas coloniais, das relações
transculturais e das múltiplas agências, como elas ocorrem através das fotos
e da fotografia (meio). Em análises detalhadas de encontros transculturais,
alguns dos acervos visuais da história da antropologia começam a tomar um
caráter diferente (figura 4).
Figura 4. Membros da expedição de Cambridge ao Estreito de Torres. Reprodução com permissão da
University of Cambridge, Museum of Archaeology and Anthropology (N.23035.ACH2).
Mesmo que haja um perigo de que a sobrevalorização simplista dessa abordagem
suprima as assimetrias reais das relações de poder e o poder de interpretação
e representação, por outro lado, os enquadramentos intelectuais e políticos de
tais pesquisas tencionam a multivalência da fotografia e as histórias inscritas
dentro delas. Poignant, por exemplo, demonstrou como, mesmo em situa-
ções de apropriação política e de controle econômico, o arranjo dos sujeitos
aborígenes em um grupo fotografado, aproximadamente em 1880, tirada para
divulgar um espetáculo musical, reflete suas relações de parentesco, e não uma
ordem imposta pelo fotógrafo (POIGNANT, 1992a, p. 58). Scherer (2006),
A experiência da imagem 2p.indd 174 14/09/2016 14:27:59
por sua vez, explorou as relações transculturais de um estúdio fotográfico em 175
Rastreando a fotografia
Idaho, que era frequentado por pessoas da reserva local, Shoshone-Bannock,
em Fort Hall.
Ainda que as imagens resultantes possam ser lidas como estereótipos e tenham
sido utilizadas como tais, elas logram revelar a extensão na qual o ativo comissio-
namento das imagens foi essencial para a negociação das identidades indígenas
locais. Lyndon, examinando as imagens da estação de Coranderrk, em Victoria,
na Austrália, demonstra a forma pela qual, através de um entendimento do
papel das imagens na sociedade colonial, os povos aborígenes tentaram exercer
influência sobre a prática representacional dentro das relações complexas e
cambiantes da situação colonial (LYNDON, 2005). O que todos esses estudos
demonstram é a possibilidade de escavar os espaços dialógicos da fotografia e,
assim, complexificar a visão das relações transculturais, da agência indígena e
da própria densidade da inscrição fotográfica.
Grande parte desses trabalhos está, agora, acontecendo de forma colaborativa
e vem envolvendo tanto o recomprometimento com o material histórico em
situações contemporâneas como a produção de novos materiais em projetos
colaborativos e comunitários.23 É importante ressaltar, aqui, que as comunidades
indígenas têm se reapropriado, reengajado e, mais efetivamente, reassumido
a autoria das fotografias antropológicas, à medida que as fotografias em si
mesmas têm se tornado sintoma e símbolo do desejo dos povos de controlar
suas próprias histórias e seus próprios destinos:24
Era um lindo dia quando as escamas caíram dos meus olhos e eu, pela primeira vez,
encontrei a soberania fotográfica. Um lindo dia quando eu decidi que eu mesma
tomaria a responsabilidade de reinterpretar as imagens dos povos nativos. Minha
mente estava pronta, preenchida com histórias de sobrevivência. Minhas visões
acerca dessas imagens eram originalmente baseadas – uma perspectiva indígena –,
não em uma ordem divinamente científica, mas sim em uma ordem filosoficamente
nativa. (TSINHNAHJINNIE, 1998, p. 42)
“Soberania fotográfica” é um conceito que tem sido desenvolvido, de maneira
especial, no contexto nativo norte-americano, para definir o direito de recla-
mar fotografias e de contar sua própria história (RICKARD, 1995; TSINH-
NAHJINNIE, 1998). São nesses contextos que a inclusividade aleatória da
fotografia e sua recodificabilidade fornecem rotas alternativas para produzir
23
Ver Hubbard (1994), Rhode (1998) e Kratz (2002).
24
Ver Harlan (1995; 1998), Rickard (1995), Tsinhnahjinnie (1998), Hill (1998), Vizenor (1998),
Chaat Smith (1992), Aird (1993; 2003).
A experiência da imagem 2p.indd 175 14/09/2016 14:28:00
176 significados. Reapropriação e recompromentimento visual são questões que
tratam, em muitos aspectos, de encontrar um presente para as fotografias
históricas, percebendo seus “potenciais para semear uma série de narrati-
vas” (POIGNANT, 1994-95, p. 55) e, desse modo, conceder sentido a esse
passado, satisfazendo as necessidades do presente. Como Binney e Chaplin
(1991) demonstraram, ao escrever sobre a resposta às imagens na comunidade
Tuhoe Maori, em Urewera, as fotografias confirmaram e deram coerência a
uma realidade que fora vivida a partir de uma experiência individual, mas que
tinha sido suprimida da historiografia colonial, o que permitiu, por conseguinte,
a articulação ativa dessas histórias.
Dessa maneira, “olhar o passado” colonial e a superfície científica da fotografia
pode permitir a articulação de múltiplos passados (PINNEY & PETERSON,
2003, pp. 4-5; AIRD, 2003, p. 25). “O aspecto desumanizador do retrato
fotográfico como mero inventário é prejudicado pela irredutível presença de
um eu” (LIPPARD, 1992, p. 16). As fotografias que começaram como docu-
mentos antropológicos ou coloniais tornam-se histórias de famílias ou de clãs.
Por mais dolorosas que essas histórias possam ser,
[as] imagens planejadas para se referirem a questões de raça e de aculturação, com
todas as implicações de controle colonial que esses interesses possuem, poderiam
ser usadas, hoje, para abordar não apenas a natureza da história revisionista, mas
também a necessidade de [...] articular para si mesmos suas experiências do passado
e, em última instância, para falar com seus filhos sobre a força de sua comunidade.
(BROWN & PEERS, 2006, pp. 5-6)
O termo “repatriamento visual” tem sido cada vez mais usado para tais agendas
colaborativas e restitutivas envolvendo antropólogos (FIENUP-RIORDAN,
1998; BROWN & PEERS, 2006, pp. 101-03). Talvez o trabalho mais completo,
até o momento, seja o de Brown e Peers (2006), que trabalharam com a nação
Kanai (em Alberta, no Canadá), para facilitar o acesso e o recomprometimento
histórico com as fotografias tiradas pela antropóloga Beatrice Blackwood na
década de 1920. O projeto foi criado como uma colaboração com um amplo
leque de pessoas, de anciãos tribais a crianças em idade escolar, em que os
antropólogos trabalharam sob a orientação da comunidade e visando seus ob-
jetivos, “reorientando seu trabalho para facilitar e permitir a participação da
comunidade na concepção da pesquisa e no processo de investigação em si”
(BROWN & PEERS, 2006, p. 101).
Embora tais relações de pesquisa, cada vez mais, caracterizem o trabalho an-
tropológico, elas tomam a relação entre antropologia e fotografia além daquela
A experiência da imagem 2p.indd 176 14/09/2016 14:28:00
meramente reflexiva, pensando-a, inclusive, a partir de uma nova ordem cola- 177
Rastreando a fotografia
borativa. Isso tem implicações metodológicas substanciais, não apenas no que
tange à remodelação da negociação do acesso ao campo e do estabelecimento
de protocolos conjuntos de pesquisa, mas, também, no que se refere à antro-
pologia visual, reconfigurando a ideia de foto-elicitação,25 por exemplo. Collier,
em sua clássica consideração metodológica, reconheceu uma qualidade dialógica
no encontro fotográfico – isso proporcionou uma “sensação gratificante de au-
toexpressão” (COLLIER, 1967, p. 48). Entretanto, isso foi constituído como
um fluxo unidirecional de informação, do sujeito ao etnógrafo, com o objetivo
de reforçar a compreensão do último.26 Refigurado, o processo de “elicitação”
constitui uma mudança nas relações de poder e na autoridade antropológica, em
que o antropólogo se afasta dos significados fotográficos, no sentido da tradição
forense ou mesmo da estrutura semiótica. O foco antropológico se torna, em
vez disso, a maneira pela qual as fotografias assumem suas próprias dinâmicas de
sociabilidade dentro das comunidades. Como Niessen argumentou, tal posição
também desafia a autoridade etnográfica – do mesmo modo que discuti no pri-
meiro instantâneo –, pois a expectativa de controle fotográfico “é um aspecto da
nossa própria mitologia sobre quem somos em relação ao ‘outro’. As fotografias
não perpetuam esse relacionamento, mas são manipuladas a seu serviço e, assim
o fazendo, agem como uma extensão da autoridade etnográfica” (NIESSEN,
1991, p. 429). Inversamente, trabalhar com a sociabilidade das fotos levantou
questões sobre a fotografia enquanto fonte histórica ou cultural dentro de um
ambiente de interseção de formas e tradições históricas. Qual é, por exemplo, a
ligação entre o visual e o oral? Qual é o papel das fotografias no processo através
do qual a história, a memória e a identidade são reproduzidas e transmitidas?
Porém, essas não são práticas incontestes. Elas constituem contextos com-
plicados e, às vezes, contraditórios nas comunidades, como narrativas que se
flexionam, por exemplo, de acordo com questões de idade, gênero ou linha-
gem, tecidas com e em torno das fotos. Como notou Niessen, o fato de usar
fotografias de museus têxteis em foto-elicitação, em Sumatra, trouxe para o
foco as relações de gênero presentes nas narrativas (id., ibid., p. 421), bem
como as tensões entre a comunidade e o antropólogo. De forma similar, Bell
(2004, p. 115) e Poignant (1992b, p. 73) narraram o modo como as fotografias
25
Foto-elicitação é um método qualitativo e colaborativo que permite maior proximidade entre os
envolvidos no trabalho de campo, pois compreende que a fotografia possui uma história e se relaciona
com contextos e sujeitos. Trata-se da capacidade de utilizar imagens, sobretudo em entrevistas, como
mecanismo evocativo de informações, descrições, significados, comentários, posições, memórias,
representações etc. [N. T].
26
Ver Edwards (2004, pp. 87-88).
A experiência da imagem 2p.indd 177 14/09/2016 14:28:00
178 se tornaram absorvidas e controladas por estruturas sociais locais, refletindo o
direito de “contar histórias”.
Ainda assim, em tais casos, é precisamente a forma de tais dinâmicas sociais
e o fluxo de imagens dentro dessas dinâmicas que são antropologicamente
reveladoras. Essa virada reflexiva, bem como as questões de voz e as políticas
das práticas representacionais também tiveram um impacto na prática do
trabalho de campo, especialmente em relação à ética das imagens. Questões
éticas são centrais não somente na produção de imagens – em torno de ideias
culturalmente específicas de espaço privado e público, por exemplo (MI-
CHAELS, 1991; KRATZ, 2002; GROSS et al., 1988; 2003) –, mas, sobretudo,
nas práticas institucionais em torno das próprias imagens. A percepção de que
as fotografias de família de muitos povos estão, efetivamente, trancadas em
instituições antropológicas (DUBIN, 1999, p. 72) teve um impacto profun-
do nas práticas sobre a propriedade das imagens e o acesso a elas, bem como
em relação aos direitos em relação ao conhecimento e em relação às ideias
de evidência e valor (HOLMAN, 1996; POWERS, 1996; ISAAC, 2007;
PETERSON, 2003; BROWN, 2003; EDWARDS, 2004). Esse processo,
talvez, tenha sido mais acentuado na América do Norte e na Austrália, onde
indígenas e povos tradicionalmente “objetos” da antropologia reclamaram as
imagens do passado antropológico como sua própria história e exigiram uma
voz institucional sob seu controle, gestão e disseminação. As imagens que os
antropólogos, quarenta anos atrás, teriam se arrogado o direito de usar com
impunidade para demonstrar sua etnografia são, agora, restritas, requerendo
negociação e permissão das comunidades envolvidas, tendo em vista que elas
próprias reivindicam o conhecimento cultural inscrito nas fotografias (PETER-
SON, 2003). Por exemplo, os Hopi “sentem que eles têm que adotar uma
posição política contra a fotografia” para proteger sua privacidade (FREDE-
RICKS apud LIPPARD, 1992, p. 22), mas, também, como uma posição local,
expressando sua preocupação sobre a disposição mais ampla do patrimônio
cultural (BROWN, 2003, p. 15).
O projeto de Brown e Peers (2006, pp. 175-94), por exemplo, exigiu uma
mudança nas políticas do museu, para permitir que o povo Kaiani usasse as
imagens deles coletadas livre de encargos legais. Na Nova Zelândia, em 2001,
um grupo de ativistas Maori bloqueou a venda de trezentas fotografias raras do
século XIX, do povo Maori, reivindicando-as como taonga (tesouro cultural).
Suas preocupações não eram, simplesmente, com as imagens, mas, sim, com
o mauri (a força vital) materialmente investida dentro do traço fotográfico,
que, por sua vez, estava ameaçado de se dissipar pelo uso e reprodução das
fotografias (DUDDING, 2003).
A experiência da imagem 2p.indd 178 14/09/2016 14:28:00
Na Austrália, as reparações para as chamadas Gerações Roubadas27 incluí- 179
Rastreando a fotografia
ram uma mudança radical na acessibilidade dos arquivos e, ademais, nas
maneiras pelas quais as fotografias antropológicas podem ser manejadas,
tanto pelos povos indígenas quanto pelos antropólogos (FOURMILE, 1990;
SMALLACOMBE, 1999; PETERSON, 2003; STANTON, 2004). Essas mu-
danças respondem não apenas às sensibilidades dos povos aborígenes sobre
o acesso às suas próprias imagens, mas aos debates em torno da fotografia,
vista enquanto uma ferramenta para fundamentar e comunicar reivindica-
ções culturais sobre determinados assuntos, tais como os direitos à terra, à
habitação e à educação, bem como para reviver e manter práticas culturais
(STANTON, 2004, p. 150).
Isso nos leva ao meu segundo eixo: a etnografia das práticas fotográficas. Se o
engajamento com a imagem histórica repensada sugere que as circunscrições
teóricas ocidentais da história visual são demasiadamente estreitas para aco-
modar o que está realmente emergindo nos estudos de campo, as etnografias
das práticas fotográficas em relação às imagens produzidas pelos e para os
povos do Quênia, Peru ou Malásia, por exemplo, estão apontando para um
caminho semelhante. O volume Photography’s Other Histories, de Pinney e
Peterson (2003), como o título mesmo sugere, tenta deslocar o debate críti-
co sobre fotografia para longe do modelo euro-americano dominante e, com
isso, olhar como a compreensão das práticas fotográficas em outros espaços
culturais pode iluminar e reequilibrar o entendimento do meio. O livro inclui
ensaios sobre práticas fotográficas e memorialísticas, escritos por Dreissens
e Aird, e uma reimpressão do artigo fundacional de Sprague, de 1978, “How
the Yoruba See Themselves”. Embora ainda esteja entrincheirado em meio
a dois enquadramentos fundamentais das análises ocidentais, o “vernacular”
(em relação ao quê?, alguém poderia perguntar) e o “moderno”, o livro revela
como são profundamente etnocêntricos os cânones da teoria fotográfica e seus
tropos clássicos – que, aliás, foram bastante influentes nas décadas de 1970 e
1980. O livro busca argumentar, ainda, que as práticas fotográficas globais e
locais foram, necessariamente, entendidas em termos de modelos simplistas
de absorção de uma tecnologia, defendendo, em contrapartida, um entendi-
mento que abrange não apenas as articulações culturalmente específicas da
natureza da fotografia, mas, sobretudo, suas conexões com as especificidades
da emoção, da imaginação, da história e da política.
27
“Gerações Roubadas” é um termo usado para descrever os filhos e as filhas de aborígenes aus-
tralianos e descendentes das Ilhas do Estreito de Torres que foram roubados de suas famílias pela
federação australiana, agências públicas, instituições nacionais e pela igreja. Os sequestros ocorreram
no período de mais de um século, sobretudo entre 1869 e 1970 [N. T.].
A experiência da imagem 2p.indd 179 14/09/2016 14:28:00
180 A discussão levanta questões sobre a natureza do traço indiciário e, por exem-
plo, sobre intervenção material e práticas aditivas na superfície da imagem no
que tange aos conceitos de representação realista na Índia (PINNEY, 1997;
2004). Tal debate traz, ainda, questões sobre as relações da fotografia com
outras práticas culturais, tais como o estúdio fotográfico gambiano, que se
relaciona diretamente com o discurso estético da superfície social e, mais
particularmente, com a modelagem e a alfaiataria, especialmente o corte,
dessa superfície: “o som do obturador fazendo suas fatias soa [...] como o corte
das tesouras, talhando as pessoas, deixando claras suas bordas e tornando-as,
elas mesmas, instrumentos cortantes. As câmeras, na Gâmbia, são tesouras
que fazem ver” (BUCKLEY, 2000-01, p. 72).
Há estudos que pautaram as relações entre identidades migrantes e o mundo
efêmero do estúdio fotográfico na zona portuária de Mombassa, no Quênia
(BEHREND, 2000); sobre a classe média senegalesa (MUSTAFA, 2002); a
diáspora indiana de Fiji (CHANDRA, 2000); os álbuns de memórias das ví-
timas de aids, em Uganda (VOKES, 2008); sobre fotografia, materialidade e
ancestralidade coevas, em Papua-Nova Guiné (HALVAKSZ, 2008); ou, nesse
mesmo país, sobre a fotografia e a cultura disco (HIRSCH, 2004). Outros es-
tudos olharam, mais especificamente, para a interpenetração entre fotografia,
materialidade e memória nas Ilhas Salomão, na Melanésia (WRIGHT, 2004);
ou para o uso de fotografias históricas e contemporâneas nas comunidades
aborígenes da Austrália (POIGNANT, 1992b, 1996; MACDONALD, 2003;
SMITH, 2003). A revista Visual Anthropology dedicou um número inteiro
às práticas de estúdio na África, incluindo alguns estudos de caso na Costa
do Marfim, Gana e Uganda (BEHREND & WERNER, 2001); outro número
foi dedicado às mudanças nas práticas fotográficas de casamentos no sudeste
asiático (CHEUNG, 2005); e, ainda, uma outra edição buscou explorar as
práticas inter-relacionadas e afetivas da fotografia e do espírito transcultural
(SMITHS & VOKES, 2008).28
O que essas tão detalhadas etnografias das práticas fotográficas têm em
comum é uma explicação das práticas fotográficas locais, das expectativas
sociais específicas em relação ao meio e da exploração das categorias estéticas
e sociais indígenas geradas em e por eles mesmos – algo que não pode ser
28
Existem três filmes etnográficos notáveis sobre práticas sociais da fotografia: Photowallahs (1991),
de David MacDougall, que explora as diversas camadas do engajamento fotográfico em uma cidade
montanhosa no norte da Índia (MacDougall, 1992b); Future Remembrance (1998), de Tobias Wendl
e Nancy de Plessis, que examina a prática de estúdio fotográfico em Gana, em relação a outras
práticas gráficas de memorialização; e The Art of Regret (2006), de Judith MacDougall, que se
concentra em práticas fotográficas na China.
A experiência da imagem 2p.indd 180 14/09/2016 14:28:00
reduzido a uma imitação das práticas ocidentais ou a uma absorção assimé- 181
Rastreando a fotografia
trica das tecnologias ocidentais. Mesmo que as funções sociais imputadas
às fotografias possam ser similares na maior parte do mundo – expressão,
identidade, rememoração –, as premissas culturais sob as quais essas funções
são construídas são bastante diferentes. Elas requerem um novo conjunto
de ferramentas analíticas e conceituais para libertar o pensamento fotográ-
fico das demandas do cânone ocidental e, concomitantemente, permitir às
práticas suas próprias identidades. Elas levantam questões sobre o que a
fotografia – considerada como imagem e como objeto material – realmente
é, desafiando pressupostos sobre a natureza do realismo, a percepção do valor
da indicialidade, da autoria, da pose e do “retrato”; o papel das fotografias na
negociação de identidades e na apresentação do eu para a câmera; os efeitos
materiais das fotografias; e, por fim, as expectativas sociais em relação ao
meio e os tipos de relações com o passado que as fotografias sustentam –
preocupações essas que não podem, necessariamente, serem acomodadas
dentro de uma configuração benjaminiana de fotografia/passado/memória
(POIGNANT, 1992b; WRIGHT, 2007).
Uma importante vertente dessas reformulações encontra-se na recente
emergência de uma abordagem mais material e sensorial utilizada para pen-
sar a fotografia na antropologia – uma virada fenomenológica que privilegia
o experiencial, no lugar do semiótico (PINNEY, 2004; WRIGHT, 2004;
EDWARDS, 2006). Por exemplo, trabalhando com fotografias em uma
comunidade aborígene em Queensland, Smith argumentou que, através de
sua indicialidade e de sua reprodutibilidade, as fotografias podem aparecer
como “objetos distribuídos” que, por sua vez, são passíveis de serem vis-
tos como iniciadores e agentes de relações sociais. As fotografias são uma
forma de personalidade estendida e, por isso, elas constituem uma soma
de relações ao longo do tempo. Nesse sentido, “o efeito das imagens não é
simplesmente simbólico ou o resultado de relações sociais”; antes disso, as
imagens “podem, elas mesmas, imitar e agir nas relações sociais” (SMITH,
2003, p. 11). Mesmo que a especificidade de tais relações seja profundamente
cultural, o argumento de Smith parece indicativo de um vasto padrão que
está surgindo em meio a etnografias detalhadas.
Também preocupado com a materialidade e o “afeto”, Pinney (2001, p. 158)
cunhou o termo “corpothetics” para se referir ao “abraço sensorial de imagens,
o engajamento corporal que a maioria das pessoas [...] tem com obras de
arte”. Sua intenção é oferecer “uma crítica às abordagens mais convencio-
nais da estética e defender uma noção de corpothetics – isto é, uma estética
corporal incorporada –, em oposição à representação ‘desinteressada’ que
A experiência da imagem 2p.indd 181 14/09/2016 14:28:00
182 sobrerracionaliza e textualiza a imagem” (PINNEY, 2004, p. 8). Todavia, seu
argumento pode, também, funcionar como uma crítica a uma abordagem
regida, unicamente, pela semiótica visual ou por determinantes tecnológicos
da fotografia ou do filme – uma abordagem que separa a antropologia visual de
seus correlatos, como os estudos de cultura material e a antropologia dos sen-
tidos. Tais ideias estão tendo um profundo impacto na forma como os an-
tropólogos escrevem sobre sistemas visuais e sobre fotografia. Por exemplo,
Harris (2004) demonstrou as maneiras pelas quais o engajamento corporal
com as fotografias, no Tibete, é usado enquanto modo de resistência política
sob o domínio chinês. Buckley (2006, p. 62), por sua vez, explorou a relação
entre corpo e fotografia, não em termos do olhar e da vigilância, mas como
forma de envolvimento, um sentido visceral do ser “acariciado” e um senti-
do de “elegância”, que podem ser ligados às identidades políticas e civis no
moderno Estado-Nação da Gâmbia.
A atenção antropológica dada aos diferentes parâmetros culturais de pro-
dução e do uso das fotografias tem revelado, novamente, a inadequação dos
modelos ocidentais dominantes de análise fotográfica, com sua ênfase em
estruturas semióticas e sua tradução linguística (PINNEY, 2001; EDWARDS,
2006; WRIGHT, 2007). Essas novas abordagens críticas emergem, é preciso
ressaltar, não somente das preocupações com o “ocularcentrismo” que têm
assombrado a disciplina antropológica, mas, sobretudo, de um sentido cada
vez mais densamente articulado, procedente dos estudos de cultura material,
que percebe que – mesmo como uma compreensão antropologicamente cons-
ciente das amplas práticas fotográficas – o significado fotográfico não pode,
necessariamente, ser explicado tão e somente pelo do visual.
Uma conclusão preliminar
Os exemplos citados ao longo deste texto – e há muitos outros – explicitam
uma reivindicação que fiz no início deste ensaio, a saber: o trabalho com fo-
tografias está se tornando um percurso frutífero por meio do qual se torna
possível explorar outras áreas das preocupações teóricas da disciplina. Com
efeito, pode-se dizer, isso está contribuindo de forma substantiva e consciente
à produção do conhecimento antropológico, de uma maneira que, talvez, não
tenha sido experimentado desde as certezas positivistas do final do século
XIX. O potencial para uma teoria expandida da fotografia, capaz de alargar ou,
até mesmo, desestabilizar o cânone teórico e, ao mesmo tempo, conectar-se
com grandes preocupações antropológicas – como as questões de memória,
A experiência da imagem 2p.indd 182 14/09/2016 14:28:00
identidade, etnicidade, nacionalismo e globalização –, é uma das possibilidades 183
Rastreando a fotografia
mais excitantes da antropologia visual hoje.
Isso não deve ser lido como progresso triunfalista em direção a uma leitura ilu-
minada das imagens, uma marcha em direção a algum tipo de nirvana represen-
tacional ou, ainda, um desdobramento teleológico do método da antropologia
visual. Elementos da prática moderna com fotografias – o compartilhamento
de imagens, as colaborações entre antropólogos e populações locais, o uso da
fotografia no estabelecimento de relações sociais no campo –29 eram evidentes
já no final do século XIX, da mesma forma como ainda permanecem alguns
traços de atitudes do século XIX nas estruturas institucionais atuais. Além
disso, em muitos aspectos, ainda que a publicação de fotografias como parte
integrante da análise etnográfica permaneça mais limitada do que deveria, os
trabalhos sobre fotografia estão se tornando mais difusos e dispersos no campo
antropológico, e não parecem mais estarem confinados dentro da antropologia
visual. Na verdade, esses trabalhos estão se tornando uma vertente teórica e
metodológica, ou um elemento da prática social, informando e sendo infor-
mados por uma etnografia mais ampliada.
Encontra-se, por exemplo, o uso da fotografia para escavar as relações entre
colonialistas holandeses e serventes locais nas Índias Holandesas (STOLER &
STRASSLER, 2000); uma análise forense detalhada de fotografias missionárias
como parte de um estudo dos rituais de mudança no Nordeste de Camarões
(FARDON, 2006); e uma análise fenomenológica radical das fotografias em um
culto de meditação budista sobre a decadência corporal na Tailândia (KLIMA,
2002). Esses trabalhos indicam não uma desintegração do foco da fotografia no
interior da antropologia visual; muito pelo contrário, assinalam sua centralida-
de enquanto um prisma teórico e discursivo. É a quase onipresença das fotos
e da fotografia – seu alcance global, sua circulação massiva, sua explosão dentro
da visualidade corriqueira da era digital e, ainda, suas qualidades banais, quietas e,
em grande medida, despercebidas, em termos de experiências cotidianas e de
práticas materiais – que fazem das imagens algo tão potente enquanto foco
de investigação antropológica (SPYER, 2001, p. 181).
Ademais, mesmo que novas ênfases políticas possam surgir de modo a des-
tacar diferentes leituras das fotografias e focos dinâmicos diferenciados na
antropologia, a problemática da incontrolável energia semiótica e das relações
de poder institucionalizadas que incorporam as fotografias e seus acervos
29
Por exemplo, as complexas relações sociais transculturais da fotografia na expedição de Cambridge
ao Estreito de Torres, em 1898. Ver Edwards (1998).
A experiência da imagem 2p.indd 183 14/09/2016 14:28:00
184 históricos continua sendo um espaço contestado. O deslocamento que apre-
sentei neste texto – em vez de se constituir como uma mudança absoluta ou
irreversível de paradigma, no sentido kuhniano do termo – deve ser lido como
uma abertura de camadas de significados, processo esse que, certamente,
continuará ocorrendo. As fotografias sempre serão usadas, com grande efeito,
como registros de campo, como lugares de interação social transcultural, como
fontes para análises, como objetos de estudo e como sistemas visuais e sensoriais
que levantam problemas antropológicos fundamentais. Entretanto, as fotos e
a fotografia também seguirão sendo problemáticas dentro da antropologia. De
muitas maneiras, é precisamente por esse motivo que elas podem contribuir
de forma substancial para o debate. Talvez, elas sejam a areia na ostra antro-
pológica – elas se tornam uma metáfora de todo um projeto, exprimindo a
confusão e criatividade fluídas, dinâmicas e imprevisíveis das relações humanas.
Bibliografia
AIRD, Michael. Portraits of Our Elders. Brisbane: Queensland Museum, 1993.
_____. “Growing Up with Aborigenes”. In: PINNEY, Christopher & PETERSON, Nicolas. Photography’s
Other Histories. Durham: Duke University Press, 2003.
ALLOULA, Malek. The Colonial Harem. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986.
APPADURAI, Arjun. The Social Life of Things: Commodities and Cultural Perspective. Cambridge:
Cambridge University Press, 1986.
BAL, Meike. “A Postcard from the Edge”. In: Double Exposure: The Subject of Cultural Analyses.
Nova York: Routledge, 1996.
BANKS, Marcus. Visual Methods in Social Research. Londres: Sage, 2001.
BANTA, Melissa & HINSLEY, Curts. From Site to Sight: Anthropology, Photography and the Power of
Images. Cambridge: Peabody Museum Press, 1986.
BARTHES, Roland. Image Music Text. Londres: Fontana, 1977.
_____. Camera Lucida. Londres: Fontana, 1984.
BATESON, Gregory & MEAD, Margareth. Balinese Character: A Photographic Analyses. Nova York:
Academia de Ciências de Nova York, 1942.
BATTY, Philip et al. (orgs.). The Photographs of Baldwin Spencer. Melbourne: Miegunyah Press/
Museum Victoria, 2005.
BECKER, Howard. Exploring Societies Photographically. Evanston: Block Gallery, Northwestern
University, 1981.
BEHREND, Heike. “Feeling Global: The Likoni Ferri Photographers in Mombassa”. African Arts, v.
33, n. 3, pp.70-77. 2000.
_____ & WERNER, Jean-François (orgs.). “Photographies and Modernities in Africa”. Visual Anthro-
pology, v. 14, n. 3. 2001.
BELL, Joshua A. “Looking to See: Reflecting on Visual Repatriation in the Purari Delta, Papua New
Guinea”. In: BROWN, Alison & PEERS, Laura (orgs.). Museums and Source Communities. Lon-
dres: Routledge, 2004.
A experiência da imagem 2p.indd 184 14/09/2016 14:28:00
BINNEY, Judith. “Two Maori Portraits: Adoption of the Medium”. In: EDWARDS, Elizabeth (org.). 185
Rastreando a fotografia
Anthropology and Photography, 1860-1920. New Haven: Yale University Press, 1992.
_____ & CHAPLIN, Elizabeth. “Taking the Photographs Home: The Recovery of a Maori History”.
Visual Anthropology, v. 4, n. 4, pp. 341-442. 1991.
BLANCHARD, Pascal et al. L’Autre et nous: “scenes et types”. Paris: ACHAS, 1995.
BROWN, Alison & PEERS, Laura. Pictures Bring Us Messages. Toronto: University of Toronto Press,
2006.
BROWN, Michael F. Who Owns Native Culture? Cambridge: Harvard University Press, 2003.
BUCKLEY, Liam. “Self and Accessory in Gambian Studio Photography”. Visual Anthropology Review,
v., 16, n. 2, pp. 71-91. 2000-01.
_____. “Studio Photography and the Aesthetics of Citizenship in the Gambia, West Africa”. In:
EDWARDS, Elizabeth et al. (orgs.). Sensible Objects: Colonialism, Museums and Material Culture.
Oxford: Berg, 2006.
BURGIN, Victor (org.). Thinking Photography. Basingstoke: MacMillan, 1986.
CALDAROLA, Victor. “Imaging Process as Ethnographic Inquiry”. Visual Anthropology, v. 1, n. 4,
pp. 433-51. 1998.
CHAAT, Smith. “Every Picture Tells a Story”. In: LIPPARD, Lucy (org.). Partial Recall. Nova York:
New Press, 1992.
CHANDRA, Mohini. “Pacific Album: Vernacular Photography in the Fiji Indian Diaspora”. History
of Photography, n. 3, pp.236-42. 2000.
CHEUNG, Sidney (org.). “Wedding Photography in South East Asia. Special Issue. Visual Anthro-
pology, v. 19, n. 1, 2005.
CLIFFORD, James. The Predicament of Culture. Cambridge: Harvard University Press, 1988.
COLLIER, John. Visual Anthropology: Photography as a Research Method. Nova York: Rolt, Rine Hart
and Winston, 1967.
CORBEY, Raymond. “The Colonial Nude”. Critique of Anthropology, v. 8, n. 3, pp. 75-92. 1988.
DANFORTH, Loring & TSIARAS, Alexander. The Death Rituals of Rural Greece. Princeton: Princeton
University Press, 1982.
DASTON, Lorraine & GALISON, Peter. “The Image of Objectivity”. Representations, n. 40, pp.
81-128. 1992.
DIAS, Nelia. “Photographier et Mesurer: les Portraits Anthropologiques”. Romantisme, n. 84, pp.
37-49. 1994.
_____. “Images et savoir anthropologique au XIXe siècle”. Gradhiva, n. 22, pp. 87-97. 1997.
DUBIN, Margaret. “Native American Image Making and the Spurious Canon of the “Of-and-the-by”.
Visual Anthropology Review, v. 15, n. 1, pp. 70-74. 1999.
DUDDING, Jocelyne. “Photographs of Maori as Cultural Artifacts and Their Positioning within the
Museum”. Journal of Museum Ethnography, n. 15, pp. 8-18. 2003.
EDWARDS, Elizabeth. “Science Visualized: E. H. Man in the Andaman Islands”. In: Anthropology
and Photography, 1860-1920. New Haven: Yale University Press; Londres: Royal Anthropological
Institute, pp. 108-21, 1992.
_____. “Beyond the Boundary: a Consideration of the Expressive in Photography and Anthropology”.
In: BANKS, Marcus & Morphy Howard (orgs.). Rethinking Visual Anthropology. New Haven: Yale
University Press, 1997.
_____. “Performing Science: Still Photography and the Torres Strait Expedition”. In: HERLE, Anita
& ROUSE, Sandra (orgs.). Cambridge and the Torres Strait: Centenary Essays on the 1898 An-
thropological Expedition. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
A experiência da imagem 2p.indd 185 14/09/2016 14:28:00
186 _____. Raw Histories: Photographs, Anthropology and Museums. Oxford: Berg, 2001.
_____. “Talking Visual Histories”. In: PEERS, Laura & BROWN, Alison (orgs.). Museums and Source
Communities. Londres: Routledge, pp. 83-99, 2004.
_____. “Photographs and the Sound of History”. Visual Anthropology Review, v. 21, n. 1-2, pp. 27-
46, 2006.
EDWARDS, Steve. Photography: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2006.
EVANS-PRITCHARD, Edward E. Witchcraft, Oracles and Magic Amongst the Azande. Oxford:
Clarendon Press, 1937.
FABIAN, Johannes. Time and the Other: How Anthropology Makes Its Object. Nova York: Columbia
University Press, 1983.
FARDON, Richard. Lela in Bali: History Through Ceremony in Cameroon. Nova York/ Oxford:
Berghahn, 2006.
FARIS, James. The Navajo and Photography: A Critical History of the Representation of an American
People. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1996.
FIENUP-RIORDAN, Ann. “Yup’ik Elders in Museums: Fieldwork Turned on its Head”. Arctic An-
thropology, v. 35, n. 2, pp. 49-58. 1998.
FOURMILE, Henrietta. “Possession is Nine Tenths of the Law: And Don’t Ab-original People Know
It”. COMA, n. 23, pp.57-67. 1990.
GARDNER, Robert. Gardens of War. Nova York: Random House, 1968.
GEARY, Christraud. Images from Bamum: German Colonial Photography at the Court of King Njoya,
Cameroon, West Africa, 1902-1915. Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press, 1988.
GEDDES, William. “Review of Gardens of War”. American Anthropologist, v. 73, n. 2, pp. 346-47. 1971.
GEISMAR, Haidy. “Photographs and Foundations: Visualising the Past on Atchin and Vao”. In: GEIS-
MAR, Haidy & HERLE, Anita (orgs.). Moving Images: John Layard, Fieldwork and Photography
in Malakula Since 1914. Bathurst: Crawford House Publishing; Honolulu: University of Hawaii
Press, 2010.
GLASS, Aaron. On the Circulation of Ethnographic Knowledge. Disponível em: <http://www.mate-
rialworldblog.com>. Acesso em dez. 2015.
GORDON, Robert. Picturing Bushman: The Denver African Expedition of 1925. Athens: Ohio Uni-
versity Press, 1997.
GRADY, John. “The Visual Essay and Sociology”. Visual Sociology, v. 6, n. 2, pp. 23-38. 1991.
GRASSENI, Cristina. “Skilled Visions: Toward an Ecology of Visual Inscriptions”. In: BANKS, Macus
and RUBY, Jay (orgs.). Made to Be Seen: Perspectives on the History of Visual Anthropology. Chicago:
The University of Chicago Press, pp. 19-44, 2011.
GREEN, David. “Classified Subjects: Photography and Anthropology: The Technology of power”.
Ten-8, n. 14, pp.30-37. 1984.
_____. “Veins of Resemblance”. Oxford Art Journal, v. 7, n. 2, pp.3-16. 1985.
GRIMSHAW, Anna. “The Eye in the Door: Anthropology, Film and the Exploration of Interior Space”.
In: BANKS, Marcus & MORPHY, Howard. Rethinking Visual Anthropology. New Haven/London:
Yale University Press, 1997.
GROSS, Larry et al. (orgs.). Image Ethics: The Moral Rights of Subjects in Photographs, Film and
Television. Nova York: Oxford University Press, 1988.
HALVAKSZ, Jamon. “Photographing Spirits: Biangai Photography, Ancestors and the Environment in
Morobe Province, Papua New Guinea”. n. especial. In: SMITH, Ben & VOKES, Richard (orgs.).
Haunting Images: The affective power of photography: Visual Anthropology, v. 21, n. 4, pp. 310-26.
2008.
A experiência da imagem 2p.indd 186 14/09/2016 14:28:00
HAMOUDA, Naziha. “Two Portraits of Auresian Women”. In: EDWARDS, Elizabeth (org.). Anthro- 187
Rastreando a fotografia
pology and Photography, 1860-1920. New Haven: Yale University Press, 1992.
HARLAN, Teresa. “Creating a Visual History: A Question of Ownership”. In: ROALF, Peggy (org.).
Strong hearts: native American visions and voices. Nova York: Aperture, 1995.
_____. “Indigenous Photographies: A Space for Indigenous Realities”. In: ALLISON, Jane (org.). Native
Nations: Journeys in American Photography. Londres: Barbican Art Gallery, 1998.
HARPER, Doug. “The Visual Ethnographic Narrative”. Visual Anthropology, v. 1, n. 1, pp. 1-19. 1987.
_____. “A Conversation With Tim Asch”. Visual Sociology, v. 9, n. 2, pp. 97-101. 1994.
HARRIS, Clare. “The Photograph Reincarnate”. In: EDWARDS, Elizabeth & HART, Janice (orgs.)
Photographs Objects Histories: On the Materiality of the Image. Londres: Routledge, 2004.
HARTMANN, Wolfram et al. Colonising Camera: Photographs in the Making of Namibian History.
Cape Town: University of Cape Town Press, 1998.
HILL, Richard W. “Developed Identities: Seeing the Stereotypes and Beyond”. In: JOHNSON, T.
(org.). Spirit Capture. Washington: Smithsonian Institution, 1998.
HIRSCH, Eric. “Techniques of Vision: Photography, Disco and Renderings of Present Perception
in Highland Papua”. Journal of the Royal Anthropological Institute, v. 10, n. 1, pp. 19-39. 2004.
HOCKINGS, Paul (org.). Principles of Visual Anthropology. The Hague: Mouton, 1975.
_____. Principles of Visual Anthropology. Berlim: Mouton de Gruyter, 1995.
HOLMAN, Nigel. “Curating and Controlling Zuni Photographic Images”. Curator, v. 39, n. 2, pp.108-
122. 1996.
HUBBARD, Jim (org.). Shooting Back from the Reservation: A Photographic View of Life by Native
American youth. Nova York: New Press, 1994.
HUTNYK, John. “Comparative Anthropology and Evans-Pritchard’s African Photography”. Critique
of Anthropology, v. 10, n. 1, pp. 81-102. 1994.
ISSAC, Gwyniera. Mediating Knowledges Origins of a Museum for the Zuni People. Tucson: University
of Arizona Press, 2007.
JACKNIS, Ira. “Franz Boas and Photography”. Studies in Visual Communication, v. 10, n. 1, pp.
2-60, 1984.
_____. “Margaret Mead and Gregory Bateson in Bali: Their Use of Photography and Film”. Cultural
Anthropology, v. 13, n. 2, pp. 166-77. 1988.
_____. “In Search of the Image Maker: James Mooney as Ethnographic Photographer”. Visual Anthro-
pology, v. 3, n. 2, pp. 179-212. 1992.
KENDALL, Laurel et al. Drawing Shadows to Stone: The Photography of the Jesup North Pacific Ex-
pedition, 1897-1902. Seattle: University of Washington Press, 1997.
KLIMA, Alan. The Funeral Casino: Meditation, Massacre and Exchange With the Dead in Thailand.
Princeton: Princeton University Press, 2002.
KOPYTOFF, Igor. “The Cultural Biography of Things”. In: APPADURAI, Arjun (org.). The Social
Life of Things: Commodities in Cultural Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, pp.
64-91. 1986.
KRATZ, Corinne. The Ones that Are Wanted: Communication and the Politics of Representation in a
Photographic Exhibition. Berkley: University of California Press, 2002.
KRAUSS, Rosalind. “Photography’s Discursive Spaces”. Art Journal, v. 42, n. 4, pp. 311-19, 1982.
LALVANI, Suren. Photography, Vision and the Production of Moderns Bodies. Albany: State University
of New York Press, 1996.
LARSON, Heidi. “Photography that Listens”. Visual Anthropology, n. 1, pp. 415-32. 1981.
A experiência da imagem 2p.indd 187 14/09/2016 14:28:00
188 _____. “Anthropology Exposed: Photography and Anthropology since Balinese Character”. Yearbook
of Visual Anthropology, n. 1, pp.13-27. 1993.
LIPPARD, Lucy R. (org.). Partial Recall. Nova York: New Press, 1992.
LYDON, Jane. Eye Contact: Photographing Indigenous Australians. Durham: Duke University Press,
2005.
MACDONALD, Gaynor. “Photos in Wiradjuri Biscuit Tins: Negotiating Relatedness and Validating
Colonial Histories”. Oceania, v. 73, n. 4, pp. 225-42. 2003.
MALINOWSKI, Bronislaw. Coral Gardens and their Magic. Londres: Allen & Unwin, 1935.
MICHAELS, Eric. “A Primer of Restrictions on Picture-taking in Traditional Areas of Aboriginal
Australia. Visual Anthropology, v. 4, n. 3-4, pp. 259-75. 1991.
MORTON, Chris. “The Anthropologist as Photographer: Reading the Monograph and Reading the
Archive. Visual Anthropology, v. 18, n. 18, pp. 389-405. 2005.
MUSTAFA, Hudita Nura. “Portraits of Modernity: Fashioning Selves in Dakarois Popular Photography”.
In: LANDAU, Paul & KASPIN Deborah (orgs.). Images and Empires: Visuality and Colonial and
Post-colonial Africa. Berkeley: University of California Press, 2002.
NICHOLS, Bill. Representing Reality: Issues and Concepts in Documentary. Bloomington: University
of Indiana Press, 1991.
NIESSEN, Sandra. “‘More to it than Meets the Eye’: Photo-elicitation amongst the Batak of Sumatra”.
Visual Anthropology, n. 4, pp. 415-30. 1991.
NORDSTRÖM, Alison. “Photographies of Art and Science”. Visual Sociology, v. 9, n. 2. HARPER,
D. (org.) n. especial: Cape Breton 1952: The Photographic Vision of Tim Asch, pp. 97-101. 1994.
PAUWELS, Luc. “Visual Essay: Affinities and Divergences between the Social Scientific and the Social
Documentary Modes. Visual Anthropology, n. 6, pp. 199-210. 1993.
PETERSON, Nicolas. “Changing the Photographic Contract: Aborigines and Image Ethics”. In: PIN-
NEY, Christopher & PETERSON, Nicolas (orgs.). Photography’s Other Histories. Durham: Duke
University Press, 2003.
PINK, Sarah. Doing Visual Ethnography. Londres: Sage, 2001.
_____. “Interdisciplinary Agendas in Visual Research: Reinstating Visual Anthropology. Visual Studies,
v. 18, n. 2, pp. 179-92. 2003.
PINNEY, Christopher. “Parallel Histories”. In: EDWARDS, Elizabeth (org.). Anthropology and Pho-
tography, 1860-1920. New Haven: Yale University Press, 1992a.
_____. “The Lexical Spaces of Eye-spy”. In: CRAWFORD, Peter & TURTON, David (orgs.). Film as
Ethnography. Manchester: Manchester University Press, 1992b.
_____. Camera Indica: the Social Life of Indian Photographs. Londres: Reaktion, 1997.
_____. “Piercing the Skin of the Idol”. In: PINNEY, Christopher & THOMAS, Nicolas (orgs.). Beyond
Aesthetics: Art and the Technologies of Enchantment. Oxford: Berg, pp. 157-80. 2001.
_____. “Photos of the Gods”: The Printed Image and Political Struggle in India. Londres/New Delhi:
Reaktion/Oxford University Press, 2004.
_____ & PETERSON, Nicolas. Photography’s Other Histories (Objects/Histories). Durham/Londres:
Duke University Press, 2003.
POIGNANT, Roslyn. Observes of Man. Londres: Photographers’s Gallery/RAI, 1990.
_____. “Surveying the Field of View”. In: EDWARDS, Elizabeth. Anthropology and Photography,
1860-1920. New Haven: Yale University Press, 1992a.
_____. “Wurdayak/Baman (Life History) Photo Collection: Report on the Setting up of a Life History
Photo Collection at the Djomi Museum, Maningrida”. Australian Aboriginal Studies, n. 2, pp.
71-77, 1992b.
A experiência da imagem 2p.indd 188 14/09/2016 14:28:00
_____. “About Friendship; about Trade; about Photographs”. Voices: Quarterly Journal of the National 189
Rastreando a fotografia
Library of Australia, v. 4, v. 45, pp. 55-70, 1994-1995.
_____. Encounter at Nagalrramba. Canberra: Biblioteca Nacional da Austrália, 1996.
POOLE, Deborah. Vision, Race and Modernity: A Visual Economy of the Andean Image World. Prin-
ceton: Princeton University Press, 1997.
_____. “An Excess of Description: Ethnography, Race and Visual Technologies”. Annual Reviews in
Anthropology, n. 24, pp. 159-79. 2005.
POWERS, Willow. “Images Across Boundaries: History, Use, and Ethics of Photographs of American
Indians”. American Indian Culture and Research Journal, v. 20, n. 3, pp. 20-33. 1996.
RICHARD, Jolene. “Sovereignty: a Line in the Sand”. In: Strong hearts: Native American Visions and
Voices. Nova York: Aperture, pp. 51-54. 1995.
ROBERTS, John. The Art of Interruption: Realism, Photography and the Everyday. Manchester:
Manchester University Press, 1998.
ROHDE, Rick. “How We See Each Other: Subjectivity, Photography and Ethnographic Revision. In:
HARTMANN et al. (orgs). Colonising Camera. Cape Toen: Cape Town University Press, 1998.
ROODENBERG, Linda (org.). De Bril van Anceaux: Volkerkundige fotographie vanaf 1860. Leiden:
Rijksmuseum voor Volkerkunde, 2002.
RUBY, Jay. “In a Pic’s Eye: Interpretative Strategies for Deriving Significance and Meaning from
Photographs”. Afterimage, pp. 2-6. mar. 1976.
RYAN, James. Picturing Empire. Londres: Reaktion, 1997.
SALMOND, Anne. “The History and Description of this Meeting House (Wharenui) in Te Kuiti”.
In: EDWARDS, Elizabeth (org.). Anthropology & Photography, 1860-1920. New Haven: Yale
University Press, 1992.
SAMIAN, Etienne. “Bronislaw Malinowski et la photographie anthropologique”. L’Ethnographie, v.
91, n. 2, pp. 107-30, 1995.
SCHERER, Joanna. “The Public Faces of Sarah Winnemucca”. Cultural Anthropology: Journal of the
Society for Cultural Anthropology, v. 3, n. 2, pp. 178-204. 1988.
_____. “Ethnographic Photography in Anthropological Research”. HOCKINGS, Paul (org.). Principles
of Visual Anthropology. Berlim: Mouton de Gruyter, pp. 201-16. 1995.
_____. A Danish Photographer of Idaho Indians: Benedicte Wrensted. Norman: University of Oklahoma
Press, 2006.
SCHINDLBECK, Markus (org.). Die Ethnographische Linse. Berlim: SMPK, 1989.
SCHNEIDER, Arnd. “Unfinished Dialogues: Notes toward an Alternative History of Art and Anthro-
pology”. In: BANKS, Marcus & RUBY, Jay (org.). Made to Be Seen: Perspectives on the History of
Visual Anthropology. Chicago: University of Chicago Press, 2011.
_____. & WRIGHT, Christopher (orgs.). Contemporary Art and Anthropology. Oxford: Berg, 2006.
SEKULA, Alan. “The Body and the Archive”. In: BOLTON, R. (org.). The Contest of Meaning. Cam-
bridge: MIT Press, 1989.
SIMONI, Simonnetta. “The Visual Essay: Redefining Data, Presentation and Scientific Truth”. Visual
Sociology, v. 11, n. 2, pp. 75-82. 1996.
SMALLACOMBE, Sonia. Indigenous Peoples’ Access Rights to Archival Records. Artigo para a Sociedade
Australiana de Arquivistas, 1999. Disponível em: <http://www.archivists.org.au/ events/con99/
smallacombe.html>. Acesso em fev. 2002.
SMITH, Benjamin M. “Images, Selves and the Visual Record: Photography and Ethnographic Com-
plexity in Central Cape York Península”. Social Analysis, v. 47, n. 3, pp. 8-26. 2003.
A experiência da imagem 2p.indd 189 14/09/2016 14:28:01
190 _____. & VOKES, Richard. “Haunting Images: The Affective Power of Photography”. Visual Anthro-
pology Review, v. 21, n. 4 (especial). 2008.
SONTAG, Susan. On Photography. Harmondsworth: Penguin, 1979.
SPYER, Patricia. “Photography’s Framing and Unframing: A Review Article. Comparative Studies in
Society and History, v. 43, n. 1, pp. 181-92. 2001.
STANTON, John. “Snapshots on the Dreaming: Photography of Past and Present”. In: BROWN,
Alison & PEERS, Laura (orgs.). Museums and Source Communities. Londres: Routledge, 2004.
STOLER, Ann Laura & STRASSLER, Karen. “Casting for the Colonial”. Comparative Studies in
Sociology and History, v. 42, n. 1, p. 4-48, 2000.
STURKEN, Marita & CARTWRIGHT, Lisa. Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture.
Oxford: Oxford University Press, 2001.
SULLIVAN, Gerry. Margaret Mead, Gregory Beteson and Highlan Bali: Fieldwork Photographs of
Bayang Gadé, 1936-1939. Chicago: University of Chicago Press, 1992.
TAGG, John. The Burden of Representation. Basingstoke: Macmillan, 1988.
TAYLER, Donald. “Very Lovable Human Beings: The Photography of Everard Im Trurn”. In:
EDWARDS, Elizabeth (org.). Anthropology and Photography. New Haven: Yale University Press,
pp. 187-92. 1992.
THEYE, Thomas (org.). Der geraubte Schatten: photographie als ethnographisches Dokument. Munique:
Münchner Stadtmuseum, 1989.
TSINHNAHJINNIE, Hulleah. “When is a Photograph Worth a Thousand Words?”. In: ALLISON, Jane
(org.). Native Nations: Journeys in American Photography. Londres: Barbican Art Gallery, 1998.
VIZENOR, Gerald. “Fugitive Poses”. In: KATAKIS, Michael (org.). Excavating Voices: Listening to Pho-
tographs. Philadelphia: Universidade da Pennsylvania/Museu de Arqueologia e Antropologia, 1998.
VOKES, Richard. “On Ancestral Self-fashioning: Photography in the Times of Aids”. Visual Anthro-
pology, v. 21, n. 4, pp. 345-63. 2008.
WALKER, Geoffrey & VANDERWAL, Ron. The Aboriginal Photographs of Baldwin Spencer. Ringwood,
Vic.: Viking O’Neil, 1982.
WALLIS, Brian. “Black Bodies, White Science: Lois Agassiz’s Slave Daguerreotypes”. American Art,
v. 9, n. 2, pp. 335-61. 1995.
WINSTON, Brian. Claiming the Real: The Griersonian Documentary and its Legitimations. Londres:
British Film Institute, 1995.
WOLBERT, Barbara. “The Anthropologist as Photographer: The Visual Construction of Ethnographic
Authority”. Visual Anthropology, v. 13, n. 4, pp. 321-43. 2000.
WRIGHT, Christopher. “Material and Memory: Photography in the Western Solomon Islands”. Journal
of Material Culture, v. 9, n. 1, pp.73-85. 2004.
_____. “Photo-objects”. 2007. Disponível em: <http://www.materialworld.blog.com>. Acesso em:
abr. 2007.
YOUNG, Michael. Malinowski’s Kiriwina: Fieldwork Photography, 1915-1918. Chicago: University
of Chicago Press, 1998.
ZIMMERMAN, Andrew. Anthropology and Anti-humanism in Imperial Germany. Chicago: University
of Chicago Press, 2001.
A experiência da imagem 2p.indd 190 14/09/2016 14:28:01
Fotografia, narrativa e experiência1
ANDREA BARBOSA
A imagem fotográfica tem múltiplas faces e realidades.
Boris Kossoy, 1998
Se seguirmos a pista sugerida por Kossoy na epígrafe deste texto, podemos
considerar algumas possibilidades dessas múltiplas faces e realidades. A foto-
grafia pode ser um momento no tempo e no espaço. O testemunho de uma
presença diante de algo que foi (BARTHES, 1984). Ela pode ser um flagrante
de um olhar sobre o outro como nas fotografias etnográficas de fins do século
XIX. Um olhar opaco e exotizador (PINNEY, 2003). Ela também pode ser
considerada um testemunho histórico, se a pensarmos como produto de um
tempo e lugar específicos como o faz André Rouillé (2009) ao considerar a
fotografia como a própria “imagem da sociedade industrial”. Ela também pode
ser considerada um índice da experiência da modernidade baseada na dispersão,
na montagem e na imagem múltipla (BENJAMIM, 1994, p. 93). Ela faz ver,
aponta e cutuca. Ela faz falar. Evoca subjetividades, memórias compartilha-
das e abre espaços comunicacionais (BOSI, 1994; BAKHTIN, 1990). Como
objetos (físicos ou digitais2) elas podem ser manuseadas, carregadas, tocadas,
possuídas, amadas, e odiadas. Circulando, passando de mão em mão, podem
criar relações sociais. Elizabeth Edwards afirma que no processo de olhar, to-
1
Este artigo é resultado da pesquisa “Onde São Paulo acaba?” realizada com auxílio FAPESP pro-
cesso 2008/10541-0). A autora também participou do projeto temático “A experiência do filme
na antropologia”, coordenado por Sylvia Caiuby Novaes, (FAPESP processo 2009/52880-9).
2
Entendo que as fotos digitais possuem uma materialidade quando carregadas em celulares. Assim
como as fotos em papel, são manuseadas, mostradas, oferecidas (enviadas) etc.
A experiência da imagem 2p.indd 191 14/09/2016 14:28:01
192 car e trocar, as fotografias se apresentam como objetos relacionais, enredados
dentro de várias tramas que se estendem para além do que a superfície de
uma fotografia exibe visualmente (EDWARDS, 2012). É importante para a
autora, portanto, estar atento à compreensão da fotografia para além da ima-
gem. Essa análise exige uma abordagem analítica que reconheça a pluralidade
de modos de experiência da fotografia enquanto objeto tátil, ou seja, como
coisas sensoriais que existem no tempo e no espaço e são constituídas por e
através de relações sociais.
Quando fotografamos um espaço vivido, a fotografia pode também agir produzin-
do um lugar. Nesse movimento de criação, ela mobiliza experiências e memórias
e abre-se na sua potência háptica, não como uma recordação do passado, mas
como uma articulação entre o desejo e o vivido, tornado possível pelo exercício
da imaginação. O papel que a fotografia pode exercer nesse processo pode va-
riar de acordo com a percepção individual, incluindo não somente lugares que
existem como também lugares imaginados ou rememorados.
É partindo desse conjunto de qualidades instigantes que a fotografia oferece e,
me atendo justamente nesse último arranjo, ou seja, a da fotografia construin-
do um lugar, que desenvolverei neste artigo uma reflexão que toma também
como elemento articulador a experiência etnográfica de provocar a produção
fotográfica em relação à experiência de viver em um bairro “periférico” da
região metropolitana de São Paulo. Fundamental nessa reflexão será o cuidado
em não julgar o caráter de veracidade das imagens, ou de seu significado, mas
de desenvolver uma análise que atente para sua potência em provocar uma
experiência (olhar, tocar e imaginar a partir da foto) a partir de outra que a
gestou (olhar, imaginar, enquadrar e produzir a foto).
A potência da fotografia
Voltando ao pensamento de Boris Kossoy presente na epígrafe deste artigo,
talvez a primeira das faces da fotografia, posto que a mais visível, seria a que
está ali imóvel no quadro, na aparência (ou aparição) do referente, isto é,
na sua realidade exterior, no conteúdo da imagem passível de identificação
(KOSSOY, 1998, p. 42). As outras faces estão mais ocultas, não explícitas, é
o outro lado do espelho e do documento, nos diz o autor, são as suas possíveis
realidades, no plural.
Dessas tantas realidades a que trago aqui para análise é a que emerge na ima-
gem a partir de uma relação muito especial entre a experiência e a memória.
Essa realidade específica é adensada pelas articulações entre o desejado e vi-
A experiência da imagem 2p.indd 192 14/09/2016 14:28:01
vido. Ou seja, a experiência cotidiana alimenta a construção de uma memória 193
Fotografia, narrativa e experiência
coletiva do que se viveu e um desejo de futuro que só é possível a partir de
um movimento imaginativo. A imaginação aqui está sendo pensada como ato
criativo no movimento dessas articulações.
Realizei, ao longo de quatro anos uma pesquisa para a qual construí um setting
etnográfico apoiado em oficinas fotográficas que realizamos com jovens mo-
radores do Bairro dos Pimentas, Guarulhos.3 Construí este setting a partir de
um processo que procurou articular várias camadas de construção de signifi-
cação nas quais essa competência imaginativa estava em evidência. A primeira
dessas camadas é a que se constrói no ato de fotografar. Ato que gera imagens
que são fruto da interação e da provocação realizada nas oficinas. Provocação
no sentido de despertar um olhar mais atencioso desses jovens em relação ao
bairro. Atenção é uma palavra-chave nesse processo pensando nos termos de
Alfred Shultz (na qual cultura se define por graus diferentes de atenção à vida).
O desafio que proponho aos jovens que participam das oficinas é elaborar o
grau de atenção que despendem ao lugar onde vivem. É mirar a câmera para
fora, quando percebo que a maioria deles, no cotidiano, tem a câmera apontada
para si, produzindo fotos para circular nas redes sociais, onde os autorretratos
têm lugar prioritário. Olhar para fora significa, nesse sentido, olhar para o seu
cotidiano no bairro, para as ruas, para as pessoas que nele vivem, para o que
é corriqueiro e “sem importância”, como alguns dos jovens me diziam num
primeiro momento. Outra provocação da oficina era também a de despertar
esses jovens para a elaboração do olhar fotográfico. Discutir a fotografia como
técnica e linguagem e por isso mesmo como forma de expressão que possui
regras, convenções que se abrem para um uso criativo. Elaborar o olhar e a
vontade de construir narrativas por meio da fotografia. Desta perspectiva, as
imagens, palavras e gestos dos meus interlocutores não são reações ao que per-
gunto ou digo, mas expressões de uma experiência construída e compartilhada
por meio dessas provocações. Foram quatro anos de trabalho, onze edições da
oficina, doze exposições e desse caldo emergem muitas imagens.
Das fotografias que surgem, ou melhor, que insurgem, deste processo, per-
cebo um movimento que chamei de invenção de paisagens e vejo nesse mo-
vimento uma pista para avançar em direção a uma reflexão sobre as relações
entre memória, imagem e imaginação que trago aqui.
3
As onze oficinas foram realizadas com a participação de todos os pesquisadores do Visurb - Grupo de
pesquisas Visuais e Urbanas da Unifesp (incluindo os bolsistas FAPESP, CAPES e PROEX) a quem
agradeço imensamente. Agradeço também ao antropólogo Edgar Teodoro da Cunha, companheiro
de muitas jornadas na antropologia visual, que atuou de forma fundamental em todas as oficinas.
A experiência da imagem 2p.indd 193 14/09/2016 14:28:01
194 Imagens que fazem falar
As paisagens são recortes do espaço que se tornam visíveis justamente pelo ato
de recortar. Sem ele, resta uma totalidade inapreensível pelo olhar e pela pró-
pria experiência. O que motiva o recorte, o enquadramento, para utilizar uma
expressão mais próxima da fotografia, podem ser escolhas variadas que vão do
tema que o autor quer focalizar, elementos estéticos que chamam a atenção,
um sentimento que se materializa numa composição, uma fala, uma lembrança.
Essas escolhas nem sempre são conscientes como pude apreender na experiência
das oficinas, mas elas se fazem presentes na imagem e também na fala sobre
as imagens. A fotografia faz falar, nos afirma Sylvain Maresca em seu artigo
sobre o trabalho do fotógrafo finlandês Jorma Puranen sobre os Sami (1998).
Seu primeiro livro é considerado pelo grupo quase como um álbum de família.
É comum para nós ver uma pessoa velha ir buscar o álbum de família para explicar
as relações genealógicas que, no entanto, raramente são perceptíveis nas imagens
e que resultam, de toda maneira, de uma organização social praticamente irrepre-
sentável (id., p. 145).
Há questões que não podem ser depreendidas das imagens em si, mas sim a
partir das falas sobre elas. Nesse caso, olhar não dá conta da experiência que
a imagem fotográfica possibilita. Minha proposta é que façamos aqui um exer-
cício cujo primeiro passo é o movimento do espreitamento. Tomo a noção de
espreitamento de Michel de Certeau (1994), que na busca da compreensão
dos processos e narrativas do cotidiano nos traz uma imagem que Marguerite
Duras criou da leitura como um ato feito no escuro. A leitura é assim, para
Certeau, um ato de espreitamento, uma viagem nômade, sem paradas obriga-
tórias, pois ler é “constituir uma cena secreta”, lugar onde se entra à vontade;
é criar cantos de sombra e de noite numa existência submetida à transparência
tecnocrática. O espreitamento é um movimento não assertivo, exploratório.
Espreitemos a foto da página seguinte.
Olhando a fotografia vemos em primeiro plano um varal repleto de roupas
penduradas. Cinza, preto, roxo e mais ao final da linha um pouco de azul, um
branco e um verde limão. Ao fundo, uma massa de pequenas casas, muitas
sem pintura, nuas em seus tijolos ou apenas com reboco de cimento, sobem
pelo quadro em direção ao céu e, pela presença de algumas que ainda estão
em construção, parece que a subida continua. O céu está cinza. Não há sol.
A princípio, não parece um bom dia para lavar roupa.
A experiência da imagem 2p.indd 194 14/09/2016 14:28:01
195
Fotografia, narrativa e experiência
Hoje tem água na rua, 2009. Foto: Bárbara Sá.
Essa foto é de Bárbara, moradora do bairro desde os quatro anos e, na época em
que tirou a foto, era também aluna do curso de graduação em ciências sociais da
Unifesp e membro atuante do Cursinho Comunitário dos Pimentas, onde dava
aulas. Nas rodas de conversa sobre as fotos escolhidas durante as oficinas, Bárbara
nos trouxe uma questão sobre a foto que não havia sido sua primeira intenção
focalizar. A questão apareceu nas falas de seus vizinhos quando se detiveram para
olhar a foto e que ela acabou por incorporar como seu sentido mais interessante,
tornando-se, inclusive, o título que a acompanhou na exposição da qual fez parte.
Hoje tem água na rua. Essa foi a chave de leitura acrescentada à foto que fez
falar aos vizinhos de Bárbara e a ela mesma na surpresa boa, como ela própria nos
disse, de conseguir fotografar “sabendo sem saber” da importância das roupas no
varal. Ou seja, o sentido de que os varais cheios de roupas estendidos nas lajes
agem, avisando aos que estão chegando do trabalho ou da escola de que hoje é
dia de lavar roupa, pois tem água na rua, não está na primeira face da foto, na
visível. Ela está situada em outras faces, invisíveis para quem não compartilha
da experiência de morar naquela região onde nem sempre é fácil saber quando
haverá água para realizar uma tarefa doméstica cotidiana como a de lavar roupa.
As lajes e seus varais de roupas agem, assim, como elementos de comunicação
entre os moradores. Comunicação de um sentido compartilhado que foi foto-
grafado pela Bárbara que vive esse sentido cotidianamente e por isso ela afirma
que fotografou sabendo, mas que na hora de tirar a foto essa não foi a intenção
primeira. Haviam outras a mobilizá-la, como o contraste das cores das roupas
A experiência da imagem 2p.indd 195 14/09/2016 14:28:01
196 com o cinza dos blocos de cimento das casas ao fundo. “Sabendo sem saber”, a
foto converteu-se para Bárbara em uma narrativa de um sentido coletivo que se
tornou acessível para nós a partir do que a foto fez falar.
Imagens que provocam ao tornar o significativo visível
Há, porém, questões que não estão na fala sobre o bairro ou sobre as imagens
dele, mas estão lá na foto a nos cutucar, a nos provocar (penso aqui na “pica-
da” que Barthes [1984] explora quando desenvolve o punctum fotográfico).
Acredito que as imagens são interessantes não apenas porque podem evidenciar
o significativo, mas porque podem tornar o significativo visível. A fotografia
seria assim, ela mesma, um possível “universo do discurso” (BOSI, 1994),
ou seja, mais um esquema de narração e interpretação que se abre para uma
experiência compartilhada do grupo.
O objetivo primeiro das oficinas fotográficas era possibilitar a instauração do
diálogo necessário com e a partir das fotografias para a realização da pesquisa.
Essas fotografias são, pois, fruto da interação e provocação de diversos olhares
postos frente a frente pela empreitada etnográfica. Nesse contexto, havia os que
moravam no bairro há muitos anos, havia os que moravam no bairro há pouco
tempo e os que não moravam no bairro, como alguns alunos e eu, mas que
temos uma experiência de trabalho ou estudo lá. As experiências são variadas,
mesmo dentro dos grupos citados acima. Estávamos todos dispostos a exercitar
nossa atenção para esse lugar. Estávamos despertos também para uma forma de
construir um olhar específico que é o olhar fotográfico, mediado pela câmera.
Estávamos atentos e dispostos a enfrentar as fotografias como uma forma de
expressão na qual técnica e estética são indissociáveis. Tudo isso com uma boa
dose de afeto presente no ato de fotografar, no ato de espreitar as imagens
suas e dos outros, no ato de mostrar as fotografias para os parentes, colegas,
vizinhos. Uma abertura ao que a imagem poderia oferecer, provocar, fazer ver,
fazer falar, fazer sentir. O afeto por sua vez abria espaço para a imaginação.
Interessante perceber como em algum momento sempre tinha alguém que dizia
quando comentava uma foto: “Isso é lindo, nem parece aqui! Isso só pode ser da
sua cabeça”! Isso é pura imaginação! O tom da fala nem sempre era o mesmo.
Algumas vezes parecia uma crítica, outras, soava como um elogio, uma fala
de admiração. Esse para mim é um dado muito importante que aponta para o
reconhecimento da ambiguidade da fotografia como índice de uma experiência
e de um lugar. A questão não é julgar o caráter de veracidade das imagens,
mas sua potência em provocar uma experiência a partir de outra que a gestou.
A experiência da imagem 2p.indd 196 14/09/2016 14:28:01
Pode ser justamente ao se tornar vulnerável, não mais encarnando a visão “social- 197
Fotografia, narrativa e experiência
mente autorizada” do mundo, mas apontando para dimensões da vida que tanto
exprimem quanto excedem o nosso olhar, que este outro realismo das imagens
fotográficas pode afirmar realidades da vida como potência, em contra-distinção ao
reconhecimento da realidade “como ela é” como único antídoto à ilusão e engano.
(GONÇALVES & HEAD, 2009, p. 40)
Às potências de “fazer falar” e “provocar” das fotografias, poderíamos acrescen-
tar mais uma, o “fazer enxergar”. Enxergar é um olhar, digamos, mais denso,
que mobiliza a troca de olhares. É olhar para as imagens fotográficas e através
delas perceber as camadas ou faces que se superpõem, procurando nelas as
suas relações possíveis. É acreditar que há vida nas imagens e que podemos
percebê-la e compreendê-la à moda de um bricoleur que, com muita imagina-
ção, vai colecionando e justapondo sentidos e imagens para formar uma outra.4
A dificuldade é que se trata de um jogo de olhares sem regras definidas, nos
diria Sylvain Maresca (1998). Sem regras, o que nos orienta é a sinceridade...
“A conceituação de sinceridade ultrapassa os planos do que seria ficção ou rea-
lidade, apontando para a dimensão do vivido, da experiência que se transmuta
em imaginação de uma relação vivida” (GONÇALVES & HEAD, 2009, p. 24).
Estamos falando, pois, da vida que habita as fotografias. O tema da vida das
fotografias e o que elas nos falam sobre a construção coletiva de um bairro
torna-se então mais um mote importante dessa proposta de espreitamento.
Imagens cruzadas
A partir desse acervo de imagens é possível agrupar as fotografias em alguns
conjuntos temáticos: “cotidianos”, “paisagens periféricas”, “natureza morta”,
“cenários e personagens”, “um lugar para chamar de seu” e “intervenções” são
alguns dos conjuntos possíveis que nos provocam a espreitá-los com o olhar,
o corpo e o afeto. Nesse movimento em direção às imagens, não há nenhuma
intenção de buscar seu sentido primeiro ou fundamental. Não julgo ser possível
chegar a um único significado para a imagem fotográfica. Estou em busca do
cruzamento de olhares que me permitirá adensar a minha relação com essas
imagens e que me permitirá enxergá-las.
Etienne Samain, a partir da leitura de Didi Huberman e Aby Warburg, nos
provoca a considerar as imagens em seu poder de ideação, ou seja, em seu
4
Parto aqui de uma discussão que desenvolvi no capítulo “Ver, olhar e enxergar a cidade de São Paulo
através de imagens”, do livro São Paulo cidade azul (BARBOSA, 2012, pp. 29-44).
A experiência da imagem 2p.indd 197 14/09/2016 14:28:01
198 potencial intrínseco de suscitar pensamentos e ideias ao se associar a outras
imagens. (2012, p. 23).
Algo semelhante se produz também na frase musical quando as sete notas tonais
literalmente se “tocam” e “ressoam” entre elas, promovendo efeitos sonoros singu-
lares e quase infinitos. Por que, então, tratando-se de imagens, desapareceria, num
súbito ato mágico, esse poder ideativo que elas possuem, tanto nas suas partes como
nas suas associações e composições? Fala-se de palavras cruzadas, por que não dar
crédito ao que poderíamos chamar de “imagens cruzadas”? (id., ibid., pp. 23-24)
A interpretação dos olhares e imagens cruzados nessas sequências fotográfi-
cas podem também nos fazer perceber o potencial narrativo da fotografia já
salientado por Joan Fontcuberta (2012) quando recupera os precursores da
linguagem fotográfica, em especial Hippolyte Bayard e seu Autorretrato como
afogado (1840). Esse seria um trabalho seminal que exemplificaria a vivência
do fotógrafo no cruzamento entre a técnica e a linguagem fotográfica. Exempli-
ficaria como a imagem fotográfica se tornou relato, isto é, como se libertando
da descrição, se tornou narratividade (FONTCUBERTA, 2012, p. 110).
Ao nos debruçarmos sobre uma fotografia, podemos nos encaminhar para outras
direções que não a da sua face visível mais imediata. Podemos mergulhar em
outras camadas, outras profundidades, ao encontro de outras imagens nos diria
Etienne Samain. Para pensar a imagem, é preciso situá-la no sistema ao qual
ela está conectada: o nosso cérebro, o contexto, a própria imagem, seu autor,
seu observador ou espectador, num tempo histórico e a-histórico. É preciso
abrir-se às ideações ou fabulações que as imagens podem nos suscitar. Nos dirá
Samain: “quando conseguirmos resolver imagens cruzadas, é certo, teremos
avançado muito na arte de ler as imagens” (2012, p. 35).
A operação de montar as sequências de imagens tem inspiração na proposta
de imagens cruzadas de Samain. Nessas montagens, assim como na montagem
cinematográfica, poderemos construir um conhecimento a partir das falas
internas (ou pensamentos próprios) das imagens umas com as outras.
Espreitemos as imagens acima. Elas figuram numa das possibilidades de com-
binação dentro da série “paisagens periféricas”. Percebo nesse cruzamento uma
insistência dos horizontes marcados pelas casas. Casas de tijolos aparentes.
Casas pintadas de cores vibrantes, casas e suas lajes, suas parabólicas e caixas
d’água azuis. O recorte é horizontal. O céu pode ser espremido pelo chão, ou
imenso a partir da laje, dependendo do ponto de vista do fotógrafo. Tanto num
como no outro, o céu parece ser o limite para o bairro que cresce. Os caminhos
entre o chão e o céu parecem labirintos. Que paisagem é essa? Que tipo de
A experiência da imagem 2p.indd 198 14/09/2016 14:28:01
199
Fotografia, narrativa e experiência
Banquinho, 2010.
Foto: Bárbara Sá.
Perspectiva, 2011.
Foto: Fábio Silva.
Sem título, 2011.
Foto: Fernanda Matos.
A experiência da imagem 2p.indd 199 14/09/2016 14:28:01
200 composição recorrente nos evoca? A massa de casas parece indicar um local
populoso, o céu em contraste nos evoca saídas e horizontes. Espaços abertos.
Os postes que cruzam a linha horizontal das imagens marcam uma verticalidade
que aparece na topografia do relevo. Desdobrando cada uma das fotografias,
encontramos similaridades com outras periferias. A foto de Fernanda Matos,
por exemplo, apesar de focalizar uma vista do sítio São Francisco, nos Pimen-
tas, já foi identificada como Vila Nova Cachoeirinha, bairro da zona norte da
cidade de São Paulo e com alguma favela carioca em situações nas quais essas
fotos foram expostas publicamente. Estamos falando, portanto, de imagens que
cruzam formas de olhar para esses lugares “periféricos”. As casas nos tijolos e
amontoadas podem ser identificadas como uma pista para um bairro pobre.
Os muitos fios de alta-tensão que saem dos postes e se emaranham a nossa
vista, presentes também na foto de Fábio, podem ser identificados como um
espaço desorganizado, pouco planejado. As muitas lajes, quase patrimônio
construtivo e simbólico dos bairros populares de grandes centros como Rio de
Janeiro e São Paulo, abrem o olhar para as formas de sociabilidade decantadas
nos filmes de ficção e também nas novelas de TV. A linha do horizonte e o
céu sobre a massa de casas verticalmente disposta, mas horizontalmente rela-
cionadas, parece evocar uma simetria entre as casas – simetria social entre os
moradores? A tal solidariedade presente em uma ideia de periferia que alguns
trabalhos acadêmicos e a luta política dos movimentos sociais compartilham?
Que periferia é essa? A da ausência do Estado e das condições precárias de
infraestrutura? A da ideia de solidariedade para a sobrevivência? A da vio-
lência evocada na desordem do espaço construído? A foto do banquinho sob
a árvore de Bárbara não reforça as outras imagens. Traz árvores, traz espera.
Contudo, que espera é essa? Ao fundo, vemos as casas invadirem o que seria
um cenário mais bucólico. Um bucólico meio a contragosto, pois, se olharmos
bem, a cidade cresce ao fundo e parece não ter fim. Sim, essas são algumas
das possibilidades, contudo,
O que elas nos mostram nunca será um pensamento único e definitivo, nem uma
memória acabada. Eis que o cérebro – como assinala justamente Giles Deleuze
(2003) – é a tela da imagem. É com esse cérebro – suas lembranças, suas memórias
e os esquecimentos nele contidos – que toda imagem se choca, arrebatando uma
espiral de novas e outras operações sensoriais, cognitivas e afetivas. (SAMAIN,
2012, p. 32)
Outras possibilidades se apresentam. Numas das muitas casas da foto de Fer-
nanda, pode morar alguém que é muito querido, e, um pouco mais embaixo,
quase se pode avistar o local onde é hoje uma escola pública que leva o nome
A experiência da imagem 2p.indd 200 14/09/2016 14:28:02
de nossa amiga que se foi – Bárbara Cristina –, onde plantamos um pomar. 201
Fotografia, narrativa e experiência
O horizonte da laje, aquele bem ao lado da parabólica, é o horizonte que Fabinho
vê da sua janela. É o seu horizonte que se abre para um céu fulgurante na luz
do começo da manhã, hora que ele acorda para ir trabalhar. Um horizonte de
sonhos e expectativas. O banquinho embaixo da árvore e que parece aguardar
algo ou alguém é uma foto-desejo de um bairro em construção, lá depois da
lagoa é Vila Any, o bairro onde morava Bárbara, com sua mãe e sua irmã, fa-
mília de mulheres que sonham com uma vida melhor nesse lugar. Aqui o nós
(coletivo) da primeira interpretação perde o primeiro plano para as sensações
e experiências individuais. É uma narrativa de outra ordem.
Essas várias possibilidades narrativas nos remetem à ideia de ambiguidade da
fotografia apresentada por Berger (1995). Para o autor, assim como na vida,
o significado não é instantâneo, mas construído na sequência de relações que
precisam ser desdobradas (unfold). A fotografia precisa ser considerada como
um artefato ao qual é preciso dar tempo. Aqui há uma coincidência entre este
tempo a ser dado para a fotografia de Berger e o que Banks afirma (2014)
quando diz que precisamos deixar as fotografias respirarem. Em ambos há um
tempo diacrônico, ou seja, um distanciamento temporal da imagem, e também
um tempo sincrônico, denso, da nossa relação de apreciação da imagem.
Residiria aí a sua ambiguidade, ou seja, todas as imagens são tiradas de uma con-
tinuidade, seja ela um evento histórico (portanto a continuidade seria a narrativa
histórica) ou uma biografia (uma história de vida), mesmo uma paisagem. Essa
descontinuidade na qual a fotografia é arremessada produziria sua ambiguidade.
Podemos com Berger pensar as paisagens presentes nas fotografias dos Pi-
mentas, fruto das oficinas como um espaço histórico que tem sido habitado
e transformado pelos seus moradores (aqui os fotógrafos), mas essa paisagem
também consiste nas narrativas que ela provoca. Essas narrativas nascem do
encontro entre os olhares para as imagens e a vida que pulsa nelas. Nasce da
ambiguidade que nos chama não à história, mas à experiência.
Berger propõe que a fotografia seja considerada uma quase linguagem. Sendo
uma quase linguagem ela não é inteiramente codificada (o que se aproxima
muito do punctum de Barthes). Nesse sentido, ela não informa nada em si. Ou
melhor, ela informa sem ter uma linguagem própria. A linguagem da imagem
fotográfica estaria menos na própria fotografia do que nas “aparições” (appe-
arances) presentes nela. Aqui vale um parêntese para refletir sobre a melhor
forma de traduzir a expressão appearances utilizada por Berger para pensar o
que se vê na imagem fotográfica. Tendo a pensar que a expressão “aparições”
seria mais apropriada. A palavra originada do latim Parere significa o que apa-
A experiência da imagem 2p.indd 201 14/09/2016 14:28:02
202 rece à vista, o que está visível, mas temos também o significado popular ligado
a ideia do sobrenatural que é visível (algo fantasmagórico).
A fotografia cita e não traduz ou informa. A fotografia utilizada como potênica
narrativa traz em si a complexidade da citação (ou evocação) de uma experiên-
cia (humana). Se considerarmos a fotografia mera informação, perdemos o
que para Berger há de mais instigante na fotografia, sua capacidade de narrar,
ou seja, sua capacidade de operar as lacunas, as descontinuidades e assim, sua
ambiguidade. “Parece provável que a negação da ambiguidade inata da fotogra-
fia está intimamente ligado com a negação da função social da subjetividade.”
(BERGER, 1995, p. 100).
Se a potência de narrar da fotografia não está nas teorias da fotografia como
linguagem, onde estaria? No uso popular da fotografia, concordaríamos com
o autor. Esse ainda se faz, assim como na ideia popular de aparição, com afeto
e experiência. É por isso que carregamos a fotografia junto do coração ou a
colocamos na cabeceira da cama. É por isso que quem não conhece os fatos
da fotografia, sua continuidade, mas somente seu instante, pode ater-se num
momento denso de uma cena de despedida ou num horizonte de casas cor de
tijolo com suas caixas d’água azuis e roupas no varal e ver algo mais do que
essa descrição de suas aparições. Berger nos provoca a uma leitura “selvagem”
da fotografia. Uma leitura de outra ordem que não a histórica que busca fatos,
verdades, mas a que busca o humano.
Bem, Berger não espera que todas as fotografias possam ser lidas dessa forma
densa. Assim como Barthes (1994) também não espera que todas as foto-
grafias sejam portadoras de um punctum. Algumas são mais propícias a essa
profundidade na relação que estabelecem com seus leitores do que outras.
Perguntamo-nos: por quê? Se a densidade (ou length nos termos de Berger)
da fotografia depende do tanto que ela expõe a sua ambiguidade e do pouco
que ela depende de informações do seu contexto diegético ou histórico, essa
densidade se construiria, então, a partir do encontro da imagem com quem a
olha? Estaria no encontro as potencialidades da fotografia, ou seja, nem somente
nela em si nem somente no olhar que a percebe (e tudo o mais que vem junto
como a memória, por exemplo)? Pensando assim, qualquer fotografia teria
esse poder caso encontrasse seu leitor privilegiado. Um leitor, como afirmei
em outra oportunidade, “capaz de conhecer e aprender pela e com a imagem,
capaz de ler a imagem e as complexas relações que esta constrói com a reali-
dade nela insinuada (e também as que ela constrói com outras imagens num
universo muito particular), de considerar a imagem como capaz de explicitar a
A experiência da imagem 2p.indd 202 14/09/2016 14:28:02
complexa relação entre objetividade e subjetividade presente na experiência da 203
Fotografia, narrativa e experiência
realidade, mesmo que através de um breve “sopro“, provisório e efêmero, mas
suficiente para revelar tanto a complexidade da realidade quanto o potencial
da imagem para compreendê-la imaginativamente. Um leitor que entenderia o
“risco“ da subjetividade ligado à imagem como uma oportunidade de conhecer”
(BARBOSA, 2014). Poderia ir além e dizer que o risco da subjetividade abre
também a oportunidade para tornar a relação com a fotografia uma experiência
nos termos benjaminianos (1994). Uma experiência (Erfahrung) que nasce do
confronto de um saber acumulado e amplo e um saber efêmero, de passagem
e inconstante. Uma experiência que se constrói justamente nesse encontro
que produz uma tessitura que está na esfera do humano.
O que informa nossa apreciação e análise das paisagens construídas nas fotos
dos Pimentas é a busca do desdobramento delas em experiências. O que nos
informa é a busca pelas narrativas sobreviventes e viventes que habitam essas
imagens apesar de tudo. Apesar de terem sido tiradas por amadores, apesar
de narrarem várias histórias, apesar de suas aparições jamais corresponderem
ao presente fisionômico do bairro, mas sim ao presente de um encontro e
confronto de temporalidades vividas.
Bibliografia
BAKHTIN, Mikhail. Questões de literatura e de estética: a teoria do romance. São Paulo: Hucitec;
Unesp, 1990.
BANKS, Marcus, Ruby, Jay (orgs). Made to Be Seen. Chicago/Londres: University of Chicago Press,
2011.
BANKS, Marcus. “Slow Research: Exploring One’s Own Visual Archive”. Cadernos de Arte e Antro-
pologia, v. 3, n. 2. 2014.
BARBOSA, Andrea. São Paulo cidade azul, São Paulo: Alameda Casa Editorial, 2012.
_____. “Imagem, pesquisa e antropologia”. Cadernos de Arte e Antropologia, v. 3, n. 2. 2014.
BARTHES, Roland. A câmara clara. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984, 1994.
BENJAMIN, Walter. “O narrador”. In: Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história
da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994a.
_____. “Sobre o conceito de história”. In: Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1994b.
BERGER, John & MOHR, Jean. Another Way of Telling. Vintage Books: Nova York, 1995.
BERGSON, Henry. Matéria e memória: ensaio sobre a relação do corpo com o espírito. São Paulo:
Martins Fontes, 1999.
BOSI, Eclea. Memória e sociedade. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.
CERTEAU, Michel de. História do cotidiano I. Artes do fazer. Petrópolis: Vozes, 1994.
DERRIDA, Jacques. Mal de arquivo: uma impressão freudiana. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001.
A experiência da imagem 2p.indd 203 14/09/2016 14:28:02
204 EDWARDS, Elizabeth. “Photographs: Material Form and Dinamic Archive”. In: CARAFFA, C. (org.),
Photo Archives and the Photographic Memory of Art History. Berlim: Deutscher Kunstverlag, 2011.
EDWARDS, Elizabeth et al. Sensible Objects: Colonialism, Museums and Material Culture. Oxford:
Berg, 2006.
FONTCUBERTA, Joan. A câmera de Pandora. São Paulo: G.Gili, 2012.
GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro, Zahar, 1978.
GONÇALVES, Marco Antônio & HEAD, Scott (orgs). Devires imagéticos. Rio de Janeiro: Faperj/7
Letras, 2009.
KOSSOY, Boris. “Fotografia e memória: reconstituição por meio da fotografia”. In: SAMAIN, Etienne
(org.). O fotográfico. São Paulo: Hucitec, 1998.
LE GOFF, Jacques. “Documento/Monumento”. In: Enciclopéida Einaudi: memória – história. Lisboa:
Imprensa Nacional/Casa da Moeda, v.1, 1984.
MARESCA, Sylvain. “Olhares cruzados: ensaio comparativo entre as abordagens fotográfica e etnográ-
fica”. In: SAMAIN, Etienne (org.). O fotográfico. São Paulo: Hucitec/CNPq, 1998.
PINNEY, Christopher. “Notes from the Surface of the Image: Photography, Postcolonialism, and
Vernacular Modernism”. In: PINNEY, Chrsitopher.Photography’s OtherHistories.Duham: Duke
University Press, 2003.
SAMAIN, Etienne. O fotográfico. São Paulo: Hucitec/CNPq, 1998.
_____. Como pensam as imagens. Campinas: Editora da Unicamp, 2012a.
_____. “As peles da fotografia: fenômeno, memória/arquivo, desejo”. Visualidades, v. 10, n. 1. 2012b.
SCHUTZ, Alfred. Fenomenologia e relações sociais. Textos escolhidos. Rio de Janeiro: Zahar, 1979.
A experiência da imagem 2p.indd 204 14/09/2016 14:28:02
Alguns apontamentos sobre fotografia,
magia e fetiche1
ALICE VILLELA E VITOR GRUNVALD
Este artigo propõe pensar algumas questões relacionadas à agência fotográfica
a partir de discussões sobre magia e fetiche. Aproximar alguns pontos que
aparecem no campo problemático destes dois conceitos àqueles inerentes aos
problemas levantados pelos usos e práticas fotográficas, nos ajuda a pensar as
situações, principalmente ligadas ao retrato, nas quais a fotografia funciona
como pessoa, para usar os termos de Alfred Gell.
O texto, escrito a quatro mãos, nasceu das inquietações provenientes de dois
campos etnográficos bastante distintos. Um realizado entre uma sociedade ame-
ríndia situada no Médio Xingu no Pará; outro, com um grupo urbano da cidade
de São Paulo. Em muitas das discussões que tivemos no âmbito dos encontros
do Grupo de Antropologia Visual,2 percebemos que algumas das questões que
vinham nos provocando possuíam uma estranha afinidade. Ambos estávamos
preocupados em pensar problemas relacionados aos regimes imagéticos e aos
distintos usos e práticas fotográficas que víamos operantes em nossos campos.
1
Este artigo foi escrito a partir das pesquisas de doutorado conduzidas pelxs autorxs e financiadas
pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP n. 2010/52568-2 e n.
2010/19789-5). Também contou com apoio do Projeto Temático A experiência do filme na antro-
pologia (FAPESP n. 2009/52880-9), coordenado pela profa dra Sylvia Caiuby Novaes.
2
O Grupo de Antropologia Visual (GRAVI), coordenado pela profa dra Sylvia Caiuby Novaes, está
vinculado ao Laboratório de Imagem e Som em Antropologia (LISA) da Universidade de São Paulo,
coordenado pela profa dra Rose Satiko Gitirana Hikiji.
A experiência da imagem 2p.indd 205 14/09/2016 14:28:02
206 Sabíamos que essas inusitadas e inesperadas aproximações não deviam ser supe-
restimadas. Com isso, queremos dizer que o fato de nossos campos nos prove-
rem de situações a partir das quais pudemos perceber problemas similares não
significava imediatamente que as diferenças entre tais regimes e práticas deves-
sem, ou antes, pudessem ser obliteradas. Para dizer de uma outra forma, não
significava que nossos problemas, percebidos como próximos e relacionados,
eram os problemas deles.
Em ambas as investigações, notávamos uma certa oscilação – que, em alguns
casos, poderia mesmo apontar para a dissolução ou para processos incessantes de
transformação – entre os polos da relação (divisão, aproximação) entre pessoas
e coisas ou humanos e não humanos, para usar os termos popularizados por
Latour (1994; 2012). Para nós, que estávamos preocupamos com as relações
que as pessoas com quem pesquisamos estabelecem com a fotografia, a insta-
bilidade das percepções sociais sobre pessoas em coisas e coisas como pessoas
aparecia com tal clareza e luminosidade que se tornava impossível escapar a ela.
Alguns autores já vinham trabalhando com a ideia de processos de personifi-
cação e objetificação como operações cujo peso é variável de acordo com as
situações históricas e com as sociedades. Na introdução do clássico A vida
social das coisas, Appadurai argumentou que
embora de um ponto de vista teórico atores humanos codifiquem as coisas por meio
de significações, de um ponto de vista metodológico, são as coisas em movimento
que elucidam seu contexto humano e social. Nenhuma análise social das coisas (seja
o analista um economista, um historiador da arte ou um antropólogo) é capaz de
evitar por completo o que pode ser denominado fetichismo metodológico. Este
fetichismo metodológico, que restitui nossa atenção às coisas em si mesmas, é,
em parte, um antídoto à tendência de atribuir um excessivo valor metodológico às
transações realizadas com coisas, tendência que devemos a Mauss, conforme Firth
observou recentemente. (2008, p. 17)3
Na década de 1990, foi publicado postumamente o livro Art and Agency do
antropólogo britânico Alfred Gell. O trabalho teve grande impacto no debate
da antropologia da arte e deu renovação teórica aos estudos de objetos pen-
sados por ele como extensões de pessoas e com papel crucial nas interações
sociais. Neste livro, Gell se recusa a tratar a arte como linguagem e, para isso,
3
Por um lado, a personificação, por outro, pontua Kopytoff na mesma coletânea, algumas situações e
processos sociais são marcados por uma intensa objetificação de pessoas, como no caso vergonhoso
e brutal da escravidão à qual o sistema imperialista ocidental submeteu populações de diversas
partes do planeta, transformando-os em mercadorias (2008, p. 90).
A experiência da imagem 2p.indd 206 14/09/2016 14:28:02
descarta a aliança da antropologia social com disciplinas relacionadas à estética, 207
Alguns apontamentos sobre fotografia, magia e fetiche
como a semiótica e a hermenêutica, pois, segundo o autor, a antropologia não
poderia trabalhar com juízos de valor estéticos com pretensões universalistas.4
A defesa de Gell e premissa de sua teoria baseiam-se na ideia de que a natureza
do objeto de arte é uma função da matriz sócio-relacional na qual está inserido,
o que quer dizer que o objeto não possui natureza intrínseca, independente
desta matriz. Do ponto de vista da antropologia ou, pelo menos, da antropo-
logia social, isto é, aquela preocupada com as relações sociais, qualquer coisa
pode ser pensada como objeto de arte, incluindo-se aí pessoas vivas. Assim, o
autor define a antropologia da arte como “o estudo teórico das ‘relações sociais
na vizinhança de objetos que mediam agência social’” (GELL, 1998, p. 7),5
fundindo-se, neste sentido, com a antropologia social das pessoas e seus corpos.6
Com essas reflexões em mente, é que nos voltamos aos nossos respectivos
cenários etnográficos. Inserir a fotografia no campo das relações sociais nos
invoca a pensá-la como agente. No caso dos Asuriní, tratar-se-ia de compre-
ender de que maneira a fotografia atua como objeto patogênico, que relações
estabelece com os corpos e quais são os princípios da sua eficácia sobre a pessoa
retratada.7 Já no caso das crossdressers, pessoas cuja identidade é marcada por
uma dupla subjetividade que depende do gênero performaticamente constru-
ído em distintas situações sociais, a fotografia funciona como uma espécie de
corporificação e presentificação do sujeito não apenas que se é, mas igualmente
daquele que se poderia ser.8
4
O conceito de estética rejeitado pelo autor é, portanto, bastante diferente daquele operacionali-
zado por Marilyn Strathern ao discutir o que chama de “estética melanésia de gênero”. Ver a esse
respeito, Strathern (1993; 2013).
5
No original: “[...] the theoretical study of ‘social relations in the vicinity of objects mediating social
agency’”. Todas as traduções dos textos originais em língua inglesa foram realizadas pelxs autorxs
do artigo.
6
Lagrou (2007) argumenta que a proposta de Gell de aproximar artefatos e pessoas parece menos
estranha ao esforço teórico da antropologia se pensarmos que esta se debruça, desde seus primórdios,
sobre discussões acerca do animismo. Seguindo esta linha de pensamento, a ênfase recai sobre o
que objetos fazem, como agem e não ao que significam, assertiva que estaria mais alinhada a uma
abordagem simbólica dos estudos antropológicos da arte.
7
Os Asuriní do Xingu são um grupo Tupi que vive na margem direita do Médio rio Xingu, no Pará.
Foram contatados em 1971 por missionários católicos austríacos contratados por uma empresa
interessada na extensão da província ferrífera dos Carajás até a margem direita do Xingu. Dividos
atualmente em duas aldeias, Koatinemo e Ita’aka, os Asuriní somam cerca de duzentas pessoas. Na
ocasião do contato, os Asuriní eram metade da população atual. Para discussão da fotografia como
objeto patogênico para estes ameríndios, ver Villela (2015).
8
Crossdressers são pessoas que, eventualmente, se vestem com roupas do gênero associado ao sexo
oposto. As crossdressers costumam referir a si próprias no feminino quando estão montadas, isto é,
A experiência da imagem 2p.indd 207 14/09/2016 14:28:02
208 Nosso objetivo aqui não é tratar detalhadamente nossos casos etnográficos, já
que, como argumentamos, não pensamos este artigo como um empreendimento
de comparação cultural. No entanto, achamos importante pontuar que nossas
preocupações foram informadas pelo trabalho de campo que ambos realizamos.
Como dissemos, para pensar questões acerca da personificação de objetos e
imagens – em especial, a imagem fotográfica – priorizamos algumas relações
parcias (STRATHERN, 1991) que esta noção possui com os conceitos de
magia e fetiche. Utilizamos estes conceitos como operadores que nos ajudam
a problematizar certos pontos que consideramos críticos na avaliação do poder
e ação das imagens.
A aproximação entre as noções de magia e fotografia nos ajuda a entender alguns
aspectos da ideia de que a fotografia pode ser pensada analiticamente como
pessoa. Já a introdução das discussões sobre fetiche, nos permite problematizar
tanto o aspecto político destas práticas de personificação como traço importante
na definição da alteridade quanto a importância daquilo que Michael Taussig
(1993a) chama de “máquinas miméticas” e, portanto, da própria fotografia
nas transformações pelas quais o dito Ocidente vem passando pelo menos a
partir do século XIX.
Magia, mímesis e fotografia
Em seu livro O ramo de ouro, publicado em 1890, Frazer defendia a magia
como uma forma de pensamento atrasada, que antecipava a ciência na medida
em que trabalhava, ela também, com a ideia de causa e efeito. Alfred Gell,
um século mais tarde, vai retomar a teoria da magia de Frazer para pontuar
que seu erro não foi invocar a noção de causalidade, mas impor uma noção
pseudo-científica de causa e efeito físicos a uma prática que depende da in-
tencionalidade e do voluntarismo, que é precisamente o que não está presente
no determinismo científico. Ele conclui dizendo que
[o] erro de Frazer foi, por assim dizer, imaginar que os mágicos têm uma espécie
de teoria física alternativa, enquanto que, na verdade, a “magia” é o que temos
quando não está presente uma teoria física em razão da sua redundância, culmi-
nando na ideia, que é perfeitamente praticável, de que a explicação de qualquer
travestidas – momento em que se pensam como princesas. Por oposição, quando estão desmontadas,
levam vida de sapo, sua vida cotidiana e diária na qual assumem uma apresentação social masculina.
Para uma discussão sobre políticas e poéticas de travestimento que inclui a análise da prática de
crossdressing, ver Grunvald (2015).
A experiência da imagem 2p.indd 208 14/09/2016 14:28:02
evento dado (de modo especial se saliente em termos sociais) é que ele é causado 209
Alguns apontamentos sobre fotografia, magia e fetiche
intencionalmente. (1998, p. 101)9
É importante lembrar que, para Frazer, os princípios de pensamento nos quais
a magia se baseia podem ser divididos em dois: “primeiro, a ideia de que
o semelhante produz o semelhante, ou o efeito se assemelha a sua causa; e,
segundo, que as coisas que estiveram em contato, mas que já não estão mais,
continuam a agir umas sobre as outras como se o contato persistisse” (1890,
p. 14).10 Por um lado, uma lei de similaridade; por outro, uma lei de contato
ou contágio.
Ao considerarmos a fotografia, a questão da similaridade logo se coloca.
Adicionalmente, o que Dubois vai chamar de pulsão metonímica nos permite
entender a força e irradiação do referente na imagem fotográfica.
A unicidade referencial literalmente se propaga por contato, pelas escalas da me-
tonímia, pelo jogo da contiguidade material, como um calor intenso que corre por
corpos condutores, tocando-se um ao outro e chegando, por assim dizer, a queimar a
imagem na incandescência de sua singularidade irredutível. (DUBOIS, 1993, p. 78)
Como signo por conexão física marcado pela semelhança, a representação fo-
tográfica encontra-se bastante próxima das leis mágicas enunciadas por Frazer.
De fato, para falar apenas da menos óbvia lei de contiguidade, a fotografia par-
tilha de princípios da magia por contiguidade assim como definida por Mauss:
A forma mais simples dessa noção de contiguidade simpática nos é dada na identifi-
cação da parte ao todo. A parte vale pela coisa inteira. Os dentes, a saliva, o suor, as
unhas, os cabelos representam integralmente a pessoa; de tal modo que, por meio
deles, pode-se agir diretamente sobre ela, seja para seduzí-la, seja para enfeitiçá-la.
A separação não interrompe a contiguidade, pode-se mesmo reconstituir ou susci-
tar um todo com o auxílio de uma de suas partes: Totum ex parte. (2003, p. 100)
A fotografia, assim como a magia, não pode viver de abstração, uma fotografia
é sempre de algo ou de alguém, e ambas, fotografia e magia, só existem na
sua relação com o mundo sensível e concreto (CAIUBY NOVAES, 2008).
9
No original: “Frazer’s mistake was, so to speak, to imagine that magicians had some non-tandard
physical theory, whereas the truth is that ‘magic’ is what you have when you do without a physical
theory on the grounds of its redundancy, relying on the idea, which is perfectly practicable, that
the explanation of any given event (especially if socially salient) is that it is caused intentionally”.
10
No original: “first, that like produces like, or that and effect resembles its cause; and, second, that
things which have once been in contact with each other continue to act on each other at a distance
after the physical contact has been severed”.
A experiência da imagem 2p.indd 209 14/09/2016 14:28:02
210 Mauss vai dizer que os ritos mágicos explicam-se muito menos facilmente
pela aplicação de leis abstratas do que como transferência de propriedades
cujas ações e reações são previamente conhecidas. Os ritos de contiguidade
são, por definição, transmissões de propriedades (MAUSS, 2003, pp. 110-11).
Michael Taussig, em seu livro Mimesis and Alterity, busca articular a teoria da
magia de Frazer com algumas discussões que extrai da obra de Walter Benjamin.
Seu argumento explora como “a noção de cópia, na prática mágica, afeta o
original de tal forma que a representação comparte ou adquire as propriedades
do representado” (1993a, pp. 47-48).11
No início de seu livro, Taussig oferece a definição de mímesis que retomará
inúmeras vezes ao longo do texto: “a faculdade mimética é a natureza que a
cultura usa para criar uma segunda natureza, a faculdade de copiar, imitar, criar
modelos, explorar diferenças, entregar-se e tornar-se outro. [...] Para usar uma
linguagem antiga isso é ‘magia simpática’” (1993a, p. xiii).12 O que quer dizer,
neste contexto, uma frase como “a mímesis é magia simpática”?
Para Taussig, existe algo como que um poder mágico na replicação por meio
do qual a imagem afeta aquilo do qual ela é uma imagem. O exemplo que
clarifica a ideia vem dos Cuna. Os nuchukana (nuchu, no singular) são figuras
de madeira dotadas de poder mágico de cura. Em um livro escrito junto com
Rubén Perez Kantule, um índio Cuna, Nordenskiold (1938) descreve como
essas figuras de madeira representavam tipos europeus. Mas por que, pergun-
ta Taussig, essas figuras cravadas em madeira, tão importantes para a cura e,
portanto, para a sociedade Cuna, são feitas à imagem dos europeus? “Por que
eles são Outro e por que são o Outro colonial?” (1993a, p. 7).13
Os curandeiros e videntes possuem esses poderes ocultos graças aos nuchukana
que funcionam assim como espíritos tutelares nas práticas mágicas. Mas esses
espíritos são cópias do homem branco colonizador na medida em que o que
ocorre é uma apropriação mágica, feita pelo colonizado, da mística que envolve
o aparato do colonizador.
Taussig recorre também a um evento no qual, após ter visto um barco com
“gringos” a bordo e tê-los reconhecido como sendo “coisa do diabo”, um xamã,
11
No original: “[...] on this notion of the copy, in magical practice, affecting the original to such a
degree that the representation shares in or acquires the properties of the represented”.
12
No original: “[...] the mimetic faculty, the nature that culture uses to create second nature, the
faculty to copy, imitate, make models, explore difference, yield into and become Other. [...] In an
older language, this is ‘sympathetic magic’”.
13
No original: “[...] why are they Other, and why are they the Colonial Other?”.
A experiência da imagem 2p.indd 210 14/09/2016 14:28:02
ao voltar para casa, decide fazer uma cópia do barco que havia visto, ao invés 211
Alguns apontamentos sobre fotografia, magia e fetiche
de apenas realizar um ritual defensivo que curasse a ele e aos que o acompa-
nhavam daquela influência maligna. O xamã escolheu esse caminho pois, ao
fazer uma cópia do barco e de sua tripulação, ele também estava capturando
o poder daqueles espíritos.
Retomando Benjamin, Taussig argumenta que as discussões sobre a mímesis
e a faculdade mimética estão relacionadas, para esse filósofo, a um tema que
perdura em sua obra: “[...] o surgimento do primitivo dentro da modernidade,
como resultado direto da modernidade” (1993a, p. 20).14
Com efeito, o subtítulo do livro de Taussig é “uma história particular dos sen-
tidos”. Ao retomar as considerações de Benjamin sobre o lugar da mímesis na
modernidade, o caráter histórico do seu argumento ganha relevância. Segundo
ele, a “[...] modernidade nos dá a causa, contexto, meios e necessidades para
o ressurgimento – e não a continuidade – da faculdade mimética”. E continua:
“[...] a cultura de massa em nossos tempos tanto estimula quanto se baseia em
modos de percepção miméticos, nos quais a espontaneidade, a animação dos
objetos e a linguagem do corpo que combina pensamento e ação, sensibilidade
e intelecto, são essenciais” (1993a, p. 20).15
A apropriação de Benjamin passa sempre pelo conceito de inconsciente ótico,
tal qual exposta em seu ensaio Pequena história da fotografia. Nesse artigo,
Benjamin defende que a fotografia – diferentemente da pintura que, segundo
ele, manifesta sobretudo o “talento artístico do seu autor” – é capaz de revelar
à consciência algo estranho e novo que há no espaço das representações da
natureza e é a isso que chama de “inconsciente ótico”. Benjamin escreve que
a fotografia revela […] os aspectos fisionômicos, mundos de imagens habitando as
coisas mais minúsculas, suficientemente ocultas e significativas para encontrarem
um refúgio nos sonhos diurnos, e que agora, tornando-se grandes e formuláveis,
mostram que a diferença entre a técnica e a magia é uma variável totalmente
histórica (1994, p. 94).
14
No original: “[...] ‘the primitive’ within modernity as a direct result of modernity”.
15
No original: “[...] modernity provides the cause, context, means, and needs, for the resurgence
– not the continuity – of the mimetic faculty. [...] mass culture in our times both stimulates and
is predicated upon mimetic modes of perception in with spontaneity, animation of objects, and a
language of the body combining thought with action, sensuousness with intellection, is paramount”.
A experiência da imagem 2p.indd 211 14/09/2016 14:28:02
212 Marx, iconofilia e fetichismo
Em seu texto sobre A tecnologia do encanto e o encanto da tecnologia, Gell, como
que ecoando o argumento de Benjamin, aproxima as noções de técnica, espécie
de símbolo do desenvolvimento das sociedades ocidentais, e de magia. Ele afirma
que “A magia habita a atividade técnica como uma sombra; ou, preferivelmente,
a magia é o contorno negativo do trabalho, como se – na linguística saussureana –
o valor do conceito (digamos, o de ‘cão’) fosse a função do contorno negativo
dos conceitos circunvizinhos (‘gato’, ‘lobo’, ‘mestre’)” (2005, p. 59).
O autor chama atenção também para o fato de que tratar objetos de arte (e,
portanto, também a fotografia) como pessoa não significa dizer que os objetos
são pessoas. Ele afirma que “[...] obras de arte, imagens, ícones e outros devem
ser tratados, no contexto de uma teoria antropológica, como pessoas [person-
-like], isto é, fontes e alvos da agência social” (1998, p. 96).16
Assim, seria razoável imaginar que alguém que afirmasse que uma fotografia
fala, anda e age, como se supõe que faria qualquer ser humano, seria toma-
do, no mínimo, como excêntrico. A ideia de um procedimento “como se”
está relacionada com a própria maneira como a realidade social é percebida.
Taussig argumenta que,
[c]om razão, o pós-modernismo nos instruiu implacavelmente de que a realidade
é artifício, mas, não obstante, me parece, não se demonstrou muita surpresa em
relação ao fato de que nós continuamos vivendo, fingindo – graças à faculdade
mimética – que o que vivemos são fatos, não ficções (1993a, p. XV).17
Em certo sentido, o argumento se aproxima da lógica pela qual opera o fetiche –
e também a ideologia – se considerarmos a máxima que Octave Mannoni
(1969) tornou célebre: “je sais bien, mais quand-même”. No contexto de
nossa discussão, poderíamos dizer: eu sei bem (que estas fotografias não são
pessoas), mas mesmo assim (as tomo como se fossem).
Em sua discussão sobre a retórica da iconoclastia, Mitchell chama atenção para
aquilo que ele vê como um método bastante comum nas análises de Marx
sobre ideologia e fetichismo, isto é, o procedimento de tornar os conceitos
16
No original: “[...] works of art, images, icons, and the like have to be treated, in the context of an
anthropological theory, as person-like; that is, sources of, and targets for, social agency”.
17
No original: “[w]ith good reason postmodernism has relentlessly instructed us that reality is artifice
yet, so it seems to me, not enough surprise has been expressed as to how we nevertheless get on
with living, pretending – tanks to the mimetic faculty- that we live facts, not fictions”.
A experiência da imagem 2p.indd 212 14/09/2016 14:28:02
concretos por meio de sua transformação em imagens. “Ideologia é o termo 213
Alguns apontamentos sobre fotografia, magia e fetiche
crucial da análise de Marx da mente e da consciência e as mercadorias são seus
objetos físicos centrais no mundo real” (1986, p. 161).18 A argumentação segue
dizendo que o procedimento de tornar concretos os conceitos opera através
do estabelecimento de metáforas e que:
A metáfora para ideologia, ou como diria Marx, a imagem por trás do conceito
é a camera obscura, literalmente um “quarto escuro”, ou caixa, no qual imagens
são projetadas. A imagem por trás do conceito de mercadoria, por outro lado, é o
fetiche ou ídolo, um objeto de superstição, fantasia e comportamento obssessivo.
(id., ibid.; p. 162)19
Mitchell chama também atenção para o fato de que, em Marx, o concei-
to de ideologia (e também de fetichismo) tem fundamento histórico em
um projeto de iluminação e esclarecimento do pensamento em relação a
práticas de mistificação sustentadas pela irracionalidade e é neste sentido
que “ideologia seria um método de separar as ideias verdadeiras das falsas
ao determinar que ideias teriam uma conexão verdadeira com a realidade
externa” (id., ibid.; p. 165).20
A ideia de um conceito capaz de servir como medida de corte e divisão entre
um pensamento verdadeiro, racional e iluminado e outro marcado pela fal-
sidade e pela ilusão é também intrínseca à ideia de fetiche. Nos séculos XVI
18
No original: “Ideology is the crucial term in Marx’s analysis of mind and consciousness, and com-
modities are his central physical objects in the real world”.
19
No original: “The metaphor for ideology, or as Marx would say, the image behind the concept, is the
camera obscura, literally a ‘dark room’ or box in which images are projected. The image behind the
concept of commodity, on the other hand, is the fetish or idol, an object of superstition, fantasy, and
obsessive behavior”. Mitchell argumenta que “[o] conceito de ideologia é baseado, como a palavra
sugere, na noção de entidades mentais ou ‘ideias’ que provem as matérias dos pensamentos. Na medida
em que estas ideias são entendidas como imagens – como signos pictóricos e gráficos impressos ou
projetados no meio da consciência – portanto, a ciência das ideias, é realmente uma iconologia, uma
teoria das imagens” (1986, p. 164). No original: “The concept of ideology is grounded, as the word
suggests, in the notion of mental entities or ‘ideas’ that provide the materials of thought. Insofar
as these ideas are understood as images – as pictorial, graphic signs imprinted or projected on the
medium of consciousness – then ideology, yhe science of ideas, is really an iconology, a theory of
imagery”. Os equipamentos e mecanismos óticos associados ao surgimento da fotografia se trans-
formaram em símbolos confundidos com a própria ideia de Iluminação. “A camera obscura tem sido
sinônimo de empiricismo, observação racional e reprodução direta da visão natural desde que Locke
a utilizou como metáfora para entendimento” (id., ibid.; p. 168). No original: “The camera obscura
had been synonymous with empiricism, with rational observation, and with the direct reprodution
of natural vision ever since Locke employed it as a methaphor for understanding”.
20
No original: “Ideology was to be a method for separating true ideas from false ones by determining
which ideas had a true connection with external reality”.
A experiência da imagem 2p.indd 213 14/09/2016 14:28:02
214 e XVII, o termo foi cunhado por navegantes e comerciantes portugueses e
holandeses que circulavam na costa ocidental da África para designar objetos
materiais aos quais os africanos atribuíam qualidades místicas que os faziam
ser adorados. Em 1760, sua derivação, fetichismo, foi elaborada por Charles
de Brosses como “religião primitiva” e, em seus argumentos, aparecia como
“a condição pura da não-iluminação” (PIETZ, 1993, p. 136).21
É possível que sua popularidade entre pensadores como Marx e Freud se
devesse justamente à capacidade heurística do conceito de fetichismo de
relacionar, separando e discernindo, práticas de conhecimento distintas, uma
mais próxima da iluminação racional e outra que caracterizaria o “pensamento
primitivo” ou as chamadas perversões. William Pietz argumenta que o fetichis-
mo foi uma categoria radicalmente nova que:
deslocava o grande objeto da crítica iluminista – religião – ao colocá-lo em uma
problemática causal adequada à sua própria cosmologia secular, cujo “princípio de
realidade” foi a cisão absoluta entre o reino mecânico-material da natureza física [...]
e o reino humano de intenções e desejos orientado para fins. (id., ibid.; pp. 138-39)22
Assim, o “fetichismo era o equívoco definitivo da mente pré-iluminada” (id.,
ibid.). Seria, nesse sentido, o lado oculto do próprio pensamento racional ou,
talvez, para usar a formulação de Pierre Clastres (1968), aquele pensamento
que a razão ocidental precisou excluir para se formar enquanto tal.
Não obstante, seria um erro apostar no possível corolário desta ideia: na
indistinção entre estes pensamentos e dois tipos de mundo ou, para ficar no
vocabulário mais usual, dois tipos de sociedade. Mesmo Marx, ao caracterizar
o fetichismo da mercadoria, faz desta atribuição fantasmática de socialidade
a um objeto material alvo de sua crítica ao sistema capitalista moderno, reco-
21
Ao discutir este conceito, Marcio Goldman lembra que “[a] partir do século XIX, o termo conhe-
ceu um estranho destino. Por um lado, foi usado como conceito central por alguns dos principais
fundadores das ciências humanas modernas: Comte, Marx e Freud, para citar apenas os maiores.
Por outro, foi quase unanimemente considerado por etnógrafos e antropólogos uma simples má
tradução de ideias e objectos variados e, até certo ponto, muito heterogêneos” (2009, p. 111). De
fato, Mauss escreve que :[a] noção de fetiche deveria, acreditamos, desaparecer definitivamente
da ciência e ser substituída pela de mana. […] Além disso, ao escrever a história da ciência das
religiões e da etnografia, alguém ficaria absorto com o papel sem mérito e fortuito que uma noção
como fetiche teve nos trabalhos teóricos e descritivos. Ela corresponde a nada mais do que um
imenso mal-entendido entre duas civilizações, a africana e a europeia” (MAUSS, 1968, pp. 216-17
e 244-45).
22
No original: “[...] displaced the great object of Enlightenment criticism – religion – into a causative
problematic suited to its own secular cosmology, whose ‘reality principle’ was the absolute split
between the mechanistic-material realm of physical nature […] and the end-oriented human realm
of purposes and desires”.
A experiência da imagem 2p.indd 214 14/09/2016 14:28:02
nhecendo, ao mesmo tempo, o fetichismo como um procedimento operante 215
Alguns apontamentos sobre fotografia, magia e fetiche
em sua própria sociedade.
Para uma reflexão como a nossa, que não objetiva discutir aprofundadamente
o fetichismo, mas apenas estabelecer conexões parciais entre este conceito
e a fotografia, a teoria marxista, carregada de imaginação fotográfica – aqui
entendida por uma imaginação associada amplamente à luz e aos mecanismos
de materialização da imagem – é um lugar privilegiado de análise. Para além do
uso de metáforas que se valem de dispositivos e procedimentos óticos, Walter
Benjamin foi o pensador que adiantou uma série de reflexões sobre a fotografia.
Na sua discussão sobre a relação entre ideologia e camera obscura, Mitchell
aponta para a forma ambivalente desta associação em Marx e sugere que ela
é replicada por Benjamin na sua concepção da fotografia que, por um lado,
aparece como “a epítome da política econômica destrutiva e consumptiva do
capitalismo” que “dissipa a ‘aura’ das coisas pela sua reprodução em uma forma
racionalizada nivelada automática e estatísticamente” (1986, p. 180).23 Por
outro lado, a fotografia aparece como “o primeiro meio de produção verda-
deiramente revolucionário”, “inventado simultaneamente à ascensão do socia-
lismo” e “capaz de revolucionar a função da arte como um todo, bem como os
sentidos humanos” (id., ibid., p. 181). Nesse sentido, a fotografia seria “tanto
a incarnação material da ideologia quanto um símbolo do ‘processo-de-vida
histórico’ que traria um fim à ela” (id., ibid.).24
23
No original: “[...] the epitome of the destructive, consumptive political economy of capitalism; it
dispels the ‘aura’ of things by reproducing them in a leveling, automatic, statiscally rationalized form”.
24
No original: “[...] ‘the first truly revolutionary means of production’ (“Work of Art”, p. 224) [...]
a medium that was invented ‘simultaneously with the rise of socialism’ and that is capable of re-
volutionizing the whole function of art, and of the human senses as well”. E mais à frente: “[...] as
both the material incarnation of ideology and as a symbol of the ‘historical life-process’ [...] that
would bring an end to ideology”.
Lembramos que “Benjamin, certamente, não foi o único a expressar a ambivalência em relação à
câmera. As intermináveis batalhas sobre o status artístico da fotografia e a discussão mais ampla
do quanto a imagem fotográfica possui uma ontologia especial refletem sentimentos contraditórios
similares. É a fotografia arte ou mera indústria? Ela é ‘Rembrandt aperfeiçoado’, como Samuel Morse
pensou, ou uma nova distração para a ‘multidão idólatra’ como Baudelaire a caracterizou? (‘Um
Deus vingador ouviu as orações da multidão; Daguerre foi seu messias’). A câmera provem uma
encarnação das representações objetivas e científicas pela mecanização do sistema de perspectiva
como Gombrich sugere? Ou é um instrumento de ‘materialismo contemplativo’, ‘um aparato
puramente ideológico’ cuja visão ‘monocular’ ratifica ‘o centramento metafísico do sujeito’ no
humanismo burguês como Marcel Pleynet sustenta?” (MITCHELL, 1986, p. 181).
No original: “Benjamin was not the only one to express ambivalence about the camera, of course.
The endless battles over the artistic status of photography and the larger question of whether the
photographic image has a special ‘ontology’ reflect similar contradictory feelings. Is photography
a fine art or a mere industry? Is it ‘Rembrandt perfected,’ as Samuel Morse thought, or a new
A experiência da imagem 2p.indd 215 14/09/2016 14:28:02
216 De A ideologia alemã e seus primeiros escritos para O Capital e seus escritos
posteriores sobre economia política, Marx muda a ênfase do conceito de ideo-
logia para o de fetichismo como noção explicativa chave do desenvolvimento
da lógica capitalista. “Esta mudança preserva a acusação de idolatria na so-
ciedade capitalista, mas a desloca do domínio das ideias e teorias para a esfera
de objetos materiais e práticas concretas” (id., ibid., p. 186).25
O chamado “primitivismo” da arte moderna do início do século XX deixa claro
que a ideia de fetiche seria apropriada para cotejar estes objetos advindos de
realidades não ocidentais e dotados de fascínio social com as obras de arte
no contexto de sociedades industriais modernas e da arte ocidental.26 Sendo
assim, por que, se pergunta Mitchell, é a ideologia a noção fundamental para
o criticismo marxista na literatura e na arte? E responde: o “fetichismo é uma
forma vulgar, supersticiosa e degradada de comportamento” (id., ibid., p.
187), o que o torna apropriado para pensar mercadorias no regime capitalista,
mas completamente inapropriado às reflexões sobre a arte ocidental, vista, ao
contrário, como encarnada em objetos sublimes e com alto status social. Esta
recusa do criticismo marxista é sustentada, segundo Mitchell, por um medo
inerente ao próprio fetichismo a partir da perspectiva ocidental.
O “horror” do fetichismo não é apenas que ele está envolvido em um ato ilusório
e figurativo de tratar objetos materiais como se eles fossem pessoas, mas que essa
transferência de consciência para “paus e pedras” parece drenar a humanidade
do idólatra. Na medida em que paus e pedras vem à vida, o idólatra é visto como
decaindo em uma espécie de morte em vida, “um estado de estupidez brutal” (DE
BROSSES, p. 172) no qual o ídolo é mais vivo que o idólatra. (id., ibid., p. 190)
distraction for the ‘idolatrous multitude,’ as Baudelaire characterized it? (‘An avenging God has
heard the prayers of this multitude; Daguerre was his messiah.’) Does the camera provide a ma-
terial incarnation of objective, scientific representation by mechanizing the system of perspective,
as Gombrich argues? Or is it an instrument of ‘contemplative materialism,’ ‘a purely ideological
apparatus’ whose ‘monocular’ vision ratifies ‘the metaphysical centering on the subject’ in bourgeois
humanism, as Marcel Pleynet contends?”.
25
No original: “The shift preserves the general indictment of idolatry in capitalist society, but moves
it from the realm of ideals and theories into the sphere of material objects and concrete practices”.
26
É prudente lembrar que a apropriação de objetos advindos de culturas não ocidentais – que, no
contexto do modernismo eram, normalmente, fetiches africanos – na arte do Ocidente foi, via de
regra, extremamente problemática. Para uma discussão sobre a histórica exposição “Primitivism” in
20th Century Art: Affinity of the Tribal and the Modern, realizada no Museu de Arte Moderna de
Nova York (MOMA) em 1984, ver Clifford (1988). Ainda sobre esta exposição, ver Price (2000),
para quem a ênfase nas afinidades formais dos objetos africanos e daqueles elaborados por mestres
da arte ocidental como Picasso, Brancusi e Giacometti obliterou desigualdades sociais e políticas
importantes em nome de uma comunhão ilusória.
A experiência da imagem 2p.indd 216 14/09/2016 14:28:02
Dessa maneira, a ideia marxista de fetiche aplicada à mercadoria – isto é, sua 217
Alguns apontamentos sobre fotografia, magia e fetiche
concepção como “objetos que foram personificados por um ato de projeção da
consciência” (id., ibid.) – faz dos indivíduos ocidentais também fetichistas e,
assim, torna-se importante a diferenciação deste tipo de fetichismo e daquele
praticado pelos “primitivos”.
Mitchell argumenta convincentemente que a distinção entre o que chama
de fetichismo moderno e antigo é justamente a resistência considerável que
ocidentais apresentam – aí, claro, incluído o próprio Marx – em se considerar
fetichistas, isto é, em insistirem que seus objetos não possuem o caráter mágico
que a teoria marxista vê nas mercadorias.
De Brosses argumentava que a magia do fetichismo depende da projeção de
consciência em um objeto, mas, ao mesmo tempo, do esquecimento deste
ato de projeção. O fetichismo ocidental, por outro lado, dependeria de um
duplo esquecimento.
[P]rimeiro, o capitalista esquece que foi ele e sua tribo que projetaram vida e
valor em mercadorias no ritual da troca. ‘Valor-de-troca’ passa a ser visto como
um atributo das mercadorias ainda que ‘nenhum químico tenha jamais descoberto
valor-de-troca em uma pérola ou diamante.’
E, em um segundo procedimento de amnésia, “[a] mercadoria é coberta com
um véu de familiaridade e trivialidade, na racionalidade de relações puramente
quantitativas e ‘formas de vida naturais e auto-evidentes’”. No final das contas,
“[a] mais profunda magia do fetichismo da mercadoria é sua negação de que há
qualquer coisa mágica em relação a ela: ‘os passos intermediários do processo
desaparecem no resultado sem deixar rastros’” (id. ibid., p. 193).27
Freud e o fetichismo na fotografia
A ideia, que vimos operar na teoria marxista, do fetichismo como um quid
pro quo marcado por seu próprio esquecimento é também central para a ela-
boração freudiana do conceito. Em seu ensaio de 1927, Freud defendeu que
o fetichismo é marcado tanto por uma afirmação quanto por uma negação.
Pensado como “um substituto para o pênis” (2007, p. 161), o fetiche apare-
ce como uma tentativa do indivíduo de se resguardar contra a possibilidade
27
No original: “The deepest magic of the commodity fetish is its denial that there is anythong magical
about it: ‘the intermediate steps of the process vanish in the result and leave no trace behind’”.
Todas as aspas simples internas às citações de Mitchell são d’O Capital de Marx.
A experiência da imagem 2p.indd 217 14/09/2016 14:28:02
218 de castração com a qual entra em contato ao perceber que a mãe não possui
este orgão genital.
Ao teorizar sobre este conceito, Freud argumenta que o fetichista é capaz a um
só tempo de reconhecer a fantasia de sua projeção como fantasia e, ainda assim,
assegurar seu poder sobre o indivíduo. Lembremos a fórmula de Mannoni: “eu
sei bem, mas mesmo assim”.
Esta fórmula é também retomada por Julia Kristeva que, influenciada por
Lacan, fala sobre o fetichismo como equivalente à própria linguagem. “Mas
não é exatamente a linguagem nosso definitivo e inseparável fetiche?”, ela
se pergunta. “A linguagem se baseia precisamente na negação fetichista (‘Eu
sei disso, mas dá no mesmo’, ‘o signo não é a coisa, mas dá no mesmo’ etc.)”
(KRISTEVA, 1982, p. 37).28
Na teoria psicanalítica, o fetichismo perde seu substrato histórico e etnológico
para se referir às operações que se dão no inconsciente da linguagem e da mente.
E é esta noção de fetichismo em particular que Christian Metz operacionaliza
em sua discussão sobre a fotografia. Ao discutir teorias do filme e da fotografia,
ele sugere que a fotografia, graças ao seu tamanho reduzido e à possibilidade de
um olhar prolongado, características que sustenta em contraposição ao filme,
se dá a trabalhar ou funcionar melhor como fetiche.
Ainda que Metz reconheça que, do ponto de vista do modo de produção, um
filme seja apenas uma sucessão de fotografias, ele estabelece diversas distin-
ções entre o primeiro e as últimas que vão além do tamanho reduzido e da
possibilidade de um olhar prolongado a partir de uma perspectiva psicológica.
Afirma ainda que “enquanto a recepção social do filme é orientada para uma
espécie de show-business ou referente imaginário, o referente real é aquele
28
No original: “But is not exactly language our ultimate and inseparable fetish? And language, precisely,
is based on fetishist denial (‘I know that, but just the same’, ‘the sign is not the thing, but just the
same’ etc.)”.
Ao retomar a genealogia do conceito de fetiche levada a cabo por Pietz (1985; 1987; 1988), Taussig
a considera, ela própria, como análoga ao fetiche. Ele argumenta que, após os muitos deslocamentos
sofridos pela noção de fetiche, “[o] que se manteve, ativa e poderosa, foi a própria palavra – enig-
maticamente incompleta. Poderíamos dizer que apenas o significante, desolado em seu apagado
significado, acumulado e dissipado pelas névoas do comércio, religião, bruxaria, escravidão e o que
passou a ser chamado de ciência – e isto é precisamente o mecanismo formal do fetichismo (tal
qual vemos usado por Marx e Freud), no qual o significante depende, mas apaga seu significado”
(1993a, p. 225). No original: “What is left, active and powerful, is the word itself – enigmatically
incomplete. Just the signifier, we could say, bereft of its erased significations gathered and dissipated
through the mists of trade, religion, witchcraft, slavery, and what has come to be called science –
and this is precisely the formal mechanism of fetishism (as we see it used in Marx and by Freud),
whereby the signifier depends upon yet erases its signification”.
A experiência da imagem 2p.indd 218 14/09/2016 14:28:02
sentido como dominante na fotografia” (METZ, 1985, p. 82).29 Nesse sentido, 219
Alguns apontamentos sobre fotografia, magia e fetiche
segundo o autor, a fotografia, diferentemente do filme, desfruta de um grande
reconhecimento social no domínio do presumidamente real e da vida privada
da família, lugar de nascimento por excelência do fetiche freudiano.
O conceito de fetiche como operador dessa distinção entre fotografia e filme
vai produzindo outras conexões e concerne ao filme, por exemplo, o movimento
e a pluralidade (ambas implicadas no tempo) em oposição à “atemporalidade
da fotografia que é comparável à atemporalidade do inconsciente e da me-
mória” (id., ibid., p. 83).30 Metz, tal como Dubois e Barthes, reconhece uma
proximidade entre fotografia e morte em muitos sentidos e não apenas em
relação à fotografia mortuária:
[m]esmo quando a pessoa fotografada está ainda viva, o momento no qual ele
ou ela estava já desapareceu para sempre. Falando estritamente, a pessoa que foi
fotografada – e não a pessoa total, que é um efeito do tempo – está morta: “morta
por ter sido vista”, como diz Dubois em outro contexto. (id., ibid., p. 84)31
E, assim, o poder da fotografia é apresentado, justamente, como “ato de extrair
um pedaço de espaço e tempo, de deixá-lo inalterado enquanto o mundo à
sua volta continua a mudar” (id., ibid., p. 85).32
André Bazin, em seu clássico ensaio sobre a ontologia da imagem fotográfica,
também problematiza a relação entre o curso temporal e a fotografia, mas, ao
contrário de Metz, argumenta que “fixar artificialmente as aparências carnais
do ser é salvá-lo da correnteza da duração: aprumá-lo para a vida” (2008, p.
121). Gostaríamos de frisar a aproximação entre vida e fotografia enfatizada
por Bazin para sugerir que outra relação – segundo acreditamos, mais produtiva
analiticamente – entre fotografia e fetiche pode ser estabelecida e que, em
nada, a coloca fora da vida, mas que, ao contrário, a corporifica. Esta relação
nos ajuda também a enfatizar a importância de práticas de distinção e poder
na representação mimética engendrada por fotografias e tão aparentes nas
discussões sobre o fetichismo.
29
No original: “While the social reception of film is mainly oriented towards a show-business-like or
imaginary referent, the real referent is felt to be dominant in photography”.
30
No original: “[...] timelessness of photography which is comparable to the timelessness of the
unconscious and of memory”.
31
No original: “Even when the person photographed is still living, that moment when she or he was
has forever vanished. Strictly speaking, the person who has been photographed – not the total person,
who is an effect of time – is dead: ‘dead for having been seen’, as Dubois says in another context”.
32
No original: “[...] act of cutting off a piece of space and time, of keeping it unchanged while the
world around continues to change”.
A experiência da imagem 2p.indd 219 14/09/2016 14:28:02
220 Fotografia e poder no capitalismo imperialista
No livro que discutimos anteriormente, Taussig escreve:
Como Adorno e Benjamin, talvez também como o xamã cuna San Blas, minha
preocupação é restabelecer dentro e contra o mito da Iluminação, com sua razão
universal e descontextualizada, não apenas a resistência do particular concreto
contra a abstração, mas aquilo que eu julgo crucial ao pensamento que se move e
nos move – a saber, sua sensorialidade, sua mimeticidade. (1993a, p. 2)33
O empreendimento de Taussig, portanto, move-se no sentido inverso ao de
Marx, já que, em sua crítica, este último argumentava que “[o] fetichismo
está tão longe de elevar o homem acima de seus desejos sensórios que, pelo
contrário, é a ‘religião do desejo sensório’” (MARX apud PIRES, 2009, p. 60).
Para Taussig, este movimento de encontro à natureza sensória do conhecimento
está necessariamente conectado à invenção, na modernidade, do que chama de
“máquinas miméticas” como a câmera fotográfica – aquelas capazes de dotar
a produção de imagens de “possibilidades mágicas”.34
33
No original: “Like Adorno and Benjamin, not also this San Blas Cuna shaman, my concern is to
reinstate in and against the myth of Enlightenment, with is universal, context-free reason, not
merely the resistance of the concrete particular to abstraction, but what I deem crucial to thought
that moves and moves us – namely, it sensuousness, its mimeticity”.
Lembremos a distinção, realizada por Lévi-Strauss (2006), entre o pensamento científico, que
opera por abstrações, e o pensamento selvagem, que aparece como uma ciência do concreto. Se a
conjugarmos com as reflexões de Taussig na chave do ressurgimento do primitivismo na moderni-
dade, poderíamos, quem sabe, pensar nas práticas fotográficas como acionando um pensamento
selvagem no seio dos mecanismos de representação ocidental.
34
“Tal como eu interpreto (e devo enfatizar a natureza idiossincrática da minha leitura), um aspecto
não menos importante da análise de Benjamin das modernas máquinas miméticas, particularmente
com respeito aos poderes miméticos levados a cabo pela imagem publicitária, é sua visão segundo a
qual é precisamente propriedade dessas máquinas jogar com e mesmo restaurar o sentido esquecido
da particularidade contato-sensória que anima o fetiche. Essa capacidade de restauração transforma
o que ele chama de ‘aura’ (que eu aqui identifico com o fetiche das mercadorias) para criar um
tipo diferente e secular de maravilhoso” (TAUSSIG, 1993, p. 23). No original: “As I interpret it
(and I must emphasize the idiosyncratic nature of my reading), not the least arresting aspect of
Benjamin’s analysis of modern mimetic machines, particularly with regard to the mimetic powers
striven for in the advertising image, is his view that it is precisely the property of such machinery
to play with and even restore this erased sense of contact-sensuous particularity animating the
fetish. This restorative play transforms what he called ‘aura’ (which I here identify with the fetish
of commodities) to create a quitte different, secular sense of the marvelous”.
Nesse sentido, portanto, é como se o ressurgimento das práticas miméticas de reprodução e o
inconsciente ótico por elas possibilitado – com sua consequente animação da relação contato-
-sensibilidade – fossem o contrabalanço necessário do fetichismo da mercadoria, restabelecessem a
proximidade sensível que a alienação do trabalho na forma de fetichismo da mercadoria instaurou.
A experiência da imagem 2p.indd 220 14/09/2016 14:28:02
Em um livro anterior, Taussig, invocando Benjamin, já havia chamado atenção 221
Alguns apontamentos sobre fotografia, magia e fetiche
para as mórbidas relações entre mímesis, fetichismo e o empreendimento
imperialista.
Walter Benjamin sugeriu que a vulcânica explosão da produção de bens de consumo
nas sociedades industrializadas, a partir do século XIX, era algo que acarretava a
reativação de poderes míticos latentes, agora carregados, por assim dizer, de um
fetichismo daqueles mesmos bens, que surgiam como imagens oníricas autofor-
talecidas, as realizações que jamais seriam realizadas de um desejo constituído a
partir da miséria da mão de obra explorada, recrutada entre a força de trabalho
recentemente submetida à indústrialização. (1993b, p. 104)35
Anne McClintock, ao discutir a domesticidade e o racismo da mercadoria no
contexto do imperialismo do século XIX, sinalizou uma mudança que levou
à passagem do racismo científico para aquilo que designou como racismo
mercantil que “– nas formas especificamente vitorianas de propaganda e fo-
tografia, nas exposições imperiais e no movimento dos museus – converteu
a narrativa do progresso imperial em espetáculos de consumo produzidos em
massa” (2010, p. 62).36
No sentido de elucidar as relações de subordinação por trás das modernas prá-
ticas imagéticas da fotografia, diversos autores, com inclinação tanto marxista
(ou althusseriana) quanto foucaultiana, pensaram a história da fotografia como
indiscernível de uma história das instituições e dos mecanismos de poder que
35
Mais adiante no livro, acrescenta: “E se existe algo ligado àquele conceito de Benjamin e T. W.
Adorno, relativo ao ressurgimento do primitivismo, juntamente com o fetichismo das mercadorias
(pensem um momento na mão invisível de Adam Smith como a versão moderna no animismo),
então foi no teatro da crueldade racista, situado naquela fronteira que unia a selvageria à civiliza-
ção, que a força fetichista da mercadoria fundiu-se com os fantasmas do espaço da morte, para o
estonteante benefício de ambas. Penso aqui não em espaços estáveis e incrementados em direção
ao progresso, mas em súbitas erupções de branqueamento das zonas escuras, nas margens das
nações em desenvolvimento, onde a mercadoria se encontrou com o índio e apropriou-se, através
da morte, do poder fetichista da selvageria, criado pelo europeu e que o enfeitiçou” (TAUSSIG,
1993, p. 134).
36
McClintock considera que, em meados do século XIX, houve um deslocamento das narrativas sobre
raça, classe e gênero acompanhado de uma redução a uma única narrativa que impunha a imagem
da Família do Homem. “A ‘família’ evolucionária oferecia uma figura metafórica indispensável pela
qual distinções hierárquicas frequentemente contraditórias podiam ganhar a forma de uma narrativa
de gênese global [...]. Ao mesmo tempo, tinham de ser encontradas tecnologias do conhecimento
que dessem à figura da família uma forma institucional. As tecnolgias centrais que surgiram para
a exibição mercantil do progresso e da família universal foram, sugiro, as instituições vitorianas
quintensenciais do museu, da exibição da fotografia e da propaganda imperial” (2010, p. 78).
Para uma discussão sobre os dispositivos performativos de poder operantes nas representações e
práticas museográficas, ver Donna Haraway (1989).
A experiência da imagem 2p.indd 221 14/09/2016 14:28:02
222 operam as relações de dominação. John Tagg, talvez um dos mais influentes
expoentes desta corrente, advogou que a fotografia não possui identidade in-
trínseca, sendo melhor determinada pelo sistema discursivo do qual a imagem
que carrega é parte (1988, p. 4).
Em sua discussão sobre a fotografia e o tempo panóptico, McClintock enfatiza
que “[e]ntre a fotografia e o imperialismo pode-se observar uma circulação de
noções” (2010, p. 189). O ideal imperialista do século XIX carrega a utopia de
integração (reunião, ordenação) das economias mundiais em uma única cultura
mercantil e, para isso, precisava também de uma moeda universal de troca. Da
mesma maneira, argumenta a autora, havia a necessidade de difusão das concep-
ções relacionadas ao capital mercantil e à “verdade” do progresso tecnológico
através de um sistema centralizado de comunicação cultural. Neste contexto,
[a] fotografia oferecia o equivalente cultural de uma moeda universal. Como o
dinheiro, o fotografia prometia desde o início incorporar uma linguagem universal.
Como exultava uma reportagem de jornal: “[A fotografia] é a primeira linguagem
universal que se dirige a todos que possuem visão e é entendida tanto no curso da
civilização quanto na caverna do selvagem”. Saudada por ter superado os confusos
enigmas da linguagem e por ser capaz de comunicar numa escala global através da
faculdade universal da visão, a fotografia deslocou a autoridade do conhecimento
universal da linguagem impressa para o espetáculo. (id., ibid., p. 189)
A fotografia, portanto, aparece mais uma vez como ambivalente, a partir de um
outro registro. Por um lado, é a linguagem imagética apropriada às inclinações
universalistas do moderno capitalismo industrial. Por outro, opera clivagens
internas ao sistema econômico imperialista servindo de instrumento para as
mais diversas práticas de controle dos corpos e das populações.
Lembremos que, segundo Foucault (2005), esse é o momento do surgimento
do biopoder com seu novo modelo de coletividade, a população, e sua prática
de dominação característica, a disciplina. Para a disciplina se tornar efetiva, é
necessária a elaboração de um sistema de vigilância (marcado por uma lógica
panóptica) capaz de dar conta da multiplicidade de atores das sociedades mo-
dernas. Como perspicazmente afirmou Sekula, cada obra de arte fotográfica
tem oculto seu objetivo inverso nos arquivos de polícia (1984, p. 79).
Pensamentos inconclusivos
John Berger sugeriu que “[a] velocidade com que os possíveis usos da fotografia
foram avaliados é certamente uma indicação da profunda e central aplicabili-
A experiência da imagem 2p.indd 222 14/09/2016 14:28:02
dade da fotografia ao capitalismo” (1980, p. 48).37 Ora, se é impossível pensar 223
Alguns apontamentos sobre fotografia, magia e fetiche
a história do Ocidente senão como uma história de dominação do Outro (ra-
cializado, feminilizado, infantilizado), não podemos nos furtar de considerar
as propriedades miméticas da fotografia e suas aplicabilidades como possuindo
também um potencial extramente controlador.
Taussig, recorrendo a Adorno e Horkheimer (1985), fala de processos de
organização da mímesis (1993a, pp. 66-68; 86-88). Como vimos a partir das
reflexões de McClintock, o poder da mímesis fotográfica – em sua combinação
de imitação e sensibilidade ou, como formula Frazer em sua teoria da magia,
similaridade e contato – é operacionalizado por diversas instituições sociais que
dela fazem uso no sentido de controlar os corpos e as populações. As narrativas
construídas por estas instituições se valem de práticas fotográficas (mas também
museográficas, publicitárias etc.) para capturar as pessoas (e seus corpos) em
representações que são, muitas vezes, alheias à sua vontade e domínio.
Não é difícil imaginar o controle sobre as representações de judeus, homosse-
xuais e ciganos pelo nazismo como a magia de um processo de subjugação que
possibilitou sua exterminação em massa nos anos do Holocausto. Pensemos no
quão importante foi para o Ocidente controlar, difundir, divulgar e exibir uma
determinada representação do Oriente e daqueles que o habitam no imaginário
coletivo.38 Reflitamos sobre como as representações fotográficas e videográficas
são utilizados pelos Estados Unidos na construção da equação muçulmano =
terrorista após os atentados de 11 de setembro de 2001. Lembremos também
como o vazamento das fotografias da prisão de Abu Ghraib provocou um cisma
indesejado e inesperado na representação dos Estados Unidos como modelo
para ação humanitária.39
Assim, levando em conta essas considerações, a ideia de mímesis, quando associada
à fotografia, nos parece bastante operacional também para pensar as práticas foto-
gráficas de dominação levadas à cabo pelas modernas sociedades (pós)industriais.
Não apenas sua separação, no plano epistemológico, de civilizações que acreditam
em supertições irracionais como os fetiches africanos, mas igualmente um controle
político. McClintock afirma que “[a] fotografia se tornou servidora do progresso
imperial” (2010, p. 192). Mas, parece-nos, segue sendo, até os dias de hoje, algo
que carrega, junto com suas possibilidades inerentes de transformação, o risco
37
No original: “The speed with which the possible uses of photography were seized upon is surely
an indication of photography’s profound, central applicability to industrial capitalism”.
38
Para a importância da mímesis no contexto da construção controlada do Oriente e do Outro colonial,
ver Said (2007) e Bhabha (1998).
39
Para uma análise sobre as fotografias vazadas de Abu Ghraib, ver Butler (2009).
A experiência da imagem 2p.indd 223 14/09/2016 14:28:02
224 de aprisionamento: a mímesis como uma prática para viver com a natureza e a
mímesis como dominação da natureza, diriam Adorno e Horkheimer.
Esse caráter de “organização controlada da mímesis” (TAUSSIG, 1993, p. 68)
não parece ter escapado aos Asuriní. O primeiro contato dos Asuriní com a
fotografia remonta ao ano de 1971 e coincide com o momento do contato oficial
com os brancos. Os irmãos Antônio e Carlos Lukesh, além de padres católicos,
eram etnólogos e as fotografias tiradas dos índios foram posteriormente publi-
cadas no livro Bearded Indians of the Tropical Forest, em 1976. Nesses anos, a
reprodução da imagem dos seres humanos pela fotografia foi considerada uma
ameaça à vida da aldeia. Os Asuriní dizem que o padre católico Anton Lukesh
“tirou fotografia e aí homem morreu, não aguentou” (MÜLLER, 2000, p. 184).40
Cerca de dez anos depois do contato, em 1982, a população Asuriní foi consi-
derada ameaçada de extinção e chegou a contar com 52 pessoas, pouco mais da
metade dos índios contatados. Epidemias de gripe e malária contribuíram para a
quase extinção do grupo. Os Asuriní atribuem os adoecimentos e mortes tanto
à comida oferecida pelos brancos, especialmente o café sem açúcar que causou
disenteria e dores de barriga em praticamente todos os índios que beberam,
quanto à agência patogênica da fotografia. Entendemos que as fotografias dos
Asuriní tiradas na época do primeiro contato causaram mortes e adoecimentos,
pois a organização e controle das representações fotográficas que continham
o princípio vital das pessoas que se encontravam distribuídas nas imagens não
cabia aos xamãs, autorizados a manipular o ynga, estando, ao contrário, sob o
domínio dos brancos.
Tanto no caso dos Asuriní, como nos casos apontados anteriormente, salta aos
olhos uma associação instrínseca entre fotografia e corpo ou, para sermos mais
precisos, a fotografia como extensão do corpo, seu caráter protético de pessoa
distribuída. Gell evoca a representação de pessoas em fotografias e retratos para
40
A câmera fotográfica suga o ynga (princípio vital) da pessoa fotografada ao reproduzir sua imagem,
ayngava. Os Asuriní traduzem o ynga como “sombra”, princípio vital visualizado mas sem matéria;
ynga se manifesta através da voz, da pulsação do corpo e do coração, é substância vital que anima
o corpo (MÜLLER, 1996, p. 163). Ayngava em Asuriní pode ser traduzido por imitação, réplica,
medida, imagem. A relação entre ayngava (imagem) e ynga (princípio vital) está na base da eficácia
patogênica da fotografia. Apesar de designarem coisas diferentes, o significado dos dois termos estão
implicados um no outro. Müller trabalha com a ideia de que, apesar de se tratar de uma diferença
apenas morfofonêmica entre ynga e ayngava, pois designam coisas diferentes, o significado de uma
constitui o significado da outra: ayngava (imagem) contem ynga (princípio vital). A conclusão de
Müller sobre esta relação (entre ayngava e ynga) “[...] é que, para os Asuriní, a ‘imagem’, ela pró-
pria, é constitutiva da pessoa (enquanto ser), distinguindo-se do princípio vital/substância, ynga,
por sua reprodução plástica, mas igualmente princípio vital e não apenas reprodução, no sentido
de representação de algo ausente” (2000, p. 186).
A experiência da imagem 2p.indd 224 14/09/2016 14:28:02
citar mais um exemplo de agência da imagem. Cabe pontuar que o autor não 225
Alguns apontamentos sobre fotografia, magia e fetiche
atribui a agência da fotografia apenas aos povos ditos primitivos que vivem em
tribos e que acreditam que suas almas estão em perigo por terem sido roubadas
pelo retrato. Diversamente, ele afirma que todos devemos ser cautelosos em
relação à nossa representação fotográfica e sua circulação (GELL, 1998, p. 102).
Em outro momento, Grunvald (2013) articulou o caráter mediador da fo-
tografia através do uso que é feito dela por pessoas que se travestem e que
se autointitulam crossdressers. Muitas destas pessoas mantêm a prática de
crossdressing em segredo e, portanto, a exposição fotográfica de seus corpos
travestidos é sempre negociada e recebe grande atenção e cuidado.
Em espaços de sociabilidade direcionados a este público, contudo, máquinas
fotográficas são abundantes e grande parte do tempo e energia é despendido
tirando fotografias que serão publicadas posteriormente em suas páginas pes-
soais do Facebook. Para além da ideia de registrar um momento, estas imagens
fotográficas são um dos instrumentos mais importantes através dos quais as
crossdressers se corporificam no mundo.
Ao falar sobre suas fotografias, uma crossdresser, certa vez, afirmou: “quando
posto ou vejo uma fotografia minha montada é como se eu estivesse montada
naquele momento, mesmo que eu não esteja, sabe?”. As práticas fotográficas
funcionam, neste universo, como agenciamentos que promovem a construção
de uma corporalidade e uma apresentação de si quando seu corpo travestido não
pode ser construído em performance, funcionando, assim, como uma espécie
de duplo.41 Estas fotografias, portanto, funcionam como índices de sua própria
persona travestida que se encontra não apenas distribuída, mas enfatizada e
operacionalizada em sua relação com outras crossdressers.
De um ponto de vista antropológico, estas imagens possibilitam um rearranjo
das relações sociais através da redistribuição dos afetos em outras imagens-
-corpo. Desta maneira, a própria ideia de agência se liga àquela de mediação
discutida por Bruno Latour . De alguma maneira, toda a perspectiva crítica de
Latour em relação à separação estrita entre humanos e não humanos na mo-
dernidade dá vazão a uma outra concepção de agência social na qual atores
aparecem como “redes de mediações” (2012, p. 136). Ao discutir amplamente
questões relacionadas à agência da fotografia através de sua relação com o
41
Em seu livro Retratos de família, Miriam Moreira Leite escreve que “tanto o temor às imagens
de vários grupos étnicos e religiosos como as fobias ao retrato, da parte de indivíduos, provêm da
característica da imagem como duplo e/ou reflexo, usada muitas vezes como substituto, no lugar
da pessoa retratada” (2001, p. 24).
A experiência da imagem 2p.indd 225 14/09/2016 14:28:02
226 conceito de magia e fetiche, buscamos elucidar como as imagens destas redes
de mediação se fazem operantes e visíveis.
Taussig muitas vezes retoma o texto de Benjamin sobre o surrealismo.
A imagem, tal como usada pelos surrealistas, tem um engajamento não apenas
com a mente, mas com uma mente corporificada na qual, segundo Benjamin,
materialismo político e a natureza física compartilham a vida interior dos
indivíduos. “Certamente,” diz Taussig, “isso é magia simpática em uma chave
revolucionária modernista e marxista” (p. 23).42 Ou, para usar um outro con-
ceito benjaminiano, é a teoria da iluminação profana.
A questão é que a invenção de máquinas miméticas como as câmeras – e não
é à toa que o surrealismo aparece tão forte, já que ele foi um dos primeiros
movimentos artísticos a fazer uso mais intenso da câmera – cria uma experiên-
cia sensória que envolve uma nova relação sujeito-objeto e, portanto, um novo
tipo de pessoa.
Sugerimos que a capacidade mágico-mimética da fotografia é, talvez, o aspecto
mais importante de sua consideração como pessoa. A consideração desta capa-
cidade não daria um sentido ainda mais forte para o que Bazin chama de “trans-
ferência de realidade da coisa para sua reprodução” (2008, p. 126) e que Caiuby
Novaes pensa como a “magia da imagem” (2008, p. 462)? Imaginamos que sim.
Bibliografia
ADORNO, Theodor W. & HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento: fragmentos filosóficos
[1947]. Rio de Janeiro: Zahar, 1985.
APPADURAI, Arjun. “Introdução: mercadorias e a política de valor” [1986]. In: _____. A vida social
das coisas: as mercadorias sob uma perspectiva cultural. Niterói: Eduff, 2008.
BAZIN, André. “A ‘ontologia da imagem fotográfica’”. In: XAVIER, Ismail (org.). A experiência do
cinema [1945]. Rio de Janeiro: Graal:/Embrafilmes, 2008.
BENJAMIN, Walter. “Pequena história da fotografia” [1931]. In: Magia e técnica, arte e política. São
Paulo: Brasiliense, 1994.
BERGER, John. About Looking [1972]. Nova York: Pantheon, 1980.
BHABHA, Homi. O local da cultura [1994]. Belo Horizonte: UFMG, 1998.
BUTLER, Judith. Frames of War: When is Life Grievable? Londres/Nova York: Verso, 2009.
CAIUBY NOVAES, Sylvia. “Imagem, magia e imaginação: desafios ao texto antropológico”. Revista
Mana, v. 14, n. 2, pp. 455-75. 2008.
CLASTRES, Pierre. “Entre Silence et dialogue”, In: ABENSOUR, Miguel & KUPIEC, Anne, Pierre
Clastres. Paris: Sens & Tonka, 1968.
42
No original: “Surely this is sympathetic magic in a modernist, Marxist revolutionary key”.
A experiência da imagem 2p.indd 226 14/09/2016 14:28:02
CLIFFORD, James. The Predicament of Culture. Twentieth-Century Ethnography, Literature and Art. 227
Alguns apontamentos sobre fotografia, magia e fetiche
Cambridge/Massachusetts/Londres: Harvard University Press, 1988.
DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico e outros ensaios [1990]. Campinas: Papirus, 1993.
FOUCAULT, Michel. História da sexualidade 1: a vontade de saber [1976]. São Paulo: Graal, 2005.
FRAZER, James. The Golden Bough: A Study in Magic and Religion [1890]. Londres: Macmillan &
Co Ltda, 1957.
FREUD, Sigmund. “Fetichismo 1927”. [1927]. In: Escritos sobre a psicologia do inconsciente. Rio de
Janeiro: Imago, 2007.
GELL, Alfrorg. Art and Agency: an Anthropological Theory. Oxford, Clarendon Press, 1998.
_____. “A tecnologia do encanto e o encanto da tecnologia” [1992]. Concinnitas, a. 6, v. 8, n. 1, p.
41. 2005.
GOLDMAN, Marcio. “Histórias, devires e fetiches das religiões afro-brasileiras: ensaio de simetrização
antropológica”. Análise Social, v. XLIV, n. 190, pp. 105-37. 2009.
GRUNVALD, Vitor. “Corpo, imagem e mediação: alguns apontamentos sobre crossdressing e (homo)
sexualidade”. [Texto apresentado na X RAM Reunión de Antropología del Mercosur, Córdoba
(Argentina), 10-13 jul. 2013.
_____. Existências, insistências e travessias: sobre algumas políticas e poéticas de travestimento. Tese
(Doutorado) – Departamento de Antropologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.
HARAWAY, Donna. Primate Visions. Gender, Race and Nature in the World of Modern Science.
Londres/Nova York: Routledge, 1989.
KOPYTOFF, Igor. “A biografia cultural das coisas: a mercantilização como processo” [1986]. In:
APPADURAI, Arjun (org.). A vida social das coisas: as mercadorias sob uma perspectiva cultural.
Niterói: Eduff, 2008.
KRISTEVA, Julia. Powers of Horror: an essay on Abjection. Nova York: Columbia University Press, 1982.
LAGROU, Els. A fluidez da forma: arte, alteridade e agência em uma sociedade amazônica (Kaxinawa,
Acre). Rio de Janeiro: Topbooks, 2007.
LATOUR, Bruno. Jamais fomos modernos: ensaio de antropologia simétrica [1991]. Rio de Janeiro:
Editora 34, 1994.
_____. Reagregando o social: uma introdução à teoria do ator-rede [2005]. Salvador e Bauru: Edufba
e Edusc, 2012.
LÉVI-STRAUSS, Claude. O pensamento selvagem [1962]. Campinas: Papirus, 2006.
LUKESCH, Anton. Bearded Indians of the Tropical Forest: The Asurini of the Ipiaçaba: Notes and
Observations on the First Contact and Living Together. Graz: Akademische Druck, 1976.
MANNONI, Octave. Clefs pour l’imaginaire ou l’autre scène. Paris: Editions de Seiul, 1969.
MAUSS, Marcel. “L’Art et le myth d’après M. Wundt”. In: KARADY, Victor (org.). Oeuvres, v. 2. 1968.
_____. “Esboço de uma teoria geral da magia” [1904]. In: Sociologia e antropologia. São Paulo: Cosac
Naify, 2004.
MCCLINTOCK, Anne. Couro imperial: raça, gênero e sexualidade no embate colonial. Campinas:
Editora da Unicamp, 2010.
METZ, Christian. “Photography and Fetish”. October, v. 34, pp. 81-90. 1985.
MITCHELL, W. J. Thomas. Iconology: Image, Texte, Ideology. Chicago: The University of Chicago
Press, 1986.
MOREIRA LEITE, Miriam. Retratos de família [1993]. São Paulo: Edusp, 2001.
MÜLLER, Regina. “Maraká, Ritual Xamanístico dos Asuriní do Xingu”, 1996. In: LANGDON, J.
(org.). Xamanismo no Brasil: novas perspectivas. Florianópolis: Editora da UFSC, 1996.
A experiência da imagem 2p.indd 227 14/09/2016 14:28:03
228 _____. “Corpo e imagem em movimento: há uma alma nesse corpo”. Revista de Antropologia. São
Paulo: USP, v. 43, n. 2, pp. 165-93. 2000.
NORDENSKIOLD, Erland & KANTULE, Rubén Pérez. As Historical and Ethnographic Study of the
Cuna Indians. In: WASSÉN, Henry (org.). Comparative Ethnological Studies, n. 10. Göteburg:
Ethnografiska Museum, 1938.
PIETZ, William. “The Problem of the Fetish I”. Res: Journal of Anthropology and Aesthetics, n. 9,
pp. 5-17. 1985.
_____. “The Problem of the Fetish II: The Origin of the Fetish”. In: Res: Journal of Anthropology and
Aesthetics, n. 13, pp. 23-45. 1987.
_____. “The Problem of the Fetish IIIa: Bosman’s Guinea and the Enlightenment Theory of Fetishism”.
Res: Journal of Anthropology and Aesthetics, n. 16, pp. 105-23. 1988.
_____. “Fetishism and Materialism: the Limits of Theory in Marx”. In: PIETZ, William & APTER,
Emily (orgs.). Fetishism as Cultural Discourse, 1993.
PIRES, Rogério Brittes. “Fetichismo religioso, fetichismo da mercadoria, fetichismo sexual: transpo-
sições e conexões”. Revista de Antropologia, v. 57, n. 1, pp. 347-91. 2014.
PRICE, Sally. Arte primitiva em centros civilizados [1989]. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2000.
SAID, Edward. Orientalismo, o Oriente como invenção do Ocidente [1978]. São Paulo: Companhia
das Letras, 2007.
SEKULA, Allan. On the Invention of Photographic Meaning: Photography against the Grain. Halifax:
The Press of the Nova Scotia College of Art and Design, 1984.
STRATHERN, Marilyn. Partial Connections. Londres: Rowman & Littlefield, 1991.
_____. “One-legged gender”. Visual Anthropology Review, n.1, p.42-51, 1993.
_____. Learning to See in Melanesia: Lectures Given in the Department of Social Anthropology, Cam-
bridge University, 1993-2008. HAU Masterclass Series, Manchester, 2013.
TAGG, John. The Burden of Representation: Essays on Photographies and Histories. Amherst: Uni-
versity of Massachsetts Press, 1988.
TAUSSIG, Michael. “Maleficium: State Fetishism”. In: PIETZ, William & APTER, Emily (orgs.).
Fetishism as Cultural Discourse, 1993a.
_____. Mimesis and Alterity: a Particular History of the Senses. Nova York/Londres: Routledge, 1993b.
_______________. O xamanismo, colonialismo e o homem selvagem: um estudo sobre o terror e a cura
[1987]. São Paulo: Paz e Terra, 1993b.
VILLELA, Alice. “Quando a imagem é a pessoa ou a fotografia como objeto patogênico”. In: CAIUBY
NOVAES, Sylvia (org.). Entre arte e ciência: a fotografia na antropologia. São Paulo: Edusp, 2015.
A experiência da imagem 2p.indd 228 14/09/2016 14:28:03
Objeto, imagem e percepção: forma e
contemplação dos altares do Horto1
EWELTER ROCHA
Introito
Inanimados sob uma óptica que vincula a ação no mundo ao exercício de certos
atributos humanos como fala, consciência e pensamento, os objetos – imagens,
sons e obras de arte, em particular – foram por muito tempo tratados como
coadjuvantes sociais por grande parte dos pesquisadores das ciências huma-
nas. O processo ainda corrente de afirmação epistemológica de um conheci-
mento sensível, capaz de retirar do anonimato analítico instâncias refratárias
a procedimentos objetivistas de interpretação, trilhou um caminho árduo, seja
pela peculiaridade mesma da matéria de estudo, seja em razão da hegemonia
de paradigmas “universais”, que tomam como referência teórica modelos
desenvolvidos para o estudo da linguagem. Ao postular um conhecimento
feito de ideias, emoções e figuras de imaginação, David MacDougall ressalta
que estamos acostumados a entender o pensamento como algo relacionado à
linguagem. O autor detecta o problema de se tratar imagens como produto
da linguagem, ou mesmo uma linguagem em si mesma, o que implica negli-
genciar muitos dos modos através dos quais o conhecimento é produzido.
1
Este artigo é resultado de pesquisa desenvolvida junto ao GRAVI - Grupo de Antropologia Visual
da USP, no âmbito do projeto temático “A Experiência do Filme na Antropologia”, financiado pela
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processo n. 2009/52880-9.
Durante a realização da pesquisa contei com o apoio da Fundação Cearense de Apoio ao Desen-
volvimento Científico e Tecnológico – FUNCAP, na condição de bolsista de doutorado.
A experiência da imagem 2p.indd 229 14/09/2016 14:28:03
230 A nossa reflexão sobre altares domésticos adentra um mundo permeado de
expressividades e procedimentos não verbais relacionados à experiência com o
sagrado, em que pessoas e objetos confundem a descontinuidade de suas posi-
ções habituais para elaborarem um espaço único de reciprocidade. Apesar de
enfocarmos um âmbito etnográfico particular, elaboramos uma reflexão teórica
que não se limita unicamente a esse contexto, mas por meio dele é conduzida
a refletir sobre os objetos enquanto instância de conhecimento, seja em razão
das “afetações” que inflige ao espaço e às pessoas, seja por meio de sua própria
forma, matéria e aparência. Procuramos mostrar que a conjunção de uma forma
legítima e de uma iconografia penitencial outorga a tais dispositivos visuais a
capacidade de instaurar na casa do devoto um espaço sagrado, que congrega
valores culturais e subjetividades relacionadas à memória familiar. Iniciamos
este estudo contextualizando o nosso objeto etnográfico, apresentando algumas
informações imprescindíveis para a compreensão das sutilezas envolvidas no
exercício de contemplação dos altares domésticos que analisaremos.
Na maioria dos países da América Latina, a tradição de venerar imagens sagra-
das remonta a períodos que precedem à época da colonização. Conservadas
até hoje, as imagens talhadas em pedra do deus do milho, em Tikal-Peten, na
Guatemala; as pinturas dos deuses Tlaloc e Quetzalmariposa, em Teotihuacan,
no México; e as imagens do ídolo da cultura Wari-Ichimai, na cidade de Pa-
chacamac, no Peru, são exemplos que comprovam o culto rendido às imagens
pelos povos autóctones. Particularmente em relação ao catolicismo latino-
-americano, a devoção popular é extremamente marcada por expressões de
piedade vinculadas ao culto de imagens religiosas, predominando a veneração
de alguma das denominações de Nossa Senhora, como são os casos da Nossa
Senhora de Urcupiña, na Bolívia, de Nossa Senhora de Guadalupe, no México,
e de Nossa Senhora Aparecida, no Brasil.
Riolando Azzi (1978), propondo uma divisão didática do catolicismo brasileiro,
separa sua história em dois períodos: o que se estende até o século XIX, em que
predominam expressões tradicionais de caráter lusitano, e o período posterior,
marcado pela política reformadora implantada, sobretudo, após o Concílio
Vaticano I. Esta nova orientação católica, conhecida no Brasil por romaniza-
ção, teria, segundo o autor, incentivado a prática de algumas devoções, dentre
elas, a entronização do quadro do Coração de Jesus nos lares, para o qual era
reservado um lugar especial dedicado ao seu culto e a sua exposição. O costu-
me de ter em casa um recanto destinado a exercícios devocionais é, segundo
o autor, uma marca característica da religião popular do Brasil, opinião que é
compartilhada por Eduardo Hoornaert (1977) ao ressaltar o poder simbólico
desses espaços e destacar a conexão entre a sua expressão visual e a história
A experiência da imagem 2p.indd 230 14/09/2016 14:28:03
cultural. Não raro, encontramos na literatura brasileira referências a oratórios 231
Objeto, imagem e percepção: forma e contemplação dos altares do Horto
ou santuários domésticos, as quais constituem importantes documentos sobre
a presença desse culto no catolicismo brasileiro. Exemplifica bem esse fato a
descrição minuciosa de José Lins do Rego em Menino de engenho:
O quarto do santo ficava aberto para todo o mundo. Não havia capela no Santa Rosa
como nos outros engenhos. [...] Quando acendiam as velas do quarto dos santos,
nós íamos olhar as estampas e as imagens. Havia um Menino Jesus que era o nosso
encanto. [...] As estampas das paredes contavam histórias de mártires. Um São
Sebastião atravessado de setas, com os seus milagres em redor do quadro. O Anjo
Gabriel com a espada no peito de um diabo de asas de morcego. São João com
um carneirinho manso. São Severino fardado, estendido num caixão de defuntos.
Um santo comprido com uma caveira na mão. [...] Era assim a religião do engenho
onde me criei. (REGO, 2001, p. 54)
O estudo sobre os altares domésticos da rua Bom Jesus do Horto, localidade
do município de Juazeiro do Norte, no Ceará, vulgarmente conhecida por
Ladeira do Horto, desenvolve-se a partir de prerrogativas relativas à rele-
vância cognitiva dos artefatos religiosos e das sensibilidades mobilizadas nas
suas relações com as pessoas. Em certa medida, nossa reflexão problematiza
a segregação ontológica entre as categorias de humano e de não humano, dis-
cussão extremamente enriquecida pela etnografia ameríndia e pelos estudos
referentes às sociedades da Melanésia produzidos a partir dos anos 1990. Esta
reflexão foi sobremaneira iluminada por essa literatura antropológica, em que
conceitos como forma e estética receberam novo ímpeto crítico, sobretudo
pelas ponderações severas em relação a sua aplicabilidade transcultural, fun-
damentadas na refutação da existência de uma capacidade sensorial universal
como atributo da condição humana. Nesse sentido, os artefatos que compõem
os altares domésticos e as relações a que eles se entrelaçam constituem o centro
de nossa reflexão, cuja inspiração advém das pesquisas que conferem relevância
etnográfica aos objetos, em particular, aos artefatos religiosos.
As casas da Ladeira do Horto, em sua maioria, possuem uma estrutura ar-
quitetônica semelhante. Em virtude do terreno íngreme, o acesso à porta de
entrada é geralmente realizado por intermédio de largos batentes de cimento.
O primeiro cômodo ocupa toda a largura da casa e dele projeta-se um estreito
corredor com saídas laterais para os quartos, estendendo-se até a cozinha.
Independentemente de quão modesta seja a moradia, é incontestável o esmero
dedicado à ornamentação da sala que abriga a imagem do Coração de Jesus,
condição que singulariza este espaço em relação aos outros lugares da casa. Para
separá-lo dos outros cômodos, recorre-se, geralmente, ao uso de uma cortina
A experiência da imagem 2p.indd 231 14/09/2016 14:28:03
232 branca, posicionada na extremidade do corredor. Ornando a mesinha encostada
à parede, uma toalha branca bordada com motivos religiosos. Sobre este móvel,
uma vela acesa. Numa parede, dezenas de imagens de santos entremeadas de
flores; noutra, diversas fotografias contam sobre a família; tudo organizado na
intenção de demarcar o lugar, elaborando um requinte visual que se destaca
no singelo da habitação.
Além da bênção comum que autoriza a veneração de imagens e objetos religio-
sos, o quadro do Coração de Jesus que irá presidir o altar doméstico deve ser
submetido a um rito de entronização. Assim, depois de comprada, a imagem
é levada a um padre ou, mais frequentemente, depositada por alguns instantes
sobre o túmulo do Padre Cícero, para tornar-se benta; posteriormente, os donos
da casa convidam uma beata ou uma rezadeira para que coordene a cerimônia
de entronização. Este procedimento é realizado no interior do espaço onde
será fixada a imagem e visa constituir entre a família e a imagem do Sagrado
Coração de Jesus2 um vínculo devocional vitalício, cujos efeitos sacramentais
são infligidos também ao cômodo que acolheu o quadro, a partir de então
chamado “Sala do Coração de Jesus”.
Uma vez realizada a entronização da imagem do Coração de Jesus, nos anos
subsequentes realizar-se-á, no mesmo dia, a cerimônia de renovação da entro-
nização, ou simplesmente, Renovação, como é chamada em Juazeiro do Norte.
É comum se realizar a renovação em uma data significativa para a família,
optando-se, na maioria das vezes, pelo dia do casamento dos donos da casa.
Como nos advertiu dona Tecla, no dia da cerimônia toda a sala deve estar “re-
novada”; as cortinas e as toalhas lavadas, as imagens dos santos e os retratos
bem lustrados e, se possível, as paredes pintadas. As flores do altar também
devem ser trocadas, para o que são mobilizados procedimentos especiais. Con-
tagiadas pelo poder sagrado da imagem que adornam, quando substituídas, não
podem ser descartadas simplesmente, mas devem ser queimadas, e suas cinzas
recolhidas viram um bálsamo milagroso que trata males do corpo e da alma.
2
O reconhecimento oficial da devoção ao Sagrado Coração de Jesus data do final do século XVII,
depois das revelações recebidas por santa Margarida Maria Alacoque em Paray-le-Monial, na Fran-
ça, entre os anos de 1673 e 1675. Apesar de este prodígio haver imprimido o impulso decisivo
para legitimar oficialmente o seu culto litúrgico nos templos católicos, vários conventos da Europa
medieval a praticavam em forma de culto privado. Segundo a tradição católica, ocorreram várias
revelações anteriores àquela concedida a santa Margarida, como as que teriam recebido, ainda no
século XIII, santa Matilde e santa Gertrudes, esta última considerada a teóloga do Sagrado Coração
na Idade Média (MELO, 1998). Por intermédio da encíclica Annum Sacrum, de 25 de Maio de
1899, o papa Leão XIII promulgou a consagração do gênero humano ao Sagrado Coração de Jesus.
A experiência da imagem 2p.indd 232 14/09/2016 14:28:03
Objeto, imagem e percepção 233
Objeto, imagem e percepção: forma e contemplação dos altares do Horto
Ao modo de uma maldição necessária, que contamina a especulação científica
com as ambiguidades do seu objeto de estudo, o revigoramento de questões
relativas à antropologia da arte – incluídas aqui noções clássicas como forma,
símbolo e estética, implica certamente repensar compatibilidades entre método
etnográfico e teoria do conhecimento antropológico. Não nos referimos tanto
às ponderações da escritura etnográfica postas em relevo pela antropologia
pós-moderna, mas à faculdade contemplativa do exercício de etnógrafo, às
sensibilidades e às “invenções” que orientam a condução da prática observacio-
nal. Ainda que seja incontestável a concessão de novo estatuto etnográfico aos
objetos, e aos objetos de arte em particular, as discussões sobre a compatibili-
dade entre esta redefinição teórica em pesquisas antropológicas e as inflexões
metodológicas exigidas para dar conta dessa nova orientação parecem receber
atenção apenas modesta.3
A nossa diretriz metodológica toma por suposto o entendimento de que os
efeitos da contemplação dos altares domésticos são produzidos pela conver-
gência de valores relativos à imagem percebida e à imagem imaginada. Dito de
outro modo, privilegiamos as relações entre imagem, enquanto dado empírico,
e imaginário, considerado como conjunto de imagens produzidas a partir de
uma relação que se estabelece entre o espectador e um “objeto” materialmente
ausente. Separar esses dois planos em nossa pesquisa significaria criar um fosso
cognitivo entre o ato ativo da percepção visual das coisas sagradas e a faculdade
supostamente passiva da imaginação, que complementa e informa o sentido do
objeto percebido, para a qual concorrem instâncias como memória, história e a
própria ética religiosa. Entre esses dois polos, W. J. T. Mitchell demonstra que
há muito mais em comum do que se costuma supor. O autor considera falha, e
refuta a distinção que opõe “as imagens gráficas ou pictóricas, que são as formas
inferiores – externas, mecânicas, mortas, e geralmente associadas a modelos em-
píricos de percepção – e as imagens superiores, que seriam as internas, orgânicas
e vivas” (1986, p. 25; trad. nossa).4
3
Em certa medida, essa discussão inscreve-se no programa crítico de reflexões mais abrangentes
referentes à autoridade etnográfica, as quais escapam ao escopo de nossa pesquisa. Nesse debate
amplo, José Jorge de Carvalho quando, rastreando “metamorfoses do olhar etnográfico”, sugere
que a assimilação no Brasil de um olhar etnográfico que repensa a verdade incorrupta do etnógrafo
“se deu mais na introdução do exercício da subjetividade do que na discussão epistemológica da
reflexividade” (2001, p. 114).
4
No original: “the pictorial or graphic image which is a lower form – external, mechanical, dead, and
often associated with the empiricist model of perception – and a ‘higher’ image which is internal,
organic, and living”.
A experiência da imagem 2p.indd 233 14/09/2016 14:28:03
234 Este dualismo, na concepção de Hans Belting, reproduz o antigo contraste
entre espírito e matéria. Em sua interpretação, a antropologia visual não deve
separar imagens interiores e exteriores, mas estudar interconexões entre elas,
pois considera que imagens físicas e mentais estão ambiguamente relacionadas
entre si, o que o leva a criticar as propostas que consideram enquanto entida-
des independentes a percepção e a imaginação. O seu entendimento de que
para tornar-se imagem o objeto (imagem) material necessita ser animado por
um espectador, faz supor um revigoramento do rendimento epistemológico
da inter-relação humano e não humano. Entretanto, ao supor a imagem física
como um meio por intermédio do qual se opera a comunicação visual, Belting
parece ainda privilegiar a imagem mental. Apesar de defender que a mesma
imagem material pode ser alvo de percepções distintas, dependendo de con-
venções, memórias e censuras culturais, a operação teórica de Hans Belting
recua em relação à potência cognitiva da imagem material, como enfaticamente
assinala Ben De Bruyn:
Sugerindo que as imagens físicas desempenham meramente uma função de media-
dores, contudo, por fim ele [Hans Belting] elimina a necessidade de uma categoria
específica de imagens visuais; em última análise, existem apenas imagens – imagens
mentais, de um lado, e media – a manifestação material de imagens – de outro.
(2006, p. 8, trad. nossa)5
Não foram necessárias muitas visitas à Ladeira do Horto para percebermos
completamente improdutiva qualquer conduta que baseasse a nossa reflexão
sobre os altares domésticos em pressupostos que privilegiassem a fruição
estética, ou em que predominasse a interpretação iconográfica das imagens.
O que se nos insinuava durante as entrevistas, como também por meio das
sutilezas referentes ao comportamento dentro da sala, era que a relação entre
os donos da casa e os objetos sagrados, em particular aqueles que compunham
o altar, orientava-se por intermédio de um jogo de reciprocidades afetivas em
que objetos (vela, flores, toalha, cortina etc.), imagens religiosas, retratos da
família e os moradores compunham uma única rede de interação. Portanto, não
havia como penetrar no âmago dessa relação unicamente através do desvelo
das informações simbólicas contidas na iconografia religiosa e nos objetos, era
preciso fazer irromper nos altares e na própria sala a sua condição de “sujeito”,
inferência que nos suscitou investigar nos objetos a sua capacidade de fazer e
5
No original: “By suggesting that physical images merely serve a mediatory function, however, he
ultimately eliminates the need for a specific category of visual images; in the final analysis, there
are only images - mental images - on the one hand and media - the material embodiments of images
- on the other”.
A experiência da imagem 2p.indd 234 14/09/2016 14:28:03
não apenas a de dizer coisas. Essa reflexão estabelece uma interlocução teó- 235
Objeto, imagem e percepção: forma e contemplação dos altares do Horto
rica com o conceito antropológico de agência, interessando-nos nesse aporte,
em particular, o alargamento da categoria objetos e a atribuição de intenção
a entidades não humanas, como assinala a assertiva de Alfred Gell relativa à
agência dos objetos de arte:
A premissa da teoria é a ideia de que a natureza do objeto de arte é uma função da
matriz sócio-relacional na qual está inserido. Não existe uma natureza intrínseca
independentemente do contexto relacional. [...] Mas de fato qualquer coisa poderia
ser concebida como um objeto de arte de um ponto de vista antropológico (1998,
p. 7; trad. nossa).6
A abordagem antropológica da arte proposta por Alfred Gell, conforme con-
densada na obra póstuma Art and Agency, afasta-se tanto do enfoque que
privilegia a dimensão estética, como daqueles que tratam a arte enquanto
um sistema linguístico. Declarando de forma ostensiva seu contraditório em
relação à interpretação simbólica dos objetos, o autor centraliza seu enfoque
numa teoria da ação, recusando a ideia de que “qualquer coisa, exceto a própria
língua, tem sentido, no significado proposto” (id., ibid., p. 6). No âmbito de
nosso estudo sobre os dispositivos não narrativos de enunciação do sagrado
mobilizados pela religiosidade penitente de Juazeiro do Norte, esta reorien-
tação teórica da antropologia da arte, que vê os objetos como mediadores
de relações e não como aglutinadores de proposições simbólicas decifráveis,
inspirou efetivamente a investigação da existência nos altares de outra fonte
de produção de poder sagrado, além daquela que emana do fato de constar
neles uma imagem entronizada. A noção de agência favoreceu percebermos
que havia nos altares um conhecimento que escapava ao domínio simbólico
e adentrava o campo invisível das relações entre o devoto, o altar e o divino.
Essa perspectiva teórica foi de suma importância para percebermos que a Sala
do Coração de Jesus constitui um espaço que propicia o aguçamento das sensa-
ções do corpo. Além dos momentos específicos de devoção, em que predomina
a contemplação distanciada da efígie sagrada do altar, presidida pela imagem
do Coração de Jesus, existe no convívio ordinário uma experiência de outra
sorte, para a qual se faz imprescindível a contaminação táctil entre o objeto e
a pessoa. Mesmo fora de um contexto cerimonial que ative sua condição de
6
No original: “The theory is premised on the idea that the nature of the art object is a function of
the social-relational matrix in which it is embedded. It has no ‘intrinsic’ nature, independent of
the relational context. (...) But in fact anything whatsoever could, conceivably, be an art object
from anthropological point of view”.
A experiência da imagem 2p.indd 235 14/09/2016 14:28:03
236 sacramental,7 os altares preservam na sua forma e nos seus objetos vestígios de
seu poder sagrado. A relação que os moradores estabelecem com seus altares
domésticos é de tal modo íntima e sinestésica que se aproxima de uma rela-
ção interpessoal, sendo comum apresentarem os santos como a sua “segunda
família”. Durante as explicações referentes ao altar, os moradores tocavam
carinhosamente os objetos, moviam suavemente a cadeira até encontrar o lugar
certo, ajeitavam a toalha da mesa – conferiam-lhe a simetria, reparavam se a
vela permanecia acessa. Apesar da diversidade de elementos e da variedade
de arranjos, estávamos convictos da existência de uma ordenação interna que
orientava a organização dos altares e a própria forma de concebê-los visualmen-
te, intuição que constituiu o cerne de nosso estudo e que encontrou no estudo
de Clifford Geertz sobre o Negara, Estado-teatro da Indonésia pré-colonial,
outra preciosa fonte de inspiração.
A análise de Geertz nos motivou problematizar o modo como o divino chega
ao mundo, que no caso do Negara trata-se de um fenômeno transcendente
definido a partir da relação entre a forma (murti) que a divindade assume e
a parte ativa (sekti) dessa divindade. De modo semelhante, a interação entre
devotos e seus altares domésticos não se resume a um mero exercício de
contemplação iconográfica, mas a uma experiência de contaminação com o
poder sagrado da coisa contemplada, a qual constitui, em última instância, a
forma material desse poder. Portanto, a coisa sagrada é também o poder que
ela representa por intermédio de uma forma específica, e por isso sagrada.
Acariciar as imagens dos santos e as flores que os enfeitam significa ativar nesses
objetos a dimensão sagrada que possuem, tirá-la de um estado de latência para
um estado de ação positiva, fazer irromper nesses objetos uma instância de
sujeito, igualmente sagrada como a divindade a que ele remete.
Geertz reconhece a inevitável limitação de descrever com palavras algumas
concepções balinesas que se situam, em certa medida, num lugar de fronteira
entre realidade e símbolo. A definição de sekti enquanto uma das formas de
representação do poder sobrenatural nos foi particularmente inspiradora para
provocar uma suspeita semântica e uma atenção etnográfica mais detida em
relação a estados contemplativos e a experiências sensoriais que a um primei-
ro exame tendem a ser rotuladas por tristeza, piedade ou contrição. Segundo
7
A doutrina católica relativa aos sacramentos reconhece a existência de “sacramentais”, ou seja,
“sinais sagrados instituídos pela Igreja, cuja finalidade é preparar os homens para receberem os
frutos dos sacramentos e santificarem as diferentes circunstâncias da vida”, segundo o Catechism
of the Catholic Church. É esse o contexto semântico que imprimimos ao termo sacramental, seja
na condição de qualidade ou de substantivo, aludindo particularmente às virtudes sagradas que se
encerram na matéria e na forma do objeto.
A experiência da imagem 2p.indd 236 14/09/2016 14:28:03
Geertz, na sociedade balinesa, o surgimento do poder sobrenatural (sekti) não 237
Objeto, imagem e percepção: forma e contemplação dos altares do Horto
é devido à crença ou à obediência, mas à “criação de imagens da verdade”; em
outras palavras, à criação de uma instância (sagrada) do poder sagrado que ela
transfigura. De forma elementar, sekti é uma espécie de propriedade responsável
por “sacralizar” as coisas e delas mesmas fazer sobrevir um poder sobrenatural.
Entretanto, a característica mais curiosa da análise de Geertz, e que realça o
estatuto peculiar do simbólico em Bali, é o fato de que não há separação onto-
lógica entre a coisa sacralizada e o próprio sagrado. Diz-se, por exemplo, que o
rei é sekti, e não que possui sekti, na medida em que ele é instância daquilo que
adora. “Insígnias reais, objetos rituais dos sacerdotes, relíquias sagradas de família
e locais sagrados, são todos sekti no mesmo sentido: demonstram o poder que
o divino ganha quando assume formas particulares” (GEERTZ, 1991, p. 136).
A nossa análise dos altares das Salas do Coração de Jesus prioriza o escrutínio de
sua forma sagrada e a investigação das agências que irrompem de sua percepção
visual e das imaginações que são acionadas como fruto de sua contemplação.
Assim conjuramos em nossa interpretação as virtudes da forma e todo um com-
plexo jogo de afetividades que mobiliza memórias relacionadas à família, às graças
alcançadas e às peculiaridades da curiosa história religiosa de Juazeiro do Norte.
A forma-altar
Em um pequeno estudo sobre as “paredes dedicadas ao Sagrado Coração de
Jesus em Juazeiro do Norte”, Angelica Höffler, mesmo sem adentrar a dis-
cussão sobre o arranjo iconográfico dos altares, registra a sua suspeita sobre a
existência de uma forma que serve de orientação para a organização das paredes:
A organização da Corte pode ser aleatória. Santos são agregados à parede à medida
que são adquiridos. Contudo, de modo geral, parece-nos que a princípio uma ordem
é estabelecida. Baseado em um repertório hagiográfico comum, cada fiel organiza
sua parede de modo que componha um texto. As imagens ali presentes dialogam
entre si e sua organização denota a representação que se tem da fé, dos valores e
das necessidades daquela família. (2007, p. 5; grifo nosso)
Para o estudo do poder sagrado dos altares, tanto no que concerne às agências
de seus componentes (Gell), como em relação a sua condição de instância em
si mesma sagrada (Geertz), constitui-se imprescindível a identificação dessa
regra que orienta a distribuição espacial dos objetos, substrato geométrico que
ordena a composição visual e a própria contemplação dos altares domésticos, a
qual chamaremos forma-altar. Uma parcela da potência sacramental do altar
A experiência da imagem 2p.indd 237 14/09/2016 14:28:03
238 do Coração de Jesus advém por intermédio de processos de mimesis que ope-
ram a partir da apropriação de um modelo visual de sacralidade, composto por
referências aos antigos altares das igrejas. No entanto, as regras que regulamen-
tam a organização dos artefatos na sala, assim como os sentidos que emanam
da contemplação dos altares, estão subordinados a um pensamento que mobiliza
conexões que transcendem os limites da associação com modelos eclesiais, e
adentra a instâncias sutis da confissão religiosa penitente, bem como maneja
afetividades ligadas à história familiar.
As faculdades de percepção e imaginação acionadas durante a contemplação
dos altares orientam-se de acordo com uma ordem estabelecida pela forma-
-altar, que é, portanto, uma forma de olhar e sentir o sagrado, a manifestação
visual de um pensamento religioso que tem a sua identidade definida no (des)
encontro entre um sentimento de pertença eclesial e uma ética penitencial.
Com efeito, a eficácia sacramental dos altares domésticos decorre de duas ope-
rações cognitivas: a apropriação de uma forma sagrada eminentemente eclesial,
e consequentemente de sua autoridade legítima; e sua atualização cultural,
com os ajustes e elaborações peculiares à religiosidade de Juazeiro do Norte.
A forma-altar propicia, por um lado, incrustar no âmbito privado da casa um
modelo visual de autoridade eminentemente eclesial, e por outro, infligir aos
altares uma identidade penitencial local, combinação que resulta em um poder
sagrado, ao mesmo tempo legítimo e autônomo em relação à Igreja Católica.
A valorização da forma nos estudos de antropologia, segundo Kingston (2003),
está relacionada com um processo de interpretação que abandona os modelos
objetivistas e adere a uma perspectiva fenomenológica que considera o nexo
intrínseco entre forma e atenção, proposta que segundo o autor foi iniciada
por pesquisadores de vulto como Gell, Ingold e Strathern. Sobre o conceito
de atenção, Merleau-Ponty observa que tanto as abordagens empiristas como o
enfoque intelectualista operacionalizam esta faculdade como um poder ineficaz,
e recorre ao estudo deste conceito para demonstrar que essas abordagens são
incapazes de explicar como se opera a constituição de um objeto pela cons-
ciência perceptiva. No empirismo, a teoria da atenção funda-se na “hipótese
da constância”, a qual postula que as “sensações normais” estão previamente
encerradas naquilo que vemos, ainda que “aquilo que percebemos não corres-
ponda às propriedades objetivas do estímulo” (MERLEAU-PONTY, 2006, p.
53). Nesse sentido, atenção é o atributo da percepção que dá à luz as coisas. O
intelectualismo, ao contrário, supõe que o objeto já contém em si a estrutura
inteligível que regula a percepção, condição que eleva a consciência a uma fa-
culdade soberana de constituição do mundo. A solução fenomenológica para o
suposto dilema aproxima-se, como bem assinala Kingston, da ideia antropológica
A experiência da imagem 2p.indd 238 14/09/2016 14:28:03
de agência, que sistematiza uma proposta que visa, no interior de um contexto 239
Objeto, imagem e percepção: forma e contemplação dos altares do Horto
sócio-relacional, a equiparação epistemológica dos conceitos de artefato e pessoa:
O que faltava ao empirismo era a conexão interna entre o objeto e o ato que ele
desencadeia. O que faltava ao intelectualismo era a contingência das ocasiões de
pensar. [...] O empirismo não vê que precisamos saber o que procuramos, sem o
qual não o procuraríamos, e o intelectualismo não vê que precisamos ignorar o que
procuramos, sem o que, novamente, não o procuraríamos. (2006, p. 56)
A ressonância deste pensamento em nosso estudo é incontestável, na medida em
que, por um lado, consideramos os altares domésticos na condição mesma de
“sacramentais”, ou seja, entidades físicas com capacidade de realizar pela sua
própria virtude material (e por sua forma) atos de caráter sagrado; por outro,
reconhecemos a existência de conexões invisíveis que interferem no objeto
visível, produzindo um campo perceptivo contingente. O imaginário penitente
funciona como um feixe de luz que ao incidir sobre as propriedades materiais
dos objetos do altar faz reluzirem singularidades de suas formas e superfícies,
substratos visíveis da contemplação. Assim, o exercício contemplativo dos altares
possui duas vias de ação: a veneração de sua forma e, por meio de sua autoridade
sagrada e do conteúdo iconográfico das imagens, a legitimação da penitência
enquanto instrumento de salvação. A explicação de Merleau-Ponty esclarece a
ambivalência dessa operação cognitiva que funde no mesmo gesto visão e corpo.
O enigma consiste em meu corpo ser ao mesmo tempo vidente e visível. Ele, que
olha todas as coisas, pode também se olhar, e reconhecer no que vê então o “outro
lado” de seu poder vidente. Ele se vê vidente, ele se toca tocante, é visível e sensível
para si mesmo. [...] é um si que é tomado portanto entre coisas, que tem uma face
e um dorso, um passado e um futuro. (2004, p. 17)
Favoreceu a nossa etnografia o fato de existir por parte dos moradores um
consenso relativo a um modelo ideal de altar, configuração que inclui atributos
relativos ao arranjo dos objetos e ao conteúdo iconográfico. O reconhecimento
especial conferido a determinados altares é expresso em termos que ressal-
tam a opulência visual do conjunto, qualidade que reflete a sua santidade e
provoca admiração pelas famílias que os possuem. Apresentamos a seguir um
pequeno ensaio fotográfico retratando alguns altares domésticos, das dezenas
que fotografamos. Em função da diversidade de arranjos, escolhemos mostrar
algumas configurações que consideramos constituir modelos de organizar os
objetos sagrados no interior da sala do Coração de Jesus e de elaborar a forma
dos altares, tanto em relação ao conteúdo iconográfico como em relação à
posição dos objetos e imagens que compõem o painel.
A experiência da imagem 2p.indd 239 14/09/2016 14:28:03
240
A experiência da imagem 2p.indd 240 14/09/2016 14:28:03
Tomando por base a iconografia e a posição dos objetos e das imagens, realiza- 241
Objeto, imagem e percepção: forma e contemplação dos altares do Horto
mos um estudo comparativo entre os altares que fotografamos. O propósito era
inventariar uma configuração interna, que destituída dos acréscimos transitórios
representasse o modelo formal que orienta a montagem dos conjuntos, bem
como, e principalmente, a própria contemplação. A partir do exame das imagens
fotográficas e dos depoimentos recolhidos em campo, elaboramos uma gravura
simplificada que procura traduzir aquilo a que chamamos forma-altar. Para res-
saltar a disposição dos objetos da Sala do Coração de Jesus, evitou-se qualquer
alusão a elementos iconográficos. A forma-altar é composta por três conjuntos.
O primeiro, formado por uma pequena mesa encostada na parede coberta com
uma toalha, geralmente branca com bordados vermelhos reproduzindo as iniciais
SCJ, a figura de um cálice ou outro motivo religioso. Sobre este móvel estão um
pequeno oratório no centro, e, dispostos a gosto, uma vela, um pequeno jarro
de flores e um livro de orações; ao seu lado, vemos uma cadeira encostada na
parede. No segundo conjunto, agrupados na parede em forma de retábulo e cir-
cundando a imagem do Coração de Jesus, posicionamos as molduras das imagens
dos santos que estão presentes na maioria dos altares que analisamos. Maior em
tamanho e adornada com flores, a moldura que contem a efígie do Coração de
Jesus constitui o centro óptico do altar. Ao seu lado, na parte superior, as duas
molduras menores referem-se às imagens de Nossa Senhora das Dores, envolvida
por um rosário, e a de São Francisco das Chagas. Abaixo delas, as imagens de
frei Damião, de são José, de são Sebastião e outra que reúne no mesmo quadro
o Padre Cícero e Nossa Senhora das Dores. O terceiro conjunto está posto na
parede lateral, trata-se de um acervo composto por retratos pintados, em que
constam representados os membros da família, sobretudo aqueles já falecidos.
Ainda que seja possível perscrutar agências considerando isoladamente de-
terminados objetos, o altar é contemplado como um bloco coeso, cujo poder
A experiência da imagem 2p.indd 241 14/09/2016 14:28:04
242 das partes é ativado, sobretudo em função da posição que ocupa no conjunto.
A agência de uma imagem é sobremaneira alterada quando introduzida no altar,
situação que aumenta o grau e modifica a natureza de seu poder sagrado. Aos
componentes do altar são atribuídas propriedades agentivas que emanam da
sua participação na elaboração da forma do conjunto, o que implica mitigar na
peça o caráter subjetivo de relicário familiar e auferir-lhe um valor e uma ação
litúrgicos. Mesmo a imagem do Coração de Jesus, principal ícone da iconografia
dos altares de Juazeiro do Norte, tem sua força sacramental definida na sua
relação com arranjo iconográfico que o compreende. Sobre a distribuição dos
outros santos no altar, existe uma correspondência entre a distância física que as
imagens guardam em relação à imagem do Coração de Jesus e a importância que
tais santos têm na devoção familiar. Portanto, os santos de maior importância são
posicionados imediatamente ao lado da imagem do Coração de Jesus, e, numa
sucessão imaginária de círculos concêntricos, são dispostas as demais imagens,
respeitando a mesma lógica da proximidade em relação ao centro do altar.
Como fizemos pressentir no início deste artigo, a partir de uma etnografia loca-
lizada, procuramos construir uma reflexão que tematize a relevância cognitiva
dos objetos na produção de conhecimento no âmbito das ciências humanas
e da antropologia em especial. O “gráfico” que apresentamos anteriormente
postula não apenas em favor da existência de uma forma que gerencia a orga-
nização dos altares domésticos, mas reivindica para essa ordenação um poder
sagrado, a partir de uma configuração geométrica que inflige agência ao espaço
da Sala e prestígio sagrado aos objetos que integram o painel. Nesse sentido, o
exercício contemplativo, a forma de ver e sentir o espaço – por assim dizer, é
um ato de conhecimento, para o qual elementos como forma, posição, imagem
e cor constituem um léxico sutil e inefável de proposições não discursivas. Na
intenção de acrescentar à ilustração anterior os detalhes referentes ao conteú-
do iconográfico, aos objetos e às molduras,8 desenvolvemos uma modelagem
em três dimensões de um altar doméstico, tomando como referência a nossa
etnografia e a nossa reflexão teórica sobre forma, imagem e percepção.
O signo religioso, como assegurou Jean-Pierre Vernant, não se apresenta como
um simples instrumento de pensamento mobilizado para evocar uma instância
sagrada, mas como um meio de estabelecer uma verdadeira comunicação com
8
O ambiente 3D foi construído através da plataforma Sketchup. A elaboração da montagem foi
concebida a partir da associação de elementos virtuais e de objetos retirados dos próprios altares
que fotografamos. Os módulos que retratam os santos e os retratos pintados são imagens reais
inseridas em molduras virtuais, procedimento que nos possibilitou modelar a configuração mais
representativa desses espaços, preservando seu conteúdo iconográfico.
A experiência da imagem 2p.indd 242 14/09/2016 14:28:05
243
Objeto, imagem e percepção: forma e contemplação dos altares do Horto
ela e inserir no mundo a sua presença “real”. Os objetos sagrados acentuam ao
limite a contradição que Hans Belting identificou como uma propriedade fun-
damental das imagens, ou seja, possibilitar uma aproximação entre os homens e
suas divindades através da ênfase na distância que os separam. Na religiosidade
que estudamos, é nos objetos e no corpo do devoto, no espaço-tempo-matéria
de uma experiência penitencial singular, que se realiza o mistério desse encon-
tro. Diluindo as fronteiras entre as expressões fisionômicas do sofrimento pelo
pecado e a compleição plácida que sobrevém do auferir a misericórdia divina, o
corpo resolve na experiência dos sentidos a necessidade sobrenatural do perdão.
Afetando-se e transformando-se pela força imanente de certos objetos e do es-
paço, o corpo converte-se, ao mesmo tempo, numa inteligência e numa escritura
sensível que elaboram e encerram um conhecimento sobre o mundo. A per-
cepção dos objetos, seu contexto e mediações, constitui-se instância primordial
na relação entre homens e coisas. A contemplação dos altares domésticos da
Ladeira do Horto, por exemplo, conjura a forma litúrgica dos painéis e a narrativa
iconográfica e cultural dos seus objetos, e só por meio dessa imbricação se pode
acessar a potência afetiva e sagrada da Sala do Coração de Jesus. A forma-altar
que elaboramos trata-se, na realidade, de um programa visual que orienta uma
percepção, condição fundamental para emprestar sentido e valor devocional
aos objetos, ao espaço, e, por conseguinte, legitimar uma experiência sagrada,
resultado da percepção do espaço e da presença, forma e poder dos objetos.
A experiência da imagem 2p.indd 243 14/09/2016 14:28:05
244 Bibliografia
AZZI, Riolando. “Catolicismo popular e autoridade eclesiástica na evolução histórica do Brasil.” Religião
e Sociedade, v. 1, pp. 125-49. 1977.
_____. O catolicismo popular no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1978.
BACHELARD, Gaston. A poética do espaço. São Paulo: Martins Fontes, 2008.
BELTING, Hans. “Por uma antropologia da imagem”. Concinnitas, a. 6, v. 1, n. 8. 2005.
BRUYN, Ben de. “The Anthropological Criticism of Wolfgang Iser and Hans Belting”. Image & Nar-
rative, v. 15. 2006.
CARVALHO, José J. “O olhar etnográfico e a voz subalterna”. Horizontes Antropológicos, a. 7, n. 15,
pp. 107-47. 2001.
GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1973.
_____. Negara: o Estado Teatro no século XIX. Rio de Janeiro: Bertrand, 1991.
GELL, Alfred. Art and Agency: An Anthropological Theory. Oxford: Oxford University Press, 1998.
HÖFFLER, A. “O céu na Terra da Mãe de Deus: para um estudo das paredes dedicadas ao Sagrado
Coração de Jesus em Juazeiro do Norte”. Ângulo (Lorena), v. 109, pp. 11-15, 2007.
HOONAERT, Eduardo. História da Igreja no Brasil: ensaio de interpretação a partir do povo (t. 2).
Petrópolis: Vozes, 1977.
KINGSTON, S. “Form, Attention and a Southern New Ireland Lifecycle”. Journal of the Royal An-
thropological Institute, n. 9, pp. 681-708. 2003.
LAGROU, Els. A fluidez da forma: arte, alteridade e agência de uma sociedade amazônica (Kaxinawa,
Acre). Rio de Janeiro: Topbooks, 2007.
MCDOUGALL, David. The Corporeal Image: Film, Ethnography, and the Senses. Princeton: University
Press, 2005.
MELO, Péricles C. F. O Estandarte da Vitória: a Devoção ao Sagrado Coração de Jesus e as Necessi-
dades de Nossa Época. São Paulo: Artpress, 1998.
MERLEAU-PONTY, Maurice. O olho e o espírito. São Paulo: Cosac Naify, 2004.
_____. Fenomenologia da percepção. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
MITCHELL, W.J.T. Iconology: Image, Text, Ideology. Londres: The University of Chicago Press, 1986.
MONTES, Maria Lucia. “Cosmologias e Altares”. In: Arte e religiosidade no Brasil: heranças africanas.
II Encontro Nacional da Cultura. Ministério da Cultura, 1997.
REGO, José Lins do. Menino de engenho. Rio de Janeiro: José Olympio, 2001.
ROCHA, E. S. Vestígios do sagrado: uma etnografia sobre formas e silêncios. Tese (Doutorado) em
Antropologia Social, FFLCH-USP, São Paulo, 2012.
SALVO, Dana. Home Altars of Mexico. New Mexico: University of new Mexico Press, 1997.
TAUSSIG, Michael. Mimesis and Alterity: A Particular History of the Senses. Nova York: Routledge,
1993.
ZECCHETO SDB, Victorino. Imágens en acción: el uso de las imágenes religiosas em la religiosidad
popular latinoamericana. Quito: Abya-Yala, 1999.
A experiência da imagem 2p.indd 244 14/09/2016 14:28:05
III.
Experiências Transdisciplinares
A experiência da imagem 2p.indd 245 14/09/2016 14:28:05
A experiência da imagem 2p.indd 246 14/09/2016 14:28:05
A intermitência das imagens: exercício para
uma possível memória visual Bororo1
EDGAR TEODORO DA CUNHA
Desde 2000, no meu primeiro contato com os Bororo,2 venho trabalhando
com aspectos da vida ritual e das imagens sobre e com os Bororo. Ao longo
desses anos abordei, entre outros temas, aspectos da visualidade ligados à
experiência de contato dos Bororo3 e os pontos de vista situados em relações
de comunicação intercultural. Em outro momento4 pude ainda incorporar
uma perspectiva performativa a esse trabalho envolvendo imagens e ritual.
Nesse período desenvolvi, com diferentes densidades, análises de imagens
encontradas em diferentes acervos e de diferentes momentos históricos re-
lacionados à experiência Bororo. Como desdobramento desse trabalho com
imagens de arquivo, há ainda um conjunto de imagens produzidas por mim,
1
Este artigo é resultado de pesquisa desenvolvida junto ao GRAVI - Grupo de Antropologia Visual
da USP, no âmbito do projeto temático “A Experiência do Filme na Antropologia”, processo nº
2009/52880-9, e do projeto de pós-doutorado “O funeral Bororo: ritual, performance e imagens”,
processo nº 2008/56438-6, ambos financiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
São Paulo (FAPESP).
2
Os Bororo estão distribuídos atualmente em nove aldeias no estado do Mato Grosso. O Instituto
Socioambiental reportava uma população de 1.686 indivíduos em 2012. Disponível em: <http://
pib.socioambiental.org/pt/povo/bororo/242>. Acesso em jan. 2016.
3
Doutorado realizado no Programa de Pós-graduação em Antropologia Social da USP, com finan-
ciamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).
4
Pós-doutorado realizado no Departamento de Antropologia da USP, com financiamento da FAPESP.
A experiência da imagem 2p.indd 247 14/09/2016 14:28:05
248 ao longo de diferentes pesquisas de campo nas aldeias Bororo, que resultaram
em um filme etnográfico5 e ensaios fotográficos.
Uma inquietação que perpassa todo esse período e tem ganhado diferentes
desdobramentos é: “como abordar as imagens?”. Pergunta de aparente simpli-
cidade, mas que pode encerrar diferentes respostas e algumas complexidades.
Como um artefato cultural, imagens comunicam, representam, expressam
memórias, fornecem um modo especial de relação com o mundo, onde seus
aspectos icônicos, enquanto contornos que nos remetem a uma reflexão sobre
seu referente, encobrem sua natureza também linguística, que tem uma retórica
própria, formas que se articulam de maneira anacrônica, produzindo novos sen-
tidos. São também modos de pensamento e do gesto, são produto de relações,
entre homens, entre imagens e entre ambos.
Nesse sentido é interessante lembrar do comentário de Giorgio Agamben
(1999, p. 100), sobre Aby Warburg, em que dizia que Warburg não trabalhava
apenas sobre as imagens mas na verdade sobre o gesto, sobre a relação, que
é o que permitiria pensar as imagens em seu movimento, como imagens vi-
ventes, criticando a corrente iconológica, que de alguma maneira reduzia o
pensamento de Warburg ao circunscrevê-lo a uma busca de signos, indícios,
ícones, deixando de lado um aspecto fundamental de seu trabalho e método,
que é a percepção das relações que se estabelecem entre as formas visíveis
que vão além de seus aspectos miméticos e contextuais.
Sobre essa oposição, o comentário de Georges Didi-Huberman (2011, p.
85; 2013, p. 75), concordando com Agamben, nos leva a um melhor enten-
dimento quando reafirma que a questão é a da imagem como gesto na busca
de uma antropologia da imagem vivente, porém agora introduzindo a ideia de
“sintoma”, porque para ele, se a imagem por um lado nos leva a um conceito
semiótico, por falar do significado, por outro ela é também corporal, ou melhor,
dar atenção a sua gênese remete ao ato que a produziu, ao corpo da qual ela
necessariamente se desdobrou, e é nesse sentido que chegamos novamente
ao gesto, o gesto como extensão do corpo, que está investido de uma certa
capacidade expressiva.
Um bom exemplo dessas possibilidades, e que de alguma maneira orienta o
caminho aqui proposto, é o que se inspira na exposição “Atlas: como levar o
5
Ritual da vida. Edgar Teodoro da Cunha. cor. 30 min. DVCAM, 2005. Apoio: Lisa – Laboratório
de Imagem e Som/USP; FAPESP. Recebeu o primeiro prêmio na categoria “Humanístico-Social”
no 1o Festival de Cine y Vídeo Científico del Mercosur, realizado em Buenos Aires, Argentina, em
2005, e promovido pelo Instituto Universitario Nacional de Artes (IUNA) e o Instituto Nacional
de Cine y Audiovisuales (INCAA).
A experiência da imagem 2p.indd 248 14/09/2016 14:28:05
mundo nas costas?”, realizada em Madri, na Espanha, em 2010. Em sua apre- 249
A intermitência das imagens: exercício para uma possível memória visual Bororo
sentação à exposição, Didi-Huberman evidencia a filiação do projeto ao atlas
de imagens de Aby Warburg, o Atlas Mnemosyne, em que Warburg propunha
um modo singular de compreender as imagens reunindo todos os objetos,
que incluiriam imagens, mas não apenas elas, em um sistema móvel em que
seria possível desmontar, montar, remontar, evidenciando as relações possíveis
entre os objetos por meio desse dispositivo, sem perder de vista a memória
das imagens. Essa mesa de montagem de imagens heterogêneas e fragmentadas
possibilitaria, por meio da reconfiguração da ordem e dos lugares das coisas,
estabelecer sentidos imprevistos que resultavam desse processo de superposição
e que não residiam apenas no valor intrínseco de cada imagem ou objeto, mas
nas relações estabelecidas entre eles.
Quando diferentes imagens são colocadas em relação, por meio de um pro-
cedimento de montagem como este, podemos modificar sua configuração,
estabelecer novas constelações e novos caminhos do pensamento. Essa recon-
figuração permite que as imagens “tomem posição”, para usar uma expressão
cara a Didi-Huberman. As relações colocadas em evidência pela montagem
proporcionam uma “legibilidade” que potencializa o que está à margem, o
fragmentário, o segmentado, o rastro e seus indícios independentemente da
possibilidade de se inventariar, classificar, criar organizações definitivas, catálogos
exaustivos para repertórios que resistem a serem submetidos a esses processos.
As imagens Bororo as quais me refiro nesta reflexão de conjunto têm exata-
mente estas características: fragmentárias, produzidas em diferentes épocas e
suportes, com distintas possibilidades de resgate de seus elementos contextuais,
produzidas por variados processos, interesses e sujeitos históricos. E são ao
mesmo tempo, em seu conjunto, imagens extremamente eloquentes sobre a
história da relação dos Bororo com o mundo envolvente a despeito de serem
silenciosas quanto ao ponto de vista deste grupo que, mesmo nos dias de hoje,
pouca visibilidade tem nos fluxos comunicativos e de sentido envolvendo as
diferentes alteridades e minorias no cenário nacional.
O silêncio e a eloquência nos levam a algo resultante de um palimpsesto de
memória, de fragmentos, de vestígios, sedimentados ao longo dos anos em
diferentes arquivos. Essas imagens não são apenas fósseis de um referente que
se perdeu, uma forma sem vida, resultantes pálidas de um processo técnico
que as produziu, mas antes de mais nada são ainda resultantes de um gesto e
de um olhar, são formas que podem articular novos sentidos, elas têm a marca
da ação que as produziu e que podem oferecer novas conexões, são “formas
que pensam” (SAMAIN, 2012).
A experiência da imagem 2p.indd 249 14/09/2016 14:28:05
250 Comentando a ideia de intermitência mobilizada em Denis Roche, poeta-
fotógrafo francês, Didi-Huberman aponta para um aspecto importante em
relação à fotografia, e que estenderia a maneira como estamos tematizando a
imagem aqui, que é o fato dela não ser apenas um objeto, mas também um ato.
Como não pensar, nesse sentido, no caráter intermitente (saccadé) da imagem
dialética, de acordo com Walter Benjamin, essa noção precisamente destinada a
compreender de que maneira os tempos se tornam visíveis, assim como a própria
história nos aparece em um relâmpago passageiro que convém chamar de “ima-
gem”? (2011, p. 46)
Essa característica da “intermitência” da luz, como nos diferentes casos evo-
cados pelo autor, envolvendo a metáfora dos vaga-lumes, nos remete às imagens
do passado como sujeitas ao desaparecimento, ao efêmero, à permanência
fragmentária e ao luto barthesiano do “isso foi” e, ao mesmo tempo, à possi-
bilidade da reaparição, de lampejos desse passado porque ganham sentido no
presente, como ruínas que testemunham algo que foi, mas que ainda é presente,
e podem ganhar novos sentidos a depender das ressonâncias que proporcionam
ao olhar do tempo presente.
No seu adormecimento em gavetas, estantes e arquivos, essas imagens preser-
vam sua potencia comunicativa, a despeito do corte contextual, pois quando
colocadas em novo fluxo de movimento, podem assumir novos sentidos,
mobilizar novas sensibilidades, repercutir em novos corpos, ganhar novas
possibilidades comunicativas. Penso aqui, por exemplo, no potencial de pro-
cessos como o daqueles que promovem o retorno de suas imagens do passado
aos grupos indígenas contemporâneos, permitindo processos de ativação e
reencontro com elas, que por sua vez ganham novas possibilidades ancoradas na
experiência contemporânea desses grupos, a partir desse reencontro. É nesse
sentido que mobilizo o termo sobrevivência, pensando não apenas na possibi-
lidade da permanência dos sentidos organizados na gênese dessas imagens mas
ainda de formas que, a despeito das marcas contextuais que as produziram,
permanecem como objetos mobilizadores de sentidos na contemporaneidade,
ativadores de uma memória, por vezes involuntária, que não é necessariamente
a fixada pela escrita, pela oralidade, pela experiência dos sujeitos, mas talvez
pelos corpos e gestos que ressoam nos corpos e gestos de hoje.
A experiência da imagem 2p.indd 250 14/09/2016 14:28:05
Imagens, arquivos, pesquisa 251
A intermitência das imagens: exercício para uma possível memória visual Bororo
Instigado por essa reflexão, a partir da qual podemos relacionar as imagens por
meio de um pensamento próprio a elas, é que retomo o material imagético acu-
mulado nos anos de pesquisa a que me dediquei a explorar aspectos dos registros
visuais sobre os Bororo, imagens oriundas de diferentes arquivos, produzidas em
diferentes contextos e experiências e ainda, de forma complementar, as imagens
produzidas por mim ao longo da pesquisa de campo, desde o ano 2000, quando
iniciei minha relação com os Bororo.
Um primeiro arranjo abrangente dessas imagens envolve o conjunto de fil-
mes produzidos sobre os Bororo, ao longo de um grande intervalo de tempo,
compreendendo desde 1917 até a contemporaneidade. Esses filmes apresentam
uma diversidade de formas, linguagens e conteúdos, possuindo propósitos,
contextos e circulação bem diversos.
Uma avaliação inicial desse conjunto de filmes evidencia a atenção a aspectos da
vida ritual dos Bororo, com especial destaque para o ciclo funerário, elemento
que também aparece com grande ênfase na literatura antropológica produzida
sobre eles. Assim, Rituais e festas Bororo, filmado em 1917 por Luiz Thomaz
Reis, nos lega as primeiras imagens em movimento sobre esse complexo ci-
clo ritual. Imagens sobre o mesmo tema foram captadas posteriormente por
Dina e Claude Lévi-Strauss, em 1935, na primeira expedição de pesquisa de
ambos, pelo Brasil Central, no período em que estavam radicados no país, nos
oferecendo ainda um importante conjunto fotográfico sobre os Bororo do rio
Vermelho. Há ainda, sobre o mesmo tema, as imagens produzidas por Heinz
Foerthmann, em 1953, quando era fotógrafo da Seção de Estudos do Serviço
de Proteção aos Índios (SPI),6 dirigido por Darcy Ribeiro. Se a vida ritual é
uma constante que relaciona esses filmes, cada uma dessas abordagens, no
entanto, traz diferenças importantes. No filme de Reis, que é uma significativa
exceção dentro de sua própria obra fílmica, temos a construção de uma alegoria
da nação, onde o índio tem seu lugar, mas como selvagem e ainda projetado
em um passado remoto, momento da constituição da ideia de nação e de origem
de uma identidade coletiva, operação similar à empreendida pela literatura
indianista, ao longo da segunda metade do século XIX e ainda pela pintu-
ra acadêmica, no mesmo período. Já os filmes de Dina e Claude Lévi-Strauss
e o de Foerthmann apresentam uma ênfase muito maior em um olhar mais
objetivo, que busca uma especificidade, uma singularidade dessa cultura e povo
6
Sobre esse conjunto, ou parcialmente, escreveram vários autores como Sylvia Caiuby Novaes (2006),
Fernando de Tacca (2001), Marcos de Souza Mendes (2006) e Edgar Teodoro da Cunha (2005).
A experiência da imagem 2p.indd 251 14/09/2016 14:28:05
252 e nesse sentido enfatizam mais o aspecto documental das imagens produzidas,
constituindo-se em registros produzidos no interior de processos de construção
de conhecimento. A atuação de Luiz Thomaz Reis na Seção de Cinemato-
grafia da Comissão Rondon tinha igualmente essa perspectiva de documen-
tação das atividades da Comissão, como a epopeia de levar o telégrafo para
espaços longínquos do país, mas além disso ainda buscou documentar, entre
outros aspectos, as diferentes populações indígenas que foram contatadas ao
longo dos trabalhos da Comissão. O casal Lévi-Strauss, por sua vez, levava adian-
te sua primeira expedição científica, como antropólogos, visando a construção
de um conhecimento sobre as populações indígenas do Brasil Central. O ma-
terial Bororo resultante dessa expedição, onde se inclui os filmes e fotografias,
será importante em diferentes momentos da obra de Lévi-Strauss, o que dá a
essas imagens uma conotação especial no sentido de estarem articuladas a um
projeto antropológico de produção de conhecimento. E por fim Foerthmann, a
partir de parceria e estímulo de Darcy Ribeiro, antropólogo que coordenava a
Seção de Estudos do Serviço de Proteção aos Índios, desenvolveu importante
trabalho na documentação de diferentes aspectos da vida de diferentes grupos
indígenas nos quais o SPI atuava.
Se os três filmes mencionados podem ser vistos hoje sob o prisma da produção
de conhecimento e, portanto, projetos que tinham um caráter etnográfico, temos
que outros quatro filmes, menos conhecidos, apontam para outras possibilidades
da construção fílmica e das representações construídas sobre os Bororo. The Last
of the Bororos (1930, 32 min.), de Aloha Baker, Mato Grosso: The Great Brazilian
Wilderness (1931, 50 min.), de Crosby, Clarke e Newell, o cine jornal Meruri
(1947, 7 min.), de Nilo Vellozo, produzido pelo SPI e veiculado pela Agência
Nacional, e o filme de Lewis Cotlow, Jungle Head Hunters (1951, 66 min.),7
trazem um outro aporte para a discussão. São filmes que dialogam mais com uma
vertente do filme “documentário” do que com filmes associados a processos de
pesquisa de caráter antropológico. São filmes que podem ser classificados como
“travelogues”, filmes de viagem que constroem um imaginário sobre o encontro
com os Bororo, enquanto índios “selvagens e intocados”, que configuram uma das
7
Em relação aos filmes de Baker e Cotlow, tive acesso a eles na íntegra quando, em dezembro de
2013, pude pesquisar nos acervos do Human Studies Film Archives no Smithsonian Institute, em
Washington. Além do acesso aos filmes, pude ter acesso a material documental sobre os mesmos.
Existem poucas referências críticas a essas obras em análises antropológicas dentre as quais destacaria
o trabalho de Luciana Martins (2013). Quanto ao filme Mato Grosso, tive acesso a ele em 2011
por meio do Penn Museum, da Universidade da Pensilvânia, que na época o estava restaurando
e, juntamente com Sylvia Caiuby Novaes, levamos esse material para campo para ser exibido aos
Bororo e traduzimos e legendamos as partes do filme faladas em Bororo, neste filme pioneiro no
uso do som.
A experiência da imagem 2p.indd 252 14/09/2016 14:28:05
maneiras como olhares de época conceitualizavam e imaginavam o índio, pensando 253
A intermitência das imagens: exercício para uma possível memória visual Bororo
em um contexto mais amplo de relação com a alteridade, e especificamente em
relação aos Bororo.
Os filmes de Aloha Baker e Lewis Cotlow e ainda o de Crosby, Clarke e Newell
são ótimos exemplares de diferentes épocas que combinam viagens a lugares
distantes com alguma emoção e que resultam muitas vezes em filmes abso-
lutamente exotizantes, transformando, por vezes, um grupo como os Bororo
em um amálgama de referências a serviço de uma narrativa que busca entreter
plateias ávidas por emoções de viagens em localidades distantes.
O filme de Cotlow nos propõe uma narrativa inverossímil e fantasiosa de
Bororos belicosos que poderiam receber agressivamente visitantes, como o
próprio diretor/aventureiro, e esta indicação é utilizada na construção fílmica
como elemento dramático. Cotlow é “aceito” pelos Bororo e com isso temos
na sequencia a realização de uma festa, com danças, em que os Bororo parti-
cipam, exemplarmente ornamentados, com música, algo com tambores que
nada tem a ver com a expressão sonora Bororo, e por fim há ainda a utilização
de um excerto retratando mulheres e crianças entrando em uma casa indíge-
na, que não é Bororo, mas é mostrada no filme como se fosse, para indicar a
confiança dos Bororo no visitante a ponto de mostrarem suas casas e famílias.
Aqui a ideia da aventura está em primeiro plano em detrimento de qualquer
perspectiva documental, pois a narrativa e economia fílmica estão a serviço
da construção de uma ficção.
Os outros dois filmes apresentam outras singularidades: Baker, em primeira
pessoa, também nos oferece um filme de aventura com uma narrativa centrada
em uma diretora/viajante/aventureira, no entanto nos mostra muito mais a
descoberta do exótico, corporificado pelos Bororo, por essa personagem, que
se encanta por detalhes da vida cotidiana, e participa de diferentes momentos
das atividades desse cotidiano da aldeia, com seus evidentes limites, buscando
perceber as peculiaridades dessa cultura tão diferente em contraste com a sua.
O filme de Crosby, Clarke e Newell por outro lado, além dessa filiação ao
gênero dos travelogues, apresenta a ambiguidade de ter sido financiado pelo
Penn Museum,8 e, portanto, a expedição que o produziu somava ao gênero de
filme de viagem a qualidade do filme científico. Isso impõe uma narrativa hí-
brida, que utiliza dispositivos de construção dos filmes de viagem, com ênfase
em aspectos do deslocamento, da paisagem pitoresca, da emoção da caçada à
8
The University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, também conhecido como
Penn Museum – <www.penn.museum>.
A experiência da imagem 2p.indd 253 14/09/2016 14:28:05
254 onça, e do encontro com uma população indígena intocada, como os Bororo.
No entanto, vemos no filme o esforço de uma equipe multidisciplinar, que
busca recolher diferentes espécies que formarão uma coleção a ser incorporada
ao acervo de pesquisa do museu, e o filme tem o sentido de documentar os
diferentes aspectos envolvendo o material coletado, inclusive o etnográfico.
A narrativa fílmica apresenta expedientes que a aproximam do de Cotlow, pois
também, ao mostrar o que seriam casas em uma aldeia Bororo, utiliza imagens
de outro grupo indígena, semelhante às casas coletivas xinguanas. Essa parece
ser uma recorrência em dois filmes tão distantes resultante de uma lógica em
que se pensa as imagens segundo um valor narrativo em detrimento de seu
aspecto documental e descritivo.
E por fim, no cinejornal Meruri, de Nilo Vellozo, temos a introdução de
uma outra variável que é a possibilidade de revisitar uma biografia a partir
de fragmentos dispersos. Trata-se de um filme de divulgação da visita do
brigadeiro Raymundo Aboim, relacionada à Expedição Roncador-Xingu e à
Missão Salesiana junto aos Bororo no Meruri, Mato Grosso. Neste filme,
temos uma referência visual que envolve um importante personagem Bororo
cujos registros aparecem associados ao contexto da relação dos Bororo com
os salesianos, cuja atuação de suas missões religiosas e suas práticas “civiliza-
tórias” marca profundamente a história do contato dos Bororo, com quem
os salesianos atuam desde o final do século XIX junto a algumas aldeias, no
Mato Grosso, ação que persiste até hoje.9
Mas a questão que se coloca em relação a estas imagens é a presença de um perso-
nagem Bororo, que tem certa centralidade no filme, e que aparece presenteando
o personagem principal, o brigadeiro Aboim, com alguns objetos Bororo: quem
é esse homem Bororo que aparece nas imagens desse cinejornal, com relativo
destaque, mas que não é nomeado? Trata-se de Tiago Marques Aipobureu.
Originário do Meruri, cresceu e estudou na Missão Salesiana tendo colabora-
do ativamente com os padres, especialmente na elaboração da Enciclopédia
Bororo. Sobre ele escreveram Baldus (1937) e Florestan Fernandes (1975),
abordando aspectos de uma biografia singular, que colocava Aipobureu em
uma situação de liminaridade, entre o mundo dos brancos e o mundo Bororo,
e os dilemas daí derivados.
As imagens do cinejornal podem ser lidas a contrapelo. Se seu sentido evidente
era o de mostrar como caminhavam bem os trabalhos civilizatórios junto aos
9
Refiro-me aqui à missão que atua principalmente na Terra Indígena Meruri, ao norte do Mato
Grosso.
A experiência da imagem 2p.indd 254 14/09/2016 14:28:05
Bororo empreendidos pelos salesianos, reforçado pela narração em voz over, 255
A intermitência das imagens: exercício para uma possível memória visual Bororo
em tom grandiloquente e com comentários “pitorescos”, por outro lado temos
a possibilidade de uma contraleitura se nos centrarmos nesse personagem
Bororo, que como disse, não tem seu nome mencionado, e na cena é referido
apenas como “este índio esteve em Roma e Paris, e foi educado pelos padres,
tendo o curso de bacharel”. Aipobureu presenteia Aboim com objetos Bororo,
como um arco ornamentado e um adorno de penas, e nesta ação conversa com
o brigadeiro ladeado por dois padres salesianos, diretores da missão. Outros
Bororo aparecem – anciãos, e outros, jovens – e fazem uma performance coletiva
com movimentos sincronizados de ginástica. Nessa curta sequência fílmica, o
que se descortina são corpos Bororo que são conformados a um novo mundo
como “civilizados”, e para que não haja dúvida quanto a isso, uma cerimônia
de hasteamento da bandeira brasileira é realizada.
David MacDougall em seu artigo “O corpo no cinema” nos chama a atenção
para o aspecto do corpóreo que as imagens fílmicas evocam, de uma presença
que não é apenas a de um referente, mas de uma relação envolvendo o fazer
fílmico. O corpo que está defronte à câmera é tão evidente quanto o corpo que
filma. E mais, há ainda o fato de como esses corpos de alguma forma ressoam
nos nossos enquanto espectadores.
O que esses corpos significam para nós, e como estão associados a nossos próprios
corpos, têm sido objeto de fascinação desde a invenção do filme, mas com muita
frequência a perturbação que eles criam é desmembrada em vias alternativas de
teorias estéticas, psicanalíticas e políticas. É importante recuperar essa perturbação,
se não pretendemos reduzir os filmes a signos, símbolos, e outros significados
domesticados. (MACDOUGALL, 1999, p. 124)
Há outras vibrações ainda, entre os corpos que aparecem dançando no pátio
da aldeia, no filme de Reis, e os corpos que dançam nos filmes de Lévi-
-Strauss, Foerthmann, e ainda Cotlow e Baker. Há uma evidente ressonância,
perceptível pela comparação dessas diferentes imagens e ainda das minhas
próprias no que tange ao ciclo ritual do funeral. São corpos em performan-
ce ritual, mas também corpos culturais, uma expressividade que atravessa
temporalidades e se transforma, permanecendo a mesma. Esses corpos se
comportam de forma similar, nesses diferentes momentos, se movimentam da
mesma forma quando em “modo ritual”, e assim expressam a possibilidade de
dançar e manter esse “corpo Bororo” face às profundas transformações pelas
quais os Bororo passaram desde as décadas iniciais da “pacificação”, corpos,
e os seres que os animam, construindo novos sentidos para um mundo em
constante transformação.
A experiência da imagem 2p.indd 255 14/09/2016 14:28:05
256 Essas imagens de Tiago Marques Aipobureu abrem outro caminho, outro fio
articulador no interior desse conjunto mais amplo de imagens. É possível per-
cebê-lo a partir de um recorte que envolva outros personagens que assim se
constituem na história dos Bororo. Exemplos de imagens como as de caráter
pictórico, como algumas que fazem parte do acervo etnográfico do Museu
Nacional do Rio de Janeiro, reforçam essa possibilidade e mesmo necessidade
de uma abordagem de caráter biográfico. Trata-se agora de Guido, um jovem
Bororo que no final do século XIX, com a “pacificação” e a cessação da guerra
aberta até então em curso, é adotado e educado no mundo dos brancos por sua
mãe adotiva, mulher de alta condição social na então província do Mato Gros-
so. Resulta desse encontro um conjunto de materiais como objetos de origem
Bororo, que pertenciam a Guido, um quadro e um conjunto excepcional de
desenhos e aquarelas por ele produzidas, que são doados por sua mãe adotiva
ao museu, depois de sua morte precoce (ZOLADZ, 1990; OLIVEIRA, 2007).
Dessa existência entre dois mundos, temos acesso a esse conjunto de desenhos
que nos trazem com centralidade a paisagem do Centro-Oeste, paisagens do
mundo Bororo que ficou para trás, com o rio, a floresta e seus animais, cenas
da aldeia. Paisagem-corpo com sua agência, como sugerem os cantos Bororo
construtores de paisagens do passado que se renovam no presente.
Até aqui foram comentadas imagens sobre os Bororo produzidas por diferentes
contextos, agentes e finalidades. São todas imagens de arquivo, de caráter frag-
mentário, e que podem ganhar uma articulação e sentidos próprios a partir da
proposta analítica abrangida por este texto. Os comentários realizados até aqui
evidenciam algumas questões e possibilidades de leitura para esses materiais:
o exotismo e a aventura podem ser um recorte possível (Cotlow, Baker), mas
como entender um interesse genuíno por outra cultura a despeito do processo
exotizante que o produziu? (Baker), ou ainda como foi possível articular essa
perspectiva exotizante a ambições de caráter científico e artístico? (Crosby,
Clarke e Newell). A emergência do sujeito histórico, de personagens, também
nos traz outras inquietações ligadas às questões de fundo, como o silenciamento
da voz Bororo em face de uma pletora de imagens sobre eles e, ainda, sobre
a possibilidade de tornar o sensível cognoscível diante de corpos, gestos e
sensibilidades encerradas no espaço velado da alteridade.
São essas mesmas inquietações que nos levam, por fim, a outro conjunto de
imagens que faz parte do repertório deste percurso e que tem como nexo básico a
pesquisa etnográfica que as organiza, produzindo sua articulação e lhes dando
seu caráter de conjunto. Trata-se das imagens por mim produzidas em contexto
de pesquisa etnográfica, desde 2000, que resultaram em um acervo pessoal de
quarenta horas de imagens de vídeo, 2.200 fotografias e quinze horas de cap-
A experiência da imagem 2p.indd 256 14/09/2016 14:28:05
tações sonoras, registros que em sua maior parte estão relacionados a aspectos 257
A intermitência das imagens: exercício para uma possível memória visual Bororo
da vida ritual Bororo.
Uma primeira elaboração desse material, para além de sua utilização analítica
nos escritos até agora publicados, foi empreendida no processo de realização de
Ritual da vida, um filme de caráter etnográfico, que dialogava com a escrita et-
nográfica, mas que propunha um dispositivo que possibilitasse uma reflexão sobre
o sensível, ou, como mencionei acima, sobre os “corpos, gestos e sensibilidades”
Bororo possíveis de serem potencializados por meio da linguagem audiovisual.
Se em princípio buscava discutir o uso de recursos sonoros e visuais para a
construção de narrativas sobre alteridades e intertextualidades entre dife-
rentes modos de representação do outro, novas perspectivas se abriram com
a possibilidade de produção de imagem por parte do pesquisador. Esse processo
possibilitou transcender a análise até então contida em uma perspectiva em tor-
no da representação, abrindo-a para as potencialidades da relação, do encontro
etnográfico e das transformações que esse encontro produz nas sensibilidades
dos sujeitos em diálogo.
Em um sentido similar, David MacDougall (1999, p. 49) já apontava para o fato
de que “os filmes têm forçado a um reexame do conhecimento constituído
pela escrita e sugerido formas alternativas de expressar a experiência sensorial
e social” e, no entanto, “imagens fílmicas tornam-se facilmente tão anódinas
quanto as palavras e embora elas nos atraiam, elas simultaneamente nos dis-
tanciam de seus referentes” (tradução minha). O intervalo entre a experiência
etnográfica e o filme – ou entre o filme e o texto – encerra uma matéria que
não pode ser negligenciada, pois ela abrange os meios possíveis para que a co-
municação e a compreensão mútua se concretizem, trazendo a possibilidade
de afetar (tanto no sentido de transformar quanto no de estimular afetos e
sensibilidades), permitindo a mobilização de um conhecimento que se expressa
corporalmente e que é a base sobre a qual podemos atribuir significados para
a experiência vivida (MACDOUGALL, 2008).
As imagens produzidas nessa situação de diálogo em campo possibilitaram
olhar para as imagens de arquivo de uma forma completamente distinta, nos
colocando a necessidade de ir além do sentido das representações e agregando
uma experiência compartilhada que ativa o olhar para a dimensão do sensível,
da relação física que subjaz toda imagem produzida. O inverso também ocorre,
pois o conhecimento de um repertório de imagens do passado torna evidente
o aspecto construído dessas imagens, sua dependência de um ponto de vista,
entre outras questões, e produzir imagens hoje, em uma situação colaborativa,
torna inevitável o diálogo com esse passado de imagens.
A experiência da imagem 2p.indd 257 14/09/2016 14:28:05
258 Como já enfatizado, algumas dificuldades se apresentaram nesse processo de
articulação das fontes e arquivos como os trabalhados neste artigo, devido
primeiramente ao seu caráter eminentemente fragmentário e, como desdobra-
mento disso, da impossibilidade de construir de forma orgânica e abrangente
uma perspectiva ou sensibilidade local para eventos envolvendo Bororos e
não Bororos em uma linha de longa duração. Se o interesse nos personagens
indígenas e nas imagens do passado podem nos levar a uma ideia de um ponto
de vista singular, Bororo, mesmo que a contrapelo, sobre os eventos históricos
e relacionais que envolveram o drama social do contato com o mundo dos
brancos, por outro lado, só é possível aceder a essa dimensão por meio de
fragmentos: documentos, arquivos, registros realizados e compilados por não
Bororos, que nos permitem de forma indireta apenas entrever essa possibilidade
de uma sensibilidade singular Bororo frente a essas constelações de eventos.
As imagens de arquivo podem ser “reativadas” por diferentes processos do mo-
mento presente. Podemos lembrar, por exemplo, do gênero “filmes de arquivo”
que tem como procedimento básico a utilização de material fílmico originário de
outros filmes como matéria bruta para uma rearticulação a partir de outro projeto
de filme. Outra articulação possível é com o contexto de imagens produzidas
na contemporaneidade e nesse caminho há que se destacar aqueles processos
que possibilitam a emergência de imagens produzidas por aqueles que até então
eram apenas “objeto” de representação (EDWARDS, 2011). Se, por meio das
imagens de arquivo, por exemplo, pude falar até aqui de diferentes contextos
de experiência no passado envolvendo o “índio”, agora temos o contraponto
necessário a isso possibilitado pela emergência de uma voz indígena, que toma o
primeiro plano, construindo suas próprias imagens e autorrepresentações e que
possibilitam a desconstrução dessa ideia de índio genérico por meio de novas
imagens, expressando subjetividades e pontos de vista originais.
Se esse não é um problema novo, por outro lado, as formas de lidar com
ele ainda estão em aberto. Talvez um caminho seja o que aponta Walter
Benjamin, principalmente em suas reflexões sobre o conceito de história,
pois a história que se busca ali não é mais aquela que vê os fenômenos no
tempo como algo progressivo e que seria possível chegar a uma “verdadeira
imagem do passado” em uma perspectiva historicista, mas sim a uma história
a contrapelo, das interrogações e lacunas, dos silêncios e esquecimentos,
dos recalques, nos levando a uma determinada configuração entre subje-
tividade e memória que nos possibilitem pensar por meio desses sujeitos
uma história coletiva e uma relação específica entre passado e presente ou,
como nos diz Gagnebin (2006), das possibilidades de narrativização desse
passado no presente para se pensar identidades.
A experiência da imagem 2p.indd 258 14/09/2016 14:28:05
Bibliografia 259
A intermitência das imagens: exercício para uma possível memória visual Bororo
AGAMBEN, Giorgio. “Aby Warburg and the Nameless Science”. In: Potentialities. Stanford: Stanford
University Press, 1999.
BALDUS, Herbert. “O professor Tiago Marques e o caçador Aipobureu: a reação de um indivíduo
Bororo à influência da nossa civilização”. In: Ensaios de etnologia brasileira. São Paulo: Companhia
Editora Nacional, 1937.
CAIUBY NOVAES, Sylvia. Etnografia e imagem. Tese de Livre Docência, FFLCH-USP, 2006.
CUNHA, Edgar Teodoro da. Imagens do contato: representações da alteridade e os Bororo do Mato
Grosso. Doutorado em Antropologia (tese), FFLCH/USP, 2005.
DIDI-HUBERMAN, Georges. Sobrevivência dos vaga-lumes. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011.
_____. A imagem sobrevivente. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013.
_____. “Atlas: como levar o mundo nas costas?”. In: Sopro – Panfleto Político-Cultural, n. 41. 2010.
Disponível em: <http://culturaebarbarie.org/sopro/outros/atlas.html>. Acesso em jan. 2016.
EDWARDS, Elizabeth. “Tracing Photography”. In: BANKS, Marcus, & RUBY, Jay (orgs). Made to Be
Seen. Chicago: University of Chicago Press, 2011.
FERNANDES, Florestan. A investigação etnológica no Brasil e outros ensaios. Petrópolis: Vozes, 1975.
GAGNEBIN, Jeanne-Marie. “O rastro e a cicatriz: metáforas da memória”. In: Lembrar, escrever,
esquecer. São Paulo: Editora 34, 2006.
MACDOUGALL, David. Transcultural Cinema. Princeton: Princeton University Press, 1999.
_____. “Significado e ser”. In: BARBOSA, A. et al. (orgs). Imagem-conhecimento. Campinas: Papirus,
2008.
MARTINS, Luciana. “Framing the Bororo: Claude Lévi-Strauss and Aloha Baker”. In: Photography and
Documentary Film in the Making of Modern Brazil. Manchester: Manchester University Press, 2013.
MENDES, Marcos de Souza. Heinz Forthmann e Darcy Ribeiro: cinema documentário no Serviço de
Proteção aos Índios (1949-1959). Doutorado em Multimeios (tese), Unicamp, 2006.
OLIVEIRA, João Pacheco de. “O retrato de um menino Bororo: narrativas sobre o destino dos índios
e o horizonte político dos museus, séculos XIX e XXI”. Tempo, v. 12, n. 23, pp. 73-99. 2007.
SAMAIN, Etienne (org.) Como pensam as imagens. Campinas: Editora da Unicamp, 2012.
TACCA, Fernando de. A imagética da Comissão Rondon: etnografias fílmicas estratégicas. Campinas:
Papirus, 2001.
WARBURG, Aby. Atlas Mnemosyne. Madri: Akal, 2010.
ZOLADZ, Rosza Vel. O impressionismo de Guido, um menino índio Bororo. Rio de Janeiro: Editora
Universitária Santa Úrsula, 1990.
Filmografia
Cerimônias funerárias entre os índios Bororo, Dina e Claude Lévi-Strauss. 1935, 8 min.
Funeral Bororo, Heinz Foerthmann. 1953, 47 min.
Jungle head hunters, Lewis Cotlow. 1951, 66 min
Mato Grosso: the Great Brazilian Wilderness, Floyd Crosby, John S. Clarke e David Newel. 1931, 48 min.
Meruri, Nilo Vellozo. 1947, 7 min.
Rituais e festas Bororo, Luiz Thomaz Reis. 1917, 30 min.
Ritual da vida, Edgar Teodoro da Cunha. 2005, 30 min.
The Last of the Bororos (1930, 32 min.), Dir. Aloha Baker.
A experiência da imagem 2p.indd 259 14/09/2016 14:28:05
A experiência da imagem 2p.indd 260 14/09/2016 14:28:06
Montagem, teatro antropológico
e imagem dialética1
CAROLINA ABREU E VITOR GRUNVALD
Técnica característica do cinema, a montagem tornou-se procedimento das
principais propostas artísticas das vanguardas do início do século XX. Em
casos-limite, como no dadaísmo, a dialética de montagem e desmontagem
leva à ruptura com a própria obra de arte e ao questionamento da arte como
instituição. Inspirados no conceito de montagem, experimentos diversos
iluminaram as relações entre técnica, estética e conhecimento, desde então.
George Marcus advogou, repetidamente, que a montagem pode criar um ima-
ginário eficaz e visceral para a produção antropológica.2 Observou como a noção
cinematográfica de montagem inspirou a escrita etnográfica contemporânea a
pôr em xeque as convenções retóricas e as estruturas narrativas tradicionais.
Em um artigo sobre a sensibilidade modernista na recente escrita etnográfica,
Marcus (1994) nota que
1
Este artigo foi escrito a partir das pesquisas de doutorado conduzidas pelxs autorxs e financiadas
pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP n. 2010/52568-2 e n.
2012/11680-0). Também contou com apoio do Projeto Temático A experiência do filme na antro-
pologia (FAPESP n. 2009/52880-9), coordenado pela profa dra Sylvia Caiuby Novaes.
2
Marcus (1994) argumenta em favor da montagem especialmente diante de investigações de campo
multilocalizadas e cúmplices porque ela abre possibilidade para a construção de narrativas descon-
tínuas, de multiperspectivismo, ao proporcionar efeitos da simultaneidade, em nome da polifonia,
da fragmentação e da reflexividade.
A experiência da imagem 2p.indd 261 14/09/2016 14:28:06
262 os movimentos experimentais e autoconscientes de afastamento das representações
realistas tanto na história quanto na antropologia foram levados adiante em nome
da montagem. A montagem se presta como técnica ao desejo de romper com
convenções retóricas e modos narrativos existentes através da exposição de sua
artificialidade e arbitrariedade. (1994, p. 40)3
Com efeito, a analogia entre a maneira como o cinema compõe sua coerência
narrativa por meio da montagem e as práticas narrativas da antropologia (e
da história) oferece comentários críticos fundamentais não apenas sobre
como construímos o conhecimento, mas, principalmente, sobre seus limites
e suas potencialidades.
Neste ensaio, através de aproximações entre a montagem cinematográfica, a
teatral e a literária (da história e da antropologia), procuramos apontar princípios
para uma antropologia crítica, ou seja, uma prática antropológica consciente das
escolhas políticas e éticas de seu mise-en-scène. Um pouco além, propomos,
ainda, considerar como diferentes conceitos de montagem repercutem em
perspectivas teóricas diversas, interessados que estamos em investigar a peculia-
ridade da montagem para a constituição do olhar dialético de Walter Benjamin.
Reflexividade fílmica e antropológica
Marc-Henri Piault (1995) pontuou que o desenvolvimento da antropologia,
como um projeto específico e deliberado, é contemporâneo ao nascimento
do cinema já que os primeiros filmes foram, de fato, etnológicos: produzidos
para descobrir, ver e entender as situações sociais e restituir não somente a
materialidade das produções, mas também, os movimentos e expressões que
são, igualmente, enriquecidos de sons, falas e músicas.
O uso de uma observação dinâmica e totalizante, a passagem pelo “campo” e as-
sim, a experimentação, faziam do cinema e da etnografia os filhos gêmeos de um
empreendimento comum de descoberta, de identificação, de apropriação e, talvez,
de uma verdadeira devoção do mundo e de sua história. (PIAULT, 1995, p. 27)
Embora o uso do audiovisual na antropologia tenha sido em princípio motiva-
do pelo intuito de registro e exposição de fenômenos sociais, inspirado pelo
3
No original: “the self-conscious experimental moves away from realist representation in both history
and anthropology have been undertaken in the name of montage. Montage lends technique to the
desire to break with existing rhetorical conventions and narrative modes through exposing their
artificiality and arbitrariness.” Quando não indicadas na bibliografia, as traduções são de nossa autoria.
A experiência da imagem 2p.indd 262 14/09/2016 14:28:06
positivismo, a prática do fazer fílmico levantou diversas questões reflexivas 263
Montagem, teatro antropológico e imagem dialética
sobre a produção do conhecimento antropológico desde, pelo menos, meados
do século XX. Sobre o assunto, Sarah Pink comenta:
os usos antropológicos do visual gradualmente mudaram a ênfase de métodos de
gravação visual realistas na metade do século XX para incorporar, posteriormente,
abordagens contemporâneas engajadas com a subjetividade, reflexividade e a noção
do visual como conhecimento e “voz” crítica. (2003, p. 180)4
Enquanto as críticas à representação da escrita etnográfica apenas ganharam
força nos anos 1980 com a edição de Writing Culture: The Poetics and Politics
of Etnography (1984), David MacDougall (1999) lembra que já durante o início
dos anos 1960, para muitos dos antropólogos que estavam fazendo filmes, foi
importante declarar – polêmica e emblematicamente – a presença autocons-
ciente do cineasta, através de uma radical revisão das técnicas de filmagem e
montagem, a fim de lembrar à audiência que o filme é um produto humano,
uma construção, e não uma janela transparente da realidade.5 Peter Loizos
(1993) trata as inovações na realização de filmes etnográficos no período entre
1955 e 1985, exatamente como um caminho que leva da inocência teórica e
epistemológica para a autoconsciência na produção fílmica da antropologia.
Mover o documentário da tradição do anonimato em direção a um cinema
mais autoral não era o objetivo primordial desses antropólogos-cineastas, que
visavam sobretudo ressaltar a base contingente e histórica da descrição cultural
e social articulada no filme, mas assim se fez. A reflexividade que irrompeu
neste movimento foi, por vezes, como consequência inesperada das intenções
primeiras – ainda que não tenha sido este o caso de Jean Rouch ou do casal
Judith e David MacDougall.
Jean Rouch, escancarando a retórica naturalista do realismo fílmico, pôs em
evidência o caráter representacional da etnografia e do documentário já no início
da década de 1950. Sua produção fílmica borrou as fronteiras (ou sublinhou
a tenacidade) entre ciência e arte, entre documentário e ficção, entre real e
imaginário, entre natural e artificial, revelando efeitos de factual pela poesia,
4
No original: “Anthropological uses of visual have gradually shifted from an emphasis on realist
visual recording methods in the mid-20th century to later incorporate contemporary approaches
that engage with subjectivity, reflexivity and the notion of the visual as knowledge and a critical
‘voice’”.
5
Marcus Banks (2001) e Jay Ruby (2000) também pontuaram a importância que a reflexividade
adquiriu no campo da antropologia visual e da produção do filme etnográfico antes mesmo de ganhar
atenção na literatura antropológica de modo mais geral. A esse respeito ver, adicionalmente, Sarah
Pink (2001) e Anna Grimshaw (2001).
A experiência da imagem 2p.indd 263 14/09/2016 14:28:06
264 o sonho e a fabulação.6 Ainda assim, Stoller argumenta que Rouch pode ser
compreendido como um “empirista radical” (apud LOIZOS, 1993, p. 47) já
que conferiu igualdade de status a toda atividade intelectual e espiritual do
homem, sem privilegiar a teoria em detrimento da descrição, o pensamento
em detrimento do sentimento, ou a visão em detrimento de outros sentidos.
O filme Moi, Un Noir, por exemplo, apresentado por Rouch em 1957, in-
vestiga, articula e apresenta a premissa de que os valores de uma sociedade
repousam mais nos seus sonhos do que na realidade então construída.
O processo fílmico para Rouch se estende para além do ato de filmar: comporta
o processo de montagem e da apreciação pelos protagonistas envolvidos no
filme. Jean Rouch fez de sua prática fílmica uma operação de relacionamento
e um processo de saber que produziu conhecimento pela troca e o diálogo.7
A antropologia construída por sua prática cinematográfica, além de reconhe-
cer a subjetividade do autor como via de acesso legítimo para a objetividade
almejada pelo pesquisador, discutiu a impossível dissociação entre inovações
técnicas e propostas éticas, entre preocupação estética e objetivo teórico.
Judith e David MacDougall, nos anos 1970, também fizeram da prática fílmica
espaço de um encontro e sublinharam a autoconsciência sobre a presença do
cineasta em campo a fim de enfatizar que o documentário é inevitavelmente
a testemunha desse encontro.
David MacDougall (1995) nota que a simulação de uma invisibilidade e da
onisciência da câmera (e do cineasta) – tendência marcante na proposta obser-
vacional – apenas produz filmes que são monólogos, textos de quem se sente
agente de uma verdade universal. Advoga que a força do cinema observacional
estaria exatamente na possibilidade de um “cinema participativo”, que deve
dar acesso àquele filmado para penetrar no mundo deste.8
6
Ver mais em Renato Sztutman (2004), Anna Grimshaw (2001) e Peter Loizos (1993).
7
Com essa proposta, elaborou o conceito de uma “antropologia compartilhada”, que, conforme
definiu: começa na audiência do filme por aqueles que nele atuaram e proporciona uma impor-
tante oportunidade de comunicar-se com o grupo estudado, um extraordinário estímulo para uma
compreensão mútua (ROUCH, 1995).
8
Sobre a questão David MacDougall (1995) adverte: “Com a sua recusa em dar, aos sujeitos,
acesso ao filme, o realizador recusa o acesso a ele mesmo, já que essa é claramente sua principal
atividade quando está entre eles. Ao negar uma parte de sua própria humanidade, ele nega uma
parte da humanidade deles” (MACDOUGALL, 1995, p. 124). No original: “In his refusal to give
his subjects access to the film, the filmmaker refuses them access to himself, for this is clearly his
most important activity when he is among them. In denying a part of his own humanity, he denies
a part of theirs”. Apenas através de uma genuína conversação, o filme poderia começar a refletir
os caminhos nos quais os sujeitos filmados percebem o mundo.
A experiência da imagem 2p.indd 264 14/09/2016 14:28:06
MacDougall ressalta, em seus textos, que sem a participação daqueles que são 265
Montagem, teatro antropológico e imagem dialética
filmados, certos aspectos de suas situações se mantêm inexpressivos. Apenas
dando acesso aos sujeitos filmados para o filme, fazem-se possíveis correções,
adições e iluminações que somente eles podem produzir. Ainda assim, e como
força maior, seus filmes são marcadamente parciais, não procuram pelas to-
talizações ou acabamentos e são antes uma forma de reflexão do pensamento
do cineasta. Seus filmes são montados por imagens de uma câmera próxima,
autoconsciente de sua subjetividade, que não se pretende imparcial, noutro
sentido, expressa uma intimidade afetiva com os sujeitos filmados.9
Sem negar o caráter de evidência do filme etnográfico, o autor nota que, pela
seleção de planos, da sua montagem – e da recusa de tantas outras possibilidades
de imagens que não se realizaram –, o filme é como um sistema de compreen-
são e explicação que o cineasta procura construir. Mas, dada a riqueza que é
comportada pelas imagens, o discurso fílmico é não linear, se move através da
complexidade e da indeterminação do mundo experienciado.
Para o casal MacDougall, o filme é arena de uma investigação, na qual a re-
flexividade não é simplesmente uma estratégia estética, já que é também, e
principalmente, uma posição ética. Não é nem metacomentário anterior ao
trabalho nem um artifício descolado, vai além de um momento fugaz de au-
toconsciência, pois a reflexividade que propõe pode ser definida como uma
postura que orienta todo o fazer fílmico. “A reflexividade, de fato, envolve
colocar a representação em perspectiva como a praticamos” (MACDOUGALL,
1998, p. 87).10
Mas não é ao realismo que David MacDougall endereça sua crítica, já que de-
monstra que reflexividade e realidade coexistem na representação, e não são
separáveis. Ele adverte acerca dos muitos filmes que tendem a usar a autorre-
flexividade apenas como referência de uma fórmula ou estilo, sem exercitar
tal reflexão de forma intrínseca e implícita ao filme.
É claro que ele não subestima a importância de se anunciar os métodos de
pesquisa, mas está atento especialmente à reflexividade que procura reconhecer
os pressupostos epistemológicos mais fundamentais do trabalho antropológico,
geralmente internalizados como uma ideologia científica.
9
Tal como pontua Lucien Taylor (1998), o trabalho de David MacDougall revela como o cineasta e
os sujeitos filmados não são entidades inteiramente separadas ou autônomas. Num filme, cineasta e
sujeitos estão associados uns aos outros, de modo insolúvel, tal como as pessoas estão no mundo: ética
e esteticamente. E o que seria a estética senão uma expressão da ética do cineasta? – considera Taylor.
10
No original: “Reflexivity in fact involves putting representation into perspective as we practice it.”
A experiência da imagem 2p.indd 265 14/09/2016 14:28:06
266 MacDougall nota que o anúncio sobre a competência da linguagem, técnicas
fílmicas, extensão do trabalho de campo, quando externo ao filme, procura
por um controle sobre os significados das imagens e implica numa crença
sobre uma mais “correta” interpretação pela audiência. Serve para restaurar
a representação de certa objetividade científica, que perpetua o que Marilyn
Strathern (1987) chamou de “a ilusão do escritor transparente”, pela qual o
autor assume um nível privilegiado de discurso fora do trabalho, limpando o
texto (e o filme) de sua contingência.
Quando a reflexividade se mantém externa ao trabalho, bastante reduzida, os
antropólogos continuam a tratar os filmes como cópias boas ou ruins da realida-
de em vez de considerá-los como trabalhos interpretativos (ou construtivos).11
“O problema com a reflexividade externa não é que ela seja inútil, mas que, ao
apresentar a si mesma como anterior em vez de derivada do trabalho, torna-se
uma espécie de non sequitur filosófico.”, comenta MacDougall (1998, p.88).12
O antropólogo cineasta propõe uma antropologia visual na qual o autor não seja
visto fora do trabalho que realiza, mas que este seja entendido como incluin-
do o autor. A intenção e o objeto antropológico definem-se por meio de seu
processo de construção, sendo seu autor, de vários modos, um artefato desse
trabalho. Também a relação do autor com os sujeitos filmados não pode ser
vista em termos ideais nem independentemente do filme nem da audiência.
Sua proposta toma forma no conceito de uma “reflexividade profunda” [deep
reflexivity] (id., ibid., 1998, p. 89) que requer ler a posição do autor na pró-
pria construção do filme, mesmo que explicações externas possam ser feitas.13
Como um conceito, a reflexividade profunda vai além da noção formalista de
11
George Marcus (1994) se espanta com a reação de colegas antropólogos, no final do século XX,
que, ao assistirem filmes etnográficos, ainda respondem como zoólogos que comentam filmes na-
turais: sua apreciação repousa na confirmação ou enriquecimento de classificações globais e locais,
modo pelo qual muitos antropólogos tradicionalmente têm criado conhecimento sobre o outro.
Como tipos de estudos de casos da “natureza” (mais confusos e verdadeiros do que a escrita),
os filmes são assimilados pelo prévio e essencial conhecimento classificatório desenvolvido pela
escrita etnográfica. Marcus requer uma nova arena de debate para uma discussão e troca entre as
duas mídias de representação (escrita e a cinematográfica), sobre suas relativas possibilidades de
constituição de ideias para o conhecimento antropológico.
12
No original: “The problem with external reflexivity is not that it is useless but that by presenting
itself as prior rather than secondary to the work it becomes a kind of philosophical non sequitur”.
13
David MacDougall (1998) parte do reconhecimento de que a posição do cineasta não é nem uni-
forme nem fixa, mas se expressa através do envolvimento multivalente, instável e constante com
os sujeitos filmados. O trabalho de campo geralmente se desenvolve como exploratório e intuitivo,
como um processo dinâmico que afeta de vários modos, e de forma irregular, a pesquisa. Podemos
dizer que, para MacDougall, o processo de produzir um trabalho antropológico segue como a desco-
berta progressiva sobre o que é essa relação. A posição do pesquisador de campo flutua e é sentida
A experiência da imagem 2p.indd 266 14/09/2016 14:28:06
desfamiliarização, ou intertextualidade, desde que se dirija à forma do filme: 267
Montagem, teatro antropológico e imagem dialética
a natureza social da representação. Em vez de aceitar a descrição de métodos
e hipóteses como reflexividade, MacDougall requer a codificação do trabalho
reflexivo do cineasta no próprio material do filme. Ora, os cineastas estariam
envolvidos em uma análise incorporada do mundo que se desvenda nos assuntos,
nos enquadramentos, nos planos filmados, nas justaposições, nos movimentos
escolhidos das montagens operadas por seus filmes.
Diante da produção de Rouch e do casal MacDougall, o fazer fílmico mostra-se
como tecnologia especialmente propícia para a reflexividade antropológica já
que sugere, propõe e suporta a consciência de sua natureza representacional.
Sobre a potência reflexiva da antropologia visual, faz-se ouvir Marc-Henri
Piault, mais uma vez:
A abordagem da antropologia visual não está apenas voltada para a conservação nem
mesmo pode ser reduzida à invenção de um novo setor de apropriação identitária
e que seria a cultura dos gestos, das palavras e das emoções [...]. A interrogação é
sobre a abordagem e, ao mesmo tempo, sobre os objetos a que ela se dedica: sua
natureza, sua especificidade, as relações que se desenvolvem entre si e com aquele
que as observa dentro das condições particulares desta observação. Não apenas
o que olhamos, mas a maneira de olhar, reconhecer, distinguir neste trajeto do olhar
e da escuta. Trata-se igualmente – e talvez seja este um propósito mais profundo
do que o de ajustar e polir a abordagem antropológica, de precisar seus métodos ou
ampliar os lugares de seu exercício – de clarificar a natureza de um procedimento
que tende a uma abordagem indefinida e assintomática da alteridade: apropriar-se
do sentido sem, no entanto, reduzir as exigências lógicas particulares e mascarar a
solução de continuidade que permite conservar na diferença toda sua autenticidade.
(PIAULT, 1995, pp. 27-28)
A despeito de grande parte do investimento na reflexividade antropológica
e da proliferação de estratégias de experimentação visual terem se dado, de
forma mais marcante, na segunda metade do século XX, teorias e práticas no
campo cinematográfico já haviam enfatizado tais questões pelo menos desde a
década 1920, particularmente com os trabalhos de cineastas soviéticos como
Dziga Vertov e Sergei Eisenstein.
Há notáveis referências às experimentações destes cineastas por toda a antro-
pologia visual, sendo que, no caso de Jean Rouch, a recorrência ao precedente
histórico soviético é explícita:
e experimentada em diversos níveis de compreensão, tal como se dá o movimento da mudança de
humor e de entendimento característico do trabalho de campo.
A experiência da imagem 2p.indd 267 14/09/2016 14:28:06
268 Primeiramente, eu devo explicitar meu respeito a meus ancestrais totêmicos,
Gregory Bateson, Margaret Mead, Marcel Griaule e também aos pioneiros de
nossa disciplina que não eram de fato antropólogos e, contudo, foram os pais do
filme antropológico: Robert Flaherty e Dziga Vertov, (ROUCH, 1974, p. 217).14
Os nervos soviéticos
Tanto os filmes quanto os textos de Vertov combinam a centralidade da mon-
tagem e a questão da reflexividade na constituição de uma linguagem propria-
mente cinematográfica. Junto com Eisenstein, Vertov insistia na montagem
como o próprio fundamento do cinema. “A montagem foi estabelecida pelo
cinema soviético como o nervo do cinema”, diz Eisenstein (1990, p. 51). No
entanto, ao contrário do primeiro, Vertov acreditava que o cinema precisava
se libertar de estruturas literárias e teatrais com vistas a explorar suas poten-
cialidades expressivas.
Enquanto Eisenstein, principalmente na parte final de sua vida, apostou na
investigação de apropriações possíveis entre o cinema e outras artes, Vertov, ao
contrário, sempre advogou pela separação entre o primeiro e as últimas, argumen-
tando que somente filmes de não ficção, que definia como “filmes de atualida-
des”, seriam capazes de emprestar ao cinema uma verdadeira linguagem, o que
o levou a jamais produzir filmes ficcionais (literários) ou teatrais (encenados).15
Já em 1924, com seu filme Cinema-Olho (Kino-Glaz), Vertov constrói uma nar-
rativa que, além de mostrar acontecimentos do cotidiano e da vida camponesa,
busca promover a consciência das possibilidades da narrativa cinematográfica ao
14
Jay Ruby chama atenção para o fato de que “o trabalho pioneiro de Vertov teve que esperar quase
um quarto de século por Rouch antes que fossem perseguidas as questões levantadas por seu Um
homem com uma câmera” e atribui a estes dois realizadores as “verdadeiras origens da reflexividade
no documentário” (2005, pp. 40 e 39).
15
De fato, Vertov opunha as “autênticas atualidades kinoks” aos “cinedramas burgueses” que utilizariam
métodos considerados por ele como teatrais e literários. Cabe pontuar que, no que diz respeito à
Eisenstein, a utilização de procedimentos considerados como característicos de outras artes não
deve ser confundida com a emulação de estratégias do cinema narrativo ocidental marcado pelo
método da tipagem e da construção de personagens heróicos com os quais o espectador pudesse
se identificar facilmente. Em ambos os casos, a ênfase sempre recaía sobre o povo entendido como
coletividade e não sobre personagens individuais. Devido aos limites e aos interesses específicos deste
artigo, não nos deteremos nesta ou em outras problemáticas do cinema soviético que extrapolem as
questões mais ligadas à reflexividade e, principalmente, à montagem. Para uma ótima exploração
sobre o cinema de Vertov, sua relação com o construtivismo e a controvérsia Vertov-Eisenstein, ver
Petric (1993).
A experiência da imagem 2p.indd 268 14/09/2016 14:28:06
espectador. “O Cinema-Olho reverte o tempo”, aparece em uma cartela. E, após 269
Montagem, teatro antropológico e imagem dialética
alguns minutos, vemos a sequência reversa de um boi abatido voltando à vida.
É importante ressaltar que o Kino-Pravda (Cinema-Verdade) advogado por
Vertov não propunha um cinema realista em sua recusa a assimilar outras
artes. Seu foco não era a verdade da realidade, mas a realidade do cinema.
Era sim factual, mas não objetivista. E, para ele, a montagem, ao possibilitar
a percepção crítica do espectador em relação aos processos a partir do quais
esta realidade é construída, acaba por funcionar, ela própria, como vetor de
consciência revolucionária.
Da-Rin chama atenção para o fato de que “Vertov [não] encarava as ‘imagens e
sons da vida real’ como um material de valor documental intrínseco, mas como
peças de um processo de permanente interpretação através da montagem”
(2008, p. 141), diferindo, neste sentido, das convenções do cinema direto.
Ainda que Vertov frequentemente expressasse sua crença na câmera como
uma máquina extraordinária que possui aptidões que estão muito além do
olho humano, é na relação entre a filmagem de improviso (não encenada) e a
produção de sentido através da montagem que jaz o centro de gravidade em
torno do qual se desenvolve sua concepção de cinema e seu método de trabalho:
Não a filmagem de improviso pela filmagem de improviso, mas para mostrar as
pessoas sem máscara, para captá-las através do olho da câmera em um momento em
que elas não representam, para ler com o aparelho de filmagem seus pensamentos
nus. O Cinema-Olho como a possibilidade de tornar visível o invisível, límpido o
suave, evidente o que está escondido, manifesto o que está mascarado. De substituir
o encenado pelo não encenado, o falsificado pela verdade, pelo Cinema-Verdade.
Mas não basta mostrar na tela fragmentos de verdades isoladas, imagens de verdades
separadas. É preciso ainda organizar tematicamente estas imagens, de modo que a
verdade resulte do conjunto. (VERTOV apud DA-RIN, p. 147)
No trecho acima fica claro como, ainda que Vertov deposite na ideia de um
cinema de atualidades grande ênfase, tanto sua concepção de cinema quanto seu
método de realização não podem ser pensados senão a partir da proeminência
da montagem. Esta aparece como aquilo que possibilita, ao mesmo tempo, a
construção da consciência revolucionária tanto a partir da reflexividade (con-
teúdo e forma fílmica) quanto da composição narrativa dos sentidos.
Esta relação estreita entre política, narrativa e montagem é também central para
as teses Sobre o conceito da história (2012, [1940]) de Walter Benjamin. Jeanne
Marie Gagnebin, em introdução a um volume de obras escolhidas de Benjamin,
chama atenção para o fato de que “a questão da escrita da história remete às ques-
A experiência da imagem 2p.indd 269 14/09/2016 14:28:06
270 tões mais amplas da prática política e da atividade da narração” (1994, p. 7). No
projeto de Passagens (2006), Walter Benjamin propõe um desafio ao marxismo
em relação à atividade de narração histórica e argumenta que a “primeira etapa
desse caminho será aplicar à história o princípio da montagem” (2006, p. 503).
Para Benjamin, fazer história é montar tempos e não colecionar fatos como a
historiografia progressista (universal ou burguesa) usualmente faz. Esta última,
“não tem qualquer armação teórica. Seu procedimento é aditivo. Ela utiliza a
massa dos fatos, para com eles preencher o tempo homogêneo e vazio” (1994,
p. 231). A historiografia materialista de Benjamin, por outro lado, “tem em sua
base um princípio construtivo. Pensar não inclui apenas o movimento das ideias,
mas também sua imobilização. Quando o pensamento para, bruscamente, numa
configuração saturada de tensões, ele lhes comunica um choque, através do qual
essa configuração se cristaliza enquanto mônada” (1994, p. 231; grifo nosso).
Ao procedimento da coleção de fatos numa cronologia linear – embotada de cau-
salidade histórica, como se os acontecimentos pudessem encadear-se num fluxo
sem obstáculos da história universal, próprio da historiografia progressista –,
Benjamin contrapõe um conceito de história que inclui, ao mesmo tempo,
movimento e pausa, continuidade e descontinuidade. Este modo de operar o
pensamento, ele próprio característico da montagem, não postula, contudo,
a coerência de uma unidade: a mônada é, necessariamente, uma configuração
saturada de tensões, uma “imagem dialética”.
É certo que a noção de montagem que inspira Benjamin refere-se, diretamente,
ao conceito de Eisenstein, para o qual montagem é colisão, conflito. Eisenstein
(1990) se opõe à ideia da montagem como uma ligação de peças, formando uma
cadeia, como se os planos, unidades básicas, fossem tijolos arrumados em série
para expor uma ideia. A montagem como modo de desenrolar uma ideia com a
ajuda de planos únicos seria “um conceito falso”, diz Eisenstein. Em contrapar-
tida, ele advoga que “a montagem é uma ideia que nasce da coalisão de planos
independentes”, planos até opostos um ao outro. Cada elemento sequencial é
percebido não “em seguida”, mas sim “em cima do outro”. Porque a ideia (ou
sensação) de movimento nasce mesmo “do processo de superposição, sobre o
sinal, conservado na memória, da primeira posição do objeto, da recém-visível
posição posterior do mesmo objeto” (1990, p. 52). A incongruência de contorno
do primeiro quadro – já impresso na mente –, com o segundo quadro percebido
em seguida engendra, em conflito, a sensação de movimento.16
16
Eisenstein (1990) analisa o grau de incongruência como parâmetro para a intensidade da impressão,
o que determina a tensão, e que se torna o elemento real do ritmo autêntico.
A experiência da imagem 2p.indd 270 14/09/2016 14:28:06
Voltemos a Benjamin, pois tais conexões parciais (STRATHERN, 2004) entre 271
Montagem, teatro antropológico e imagem dialética
montagem como superposição e uma perspectiva crítica da escritura da história
já podem estar iluminadas:
O historicismo se contenta em estabelecer nexus causais entre vários momentos da
história. Mas nenhum fato, meramente por ser causa, é só por isso um fato histórico.
Ele se transforma em fato histórico postumamente, graças a acontecimentos que
podem estar dele separados por milênios. O historiador consciente disso renuncia
a desfiar entre os dedos os acontecimentos, como as contas de um rosário. Ele
capta a configuração em que sua própria época entrou em contato com uma época
anterior, perfeitamente determinada. (1994, p. 232)
Ora, a ideia de nexus causais que costuram a evolução narrativa de uma história
poderia ser aproximada das formas fílmicas contra as quais estes cineastas russos
pensavam suas próprias ideias de cinema e montagem. Lembremos também
que, para Vertov, nenhuma atualidade carrega consigo um valor documental
intrínseco. Este valor lhe é conferido, justamente, pela organização das imagens
em conjuntos através da montagem.
Assim mesmo, se a obra de Vertov é bastante produtiva na sugestão de me-
canismos representacionais a partir dos quais elementos da realidade social
podem ser apresentados de forma crítica e reflexiva, é Eisenstein – e sua ideia
de montagem como justaposição de planos em conflito – quem oferece um
método para a dialética do olhar operada por Benjamin.
Dialética do olhar
A apresentação da obra à qual dedicou Benjamin seus esforços nos últimos
quinze anos de vida, Passagens, logo anuncia: “Método deste trabalho: monta-
gem literária. Não tenho nada a dizer. Só a mostrar.” [N 1a, 8] (2006, p. 502).
Tal qual numa escrita oriental, que inspirou cinematograficamente Eisenstein,
Benjamin se vale da força da combinação de citações para uma escrita basica-
mente figurativa, um escrita visual.
Eisenstein compreendera, através da composição de hieróglifos, o princípio
da montagem como coalisão. Notou, a princípio, que a combinação de dois
hieróglifos de uma série não é sua soma, mas um valor de outra dimensão,
outro grau.17 “Cada um, separadamente, corresponde a um objeto, a um fato,
17
Tal como é a razão do fenômeno da profundidade espacial, explica Eisenstein (1990, p. 52): da
superposição de duas diferentes bidimensionalidades resulta em tridimensionalidade estereoscópica.
A experiência da imagem 2p.indd 271 14/09/2016 14:28:06
272 mas sua combinação corresponde a um conceito”, diz Eisenstein. E seria isso
“exatamente o que fazemos no cinema, combinando planos que são descritivos,
isolados em significado”, completa (1990, p. 36). “Aplicado a uma austera
combinação de símbolos antagônicos, este método resulta numa seca defini-
ção de conceitos abstratos. O mesmo método, expandido para o luxo de um
grupo de combinações verbais já formadas, floresce num esplendor de efeito
imagístico” (id., ibid., p. 37).
Tal como o ideograma proporciona um meio para a impressão lacônica de um
conceito abstrato, o mesmo método, quando transportado para a exposição
literária, dá vez a um laconismo idêntico de imagens diretas. O pensamento
imagístico, deslocado para um grau definido, se transforma, então, em pensa-
mento conceitual. Em Eisenstein, já encontramos a definição de conflito como
“uma transformação imagística do princípio da dialética”18 (id., ibid., p.41),
que, então, se realiza em Benjamin na concepção da “imagem dialética”. Em
Eisenstein e Benjamin, a montagem opera a colisão de dois fatores determi-
nados para fazer irromper um conceito.
Os procedimentos de montagem sublinham, em Benjamin, tanto um modo
de composição textual que confere ao seu trabalho o caráter de “obra aberta”
(fazendo com que o leitor se torne coautor do texto), um esplendor imagístico
peculiar, como serve, ainda, e principalmente, para a fabricação de imagens
dialéticas. As imagens dialéticas não são dadas empiricamente, mas resultam
de uma “construção”, por meio da qual elas se tornam objetos históricos,
esclarece Willi Bolle (2000).
Com o intuito de ilustrar a arquitetura da historiografia montada por Benjamin,
Bolle (2000) analisa a forma de construção do ensaio Paris do Segundo Império
em Baudelaire (2006). Ele opta pela expressão “ensaio cinematográfico” para
qualificar este discurso, pois, “tal como um filme”, o texto é composto por
“sequências de imagens com citações e comentários, montagens contrastivas
e imagens dialéticas singulares” (id., ibid., p. 74, n. 115).
Dentre algumas das séries de montagens contrastivas analisadas por Bolle, vale
citar, como exemplo:
Noutra passagem, há uma justaposição de visões da cidade: a ótica do flâneur e a
perspectiva das classes operárias. Em meio à civilização industrial, o flâneur [alegoria
do pequeno burguês] cultiva o desejo de ócio, ilustrado pela moda, na Paris de
1840, de “levar tartarugas a passear pelas passagens”, deixando que elas ditassem
18
O mesmo é repetido pelo cineasta, no sentido inverso: “Da transição dialética de um plano há a
montagem” (EISENSTEIN, 1990, p. 41).
A experiência da imagem 2p.indd 272 14/09/2016 14:28:06
o ritmo. [...] Por outro lado, tem-se, na mesma década, uma descrição da multidão 273
Montagem, teatro antropológico e imagem dialética
por Friedrich Engels (A situação da classe operária na Inglaterra, 1848), pra quem
o tumulto nas ruas de Londres tem “algo de repugnante, algo contra que a natureza
humana se revolta”. O contraste entre Paris e Londres se condensa nas figuras do
Flâneur, um ocioso que se sente em casa nas passagens, e o Homem da Multidão,
que percorre compulsivamente a cidade “errando pelo labirinto das mercadorias”.
Através da montagem dos gêneros literários urbanos, o ensaísta acompanha de
perto o fluxo da consciência do flâneur. Por meio dessa figura, Benjamin expõe sua
teoria da “empatia pela alma da mercadoria”. A visão fantasmagórica que o flâneur
tem da multidão é desmontada por uma “radiografia” crítica. O que confere à
multidão seu “charme” é, na verdade, o fetiche da mercadoria: “A presença em
massa dos clientes, que constitui o mercado e faz com que a mercadoria se torne
mercadoria, aumenta o charme desta aos olhos do comprador”. (id., ibid., pp. 81-82)
Willi Bolle esclarece que Walter Benjamin recorreu a modelos de montagem
determinados e elaborou técnicas específicas. Seria sobretudo a tradição das
vanguardas do início do século XX que está presente na obra de Benjamin:
os conceitos de montagem do dadaísmo, do surrealismo, do teatro épico e dos
meios de comunicação de massa, jornal e cinema. “Há também influência do
barroco (a alegoria como precursora do princípio de montagem), do romantismo
(a estética do fragmento) e da Revolução Industrial (construções-montagem
como a torre Eiffel)”, pontua Bolle (2000, p. 89).
Em O autor como produtor: conferência pronunciada no Instituto para o Estudo
do Fascismo, em 27 de abril de 1934, Benjamin nota a força revolucionária do
dadaísmo em submeter a arte ao teste da autenticidade:
Os autores compunham naturezas-mortas com o auxílio de bilhetes, carretéis, pontas
de cigarro, aos quais associavam elementos pictóricos. O conjunto era posto numa
moldura. O objeto era então mostrado ao público: vejam, a moldura faz explodir
o tempo; o menor fragmento autêntico da vida diária diz mais que a pintura. Do
mesmo modo, a impressão digital ensanguentada de um assassino, nas páginas de
um livro, diz mais que o texto. (1994, p. 128)
Nessas poucas frases, Bolle nota conceitos-chave da estética benjaminiana:
o potencial revolucionário das vanguardas; a questão da autenticidade da obra de
arte e do documento; as partículas de realidade como elementos constitutivos da
montagem; a moldura que separa o espaço da arte da práxis da vida, e que pode
ser rompida – e com isso, in nuce: a imagem dialética; o estilhaço e o estilhaçar; o
indício da violência. (2000, pp. 89-90)
A experiência da imagem 2p.indd 273 14/09/2016 14:28:06
274 A historiografia materialista proposta por Benjamin seria uma construção
que pressupõem, antes, um trabalho de “destruição” e “desmontagem”. Benja-
min propõe fazer explodir o continuum da história para arrancar-lhe os objetos
a ser montados como citações.19
A explosão tem como alvo preciso a narração de uma história progressista
universal, que se faz num “tempo indiferente e infinito que corre sempre
igual a si mesmo, que passa engolfando o sofrimento, o horror, mas também
o êxtase e a felicidade” (GAGNEBIN, 2007, p. 96). Explodir o continuum da
história, para formar uma constelação onde o passado, o “ocorrido”, se junta,
como num relâmpago, com o “agora”.
Benjamin desafia a historiografia progressista que mergulha no passado com o
esquecimento proposital do presente. Esta história, que procura mostrar a coisa
“tal como ela de fato aconteceu” seria o mais forte narcótico do século, pontua ele.
O conhecimento do passado não é um fim em si mesmo, já que história que
se lembra do passado é sempre escrita no presente e para o presente.
Com o objetivo de desfazer esse efeito narcótico, provocar um despertar do
sonho da sociedade da mercadoria, o historiador materialista deveria se valer
da análise dos sonhos e da fabricação de imagens dialéticas. Ao historiador
materialista caberia, então, o papel de intérprete dos sonhos coletivos, através
da fabricação, pela montagem, de imagens dialéticas.
Bolle adverte: aos sonhos coletivos, o historiador tem acesso na medida em
que sabe decifrar não os sonhos em si, mas o seu próprio presente.20 “As ima-
gens oníricas só se tornam legíveis na medida em que o presente é percebido
como um ‘despertar’ num ‘agora da conhecibilidade’, ao qual aqueles sonhos
se referem” (2000, p. 64).
O despertar seria um momento crítico na leitura, de uma interpretação polí-
tica, das imagens oníricas que compõem a modernidade capitalista. Assim, ele
requer que reconheçamos os aspectos oníricos no âmago da realidade da vigília.
Mesmo porque, segundo Benjamin: “A história se decompõe em imagens, não
em histórias” [N 11, 4] (2006, p. 518).
19
“‘Escrever a história’ é para Benjamin ‘citar a história’, e o conceito de citação implica que o objeto
histórico seja ‘arrancado do seu contexto’” (BOLLE, 2000, p. 96). Implodir o continuum da história,
desmontar o mito da história burguesa, sua naturalização nos termos de progresso evolutivo e pro-
ver fragmentos, “citações”, para serem montados “de modo agudo e cortante” são procedimentos
metodológicos propostos por Benjamin.
20
A proposta de decifrar os sonhos da sociedade capitalista também tem a ver com o trabalho de
percepção dos surrealistas em revelar “o maravilhoso no cotidiano”.
A experiência da imagem 2p.indd 274 14/09/2016 14:28:06
Alexia Bretas (2008) ressalta que a proposta da imagem dialética em Benjamin 275
Montagem, teatro antropológico e imagem dialética
destaca o aspecto predominantemente visual das configurações históricas e
a importância de sua interpretação. Distante da historiografia progressista,
Benjamin explica que
a imagem é aquilo em que o ocorrido encontra o agora num lampejo, formando
uma constelação. Em outras palavras: a imagem é a dialética na imobilidade. Pois,
enquanto a relação do presente com o passado é puramente temporal e contínua,
a relação do ocorrido com o agora é dialética – não uma progressão, e sim uma
imagem, que salta [N 2a, 3] (2006, p. 504).
Logo à frente, no mesmo arquivo N de Passagens, Benjamin reconhece: “Onde
ele [o pensamento] se imobiliza numa constelação saturada de tensões, aparece
a imagem dialética. [...] ela deve ser procurada onde a tensão entre os opostos
dialéticos é a maior possível” [N 10a, 3] (id. ibid. p. 518).
Tal como no conceito de montagem de Eisenstein, a perspectiva de Benja-
min reconhece que “[a] justaposição de elementos ‘extremos’ atua, não no
sentido de neutralizar o choque gerado pela aproximação de opostos, mas de
radicalizar suas tensões produtivas.” (BRETAS, 2008, p. 178). Um modo
de operar através do qual, aponta Márcio Seligmann-Silva: “ao invés do re-
gistro do argumento lógico e da exposição linear do discurso, apela para a
exposição fragmentária vinculada ao registro visual” (apud BRETAS, 2008,
p. 225). A esse modo de operar o próprio pensamento, Susan Buck-Morss
(2002) chamou “dialética do olhar”.
Willi Bolle compreende que a proposta benjaminiana, debruçada que está na
fisiognomia da cidade e da sociedade capitalista, “é uma espécie de ‘especu-
lação’ de imagens, no sentido etimológico da palavra: um exame minucioso
de imagens prenhes de história” (2000, p. 42). E não seria essa também uma
das tarefas da antropologia?
Experimentos de arte, história e antropologia
Investigando “imagens prenhes de história”, Michael Taussig, em seu Xama-
nismo, colonialismo e o homem selvagem (1993), revela todo um arcabouço
de sonhos e pesadelos do imaginário social sobre a magia e a selvageria que
ilumina os poderes dos curandeiros indígenas e mestiços. Taussig pesquisa en-
tre os curandeiros do Sudoeste da Colômbia (entre 1969 e 1986) interessado
no papel do mito e da magia em relação à violência colonial, bem como em
relação à cura e no modo como ela pode mobilizar o terror a fim de subver-
A experiência da imagem 2p.indd 275 14/09/2016 14:28:06
276 ter essa violência.21 Neste trabalho, o antropólogo mostra-se especialmente
atento à magia da história e seu poder curativo. Debruça-se, não na verdade
das narrativas sobre a história, mas em seus efeitos de realidade, ou ainda: na
política de sua interpretação e representação.
Nesta direção logo percebe a necessidade de “modos de apresentação cujo objeti-
vo é estilhaçar o imaginário da ordem natural, através da qual, em nome do real,
o poder exerce sua dominação” (TAUSSIG, 1993, p. 15). Seu questionamento
é sobre a produção de explicações e os efeitos das políticas de representação (da
história e da antropologia) – então urgentes diante o crescimento dos exércitos,
da tortura e do terror no Novo Mundo dos anos 1970 –, e, especialmente, a
necessidade de sua subversão. “Que espécie de compreensão, de fala, escrita e
construção do significado, através de qual meio, poderá [a narração desta histó-
ria] lidar com isso [a experiência da tortura] e subvertê-lo?” (id., ibid., p. 31).
Para se desviar dos riscos eminentes dessa antropologia operar apenas [e mais
uma vez] desmistificações ou remistificações, Taussig requer uma poética
bastante diversa, de destruição e revelação. Para tal, faz uso da montagem.
Como sugere a orientação benjaminiana, Taussig se vale de dois procedimentos
para uma dialética do olhar: a montagem em forma de choque e a técnica de
superposição. Conforme procuramos assinalar acima, Benjamin usa a monta-
gem como arte combinatória, combina a sintaxe do cinema com a semântica
do sonho para, então, compor um ensaio que penetra no imaginário coletivo
da modernidade e radiografa alguns de seus sonhos coletivos.22
Taussig nos oferece um exemplo vívido e contundente de como o conceito de
montagem possibilita narrativa alternativa para a antropologia e, simultanea-
mente, questiona alguns dos paradigmas consolidados da disciplina. Nos rituais
de yagé dos curandeiros colombianos, o antropólogo encontra não o acabamento
dos símbolos que produzem momentos epifânicos de esclarecimentos, como
nos espetáculos dramáticos; mas sim a fricção [a coalisão] de planos de dife-
rentes experiências, como num teatro épico brechtiano.23
21
Taussig (1993) investiga o “espaço da morte” como importante lócus de criação de significado e da
consciência, sobretudo em sociedades onde a tortura é endêmica e onde a cultura do terror floresce,
como na América Latina. Nota que os curandeiros indígenas e mestiços mobilizam o imaginário
sobre a sua “selvageria” para subverter a violência colonial “não através de catarses celestiais, mas
fazendo com que o poder se enrede em sua própria desordem” (p. 15), na zona de sua política de
“obscuridade epistemológica”.
22
Sobre o ensaio radiográfico em Benjamin, ver Bolle (2000).
23
Numa de suas definições, Taussig pontua: “Montagem: o modo pelo qual ocorre a interrupção;
a súbita mudança de cena, que rompe com qualquer tentativa de ordenamento narrativo e que
impede o sensacionalismo” (1993, p. 411).
A experiência da imagem 2p.indd 276 14/09/2016 14:28:06
O teatro épico de Brecht fornece a Benjamin o conceito de montagem como 277
Montagem, teatro antropológico e imagem dialética
interrupção do círculo hipnótico das encenações de massas. Destacam-se as
diferenças entre a proposta materialista dialética e a criticada teatralidade
tradicional burguesa nos termos de: (a) ruptura versus hipnose; (b) espanto
versus empatia; (c) arranjo experimental versus esquemas prontos. Ao contrário
da visão tradicional burguesa – e da “estética teatral do fascismo”–, Brecht
não concebeu o teatro como espaço mágico criador de ilusões, mas como um
laboratório para arranjos experimentais.
Neste teatro brechtiano do yagé, a cura é operada não pela imagem de uma
verdade sagrada, algo geral e profundo sob camadas de particularidades su-
perficiais e talvez ilusórias. A cura surge como lampejo que ilumina o próprio
campo da representação, iluminação profana. “Seu efeito consiste em justapor
o senso de fantasia ao senso exaltado de realidade, encorajando assim, entre
os participantes, especulações relativas aos porquês e motivos da própria re-
presentação” (id. ibid., p. 415).
Montagem: focalizar para a frente e para trás, partindo do indivíduo para o grupo
[...] e vice-versa, estabelece-se uma espécie de espaço lúdico e de um espaço para
testes, a fim de que se possa comparar as alucinações com o campo social do qual
elas emanam. Então o próprio espaço de representação é esquadrinhado. (id.,
ibid., p. 412)
Nos rituais de yagé, Taussig se depara com conexões entre indivíduo e grupo
que nada têm a ver com o modelo de communitas de Victor Turner, mas mais
se aproxima do teatro da crueldade de Artaud: “uma perspectiva infinita de
conflitos”.24
Será, pois, John Dawsey (2013) quem nota, além das diferenças, também
afinidades entre Victor Turner e a perspectiva de Walter Benjamin. Ainda
no campo da antropologia, Dawsey abre possibilidades para uma perspectiva
benjaminiana através do interesse de Turner pelas fontes do poder liminar
que descobre nas ações simbólicas esfaceladas pela Revolução Industrial, no
liminoide. Sem ceder à nostalgia de Turner pelo acabamento das imagens so-
ciais refletidas no “espelho mágico”25 do ritual (que repercute na experiência
24
Contra a concepção ordenada e integracionista que Sally Falk Moore e Barbara Myerhoff oferecem
em seu livro Secular Ritual, segundo o qual o ritual “serve à estrutura e solidifica a sociedade”,
Taussig enfatiza que “elas descartam sumariamente quaisquer concepções de que aquilo que ocor-
re entre os segmentos do ritual possa ser tão importante quanto o ‘lado estruturante’ de algo tão
portentoso quanto o ‘processo histórico/cultural’” (1993, p. 413).
25
O ritual enquanto “espelho mágico” da sociedade que o produz é uma das metáforas prediletas de
Victor Tuner. Ver Turner (1987).
A experiência da imagem 2p.indd 277 14/09/2016 14:28:06
278 da communitas), Dawsey aponta em ambos – Turner e Benjamin – a reflexão
sobre o desmembramento – ou declínio26 – da grande tradição narrativa que
antes oferecia uma experiência coletiva compartilhada.
Frente ao espelho estilhaçado, sugere Dawsey, faz-se necessário estar atento
tanto ao cotidiano do extraordinário quanto ao espantoso cotidiano. Produzir
estranhamento não apenas quanto ao cotidiano, tal como é o alvo da operação de
montagem dos surrealistas,27 mas ao extraordinário também. Em experimento
ensaístico de uma antropologia benjaminiana, Dawsey, em vez de um movi-
mento final de reagregação ao círculo hermenêutico – tipicamente dramático
–, propõe um desvio para “às margens das margens”: lugar de despejos, onde
se encontram estilhaços, materiais de molduras e armações apodrecidas. Lugar
que parece lhe evocar, sob signo benjaminiano, alguns dos fenômenos liminoides
discutidos por Turner: às margens dos processos centrais da produção social,
ligados às atividades criativas – que podem ser, até mesmo, subversivas. Lugar
do entretenimento, por vezes também da arte.
No campo da história da arte, foi Didi-Huberman quem usou o conceito de
montagem para discutir a produção do conhecimento historiográfico da arte.
De fato, este autor vê uma certa confluência de questões a partir de algumas
das referências que estamos trabalhando neste texto:
[É] extremamente interessante ver que nos anos 1920-1930 – uma época revolu-
cionária –, diversos historiadores ou pensadores situaram o problema da imagem
no centro de seu pensamento e conceberam atlas ou sistemas de saber de um
gênero completamente novo: Warburg, Benjamin, Bataille e um grande etcétera.
E que exatamente no mesmo momento, surgia no terreno artístico um verdadeiro
pensamento da montagem: Serguei Eisenstein, Lev Kulechov, Bertolt Brecht, os
formalistas russos. Parece-me muito importante que no qual a história da Europa
está sendo completamente sacudida, haja pensadores e artistas que recoloquem a
história em termos de estouro e reconstrução, que é o que podemos chamar – assim
eu chamo – conhecimento por montagem. Benjamin dizia que uma história da arte
verdadeira não deve contar a história das imagens, mas sim acessar o inconsciente
26
Enquanto Turner trata do esfacelamento, Benjamin pensa na forma de um declínio. Ver O narrador:
considerações sobre a obra de Nikolai Leskov (1994), de Walter Benjamin e Liminal to Liminoid
(1982), de Turner.
27
Dawsey ressalta que Benjamin descobre nas operações de montagem do surrealismo um princípio
que trabalha contra o sensacionalismo e a experiência do “maravilhoso”, simultaneamente atento
às ilusões objetivistas, tão criticadas no historicismo. Cita Benjamin: “De nada nos serve a tentativa
patética ou fantástica de apontar no enigmático o seu lado enigmático; só devassamos o mistério
na medida em que encontramos no cotidiano, graças a uma ótica dialética que vê o cotidiano como
impenetrável e o impenetrável como cotidiano” (apud DAWSEY, 2013, p. 76).
A experiência da imagem 2p.indd 278 14/09/2016 14:28:06
da vista, da visão, algo que não se pode conseguir através do relato ou da crônica, 279
Montagem, teatro antropológico e imagem dialética
mas por meio da montagem. (2007, p. 19)
Do teatro ao cinema e vice-versa, até retornar à literatura
O interesse de Eisenstein quanto à montagem e ao cinema chegou-lhe, antes,
através do domínio da construção teatral e da arte do mise-en-scène.28 O ci-
neasta escreve:
Assim nasceu o conceito de mise-en-cadre. Como a mise-en-scène é a inter-relação
de pessoas em ação, do mesmo modo a mise-en-cadre é a composição pictórica
de planos mutuamente dependentes na sequência da montagem. Fragmentos em
crescente tensão. (1994, p. 45)
Cenógrafo, figurinista, diretor, professor e teórico, Eisenstein teve intensa
atividade no teatro russo. Segundo Oliveira (2008), seria neste período de
sua carreira artística que surgiram as suas teorias do movimento expressivo e
da montagem de atrações, consideradas pela autora como fundamentais para
a compreensão do seu cinema, seja como teoria tanto como realização.
Em seu manifesto “Montagem de atrações” [1925], Eisenstein propõe um novo
método de construção teatral com o objetivo de provocar “choques emocionais” no
espectador para que este perceba “o aspecto ideológico do espetáculo apresentado,
sua conclusão ideológica final” (apud OLIVEIRA, 2008, p. 13). Oliveira anota
que, para tal, ele evoca princípios da encenação utilizados no circo, no music hall,
no Grand-Guignol29 e no cinema. Nesta proposta, Ismail Xavier (2005) identifica
uma ruptura com o projeto ilusionista na medida em que transforma a história e
o que há de “representação de fatos” em mais uma atração, entre outras.
As experiências de Eisenstein no teatro encontram no cinema um suporte ar-
tístico mais potente e orgânico para o fim último de atingir emocionalmente o
espectador30 através do trabalho com o dinamismo, a descontinuidade, a si-
multaneidade, a deformação e a fragmentação (OLIVEIRA, 2008).
28
Eisenstein (1994) faz menção especial à experiência do teatro japonês do Kabuki como inspiradora
de seu conceito de montagem como conflito, tanto da montagem entre planos como na composição
dos elementos do plano em choque.
29
O teatro Grand-Guignol foi palco em Paris de peculiares espetáculos hiperrealistas com temáticas
violentas e chocantes.
30
O objetivo de sua pesquisa era determinar a formula da criação de uma obra de arte eficaz e
brilhante, que articula a concepção de uma obra de arte total posteriormente muito criticada no
universo da filosofia da arte.
A experiência da imagem 2p.indd 279 14/09/2016 14:28:06
280 Como cineasta e professor de cinema do Instituto de Estudos Cinematográ-
ficos de Moscou, Eisenstein requer que o estudo do cinema deva continuar
inseparável do estudo do teatro. Defende ainda que, antes de dedicarem-se à
montagem e à imagem cinematográfica, os futuros cineastas deveriam adquirir
conhecimentos de percepção básica do movimento, espaço, tempo e ritmo,
noções de biodiâmica (Meyerhold) e dedicassem ainda um ano inteiro ao
estudo do movimento expressivo.
Xavier observa que “sua teoria do cinema deriva de sua teoria do teatro, e
todo o seu percurso é um corpo a corpo com a questão do espetáculo e seus
critérios, seja no palco ou na tela” (apud, p. 14).
Eisenstein (1994) reconhece que o elemento do music-hall foi obviamente
necessário na época para a emergência de uma forma de pensamento sobre
“montagem”, mas ressalta alicerces cravados na tradição e no valor de laços
profundos com a literatura. Neste sentido, elege Flaubert como um dos me-
lhores exemplos de autor que realiza montagem-cruzada de diálogos.
***
George Marcus (2004) também trança aproximações entre o ofício do cenó-
grafo e o trabalho de campo antropológico. Criticando a ética e a política da
relação tradicional da pesquisa de campo que gera os dados etnográficos, ele
espera que a etnografia faça mais do que apenas a descrição e a interpretação
distanciadas do campo complexo de engajamentos, mesmo que reflexivas.
Neste sentido, a cenografia e a etnografia guardariam semelhanças quanto:
(a) a duração da prática de pesquisa de campo; (b) a produção de objetos e
artefatos para a montagem; (c) o sentimento claro de ética, função e propósito
e (d) a criação de uma ficção no interior da realidade de atuação.
A aproximação de Marcus entre os ofícios do cenógrafo e do etnógrafo parece
coincidir com a ligação entre teatro e teoria evocada por John Dawsey (2014).
Em pauta estão as atividades que calculam o lugar olhado das coisas.
Para tratar da encenação da antropologia, Dawsey (2013) evoca a etimologia
da palavra teatro, que, assim como teoria, nos remete ao “ato de ver” (do grego
thea). Isto significa dizer que o empreendimento teórico seria algo como o
teatro, ou seja, um exercício do “cálculo do lugar olhado das coisas”, conforme
a definição de teatro oferecida por Roland Barthes então acionada por Dawsey.
A analogia é sugestiva, ainda mais se tivermos clareza sobre qual seria o tipo
de teatro produzido pela antropologia que exercitamos.
A experiência da imagem 2p.indd 280 14/09/2016 14:28:06
No campo do teatro, a concepção de montagem de Bertold Brecht (re) 281
Montagem, teatro antropológico e imagem dialética
orienta todo o trabalho teatral na direção da recuperação de materiais frag-
mentários – por vezes antigos ou descartados –, sem a pretensão de criar ex
nihilo mas, sim, organizar a matéria narrativa cuidando de sua decupagem
significante. Pela proposta brechtiana, recusa-se a tensão dramatúrgica e a
integração de todo ato a um projeto global através da quebra da fábula em
unidades autônomas a serem apresentadas em sequência de entrechoques
ou de ritmo sincopado.
Essa concepção de montagem é especialmente apropriada para o olhar dialético
proposto por Walter Benjamin que procura iluminar incongruências e planos
em tensão sem fundi-las em uma perspectiva harmonizadora. Sua proposta
se contrapõe a outro possível uso da montagem, aquele que cria a ilusão de
fundir os elementos tão artisticamente que toda a evidência de incompatibi-
lidade e contradição, e mesmo a evidência do artifício, é eliminada, tal qual
um documento falsificado.
James Clifford (2008) notou que procedimentos surrealistas de montagem – a
collage – sempre estiveram presentes nos trabalhos etnográficos, mas que esses
passam despercebidos quando a antropologia tende a se engajar na redução
de incongruências. “Em todo curso introdutório de antropologia, e na maio-
ria das etnografias, são produzidos momentos nos quais distintas realidades
culturais são retiradas de seus contextos e submetidas a uma perturbadora
proximidade” (2008, p. 167).
O momento de montagem surrealista na etnografia seria aquele no qual a pos-
sibilidade de comparação existe numa tensão não mediada com a mera incon-
gruência. Diferentemente do humanismo antropológico, que parte do diferente
no sentido de familiarizá-lo, uma prática surrealista na antropologia, segundo
o autor, ataca o familiar provocando irrupção da alteridade, o inesperado.
A etnografia mesclada com surrealismo tende a abandonar a dimensão descri-
tiva empírica da antropologia, bem como a ideia de interpretação de culturas,
e surge como teoria e prática da justaposição, como Clifford bem pontua.
Os cortes e suturas do processo de pesquisa são deixados à mostra: não há nenhuma
suavização ou fusão dos dados crus do trabalho em uma representação homogênea.
Escrever etnografias a partir do modelo collage seria evitar a representação de cul-
turas como todos orgânicos ou como mundos unificados e realistas, sujeitos a um
discurso explanatório contínuo. (id., ibid., p. 168)
No seio de uma crítica antropológica a determinadas teorias do ritual (e do
ritual antropológico), vislumbramos as concepções de montagem infiltradas
A experiência da imagem 2p.indd 281 14/09/2016 14:28:06
282 na construção de estratégias e experimentos alternativos da narratividade
antropológica: no intervalo tão enfatizado por Vertov e no conflito e tensão
privilegiados por Eisenstein.
Bibliografia
BANKS, Marcus. Visual Methods in Social Research. Londres: Sage, 2001.
BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura.
São Paulo: Brasiliense, 1994.
_____. Passagens. São Paulo: Imprensa Oficial; Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006.
_____. “Sobre o conceito da história”. In: O anjo da história: Walter Benjamin. Belo Horizonte/São
Paulo: Autêntica, 2012.
BOLLE, Willi. Fisiognomia da metrópole moderna: representação da história em Walter Benjamin. São
Paulo: Edusp, 2000.
BUCK-MORSS, Susan. Dialética do olhar: Walter Benjamin e o projeto das Passagens. Belo Horizonte:
Editora UFMG; Chapecó: Argos, 2002.
CLIFFORD, James. A experiência etnográfica: antropologia e literatura no século XX. Rio de Janeiro:
Editora UFRJ, 2008.
DA-RIN, Silvio. Espelho partido: tradição e transformação do documentário. Rio de Janeiro: Azougue
Editorial, 2004.
DAWSEY, John. De que riem os boias-frias? Diários de teatro e antropologia e teatro. São Paulo:
Terceiro Nome, 2013.
DIDI-HUBERMAN, Georges. “Un conocimiento por el montaje” (Entrevista concedida a Pedro
Romero). Minerva. Revista del Círculo de Bellas Artes, n. 5, pp. 17-22. 2007.
EISENSTEIN, Sergei. A forma do filme. Rio de Janeiro: Zahar, 1990.
GRINSHAW, Anna. The Ethnographer’s Eye. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
LOIZOS, Peter. Innovation in Ethnography Film: From Innocence to Self-consciousness 1955-85. Chi-
cago: University of Chicago Press, 1993.
MACDOUGALL, David. Transcultural Cinema. Princeton: Princeton University Press, 1998.
_____. “The Visual in Anthropology”. In: BANKS, Marcus & MORPHY, Howard (orgs.). Rethinking
Visual Anthropology. New Haven/Londres: Yale University Press, 1999.
_____. The Corporeal Image. Princeton: Princeton University Press, 2006.
MACHADO, Arlindo. Eisenstein: geometria do êxtase. São Paulo: Brasiliense, 1982.
MARCUS, George E. “Contemporary Problems of Ethnography in the Modern World System”. In:
CLIFFORD, James & MARCUS George (orgs.). Writing Culture: The Poetics and Politics of Eth-
nography. Berkeley/Londres: University of California Press, 1986.
_____. “The Modernist Sensibility in Recent Ethnographic Writing and the Cinematic Metaphor of
Montage”. In: TAYLOR, Lucien (org.). Visualizing Theory: Selected Essays from V.A.R. 1990-1994.
Nova York/Londres: Routledge, 1994.
_____. “Ethnography in/of the world system: the emergence of multi-sited ethnography”. Annual
Review of Anthropology, 24, p. 95-117. 1995. Disponível em: <http://anthro.annualreview.org>.
Acesso em jan. 2016.
A experiência da imagem 2p.indd 282 14/09/2016 14:28:06
_____. “O intercâmbio entre arte e antropologia: como a pesquisa de campo em artes cênicas pode 283
Montagem, teatro antropológico e imagem dialética
informar a reinvenção da pesquisa de campo em antropologia”. Revista de Antropologia, v. 47, n.
1, pp. 133-58. 2004.
_____. “Contemporary Fieldwork Aesthetics in Art and Anthropology: Experiments in Collaboration
and Intervention”. Visual Anthropology, n. 23, pp. 263- 77. 2010.
MOORE, Sally Falk & MYERHOFF, Barbara (orgs.). Secular Ritual. Amsterdam: Van Gorcum, 1977.
OLIVEIRA, Vanessa Teixeira de. Eisenstein Ultrateatral: movimento expressivo e montagem de atrações
na teoria do espetáculo de Serguei Eisenstein. São Paulo: Perspectiva, 2008.
PETRIC, Vladimir. Constructivism in film. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
PIAULT, Marc Henri. “A antropologia e a ‘passagem à imagem’”. Cadernos de Antropologia e Imagem,
n. 1, pp. 23-29. 1995.
PINK, Sarah. Doing Visual Anthropology: Images, Media and Representation in Research. Londres:
Sage, 2001.
_____. “Interdisciplinary Agendas in Visual Research: Re-situating Visual Anthropology”. Visual
Studies, v. 18, n. 2, 2003.
ROUCH, Jean. “Our Totemic Ancestors and Crazed Masters”. In: Hockings, Paul: Principles of Visual
Anthropology. Berlim/Nova York, 1974.
RUBY, Jay. Picturing Culture: Explorations of Film and Anthropology. Chicago: University of Chicago
Press, 2000.
_____. “The Image Mirrored: Reflexivity and the Documentary Film”. In: ROSENTHAL, Alan &
CORNER, John (orgs.). New Challenges for Documentary. Manchester/Nova York: Manchester
University Press, 2005.
STAM, Robert. Introdução à teoria do cinema. Campinas: Papirus, 2003.
STRATHERN, Marilyn. Partial Connections [1991]. Walnut Creek: Altamira Press, 2004.
SZTUTMAN, Renato. “Jean Rouch: um antropólogo-cineasta”. In: CAIUBY NOVAES, S. et al. (orgs.).
Escrituras da imagem. São Paulo: Edusp/Fapesp, 2004.
TAUSSIG, Michael. Xamanismo, colonialismo e o homem selvagem: um estudo sobre o terror e a cura
[1987]. São Paulo: Paz e Terra, 1993.
TAYLOR, Lucien. “Introduction”. In: MACDOUGALL, David (org.). Transcultural Cinema. Princeton,
Princeton University Press, 1998.
TURNER, Victor. From Ritual to Theater: The Human Seriousness of Play. Nova York: PAJ, 1982.
_____. The Anthropology of Performance. Nova York: PAJ, 1987.
_____. “Dewey, Dilthey e drama: um ensaio em antropologia da experiência”. Cadernos de Campo,
n. 13, a. 14, pp. 177-86. 2005.
XAVIER, Ismail. O discurso cinematográfico: opacidade e a transparência. São Paulo: Paz e Terra, 2005.
_____. A experiência do cinema: antologia. Rio de Janeiro: Graal/Embrafilmes, 1983.
A experiência da imagem 2p.indd 283 14/09/2016 14:28:06
A experiência da imagem 2p.indd 284 14/09/2016 14:28:06
Somos afetados: experiências mágicas e
imagéticas no campo religioso1
FRANCIROSY CAMPOS BARBOSA
Para Miriam Moreira Leite e Mariana Vanzolini que se encanta-
ram e ainda me encantam.
Quero cantar como os pássaros cantam, não se preocupar com
quem ouve ou o que eles pensam.
Rumi
Este texto desafia uma cronologia, escrito inicialmente para dar forma a minha
experiência de campo em Salvador durante a realização do documentário sobre
os Malês,2 que aparece na segunda parte deste texto, como uma forma de apro-
ximar o fazer etnográfico com a produção de imagens em contextos religiosos
(islam/candomblé), passei a submetê-lo a uma reflexão mais ampla, partindo
de outras reflexões e experiências de colegas e autores para desembocar na
minha própria experiência. Numa tentativa de teorizar o que perpassa essas
pesquisas, o mistério, o sensível, o silêncio e o que escapa à ordem “normal”
do fazer etnográfico.
Seguindo a máxima de Sylvia Caiuby Novaes, que foi minha orientadora duran-
te o mestrado e doutorado em antropologia: “Não se estuda um tema por acaso,
sempre se tem uma implicação, um porquê”. Confesso que durante muitos
anos essa frase me incomodava de modo silencioso, porque não encontrava
1
Parte deste texto foi apresentado na 29a Reunião Brasileira de Antropologia, realizada entre os dias
03 e 06 de agosto de 2014, Natal/RN. Pesquisa Financiada pela Fapesp, Projeto Temático: A Expe-
riência do Filme na Antropologia (FAPESP 09/52880-9), coordenado por Sylvia Caiuby Novaes.
2
Allah, Oxalá na trilha Malê, 2015, 30 min., LISA/Apoio FAPESP.
A experiência da imagem 2p.indd 285 14/09/2016 14:28:06
286 explicação para o estudo de islam, sabia explicar por que razão imagem, que
sempre associei ao fato de ter abandonado o jornalismo. Mas tudo leva tempo
– o tempo da pesquisa, o tempo da escrita e, por fim, o tempo do sensível,
que nos emancipa de nossos próprios medos de pertencimento e afetação.
Penso que este texto é um pouco revelador de trajetórias, pertencimentos,
afetações, que são encontrados em etnografias clássicas desde Evans-Pritchard,
Favret-Saada, Pierre Verger e outros.
Evans-Pritchard nos chama a atenção para que:
Na ciência como na vida só se acha o que se procura. Não se pode ter respostas
quando não se sabe quais são as perguntas. Por conseguinte, a primeira exigência
para que se possa realizar uma pesquisa de campo é um treinamento rigoroso em
teoria antropológica, que dê as condições de saber o que e como observar, e o que
é teoricamente significativo. É essencial percebermos que os fatos em si não têm
significado. Para que o possuam devem ter certo grau de generalidade. É inútil
partir para campo às cegas. (2005, p. 243)
Se o antropólogo não parte às cegas para o campo, ou não deveria, pelo menos,
não significa que ele domine absolutamente tudo do campo e dos meandros da
etnografia que vai produzir. Qualquer projeto se inicia de uma questão previa-
mente elaborada, de textos fichados, arquivos inteiramente ou parcialmente
compreendidos, no entanto, o campo é ágil, e escapa quase sempre do nosso
próprio universo esquematizado.
Há quase duas décadas pesquiso comunidades islâmicas, e, em todo campo
realizado, experiências novas surgem no caminho, o que encanta meus sentidos
de antropóloga. Uma das pesquisas a qual me dediquei recentemente foi à
produção de um documentário que trata da estética islâmica e afro-brasileira,
tendo como eixo estruturante a Revolta Malê de 1835. A produção de um
documentário sobre o tema e com o título pretencioso Allah e Oxalá na
trilha Malê apresentou durante o processo de pesquisa e gravação conteúdos
“mágicos” que tiveram que ser elaborados rapidamente, algo muito natural
no campo religioso, mas que poucas vezes eu tinha percebido nesses anos de
pesquisa, porque talvez a atenção estivesse voltada para algo mais prescritivo,
e não para o que escapava à estrutura.
Quando fui a Salvador em 2011 para o Conlab (XI Congresso Luso Afro Bra-
sileiro de Ciências Sociais) aproveitei para conversar na mesquita com Sheikh
Ahmad e com mãe Cici da Casa Pierre Verger sobre o tema que eu queria
desenvolver. Realizei assim um pré-campo, não sabia que aquelas narrativas me
levariam a algo maior, ainda não imaginado. Nesta primeira visita a um terreiro
A experiência da imagem 2p.indd 286 14/09/2016 14:28:06
de candomblé, em Salvador, para uma cerimônia chamada Amala de Xangô, 287
Somos afetados: experiências mágicas e imagéticas no campo religioso
senti que eu deveria pedir autorização ao orixá para realizar a pesquisa: por
que a este orixá? Não sei. Mas neste dia eu estava interdita para cumprimen-
tar o orixá, afinal estava menstruada, assim como mulheres muçulmanas não
podem rezar e jejuar neste período, há também interdições no candomblé. No
entanto, enquanto comia o quiabo de xangô, “acho” que ouvi alguém me dizer:
“Está autorizada”. Em 2013 ao retornar para as gravações do documentário,
vivi experiências “mágicas” do começo ao fim, comecei ganhando uma guia
de Iansã Balé, orixá, segundo mãe Cici, da minha cabeça, com Xangô. A moça
incorpora Oxalá em sua casa em Salvador, e este fala da autorização que eu
pedi... comecei a gravar no mês do Ramadã e resolvi que faria o jejum com
os muçulmanos como uma forma de abrir o caminho para a pesquisa sobre os
Malês. Foi na mistura sincrética entre os mistérios que a etnografia fílmica foi
sendo construída. É desses caminhos e mistérios que trata este texto.
A experiência “mágica”, que prefiro chamar de a experiência do sensível,
que se deixa afetar, também encontramos em outras etnografias clássicas e
etnografias recentes, como este texto deixa entrever. Talvez, Evans-Pritchard
seja um dos que não se furtaram de relatar se a bruxaria existia ou não. Per-
correndo o campo audiovisual, mais especificamente, temos a própria inserção
de Pierre Verger: teria sido ele tão racionalista quanto tentava demonstrar
em suas entrevistas? A quantidade de pesquisadores que vivenciaram expe-
riências sensíveis é vasta, mas vários dos quais eu consultei para me contar os
seus relatos, simplesmente me responderam que não tinham tempo, mas que
gostariam de fazer um texto sobre o assunto. Interessante manter em “segre-
do” tais experiências. O segredo do/no fazer etnográfico também se mantém.
Mediante essas recusas, achei por bem definir que ser afetado também pode
transbordar para adesões, embora sempre vejamos pesquisadores se furtarem
dos seus pertencimentos religiosos, como se ciência, aqui, a ciência antropoló-
gica, não pudesse conviver com o sentido e o lugar que o próprio pesquisador dá
para suas vivências. No entanto, outros me relataram suas experiências de
afetação/perturbação, transportação, como diria Schechner (1985), me
disseram que era quase uma catarse psicanalítica o que tinha ocorrido com
eles. Quiçá haja mais segredos e mistérios em uma Antropologia da Religião/
Imagem do que este texto possa de fato demonstrar, mas o bom é seguir a
trilha e se deixar perder nos relatos e trincheiras dessas dobra, muitas vezes,
submersa, mas no fundo muito intensa.
A experiência da imagem 2p.indd 287 14/09/2016 14:28:06
288 Relatos, afecções e sujeitos
Falar de afetações/afecções nos remete também ao texto primoroso de Marcio
Goldman: “Os tambores dos mortos e os tambores dos vivos...”. Reproduzo
aqui um trecho no qual Goldman dialoga com Peter Gow sobre os processos
mágicos vividos no campo (2003, pp. 448-49; grifo meu) e que foi inspirador
para este texto.
[...] ao reencontrar a mãe-de-santo depois de mais de dois anos sem vê-la. Eu
fora buscá-la na estação rodoviária onde chegava de uma viagem a São Paulo. Ao
entrar de carro na rua em que se situam tanto o terreiro quanto sua residência,
senti vertigens que desapareceram assim que saí do local, após deixá-la em casa.
Retornei ao local mais duas vezes na mesma noite e, a cada vez que entrava na rua,
as vertigens voltavam; ao sair, desapareciam. É claro que imaginei causas místicas
mas não levei o episódio muito a sério.
Peter Gow – a quem eu escrevera relatando a história e dizendo que ela me surpreen-
dera principalmente porque eu jamais havia experimentado nenhuma inclinação mís-
tica – respondeu que não acreditava ser este o ponto pertinente, e relatou uma ex-
periência semelhante que tivera no campo, oferecendo ao mesmo tempo uma
explicação fenomenológica e quase gestaltista para o que ocorrera conosco:
Qual é a explicação? Por um lado, creio que Tânia esteja certa. Isso é realmente fazer
trabalho de campo: essas experiências emanam de outras pessoas. Mas há mais. Acho
que é significativo que tenha sido música o que ouvimos nos dois casos. É possível
que, em estados de alta sensibilização, padrões complexos, mas regulares, de sons do
mundo, como rios correndo ou uma noite tropical, possam evocar formas musicais
que não temos consciência de termos considerado esteticamente problemáticas. Na
medida em que estamos aprendendo esses estilos musicais sem sabê-lo, nós, sob
determinadas circunstâncias, os projetamos de volta no mundo. Assim, você ouviu
tambores de candomblé, eu, música de flauta. Penso que um processo semelhante
ocorre com as pessoas que estudamos. Porque elas obviamente também ouvem essas
coisas. Mas elas simplesmente aceitam que esse é um aspecto do mundo, e não se
preocupam com isso. Mas continua sendo impressionante e o mistério não é resol-
vido por essa explicação. O que imagino é que devemos repensar radicalmente
todo o problema da crença, ou ao menos deixar de dizer preguiçosamente que “os
fulanos creem que os mortos tocam tambores” ou que “os beltranos acreditam que
os espíritos do rio tocam flautas”. “Eles não ‘acreditam’: é verdade! É um saber
sobre o mundo.” (GOW, 1998)
A experiência da imagem 2p.indd 288 14/09/2016 14:28:06
Pensando sobre o diálogo, pedi que alguns colegas me escrevessem seus relatos 289
Somos afetados: experiências mágicas e imagéticas no campo religioso
sobre a experiência mágica/imagética.
Franci, querida!
VC nem imagina o processo reflexivo e analítico (psicanalítico seria a palavra correta)
que vc desencadeou em mim com sua proposta de participar de seu texto sobre
pesquisa com imagem em contexto de práticas e afetos mágicos-religiosos... Franci,
como te contei anteriormente, teve um ano que cheguei em Campinas tão ruim
que fui parar no hospital com aftas em toda a boca, espinhas no rosto (bochecha e
testa), na barriga e principalmente nas costas que demoraram umas 3 semanas para
curar. Esse foi o ano em que me separei pela primeira vez e foi tudo muito estranho
e envolto em uma névoa de coisas sem resolver e sem saber o que fazer. Esse foi o
final do primeiro ano do doutorado e foi tb o ano em que mais aprendi pois pude
participar da construção do Conversas com MacDougall. Então aprendi a fazer
filme na ilha de edição o que foi penoso e gostoso ao mesmo tempo. Isso tudo pra
te falar que a Congada entabula uma série de energias que a gente não controla mas
que estão ali e que quando vc é inexperiente, ignorante (como no meu caso) e está
muito próxima do centro dos acontecimentos, aquilo resvala e respinga pra tudo que
é canto, queira a ciência dar conta de explicar isso ou não. O fato é que a gente não
consegue explicar pela via científica, e, como bons cientistas que somos, minimizamos
os discursos que tematizam tais acontecimentos e tentam dar explicação sobre os
mesmos. Tentei não participar disso descrevendo os acontecimentos e as versões
e relatos dados por meus interlocutores. Se isso não é muito, pelo menos é uma
forma de dar visibilidade a algo que em geral acaba sendo subsumido das escritas
científicas. (Lilian Sagio Cezar, por e-mail, 4 abr. 2015, sic)3
Oi Franci, bom dia!
[...] Então sobre minhas afetações em campo, experiências da ordem suprassensível,
também estou transformando-as em um texto que figurará em uma coletânea...
Passei por duas experiências, a primeira tomei um “barravento” em uma festa de
marujo e a segunda, fui “suspenso” em um candomblé de caboclo”. Esta suspensão,
indicando um lugar na casa como ogã, veio junto com uma proposta de pesquisa
conjunta, sobre o lugar do caboclo no panteão sagrado do candomblé de caboclo,
3
Optei em deixar os relatos, tais como foram escritos, por serem uma comunicação informal entre
amigos que trabalham o tema.
A experiência da imagem 2p.indd 289 14/09/2016 14:28:06
290 já que este ser encantado foi menosprezado e diminuído na literatura consagrada
sobre candomblé afro-baiano. (Fernando Firmo, por e-mail, 2 abr. 2015)
Quando o antropólogo bola no santo...
Bolar no santo é apresentar sintomas de, ou entrar de fato, em transe. Também
designa os “desmaios rituais” que condizem com a capacidade de ser virante (entrar
em transe e receber orixás no corpo). Indica que o sujeito é capaz de (receber as)
“ser cavalo de” entidades. Sintomas comuns: sensação de calor, suor, tremores,
arrepios, palpitação, taquicardia. No meu caso, senti tudo isso sucessivamente
antes de haver o desmaio.
(Fabiano Lucena de Araújo, em sua dissertação de mestrado (2015))
O que esses fragmentos têm em comum é o objeto deste texto: buscar alinhavar
as construções teóricas do campo religioso/imagético para o sensível e/ou vice-
-versa. Essas reflexões do campo religioso/imagético esbarram quase sempre
num universo cheio de meandros que são resultados muitas vezes das relações
estabelecidas em campo entre pesquisador/pesquisados. Como diria Latour
(2004): “religião tornou-se algo impossível de enunciar”, principalmente, eu
diria, quando se trata dos afetos do próprio pesquisador.
Na Reunião Brasileira de Antropologia (RBA) de 2014, fui surpreendida por
um estudante de mestrado em antropologia da Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB), o Fabiano Araújo, que dizia ter lido tudo que eu havia escrito
sobre performance, principalmente sobre, o antropólogo-performer, e que fazia
sentido para a pesquisa dele no candomblé, na qual ele, antropólogo, bolou
(incorporou orixá) no santo durante o trabalho de campo. Ele se refere ao meu
trabalho da seguinte forma:
Posso dizer que quando você explana a respeito do antropólogo-performer no contexto
religioso, o que me remete diretamente à antropologia encorporada/incorporada e
performada de Turner, na qual o autor imerge na observação experiencial. Detalhando
essa perspectiva performada, refiro ao vínculo da performance enquanto instrumen-
tal de trabalho e manejo da experiência de vida, performance enquanto tradução
do trabalho artesanal da vivência e do aprendizado empírico. Quando você fala do
uso do hijab para ingressar no espaço sagrado, a disjunção do sagrado e do profano
na qual o antropólogo se intromete e concilia negociações neste espaço liminar, de
ruptura (não é nativo e ao mesmo tempo não é um sujeito impessoal, alheio, anôni-
mo ao modo de vida nativo), e, particularmente, seu caso justificado na influência
A experiência da imagem 2p.indd 290 14/09/2016 14:28:06
do gênero feminino e da mobilização de traços biográficos e subjetivos enquanto 291
Somos afetados: experiências mágicas e imagéticas no campo religioso
escolha objetiva e estratégia de facilitação do acesso aos nativos, ao campo, (trazer
sua experiência de mãe, falar de família, de modo a obter acesso ao outro). (Fabiano
Araújo em mensagem inbox no Facebook, mai. 2015).
Recentemente participei da banca de mestrado de Fabiano, e seu texto além
de ser performático,4 carrega também formas de representar o espaço vivido.
Lançando mão da etnocartografia, ele vai descrevendo o espaço religioso, usando
essas imagens (desenhos feitos de próprio punho) para aproximar o leitor dos
lugares vivenciados. Em sua narrativa ele aponta até os momentos em que
foi repreendido pelos filhos de santo, pois, por se tratar de um ritual, ele não
poderia falar alto, ou dizer determinadas coisas, assim como é visto de forma
deselegante alguém “bolar no santo” em uma casa (terreiro) que não é sua.
Ser afetado na produção de imagens implica pensar uma simetria de cosmo-
logia nativos-antropólogos. Tenho observado que antropólogos também caem
na gira, mergulham nas águas e se entregam a Deus, porque receberam um
recado, um barravento, um suspiro... antropologia com o corpo e espírito, tal-
vez, mas também, pode ser, um outro modo de dizer, que o outro não existe...
pois somos todos sujeitos de construção do conhecimento, somos afetados
(nativos-antropólogos). Talvez o mais difícil ainda seja escrever sobre as próprias
experiências. Essas sempre aparecem em notas de rodapé, ou como forma de
apresentar o processo de aproximação com o grupo pesquisado.
Isto pode ter escapado ao Evans-Pritchard, que, ao buscar a lógica das crenças
Azande, via mais as insuficiências e contradições, julgando-as até falaciosas.
No presente, diz ele, com a perda da autoridade real, que servia de instância pública
decisiva, não há como saber se uma morte é resultado de bruxaria ou é resultado de
uma vingança em função de um ato de bruxaria anterior. “Tudo é névoa e confusão”,
lamenta o antropólogo. (GIUMBELLI, 200, p. 286)
Mesmo sendo consenso entre os pesquisadores de religião que o universo má-
gico nos afeta, e este aqui pode ser de várias formas diferentes, não significa
necessariamente adesão da religião em estudo, mas sim, de uma sensibilidade
em compreender aquele universo religioso. Alguns antropólogos, que profes-
savam a religião que estudam, hoje são apenas pesquisadores, como é o caso
de Vagner Gonçalves da Silva, que foi membro de um terreiro de candomblé e
Elisa Rodrigues, evangélica. As experiências dos dois pesquisadores não são mais
4
Trata de categorias da antropologia da performance como comportamento restaurado proposto por
Schechner (1985).
A experiência da imagem 2p.indd 291 14/09/2016 14:28:06
292 de adesão, mas apenas de pesquisa, não impedindo é claro, uma aproximação
do objeto estudado. É difícil encontrar quem realmente construa reflexões
sobre pertencimento religioso, principalmente quando o mesmo é seu objeto
de estudo. Em que medida somos afetados? E quando se trata de envolver
produção de imagens e religião, a sensação é a de que sempre precisamos de
um consentimento especial, ou que a própria equipe esteja preparada para o
inesperado. Lembro do comentário de Clarice Peixoto quando narrou a recusa
de um dos técnicos que deveria gravar com ela, porque ele não entraria em
um ritual de candomblé, por ser evangélico. A interdição de uma pessoa, que
coloca o outro que filma mais distanciado ainda daquele que é filmado. Há
também o modo que o próprio “nativo” se coloca diante das imagens que estão
sendo produzidas sobre o seu grupo, como nos aponta Lilian Cezar.
Tudo pode ser resumido ao fato de pesquisar festa a partir da realização de vídeo e
fotografia. Meus interlocutores estão acostumados a um tipo de imagem sobre sua
festa que é a transmissão televisiva ao vivo dos desfiles (que analisei na dissertação do
mestrado) [CEZAR, 2005]. Essas imagens são amplamente divulgadas pela tv local,
sofrem a pressão dos políticos e elites locais que acabam se valendo da festa como
palanque e coluna social, mas ao mesmo tempo têm a característica de possibilitar
a interferência direta dos congadeiros e moçambiqueiros durante seus desfiles (que
é a beleza da tv ao vivo!). O microfone e os holofotes então se rendem ao capitão e
ele tem aquele tempo e espaço (na avenida e na mídia local!) para dar seu recado!
O imediatismo dessas imagens é compensado pela ação dos camelôs locais que pro-
duzem compactos dos melhores momentos dos desfiles que são vendidos na cidade
e que permitem aos congadeiros e moçambiqueiros assistirem indeferidamente seus
desfiles, quantas vezes quiserem, a seu tempo e modo. Esse passou a ser um eficiente
modo de transmissão e retroalimentação avaliativa de conhecimentos sobre os desfiles
onde os capitães e membros dos ternos vão “lendo”, “relendo” e interpretando os
desfiles uns dos outros a fim de entenderem o porquê determinado terno foi eleito
pelos jurados melhor que os demais no concurso anual promovido pela prefeitura
para a organização dos desfiles. (Lilian Sagio Cezar, por e-mail)
Este é o tipo de imagem a que a maioria dos grupos estão acostumados, o
que nos leva sempre a sermos confundidos como jornalistas, ou alguém que
trabalha na TV quando chegamos com nossos equipamentos. Ao produzir as
nossas próprias imagens, temos que lidar com autorizações dos nossos interlo-
cutores que passam também por uma análise estética própria. Seguindo ainda
a reflexão de Lilian Cezar em seu email:
Primeiro round: pensar e planejar a construção da pesquisa com imagens. Usei
primeiro fotografias e foi muito bacana. Devolvi as fotografias para a Rainha Geni,
A experiência da imagem 2p.indd 292 14/09/2016 14:28:06
filmei o processo de devolução e fiz um filme sobre isso mostrando os bastidores 293
Somos afetados: experiências mágicas e imagéticas no campo religioso
da construção do filme e da construção da festa.
Esse foi o segundo round: a Rainha não gostou do resultado. Posso disfarçar o
quanto quiser, mas hoje, à distância consigo entender que eu não estava preparada
para isso e não soube lidar com essa negativa de maneira adequada para a cons-
trução do próprio vídeo. Naquele momento tinha outras coisas na balança que me
levaram a abrir mão da produção imagética e adaptá-la à produção acadêmica, no
meu caso, adotando uma postura extremamente conservadora, ou seja, focando
no texto para a tese.5
É muito comum para pesquisadores de antropologia visual que tem que
apresentar texto e imagem, viver o dilema de privilegiar o primeiro em de-
trimento do segundo, em geral o processo de edição do texto e da imagem
nem sempre se dá ao mesmo tempo. São formas de contar muito distintas,
mas são intensas, tanto quanto, o resultado final nunca nos pertence, pois
não sabemos como as imagens atingem quem as vê e o texto também. Muitas
vezes essas produções estão claras na nossa mente, mas nem sempre passam o
mesmo sentido que atribuímos. Eu mesma, durante a edição dos meus docu-
mentários – Allahu Akbar, Sacríficio e vozes do islã –,6 levei o Sheikh Jihad,
um dos interlocutores da minha tese, para ilha de edição, a fim de assistir de
primeira mão. As observações dele foram poucas, não no sentido de restrição,
ou algo que afetasse a divulgação do vídeo. Recentemente apresentando o
vídeo sobre os Malês para o Sheikh Ahmad, em Salvador, a observação caiu
sobre o som do batuque em cima da recitação do Alcorão, algo interdito, que
atendi plenamente na edição final. O diálogo com os interlocutores torna-se
fundamental, porque se trata da imagem deles que serão vinculadas, isto não
significa mudar o argumento. Nunca me pediram isto, mas as críticas sempre
recaíam em detalhes como a vestimenta que não cobre o pé, pessoas em lu-
gares errados e a recitação do Alcorão. As críticas feitas pelos interlocutores
nos fazem repensar os caminhos escolhidos na produção imagética/estética.
No meu caso, fiquei irritada mesmo com a discussão com a muçulmana,
conforme citado, mas esta experiência me trouxe outra forma de pensar as
nossas relações de “poder” e alteridade em campo.
5
Eu mesma escrevi sobre a rejeição da minha pesquisa em um artigo: “Antropologia e misticismo:
diálogos com uma nativa na rede”. Disponível em: <http://seer.ufrgs.br/iluminuras/article/viewFi-
le/37749/pdf>. Acesso em jan. 2016. O exercício proposto neste texto é uma tentativa de reflexão
sobre este diálogo tenso/denso entre pesquisadora e religiosa.
6
Disponíveis em: <https://vimeo.com/37372714>; <https://vimeo.com/41171372>; <https://
vimeo.com/37374463>. Acessos em jan. 2016.
A experiência da imagem 2p.indd 293 14/09/2016 14:28:06
294 Lilian segue no seu relato (enviado por email):
Ok, essa opção hoje merece ser questionada mas, naquele momento, com os prazos
e a necessidade da escrita, foi a única decisão que tive fôlego para encaminhar.
Algumas coisas contribuíram para essa escolha e não ficaram transparentes ao texto
da tese: a primeiro foi a qualificação em que o capítulo de análise de três filmes
sobre Congada foi considerado desnecessário para a tese, ou seja, o que na prática me
exigiu começar a escrita do texto da tese quase do zero! Tudo isso em meio a uma
perda pessoal por motivo de falecimento de um grande amigo (que amiga, vc quer
falar de magia, sei lá como ponderar toda aquela situação sem pensar em magia...).
Quando temos que refazer o caminho “a partir do zero” é uma morte natural, um
desapego que temos que ter com o que já produzimos, e quando perdemos
uma pessoa em concreto, também o sentimento de desapego deve se estabele-
cer, guardadas as devidas proporções, as mortes sejam elas simbólicas ou não,
sempre nos levam a repensar os caminhos e os pertencimentos. Talvez o que
vivemos seja resultado das nossas afetações, aqui entendidas como um contá-
gio devido à vulnerabilidade ou abertura dos etnógrafos e agentes envolvidos.
Muitas vezes nos vemos diante de dilemas que não são nossos diretamente, mas
acabam nos envolvendo, sobretudo em termos de pertencimento, quando nos
indicam a feitura do santo, um pertencimento, um posicionamento qualquer
ou participar de momentos de pura “magia”.
De sua parte meus interlocutores me permitiram participar de diferentes momentos
de pura magia durante a festa, alguns restritos e particulares e outros explícitos e
sutilmente entabulados nos espaços públicos. Mesmo quando expostos aos olhares
do público presente na festa esses tomavam formas imperceptíveis: as contendas
eram travadas a partir do cruzamento de olhares, as homenagens aconteciam a partir
do tocar uma música antiga, pertencente a um terno já não mais existente para
que uma pessoa específica entendesse a mensagem e se emocionasse com aquela
música, o mal era mandado a partir de três batidinhas nas costas, relatos de caixa
(tambor) que bate sozinha no meio da noite, Bandeira de Santo que pega fogo em
cima do guarda-roupa onde estava guardado durante período fora da festa. Tudo
isso em meio a muitas histórias contadas pelos congadeiros mais antigos: capitão
que coloca fogo nas caixas do terno rival, bananeira que cresce e dá fruto no mesmo
dia na porta da igreja, ataque de abelha e marimbondo a terno rival. Minimamente
tentei descrever e agora, com mais tempo e distanciamento, busco analisar as in-
formações a que tive acesso na pesquisa. Veja só, por mais que a gente fale magia
eu particularmente prefiro compreender todas essas experiências dentro do rótulo/
categoria de mitos, ritos e performances da religião, pois precisamos expandir esse
A experiência da imagem 2p.indd 294 14/09/2016 14:28:06
conceito para além dos limites convencionais do cristianismo enquanto forma 295
Somos afetados: experiências mágicas e imagéticas no campo religioso
religiosa hegemônica do Ocidente, portanto da ciência.
Araújo (2015), nas primeiras linhas de sua dissertação de mestrado, se deno-
mina pós-moderno. Entendo o que ele quer dizer com isso, perfeitamente,
porque estamos falando no modo como nos colocamos em campo e como
fazemos nossa antropologia compartilhada, sem “desperdiçar” nada, o que cai
na rede é peixe, relembrando o conselho de Vagner Gonçalves da Silva em
minha qualificação de doutorado. Neste sentido, vale consultar o oráculo de
Ifá como fez Fabiano Araújo ou, como eu, com vários líderes, pedir permissão
para adentrar o universo religioso. Se ele filho de Oxalufã (oxalá velho) e eu
de Yansã certamente nos compreendemos bem. Ele se permitiu bolar no san-
to, eu senti o tal “barravento” na Festa do Tempo em Salvador, como tantos
outros pesquisadores.
Talvez diante daquilo que não podemos explicar em palavras, tomamos o
conselho de Geertz (1999, p. 142) “quando não somos capazes de falar, de-
vemos ficar em silêncio”, uma doutrina aceitável diante de obras de arte, de
experiências religiosas, ou dessas coisas juntas.
Guias e tambores conversam
Escolhi passar dez dias em Salvador para gravação do documentário Allah,
Oxalá na trilha Malê no mês de julho de 2013. Por coincidência, era mês do
Ramadã,7 mês no qual os muçulmanos fazem jejum... Inspirada na documen-
tarista vietnamita Trinh T. Minh-Ha e nos seus filmes poéticos, meu objetivo
era captar imagens e falas que nos remetessem à estética entrelaçada entre o
islam e o candomblé, a fim de contar a história Malê. Para a documentarista,
o poder da poesia está em todos os lugares e a teoria pode alcançá-lo quando
se aproxima dela (1991, p. 156). O trabalho de campo realizado em 2011,
precisava agora ganhar seus contornos audiovisuais e investir nas possibilidades
de diálogo que eu observei entre mãe Cici e Sheikh Ahmed, candomblé e islam
e suas fissuras e junções.
Durante os preparativos para viagem, defini que contrataria um cinegrafista
que vivesse em Salvador. Por meio da rede do Facebook e da indicação de um
amigo, contratei um rapaz que à primeira vista havia entendido a minha pro-
7
Trata-se de um período especial para os muçulmanos, período de jejum que dura de 29 a trinta
dias, pois nos últimos dez dias do mês do Ramadã o Alcorão foi revelado ao profeta Muhammad.
É comum os muçulmanos passarem a noite do Poder (Laylat al-Qadr) na mesquita.
A experiência da imagem 2p.indd 295 14/09/2016 14:28:06
296 posta. Desejava que fosse alguém familiarizado com Salvador e com os terreiros
também, pois para acessar a mesquita e os muçulmanos, eu não precisaria de
ajuda, a não ser com a câmera. Minha rede islâmica é extensa e, ao saber que iria
a Salvador, uma amiga apresentou-me a sua amiga virtual que poderia me re-
ceber e me acompanhar também nos terreiros, me dizia que seria bom estar
com ela. Acertei o cinegrafista e a moradia por dez dias. Rumo à Salvador.
No sábado marcado chego a Salvador, sigo para o endereço anotado em minha
caderneta na véspera... “o tempo parece fechado”, comento com o taxista,
“mas é a cidade de Oxum, e as águas são boas para limpar”, me responde ele,
enquanto me levava ao bairro quase central da capital baiana. Ao chegar no
prédio indicado, chamei pelo interfone durante um tempo... logo desce um
jovem que me ajuda com a mala gigante, pois levava equipamentos e materiais
necessários para minha estada, além da câmera de vídeo.
Entrei timidamente, logo fui recebida pela dona da casa, que descontraída
disse para eu entrar e me sentir em casa, olhei ao meu redor e senti que não
era uma casa, era um conga,8 havia tantas imagens que perdi o olhar mirando
Iansã, Pretos Velhos, são Jorge, Oxalá, enfim, tinha de tudo.
Sentei em uma das poltronas da sala, minha anfitriã Maria em um dos sofás
e seu marido Carlos em outra poltrona coberta por um pano branco. Fui me
apresentando, falando do meu projeto de pesquisa com os Malês, contando
qual era a perspectiva da minha pesquisa e do vídeo que eu iniciava, agora
solitária.9 Eles contaram um pouco de suas crenças, Maria é umbandista, mas
frequenta o candomblé também, Carlos, seu marido, é de terreiro, frequenta
o Gantois, filho de Oxalá... antes que eu começasse a falar que um amigo
havia me dito que eu era filha “Iansã com Xangô”, sendo esses os meus orixás
principais. Maria incorpora de repente o que depois eles disseram que era
Oxalá, a entidade de Carlos. A cena me pegou de surpresa, mesmo tendo
visto várias incorporações em terreiros de umbanda, kardecistas, candomblé,
não esperava que isto acontecesse em menos de trinta minutos da minha
chegada na casa, e em Salvador. Mas como disse um dos meus interlocutores
durante o trabalho de pesquisa: “Salvador é mistério!!!”. Mistério desde a
primeira ida em 2011, quando “ouvi” a autorização concedida por Xangô ao
meu trabalho, fiquei querendo saber se era Xangô ou Oxalá que regeria este
documentário, acabei chegando à conclusão que é Allah mesmo, afinal, é esta
8
A palavra “conga” é de origem banto e é utilizada no ritual de umbanda para denominar o “altar
sagrado” do terreiro.
9
Solitária porque Lilian Sagio Cezar que me acompanharia nesta pesquisa foi aprovada em concurso
público em outra cidade e isto dificultava sua participação.
A experiência da imagem 2p.indd 296 14/09/2016 14:28:07
a minha “natureza” primeira. O que vou contar daqui por diante não difere 297
Somos afetados: experiências mágicas e imagéticas no campo religioso
da reflexão feita por Goldman (2003) em “Os tambores dos mortos...”, mas
traz outros sons. Ouvi os tambores dobrarem...
Fiquei em silêncio aguardando a manifestação da entidade. Carlos se aproxima
e vai “traduzindo” o que vai sendo dito, Maria incorporada pela entidade muda
sua fisionomia, seu corpo em transe, nitidamente não é ela quem fala, mas algo
que está por perto... não entendo nenhuma palavra, me parecia um Preto Ve-
lho10 falando. Carlos vai me dizendo: “O Pai11 vem te dar boas-vindas. Disse que
você vai ter um bom retorno do seu trabalho, que vai ser bom materialmente”.
Sorri quando Carlos mencionou o retorno material, logo pensei ceticamente,
tudo que o antropólogo não ganha é dinheiro com seus documentários, mas
o material poderia ser o resultado de um trabalho bem feito e reconhecido e
isto já era um bom retorno material.
Depois aponta a Iansã que estava na sala à frente de seu sofá, e pede para retirar
a guia que está em volta da imagem... a guia era de Iansã Balé,12 que, segundo
mãe Cici, havia me dito em Salvador em 2011, era o orixá de minha cabeça.
Oxalá disse a Carlos que eu precisava da guia para “não ficar nos terreiros”. Per-
guntei depois o que significa “ficar nos terreiros”. Ele me disse: “bolar no santo
(incorporar)”. Você pode incorporar seu orixá e aí vai ter que fazer a cabeça.
O detalhe é que todas as imagens e guias que estão na casa de Maria são de
Carlos e, segundo ela, ele tem um carinho especial por todas suas guias. Depois
brinquei com ele, dizendo que ainda bem que a entidade pediu apenas para
entregar a guia e não a imagem que era imensa e muito bonita, algo que não
deve custar menos que trezentos reais. A entidade me abençoou e foi embora.
Maria volta do transe e pergunta o que aconteceu... Carlos conta e ela começa
a rir dele, pois sabe do apego que ele tem com cada objeto, mas ele responde:
“se meu pai pediu para entregar não posso fazer desfeita”.13
10
Eu nunca entendo o que os Pretos Velhos falam.
11
Carlos sempre se refere ao pai, como sendo Oxalá, em várias conversas a expressão é proferida.
12
Oyá Igbalé e Iansã do Balé são títulos pertinentes à Oya Mensan Orum, “Mãe dos nove céus” ou dos
nove Planetas. É a orixá ligada ao rio Níger, dos ventos e das tempestades. Oyá Igbalé é a denominação
usada pelo candomblé e povo do santo por sua ligação e domínio do cemitério (“igbale” ou “balé”),
depois que Omolu ofertou-lhe parte de seu poder para conduzir os ancestrais egun. Vestindo-se
de branco com o seu irukerê, é encarregada de separar os vivos dos mortos e adorada por todos,
venerada no ritual de (iku) Axexê. Iansã, pelo que entendi neste campo, tem várias qualidades.
13
Outro presente me foi dado pela entidade, mas o presente na verdade foi para meu filho João, que
me surpreendeu tanto quanto.
A experiência da imagem 2p.indd 297 14/09/2016 14:28:07
298 Masbaha também é guia: Allah abre caminho
No dia seguinte fui à mesquita, encontrar-me com os amigos com quem venho
conversando há algum tempo sobre os Malês. Cheguei antes da quebra de jejum
(Iftar), optei por jejuar, talvez, inspirada na experiência, algo vivido intensa-
mente durante o doutorado, mas que retornava agora como uma necessidade
inexplicável deste campo liminar que me coloquei entre islam e candomblé.14
Dois amigos que pesquisam religião dizem que eu sou prescritiva, gosto de
saber a regra e cumpri-la, pode ser, acho que sim. Mas a verdade é que, depois
de dezesseis anos de campo islâmico, o compartilhar virou parte da minha
atuação, algo bem resolvido, eu diria.
O reencontro na mesquita foi especial, conversei um bom tempo com Sheikh
Ahmad que me dizia insistentemente que eu estava diferente desde a última
visita. Sorri, e disse que poderia ser, afinal, Salvador tem seus mistérios, ele
devolveu o sorriso dizendo: “sim, sim professora”.
Enquanto eu contava para ele como pretendia fazer o documentário, ele ma-
nuseava sua masbaha (tasbih em turco) islâmica. É comum muçulmanos
manusearem-na e repetirem: “Allahu Akbar, SubhanAllah, Alhandulillah”.15
Me ouvia com a delicadeza de sempre, como se quisesse passar um pouco de
sua baraka (benção), e leveza. Recontei a história de Cici a ele, sobre o prín-
cipe que veio de Meca. Ele dizia exclamando: “Allahu Akbar! Que maravilha
professora. Eu não sabia disso”.
Depois que acertei com ele os horários das entrevistas e das gravações, ele
se levantou e disse: “Vamos à reza professora?”. Era horário do Asr (oração
da tarde)... e ao se levantar me passou sua masbaha: “pegue-a vai precisar
dela”. Surpresa, só consegui dizer: “Mas, Sher, é sua masbaha. É sua agora,
Barakallahu Fiki (Deus te abençoe) pelo seu trabalho e empenho, recorde a
Deus que será muito lindo o seu trabalho”.
Consegui apenas responder em árabe, JazaKaAllahu Kairan (Deus o recom-
pense), é o que dizemos quando recebemos algum favor ou presente.
Sheikh Ahmad é nigeriano, está há muitos anos no Brasil, e comanda o centro
islâmico de Salvador. A sua tranquilidade e simplicidade cativa muito a todos.
Diariamente quando terminava a jornada de trabalho na mesquita para o If-
tar (quebra de jejum), ele me recebia sempre com a mesma expressão: “seja
14
O jejum se inicia sempre com uma intenção, e a minha intenção era clara, conseguir produzir um
bom documentário. E vários muçulmanos haviam me dito, intencione que você conseguirá.
15
Deus é Maior, Deus seja Louvado, Graças a Deus.
A experiência da imagem 2p.indd 298 14/09/2016 14:28:07
bem-vinda professora, esta é a sua casa”. É fato que entre os muçulmanos, me 299
Somos afetados: experiências mágicas e imagéticas no campo religioso
sinto em casa, então era para lá que eu corria todos os dias antes do pôr do
sol, mesmo porque me impus uma dinâmica transformadora que era jejuar e
trabalhar durante o dia.
Percebi que deveria fazer como Favret-Saad, não tinha como não me deixar
afetar, talvez este fosse o dispositivo para esta etnografia.
Etnografia audiovisual: por onde os encantos passeiam e as
tensões também
Rever Cici depois de dois anos foi um brinde à alegria, à fé, à sensibilidade
de uma contadora de histórias. Cici foi uma espécie de “secretária” de Pierre
Verger, pai Fatumbi, como costuma chamá-lo. Sua intimidade com Verger
ficava explícita em cada palavra e história contada. Partes do que ela conta no
documentário, ela aprendeu com o mestre da fotografia.
Ouvindo Cici falar de Verger, lendo sobre ele e assistindo ao documentário
Pierre Verger: mensageiro entre dois mundos,16 fico com a impressão de que as
dúvidas do antropólogo-fotógrafo entre ser ou não ser do candomblé, acreditar
ou não, tinha uma fala para fora, talvez, para a “academia” e aquilo que ele
vivencia nos espaços internos junto aos irmãos de santo. Para justificar sua
presença ativa no campo religioso ele diz: “O interessante é você conviver,
fazer as mesmas coisas e participar sem intenção de entender. Participando, a
coisa fica completamente diferente”. Ser iniciado, para ele, tem este sentido.
Verger responde em seu documentário: “eu sou só um francês racionalista, sou
tolo por ser assim”. O certo mesmo, como diz Cici, é que ele era um jogador
de Ifá,17 sempre tinha alguém que vinha consultá-lo sobre alguma questão.
É o jogo de Ifá o fio da meada do filme, porque o príncipe que veio de Meca
é o que vai originar o jogo tão conhecido.18
16
Filme de Lula Buarque de Hollanda; roteiro: Marcos Berstein; narração e apresentação de Gilberto
Gil, 1996.
17
Ifá (em yoruba: Ifá) é o nome de um oráculo africano. É um sistema de adivinhação que se origi-
nou na África Ocidental entre os Yorubas, na Nigéria. É também designado por Fa entre os Fon e
Afa entre os Ewe. Não é propriamente uma divindade (Orixá), é o porta-voz de Orunmilá e dos
outros orixás. O que venho apurando é que o jogo tem muito de islam, e dos mistérios que as duas
religiões compartilham, mas isto de alguma maneira vai aparecer no vídeo. Era pai Fatumbi quem
dizia a Cici sempre “isto é muçulmano”.
18
Não vou discorrer sobre este dado, embora seja fascinante, as combinações encontradas e que fazem
junção entre as duas religiões, prefiro que o documentário se apresente primeiro.
A experiência da imagem 2p.indd 299 14/09/2016 14:28:07
300 Uma das falas dele no documentário é quase uma resposta às minhas questões
do doutorado, quando perguntava aos muçulmanos sobre determinadas práti-
cas: “Não há o que perguntar, eles fazem aquilo porque aquilo faz parte deles,
de seu ordinário, e não questionamos o nosso ordinário, apenas o fazemos, se
perguntamos por que você faz isso ou aquilo, estaremos somente apresentando
nossa ignorância”.
Percebi que para realizar este documentário também teria que me colocar no
meio fio, between, estar lá no terreiro, e estar lá na mesquita. Gravei com Cici
na Fundação Pierre Verger, foi o momento da alteridade plena, mas também,
sobretudo, da construção da subjetividade da pesquisadora que se deixa afetar.
Cici conta com suavidade a história do príncipe de Meca e sobre as aproxima-
ções que vê entre as duas religiões, em certo momento me diz, “se eu tivesse
um pano branco, eu cantaria uma cantiga para você”. Cici é filha de Oxalá, em
geral os filhos de Oxalá se cobrem com um pano branco que se chama ala, é uma
forma de proteção. Respondi a ela que eu tinha um pano branco, o meu hijab
(lenço islâmico) que estava em minha mochila. Ela colocou-o delicadamente
e começou a cantar. Nascia assim o vídeo, a viagem pelo mistério de quem se
deixa revelar... buscava incessantemente que os interlocutores sugerissem sua
própria maneira de contar sem que a posição de “poder” da antropóloga se
evidenciasse sobre eles. Para mim, era nítido que a poesia está em todos os
lugares e a teoria pode alcançá-la quando se aproxima dela (MINH-HA, 1991,
p. 156), e que o vídeo era, sim, uma forma de poesia, que pretendia contar.
No entanto, precisava estar atenta aos limites dessas religiões na produção da
imagem. Cici me dizia que pai Balbino, seu pai de santo, e também de Verger,
não aceitava que pessoas fora do terreiro fotografassem seus rituais, fazia restrição
rígida a isto, nem adiantava pedir. Pensei na hora, preciso conhecer pai Balbino,
talvez, o axé dele também contribua para a realização do documentário, e era para
mim, uma curiosidade saber quem era o pai de santo de Verger. No islam também
há restrições ao uso de imagens (FERREIRA, 2001), qualquer imagem que se
“iguale” a Deus é indesejável. No islam o tawid, a unicidade, deve ser preservada.
Marquei com Maria conhecedora de todos os terreiros de Salvador, e fora
de Salvador, a ida ao terreiro de Balbino, haveria uma festa lá que remetia a
Xangô. Novamente Xangô me respondendo, pensei...
A coincidência é que o rapaz que contratei como câmera era filho de santo da
casa, Ogan19 do terreiro, e também irmão de Cici, no terreiro, filho de Oxalá.
19
Ogan (do iorubá -ga: “pessoa superior, chefe”, com possível influência do jeje ogã “chefe, dirigen-
te”) é o nome genérico para diversas funções masculinas dentro de uma casa de candomblé. É o
A experiência da imagem 2p.indd 300 14/09/2016 14:28:07
A relação tensa que tive com este rapaz, ainda será objeto de análise da pesquisa- 301
Somos afetados: experiências mágicas e imagéticas no campo religioso
dora, talvez pudéssemos dizer que os nossos orixás não conversaram. Mas se era
Oxalá, não via muita razão para tanto desencontro. O que realmente descobri a
posteriori e, que para mim, faz sentido, é o fato de ele ter sido do movimento
negro, e também ter escondido que conhecia alguns muçulmanos do movimen-
to negro que são hoje meus amigos. Havia algo velado ali, que só descobri em
São Paulo, no contato com esses muçulmanos e na conversa com Maria que me
dizia: “você é branca, mulher e professora da USP, preciso dizer mais alguma
coisa? E está pagando o trabalho!”. A verdade é que em certo dia, antes de sair
para gravar, apelei ao Sheikh Jihad que me enviasse uma súplica de proteção20
para poder fazê-la antes de sair com este rapaz, porque a cada dia, ficava mais
pesado o trabalho. Chegava atrasado, dizia que estava cansado, que a câmera
pesava. É comum o resmungo de um filho de Oxalá, mas aquilo já era em excesso.
O fato é, quando cheguei ao terreiro, ele a princípio fingiu que não me conhe-
cia e só depois que eu havia feito contato com os filhos próximos de Balbino
é que veio me cumprimentar. Uma Ekedi21 do terreiro intermediou junto ao
Balbino para que eu fizesse as fotografias da procissão, mas na verdade levei
a câmera por esquecimento, pois nem faria este pedido a ele, apenas queria
conhecê-lo e conhecer seu terreiro. A autorização veio de forma surpreendente.
Minha familiaridade em fotografar à noite é quase nula, mas consegui fazer
algumas imagens em meio à pressa, pois se tratava de uma procissão em volta
da casa, na qual me senti olhada por todos da casa. Maria me confidenciou
que as pessoas perguntavam a ela, quem era aquela moça branca que fotogra-
fava. Ela sorriu e dizia que era uma Iansã Balé. Talvez por isso, no momento
que a minha saia prende-se em um dos galhos, escutei uma Eparrei Iansã de
algumas pessoas próximas, mas na verdade estava absorvida em acompanhar
Balbino, que ao entrar na casa faz sinal para que eu não fotografasse... a noite
seguiu muito linda...
No dia seguinte, saí da mesquita acompanhada do cinegrafista, determinada a
fotografar a igreja da Lapinha, igreja construída principalmente por escravos
sacerdote escolhido pelo orixá para estar lúcido durante todos os trabalhos. Ele não entra em transe,
mas mesmo assim não deixa de ter a intuição espiritual.
20
Queria postar a súplica aqui, mas tive dois cadernos de campo roubados em fevereiro de 2014.
E este texto está sendo construído a partir da minha memória. Depois que uma amiga me lembrou
que Leach também perdeu seus cadernos de campo, me senti, um pouco melhor, antropólogos
perdem ou tem seus cadernos de campo roubados. Outros me disseram que é bem comum a perda
de cadernos de campo, mas os meus são no estilo clássico, então me fazem falta.
21
Ekedi, Ajoiê e Makota nomes dados de acordo com a nação do candomblé, é um cargo feminino de
grande valor, escolhida e confirmada pelo Orixá do Terreiro de candomblé (não entram em transe).
A experiência da imagem 2p.indd 301 14/09/2016 14:28:07
302 Malês e que, além de uma arquitetura interna árabe-islâmica, tem um minbar
(lugar onde o Sheikh faz o sermão na Salat Jummah/oração de sexta-feira).
Chegamos à igreja no meio da tarde, e a encontramos fechada, pensei logo que
se os negros Malês haviam feito aquela igreja, eles certamente, como Pretos
Velhos, abririam a casa. Pedi a ele, sem cerimônia, e com a fé dos devotos...
o padre chegou logo em seguida que invoquei meu pedido aos bons velhos
Malês. Fizemos todas as imagens e o documentário certamente vai se fartar
delas. Ao final o câmera dizia estar cansado que seu equipamento esta pesado.
Só consegui rir, e lembrá-lo que tripé serve para facilitar o trabalho.
Aguardando o próximo Ramadã22
Foto: Vitor Grunvald
Acho que chegamos ao final novamente inspirados em Marcio Goldman, “a
característica fundamental da antropologia seria o estudo das experiências
humanas a partir de uma experiência pessoal” (2006, p. 167).
Talvez as experiências entre pesquisador e pesquisado sejam o caminho que
nos leva aos encontros etnográficos mais profundos. Em texto que publiquei
recentemente, escrevo:
22
O próximo Ramadã começa em 27 de junho de 2014.
A experiência da imagem 2p.indd 302 14/09/2016 14:28:07
A premissa da etnografia não é só olhar, escutar e escrever, é também, fazer do corpo 303
Somos afetados: experiências mágicas e imagéticas no campo religioso
instrumento do exercício etnográfico. Meu argumento é que o corpo deve estar
empenhado em realizar a descoberta de Si e a descoberta do Outro. Ouso propor
aqui algo mais ampliado: é preciso colocar o corpo à prova. O que isto significa?
O fazer etnográfico deve ser acompanhado da experiência deste pesquisador que
se deixa afetar, deixando que os seus sentidos sejam remodelados. Aprender a
ser como, o estado subjuntivo, no qual Turner23 e Winnicott dialogam. O como se
permite ao pesquisador descobrir-se de forma mais intensa na pesquisa de campo.
(FERREIRA, 2013, p. 280)
É possível que os caminhos que escolhi da experiência deste sensível islâmico
e afro-brasileiro me tenham levado às questões do ser/fazer. Ser presenteada
inicialmente e sentir que Allah também abre caminho, se quiser, InchAllah! (se
Deus quiser, a máxima islâmica para todas as coisas) podem ser organizadas de
modo que a etnografia permeie este limite tênue entre eu e o outro. Lembro
de um aluno da Federal de Goiânia que me perguntava se a experimentação
não me tornava o outro. Eu perguntei a ele: o que é outro? [silêncio]. No limite
nos remete à ideia que isto ou aquilo se refere à cultura do outro como algo
distanciado, nos colocando em uma antropologia malinowskiana, que separa
rigidamente os pares eu/outro. Na minha proposta os limites são borrados.
Na difícil tarefa que é interpretar o nativo, o melhor mesmo é fazer junto, e
ir aprendendo este sensível, se permitindo fazer parte dele. É bem comum
como chama atenção Trinh T. Minh-Ha que
a experiência do antropólogo em interpretar ganhe em reconhecimento científico
como agora com a ambição de ser também uma gravação leal e tradução da men-
talidade nativa. Em outras palavras, a linguagem é um meio através do qual um
intérprete chega ao posto de um cientista. O antropólogo onisciente tem que falar
com [o nativo], sob todos os tipos de condições e para escrever suas palavras, “para”
afinal, se os nativos poderiam nos fornecer contas corretas, explícitas e consistentes
de sua organização tribal, costumes e ideias, não haveria dificuldade em trabalho
etnográfico. (1997, p. 74)24
23
Ver From Ritual to Theatre (1982, pp. 82-84). Turner cita o dicionário Webster’s Dictionary: o
subjuntivo sempre tem a ver com “desejo, possibilidade, ou hipótese”; é o mundo do “como se”,
que abrange desde a hipótese científica à fantasia da festa. É o “como se fosse”, em vez do “é”.
Trata-se de expressar algo possível ou simplesmente desejado.
24
No original: “the anthropologist’s expertise in interpretation gains in scientific recognition as it
now swells with the ambition of being also a loyal recording and translation of native mentality.
In other words, language is a means through which an interpreter arrives at the rank of a scientist.
The omniscient anthropologist has to talk with [the native] under all sorts of conditions and to
write down his words, ‘for’ after all, if natives could furnish us with correct, explicit and consistent
A experiência da imagem 2p.indd 303 14/09/2016 14:28:07
304 Neste “tem que falar” optei em fazer com, e permear com histórias a serem
contadas, com uso de imagens (desenhos, pinturas, fotografias), sons, corpos e
poemas. Não é o caminho mais fácil, talvez, por isso a finalização de um vídeo
como este envolveu vários “mistérios”, “segredos” o que o torna mais instigante,
mas também mais complexo de lidar com a sua finalização, pois como diria os
sufis “o segredo se guarda a si mesmo”. Porque não é só de boas imagens que se
faz um vídeo, é preciso ter uma entrada que satisfaça às questões que trago do
islam e aquelas que trago do candomblé, no fundo, minha subjetividade precisa
ser contemplada nesta zona de conforto que estranhamente não encontramos
no fazer antropológico, porque em campo é a tensão, nos textos quase tudo
é limpo, no vídeo é preciso limpar, mas o que de fato quero ou devo limpar?
Antes de me despedir de Salvador, minha, agora, amiga incorpora novamente
uma entidade e me presenteia com outra guia, “presente de Oxalá”, diz o
marido dela, mas esta guia, muito mais bonita que a minha, não era para mim,
e sim para o meu filho caçula, que é segundo eles, filho de Oxalá e a quem
devo consultar sempre que precisar. Certamente Oxalá se fez presente em
vários momentos... não poderia ficar fora deste documentário. Veja o filme
e procure-o, há uma cena, quase no final do vídeo feito por Vitor Grunvald,
em que ele novamente aparece, mistérios de Salvador. Quem tem olhos, que
veja, quem tem sentidos, que o procure.
Só Allah e Oxalá poderão dizer com suas expressões impregnadas de nós/eles,
eu/eles. Na véspera de retornar ao campo para finalizar as gravações, recebi
esta mensagem inbox no Facebook:
Salam, td bem?
Lembrei agora. Há uns dois ou três dias sonhei que assistia a uma roda de candom-
blé. Só tinha homens, todos de branco e por cima das roupas eles usavam Keffie25
amarrados de todas as maneiras! Uns na cabeça, outros nos ombros. E eu me lem-
brava de vc e pensava “esses aí já são os Malês?”. Antes do Islam, meu sonho era
me iniciar no candomblé me disseram que eu seria muçulmana um dia. E sim, eu
sonho para as pessoas com quem tenho afinidade! Hahaha sempre foi assim. Há
tempos que não acontece. Bjsssss e que Allah esteja satisfeito com os Malês e com
você. (Flávia Costa, Facebook, inbox, 3 abr. 2015)
Amém!
accounts of their tribal organization, customs and ideas, there would be no difficulty in ethnographic
work”. Tradução de Jessi Sklair, Cadernos de Campo, n. 15, 2006.
25
Lenço palestino.
A experiência da imagem 2p.indd 304 14/09/2016 14:28:07
Bibliografia 305
Somos afetados: experiências mágicas e imagéticas no campo religioso
ARAÚJO, Fabiano Lucena de. O feito & o olhado: performances da aflição e a liturgia popular dos
corpos em afecção. Mestrado em antropologia (dissertação). Universidade Federal da Paraíba, 2015.
FERREIRA, Francirosy, C. B. Imagem oculta: reflexões sobre a relação dos muçulmanos com as imagens
fotográficas. Mestrado em Antropologia (dissertação), PPGAS-USP, 2001.
_____. “Pesquisadoras e suas magias: uma meta- antropologia”. In: Antropologia e performance: ensaios
napedra. São Paulo: Terceiro Nome, 2013.
_____. “Antropologia e misticismo: diálogos com uma nativa na rede”. Iluminuras, v. 14, n. 32, pp.
146-59. 2013. Disponível em: <http://seer.ufrgs.br/iluminuras/article/viewFile/37749/pdf>.
Acesso em jan. 2016.
CEZAR, Lilian Sagio. Congada e a câmera: ação afro-descendente e representação midiática. Mestrado
em multimeios (dissertação), IA-Unicamp, 2005.
DAWSEY, J; et al. Antropologia da performance. São Paulo: Terceiro Nome, 2013.
EVANS-PRITCHARD, Edward E. Bruxaria, oráculos e magia entre os Azande. Rio de Janeiro: Zahar,
2005.
FAVRET-SAAD. “Ser afetado”. Cadernos de Campo, n. 13, pp. 155-61. 2005.
GIUMBELLI, E. “Os Azande e nós: experimento de antropologia simétrica”. Horiz. antropol. v. 12
n. 26. 2006.
GOLDMAN, Marcio. “Os tambores dos mortos e os tambores dos vivos: etnografia, antropologia e
política em Ilhéus, Bahia”. Revista de Antropologia, v. 46, n.2, pp. 445-76. 2003.
GOW, P. Comunicação pessoal, 1998.
SCHECHNER, Richard. Between Theater and Anthropology. Philadelphia: University of Pennsylvania
Press, 1985.
TRINH, Minh-Ha T. When the Moon Waxes Red: Representation, Gender and Cultural Politics [1991].
Nova York/Londres: Routledge, 1989, p. 74.
TURNER, Victor. From Ritual to Theatre: the Human Seriousness of Play. Michigan: Performing Arts
Journal Publications, 1982.
A experiência da imagem 2p.indd 305 14/09/2016 14:28:07
A experiência da imagem 2p.indd 306 14/09/2016 14:28:07
Etnografia e hipermídia: a cidade como
hipertexto e as redes de relações nas ruas em
Niterói/RJ1
ANA LÚCIA MARQUES CAMARGO FERRAZ
O presente artigo pretende se acercar de responder a seguinte questão: o que
pode a etnografia na linguagem hipermídia? Discuto as formas de apresentar a
etnografia das redes de relações das classes trabalhadoras pauperizadas de Nite-
rói, no Rio de Janeiro (Brasil) em linguagem multimídia. A questão norteadora
da reflexão aqui desenvolvida é como expressar o conhecimento produzido
pela etnografia das relações entre posições de onde se experimenta a cidade.
Para dar conta de tal desafio, visamos construir um método cartográfico para
apresentar perspectivas sobre a vida urbana, vista a partir da experiência de
sujeitos específicos. Aqui, não se trata de pensar o espaço, estudar a praça
pública, mas de reconstruir experiências, lances de vista oriundos de posições
sociais de onde se vive a cidade de determinada maneira. O objetivo do trabalho
é relacionar posições, constituindo seus pontos de vista, mapeando a rede que
configura a classe trabalhadora como conjunto heterogêneo.
A pesquisa busca desenvolver uma cartografia em hipermídia dos espaços da
cidade tal como experimentados por nossos personagens. Parece hoje que os
1
Este artigo é resultado de pesquisa desenvolvida junto ao GRAVI - Grupo de Antropologia Visual
da USP, no âmbito do projeto temático “A Experiência do Filme na Antropologia”, financiado pela
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processo n. 2009/52880-9 e do
projeto Cartografias da Margem, em seu subprojeto Memória e Tecnologia Social. Oficinas de produção
de imagens entre moradores de bairros populares de Niterói. PIBITI/PROPPI/UFF, 2014/16.
A experiência da imagem 2p.indd 307 14/09/2016 14:28:07
308 recursos digitais poderiam fornecer novos padrões para abordagens antropo-
lógicas, restituindo a experiência, difundindo o conhecimento etnográfico
(SCHOENI, 2014, p. 89). Dialogo, na concepção do projeto Cartografias da
Margem, com alguns trabalhos recentes que concebem uma forma para apre-
sentar o conhecimento etnográfico produzido em sites ou outras plataformas
nas quais se apresentam uma multiplicidade de imagens, textos, sons, sequên-
cias fotográficas, entre outras (GLOWCZEWSKI, 2006; RAMELLA, 2014).
Desde Warburg, em seu Atlas Mnemosyne,2 a espacialização da organização
das imagens concebe plataformas como mapas cognitivos. Mas, segundo
Didi-Huberman (1998), para além de uma lógica territorial, que visa conter
o mundo ali representado, portanto organizado, compreendido, capturado; a
lógica das cartografias imagéticas pode permitir ultrapassar fronteiras, atraves-
sar territórios, pensar criticamente. O autor defende que tomemos a imagem
como sintoma (DIDI-HUBERMAN, 1998), atentando para o fato de que a
imagem-memória irrompe; o sintoma revela diferenças entre imagens, suas
relações conflituosas, montagens de heterogeneidades. Enquanto o símbolo
unifica realidades a partir dos códigos herdados pela sociedade, o sintoma dá a
ver o esquecido, subterrâneo, presente (id., ibid.). Nossa cartografia deve então,
localizar o simbólico e o sintomático que vive às margens da imagem, o exemplo
etnográfico da segunda parte do texto deve concretizar nossa compreensão.
Aby Warburg constituía mapas cognitivos, Glowczewski (2006) fala em mapas
mentais que se materializam em trilhas esculpidas pelo ato de caminhar o chão,
lugares de sonhar, em bases digitais de dados antropológicos. Entre um e outro,
o refinamento da experimentação em produzir constelações de imagens. Essa
experiência é técnica e política, e demanda que apreendamos as linguagens
do mundo. Em Dream Trackers/Pistes des rêves, um DVD interativo reúne os
materiais de sua pesquisa sobre os caminhos Walpiri no deserto, “a circulação
de sistemas culturais de conhecimento” (2007, p. 183). Em Linhas e entre-
cruzamentos: Hiperlinks nas narrativas indígenas australianas, Glowczewski
(2007) apresenta o seu foco: “a percepção da memória como espaço-tempo
virtual e a maneira como eles [os aborígenes] projetam o conhecimento em
uma rede geográfica, tanto física quanto imaginária” (GLOWCZEWSKI, 2007,
p. 176). Pensando em redes, a autora localiza uma teia virtual de narrativas,
2
O Atlas Mnemosyne de Aby Warburg é um compendio de imagens que apresenta uma nova forma
de se fazer história, por associação, mobilizando o inteligível pelo sensível (SAMAIN, 2011, p. 36).
O Atlas propõe reestruturar o pensamento por meio da imagem. O trabalho valorizava a visualidade,
construindo painéis-montagem. Neles, a leitura da história valorizava a semelhança e operava por
meio de saltos, como vemos também na obra das Passagens, de Walter Benjamin (SELIGMANN-
-SILVA, 2007, p. 109).
A experiência da imagem 2p.indd 308 14/09/2016 14:28:07
imagens e performances, na maneira reticular como os aborígenes Walpiri 309
Etnografia e hipermídia: a cidade como hipertexto e as redes de relações nas ruas em Niterói/RJ
mapeiam seu conhecimento e experiência de mundo.
Em nosso caso, visamos a cidade de Niterói, seus personagens, homens e mu-
lheres da rua, que vivem nos morros e ocupações, habitam a praça pública.
Na rua, as relações são imediatas, velozes; ao passo que na “Comunidade”3 o
tempo é moroso, acordar, conseguir o de comer, embriagar-se de luz, anoite-
cer. Sempre armados, digo, prontos, atentos, habitam seu mundo, as portas
cheias de vielas que se aprofundam no terreno em direção à mata (onde ela
ainda existe). O morador dessa posição na cidade é um sobrevivente, isto é,
tem um repertório de experiências de risco de vida, tem muitos conhecidos
com experiência de cárcere. Vive literalmente na margem da cidade. Acom-
panhamos os seus trajetos.
A relação entre forma e conteúdo nesse trabalho é determinante, incorporamos
materiais de vários formatos, captados em distintas situações e por autores
vários que passaram pela equipe do projeto. O material não se pretende belo,
embora haja algo de beleza na vida que resiste. O trabalho caracteriza-se so-
bretudo por uma estranheza que não pretende se disfarçar em familiaridade.
Aqui o mapa ganha a fisicalidade da cidade, com ruas, morros, casas, ocupações,
praças, bicicletas e gente. Notando com Telles que “o que antes foi dito e escrito
sobre a cidade e seus problemas, a “questão urbana”, parece ter sido esvaziado
de sua capacidade descritiva e potência crítica em um mundo que fez revirar
de alto a baixo o solo social das questões então em debate” (2010). A autora
auxilia a entender o modo como ilegalismos redefinem as tramas urbanas, as
relações sociais e relações de poder em situações variadas. A asserção “o Estado
de exceção é a regra”, de Walter Benjamin (1994), segue hoje válida, e tem
implicações inclusive sobre a forma deste trabalho.
Diante da indiferença e da banalização da vida das classes trabalhadoras no Rio
de Janeiro, o corpo se torna abjeto (KRISTEVA, 1982), justamente porque
não se pensa esse extrato precarizado da classe como morador da cidade, seu
igual, seu vizinho; o que tem suas relações com a experiência brasileira, marcada
pelas formas de relação com o outro que herda uma formação escravocrata.
A publicação na internet das imagens etnográficas produzidas entre popula-
ções que vivem expostas à violência implica em dar a ver a sua existência. O
problema do constituir-se em imagem visibiliza as parcelas da população que
3
O termo “Comunidade” é o modo que os moradores das favelas do Rio de Janeiro adotaram para
referirem-se a seus espaços de moradia, trata-se de uma disputa simbólica para afastar o caráter
estigmatizante do segundo termo, como discutem em seus trabalhos Freire (2008) e Birman (2008).
A experiência da imagem 2p.indd 309 14/09/2016 14:28:07
310 ocupam a experiência precária da margem, da fronteira do representável, do
cognoscível, do imaginável. Visibilizando certos modos de ocupar a cidade e as
relações que os mantêm, circulamos a imagem do “outro social”, o morador da
cidade dos trabalhadores, apresentando-o mais que como “sujeito de direitos”,
como agência de afetos.
Pensar a linguagem do trabalho que estabelece o encontro pesquisador/pes-
quisado/receptor. O receptor que interage com o site produz sentido na ex-
periência de recepção. O interator pode construir “sua própria dramaturgia no
contato com o material da pesquisa”, como entende Anna Lisa Ramella (2014,
p. 12). Em seu site La Vie du Rail,4 segue a estrutura do mapa e a “busca de
conexões translineares de ideias”. Em uma outra experiência, levada a cabo
pelo National Film Board do Canadá, o site Out My Window,5 temos panorâ-
micas de 360 graus que revelam os espaços habitados das casas em distintas
cidades, a vida em apartamentos. Compõem espaços internos a partir de mo-
saicos elaborados de fotografias. Montagens fotográficas com intervenção em
desenho constituem o panorama do espaço habitado, além da reconstrução das
paisagens visuais e sonoras. Num segundo nível de acesso, encontramos de-
poimentos articulados com fotografias, especial atenção é dedicada à música.
Em ambos os casos, são histórias independentes, articuladas em série, aqui,
ligadas pelo território que é reconstruído a cada lance.
Catarina Alves Costa é autora de uma série de filmes etnográficos e tem re-
centemente realizado algumas instalações em vídeo. Em seus trabalhos mais
recentes, tem-se valido dessa linguagem que nomeamos performática. Refiro-
-me a duas peças em especial, Caretos e Casas para o povo. Este último, apre-
sentado na Bienal de Arquitetura de Lisboa, retoma a experiência daqueles que
se engajaram na revolução dos cravos a partir das imagens de sua família, de sua
infância. O trabalho pauta-se na pesquisa de acervos pessoais e composição de
trilha sonora, atualizando a experiência de ter vivido este momento histórico.
Destacando o trabalho de arquitetos que se engajaram nas lutas populares
por moradia, o curta-metragem reconstrói o espírito, restituindo em imagem,
som e ritmo, aquele momento. Em seu outro vídeo, Caretos, a câmera está na
festa de rua, caminha entre as pessoas, atenta, mira o careto6 que se aproxima.
Perigo! Na obra de Catarina Alves Costa temos uma concepção que valoriza
4
Disponível em: <www.laviedurail.net>. Acesso em jan. 2016.
5
Disponível em: <http://www.outmywindow.nfb.ca/#/outmywindow>. Acesso em jan. 2016.
6
Os caretos são máscaras carnavalescas da região de Trás-os Montes, em Portugal, figuras rodeadas de
mistério, mobilizando o sarcasmo e o patético, utilizando-se do contato corporal com os passantes.
A este respeito, ver Raposo (2010).
A experiência da imagem 2p.indd 310 14/09/2016 14:28:07
o instante etnográfico como aquele que constrói a relação com o outro e a 311
Etnografia e hipermídia: a cidade como hipertexto e as redes de relações nas ruas em Niterói/RJ
densidade da experiência como produtora de sentidos.
No projeto Cartografias da Margem a disputa pela representação social legíti-
ma, pelo reconhecimento dos “moradores de rua” como sujeitos de direitos,
está em questão. Observamos recentemente o surgimento de comunidades
de redes sociais baseadas nas grandes cidades brasileiras (o FbRioInvisível7 e
o FbInvisibleSãoPaulo8, por exemplo, são algumas delas) que apresentam seus
personagens a partir de um recorte biográfico. A iniciativa é mais uma que
opera no sentido de dar visibilidade às populações que estão vivendo nas ruas
das grandes cidades brasileiras. Sontag (1977), em seu livro Sobre fotografia,
afirma que a imagem fotográfica estetiza e ao fazê-lo banaliza o visto como
conhecido à distância. Este seria o caso das imagens que circulam nos grandes
meios, aquelas que reforçam a vitimização de tais populações, o ponto de vista
que torna tais personagens abjetos. A outra possibilidade seria fazer uma his-
tória dos perdedores, mas a imagem do perdedor não mobiliza nem promove
identificação. A etnografia em multimídia, que cartografa a cidade tal como
experimentada desde a sua margem, lida com as possibilidades da imagem na
constituição de pontos de vista outros e se defronta com uma subjetividade
da rua, a experiência sensível de alteração dos sentidos vivida e buscada, suas
paisagens sonoras e seus interiores. O que vemos em nossa cartografia é a
constante metamorfose da cidade, que varia conforme o ponto de vista.
Mas como expressar as dinâmicas sociais em um mapa? Pensamos aqui o
problema da representação dos processos. Florestan Fernandes criticou
a pretensão mapeadora como pretensão estática e estatizante, ciência de Es-
tado. No entanto, seria importante aqui distinguir cartografia como modo de
disponibilizar uma estrutura para o conhecimento do espaço como algo dado
e, por outro lado, modo de construir pontos de vista a partir dos quais o espa-
ço como objeto se re-figura. Assim, “mapear é epistemológico, mas também
profundamente cosmológico” (KITCHIN & DODGE, 2007). Os debates
recentes sobre cartografia apontam outras possibilidades, assim, o mapa não
fixa o já dado, mas é produtor daquilo que dá a ver (id., ibid.; WOOD, 2012).
Aqui, o espaço é um (des)fazer-se contínuo e frágil da vida nua. A vida se dá
em instantes. O critério adotado baseou-se nas relações estabelecidas com
indivíduos específicos, na experiência etnográfica, encontrando pontos onde
posicionar-se para nomear a experiência da cidade. Apostamos no acompanha-
7
Disponível em: <https://www.facebook.com/rio.invisivel?fref=ts>. Acesso em jan. 2016.
8
Disponível em <https://www.facebook.com/InvisibleSaoPaulo?fref=ts>. Acesso em jan. 2016.
A experiência da imagem 2p.indd 311 14/09/2016 14:28:07
312 mento de casos com os quais dialogamos ao longo de tempo. Hipermídia, como
rede de imagens cruzadas referenciadas a uma base comum, permite aproximar
lances de olhos da experiência vivida pelas franjas populosas dos pedaços em
que uma socialidade outra vai se territorializando. Uma antropologia das classes
trabalhadoras precárias e criminalizadas exige atentarmos para os processos
materiais e simbólicos, antes de serem modos em que a classe trabalhadora é
meramente adjetivada. Todavia, o que aparece de substantivo, quando a classe
se enfrenta com o desafio de constituir-se como imagem? Relações, modos
de vida, intensidades. Porque “o errante não vê a cidade de cima, a partir da
visão de um mapa, mas a experimenta desde dentro; ele inventa a sua própria
cartografia a partir de sua experiência itinerante”, como propõe Jacques:
As narrativas errantes foram escritas nos desvios da própria história do urbanismo.
Elas constituem um outro tipo de historiografia, ou de escrita da história, uma
história errante, não linear, que não respeita a cronologia tradicional, uma história
do que está na margem, nas brechas, nos desvios e, sobretudo, do que é ambulante,
não está fixo, mas sim em movimento constante. (2006, p. 24)
No caso do Rio de Janeiro, temos visto o modo como a intervenção militar
se dá nos espaços de vida e moradia populares, as favelas ou “comunidades”,
como preferem se nomear. Nesses espaços, o Estado implantou as Unidades
de Polícia Pacificadora (UPP’s), impondo um controle militar das áreas onde
vivem as classes trabalhadoras. Com o argumento do combate ao narcotráfico,
as forças repressivas estão autorizadas a invadirem os espaços domésticos,
a abordarem quaisquer indivíduos, a revistas armadas de toda a população.
Travestida de política de segurança pública, impõe-se a terrível prática estatal
de controle populacional.
Cartografamos séries de relações, isto é, um mapa da vida em seus movimentos
de afinidade ou evitação. A partir de tais relações vão se constituindo os pontos de
vista sobre a cidade tal como experimentada. Mapeamos espaços de visibilidade/
invisibilidade, em que o primeiro termo implica atuar, tornar-se visível, constituir-
-se como imagem que circula socialmente, e o segundo é a relação de evitação
fruto da abjeção social. No outro extremo, estão as posições que não aparecem
no espaço público, imagens que não podem aparecer, imagens veladas, ou que
aparecem carregadas de estereótipo, como na grande mídia, imagens que são
recusadas socialmente. A literatura produzida na área limita-se a lidar com as
representações sociais instituídas opondo trabalhadores a bandidos (ZALUAR,
1994) ou adjetivando os sujeitos, marcando-os com a categoria lumpemprole-
tariado (NEVES, 2010). Assumir o ponto de vista dos sujeitos demanda outro
tratamento para sua existência, considerar a sua potência de performance.
A experiência da imagem 2p.indd 312 14/09/2016 14:28:07
Mas, os pontos de vista desde onde se constrói esta cartografia se assumidos 313
Etnografia e hipermídia: a cidade como hipertexto e as redes de relações nas ruas em Niterói/RJ
com seriedade nos levam a notar uma ampla rede de relações estabelecidas
entre diversos setores da classe empobrecida: órfãs que cresceram em insti-
tuições do Estado, mulheres que engravidaram aos catorze anos e hoje têm
quarenta, guardadores de carros, esquizofrênicos, trabalhadores da construção
civil aposentados, soldadores desempregados, jardineiros idosos, cozinheiras
demitidas, mães de muitas crianças, que habitam casarões que permaneceram
fechados e foram ocupados há mais de duas décadas. Suas relações se mantêm
ao compartilharem o mesmo espaço social na cidade, trocam favores e afetos,
compartilham trabalho e cachaça, estabelecem relações de compadrio, numa
noção de familiaridade mais que de família.
O risco é vivido cotidianamente, posto que nessa cidade outros poderes
territorializam o espaço. Nos morros, soldados do tráfico de substâncias cuja
comercialização é considerada crime pelo Estado impõem zonas de circulação
permitida ou proibida, assim se formam as áreas controladas por esta ou aquela
facção, ou pela milícia oriunda das polícias, que cobra por serviços clandestinos
como “gatos” de televisões a cabo, água e luz e disputam em tiroteios o controle
da área. A praça é espaço de visibilidade e controle de uma das facções. Algumas
imagens ali são proibidas. Esta etnografia inicia sua tomada de posição a partir
do espaço da praça da Cantareira, em Niterói, tal como vivido pelos persona-
gens que a habitam noite e dia, seus moradores, e, daí, seguimos aos outros
espaços de vida e relações estabelecidas a partir das construções daqueles que
fazem dessa posição o seu ponto de vista: ocupações, favelas, cortiços.9
No site Cartografias da Margem vislumbramos redes de socialidade que es-
truturam relações. Experimentamos modos de desessencializar o outro, sem
pressupor uma “cultura” que prescreve, observar a posição de quem age, como
e por que age e em que contexto. Estudamos suas redes de relações, assim a
vida social se mostra em ação a partir de posições que jogam entre si. Mas o
problema da visibilidade se configura de modo particular na pesquisa etno-
gráfica, trata-se de assumir o ponto de vista daqueles que vivem as histórias,
assumir seus lugares na cidade.
Tal pesquisa lida com as formas sensíveis com as quais interagimos, que se
experimentam com o corpo, linguagens a apreender. Mas, como incorporar
na escrita a sensação dos becos e vielas da favela (OPIPARI, 2011), como se
a arquitetura prescrevesse a ginga como apontou Oiticica (BERENSTEIN,
2014)? Para lidar com o desafio de uma cartografia que apreenda o movimen-
9
Situo com maiores detalhes o contexto do recorte etnográfico dessa investigação em Ferraz (2012).
A experiência da imagem 2p.indd 313 14/09/2016 14:28:07
314 to dos processos sociais de reterritorialização e desterritorialização que estão
em curso, de permanente reinvenção de táticas de ocupação da cidade pelas
classes trabalhadoras, experimentamos linguagens e narrativas, aqui a aborda-
gem etnobiográfica como dispositivo contrasta com a performance dos corpos
que falam por si sós. Discutimos a criação de uma linguagem etnográfica em
multimídia para aprofundar o experimento de criação de base na rede mundial
de computadores, ao passo que justamente visibilizamos o personagem dos
processos sociais imerso em suas questões.
No texto, o recurso à imagem concretiza, contraria, difere. Aqui, narro casos
constituindo figuras, discuto o paradoxo da imagem enquanto representação,
presença e fantasma. Apresento dípticos e trípticos, sequências fotográficas
que dialogam com o texto por contraste, antecipação ou enviesamento. Mas, os
sujeitos eles mesmos produzem suas performances, quando encenam a cidade
tal como experimentada para a câmera.
O mosaico como interface
A interface adotada como primeira tela da estrutura composta de hiperlinks é
um mosaico construído pela equipe do projeto.10 Para dar a ver a fisicalidade
do espaço, optamos por uma imagem-base, um plano geral em plongée que
visibiliza a praça da Cantareira e as vias no seu entorno, espaços de trajetos,
de ocupações diversas, por inúmeros sujeitos. As inserções que foram so-
brepostas a essa imagem-base são planos de detalhe de lugares, objetos ou
pessoas, que assumem a função de links para outros territórios. O dispositivo
imagem-base com interferências compõe um plano sobre o qual se inserem
os caminhos seguidos pela pesquisa. Apresento a seguir a imagem em elabo-
ração para a interface de hiperlinks digitais. A seguir, discuto os dispositivos
que elaborei em cada uma das situações estudadas e as apresento em texto.
No site, as sequências de imagens sucedem-se e convivem lado a lado com os
sons captados que compõem as paisagens sonoras de quem vive uma posição
específica. Lugares de vida e dispositivos de imagem, de narrativas e de per-
formance. Os pontos no mapa como hiperlinks conduzem a outros vídeos ou
sequências fotográficas e sonoras. O ponto já é um deslocamento no tempo
10
Agradeço a todos os jovens pesquisadores que participaram das distintas fases do projeto Cartografias
da Margem na Universidade Federal Fluminense, entre os anos de 2012 e 2015: Adriana Xerez,
Pedro de Andrea Gradella, João Inácio Cardoso Rocha, Jeisse Alvares, Pedro Ivo Mira da Silva,
Caroline Gatti, Diogo Campos do Santos, Vinícius Rocha do Nascimento, Giulia de Vito Nunes
Rodrigues, Raylane Christian Braz de Oliveira, Renata Carvalho Rodrigues Souza, Ícaro Torres e
Josep Juan Segarra.
A experiência da imagem 2p.indd 314 14/09/2016 14:28:07
e não há cronologia, somente o tempo retomado pelas narrativas, quando são 315
Etnografia e hipermídia: a cidade como hipertexto e as redes de relações nas ruas em Niterói/RJ
biográficas. Na imagem inicial, os links restituem as experiências que encon-
tramos. A interface localiza trajetos, áreas de ocupação.
Cartografias da Margem. Mosaico em esboço para interface clicável.
Trabalho em processo.
A imagem invisível
A única condição de visibilidade é habitar o mapa, sentar nos bancos da pra-
ça a ouvir histórias, ver performances, interagir. A cidade vivida por nossos
interlocutores é voraz. Compartilhar a crítica é o que torna possível assu-
mir a posição de onde se vê a cidade. Um engajamento algo mais material,
alimentá-los era a troca que alguns me exigiam. Encontrar em mim a atenção
à vida necessária para me relacionar com meus interlocutores. Em campo a
restituição da imagem se dá no cotidiano da relação com os sujeitos. A resti-
tuição da pesquisa, na praça, se deu pelo visionamento das imagens gravadas,
primeiro em telas de notebook, depois em exibições na praça e a devolução
do material bruto em DVD para visionamento doméstico, estas foram práticas
que foram construindo a possibilidade da relação com o grupo. Dialogando
com os sujeitos e acompanhando os seus deslocamentos ao longo de anos, os
dispositivos utilizados foram muitos: coabitar os bancos da praça, ouvindo
depoimentos, gravar a preparação de um almoço na praça, realizar oficinas de
stencil na ocupação, oficina de fotografia na sede da associação de moradores
no morro, oficina de vídeo com jogos teatrais, realização de entrevistas em
A experiência da imagem 2p.indd 315 14/09/2016 14:28:07
316 casa, colher depoimentos coletivos nas áreas internas das ocupações. Visitar
edifícios e instituições antes habitadas.
A casa (invisível) de Maria
Morando na praça
Aos fins de semana, desde cedo, Maria está na arrecadação de mantimentos,
com seus companheiros para a hora do almoço. Tomando sol nos bancos da
praça, conversa com os conhecidos, compartilhando a cachaça. Arruma uma
fogueira com lascas de tábuas, gravetos, dois tijolos e uma grelha fazem o fogão,
em volta dele se fica conversando.
Morando no paço da Pátria
Cláudio [companheiro de Maria]: Um quarto com barata, rato e mofo, não
dá pra ficar lá. Só pagamos pra deixar as coisas. Aqui na praça é melhor, no
domingo fazemos o almoço na praia.
O Fluminense
Na manhã de domingo, o jornal O Fluminense estampa a fotografia de nossa
interlocutora na capa: a imagem de Maria com o filho no colo, sendo confron-
tada por dois policiais. Dentro do jornal, ela aparece algemada e o filho no colo
do policial. Encontro Maria deitada no asfalto amamentando seu filho sob um
lençol. Os seus amigos que me indicaram onde ela estava, disseram que ela mal
dormira à noite. Dali a pouco ela se levanta, pergunto o que houve, ela, trans-
figurada, range os dentes, falando uma língua que nem sempre compreendo.
O menino não larga de seu seio. Comem animadamente o feijão preto cozido
que eu trouxera, ela tira do carrinho de supermercado estacionado na calçada
uma sacolinha plástica cheia de pães. Mostro o jornal, ela não o tinha visto.
Transtornada ela acusa o policial de tê-la algemado, enquanto o outro pegava
o seu filho. Os moradores da ocupação e os pequenos comerciantes da rua
intervêm em seu favor. Os policiais perguntam o endereço dela, os vizinhos
dizem que ela mora no 17. Eles a soltam.
Morando no 17
Mais de um ano depois, Maria herda do pai de sua primeira filha uma casa na
ocupação. Antes de engravidar e dar à luz a Silas, filho de Cláudio, ela morava lá.
Assim ela deixa a praça e o quarto no paço da Pátria, para voltar a morar no 17.
A experiência da imagem 2p.indd 316 14/09/2016 14:28:07
Início da noite 317
Etnografia e hipermídia: a cidade como hipertexto e as redes de relações nas ruas em Niterói/RJ
Praça da Cantareira, sexta-feira. Muito movimento de estudantes, algumas
pessoas vendem cerveja com seus isopores. Maria conversa com sua vizi-
nha. Quando ela me vê, me puxa para o canto da banca de jornal, sentamos
no canteiro da praça, ela com o filho no colo. Ela: Eu estava lembrando da
minha casa, onde eu cresci, casa do meu pai. Quartos com camas e travessei-
ros, uma sala ampla com sofá. Mas tinha ela, a desgraçada da minha irmã, que
ia namorar na rua e falava que os namorados eram meus. Meu pai me batia.
Se eu encontro ela... Na casa dele tinha uma cozinha com geladeira, cheia de
comida. Na casa de meu pai. Foi por causa dela que eu saí de lá. [nervosa].
Eu: “Lembrar dessa história não está te fazendo bem”. Ela se acalma e o filho
a abraça, entre sonolento e atento.
Direito à maternidade
Caridoso, o professor Augusto tira os documentos de toda a família, a mãe, o
pai e o filho, de cinco anos. Ele apadrinhou o menino, levando-o para morar
com a irmã mais velha, que tinha outros dois filhos. Afinal, “todos sabem, a
rua não é lugar pra criança”. Sem o menino, o casal começa a brigar e vai se
distanciando. Com ciúmes do pai de seu filho, ela o fura com a boca de uma
garrafa. Ele se muda. Um tempo depois, tem um ataque cardíaco. Professor
Augusto interna Carlos no hospital. Recuperado do problema, vai morar na
casa de sua mãe adotiva, em Icaraí. O menino volta a morar em Niterói, seu
padrinho o matriculou na escola pública, Cláudio o leva e o traz para Maria,
diariamente, na ocupação do 17, onde é agora a sua casa.
Foto: Ana Lúcia Ferraz.
A ruína do casarão antigo se aprofunda no terreno, emendados a ela seguem
barracos de alvenaria e Eternit, escadas e vielas. Pelos fundos da área construída,
pátios integram casas, criando espaços de convivência, um lugar para sentar-se
e trocar ideias entre iguais, por ali se chega à trilha, um caminho distante do
asfalto. Outras vias não mapeadas se fazem a cada dia, nos trajetos e desvios
que a vida experimenta.
A experiência da imagem 2p.indd 317 14/09/2016 14:28:07
318
Fotos: Vinícius Rocha do Nascimento.
Cine 94
A mostra de filmes na sede da Associação de Moradores, realizada durante o
segundo semestre de 2014, foi frequentada por jovens moradores do morro
do 94 e da região que tem entre seis e dezoito anos. A seleção dos filmes, que
partiu do gosto dos jovens, priorizou linhas temáticas que se dividem entre a
violência institucionalizada em torno do tráfico de drogas e uma outra linha
com funk, gravidez; muitas animações foram exibidas.
No semestre seguinte, iniciaram-se as oficinas de vídeo, com encontros às
sextas-feiras no fim da tarde. O grupo é majoritariamente frequentado por
meninos, as meninas comparecem menos aos encontros. Além dos vários mo-
radores do 94 de todas as idades, frequentam os encontros os primos Enrico
e Roberto, moradores da rua Projetada, localizada atrás do muro que separa
a Universidade do bairro. Eles trabalham na barraca de doces e cigarros dos
pais de Roberto, localizada na porta da Universidade; repõem um espaço de
contato com a diferença na Oficina, o que repete suas diferenças construídas
no espaço da escola pelo fato de serem migrantes nordestinos. Espaços de di-
ferenciação entre os jovens se repõem a cada instante: os que formam grupos
que se impõem pela força e aqueles que não se identificam com esta prática,
isolados, divergem. A oficina acolhe todas as diferenças.
O enredo do filme realizado na Oficina de vídeo apresenta três amigos de
infância que crescem juntos, enfrentando os distintos caminhos que se abrem
para os jovens.
A gravação da cena do assalto
Luciano sugere que encenássemos na rua a cena do assalto. Eu seria a assaltada,
ele e Téo, os assaltantes. A cena é simples, os meninos vêm pela rua correndo,
na direção da moça que caminha com a bolsa no ombro. Os meninos sacam a
bolsa do ombro da passante.
A experiência da imagem 2p.indd 318 14/09/2016 14:28:08
A avó do menino persegue Luciano até a rua, toma dele relógio, boné e o vigia. 319
Etnografia e hipermídia: a cidade como hipertexto e as redes de relações nas ruas em Niterói/RJ
Ele dirige a performance na cena do assalto. Ela comenta que essa cena não é
boa. João Marcelo comenta que este não pode ser o começo do filme. A câmera
passa de mão em mão para verem o que foi gravado. No dia seguinte cedo,
apagam as sequências do assalto e gravam as sequências do jogo de futebol.
Na porta do morro, o grupo de jovens assedia os passantes, estudantes, mo-
radores do bairro... A avó do menino, furiosa, avança em Luciano e o corrige
imediatamente: “Você não pode provocar as pessoas assim. Quando chegar
em casa, você sabe que o coro vai comer”. A Comunidade sabe o que pode a
imagem e, exaustos de serem discriminados, velam a cena em que suas crianças
repetem a imagem do “infrator”, enquanto representação social instituída.
Podemos afirmar a existência de um controle social da imagem que se apro-
funda. A cena do assalto foi velada; encontramos novamente o irrepresentável.
Fotos: Ícaro Torres.
A cena
O jovem João Marcelo, de onze anos, sugere uma cena como história para um
filme. Um mês depois, encenamos a história:
O Jovem trabalha no MacDonald’s, sob o olhar de seu gerente. Compadecendo-
-se de um morador de rua, atende o seu pedido, dando a ele um sanduíche.
O gerente vê e o repreende: Não sei se te demito agora ou se faço você pagar.
[Pensa]. Você está demitido. Um tempo depois, o jovem trabalhador está ao
lado do morador de rua, pedindo ajuda assim como ele.
Pergunto ao grupo, que se constituiu como plateia, se algum deles gostaria de
estar no lugar de algum personagem para tentar dar um outro final a esta his-
tória. Tentamos quatro vezes, mas o fim da história sempre se repete. Roberto
(morador da rua Projetada) fala para o jovem demitido: “É o meu sustento,
A experiência da imagem 2p.indd 319 14/09/2016 14:28:08
320 não estou aqui fazendo caridade”. Para ele, este é um argumento irrecusável.
Surge uma proposta para a cena seguinte. O gerente, passeando com seu fi-
lho, é assaltado e fica sem nada, pede dinheiro àquele que demitira e recebe
um não. Cápsulas de moral. A questão das condições de reprodução da vida
colocada às classes trabalhadoras põe a necessidade de comprometer-se com
o bem-estar do outro. A história que se repete tira os meninos do jogo. Eles
se sabem em um mundo social injusto, e não vacilam ante a possibilidade de
fazer justiça com as próprias mãos.
A encenação, neste caso, opera no sentido de constituir em imagem o tema-
-problema do grupo. Como disse Didi-Huberman, o simbólico e o sintomático
que vivem às margens da imagem emergem onde nem se espera. As imagens
são produzidas valendo-se de diversos dispositivos. Os hiperlinks carregam
a densidade da imagem lá onde ela é caminho para encontrarmos novos olhares
desde onde mirar a cidade.
In-conclusões necessárias
O desafio de cartografar a cidade tal como experimentada desde a sua margem
nos levou a adotar o hipertexto como linguagem. Esta solução baseou-se no
modo como a etnografia de variados espaços de vida e moradia pelos quais
nos conduziam nossos interlocutores seus moradores, foi produzindo uma
multiplicidade de abordagens diferenciadas que demandavam suportes, meios
e recursos variados.
Da escuta atenta das histórias de vida dos senhores trabalhadores aposentados
que oferecem à handycam suas narrativas, à fisicalidade da performance dos
jovens na atividade da “viração”, todos moradores de rua, à produção de al-
moços em que se observa uma socialidade da rua que se constitui em torno
do compartilhar comida, cachaça e pedra, inúmeros foram os recursos ado-
tados. Tantos quantos os pontos de vista que, ao diferirem uns dos outros, nos
apresentam suas múltiplas posições. Este é o primeiro achado do trabalho: na
margem só há diferir.
Em torno do problema da (in)visibilidade das classes trabalhadoras precarizadas
e da concomitante afirmação por parte de um discurso hegemônico de sua
abjeção, temos a reprodução do lugar da margem para as enormes minorias que
vivem a cidade a pé. Na rua velaram as minhas imagens, mostrar o invisível foi
impossível. Um tapa na lente está gravado. Ocultar a centralidade do negócio
do tráfico de drogas consideradas ilícitas para a reprodução da ordem atual é
o dado estruturado em nossa sociedade.
A experiência da imagem 2p.indd 320 14/09/2016 14:28:08
Subindo o morro, conhecer a casa própria lograda ao longo de décadas de au- 321
Etnografia e hipermídia: a cidade como hipertexto e as redes de relações nas ruas em Niterói/RJ
toconstrução e, mais uma vez, a “viração” como atividade nômade, ambulante.
Aqui o vídeo é o meio e o depoimento, o registro da fala. A fotografia também
é muito bem-vinda, quase dádiva que funda relações. Os morros se conectam
uns aos outros, são caminhos pedestres que só se conhece se seguimos a trilha
dos que palmilham a cidade.
Depois, a ocupação de mulheres que ofereciam à pesquisa o seu coletivo cons-
tituído ao logo de trajetórias de violência institucional: formar meninas para o
trabalho doméstico, todas mães. Ouvir os seus depoimentos, pintar fachadas
e interiores, atualizar memórias que constituem, a despeito de todas as dife-
renças, um outro ponto de vista, este o mais frágil, por se afirmar político em
terra de controle armado. Outro universo ainda seria o do coabitar a ocupação
em que há proprietário, imposto e favor obrigatório. Distinta de todas essas
posições é a performance juvenil que encena a potência do constituir-se como
bando para enfrentar o olhar hegemônico que os faz minoritários.
Retomar tais posições e reuni-las como série em uma plataforma de experiên-
cias da cidade invisível assim como vivida pelas grandes minorias, foi o desafio
que enfrentamos.
Alguns problemas se colocam para tal cartografia: a questão da escala. Da
invisibilidade panorâmica que vê a casa e a rua, buscamos a profundidade de
campo que localiza detalhes fora de foco: corredores, vielas, passagens, esca-
das, caminhos que conduzem a espaços menores. Quartos-casa que abrigam
grupos, além do grupo, a pessoa, seus modos, suas construções. A abordagem
monadológica, aquela que nota que é sempre possível ver mais de perto, é a
que a solução hipermidiática vai configurando. No rosto, o caminho traçado
pelas rugas atualiza a história.
Outro problema colocado pela proposição cartográfica seria a questão da
projeção – adotar um eixo, um centro – aqui seria inviável, posto que cada
experiência difere fortemente das outras, a despeito de qualquer pretensão
identitária. Na margem não há centro, mas cada espaço tem a sua ordem
quando se o habita desde dentro.
A relação tempo e espaço se reconfigura não linearmente, mas redefinindo o
espaço segundo a sua apropriação, num tempo cíclico do amanhecer, entardecer,
anoitecer e vem a madrugada e assim sucessivamente. O mapa põe também
o problema da simbolização, mas aqui estamos num espaço antes de o código
ter seu sentido fechado; ao contrário, o sentido de faz na sua relação com o
ponto que é ponto de vista.
A experiência da imagem 2p.indd 321 14/09/2016 14:28:08
322 Cartografias da Margem como hipermídia compõem séries de diferentes
caminhos para conhecer a cidade invisível. Como Glowzcewski (2007) subli-
nha, os hiperlinks estão nas narrativas aborígenes que a autora produz em seu
Yapa. Aqui a cidade, ela própria se reconfigura como hipertexto que contém
retratos e paisagens, música e ruído, narrativas e performances em mosaico.
Bibliografia
AGAMBEN, G. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002.
ALVAREZ, J. & PASSOS, E. “Cartografar é habitar um território existencial”. PASSOS, Eduardo
et al. (orgs.). Pistas do método da cartografia: pesquisa-intervenção e produção de subjetividade.
Porto Alegre: Sulina, 2009.
ALVAREZ, Marcos C. & MORAES, Pedro R. B. “Apresentação”. Tempo Social, v. 25, n. 1, pp. 9-13. 2013.
BENJAMIN, Walter. “Sobre o conceito da história”. Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Bra-
siliense, 1994.
BIRMAN, Patrícia. “Favela é Comunidade?”. In: SILVA, Luiz Antônio M. da (org.). Vida sob cerco:
violência e rotina nas favelas do Rio de Janeiro. Rio de janeiro: Nova Fronteira, 2008.
BOURDIEU, Pierre. “A ilusão biográfica”. Usos & abusos da história oral. FERREIRA, M. & AMADO,
J. (orgs.). Rio de Janeiro: FGV, 1996.
DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. eBooksBrasil.com, 2003.
DELEUZE, Gilles. A dobra: Liebniz e o barroco. Campinas: Papirus, 1991.
_____. & GUATTARI, Felix. Mil platôs. São Paulo: Editora 34, 1996.
DIDI-HUBERMAN, Georges. “Cascas”. Serrote, n. 13. 2013.
_____. O que vemos, o que nos olha. São Paulo, Editora 34, 2010.
FERRAZ, Ana L. M. C. “Morar na Praça Pública: redes e fluxos entre habitantes de rua”. Crítica e
Sociedade, v. 2, n. 2, pp. 22-41. 2012.
FRANCO, Maria S. C. Homens livres na ordem escravocrata. São Paulo: Kairós, 1983.
FREIRE, Letícia de Luna. “Favela, bairro ou Comunidade: quando uma política urbano torna-se uma
política de significados”. Dilemas, v. 1, n. 2, pp. 95-114. 2008.
GLOWZCEWSKI, Barbara. “Linhas e entrecruzamentos: hiperlinks nas narrativas indígenas australia-
nas” e “Cruzada por Justiça Social: Morte sob custódia, revolta e baile em Palm Island (Uma colônia
punitiva na Australia)”. In: Conferências e diálogos da 25a RBA. Goiânia: ABA, 2007.
_____. Devires totêmicos: cosmopolítica do sonho. São Paulo: N-1, 2015.
JACQUES, Paola Berenstein. Elogio aos errantes. Salvador: Editora UFBA, 2012.
KITCHIN, Rob & DODGE, Martin. “Rethinking Maps”. In: Progress in Human Geography, v. 31, n.
3, pp. 331-44. 2007.
KOWARICK, Lucio. “Viver em risco. Sobre a vulnerabilidade no Brasil urbano”. Novos Estudos 63.
São Paulo, CEBRAP, pp. 9-30. 2002.
KRISTEVA, Julia. Powers of Horror: An Essay on Abjection. Nova York: Columbia University Press,
1982.
LEPECKI, Andre. “Coreopolítica e coreopolícia”. Ilha, v. 13, n. 1-2. 2012.
A experiência da imagem 2p.indd 322 14/09/2016 14:28:08
MARTINS, José de Souza. Subúrbio. São Paulo: Hucitec/Unesp, 2002. 323
Etnografia e hipermídia: a cidade como hipertexto e as redes de relações nas ruas em Niterói/RJ
NEVES, Delma P. “Habitantes de rua e vicissitudes do trabalho livre”. Antropolítica, n. pp. 99-130. 2010.
OVERING, Joana & GOW, Peter. “Key debates”. In: Anthropology: Aesthetics is a cross cultural
category. INGOLD, Tim (org.). Londres/Routledge, 1996.
PAZ, André & SALLES, Julia. “Dispositivo, acaso e criatividade: por uma estética relacional do web-
documentário”. Doc On-line, v. 14, pp. 33-69. 2013.
PELBART, Peter Pál. O avesso do Niilismo: cartografias do esgotamento. São Paulo: N-1, 2013.
_______. Vida capital: ensaios de biopolítica. São Paulo: Iluminuras, 2011.
RAMELLA, Anna Lisa. “De-hierarchization, trans-linearity and intersubjective participation in ethno-
graphic research through interactive media representations: www.laviedurail.net”. Anthrovision,
v 2. N. 2. 2014.
RAPOSO, Paulo. Por detrás da máscara: ensaio de antropologia da performance sobre os carretos de
Podence. Lisboa: Instituto dos Museus e da Conservação, 2010.
ROLNIK, Sueli & GUATTARI, Felix. Micropolítica: cartografias do desejo. Petrópolis: Vozes, 1986.
SAMAIN, Etienne. “As Mnemosyne(s) de Aby Warburg: entre antropologia, imagens e arte”. Revista
Poiesis, n. 17, pp. 29-51. 2011.
SELIGMANN-SILVA, Marcio. “Quando a teoria reencontra o campo visual. Passagens de Walter
Benjamin”. Concinnitas, a. 8, v. 2, n. 11, pp. 102-115. 2007.
SONTAG, Susan. On Photography. Nova York: Penguin Books, 1977.
TELLES, Vera da Silva. A cidade nas fronteiras do legal e do ilegal. Belo Horizonte: Argumentum, 2010.
WACQUANT, Loic. “O lugar da prisão na nova administração da pobreza”. Novos Estudos, n. 80,
pp. 9-19. 2008.
WOOD, Denis. “The Anthropology of Cartography”. In: Mapping Cultures. ROBERTS, Les (org.).
Nova York: Palgrave/Macmillan, 2012.
ZALUAR, Alba. A máquina e a revolta. Rio de Janeiro: Brasileira, 1994.
Filmografia
Caretos. (Rituais de Inverno com Máscaras). Catarina Alves Costa. 2013. 45 min.
Casas para o povo. Catarina Alves Costa. 2012. 15 min.
In the Light of Memory. Alyssa Grossman. 2010. 40 min.
La vie du rail. Ana Lisa Ramella. 2013. www.laviedurail.net
Out My Window. Katerina Cizek. 2012. http://www.outmywindow.nfb.ca/
Yapa: pistes de reves. Barbara Glowzcewski. 2005. DVDROM.
A experiência da imagem 2p.indd 323 14/09/2016 14:28:08
A experiência da imagem 2p.indd 324 14/09/2016 14:28:08
Posfácio
Dos dispositivos de resposta
à experiência etnográfica
CATARINA ALVES COSTA
Gostaria neste texto de refletir, a partir do conjunto de objetos visuais que
integram este livro, e que fazem parte do projeto temático A experiência
do filme na antropologia, sobre aquilo que me parecem ser os dispositivos
cinematográficos encontrados pelos vários investigadores na passagem de
uma etnografia com vista à elaboração de um projeto para a da criação
de um objeto visual que dialoga com a inquirição teórica. Considero o im-
pacto e a vitalidade da produção deste grupo de investigadores associados
ao Laboratório de Imagem e Som da Universidade de São Paulo como único
e vital. Vivemos num momento em que os territórios híbridos entre a arte e
a ciência, entre uma antropologia visual e uma antropologia das visualida-
des, ou mesmo entre o coletivo e o individual das expressões autorais de
investigadores – e dos sujeitos produtores de visualidades – se cruzam e
interceptam. O facto de termos aqui, como ponto de partida, um conjunto
numeroso, heterogéneo e vivo de objetos visuais permite então um olhar
que não se pretende comparativo mas antes gerador de pistas novas e ca-
minhos ainda por percorrer. Trata-se de ver o que há aqui, neste conjunto
diverso de filmes, de novo, de contemporâneo e de indício de uma energia
de experimentação que revela fórmulas essenciais, clássicas mas também
inovadoras. Na identificação e demanda destes dispositivos, encontrei algu-
mas questões de fundo que vou desenlaçar à medida da enunciação daquilo
que o visionamento destes trabalhos me foi revelando, num diálogo sempre
A experiência da imagem 2p.indd 325 14/09/2016 14:28:08
326 próximo com pessoas que partilham comigo dessa irmandade que é a da
experiência de filmar.
O primeiro aspecto tem a ver com a adequação entre a linguagem cinematográ-
fica de cada um destes exercícios a conteúdos e questões inerentes aos projetos
de pesquisa respectivos. Nalguns casos, tratava-se de devolver as narrativas e as
memórias que vinham do trabalho de terreno, por vezes recriando ou provo-
cando ações e diálogos, trazendo à tona memórias. Noutros, de compreender
e descobrir pouco a pouco pelas imagens e sons aquilo que é pertinente para
o outro, de buscar uma estética, retratar, observar para traduzir. Julgo que o
efeito produzido pela articulação da demanda teórica com a produção visual,
no caso da experiência etnográfica, produz um caminho dissonante com o do
jornalismo, da reportagem, do cinema de autor e de ficção: parte-se da et-
nografia para se alcançar um estilo e uma linguagem, e não o inverso. Muitos
destes investigadores procuravam, no processo e no decurso do seu uso da
câmara e do microfone, o universo corpóreo e dos sentidos, buscavam o gesto
do quotidiano ou a verbalização imediata das narrativas locais, outros buscavam
traduzir uma estética, uma corporalidade, um sentir.
Por isso estes filmes contêm uma poética e procuram-na na origem: na música,
no uso da voz e do gesto, na produção artística e na produção de um corpo,
no ritual, no uso performatizado do espaço de um bairro, de uma rua, de uma
casa, de um sujeito. Em O aprendiz do samba, para começar a comentar de
dentro estes projetos, Ana Lúcia Ferraz cria uma dupla narrativa: a nossa, do
filme, que quer chegar ao mundo sambista e, ao mesmo tempo, o processo
de pesquisa de jovens músicos que procuram recuperar e reviver este estilo
musical, prestando homenagens a um passado quase nostálgico. O filme
consegue levar-nos, transportar-nos ao universo da música como pretexto
para representar e olhar as sociabilidades: a realizadora está mais interessada
nessa busca musical, no momento mesmo que antecede esse acontecimento e
na rede de relações e afetividades humanas que se tecem nesse instante do
que na performance limpa e clara de um registo musical puro. Trata-se de uma
estratégia narrativa e de montagem que permite relocalizar a alteridade e co-
locar o espectador no lugar daquele que descobre. As reflexões recentes sobre
as possibilidades de uma montagem transcultural (SUHR & WILLERSLEV,
2013) apresentam este procedimento como uma forma de análise que man-
tém um espaço para a invisibilidade: ao juntar e editar um plano com o outro,
gera-se um novo elemento, um extra que é sempre disruptivo e provocador
de uma nova realidade. O que a montagem faz é “tornar presente” aspectos
invisíveis do mundo, evocando-os através de uma orquestração de diferentes
perspectivas, de diferentes lugares. Assim, este é um filme sobre a forma como
A experiência da imagem 2p.indd 326 14/09/2016 14:28:08
os encontros transformam o que vem a seguir: os encontros intergeracionais 327
Posfácio Dos dispositivos de resposta à experiência etnográfica
entre os músicos e, dentro deste, o encontro da antropóloga com o seu terreno.
Um outro aspecto que estes filmes me lembraram relaciona-se com esta fabri-
cação de estratégias narrativas diferenciadas e experimentais. Este conjunto de
objetos visuais e sonoros é revelador das possibilidades que a experimentação
narrativa pode trazer à produção de conhecimento no seio de uma etnografia
em curso.
Veja-se o caso de Pimentas nos olhos, de Andréa Barbosa e Fernanda Matos.
Neste filme, sentimos um ir e vir entre a fotografia – de arquivo pessoal ou
produzida em oficina –, a memória, a experiência e a música para nos fazer
sentir o modo como um bairro “periférico” da região metropolitana de São
Paulo, o Bairro dos Pimentas, em Guarulhos, se vê a si próprio naquilo que
é o seu viver quotidiano. No meu entender, o filme desperiferiza o bairro
tomando-o na sua visão emic, uma terminologia de Marvin Harris para aquilo
que considerava, por relação à descrição etic, uma visão cuja narrativa é signi-
ficativa para a comunidade e não necessariamente para o observador exterior
que categoriza de periférico a partir do seu lugar tomado como central. Os
personagens explanam a sua relação com o bairro, suas histórias e sonhos, mas
os episódios que se contam dialogam com as paisagens formadas a partir das
imagens fotografadas desde dentro. Assim, a fórmula encontrada no interior
do filme reflete, a meu ver, novas instâncias de significação do bairro agora
como um lugar de partilha das memórias afetivas que o filme positiva.
É interessante notar ainda a adequação das estratégias narrativas e dispositivos
de câmara e de montagem a abordagens a universos distintos: uma pessoa,
outras vezes um bairro – tal como ele é concebido pelos que neles vivem – no
caso de Pimenta nos olhos, ou uma comunidade, no caso de Vende-se pequi.
Neste último filme, de André Lopes e João Paulo Kayoli, partiu-se de uma
oficina de vídeo num processo inteiramente compartilhado entre realizadores
indígenas e não indígenas. Instigados pela possibilidade de filmarem e serem os
próprios protagonistas, os jovens saem à procura dos velhos numa tentativa de
descobrir se existe algum mito sobre o pequi. No decorrer deste procedimento,
o filme funciona como catalisador de processos sociais que acabaram gerando
reflexões sobre temas centrais do quotidiano das aldeias, como, segundo os
investigadores, as relações intergeracionais permeadas de conflitos e tempo-
ralidades divergentes, os modos pelos quais os mais velhos entendem os mitos
e as maneiras adequadas de narrá-los, além das expectativas envolvidas nas
atividades fílmicas enquanto estratégias de registo e autorrepresentação de
aspectos culturais e identitários. Enquanto cinematografia, o filme constrói-se
A experiência da imagem 2p.indd 327 14/09/2016 14:28:08
328 como uma viagem, um making-of ou documentário de bastidores da procura
do mito e das histórias ligadas ao pequi que são assim rememoradas in loco
pelos personagens e vividas em direto pelo espectador.
Um outro aspecto que sobressaiu do visionamento destes trabalhos, liga-se
com a anterior. Sabemos que a narrativa como forma de estruturação cinema-
tográfica se naturalizou e de certo modo banalizou no documentário de autor.
Sabemos, por outro lado, que este aspecto se deve à contaminação deste com
o cinema estandardizado pela ideia de entretenimento e ficção. Apropriando-
-se das estratégias ficcionais, o filme etnográfico, ou etnocinema, como um
estilo livre e experimental, ganhou, à medida que as ciências sociais alargam
também o âmbito e foco das temáticas que trabalham, uma nova potência.
Este é um problema que se relaciona com a questão das fronteiras de gênero
cinematográfico que estas experiências indiciam: elas são híbridos entre o
documentário, filme etnográfico, ensaio visual, etnoficção, vídeo arte. Roland
Barthes define o código hermenêutico da narrativa como uma “variedade de
eventos ocasionais que tanto podem formular uma questão como podem adiar
a resposta” (1990, p. 17). É a partir deste tipo de estratégia narrativa que
falamos de experimentação e de possibilidade de articulação com a ficção.
Este gesto é radicalizado na experiência fílmica e sensorial que é Fabrik Funk
de Alexandrine Boudreault-Fournier, Rose Satiko e Sylvia Caiuby Novaes, uma
etnoficção que aborda o universo do funk, prática que envolve música, dança,
tecnologia, moda, consumo, e que se tornou um dos principais fenômenos
culturais da juventude no Brasil. Mas o filme retrata a jovem Karoline, que nas
ruas de Cidade Tiradentes, o maior conjunto habitacional popular da América
Latina, corre atrás do sonho de ser uma MC, neste lugar que é conhecido
como uma fábrica de funk. Aqui, o lugar da colaboração e da criação coletiva
sobrepõe-se à importância da improvisação, da expressão de subjetividades,
emoções, e de conhecimentos incorporados. Bill Nichols (1986, p. 114) sugere
que o documentário opera no vinco entre a vida tal como ela é vivida e a vida
narrativizada do filme. Fabrik Funk é um filme que nos devolve, de novo,
esse velho problema do território do trabalho etnográfico, permitindo repen-
sar uma outra questão, a de “dar visibilidade” ao que só pode ser contado a
partir desta narratividade agora não da montagem, mas da própria encenação
e improvisação da vida quotidiana, e mais, da vida sonhada. Assim, tanto em
Pimenta como aqui, é de expectativas, projeção e sonhos que se fala.
Um outro exemplo desta possibilidade de recriação de um universo é a cena
final do filme Baile para matar saudades, de Érica Giesbrecht. O filme trans-
porta-nos numa viagem nostálgica aos bailes chiques de Campinas, descobrindo
A experiência da imagem 2p.indd 328 14/09/2016 14:28:08
uma vertente que parece só a fotografia, o vídeo e o som podem transmitir do 329
Posfácio Dos dispositivos de resposta à experiência etnográfica
movimento cultural negro, tantas vezes associado a cenas musicais e univer-
sos sociais vistos como marginais. Entramos nesse universo a partir de fotos
antigas e relatos de momentos mágicos de glamour dos bailes de gala dos anos
1940 a 1960, mas o filme vai aos poucos contando a vida e a mocidade dos
seus protagonistas. Interessa ver a ideia da recriação, feita no baile final, como
uma arma metodológica que nos lembra que as coisas do passado ficam cá,
são interiorizadas pelo corpo e pela memória dos encontros antigos. O filme
revela e reativa memórias profundamente corporizadas – a presença do corpo
no filme é essencial –, no entanto, estas parecem ser realmente mobilizadas
na última cena, com a reexperimentação de uma existência anterior. Toda a
linguagem trazida pela realização acaba por evidenciar esse tom nostálgico
marcado pela presença – em voz off – da realizadora, cuja relação com os per-
sonagens provoca neles uma vontade de partilha até das suas memórias mais
íntimas: veja-se a forma como um deles conta como conheceu e se apaixonou
no baile, dizendo que “parecia até coisa de cinema”, ou ainda como alguém
desabafa que “a turma de hoje não sabe ser chique”.
Uma outra discussão que este conjunto de filmes me trouxe foi a do retorno
a uma antropologia que trabalha com a visibilidade das culturas, com aquilo
que um grupo social ou indivíduo tornou visível ou invisível a cada um destes
investigadores, dando-lhes ferramentas para pensar “como” filmar, como
negociar a sua presença e a sua capacidade de representação desse mundo de
visualidades que estava lá antes da chegada deste. Em trans_versus #1, de Vitor
Grunvald, joga-se justamente com essa questão de recolocar a câmara no lugar
da ferramenta que serve para fotografar, filmar a pose, retratar. Uma figura
emblemática, Lizz Camargo, organizadora da única festa para crossdressers
do Brasil, posa para as lentes da câmara, criando uma dissonância com o som
da entrevista em off onde se explicita a história, identidade e contexto deste
evento. O camarim como lugar da encenação de si, da intimidade e também
da possibilidade de se fazer retratar devolve esse uso performatizado do corpo.
Nesta opção, aquilo que parecia ser um constrangimento ético de realizar um
filme mais observacional acabou por revelar um efeito experimental e contido
que busca explorar a imaginação etnográfica através da apropriação de meto-
dologias e práticas artísticas – videorretratos, videoarte, fotografia e retrato.
No caso do filme Allah, Oxalá na trilha Malê, de Francirosy Campos Barbosa,
tratava-se não só de tornar visível mas, mais ainda, possibilitar o confronto
de narrativas cujo cruzamento é experimental e inédito. Ao intersectar as
expressões estéticas e narrativas entre o que se designa por povo de santo e os
muçulmanos, o filme produz narrativas e versões que nos fazem vislumbrar
A experiência da imagem 2p.indd 329 14/09/2016 14:28:08
330 outras histórias que não a oficial, mas também, segundo palavras da investi-
gadora, “aquelas que nos são contadas por meio de mitos e que enriquecem
este universo mágico que permeiam a vida dos Malês/muçulmanos”. O filme
torna visível narrativas e mitos mas também uma estética comum ao universo
islâmico e afro-brasileiro e uma série de práticas comuns. No filme, duas re-
ligiões conversam e confrontam-se numa espécie de encontro. Nesse sentido,
Francirosy Barbosa, num processo em tudo semelhante ao da escrita mas que
vai mais além da mesma, produz um argumento sobre um mundo novo que o
filme, através de um processo de montagem simultânea e da criação de laços
que unem os discursos de um lado e do outro, realiza.
Esta formulação da importância de filmar como fórmula para tornar visível,
no caso de Beata, uma santa que não sorri, remete para uma entidade, a Bea-
ta, que o filme persegue através das inúmeras possibilidades de, ao pensar a
invisibilidade de uma entidade supra natural, esta poder ser reinventada pelos
artistas de Juazeiro do Norte (CE). Trata-se agora não de uma tentativa de
captação de um corpo mas antes da reinvenção do mesmo. Ao filmar a forma
como os artistas, tomados como etnólogos locais, encaram a possibilidade de
recriar este corpo, somos deparados com essa ambiguidade entre a “santa”
e a “mulher do mundo”. Uma vez mais, o filme etnográfico, no seu sentido
mais clássico, ajuda a compreender os debates em torno da possibilidade de
visualizar e dar corpo ao sagrado, ou seja, coloca no centro do debate em torno
da essência de um filme etnográfico como este, os âmbitos não discursivos
dessa enunciação. Por outro lado, trata-se aqui de compreender o universo não
tanto das expectativas de um grupo ou da identidade de um grupo social, mas
de abordar questões do imaginário. Ao trabalhar sobre a possibilidade de uma
materialidade de um corpo que é ao mesmo tempo mundano e sagrado, o filme
torna visível, também, aos nossos olhos, a obra dos artistas locais, servindo de
mediador e interlocutor para gestos que são mais da ordem da reflexão sobre
o que se está a esculpir ou pintar do que do gesto espontâneo.
Uma última questão, em parte abordada antes, é a de que esta visibilidade pode
ser tomada como uma espécie de produção estética dentro de um determinado
sistema cultural. Danzas para Mamacha Carmen, o filme de Aristóteles Bar-
celos Neto relembra-nos a forma como a experiência sensorial é culturalmente
construída e específica. Aqui, não se trata tanto de filmar a atividade artística
individual aliada ao ritual, mas antes de tratar o ritual em si como uma experiên-
cia estética, um “sistema estético indígena”, como diria David MacDougall
(2006, p. 94). O filme busca representar aquilo que é da ordem da experiência
social neste culto dos povos dos Andes Centrais e Meridionais a Nossa Senhora
do Carmo e que se configura como uma série de danças rituais de personagens
A experiência da imagem 2p.indd 330 14/09/2016 14:28:08
mascarados. A dança e as coreografias que esta apresenta são bem explicitadas 331
Posfácio Dos dispositivos de resposta à experiência etnográfica
pelos participantes do ritual como o modo devocional favorito dessa divinda-
de. Ao apresentar a experiência ritual vivida na localidade de Paucartambo, o
filme aparece aqui como uma possibilidade de reatar e traduzir essa mesma
experiência. Para além da estética ritual andina que a ferramenta da câmara
ajuda a veicular, parece-me existir neste filme, também, um olhar sobre a tem-
poralidade, ou seja, a experiência de o visionar nos retorna uma ideia de um
tempo reativado cada ano pelo ritual, que liga vida e morte – o “drama social”,
tal como estudado por Victor Turner. Esse tempo circular e mítico, a repetição
performativa das danças e a elaboração cuidada dos trajes devolvem-nos ainda
mais a ideia da experiência, do embodiment, tão presente na cena final em que
a irmandade elabora e verbaliza essa necessidade de reatualizar laços sociais.
Tomando, para concluir, o conjunto de filmes que ora se apresentam, jul-
go poder afirmar que os aspectos éticos e da relação com os participantes
acabam bem resolvidos num conjunto de soluções que passam pelo vídeo
colaborativo, pela interação através de material fotográfico das pessoas, pela
etnoficção e pelo dar voz aos especialistas locais. Talvez por isso, tomei aqui
a opção de trabalhar questões da linguagem e da descoberta de dispositivos
cinematográficos nascidos de dentro de projetos de pesquisa. Este conjunto
de trabalhos revela, de facto, uma importante energia de renovação dos ter-
ritórios dos usos da câmara dentro da experiência etnográfica. Esta reflexão
acabou assim por ser sobre as formas de adequação entre a linguagem cine-
matográfica e as questões inerentes aos projetos de pesquisa respectivos, em
especial quando estes tocam as questões da corporalidade, do sensorial e dos
afetos, aspectos intangíveis dos mundos representados. Por fim, tratei aqui
ainda de uma antropologia que trabalha com a visibilidade das culturas, a sua
produção estética e o seu imaginário, mas também com a sua invisibilidade,
apenas descoberta pelo uso de mecanismos cinematográficos de narrativa e
montagem. Que novos projetos nasçam desta possibilidade tão presente aqui
de produzir objetos visuais livres e experimentais!
Bibliografia
BARTHES, Roland. S/Z, Oxford: Blackwell, 1990.
NICHOLS, Bill. “Questions of Magnitude”. In: CORNER, John. Documentary and The Mass Media.
Londres: Edward Arnold, 1986.
MACDOUGALL, David. The Corporeal Image: Film, Ethnography, and the Senses, Princeton Uni-
versity Press, 2006.
SUHR, Christian & WILLERSLEV, Rane. Transcultural Montage. Nova York/Oxford: Berghann, 2013.
A experiência da imagem 2p.indd 331 14/09/2016 14:28:08
A experiência da imagem 2p.indd 332 14/09/2016 14:28:08
Sobre os autores
Alexandrine Boudreault-Fournier é doutora em antropologia pela University of Manches-
ter e Granada Centre for Visual Anthropology. É professora de antropologia na University
of Victoria em British-Columbia, Canadá. Ensina antropologia visual e sonora. Dirigiu o
filme etnográfico Golden Scars (2010), parcialmente financiado pelo National Film Board
of Canada; co-dirigiu com Rose Satiko Hikiji e Sylvia Caiuby Novaes a etnoficção Fabrik
Funk (2015); com Rose Satiko Hikiji co-dirigiu The Eagle (2015).
Alice Villela é doutora em antropologia pela Universidade de São Paulo (USP). Realiza
pesquisa junto aos Asuriní do Xingu (PA) desde 2005, investigando temas como a perfor-
mance no ritual indígena, noções de imagem, fotografia, audiovisual e produção de imagens.
Integra o Núcleo de Antropologia da Performance e do Drama (NAPEDRA) e o Grupo de
Antropologia Visual (GRAVI), ambos da USP.
Ana Lúcia Ferraz é professora do mestrado em antropologia visual da FLACSO-Equador
e do Departamento de Antropologia da Universidade Federal Fluminense (UFF), onde
coordena o Laboratório do Filme Etnográfico. É pesquisadora do GRAVI e do NAPEDRA,
ambos da USP. Autora do livro Dramaturgias da autonomia (2009), e de séries de filmes
etnográficos, entre eles: Jean Rouch, subvertendo fronteiras (2000), Maria Lacerda de Mou-
ra: trajetória de uma rebelde (2002), Amores de circo (2009), O aprendiz do samba (2014).
Andréa Barbosa é professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal
de São Paulo (Unifesp), onde coordena o Grupo de Pesquisas Visuais e Urbanas (Visurb).
É pesquisadora do GRAVI (USP) desde 1996 e membro da comissão editorial da Revista
GIS: Gesto Imagem e Som. É autora dos livros São Paulo cidade azul (Alameda/FAPESP,
2012), coautora de Antropologia e imagem (Zahar, 2006); e coorganizadora e autora dos
livros Ciências sociais em diálogo (Unifesp, 2014), Imagem-conhecimento (Papirus, 2009),
A experiência da imagem 2p.indd 333 14/09/2016 14:28:08
334 Escrituras da imagem (Edusp, 2004). Dirigiu os filmes Pimentas nos olhos (2015), Em (si)
mesma (2006), Prêmio Associação dos Documentaristas do Rio de Janeiro, entre outros.
Em 2015 foi Visiting Scholar na University of Oxford. Desenvolve pesquisas sobre a relação
entre cidade, imagem e memória.
Bruna Nunes da Costa Triana é mestre em antropologia social pela USP e doutoranda
pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (USP), com bolsa FAPESP (pro-
cesso 2014/25152-0). Pesquisadora associada do GRAVI (USP) e do Centro de Estudos
Africanos (CEA/UEM).
Carolina Abreu é doutora em antropologia social pela USP. Bolsista FAPESP no pós-doutorado
Espaço, corpo e memória: arte e política nas realizações do teatro de grupo paulistano. É
pesquisadora do GRAVI, do NAPEDRA e também do Pesquisa em Antropologia Musical
(PAM), todos da USP. Dirigiu os filmes documentários Tribo planetária (2011), Vem cá
pro nosso lado (2015) e, em coautoria com Marianna Monteiro, A pedra balanceou (2015).
Catarina Alves Costa é professora auxiliar da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
da Universidade Nova de Lisboa e realizadora de vários filmes etnográficos associada à
produtora Laranja Azul. Desde 1997, leciona nas áreas da antropologia visual e das culturas
visuais. É investigadora integrada do Centro em Rede de Investigação em Antropologia
(CRIA), onde coordena a linha de investigação do Núcleo de Antropologia Visual e da Arte
(NAVA). Realizou entre outros filmes, Pedra e cal (2016), Falamos de António Campos
(2009), Nacional 206 (2008), O arquitecto e a Cidade Velha (2004), Mais Alma (2001),
Swagatam (1998), Senhora Aparecida (1994).
David MacDougall é documentarista e escritor. Filmou na África Oriental To Live with
Herds (1972); a trilogia Turkana Conversations (1977-81), na Austrália Takeover (1980)
e na Índia Photo Wallahs (1991), Doon School Chronicles (2000), SchoolScapes (2007),
Awareness (2010); Under the Palace Wall, (2014) entre outros. Muitos desses filmes foram
realizados em conjunto com Judith MacDougall. Em 2005, realizou uma pesquisa fílmica
sobre um abrigo para crianças de rua em Nova Deli, produzindo o filme Gandhi’s Children
(2008). MacDougall escreve regularmente sobre cinema e é autor de Transcultural Cinema
(Princeton University Press, 1998) e The Corporeal Image: Film, Ethnography, and the
Senses (Princeton University Press, 2006). Atualmente é professor na Research School of
the Humanities & the Arts da Australian National University, onde realiza o projeto de
pesquisa, “Childhood and Modernity: Indian Children’s Perspectives”.
Diana Paola Gómez Mateus é mestre em antropologia pela USP. Atualmente é professora
de produção audiovisual no projeto CLAN do IDARTES (Bogotá, Colômbia) e membro do
Coletivo El Eje CC, que desenvolve a área de comunicação alternativa. Tem produzido
documentários junto ao Laboratório de Imagem e Som em Antropologia (LISA), e ao
Laboratório do Núcleo de Antropologia Urbana (LabNAU), ambos da USP. Participou
do projeto de pesquisa “Dialogos Brasil-Colombia: ciudades, fronteras y urbanización en
Amazonia” (ICANH).
Edgar Teodoro da Cunha é doutor em antropologia pela USP e professor do Departamento
de Antropologia, Política e Filosofia da UNESP, onde coordena o Núcleo de Antropologia
da Imagem e Performance (NAIP). Em 2015 foi Visiting Scholar na University of Oxford.
É pesquisador do GRAVI, desde 1995, e do NAPEDRA, ambos da USP, e editor da Revis-
A experiência da imagem 2p.indd 334 14/09/2016 14:28:08
ta GIS: Gesto, Imagem, Som. É coautor do livro Antropologia e imagem (Zahar, 2006), e 335
Sobre os autores
coorganizador de Escrituras da imagem (Edusp, 2004) e Imagem-conhecimento (Papirus,
2009). Dirigiu os documentários Jean Rouch, subvertendo fronteiras (2000), Ritual da vida
(2005) e Mbaraká, a palavra que age (2011).
Elizabeth Edwards é antropóloga visual e histórica, professora emérita de história da fo-
tografia da Montfort University, Leicester, Reino Unido, e emeritus curator do Pitt Rivers
Museum, University of Oxford. Foi eleita membro da Academia Britânica em 2015. Suas
pesquisas versam sobre as relações entre a fotografia, história e antropologia, e suas práticas
sociais e materiais. Dirigiu o projeto PhotoCLEC sobre fotografia, museus e memória colo-
nial na Europa contemporânea. Sua monografia mais recente é The Camera as Historian:
Amateur Photographers and Historical Imagination 1885-1912 (2012). Atualmente está
trabalhando em outros aspectos da relação entre fotografia e história.
Ewelter Rocha é professor da Universidade Estadual do Ceará, mestre em etnomusicologia
(UFBA) e doutor em antropologia (USP). Atualmente desenvolve pesquisas abordando
a estética visual dos lugares sagrados e as performances musicais relativas ao catolicismo
popular nordestino, procurando relacionar sonoridades, corpo e iconografia religiosa. Em
2012, a sua pesquisa sobre o repertório musical associado a práticas penitenciais do sertão
do Cariri foi contemplada com o Prêmio Funarte de Música Brasileira. No ano seguinte,
a sua tese de doutorado ganhou o primeiro lugar no Concurso Silvio Romero. É líder do
grupo Pesquisa em Música, Cultura e Educação Musical (CNPQ).
Francirosy Campos Barbosa é doutora em antropologia pela USP e professora no Departa-
mento de Psicologia, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP,
onde coordena o Grupo de Antropologia em Contextos Islâmicos e Árabes (GRACIAS), e
o Grupo de Imagem e Performance (GIP). Organizadora dos livros Olhares femininos sobre
o islã (Hucitec, 2010) e coorganizadora de Performances, artes e antropologia (Hucitec,
2010). Dirigiu os documentários Allahu Akbar (2006), Sacrifício (2007), Vozes do islã
(2007), Círculo de fogo (2013), Allah, Oxalá na trilha Malê (2015).
Marco Antonio Gonçalves é professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e An-
tropologia da UFRJ e do Departamento de Antropologia Cultural do IFCS-UFRJ. É mestre
e doutor em antropologia social pelo Museu Nacional da UFRJ. Realizou Pós-Doutorado
na University of St Andrews (1997) e na New York University (2015-2016). Foi professor
visitante na Katholieke Universiteit Leuven (1998), na Universidade Complutense de
Madrid (2000) e pesquisadora convidada na École des Hautes Études en Sciences Sociales
(2006). Atua nas áreas de pesquisa sobre cosmologia, criação de mundos culturais, etnologia
indígena, etnografia e imagem, narrativas e subjetividades. Coordena o Laboratório de Ex-
perimentações em Etnografia e Imagem no PPGSA-IFCS-UFRJ. Principais publicações na
área de Etnografia e Imagem: O real imaginado: etnografia, cinema e surrealismo em Jean
Rouch (Topbooks, 2008); Devires imagéticos: a etnografia, o outro e suas imagens (7Letras,
2009); Etnobiografia: subjetividade e etnografia (7letras, 2013); Sensorial Thought: Cinema
and Perspective (Topbooks, 2008).
Nadja Marin é doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Mestre em Artes pelo Granada
Centre for Visual Anthropology da University of Manchester e pesquisadora do GRAVI
A experiência da imagem 2p.indd 335 14/09/2016 14:28:08
336 (USP) desde 2006. Dirigiu diversos documentários etnográficos e nos últimos anos tem se
dedicado ao ensino do audiovisual em aldeias indígenas na Amazônia.
Paula Morgado Dias Lopes é mestre e doutora em antropologia social pela Universidade de
São Paulo e pesquisadora do GRAVI (USP) desde 2000. Desde 1991 trabalha no Laboratório
de Imagem e Som em Antropologia na mesma instituição, ocupando-se da documentação
audiovisual, produção e curadoria de mostras e eventos no campo da antropologia visual.
Entre 1989 e 1995, desenvolveu pesquisa entre os povos Wayana e Aparai do Brasil, da
qual resultou sua dissertação de mestrado e artigos na área de etnomedicina. Em 2004, con-
cluiu sua tese de doutorado entre os Wayana da Guiana Francesa. Desde 2007, desenvolve
pesquisas sobre a relação entre antropologia, cinema e as novas mídias entre as populações
indígenas. Dirigiu os documentários: Jean Rouch, subvertendo fronteiras (2000), Do São
Francisco ao Pinheiros (2007) e Pelas marginais (2008).
Paul Henley é antropólogo social e realizador e professor de filmes etnográficos. É professor
de antropologia visual na University of Manchester Manchester, Reino Unido, e na mesma
universidade foi fundador e diretor do Granada Centre for Visual Anthropology entre
1987 e 2014, quando começou um projeto de pesquisa de três anos sobre os primeiros
filmes etnográficos financiado pelo Leverhulme Trust. Foi o diretor de quatro edições do
festival bienal de cinema do Royal Anthropological Institute. Realizou na Universidade de
Cambridge, na década de 1970 e início de 1980, seu doutoramento e pós-doutoramento
pesquisando os Panare, um povo indígena do sul da Venezuela. Nos anos 1984-1987, fez
sua formação como diretor-cinegrafista na National Film and Television School. Publicou
muitos artigos e livros sobre a antropologia da Amazônia e antropologia visual, incluindo
The Adventure of the Real, um relato abrangente da obra de Jean Rouch, (2009). Filmou e
dirigiu doze documentários, alguns para o público acadêmico e outros para a TV nacional
britânica. Orientou a realização de cerca de 250 filmes vinculados às pesquisas de mestrado
e doutorado na University of Manchester.
Rose Satiko Gitirana Hikiji é doutora em antropologia pela USP e professora do Departa-
mento de Antropologia da Universidade de São Paulo. É autora dos livros Imagem-violência
(Terceiro Nome, 2012) e A música e o risco (FAPESP, Edusp, 2006), coautora de Lá do Leste
(Humanitas, 2014), e coorganizadora de Bixiga em artes e ofícios (Edusp, 2014), Antropo-
logia e performance (Terceiro Nome, 2013), Escrituras da imagem (FAPESP, Edusp, 2004)
e Imagem-conhecimento (Papirus, 2009). Realizou diversos filmes etnográficos, entre eles
The Eagle (2015), Fabrik Funk (2015), A arte e a rua (2011), Lá do Leste (2013), Cinema
de quebrada (2008) e Pulso, um vídeo com Alessandra (2006) e os webdocumentários Lá
do Leste e Bixiga em Artes e ofícios. É coordenadora do Laboratório de Imagem e Som em
Antropologia (LISA) e do Pesquisas em Antropologia Musical (PAM) e vice-coordenadora
do GRAVI, todos da USP.
Sylvia Caiuby Novaes é antropóloga e professora titular no Departamento de Antropologia
da Universidade de São Paulo. Por trinta anos fez pesquisas entre os Bororo do Mato
Grosso, que resultaram em dois livros: Mulheres, homens e heróis: dinâmica e permanên-
cia através do cotidiano da vida Bororo (FFLCH-USP, 1986) e Jogo de espelhos: imagens
da representação de si através dos outros (EDUSP, 1993), traduzido e publicado pela
University of Texas Press – The Play of Mirrors (1997). Fundou, em 1991, o Laboratório
de Imagem e Som em Antropologia (LISA-USP), do qual foi coordenadora até 2014; foi
A experiência da imagem 2p.indd 336 14/09/2016 14:28:08
diretora do CEUMA – Centro Universitário Maria Antônia (2014-2016); é fundadora e 337
Sobre os autores
coordenadora do GRAVI – Grupo de Antropologia Visual. Coorganizadora de Escrituras
da imagem (FAPESP, Edusp, 2004) e O imaginário e o poético nas Ciências Sociais (Edusc,
2005) e organizadora de Entre arte e ciência, a fotografia na antropologia (Edusp, 2015) e
de inúmeras fotos publicadas no Brasil e no exterior, além de vários artigos sobre fotografia
numa perspectiva antropológica. Co-dirigiu a etnoficção Fabrik Funk (2015). É editora da
Revista GIS: Gesto Imagem e Som.
Trinh T. Minh-Ha é cineasta, escritora, compositora e professora de Retórica, Gênero e
Estudos sobre a Mulher na University of Califórnia, Berkeley. Seu trabalho inclui inúmeros
livros, tais como o recente Lovecidal, Walking with The Disappeared (2016); D-Passage.
The Digital Way (2013); Elsewhere, Within Here (2011); The Digital Film Event (2005).
Realizou oito filmes de longa metragem, incluindo os mais recentes: Forgetting Vietnam
(2015), Night Passage (2004), The Fourth Dimension (2001), exibidos em várias homenagens
e retrospectivas ao redor do mundo; e ainda várias instalações colaborativas de grande escala,
dentre as quais Old Land New Waters (2007-2008, 3rd Guangzhou Triennale, China, 2008),
L’Autre marche (Musée du Quai Branly, Paris, 2006-2009), The Desert is Watching (Kyoto
Biennial, 2003); and Nothing But Ways (Yerba Buena,1999). Recebeu inúmeros prêmios,
entre eles o Wild Dreamer Lifetime Achievement Award no Subversive Festival, Zagreb,
Croatia (2014); o Lifetime Achievement Award da Women’s Caucus for Art (2012); o Critics
Choice Book Award da American Educational Studies Association (2012); e o Trailblazers
Award, MIPDOC, Cannes International Documentary Film Event, France (2006).
Vitor Grunvald é doutor em antropologia pela USP e professor da Faculdade Cásper Líbero,
fotógrafo e diretor cinematográfico registrado. É pesquisador do GRAVI e do NAPEDRA,
ambos da USP, e secretário executivo da Revista GIS: Gesto, Imagem e Som. Suas pesquisas
envolvem questões sobre imagem, performance, discussões teórico-metodológicas sobre ex-
perimentações com a imaginação etnográfica e apropriação de práticas artísticas para o fazer
antropológico, além de trabalhar há mais de dez anos com gênero e sexualidade, especialmente
a transgeneridade. Recentemente, foi também professor de cursos de extensão na Fundação
Escola de Sociologia e Política (FESPSP) e no Centro de Preservação Cultural da USP (CP-
C-USP) sobre estes temas e sobre as teorias e práticas do documentário e filme etnográfico.
A experiência da imagem 2p.indd 337 14/09/2016 14:28:08
A experiência da imagem 2p.indd 338 14/09/2016 14:28:08
DVD – Etnografia em imagens e sons
Sinopses e fichas técnicas
Allah, Oxalá na trilha Malê (2015, 30 min.)
DIR. FRANCIROSY CAMPOS BARBOSA
A Revolta dos Malês ocorrida em 1835 marca significativamente o universo afro-islâmico.
Escravos alfabetizados que não aceitaram ser subordinados a senhores. No islam, a escravidão
é proibida, pois o homem deve servir apenas a Deus. Neste documentário, as expressões
estéticas e narrativas entre o povo de santo e os muçulmanos se cruzam, trazendo versões
que nos fazem adentrar outras histórias que vão além das “oficiais”, como as que são con-
tadas por meio de mitos e que enriquecem este universo mágico que permeia a vida dos
Malês/muçulmanos.
Direção, pesquisa, roteiro: Francirosy Campos Barbosa
Imagens: Ailton Pinheiro; Vitor Grunvald
Edição: Ricardo Berro, Francirosy C. Barbosa
Desenhos: Wagner Lins (Arieh)
Baile para matar saudades (2015, 70 min.)
DIR. ÉRICA GIESBRECHT
Em Campinas, interior de São Paulo, mulheres e homens negros, com idades entre setenta
e noventa anos, são ativos no movimento cultural negro da cidade, essencialmente dedicado
à recriação de repertórios musicais afro-brasileiros considerados tradicionais. Embora sejam
reconhecidos como mestres nas comunidades musicais atuais, suas memórias de mocidade
A experiência da imagem 2p.indd 339 14/09/2016 14:28:08
340 não remetem diretamente a jongos, sambas de bumbo ou maracatus, mas a bailes de gala. Na
conjuntura marcada pela segregação, dos anos 1940 a 1960, no interior de São Paulo, esses
bailes, frequentados majoritariamente por negros, são revisitados, evidenciando-se sua impor-
tância para a formação de uma comunidade negra iniciada no passado e continuada no presente.
Direção, produção e pesquisa: Érica Giesbrecht
Atores principais: Aluísio Jeremias, Carlos Augusto Ribeiro, José Antônio, Leonice Sampaio
Antônio, Rosária Antônia.
Roteiro: Carolina Gama, Érica Giesbrecht
Edição: Carolina Gama, Ricardo Dionísio
Câmeras: Coraci Ruiz, Érica Giesbrecht, Guilherme Spagiari, Luana Veiga, Ricardo Dio-
nísio, Ticiano Monteiro.
Captação de áudio: Renan Begossi Franchi
Apoio: FAPESP
Realização: LISA-USP
Participações musicais: Leopoldo Orquestra Tupã, Grupo Casarão SP, Grupo de Teatro e
danças populares: Urucungos Puítas e Quijêngues, Comunidade Jongo Dito Ribeiro, Eli-
velton Leite, Helio Augusto, Lucas Souza Lima, Escola de Samba Rosas de Prata.
Beata, uma santa que não sorri (2014, 32 min.)
DIR. EWELTER ROCHA
O documentário retrata o processo de elaboração de um corpo de beata por artistas de
Juazeiro do Norte (CE). Na madeira ou no barro, suas obras descortinam as sutilezas que
constituem a identidade penitencial de um corpo definido por uma ambiguidade cuja
forma conjura no mesmo suporte atributos de uma santa e de uma mulher do mundo. A
trilha musical utiliza como inspiração os antigos benditos da região, tocados em rabecas de
cabaça. Os instrumentos são confeccionados artesanalmente para que a sonoridade remeta
ao timbre nasalado e lamentoso das velhas beatas locais.
Pesquisa e direção: Ewelter Rocha
Imagens: David Aguiar, Antônio José (Pajé), Helton Vilar, Ewelter Rocha e Glauco Vieira.
Roteiro e edição: Ewelter Rocha e Helton Vilar
Trilha original: Ewelter Rocha
Trilha eletroacústica: Germán Gras e Ewelter Rocha
Desenho de som: Ewelter Rocha
Intérprete de rabecas: Brena Correia
Autoria e declamação do cordel: Ewelter Rocha
Rabecas de cabaça confeccionadas por Di Freitas
A experiência da imagem 2p.indd 340 14/09/2016 14:28:08
Danzas para Mamacha Carmen (2015, 44 min.) 341
DVD – Etnografia em imagens e sons
DIR. ARISTOTELES BARCELOS NETO
Os povos dos Andes Centrais e Meridionais mantêm uma antiga tradição de cultuar Nossa
Senhora do Carmo com uma série de danças rituais de personagens mascarados, entendida
como o modo devocional favorito dessa divindade. Este filme etnográfico apresenta a expe-
riência ritual vivida no vilarejo de Paucartambo, porta de entrada da antiga região incaica do
Antisuyu, onde dezenove grupos de danças produzem a cada mês de julho um momento de
síntese sociocosmológica a partir da convergência de imagens sobre a ancestralidade, a opressão
colonial, a escravidão e as trocas simbólicas entre habitantes de diferentes pisos ecológicos.
Direção, roteiro: Aristoteles Barcelos Neto
Produção e pesquisa: Aristoteles Barcelos Neto
Edição: Ricardo Dionísio
Direção de fotografia: Aristoteles Barcelos Neto
Assistente de campo: Dauro Soares Junior
Fabrik Funk (2015, 25 min.)
DIR. ALEXANDRINE BOUDREAULT-FOURNIER, ROSE SATIKO G. HIKIJI E SYLVIA CAIUBY
NOVAES
Karoline é uma jovem que deseja algo mais interessante da vida que seu cotidiano em uma
central de telemarketing. Nas ruas de Cidade Tiradentes, o maior conjunto habitacional
popular da América Latina, ela corre atrás do sonho de ser uma MC, neste lugar que é
conhecido como uma Fábrica de Funk. O filme é uma etnoficção que aborda o universo do
funk, prática que envolve música, dança, tecnologia, moda, consumo, e que se tornou um
dos principais fenômenos culturais da juventude no Brasil. Fabrik Funk é resultado de uma
colaboração entre antropólogas da Universidade de São Paulo e da University of Victoria
com moradores de Cidade Tiradentes, que atuam de diferentes maneiras na cena artística
deste distrito. Gravado em junho e julho de 2014, em Cidade Tiradentes/SP, e editado
entre São Paulo/Brasil e Victoria/Canadá, em 2014 e 2015.
Direção e Produção: Alexandrine Boudreault-Fournier, Rose Satiko Gitirana Hikiji, Sylvia
Caiuby Novaes
Produção local: Daniel Hylario
Roteiro: Alexandrine Boudreault-Fournier, Daniel Hylario, Rose Satiko Gitirana Hikiji,
Sylvia Caiuby Novaes
Fotografia: Alexandrine Boudreault-Fournier, Rose Satiko Gitirana Hikiji
Fotografia (still): Sylvia Caiuby Novaes
Som direto: Noedy Hechavarria Duharte
Edição: Leo Fuzer
Trilha original e pós-produção de som: Ewelter Rocha, Mauro Darcio
A experiência da imagem 2p.indd 341 14/09/2016 14:28:08
342 Pós-produção de cor: Ricardo Dionisio
Realização: LISA-USP
Apoio: FAPESP, University of Victoria.
O aprendiz do samba (2015, 30 min.)
DIR. ANA LÚCIA FERRAZ
Ao se acompanhar o processo de pesquisa de jovens músicos que compõem uma rede que se
reúne em rodas de samba, prestando homenagens às Velhas Guardas do samba, atualiza-se
um repertório de “brasas”, as músicas entoadas por cavaquinhos e violões de sete cordas, pan-
deiros e surdos, pratos e facas, reco-recos, produzindo encontros orgiásticos intergeracionais.
Realização: Laboratório do Filme Etnográfico
Apoio: FAPERJ, LISA/USP, UFF
Roteiro: Ana Lúcia Ferraz
Fotografia: Ana Lucia Ferraz
Som direto: Diogo Campos dos Santos
Edição: Ana Lúcia Ferraz e Éthel Oliveira
Música: Glória ao Samba, Samba de Terreiro e Roda de Mauá
Formato original: HDV, 16:9
Pimentas nos olhos (Pepper in the Eyes). (42 min, 2015)
DIR. ANDRÉA BARBOSA E FERNANDA MATOS
Neste filme, fotografia, memória, experiência e música se entrelaçam para contar um pouco
do cotidiano no Bairro dos Pimentas, na periferia de Guarulhos, região metropolitana de São
Paulo. Wolf, Ohuaz, Thaís e Fábio narram sua relação com o lugar, suas histórias e sonhos.
As narrativas dialogam com as muitas paisagens que se formam a partir das fotografias que
outros tantos moradores realizaram ao longo de suas vidas e nas oficinas fotográficas Pi-
mentas nos Olhos não é refresco, realizadas desde 2008 pelo VISURB, Grupo de pesquisas
Visuais e Urbanas da UNIFESP.
Direção de fotografia: Edgar Teodoro da Cunha
Trilha sonora: Estudo de Cena, Nhocuné Soul e Ohuaz
Edição: Léo Fuzer
Produção: Ana Lídia Aguiar, Debora Faria, Erica Santos, Fernando Filho, Guilherme Ston-
ner, Guilherme Yokote, Joice Oliveira, Juliane Yamanaka, Pamella Bravo e Paula Harumi.
Fotografias: Participantes das oficinas fotográficas “Pimentas nos olhos não é refresco”
Realização VISURB-Grupo de Pesquisas Visuais e Urbanas/UNIFESP e LISA/USP
Apoio: FAPESP, PROEX-UNIFESP
A experiência da imagem 2p.indd 342 14/09/2016 14:28:08
Vende-se pequi (2013, 24 min.) 343
DVD – Etnografia em imagens e sons
DIR. ANDRÉ LOPES E JOÃO PAULO KAYOLI
O povo indígena Manoki vive no noroeste de Mato Grosso e uma de suas atividades produ-
tivas é a venda de pequi na estrada que passa por sua terra. Durante uma oficina de vídeo,
jovens decidem mostrar para o mundo de fora um pouco de suas aldeias e do processo de
coleta e venda desse fruto. Instigados pela possibilidade de filmarem e serem os próprios
protagonistas, eles saem à procura dos velhos numa tentativa de descobrir se existe algum
mito sobre o pequi. A elaboração desse filme foi um processo inteiramente compartilhado
entre realizadores indígenas e não indígenas: desde a concepção e filmagem, até a edição e
finalização. Todas as imagens do filme foram realizadas pelos próprios cinegrafistas Manoki.
Realização: Ponto de Cultura “Centros de Memória Indígena Manoki”
Apoio: Laboratório de Antropologia Visual da Universidade de São Paulo, Operação Ama-
zônia Nativa e Secretaria do Estado da Cultura de Mato Grosso.
Produtores: Edivaldo Mampuche, Marina Kamulu e Valmir Xinuli.
Roteiro: André Lopes
Fotografia: Anderson Kaioli
Som direto: Atailson Jolasi
Edição: André Lopes, João Paulo Kayoli e Léo Fuser
Trilha Sonora: Povo Manoki
Formato original: MiniDV, 4:3, NTSC, Colorido
trans_versus 1 (2016, 11 min)
DIR. VITOR GRUNVALD
Primeiro vídeo da série trans_versus que consiste em videorretratos de pessoas cuja iden-
tidade de gênero ou expressão de gênero diverge, eventual ou permanentemente, daquela
designada ao nascer. Tendo como “ancestrais totêmicos” (termo cunhado por Jean Rouch)
artistas como Andy Warhol e Robert Wilson, a série foi pensada como um exercício de
experimentação com a imaginação etnográfica no sentido de levar a sério reivindicações
recentes no campo da antropologia (áudio)visual e da arte quando estas advogam por uma
maior apropriação de metodologias e práticas artísticas para elaboração do material etno-
gráfico realizado por antropólogxs.
Concepção, Direção e Edição: Vitor Grunvald
Colorização: Daniel Bona
Apoio: FAPESP, LISA/USP
Agradecimento: Lizz Camargo
A experiência da imagem 2p.indd 343 14/09/2016 14:28:08
A experiência da imagem 2p.indd 344 14/09/2016 14:28:08
Vous aimerez peut-être aussi
- Nota Sobre A Atualidade Da Ferida Colonial - E-BookDocument48 pagesNota Sobre A Atualidade Da Ferida Colonial - E-BookFABIANA BARTIRA DE SOUZA BRITO100% (1)
- Arte Primitiva em Centros Civilizados Autora Sally PrinceDocument89 pagesArte Primitiva em Centros Civilizados Autora Sally PrinceApollo Martins100% (2)
- Festa. Cultura e Sociabilidade Na América Portuguesa by Iris Kantor, István JancsóDocument544 pagesFesta. Cultura e Sociabilidade Na América Portuguesa by Iris Kantor, István Jancsólavinia oliveira100% (1)
- OVERING, Joanna - O Mito Como História - Um Problema de Tempo, Realidade e Outras QuestõesDocument15 pagesOVERING, Joanna - O Mito Como História - Um Problema de Tempo, Realidade e Outras Questõesmarina_novo100% (1)
- NAPOLITANO. Coracao Civil TESDocument374 pagesNAPOLITANO. Coracao Civil TESNatanael Silva100% (4)
- Tania Stolze Lima - Que É Um CorpoDocument12 pagesTania Stolze Lima - Que É Um CorpoBri Sa100% (2)
- COLLIER JR, John - Antropologia Visual: A Fotografia Como Método de PesquisaDocument23 pagesCOLLIER JR, John - Antropologia Visual: A Fotografia Como Método de PesquisaDayane Fernandes100% (1)
- Como Domar Uma Língua SelvagemDocument14 pagesComo Domar Uma Língua SelvagemAline MatosPas encore d'évaluation
- Martins, Leda Maria. Performance Do Tempo Espiralar. (2021)Document104 pagesMartins, Leda Maria. Performance Do Tempo Espiralar. (2021)luane100% (2)
- Performance e Antropologia de Richard Schechner - CompressDocument99 pagesPerformance e Antropologia de Richard Schechner - CompressDalila Brito75% (4)
- SuaziDocument16 pagesSuaziJulianaPereiraPas encore d'évaluation
- Roger Bastide - Arte e Sociedade (1945)Document127 pagesRoger Bastide - Arte e Sociedade (1945)William Santana SantosPas encore d'évaluation
- James Clifford, Sobre A Autoridade EtnográficaDocument24 pagesJames Clifford, Sobre A Autoridade EtnográficaIzomar Lacerda67% (3)
- Sociologia Das Artes No BrasilDocument340 pagesSociologia Das Artes No BrasilTammySenraPas encore d'évaluation
- A Casa e A Rua PDFDocument17 pagesA Casa e A Rua PDFLorenzo Juan67% (3)
- James Clifford - Sobre o Surrealismo EtnográficoDocument24 pagesJames Clifford - Sobre o Surrealismo EtnográficoRenato Ferreira Lopez100% (2)
- 7 Queiroz.M.cultura - sociedRural.sociedUrbanaBra 001Document26 pages7 Queiroz.M.cultura - sociedRural.sociedUrbanaBra 001Gustavo Benedito Medeiros AlvesPas encore d'évaluation
- Glusberg, Jorge - A Arte Da PerformanceDocument72 pagesGlusberg, Jorge - A Arte Da Performanceeduardo_paula_10100% (4)
- Memória e Sociedade - Ecléa BosiDocument9 pagesMemória e Sociedade - Ecléa BosiWolfgang182100% (1)
- XAVIER, Ismail - O Cinema Brasileiro ModernoDocument79 pagesXAVIER, Ismail - O Cinema Brasileiro ModernoIsabela BentesPas encore d'évaluation
- Mombaça, Jota. Rumo À Uma Redistribuição Desobediente de Gênero e Anticolonial Da ViolênciaDocument20 pagesMombaça, Jota. Rumo À Uma Redistribuição Desobediente de Gênero e Anticolonial Da ViolênciaVictor Albuquerque100% (1)
- Retratos Do Brasil Homossexual - Fronteiras, Subjetividades e DesejosDocument1 092 pagesRetratos Do Brasil Homossexual - Fronteiras, Subjetividades e DesejosMolly MillionsPas encore d'évaluation
- CUNHA, Manuela Carneira Da - "Cultura" e Cultura: Conhecimentos Tradicionais e Direitos IntelectuaisDocument63 pagesCUNHA, Manuela Carneira Da - "Cultura" e Cultura: Conhecimentos Tradicionais e Direitos Intelectuaispru.afc83% (12)
- Branquitude Estudos Sobre A Identidade Branca No Brasil PDFDocument171 pagesBranquitude Estudos Sobre A Identidade Branca No Brasil PDFMari Fagundes100% (1)
- SIMÕES, Júlio Assis & FACCHINI, Regina - Na Trilha Do Arco-ÍrisDocument96 pagesSIMÕES, Júlio Assis & FACCHINI, Regina - Na Trilha Do Arco-Írisluiz claudio CandidoPas encore d'évaluation
- CHUVA Marcia Regina Romeiro Os Arquitetos Da Memoria Sociogenese Das Praticas de Preservacao Do Patrimonio Cultural No Brasil Libre PDFDocument53 pagesCHUVA Marcia Regina Romeiro Os Arquitetos Da Memoria Sociogenese Das Praticas de Preservacao Do Patrimonio Cultural No Brasil Libre PDFElinildo Marinho Lima100% (2)
- 4 KROEBER. O SuperorgânicoDocument22 pages4 KROEBER. O SuperorgânicoJoel MendesPas encore d'évaluation
- Poder e Projeto - Reflexoes Sobre A Agencia - ConferenciaseDialogosDocument273 pagesPoder e Projeto - Reflexoes Sobre A Agencia - ConferenciaseDialogosVictoria Irisarri100% (1)
- ESCOBAR Arturo - Territórios de Diferença - A Ontologia Política Dos "Direitos Ao Território"Document18 pagesESCOBAR Arturo - Territórios de Diferença - A Ontologia Política Dos "Direitos Ao Território"LeonardoPas encore d'évaluation
- Artivismo Das Dissidencias Sexuais-Cult31-RepositorioDocument348 pagesArtivismo Das Dissidencias Sexuais-Cult31-RepositorioJaoa de MelloPas encore d'évaluation
- Culturas Hibridas, Poderes Obliquos - Garcia CancliniDocument30 pagesCulturas Hibridas, Poderes Obliquos - Garcia CanclinigavilanPas encore d'évaluation
- Texto 01 Augustin Berque PDFDocument18 pagesTexto 01 Augustin Berque PDFCecilia VargasPas encore d'évaluation
- Cenas Latino-Americanas Da Diversidade Sexual e de Gênero: Práticas, Pedagogias e Políticas PúblicasDocument280 pagesCenas Latino-Americanas Da Diversidade Sexual e de Gênero: Práticas, Pedagogias e Políticas PúblicasJaqueline Gomes de Jesus100% (2)
- O Pós-Dramático (J. Guinsburg e Silvia Fernandes)Document8 pagesO Pós-Dramático (J. Guinsburg e Silvia Fernandes)Marcelo OrianiPas encore d'évaluation
- Nordestino: Invenção Do "Falo" - Uma História Do Gênero Masculino (1920-1940)Document254 pagesNordestino: Invenção Do "Falo" - Uma História Do Gênero Masculino (1920-1940)JussierDantas100% (4)
- Mais alguma antropologia: Ensaios de geografia do pensamento antropológicoD'EverandMais alguma antropologia: Ensaios de geografia do pensamento antropológicoPas encore d'évaluation
- Maquinaria da unidade; bordas da dispersão: Estudos de antropologia do EstadoD'EverandMaquinaria da unidade; bordas da dispersão: Estudos de antropologia do EstadoPas encore d'évaluation
- Identidade étnica e territorialidade: análise espaço-temporal do território quilombola Furnas do Dionísio - Jaraguari/MSD'EverandIdentidade étnica e territorialidade: análise espaço-temporal do território quilombola Furnas do Dionísio - Jaraguari/MSPas encore d'évaluation
- (25.05.2021) Volume 03 - Epidemia - Na - Literatura - e No - Cinema - EbookDocument184 pages(25.05.2021) Volume 03 - Epidemia - Na - Literatura - e No - Cinema - EbookAna Beatriz BandeiraPas encore d'évaluation
- A Sonoridade No Cinema Moderno Brasileiro Selo PPGCOM UFMG 1Document182 pagesA Sonoridade No Cinema Moderno Brasileiro Selo PPGCOM UFMG 1thiago ferreiraPas encore d'évaluation
- Anais - V Colóquio de Arte e Pesquisa Do PPGA-UFESDocument410 pagesAnais - V Colóquio de Arte e Pesquisa Do PPGA-UFESSandro NovaesPas encore d'évaluation
- Miolo Margensemdisputa 155x230 090223Document398 pagesMiolo Margensemdisputa 155x230 090223Rian Ramalho DinizPas encore d'évaluation
- Brasilia Uma Cidade Ou Uma Capital A EpoDocument163 pagesBrasilia Uma Cidade Ou Uma Capital A EpopaulorobertokrugerPas encore d'évaluation
- Anais Da V Jornada Discente - 2016Document196 pagesAnais Da V Jornada Discente - 2016Tasha BallardPas encore d'évaluation
- Livro I OnlineDocument134 pagesLivro I OnlineJonas Goulart MedeirosPas encore d'évaluation
- Cinema e Memoria O Super 8 Na Paraiba NoDocument186 pagesCinema e Memoria O Super 8 Na Paraiba Noluiz.argimonPas encore d'évaluation
- 2017 Roteiristas No Ponto de Virada - 20Document542 pages2017 Roteiristas No Ponto de Virada - 20Claudia OliveiraPas encore d'évaluation
- Almeida Prado - Integral Dos Noturnos para Piano PDFDocument109 pagesAlmeida Prado - Integral Dos Noturnos para Piano PDFJamille Mesquita100% (1)
- Antonio Luigi Negro-Imperfeita Ou RefeitaDocument15 pagesAntonio Luigi Negro-Imperfeita Ou RefeitaJoelia EvanyPas encore d'évaluation
- COMERFORD, John - Como Uma Família - Sociabilidade, Territórios de Parentesco e Sindicalismo RuralDocument202 pagesCOMERFORD, John - Como Uma Família - Sociabilidade, Territórios de Parentesco e Sindicalismo RuralCaio MaderPas encore d'évaluation
- A Filmagem Como Ato Erótico No Documentário de Eduardo CoutinhoDocument23 pagesA Filmagem Como Ato Erótico No Documentário de Eduardo CoutinhoClaudio BezerraPas encore d'évaluation
- XVII - ENANPUR CadernodeResumoDigital PDFDocument340 pagesXVII - ENANPUR CadernodeResumoDigital PDFNathaliaPas encore d'évaluation
- 49) 2010 - Mateus Araujo Silva (Org.) - Jean Rouch 2009 Retrospectivas e Coloquios No Brasil (Belo Horizonte, Balafon, 2010, 172p)Document176 pages49) 2010 - Mateus Araujo Silva (Org.) - Jean Rouch 2009 Retrospectivas e Coloquios No Brasil (Belo Horizonte, Balafon, 2010, 172p)Maria ChiarettiPas encore d'évaluation
- ArquivototalDocument166 pagesArquivototalJoão RodriguesPas encore d'évaluation
- Dialogos Com o Som5Document254 pagesDialogos Com o Som5Mauro MiguelPas encore d'évaluation
- Etico em Basicas Prevest RevisaDocument174 pagesEtico em Basicas Prevest RevisaLucas EmmanoelPas encore d'évaluation
- A AlegriaDocument6 pagesA AlegriamvdevolderPas encore d'évaluation
- A HonraDocument6 pagesA HonramvdevolderPas encore d'évaluation
- Analista TJRJDocument6 pagesAnalista TJRJmvdevolderPas encore d'évaluation
- Técnico TJRJDocument5 pagesTécnico TJRJmvdevolderPas encore d'évaluation
- Analista TJRJDocument6 pagesAnalista TJRJmvdevolderPas encore d'évaluation
- A Minha FéDocument9 pagesA Minha FémvdevolderPas encore d'évaluation
- Técnico TJRJDocument5 pagesTécnico TJRJmvdevolderPas encore d'évaluation
- 01 PDFDocument15 pages01 PDFmvdevolderPas encore d'évaluation
- 01 PDFDocument15 pages01 PDFmvdevolderPas encore d'évaluation
- 01 PDFDocument15 pages01 PDFmvdevolderPas encore d'évaluation
- 01 PDFDocument15 pages01 PDFmvdevolderPas encore d'évaluation
- 01 PDFDocument15 pages01 PDFmvdevolderPas encore d'évaluation
- 01 PDFDocument15 pages01 PDFmvdevolderPas encore d'évaluation
- 01 PDFDocument15 pages01 PDFmvdevolderPas encore d'évaluation
- Status InformationDocument1 pageStatus InformationmvdevolderPas encore d'évaluation
- 01 PDFDocument15 pages01 PDFmvdevolderPas encore d'évaluation
- 01 PDFDocument15 pages01 PDFmvdevolderPas encore d'évaluation
- Edital Concurso SÃ - Lvio Romero 2020Document5 pagesEdital Concurso SÃ - Lvio Romero 2020mvdevolderPas encore d'évaluation
- Priscilla - Livros Estagio PMDocument1 pagePriscilla - Livros Estagio PMmvdevolderPas encore d'évaluation
- 01 PDFDocument15 pages01 PDFmvdevolderPas encore d'évaluation
- Projeto TCCDocument4 pagesProjeto TCCmvdevolderPas encore d'évaluation
- Anexo Sem Título 00016Document1 pageAnexo Sem Título 00016mvdevolderPas encore d'évaluation
- QwertDocument3 pagesQwertmvdevolderPas encore d'évaluation
- TipificacaoDocument1 pageTipificacaomvdevolderPas encore d'évaluation
- UntitledDocument1 pageUntitledmvdevolderPas encore d'évaluation
- 1Document1 page1mvdevolderPas encore d'évaluation
- Anna Karenina Chaves Delgado PDFDocument120 pagesAnna Karenina Chaves Delgado PDFAllan Stephan SilvaPas encore d'évaluation
- Joao Gualberto Ativ02 FilosofiaDocument4 pagesJoao Gualberto Ativ02 FilosofiaTiago Castelo BrancoPas encore d'évaluation
- Currículo Erivelton Cruz 2019Document4 pagesCurrículo Erivelton Cruz 2019Uliana L. LoyolaPas encore d'évaluation
- Texto Ed. FisicaDocument10 pagesTexto Ed. FisicaMarcelo GaldinoPas encore d'évaluation
- Fabiane Mesquita Haudt e Luciano Brasil RivattoDocument11 pagesFabiane Mesquita Haudt e Luciano Brasil RivattoIzabela NascimentoPas encore d'évaluation
- Música e Educação Especial Portfólio 02Document2 pagesMúsica e Educação Especial Portfólio 02Jonatan De Souza NunesPas encore d'évaluation
- HistoricoDocument3 pagesHistoricoMarcelo SantosPas encore d'évaluation
- Avaliação em Medodologia CientificaDocument3 pagesAvaliação em Medodologia CientificaAlessandra Cruz100% (1)
- Como Criar Uma Meta Através Do Método GROW - Coaching de VidaDocument3 pagesComo Criar Uma Meta Através Do Método GROW - Coaching de VidaRobert LuizPas encore d'évaluation
- 9 Bienal Do MercosulDocument279 pages9 Bienal Do MercosulCélia BarrosPas encore d'évaluation
- Criterios Gerais Especificos Correcao Teste 01 F LopesDocument9 pagesCriterios Gerais Especificos Correcao Teste 01 F LopesajsgomesPas encore d'évaluation
- Resumo Do Livro "Ética para Meu Filho"Document8 pagesResumo Do Livro "Ética para Meu Filho"Alana HomrichPas encore d'évaluation
- Apostila - Disciplina Governança CorporativaDocument26 pagesApostila - Disciplina Governança CorporativaCarina DantasPas encore d'évaluation
- Atividade Reflexiva 1Document2 pagesAtividade Reflexiva 1Nathalia0% (1)
- Projeto de GeografiaDocument3 pagesProjeto de Geografiamilhoranca100% (8)
- Cartilha Do Servidor Municipal PDFDocument45 pagesCartilha Do Servidor Municipal PDFAdriana de Jesus100% (1)
- Educação Física e Aprendizagem Social - Valter BrachtDocument64 pagesEducação Física e Aprendizagem Social - Valter Brachtconstanzamabres100% (3)
- Osman EstagioDocument19 pagesOsman Estagioneves tuluaPas encore d'évaluation
- 37 - Unimed Rio - Es04 - Unimed Personal Quarto Coletivo 2Document83 pages37 - Unimed Rio - Es04 - Unimed Personal Quarto Coletivo 2Guilherme BastosPas encore d'évaluation
- Resultadoetapa1 Prova Psu2018Document713 pagesResultadoetapa1 Prova Psu2018Lucas SenaPas encore d'évaluation
- Cad04 ParteC Aluno Quali MAT SD3Document3 pagesCad04 ParteC Aluno Quali MAT SD3Edilian ArraisPas encore d'évaluation
- Modelo de Proposta para Trabalho PedagógicoDocument10 pagesModelo de Proposta para Trabalho PedagógicoProf. Elicio Lima100% (6)
- A Educação Dos Primórdios Ao Século XXI: Perspectivas, Rumos e DesafiosDocument39 pagesA Educação Dos Primórdios Ao Século XXI: Perspectivas, Rumos e DesafiosHermesPas encore d'évaluation
- Apostila PDFDocument118 pagesApostila PDFviniciusmhPas encore d'évaluation
- História Da Educação e Da Pedagogia - Lorenzo LuzuriagaSSSDocument112 pagesHistória Da Educação e Da Pedagogia - Lorenzo LuzuriagaSSSYan Guedes64% (11)
- Referências BibliográficasDocument15 pagesReferências Bibliográficaslourena_pmPas encore d'évaluation
- Socioeducação. Estrutura e Funcionamento Da Comunidade EducativaDocument158 pagesSocioeducação. Estrutura e Funcionamento Da Comunidade EducativadjalmapsiPas encore d'évaluation
- Eped 2018 MutuáDocument2 pagesEped 2018 MutuáMarcos Antonio CoutinhoPas encore d'évaluation
- Desenvolvimento Cognitivo Aprendizagem e ComportamentoDocument33 pagesDesenvolvimento Cognitivo Aprendizagem e ComportamentoKethullinPas encore d'évaluation
- Anais Do EbeenDocument261 pagesAnais Do EbeenRute RibeiroPas encore d'évaluation