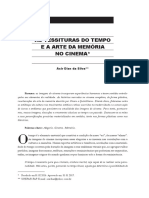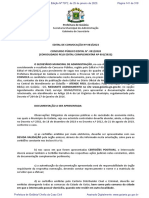Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Resenha
Transféré par
Paulo Rodrigo Soares0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
18 vues8 pagesresenha
Titre original
resenha
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentresenha
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
18 vues8 pagesResenha
Transféré par
Paulo Rodrigo Soaresresenha
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 8
Mulheres, raça e classe
Gislania de Freitas Silva
Universidade Federal do Ceará (BRA)
Professora da rede cearense de ensino.
DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe. São Paulo: Boitempo, 2016.
244 p.
A importante obra do movimento feminista Mulheres, raça e classe, de
Angela Davis, foi lançada nos Estados Unidos em 1981. Contudo, somente
agora está disponível para o público brasileiro, traduzida para o português,
como parte de um projeto de edição de obras feministas da Editora Boitempo.
Chega em hora oportuna, uma vez que nossa sociedade presencia um embate
entre forças conservadoras e a resistência de diversos movimentos sociais,
coletivos e indivíduos que recusam, prontamente, a perda de direitos de
minorias.
Revista de Ciências Sociais. Fortaleza, v.48, n. 2, p.369-376, jul./dez., 2017
Mulheres, raça e classe 370
Angela Davis é filósofa, professora e militante dos movimentos
feminista e negro. Ficou conhecida internacionalmente por sua atuação no
Partido dos Panteras Negras, apesar de nunca ter se filiado formalmente. A
obra reflete sua militância em prol da igualdade de gênero, pela superação do
racismo e pelo fim das desigualdades sociais. Suas palavras evidenciam que
não é possível a superação das desigualdades sociais sem uma mudança radical
nas relações raciais e de gênero, enfatizando a ligação profunda entre tais
dimensões.
No Brasil, tornou-se ponto pacífico a dicotomia Estados Unidos bi-
racial x Brasil multirracial, mesmo nos círculos acadêmicos. Tal polarização
era baseada em um saber convencional, não em dados concretos (ANDREWS,
1997; SKIDMORE, 1992). A ideia difundida de democracia racial é
persistente. Vemos quão forte ela ainda é nas reações exageradas quanto às
ações afirmativas e política de cotas, por exemplo. Resistências e indignações
com atos racistas são facilmente reputados como exageros, jogados para
debaixo do tapete e silenciados no cotidiano. A luta organizada dos
movimentos sociais é central para trazer visibilidade e promover espaços de
debates onde o preconceito, assentado no total desconhecimento do outro,
possa ser confrontado com as histórias de vidas reais, com pesquisas sérias e
estudos fundamentados.
Em Mulheres, raça e classe, Davis se propõe a fazer um apanhado
histórico da situação de homens e mulheres negras que foram escravizados no
período pós-abolição, nos Estados Unidos, e as persistências históricas de
práticas racistas. A obra é composta por treze capítulos bem articulados entre
si, analisando diversas facetas do desenvolvimento do movimento sufragista, as
interseções com o movimento antiescravagista e, posteriormente, o movimento
negro. Seu trabalho discute o racismo institucional, constituinte de práticas
culturais sancionadas no cotidiano, mas seu foco principal é a situação das
negras, triplamente exploradas em sua condição de mulher, negra e
trabalhadora.
Revista de Ciências Sociais. Fortaleza, v.48, n. 2, p.369-376, jul./dez., 2017
Mulheres, raça e classe 371
Tratadas como unidades de trabalho, tal como os homens, as mulheres
escravizadas sofriam ainda mais por sua condição de mulher, sendo vítimas
constantes de abusos e violências sexuais. Davis traz uma série de relatos de
mulheres que resistiram e os castigos perpetrados contra elas. Aponta como o
estupro se tornou um instrumento eficiente de humilhação e subjugação, da
qual os homens brancos lançavam mão sempre que desejavam.
Nesse contexto, as mulheres brancas foram, paulatinamente, sendo
excluídas do mercado de trabalho; e os pequenos serviços que faziam em casa,
como tecer e costurar, fazer velas ou sabão, passaram a ser realizados pela
indústria nascente. Em par com isso, a ideologia da feminilidade, em vigor
desde meados do século XIX, disseminava a ideia de que cabia às mulheres o
papel sagrado de “mães” e “donas de casa”. Contudo, o mesmo não aconteceu
com as mulheres negras, historicamente submetidas ao trabalho compulsório.
Não obstante, grupos de mulheres – negras e brancas – passaram a lutar contra
a escravidão. Muitas delas arriscaram a própria vida para ajudar escravos em
fuga, ou mesmo para ensinar crianças e jovens negros a ler e a escrever.
A autora aponta que o movimento antiescravagista preparou as
mulheres para a militância em defesa dos seus direitos, pois aprenderam a
desafiar a supremacia masculina. Organizações de mulheres brancas de classe
média que, a princípio, opunham-se à escravidão, passaram a reivindicar o
sufrágio e a negar o “destino” de mães e donas de casa. Contudo, seu recorte de
classe não permitiu que elas compreendessem a situação das mulheres
trabalhadoras; tampouco, das mulheres negras.
Elisabeth Cady Stanton, Lucretia Mott e Susan B. Anthony, líderes do
movimento sufragista, mulheres brancas de classe média alta, apontavam como
limites das vidas das mulheres a domesticidade e a falta de oportunidades de
estudos e empregos, condizentes com mulheres de sua classe social. De fato,
elencavam como problemas enfrentados pelas mulheres o matrimônio, a
carreira e os estudos e a perda de confiança e da autoestima. Acreditavam que,
Revista de Ciências Sociais. Fortaleza, v.48, n. 2, p.369-376, jul./dez., 2017
Mulheres, raça e classe 372
com acesso ao voto, as mulheres poderiam modificar sua situação e serem
tratadas com igualdade de direitos em relação aos homens. Claro está que essas
são pautas importantes, mas seu recorte racial e de classe não lhes permitiu ver
a situação das mulheres trabalhadoras. Anthony, por exemplo, criticava as
trabalhadoras por focarem em “seus problemas imediatos” em vez de lutarem
por igualdade política. De fato, o sufrágio só passa a ser uma pauta efetiva para
as trabalhadoras quando essa necessidade brota de seu próprio cotidiano, de
suas demandas por melhores condições de trabalho.
O movimento de mulheres sufragistas, que se originou na luta
antiescravagista, ironicamente passa a ter uma postura racista e, em certos
momentos, defensora da supremacia branca. As líderes do movimento, ao
verem frustrado seu desejo de poder votar, com a aprovação da décima terceira
e da décima quarta emendas, passaram a apoiar a campanha contra o voto do
homem negro, pois, para elas, era absurdo que “até um negro” tivessem mais
direitos do que elas, simplesmente por serem homens. Elas não percebiam que
a já precária situação da população negra tornou-se mais grave no pós-
abolição, com a formação de esquadrões de homens brancos que, em diversas
cidades, matavam, sistematicamente, centenas de pessoas por motivos de ódio
racial. De mercadoria que precisava ser preservada, os negros passaram a ter de
ficar por sua própria conta em uma sociedade racista, hostil e violenta.
No fim do século XIX, os Estados Unidos veem recrudescer o racismo
e assistem ao florescer da ideologia da supremacia branca, com as chamadas
Leis de Jim Crow, leis de linchamento, frequentes assassinatos públicos de
pessoas negras. A segregação vinha de mãos dadas com a mais explícita
violência física e moral. Em 1893, a Suprema Corte revogou o Ato de Direitos
Civis de 1875 e foi instituído um regime sob a máxima: “separados, mas
iguais”.
Nesse contexto, as uniões sufragistas brancas passaram a entoar, em
nome dos direitos das mulheres (brancas de classe média, diga-se de
Revista de Ciências Sociais. Fortaleza, v.48, n. 2, p.369-376, jul./dez., 2017
Mulheres, raça e classe 373
passagem), um discurso racista de restrição dos direitos dos negros e de
supremacia branca. Como aponta Davis, “(...) não eram os direitos das
mulheres ou igualdade política das mulheres que tinham de ser preservados a
qualquer custo, e sim a superioridade racial reinante da população branca” (p.
131). Impressiona no relato da autora como, aos poucos, as sufragistas só
enxergavam a negação do voto como obstáculo para as mulheres, sem analisar
a situação real de todas as mulheres – brancas e negras – de sua sociedade.
No tocante à condição das mulheres negras no pós-abolição, a autora
delineia um quadro desanimador. As negras que viviam no Sul permaneceram,
majoritariamente, nos serviços domésticos e nos campos. Para essas mulheres,
nada ou quase nada mudou. Trabalho doméstico com carga horária extensa,
assédios e abusos constantes, salários irrisórios, dentre outras situações,
permaneceram quase intactas. As que conseguiram chegar ao Norte se
depararam com o trabalho doméstico e, mesmo as que trabalhavam na
indústria, desempenhavam papéis subalternos e mal remunerados. Somente no
período da Segunda Guerra Mundial é que as mulheres negras abandonaram o
trabalho doméstico e foram empregadas na indústria. Contudo, as pesquisam
apontavam que ao menos um terço das mulheres negras permaneciam
realizando trabalhos domésticos.
Davis chama a atenção para uma prática comum no Sul pós-abolição: o
trabalho dos encarcerados. Pessoas de cor, homens e mulheres, ao menor
pretexto, eram encarceradas e obrigadas a trabalhar para pagar suas penas,
muitas vezes com grilhões presos aos seus pescoços. Diante desse “mercado
lucrativo”, alguns governantes implementaram políticas de encarceramento em
massa de pessoas negras. Alguns fazendeiros chegaram a contratar somente
trabalhadores encarcerados, por ter um custo mais baixo – aponta a autora.
Outro ponto que merece destaque é o mito do estuprador negro e seu
par inseparável, mas quase nunca mencionado: a ideia da mulher negra
promíscua. A autora nos mostra como se construiu esse mito e como serviu de
Revista de Ciências Sociais. Fortaleza, v.48, n. 2, p.369-376, jul./dez., 2017
Mulheres, raça e classe 374
justificativa para linchamentos e outros atos de violência contra a população
considerada “de cor”. A mera suposição de que um negro era capaz de violar
uma mulher branca era motivação suficiente para um homicídio. Ironicamente,
não se discutia os recorrentes estupros de mulheres negras. Ao contrário,
reforçava-se essa prática e a ideia de que as mulheres negras deviam se
submeter aos brancos. Como assevera Davis, o estupro acabou por se tornar um
instrumento de subjugação e terror da supremacia branca.
Importante também é a discussão impetrada por Davis sobre direitos
reprodutivos e eugenia. Nas fileiras do movimento sufragista, algumas
militantes levantavam a bandeira da “maternidade voluntária”, consequência da
militância por direitos políticos. Todavia, tal proposta foi embotada pela
ideologia racista e recaiu em apologias à esterilização das minorias étnicas e
das classes populares. “Salvar a raça branca”, “salvar o país da mistura
imprópria com negros e imigrantes”, eram alardeados por políticos e
acadêmicos. “A influência fatal do movimento eugenista logo destruiria o
potencial progressista da campanha pelo controle de natalidade” (p. 215).
A autora traz discussões que, ainda hoje, estão na pauta do dia da
agenda feminista, como o aborto, a maternidade e os direitos sexuais das
mulheres, que as militantes de hoje resumem na máxima: “meu corpo, minhas
regras”. Conjuntamente, discorre sobre os trabalhos domésticos e o papel
socialmente destinado as mulheres no tocante aos “assuntos do lar”, apontando
para uma redefinição dos serviços domésticos na sociedade contemporânea.
A obra de Davis também nos instiga à reflexão sobre a polêmica
questão do “lugar de fala”. Trata-se da substituição de diferenças biológicas
por novos “essencialismos” culturais, como problematiza Antônio Flávio
Pierucci (PIERUCCI, 2013). Políticas universalistas são mais urgentes do que
demandas de públicos específicos? Quem pode falar sobre o quê? Somente
contra o pano de fundo histórico esse conceito, apropriado por diversos
movimentos sociais, mostra seu sentido. Apesar do exagero de alguns
Revista de Ciências Sociais. Fortaleza, v.48, n. 2, p.369-376, jul./dez., 2017
Mulheres, raça e classe 375
militantes mais empolgados, que facilmente confundem “lugar de fala” com
“autoridade de fala” (e homogeneização dos sujeitos que ocupam tais lugares),
a questão é que diversos segmentos sociais foram silenciados, vilipendiados e
tiveram seus direitos negados. Nesse momento, é urgente que se entenda o
outro a partir de seu lugar no mundo e, principalmente, como este é tratado a
partir de seu lugar social, é relacional. Claro, não vamos defender que “só
mulheres podem falar de feminismo e sexismo” ou que “só gays podem
discutir as pautas LGBTT”. Mas não podemos negar que existem experiências
que não alcançaremos, nem com o maior esforço de abstração. É preciso ter
consciência de que nossas experiências moldam as lentes pelas quais
entendemos o mundo. Como mulher, compartilho com minhas irmãs as
dificuldades de se viver em uma sociedade marcada pelo patriarcado e por
práticas machistas. Contudo, como mulher branca, posso falar das experiências
de uma mulher negra, bombardeada cotidianamente por estereótipos racistas
que a colocam, ou tentam colocar, em uma posição inferior e subalterna? Como
mulher branca, de classe média, acadêmica, tenho consciência dos privilégios
de que gozo, devidos tão somente a minha branquitude?
A discussão proposta por Davis, entrelaçando gênero, raça e classe nos
permite ter uma dimensão das problemáticas referentes aos pertencimentos
identitários e da árdua tarefa que nos espera para a construção de um mundo
socialmente mais justo. Para o enfrentamento das lutas cotidianas nesses
tempos difíceis de transição, em que velhos padrões culturais não foram
totalmente substituídos por outros, esta obra é ferramenta das mais valiosas.
Revista de Ciências Sociais. Fortaleza, v.48, n. 2, p.369-376, jul./dez., 2017
Mulheres, raça e classe 376
Bibliografia ANDREWS, Georg Reid. Democracia racial brasileira 1900 -
1990: um contraponto americano. Revista Estudos avançados, 11
(30), 1997.
DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe. São Paulo: Boitempo,
2016.
PIERUCCI, Antônio Flávio. Ciladas da diferença. 3ª Ed. São
Paulo: Editora 34, 2013.
SKIDMORE, Thomas E. EUA bi-racial vs. Brasil multirracial: o
contraste ainda é válido? Revista Novos Estudos CEBRAP, nº
34, nov./ 1992. pp. 49-62.
Revista de Ciências Sociais. Fortaleza, v.48, n. 2, p.369-376, jul./dez., 2017
Vous aimerez peut-être aussi
- A Linguagem Cinematografica Marcel MartiDocument31 pagesA Linguagem Cinematografica Marcel MartiPaulo Rodrigo SoaresPas encore d'évaluation
- Passeron Revisado e Completo PDFDocument29 pagesPasseron Revisado e Completo PDFPaulo Rodrigo SoaresPas encore d'évaluation
- 20 33 4 PBDocument11 pages20 33 4 PBPaulo Rodrigo SoaresPas encore d'évaluation
- CertiDocument1 pageCertiPaulo Rodrigo SoaresPas encore d'évaluation
- 1 PB PDFDocument32 pages1 PB PDFPaulo Rodrigo SoaresPas encore d'évaluation
- XpipespepesquisaDocument16 pagesXpipespepesquisaPaulo Rodrigo SoaresPas encore d'évaluation
- Resenha BourdieuDocument4 pagesResenha BourdieuRodrigo Camargo100% (1)
- 7301 21995 1 SMDocument22 pages7301 21995 1 SMPaulo Rodrigo SoaresPas encore d'évaluation
- XIII Congresso - Foco, Escopo e ExpedienteDocument4 pagesXIII Congresso - Foco, Escopo e ExpedientePaulo Rodrigo SoaresPas encore d'évaluation
- 5672 17325 1 PBDocument11 pages5672 17325 1 PBPaulo Rodrigo SoaresPas encore d'évaluation
- Políticas Culturais Divisão Por DataDocument5 pagesPolíticas Culturais Divisão Por DataPaulo Rodrigo SoaresPas encore d'évaluation
- Campo Intelectual Projeto CriadorDocument21 pagesCampo Intelectual Projeto CriadorPaulo Rodrigo SoaresPas encore d'évaluation
- Sociologia Da Cultura e Do Conhecimento 2019Document3 pagesSociologia Da Cultura e Do Conhecimento 2019Paulo Rodrigo SoaresPas encore d'évaluation
- Cultura Midiática Ou Cultura de Massa?: Quarta ParteDocument39 pagesCultura Midiática Ou Cultura de Massa?: Quarta PartePaulo Rodrigo SoaresPas encore d'évaluation
- Edital Mestrado 2018 - Final PDFDocument10 pagesEdital Mestrado 2018 - Final PDFDavidPas encore d'évaluation
- Exames Delf Dalf CapesDocument1 pageExames Delf Dalf CapesPaulo Rodrigo SoaresPas encore d'évaluation
- 5672 17325 1 PBDocument11 pages5672 17325 1 PBPaulo Rodrigo SoaresPas encore d'évaluation
- MANUAL ApoenaDocument10 pagesMANUAL ApoenaPaulo Rodrigo SoaresPas encore d'évaluation
- INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio TeixeiraDocument4 pagesINEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio TeixeiraAndrea RuizPas encore d'évaluation
- 7948 30053 1 PBDocument14 pages7948 30053 1 PBPaulo Rodrigo SoaresPas encore d'évaluation
- Dialnet OColapsoTeoricoDoPopulismo 5860344Document14 pagesDialnet OColapsoTeoricoDoPopulismo 5860344Paulo Rodrigo SoaresPas encore d'évaluation
- BTG Pactual - Rodada FS5 (Divulgação 24 PDFDocument54 pagesBTG Pactual - Rodada FS5 (Divulgação 24 PDFPaulo Rodrigo SoaresPas encore d'évaluation
- Folder EUsDocument37 pagesFolder EUsPaulo Rodrigo SoaresPas encore d'évaluation
- USAR-O Sentido Da InterdisciplinaridadeDocument8 pagesUSAR-O Sentido Da InterdisciplinaridadePaulo Rodrigo SoaresPas encore d'évaluation
- Edital Mestrado 2018 - Final PDFDocument10 pagesEdital Mestrado 2018 - Final PDFDavidPas encore d'évaluation
- Por Uma Estética Da Restituição - ValeDocument39 pagesPor Uma Estética Da Restituição - ValeluizgustavopscPas encore d'évaluation
- BTG Pactual - Rodada FS5 (Divulgação 24 PDFDocument54 pagesBTG Pactual - Rodada FS5 (Divulgação 24 PDFPaulo Rodrigo SoaresPas encore d'évaluation
- Resenha BourdieuDocument4 pagesResenha BourdieuRodrigo Camargo100% (1)
- Guia NormatizacaoDocument28 pagesGuia NormatizacaoPaulo Rodrigo SoaresPas encore d'évaluation
- AULA 3 - Redação - Como Organizar Meu Pensamento - Profa. PambaDocument8 pagesAULA 3 - Redação - Como Organizar Meu Pensamento - Profa. PambaPaulinha GazarianPas encore d'évaluation
- 10 Dicas para Reduzir Os Riscos para o Trabalhador Da Construção Civil - DDS OnlineDocument2 pages10 Dicas para Reduzir Os Riscos para o Trabalhador Da Construção Civil - DDS OnlineAmorim AmorimPas encore d'évaluation
- Refugiados D O BrasilDocument11 pagesRefugiados D O BrasilcryhoneyPas encore d'évaluation
- A Responsabilidade Penal Por Omissao ImpDocument109 pagesA Responsabilidade Penal Por Omissao ImpValéria RodriguesPas encore d'évaluation
- Treinamento EnemDocument3 pagesTreinamento EnemJóVidal100% (1)
- EXERC - 1-PROVA BRASIL DESCR 3 (5º Ano - L.P)Document3 pagesEXERC - 1-PROVA BRASIL DESCR 3 (5º Ano - L.P)Eduardo SilvaPas encore d'évaluation
- Projeto MemóriaDocument4 pagesProjeto MemóriaKelly AdamsPas encore d'évaluation
- Ebook Homenagem Ao Prof Denilson2 CORRIGIDO CORRETO 2 Thz8d8Document128 pagesEbook Homenagem Ao Prof Denilson2 CORRIGIDO CORRETO 2 Thz8d8adilivsPas encore d'évaluation
- 06 - Descobrindo o Amor Com Os Olhos Da Alma - MioloDocument48 pages06 - Descobrindo o Amor Com Os Olhos Da Alma - MioloMarília Liloca100% (2)
- Livro Ichnology of Latin America - Web-Libre PDFDocument198 pagesLivro Ichnology of Latin America - Web-Libre PDFIsabel OcañaPas encore d'évaluation
- Animais Ed InfDocument8 pagesAnimais Ed InfCentro EducaçãoPas encore d'évaluation
- E-Book 6 - Arcanos Maiores - Scheyla EstevesDocument29 pagesE-Book 6 - Arcanos Maiores - Scheyla EstevesDeê SoaresPas encore d'évaluation
- Regras MatriculaDocument9 pagesRegras Matriculapaulo bessaPas encore d'évaluation
- Tornar-Se Diarista: A Percepção Das Empregadas Domésticas Sobre Seu Trabalho em Regime de DiáriasDocument116 pagesTornar-Se Diarista: A Percepção Das Empregadas Domésticas Sobre Seu Trabalho em Regime de DiáriasCecy Bezerra de MeloPas encore d'évaluation
- Relatório de Entrega de Atividades Extensionistas Atual-2Document2 pagesRelatório de Entrega de Atividades Extensionistas Atual-2Ana AzevedoPas encore d'évaluation
- Tqe 01Document13 pagesTqe 01kronos onomoPas encore d'évaluation
- Penso Logo ExistoDocument2 pagesPenso Logo ExistoDanilson100% (1)
- Abrindo Caixa de PandoraDocument2 pagesAbrindo Caixa de PandoraTayrine SantosPas encore d'évaluation
- Edital Convocacao 003 2023Document11 pagesEdital Convocacao 003 2023Priscilla PaixaoPas encore d'évaluation
- 5 e 6aula - Hierarquia de MemoriaDocument66 pages5 e 6aula - Hierarquia de MemoriaRANT2Pas encore d'évaluation
- Treinamento de Força PDFDocument59 pagesTreinamento de Força PDFCarlos ThiagoPas encore d'évaluation
- 3.2. Aspiral HermenêuticaDocument22 pages3.2. Aspiral HermenêuticaMário AlbuquerquePas encore d'évaluation
- Plim! Revisão de Conteúdos de Matemática 4º Ano - 1º TrimestreDocument12 pagesPlim! Revisão de Conteúdos de Matemática 4º Ano - 1º TrimestreCristina BarbosaPas encore d'évaluation
- Trabalho Sobre Animais PeçonhentosDocument32 pagesTrabalho Sobre Animais PeçonhentosRoseane Nobre Terra50% (2)
- Prof. Tacia - Lição 10 REVISÃO AV1 - Logística 22 A 26.5Document53 pagesProf. Tacia - Lição 10 REVISÃO AV1 - Logística 22 A 26.5Fernanda VitaliPas encore d'évaluation
- Lição 10 A Destruição de JerusalémDocument12 pagesLição 10 A Destruição de JerusalémRomário DiasPas encore d'évaluation
- Embreagens e Volantes 10Document20 pagesEmbreagens e Volantes 10Daniel Willemam TrindadePas encore d'évaluation
- Uma Conversa Sobre A BíbliaDocument17 pagesUma Conversa Sobre A BíbliaGustavo MoreiraPas encore d'évaluation
- Quadro de Acompanhamento 3 Avaliação BimestralDocument8 pagesQuadro de Acompanhamento 3 Avaliação BimestralLeliane BarataPas encore d'évaluation
- 1 Escola Da ExegeseDocument11 pages1 Escola Da ExegeseAna LiviaPas encore d'évaluation