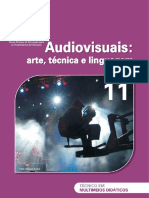Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
O Ministério Da Justiça e Cultos
Transféré par
Jose MagalhaesTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
O Ministério Da Justiça e Cultos
Transféré par
Jose MagalhaesDroits d'auteur :
Formats disponibles
Na sua tese de doutoramento, editada em livro com o título “A Crise da República e a Ditadura Militar” o Doutor Luís
Bigotte Chorão estudou os motivos que levaram à crise e derrube da República. Na segunda parte da obra, debruça-se
sobre a figura de Manuel Rodrigues Junior, ministro da Justiça de Salazar entre 1932 e 1940, analisando a sua figura e
obra legislativa. No capítulo intitulado “ Manuel Rodrigues Júnior: Um
precursor na Justiça”, o lança-se luz sobre aspectos muito relevantes
da história do Ministério da Justiça, chamando a atenção para as
lacunas que ainda subsistem.
Com autorização do autor, divulgam-se aqui extractos desse texto.
1. O Ministério da Justiça e Cultos
UMA DAS MAIS IMPORTANTES lacunas na historiografia contemporânea
portuguesa resulta da escassa atenção que tem merecido aos investigadores o
estudo, em geral, da administração pública.
Ora, uma aproximação ao tema revela a importância da investigação nesse
domínio. Regra geral, a referência às secretarias de Estado e aos ministérios
bem como aos seus titulares, é feita com o total desconhecimento da orgânica
e competências próprias desses departamentos da administração pública
central do Estado e sem consideração, portanto, do fenómeno, por assim dizer
organizativo, que é conformado de acordo com critérios político-administrativos
do mais fundo significado.
Estamos em crer que a apreensão desses critérios não pode obter-se senão a
partir da dissecação das estruturas orgânicas da administração central e das
modificações que ao longo do tempo lhe foram sendo introduzidas, de modo a
fixar-se, em relação com o quadro epocal próprio, não só a organização dos
poderes do executivo, mas a influência desta no plano do relacionamento com
outros departamentos governamentais e com os restantes poderes do Estado.
Também a investigação biográfica de muitos dos titulares de cargos
governativos ao longo dos séculos XIX e XX está ainda por realizar, não
obstante os assinaláveis esforços que resultam de contribuições parcelares e
daquelas outras que foram reunidas em dicionários recentemente publicados,
havendo ainda um longo caminho a percorrer no campo dos estudos
bibliográficos.
Tal como ensinou Paulo Merêa, foi a partir de 23 de Agosto de 1821 que o
Ministério da Justiça se juntou aos ministérios da Fazenda, Guerra, Marinha e
Estrangeiros, tendo sido organizado por decreto das Cortes Gerais,
Extraordinárias e Constituintes de 18 de Agosto de 1821.
A Secretaria de Estado da Justiça afirmou-se, ao longo da monarquia
constitucional, como um dos mais influentes departamentos do Governo
central, por motivo das suas competências orgânicas e pelo relevo das figuras
que a chefiaram; a República confirmou essa tradição.
A circunstância, entre outras, do regime saído do 5 de Outubro ter assentado
numa solução parlamentarista — que dispensou, mesmo, como já assinalámos,
o poder moderador do Presidente da República — esteve na origem da crónica
instabilidade governativa, naturalmente incompatível com a realização de
qualquer plano reformador coerente, com excepção daquele que Afonso Costa
concretizou enquanto Ministro da justiça do Governo Provisório, cargo que
desempenhou de 5 de Outubro de 1910 a 4 de Setembro de 1911.
Logo a 8 de Outubro foram mandadas continuar em vigor as leis de 3 de
Setembro de 1759, de 28 de Agosto de 1767 e de 28 de Maio de 1834,
respectivamente, as primeiras sobre a desnaturalização, proscrição e expulsão
dos jesuítas; a segunda, relativa à extinção de conventos, mosteiros, hospícios
e quaisquer casas de religiosos de todas as ordens regulares, fosse qual fosse a
sua denominação, instituto ou regra. Pelo mesmo decreto, o Governo Provisório
declarou a nulidade do diploma de 18 de Abril de 1901, que, no dizer do
legislador, tinha «disfarçadamente» autorizado a constituição de congregações
religiosas no país, quando «pretendessem dedicar-se exclusivamente à
instrução de beneficência, ou à propaganda da fé e civilização no ultramar». Tal
como lembra Vítor Neto, aquele decreto estabeleceu que as direcções
superiores das associações religiosas tinham que ser formadas por
portugueses, excepto se esses institutos fossem constituídos apenas por
estrangeiros; «através dessa medida — escreve o mesmo historiador — o
executivo possibilitava a legalização generalizada das ordens regulares,
embora de acordo com o regalismo implícito no seu articulado».
Seguir-se-iam, entre outras medidas legislativas, as relativas ao exercício do
direito de expressão de pensamento pela imprensa; sobre direito sucessório;
estabelecimento do divórcio arrendamento e despejo de prédios urbanos;
alteração do Código Civil em matéria de naturalização; casamento e protecção
dos filhos regime aplicável aos bens das congregações religiosas
Em 1911, o decreto, de 1 de Janeiro, determinou várias providências relativas à
protecção de menores, tendo criado uma comissão de protecção de menores
em perigo moral, pervertidos ou delinquentes, seguindo-se-lhe a aprovação do
Código de Registo Civil, da Lei de Separação do Estado das Igrejas, e do
decreto de 27 de Maio, que criou instituições de protecção aos menores.
Não tendo deixado Afonso Costa de subscrever um conjunto de diplomas com
incidência na organização judiciária, não se reconhece nesse domínio a
concretização de qualquer programa de reformas do ministro, mas tão-só um
conjunto de medidas avulsas, que estariam destinadas a revestir mero carácter
transitório, já que se perspectivava a aprovação de uma nova organização
judiciária, objectivo que a Constituição Política consagrou expressamente. Com
efeito, o seu artigo 85. °, alínea d), determinou que o Congresso da República
— o primeiro constituído na vigência do novo texto constitucional —,
elaborasse a «Lei da organização judiciária» . O professor e político José Maria
Vilhena Barbosa de Magalhães haveria de escrever que «infelizmente» as
«circunstâncias políticas» não haviam permitido que fosse observado pelo
Congresso esse «mandato imperativo».
Um dos aspectos marcantes da passagem de Afonso Costa pela pasta da
Justiça durante o Governo Provisório consistiu na política de inquéritos e
sindicâncias ao funcionamento dos tribunais e serviços dependentes do
ministério; assim ocorreu quanto aos primeiros, em relação aos das comarcas
de Lisboa e Porto, aos tribunais de segunda instância e ao Supremo Tribunal de
justiça. Quanto a este último e ao Tribunal da Relação de Lisboa foi
determinada a inquirição sobre o modo como vinham funcionando, devendo os
encarregados dessa missão indicar tudo quanto achassem digno de nota e
mais o que julgassem conveniente «à superior administração da justiça e ao
funcionamento dos mesmos tribunais». Para a realização deste inquérito foi
constituída uma comissão composta pelo director-geral de Justiça, Germano
Lopes Martins; juiz do Supremo Tribunal de Justiça, João José da Silva; juiz
agregado à Relação do Porto. João Ferreira de Pina Callado; ajudante do
Procurador-Geral da República, António Caetano Macieira júnior; e ainda pelo
advogado António Pereira Reis. Também, entre outras, foram instauradas sindi-
câncias à Penitenciária Central de Lisboa, à Cadeia do Porto e Penitenciária de
Coimbra, bem como às diferentes repartições do Ministério da Justiça.
Afonso Costa tomaria depois a decisão de realizar um inquérito geral à situação
do funcionalismo do seu ministério, mandando que em prazo determinado
fossem remetidas declarações individuais de resposta a quesitos que foram
indicados, o teor dos quais denuncia a mais que provável situação de não
serem conhecidas pelos serviços centrais do Ministério da Justiça informações
elementares sobre os seus funcionários. Eram os seguintes os quesitos:
«a) Nome; b) Qual o cargo de que vence ordenado de categoria? Qual o
ordenado? Qual a gratificação e emolumentos?; c) Exerce algum cargo de
que receba emolumentos? Qual? Quais os emolumentos no ano corrente
e no último ano?; d) Exerce outros cargos remunerados pelo Estado? Se
exerce, quais são?; e) Exercendo mais de um cargo, acumula, com os
vencimentos respectivos, alguma gratificação, soldo, ordenado ou
emolumentos?; f) Desde e até que horas é regularmente obrigado a
permanecer em cada uma das repartições que serve?; g) Tem alguma
gratificação ou abono inerente ao cargo ou por serviço extraordinário?; h)
Exerce alguma comissão? Onde? E remunerado? Qual é a remuneração?
A que horas desempenha a comissão?; i) Desempenha algum cargo
municipal? A que horas o exerce? E remunerado? Qual é a remuneração?;
j) Tem pensão de reforma ou aposentação de cargo do estado ou do
município?; k) Percebe de alguma empresa honorários por funções de
nomeação do Estado?; l) E membro de direcções ou conselhos fiscais de
empresas que tenham contratos com o Estado ou do Estado tenham
subvenção?; m) Exerce alguma profissão lucrativa, como advocacia,
comércio, indústria, etc.? Onde? Paga dela contribuição? Quanto nos
últimos três anos?»
De um modo geral, Afonso Costa chamou a integrar essas comissões
personalidades exteriores à magistratura, não tendo, porém, dispensado a
cooperação de magistrados, praticamente em todas elas.
Com contadas excepções, o novo regime político não encontrou na
magistratura um obstáculo à sua acção, pelo que estabeleceu com os juízes
um relacionamento que Álvaro de Castro, enquanto Ministro da Justiça, teve
ensejo de assinalar publicamente através da organização de um banquete em
honra da magistratura judicial, que se realizou no Hotel Avenida Palace, em
Lisboa, a 1 de Novembro de 1913, com a presença do chefe do Governo,
Afonso Costa.
Deve lembrar-se que o aludido caso Abel de Mattos Abreu se inseriu num
contexto de certa crispação, que marcou, em virtude de suspeitas recíprocas, o
relacionamento entre os novos detentores do poder e a magistratura. Desse
clima deu sinal o Congresso do Partido Republicano Português realizado em
Outubro de 1911. A propósito da projectada reorganização judicial, os
congressistas aprovaram uma moção nos seguintes termos: «O congresso do
partido republicano português, reunido em Lisboa, reconhece com desgosto
que a magistratura judicial não coopera com o parlamento na consolidação da
República, e manifesta o seu desejo de que uma breve reforma judicial,
assente em bases democráticas, assegure o triunfo permanente e insofismável
da justiça»
A posição do Partido Republicano tinha antecedentes. Já nos longínquos
tempos da propaganda, em 1882, alguém com as responsabilidades de Jacinto
Nunes fizera um juízo muito crítico sobre a magistratura portuguesa,
escrevendo a respeito: «A magistratura era apontada ainda há poucos anos,
como o único poder constitucional digno e respeitável deste país. Hoje pode
afirmar-se, sem receio de um desmentido sério e fundamentado que o poder
judicial cone parelhas com qualquer dos três outros estabelecidos na Carta. O
arbítrio, a violência e o cinismo, eis os característicos dos poderes legislativo,
executivo, moderador e judicial». E concluía Jacinto Nunes que os republicanos
deviam vigiar «cuidadosamente a magistratura realenga», propondo que lhe
caíssem «desapiedadamente em cima» quando a vissem «atropelar de
propósito as leis, para ferir cobardemente na sua propriedade, na sua
liberdade, e porventura na sua honra, os que não podem crer nem na
legitimidade nem na bondade do sistema que nos rege». Para Jacinto Nunes, o
problema tinha origem na dependência da magistratura em relação ao poder
político: «E o rei, chefe do poder executivo quem despacha os juízes de direito.
E o rei quem os promove da terceira à segunda classe, e da segunda à
primeira. E o rei quem os pode transferir de uma para outra comarca da
mesma classe, mas de maior ou menor rendimento. E o rei quem os eleva da
primeira à segunda instância, e desta ao Supremo Tribunal de justiça. E o rei
quem os autoriza a abandonar os seus lugares durante alguns meses do ano,
para se divertirem pelas praias e águas termais. E o rei quem os pode fazer
deputados e até ministros. E ainda o rei quem tem pendente sobre eles a
espada da suspensão, como lho faculta o artigo 121 da Carta Constitucional»,
pelo que afirmava: «Está portanto nas mãos do rei, chefe do poder executivo e
agente do poder moderador, a sorte dos juízes de direito». Já nas vésperas do
5 de Outubro, José Barbosa criticou na imprensa o regime monárquico,
alertando para o choque entre o executivo e o legislativo, expresso na Câmara
dos Deputados em episódio que considerou «coerente com a evolução da crise
portuguesa». Quanto aos dois outros poderes, escreveu: «o judicial não possui
condições de independência e o moderador, por motivos e pretextos vários,
actua em alternativas de hipertrofia e atrofia, absorvendo umas vezes, os mais
poderes, e, outras, apagando-se até converter a sua irresponsabilidade em
nulidade».
Como já antes se referiu, no debate realizado na Constituinte sobre os poderes
de fiscalização da constitucionalidade das leis pelos tribunais, alguns
parlamentares haviam deixado cair uma nota de certa desconfiança quanto ao
judicial, sentimento que António Madeira sintetizou, ao exprimir receio pela
actuação de «um juiz menos amorável para com o novo regime».
A propaganda republicana afinara em geral por um diapasão crítico em relação
ao poder judicial; não se trata aqui de lembrar o confronto com actuações
caracterizadamente excepcionais — como foi o caso das do célebre e temido
juiz Francisco Maria da Veiga, titular do Juízo de Instrução Criminal ao tempo da
ditadura franquista —, mas assinalar a perspectiva geral sobre a administração
da justiça.
Num periódico jurídico, a vários títulos notável, que foi dirigido por Fernão
Botto Machado, solicitador de profissão, homem de cultura e vastas
curiosidades, deputado constituinte e diplomata da República — O Mundo
Legal e judiciário -, colhem-se sobre o tema depoimentos valiosos. Um dos não
menos importantes, A Magistratura, corresponde a uma tradução justificada
por Botto Machado «por se ajustar perfeitamente aos hábitos dos nossos
tribunais e até parecer escrito a respeito deles». A menos de uma década da
implantação da República, lia-se naquele jornal: «São os nossos juízes um
modelo de competência? Indubitavelmente não, e isto é já um mal e um grave
perigo. Demonstra-o amplamente a jurisprudência, repleta de contradições
sobre pontos simplíssimos, que não se caracteriza por essa independência de
critério e por esse espírito analítico que permite fazer falar melhor o
pensamento do que a letra da Lei. Falta-lhe essa uniformidade reveladora de
convicção». E mais adiante: «os tribunais estão mal. Falta-lhes energia,
preparação, falta trabalho».
Tal como afirmaria Alberto Xavier -à época do banquete em honra da
magistratura judicial, chefe de gabinete do ministro Álvaro de Castro —, a
iniciativa constituiu «uma inovação nos costumes governamentais e políticos»
que se destinou a dar uma «prova pública, significativa, retumbante» do
respeito que merecia à República o poder judicial, e serviu de pretexto a
«afirmações solenes e oportunas nos discursos a proferir».
Havia poucos meses, a questão do chamado “Tribunal das Trinas” afectara
negativamente as relações entre o Governo e a magistratura, e a experiência
conturbada e efémera dessa jurisdição especial não foi também por certo
alheia à ideia do banquete.
Na sua edição de 2 de Novembro, relatou O Século:
«O banquete começou cerca das 21 horas e os centros da mesa eram
ocupados pelo Sr. ministro da justiça, que tinha à direita o presidente do
Supremo Tribunal de justiça, Dr. Abel de Pinho e à esquerda o procurador-
geral da República Dr. Azevedo e Silva; o sr. presidente do ministério, que
dava a direita ao juiz mais antigo da Relação do Porto dr. Meireles de
Abreu e Sousa que representava o presidente daquela Relação e à
esquerda o presidente da Relação de Lisboa, dr. Mateus Teixeira de
Azevedo. Assistiram tamb6m os srs. drs. Agostinho Barbosa Sottomaior,
Oliveira Guimarães, juízes mais antigos das varas cíveis de Lisboa;
Adriano Carlos Vaz Pinto e Joaquim da Cruz Capelo, juízes mais antigos
das varas cíveis do Porto e dr. Cândido de Figueiredo, director 2eral
interino do ministério da Justiça. As cabeceiras das mesas eram
ocupadas pelo chefe de gabinete e secretário do sr. dr. Alvaro de Castro.»
Com o pretexto comemorativo do novo ano judicial, tomaram a palavra, para
as mais importantes intervenções da noite, o Ministro da justiça, o presidente
do Supremo Tribunal de Justiça e, por fim, o presidente do ministério.
O ministro Álvaro de Castro sublinhou que o banquete fora organizado como
«demonstração do interesse e da consideração» que o Governo consagrava ao
poder judicial, e fez questão de afirmar que quem governava sempre tivera
pela magistratura judicial «consideração e estima». Esses sentimentos,
expressara-os a República, no dizer do ministro, «entregando-lhe largos
poderes e dilatando-lhe, com mãos pródigas, as suas funções». Por outro lado,
lembrou que a República não exigira «aos seus magistrados judiciais a
investidura do governo republicano, como exemplos estranhos de boa origem,
poderiam suscitar». Ao contrário do que sucedera em França, não seguira a
República a «política de desconfiança», procedendo «sem receio» e com a
«certeza de que as instituições republicanas eram a expressão concreta dos
desejos da nação e que na nação estava solidamente integrado o poder
judicial». A confiança levara a Constituinte ao máximo, «colocando nas mãos
do poder judicial uma das mais amplas faculdades» que consistia no «poder de
apreciar e julgar da legitimidade constitucional (...) dos diplomas emanados do
executivo». Para além disso, os constituintes haviam obrigado «os parlamentos
futuros a redigirem a lei orgânica do poder judicial», no âmbito da qual, dizia
Álvaro de Castro, se determinaria «a forma de se efectuarem as nomeações,
transferências e colocações fora do quadro», não se esquecendo a «classe
desprotegida dos oficiais de justiça». Para o ministro, o Governo tinha cumprido
a sua parte, uma vez que havia já «esboçado» o seu «projecto». O juiz Abel de
Pinho, que assumira a presidência do Supremo Tribunal de Justiça a convite de
Álvaro de Castro, expressou em termos muito efusivos o seu agradecimento
pela iniciativa do banquete e deu conta do espírito de leal e sincera
cooperação que animava a magistratura, sem ter deixado de ponderar,
dirigindo-se directamente ao anfitrião: «Eu não sei, senhor ministro, qual o
juízo que a nossa magistratura formula e tem sobre as instituições políticas que
integram a vontade do país. Não sei, suspeito apenas que na grande maioria
das suas almas existirá ainda uma sombra de saudade e de grata recordação
por esse passado em que todos nasceram e se criaram e em que obtiveram as
posições oficiais que hoje desfrutam», acrescentando adiante: «Mas o que sei e
posso assegurar é que essa magistratura tem mantido perante a República a
mesma atitude e a mesma serenidade inalterável que manteve perante a
monarquia». Mais afirmou saber o presidente do Supremo Tribunal que na
sociedade portuguesa a magistratura era a «única classe» em que nenhum dos
seus membros havia sido «apontado como participante das conspiratas e dos
movimentos revolucionários» que se desenrolavam «desgraçadamente» pelo
país. Estas tão interessantes quanto politicamente intencionais palavras do
conselheiro Abel de Pinho antecederam a intervenção de Afonso Costa.
Recordando o seu passado e a defesa que, afirmou, sempre sustentara do
princípio da independência judicial, o presidente do ministério reconheceu que,
como titular da Justiça no Governo Provisório, tivera de colocar «à testa do
Ministério Público» uma figura de cujo passado republicano ninguém podia
duvidar — a referência era a Azevedo e Silva —, e congratulava-se por não ter
tido que «tocar» na magistratura judicial, expressando ainda o sentimento de
que a República nenhum receio podia ter da forma como estavam a ser
exercidas as «funções judiciais». Se para Afonso Costa o poder judicial não
podia ser, no seu conjunto, «uma instituição partidária», não deixou de o
convocar para o cumprimento do que entendia ser o seu papel à época: o de
«fazer cumprir as leis e conservar um estado jurídico criado por uma aspiração
do povo», quer dizer, o de ser «representante de uma aspiração de justiça, de
razão e de equilíbrio de todo um povo».
Não obstante as intenções, a iniciativa de Álvaro de Castro não teve, como
reconheceu Alberto Xavier, «geral apoio nos meios republicanos afectos ao
Governo», já que no partido governamental «havia elementos radicais que não
queriam compreender as nobres intenções» que tinham determinado a
iniciativa, por estarem «persuadidos de que a maioria dos juízes no país não
simpatizava com a República». Para Alberto Xavier era possível que «muitos
juízes se conservassem, em espírito, fiéis às suas crenças monárquicas», o que
era até «compreensível», mas «cumpriam, porém, leal e correctamente os seus
deveres».
Em Novembro de 1915, o presidente Bernardino Machado visitou o Supremo
Tribunal de justiça, acompanhado pelo presidente do ministério Afonso Costa e
pelo Ministro da justiça Catanho de Menezes, oportunidade para o Chefe de
Estado protestar a sua - admiração pela magistratura portuguesa, e o
presidente do tribunal a lealdade e cooperação dela com os poderes públicos.
Só em 1919, em tempos marcados pela sombra do desaparecido Sidónio e de
reacção à investida monárquica alguns magistrados foram visados por uma
actuação assumidamente depuradora do funcionalismo público.
No ministério da presidência de José Relvas, foi mandado para as páginas do
Diário do Governo um diploma que, afirmava-se no preâmbulo, se destinava a
assegurar a «defesa e prestígio da República» através do apuramento de
«responsabilidades dos magistrados e funcionários públicos civis ou militares»
que durante a insurreição monárquica se haviam envolvido em «quaisquer
factos anormais, faltando ao exercício dos seus cargos ou, fora dele, à lealdade
e subordinação devidas às Instituições e suas leis».
Em síntese, o que o Decreto n.º 5.203, de 5 de Marco de 1919, estabeleceu foi
que a acção disciplinar pertencia em exclusivo ao executivo, tendo sido
consideradas infracções disciplinares de carácter político, para efeitos de
aplicação das novas competências do Governo, as seguintes: ofensa ou injúria
contra as instituições; revelação de assunto que constituísse segredo
profissional e a inconfidência e revelação dolosa de assuntos de natureza
oficial em prejuízo das instituições; a provocação ou incitamento à indisciplina
ou ao desrespeito às instituições; por fim, a pública e espontânea adesão a
qualquer movimento revolucionário contra as instituições republicanas, ou o
apoio aos elementos dirigentes desses movimentos, seus governos e
comandos. Esse regime viria a ser considerado insuficiente para «levar a efeito
com a necessária eficácia e rapidez, o saneamento da República» e, em
consequência, substituído pelo constante do Decreto n.º 5.368, de 8 de Abril de
1919, sendo chefe do Governo Domingos Leite Pereira. Na prática, o novo
regime autorizou que a acção saneadora do executivo se realizasse, a bem
dizer, sem pelas legais de qualquer espécie.
Note-se que a preocupação com a defesa da República levara o senador
Machado Santos a apresentar, a 30 de Janeiro de 1919, um projecto de lei no
qual se preconizavam «medidas enérgicas» contra aqueles que não tinham
hesitado «em lançar o seu país na guerra civil, para restaurar um regime
político alicerçado na traição, no perjúrio e na violência contra a vida e bens
dos seus concidadãos». Essa iniciativa, perante uma situação que o proponente
considerava ser de «guerra civil», levava mais longe do que os diplomas de
Março e Abril desse ano os objectivos de depuração do regime, porém, sem
que fosse feita qualquer referência à magistratura.
Projectava-se que a acção do Governo se centrasse nos senadores e deputados
que pertencessem a partidos políticos adversos à forma republicana de
governo; na imprensa igualmente desafecta às instituições; nos membros da
força armada e nos «sacerdotes das várias confissões religiosas» no caso de
terem feito ou virem a fazer «preces pelo triunfo dos adversários da forma
republicana de governo» quando estes saíssem «da legalidade para a luta à
mão armada», caso em que não mais poderiam exercer o sacerdócio na área
onde estivessem a exercer o seu «domínio espiritual».
José Relvas haveria de recordar que o seu Ministro da Justiça, Jorge Couceiro da
Costa, dizia «por toda a parte» que apresentara a demissão porque não estava
«resolvido a obtemperar a todas as exigências» que lhe tinham sido feitas
«para demissões e perseguições à Magistratura». O próprio Relvas acreditava
que algumas dessas «imposições», que apareciam em todos os ministérios,
fossem ditadas por «conveniências políticas», mas não lhe oferecia dúvidas
que a «maior parte» estava ligada à chamada «política de depuração», que
considerava mascarar, em muitos casos, uma «ânsia insaciável de emprego
público», o que considerou «um dos grandes cancros da República».
Vous aimerez peut-être aussi
- Storytalks Mentoria Avançada 2022Document17 pagesStorytalks Mentoria Avançada 2022cadulemosPas encore d'évaluation
- Alistamento EleitoralDocument139 pagesAlistamento EleitoralLuis PingPas encore d'évaluation
- Ensino Religioso SOLUÇÃO DA MARGINALIDADEDocument3 pagesEnsino Religioso SOLUÇÃO DA MARGINALIDADErenegade iwnlPas encore d'évaluation
- # - Alexandre Aksakof - Aninismo E Espiritismo - (Espiritismo) PDFDocument511 pages# - Alexandre Aksakof - Aninismo E Espiritismo - (Espiritismo) PDFDenilson CostaPas encore d'évaluation
- Trabalho - Gestão de Manutenção e Operações de AeronavesDocument1 pageTrabalho - Gestão de Manutenção e Operações de AeronavesBrunoViniciusPas encore d'évaluation
- FeromoniosDocument4 pagesFeromoniosÁquila Brito MilhomemPas encore d'évaluation
- 1 PBDocument21 pages1 PBGerhard SaboiaPas encore d'évaluation
- 645 1985 1 PBDocument10 pages645 1985 1 PBmantinhaPas encore d'évaluation
- CALDAS, Paulo - GADELHA, Ernesto (O RGS.) - Dança e Dramaturgia(s)Document157 pagesCALDAS, Paulo - GADELHA, Ernesto (O RGS.) - Dança e Dramaturgia(s)Fernanda PimentaPas encore d'évaluation
- Integração NovaDocument80 pagesIntegração Novajulianolc2601Pas encore d'évaluation
- Sobre A Intolerância Religiosa (SILVA, 2018)Document33 pagesSobre A Intolerância Religiosa (SILVA, 2018)Lucas XimenesPas encore d'évaluation
- Gazeta de Votorantim Edição 319Document16 pagesGazeta de Votorantim Edição 319Gazeta de VotorantimPas encore d'évaluation
- sIMULADO ESTRATÉGIA 21Document12 pagessIMULADO ESTRATÉGIA 21Andressa FreitasPas encore d'évaluation
- Analise Do Mercado Atacadista Sobre A Otica DoDocument17 pagesAnalise Do Mercado Atacadista Sobre A Otica DoSol Silva JPas encore d'évaluation
- Transparencia InternacionalDocument123 pagesTransparencia InternacionalRicardo Martins Spindola DinizPas encore d'évaluation
- 5s Petrobras - PpsDocument13 pages5s Petrobras - PpsIzaque LopesPas encore d'évaluation
- A Contribuição de Outros Países e Organizações para A Solução Dos Problemas de MoçambiqueDocument6 pagesA Contribuição de Outros Países e Organizações para A Solução Dos Problemas de MoçambiquePatrique Kells IgnaciPas encore d'évaluation
- Autorizao de Abertura de Escola Deliberao Cee 01 99 Santos 15092020Document7 pagesAutorizao de Abertura de Escola Deliberao Cee 01 99 Santos 15092020PEdro VazPas encore d'évaluation
- Praia MedioDocument2 pagesPraia MedioThacyane IwanuskPas encore d'évaluation
- A Corrida Armamentista Pela Inteligencia ArtificialDocument21 pagesA Corrida Armamentista Pela Inteligencia ArtificialCristiano CarvalhoPas encore d'évaluation
- Apr Congressoabm 2008 Otif 7822Document14 pagesApr Congressoabm 2008 Otif 7822Jocinei VebberPas encore d'évaluation
- O Que É Desenvolvimento - PIB X IDH X FIBDocument12 pagesO Que É Desenvolvimento - PIB X IDH X FIBLeonardo da SilvaPas encore d'évaluation
- Quadro de Pol Tica de Reassentamento QPR p161777Document238 pagesQuadro de Pol Tica de Reassentamento QPR p161777Beto Faustino PereiraPas encore d'évaluation
- Audiovisuais - Arte, Técnica e LinguagemDocument93 pagesAudiovisuais - Arte, Técnica e LinguagemEdemilde Helena SapiaPas encore d'évaluation
- Regulamento de TCC EADDocument13 pagesRegulamento de TCC EADjednilsonPas encore d'évaluation
- Ri HG B 2011 Numero 0452Document624 pagesRi HG B 2011 Numero 0452AlephTawPas encore d'évaluation
- PI - Caracol - 2019 10 01 - 2020 02 29Document1 pagePI - Caracol - 2019 10 01 - 2020 02 29jrenaPas encore d'évaluation
- Rato (Informática)Document5 pagesRato (Informática)temistenesPas encore d'évaluation
- Aula 01 - Lista de ExercíciosDocument2 pagesAula 01 - Lista de ExercíciosEliza MariaPas encore d'évaluation
- Trajetória, Avanços e Perspectivas Da EJA Face À BNCCDocument14 pagesTrajetória, Avanços e Perspectivas Da EJA Face À BNCCAnonymous PUw3YtJPas encore d'évaluation