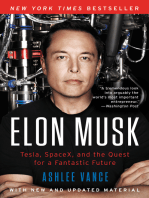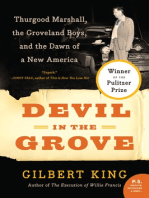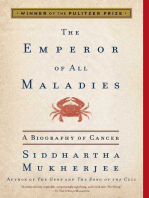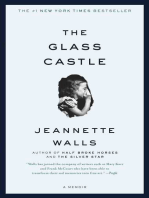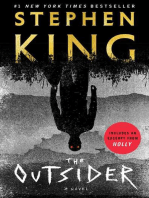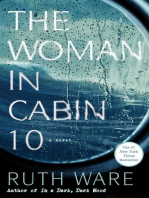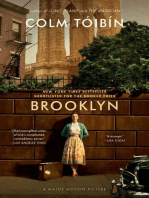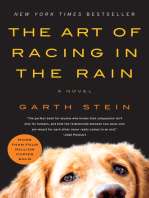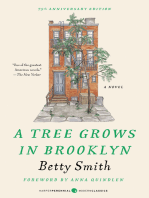Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
1 SM - Cropped PDF
Transféré par
Lucas Dutra0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
11 vues8 pagesTitre original
19581-46861-1-SM_cropped.pdf
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
11 vues8 pages1 SM - Cropped PDF
Transféré par
Lucas DutraDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 8
POR QUE LER CLARICE?
Nadia Battella Gotlib
Para tentar responder 4 pergunta que é o tema deste nosso En-
contro — Por que ler Clarice? — remonto a uma pergunta que a
propria Clarice se fez, a respeito de sua propria escrita. Em crénica
do “Jornal do Brasil”, onde colaborou aos sdbados, durante seis
anos (1967-1973), no dia 7 de setembro de 1968 publica quatro
curtos trechos em prosa, um dos quais se intitula “Mistério”. E in-
daga:
“Quando comecei a escrever, que desejava eu atin-
gir? Queria escrever alguma coisa que fosse tranqiiila e
sem modas, alguma coisa como a lembranca de um alto
monumento que parece mais alto porque é lembranga.
Mas queria, de passagem, ter realmente tocado no monu-
mento. Sinceramente nao sei o que simbolizava para mim
a palavra monumento. E terminei escrevendo coisas intei-
ramente diferentes” (1)
O modo pelo qual ela explica 0 como escreve traduz, j4, um pos-
sivel caminho deste nosso percurso de leitura. Clarice quer tocar a
coisa: 0 objeto. No caso, o “monumento”. Mas desiste. Inclusive,
por uma falha técnica: nfo sabe o que simbolizava para ela a pala-
vra “monumento”. E acaba escrevendo outras coisas. Esta disjun-
gao entre o que quer e o que acaba fazendo talvez seja um eixo de
explicagaio de toda a escrita de Clarice, de todo um caminho de es
crita que se constr6i na proposta mesma de acatar o que nao lhe
vinha, aceitando o que Ihe vem.
1. LISPECTOR, Clarice, A Descoberta do Mundo, Rio de Janeiro,
Nova Fronteira, 1984. p. 190.
Rey. de Letras, Fortaleza, 13 (1/2) — jan./dez, 1988 175
So momentos especiais em que algo se lhe revela. Este aconte-
cimento nfo exige hierarquia de nobreza tematica. Ele pode ser 0
mais banal. E o mais intensamente tragico. Alias, diria que sao
sempre os dois. Juntos. Que, por si, j4 conferem cardter singular
as suas experiéncias de representacao: fatos extraidos da vida a mais
corriqueira que trazem, em si, significados os mais profundos.
Basta lembrar a macaca Lisette, toda enfeitada, de brincos. Um
dencarino hindu, solene. O esplendor que lhe é Brasilia. A Cate-
dral de Berna, domingo a noite. A ceia divina e o surpreendente mi-
lagre da multiplicacio dos paes. Um mineirinho morto pela policia
por 13 tiros, quando um teria sido ja suficiente.
/ Esta marca de discurso aparentemente simples, anti-classico por-
| que anti-hierarquizante, em que o ‘alto’ e o ‘baixo’ comungam de-
| mocraticamente exige, no entanto, uma predisposic#o nao muito f4-
\ cil de ser “atingida”, para usar o mesmo tetmo usado por Clarice
| na referida crénica. Exige certa capacidade de resignacao a esta ex-
periéncia que Ihe sobrevém, num deixar-se levar pela propria expe-
riéncia da criaco. Na realidade nao se trata, aqui, da veia roman-
tica de onda inspiradora, que inundava o génio romfntico, em pul-
| s6es intensas e irresistiveis. Nem, tampouco, da anulac&o da capa-
| cidade de elaboracdo, esta que impede de rever os textos num tra-
x balho por vezes minucioso de ajustes de varia ordem, procura da
representacdo a mais fiel.
Em Clarice existe um princinio de acio do escrever que advém
de — e¢ gera — uma frustracdo. Ela “nfio sabe” o que € “monumen-
tc’. E deste nao saber é que surge o escrever. Alias, “escrever coi-
sas inteiramente diferentes”. Portanto, sua escrita surge contrarian-
do, talvez por indole, a prépria idéia de ‘monumento’. Pois o que é
o “monumento”’? “Obra ou construcdo que se destina a transmitir
a posteridade a meméria de fato ou pessoa notdvel. Edificio maies-
toso. Sepulcro suntuoso, mausoléu, qualquer obra notdvel”. Além
de, simplesmente, significar ‘‘memédria, recordagao, lembranga”. As-
sim diz © nosso saudoso Aurélio.
= Sua escrita nasce deste pendor anti-monumental. Ou melhor:
da intencdo frustrada de representar um monumento perdido na lem-
branca, por isso talvez maior do que o que teria sido o real, como
costumam ser todos os monumentos na nossa lembranga. Tal como
foi para Sofia o seu professor, lobo mau desmitificado pela menina
desastrada, enquanto ia se ensaiando nos exercicios de redacio, no
escrever nao segundo lhe ensinam, mas segundo as suas préprias
palavras, em histéria de amor e de linguagem, no conto “Os Desas-
\. tres de Sofia”.
oom Smetana
176 Rev. de Letras, Fortaleza, 13 (1/2) — jan./dez, 1988
Esta consciéncia de que existe um outro que se concretiza em
Jinguagem, em narrativas, surge mais por “‘intuigio” do que por
Projeto poético-ideolégice. Como tudo — parece — em Clarice.
Pois sua escrita filtra, na intimidade, qualquer dado de experiéncia,
que por isso aparece descarnado na sua crueza de ferida viva e aber-
ta de experiéncia em processo, despojada ou querendo-se ou enxer-
gando-se despojada dos simulacros relegados pela histéria oficial ¢...
monumental.
Este estado de risco surge, pois por uma outra via, anti-positi-
vista: a via “selvagem’”. Sua obra consiste num tender cada vez
mais pata “‘perto do corag&o selvagem’’, tal como o titulo do seu
primeiro romance, publicado em fins de 1943, cujo cardter, inovador
em termos de técnica narrativa, foi, imediatamente, reconhecido, logo
em fins de 1943, pelo critico e professor Anténio Candido. Que
pode ratificar sua opinido critica 45 anos depois, no ano passado,
quando em entrevista confirmava os tomes de dois grandes escrito-
tes inovadores brasileiros de século XX: Guimarfes Rosa e Clarice
Lispector.
Aceitar o vir desta pulsaéo selvagem, arcaica, primordial, como
heranca da espécie animal, que trazemos, todos nés, exige a coragem
de abdicagao do poder racional, sob este aspecto, em forga subversi-
va de resisténcia contra este mesmo poder, que ela chama, subver-
tendo também o sentido deste termo, que ela chama de desisténcia.
Porque é desistir em favor deste outro que de repente e sem expli-
cag&o aparece, revela-se e se impde. Inquietacdes subterraneas que
emergem, inopinadamente, cortando o limite rigido das normas ins-
titucionais.
Tal como a dona-de-casa, tao sossegada nos afazeres domésticos,
dia apdés dia na rotina sagrada da cozinha, da costura, da atruma-
gao da casa, a Ana, do conto “Amor”, que, de repente, vé um cego
mascando chicles. Ai, ent@o, o que parecia tao sob controle, explo-
de: “‘o mal j4 estava feito”, afirma a narradora. Ana desce do bon-
de sem saber onde nem quando, encontra-se no Jardim Botanico. . .
Eo que acontece neste Jardim? E o que ndés vamos tentar examinar
no nosso semindrio. Adianto, para os curiosos, alguns dados. Afirma
a narradora — ou narrador: “Nas drvores as frutas eram pretas, do-
ces como mel”. E mais: “A crueza do mundo era tranqiiila. O as-
sasinato era profundo. E a morte nao era o que pensdvamos”. (2).
Neste misto de bem e mal, que provoca, ao mesmo tempo, a reagZo
de fascinio € nojo, neste jardim em que ‘“‘a moral era outra”, Eden
2. LISPECTOR, Clarice, Lagos de Familia. 3. ed. Rio de Janeiro,
ed. do Autor, 1965 p. 21.
Rey. de Letras, Fortaleza, 13 (1/2) — jan./dez, 1988 177
Vous aimerez peut-être aussi
- (Classroom Resource Materials) Annalisa Crannell Et Al. - Writing Projects For Mathematics Courses - Crushed Clowns, Cars, and Coffee To Go (2004, Mathematical Association of America) PDFDocument128 pages(Classroom Resource Materials) Annalisa Crannell Et Al. - Writing Projects For Mathematics Courses - Crushed Clowns, Cars, and Coffee To Go (2004, Mathematical Association of America) PDFLucas DutraPas encore d'évaluation
- Writing Mathematical Papers in English A Practical GuideDocument25 pagesWriting Mathematical Papers in English A Practical GuideLucas DutraPas encore d'évaluation
- Alsina, Nelsen - Charming ProofsDocument320 pagesAlsina, Nelsen - Charming ProofsAbecedario100% (8)
- O Desenvolvimento Profissional Dos ProfessoresDocument12 pagesO Desenvolvimento Profissional Dos ProfessoresLucas DutraPas encore d'évaluation
- Argumentação Lógica Matemática UFPBDocument65 pagesArgumentação Lógica Matemática UFPBantoniojsilvaPas encore d'évaluation
- 2018 AdrianaElisaInacio VCorr PDFDocument135 pages2018 AdrianaElisaInacio VCorr PDFLucas DutraPas encore d'évaluation
- Notas Sobre "O Ovo e A Galinha"Document12 pagesNotas Sobre "O Ovo e A Galinha"mateustgPas encore d'évaluation
- Thays Pretti Sousa2 PDFDocument5 pagesThays Pretti Sousa2 PDFLucas DutraPas encore d'évaluation
- Teoria 10.2 Cálculo Com Curvas ParametrizadasDocument30 pagesTeoria 10.2 Cálculo Com Curvas ParametrizadasLucas DutraPas encore d'évaluation
- Questao 2Document2 pagesQuestao 2Lucas DutraPas encore d'évaluation
- As Metamorfoses Do Mal - RosenbaumDocument9 pagesAs Metamorfoses Do Mal - RosenbaumMara Aline CamposPas encore d'évaluation
- Livros e Material Didatico 3ano em 2018 11 21 - 10 40 09 PDFDocument1 pageLivros e Material Didatico 3ano em 2018 11 21 - 10 40 09 PDFLucas DutraPas encore d'évaluation
- KOCH ELIAS (2009) - Escrita e Práticas Comunicativas PDFDocument13 pagesKOCH ELIAS (2009) - Escrita e Práticas Comunicativas PDFLucas DutraPas encore d'évaluation
- Teste 4 PDFDocument1 pageTeste 4 PDFLucas DutraPas encore d'évaluation
- Materialism: The Enlightened MachineDocument16 pagesMaterialism: The Enlightened MachineLucas DutraPas encore d'évaluation
- Derivados Do Teste 4 16 PDFDocument1 pageDerivados Do Teste 4 16 PDFLucas DutraPas encore d'évaluation
- ED 03 Pag 08Document1 pageED 03 Pag 08Lucas DutraPas encore d'évaluation
- 3 Erros Que Você Deve Evitar Na Análise Estatística Do Seu Artigo CientíficoDocument6 pages3 Erros Que Você Deve Evitar Na Análise Estatística Do Seu Artigo CientíficoLucas DutraPas encore d'évaluation
- Corrections To Problems in "Intro. To Analysis" (Mattuck), Printings 1-7Document3 pagesCorrections To Problems in "Intro. To Analysis" (Mattuck), Printings 1-7Lucas DutraPas encore d'évaluation
- Varetas, Canudos, Retas, e Sólidos GeométricosDocument5 pagesVaretas, Canudos, Retas, e Sólidos GeométricosluisrespondePas encore d'évaluation
- Poliedros de PlathvhvhãoDocument3 pagesPoliedros de PlathvhvhãoLucas DutraPas encore d'évaluation
- Mac Ip SubnetDocument4 pagesMac Ip SubnetLucas DutraPas encore d'évaluation
- Varetas, Canudos, Retas, e Sólidos GeométricosDocument5 pagesVaretas, Canudos, Retas, e Sólidos GeométricosluisrespondePas encore d'évaluation
- Octa EdroDocument4 pagesOcta EdroLucas DutraPas encore d'évaluation
- Como Elaborar Referências Bibliográficas Sem Drama Mendeley!Document14 pagesComo Elaborar Referências Bibliográficas Sem Drama Mendeley!Lucas DutraPas encore d'évaluation
- IcosaedroDocument5 pagesIcosaedroLucas DutraPas encore d'évaluation
- Investindo No Currículo Seja MúltiploDocument5 pagesInvestindo No Currículo Seja MúltiploLucas DutraPas encore d'évaluation
- The Potentials of Educational Data Mining For Researching Metacognition, Motivation and Self-Regulated LearningDocument8 pagesThe Potentials of Educational Data Mining For Researching Metacognition, Motivation and Self-Regulated LearningLucas DutraPas encore d'évaluation
- 1 PBDocument11 pages1 PBLucas DutraPas encore d'évaluation
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItD'EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (838)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeD'EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (537)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeD'EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (5794)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)D'EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Évaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (98)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceD'EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (894)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingD'EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingÉvaluation : 3.5 sur 5 étoiles3.5/5 (399)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureD'EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (474)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryD'EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryÉvaluation : 3.5 sur 5 étoiles3.5/5 (231)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceD'EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (587)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaD'EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (265)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealD'EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (73)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerD'EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (271)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersD'EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (344)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaD'EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (45)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnD'EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (234)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyD'EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyÉvaluation : 3.5 sur 5 étoiles3.5/5 (2219)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreD'EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (1090)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)D'EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Évaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (119)
- Her Body and Other Parties: StoriesD'EverandHer Body and Other Parties: StoriesÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (821)