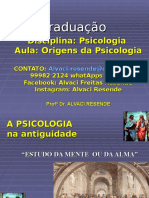Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Um Filósofo Que Tinha Religião
Transféré par
Juceni Rocha0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
12 vues19 pagesUm relato de filósofos clássicos que acreditava em um único Deus pessoal.
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentUm relato de filósofos clássicos que acreditava em um único Deus pessoal.
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
12 vues19 pagesUm Filósofo Que Tinha Religião
Transféré par
Juceni RochaUm relato de filósofos clássicos que acreditava em um único Deus pessoal.
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 19
Um filósofo que tinha religião
Texto de Renato Janine Ribeiro –
Professor titular de Ética e de Filosofia
Política na USP – possui doutorado.
No final do capítulo 15 do Leviatã, Thomas
Hobbes diz que as leis de natureza que ele
andou expondo – e que determinam o
advento da vida social – não são
propriamente leis, mas "apenas conclusões
ou teoremas relativos ao que contribui para a
conservação e defesa de cada um, ao passo
que a lei, em sentido próprio, é a palavra
daquele que tem direito de mando sobre
outros".
Muitos comentadores do filósofo exultam
com essa passagem. Ela permite laicizar o
poder. Ela permite, mais que isso, afirmar
que não existe lei sem Estado – e que a
obrigação de cumprir as quase vinte leis que
Hobbes andou enunciando é da ordem da
prudência, não da ética ou da moral.
Não há moral antes do Estado, dizem
eles, e para confirmá-lo eles se valem do
cap. 13 do mesmo livro, no qual Hobbes
observa que não há bem nem mal, justo nem
injusto, se não houver um poder comum
capaz de manter a todos em respeito. Tudo
parece razoavelmente consistente, a um
leitor que não exija muito.
Porque o problema é que essa citação
está truncada! Hobbes não termina o
parágrafo – nem o capítulo – com ela, mas
acrescenta uma frase que, esta, quase nunca
é citada pelos defensores da interpretação
que acabamos de mencionar: "No entanto,
se considerarmos os mesmos teoremas como
transmitidos pela palavra de Deus, que tem
direito de mando sobre todas as coisas,
nesse caso serão propriamente chamados
leis".
Como entender estas últimas, e tão
omitidas, palavras? Aliás, há duas coisas a
entender aqui. A primeira é por que tantos
comentadores simplesmente omitem uma
expressão tão clara, tão forte ("serão
propriamente chamados leis").
Seria mais honesto citar o texto por
inteiro, e depois disso procurar explicá-lo –
por exemplo, reduzindo o alcance da
conclusão. Mas por que nem mesmo a
mencionar?
Assim, a primeira dúvida diz respeito aos
comentadores, à fortuna crítica de Hobbes,
ao modo pelo qual se constituiu uma imagem
dele que desconsidera sua religião.
Essa imagem chegou ao ponto de dizê-lo
ateu, naquela que foi uma leitura bastante
corrente do século XVII ao XIX. Hoje, há
talvez um eco dessa leitura na idéia,
razoavelmente difundida, de que a teoria da
obrigação hobbesiana afirmaria uma
obrigação fraca, apenas prudente, não ética.
Deixo claro que respeito essa leitura. Em
nossos dias, praticamente se abandonou a
tese – sempre feita, naqueles tempos, em
termos acusatórios – de que Hobbes não
acreditaria em Deus. Mas manteve-se uma
sua conclusão prática, o corolário de que não
haveria obrigação forte na ausência do
Estado.
Posso não concordar com certas teses,
mas devo reconhecer o seu duplo mérito:
não só o de haver estudado com atenção
este ponto, como o de ter formulado
hipóteses para resolvê-lo.
Recordo os estudos de Taylor, Warrender
e Hood – os três, pouco conhecidos entre nós
–, que formularam, com variantes, a idéia de
que a obrigação hobbesiana é forte, tendo
teor ético e base religiosa.
Discutirei, aqui, a base religiosa. Não teria
sentido eu tentar resumir o que o leitor lerá,
melhor, ao longo do livro, ou seja, tudo o
que diz respeito à obrigação ética.
A questão não é se Hobbes, indivíduo,
acreditava ou não em Deus ou na versão
anglicana do cristianismo. O que importa
saber é o papel que ele atribui a Deus e à
religião em sua filosofia.
Ora, já de começo se nota que um bom
terço das suas grandes obras políticas trata
da religião. As leis de natureza são, depois
de provadas pelo uso da razão, confirmadas
pelo recurso às Escrituras.
Mais importante que tudo isso, ele
desenvolve, em toda a terceira parte do
Leviatã, uma interpretação bastante
interessante do cristianismo. E dedica a
quarta parte a uma crítica em regra da
instituição religiosa, tal como a Igreja
Católica Romana a constituiu, enquanto
aparato de poder que ameaça o soberano.
Não é pouca coisa, isso. Mas poucos leram
ou lêem essas passagens. Costuma-se partir
de um pressuposto, o de que Hobbes
contribui decisivamente para se ter um
soberano leigo, e por isso se omite tudo
aquilo que possa – não digo contrariar – pelo
menos complicar essa imagem esquemática.
E o fato é que a teologia hobbesiana soa
muito estranha.
Nosso filósofo nega que a alma seja
imortal, por exemplo. Nega que ela exista
separada do corpo. Diz que ela é um sopro, e
que se extingue quando morremos.
Seremos todos ressuscitados para o Juízo
Final, e então os justos terão a vida eterna
(como dádiva de Deus, não como
recompensa por eventuais boas ações),
enquanto os maus sofrerão uma segunda e
definitiva morte.
Não há inferno, portanto, a não ser como
o lugar – ou o tempo – desta última morte
dos condenados. E não há vida eterna de
sofrimentos, só de beatitude.
Que Hobbes não reconhecesse o
purgatório não constituiria problema, já que
esse lugar intermediário entre céu e inferno
só existe para os católicos; os protestantes
jamais acreditaram nele. O problema está
em ele suprimir o inferno como residência
permanente no Além.
Além disso, Hobbes mantém uma
polêmica bastante ácida com o bispo de
Derry, na Irlanda, o anglicano Bramhall, no
correr da qual diz ao prelado que não
acredita no livre arbítrio; o poder de Deus é
tão grande que todos os nossos atos estão
pré-determinados por Ele desde sempre
(pré-determinados, não predestinados,
expressão que não lembro nunca ter lido em
Hobbes).
Entre outras exclamações de cólera, o
bispo acusa-o de tirar a justiça do céu
(porque ninguém será salvo por
merecimento próprio, mas apenas porque
Deus o escolheu) e – pior que isso, diz ele –
de extinguir o inferno.
Soa estranha essa doutrina, mas nada
nela é incompatível com o que sabemos das
teologias em disputa no século 17. Overton,
por exemplo, líder leveller, publicou durante
a Guerra Civil Inglesa um interessante
opúsculo intitulado A mortalidade do homem,
sustentando teses praticamente idênticas às
de Hobbes no tocante à alma.
D. P. Walker escreveu, há poucas
décadas, um livro fascinante sobre o declínio
do inferno no século 17 inglês.
Quanto ao livre arbítrio, ele estava longe
de ser consensual. O que acontecia era que
as idéias mais assustadoras os filósofos as
guardavam para seus correspondentes mais
chegados.
Assim, quanto a termos ou não livre
arbítrio, em público Hobbes responde a essa
questão de maneira um tanto obscura, no
começo do capítulo 21 do Leviatã. Para os
leigos, portanto, umas frases algo vagas.
Ele se abre, porém, no debate privado
com Bramhall, para o qual foi convidado por
um amigo comum. Só assim se entende a
raiva que Hobbes sentirá quando o bispo
mandar imprimir as cartas que trocaram.
Hobbes pensava que estavam discutindo
entre pensadores, em sigilo, ambos
conscientes dos perigos que haveria em
colocar matéria tão explosiva ao alcance de
qualquer um.
Mas Bramhall sentiu que lidava com um
homem perigoso, desses que as ditaduras do
século 20 chamariam de "subversivos", e
considerou que era seu dever divulgar-lhe as
idéias, para expô-lo à execração pública ou,
talvez, a coisa pior, quem sabe, à execução
como herege.
Essa comédia de erros, cada um
entendendo mal as intenções do outro, não
nos deve impedir de notar que Hobbes dizia
coisas viáveis para teólogos cristãos pouco
dogmáticos.
Pois é nesse tempo que o espírito crítico
que Lorenzo Valla, duzentos anos antes,
aplicara à Doação de Constantino desabrocha
para a leitura da Bíblia, e temos então
Hobbes, Espinosa e o padre Richard Simon
estudando as Escrituras com o melhor
instrumental teórico a seu alcance.
Daí se segue, no caso de nosso pensador,
uma teologia sui generis, que nos causa
estranheza, hoje, mas que é plenamente
consistente – como procurei mostrar em Ao
leitor sem medo.
Se a teologia hobbesiana merece ser
levada a sério, como acredito ter provado,
por que não o papel de Deus em sua teoria
política, tema deste livro.
É claro que aqui haveria muito a discutir.
Podem alguns, por exemplo, argumentar que
a comprovação das leis de natureza pela
referência a passagens bíblicas não passaria
de um artifício de Hobbes, para que fossem
mais bem aceitas; mas, mesmo que assim
fossem as coisas, não dá para sustentar que
a própria existência de Deus e a validade
atribuída à religião fossem uma burla dirigida
à censura (e isso por duas razões:
Primeira, que Hobbes não muda as idéias
a esse respeito sequer no período sem
censura à imprensa, que é o da guerra civil
propriamente dita;
Segunda, que quem passou por regimes
ditatoriais sabe que esses muitas vezes
suprimem a expressão das idéias que as
pessoas de fato têm, mas raramente ou
quase nunca as levam a dizer aquilo em que
não acreditam).
Mais que isso, Hobbes afirma que um
poder irresistível, como o de Deus, é o único
que pode baixar leis sem necessitar do
consentimento dos súditos (veja-se o final da
segunda parte do Leviatã).
Esta curta observação é importante,
porque permite contrastar Deus, que legisla
sem precisar de nós, com os soberanos deste
mundo, que podem legislar sem nossa
aprovação a cada lei, mas cujo poder decorre
de que em algum momento, imaginado pelo
menos, tenha sido aceito pelos súditos o seu
princípio.
Deus tem um papel no sistema teórico
hobbesiano. E não é casual ou pouco
importante que o soberano seja chamado de
"Deus mortal", como, aliás, Thamy analisará.
Disse que não concordo necessariamente
com as leituras de Thamy Pogrebinschi. E
acrescento que eu concordar, ou não,
importa relativamente pouco, porque o
decisivo não é que estejamos de acordo, mas
que o trabalho tenha qualidade – e isso ele
tem.
Um dos pontos de que discordo é que
meu Hobbes, se posso assim dizer, é mais
leigo que o dela. Considero relevante – e
engraçado – o exame que o filósofo faz dos
milagres e dos profetas (estes últimos
incluem as pessoas que falam coisas sem
nexo, como os distraídos e talvez os
perturbados da cabeça).
Na linha por sinal da maior parte dos
teólogos protestantes, ele afirma que não há
mais milagres; e dispensa a necessidade de
profetas, já que a seu ver estes somente
poderiam confirmar o que já foi revelado,
mas jamais revelar qualquer matéria nova.
Esse exemplo ilustra um processo de
laicização do mundo, de seu
desencantamento, que parece diretamente
saído de Max Weber.
Também não estou convencido de que a
obrigação em Hobbes, que é o principal tema
deste inteligente livro, seja tão
decisivamente ética. Não tomei posição sobre
o caráter central da obrigação hobbesiana
em meus livros, e ainda não tenho certezas a
seu respeito.
Mas o importante é que nenhuma leitura
da obrigação será adequada se não levar em
conta a frase inteira que termina o
mencionado capítulo 15 do Leviatã.
A interpretação dela como sendo apenas
prudente me parece, portanto, exagerada –
mas talvez tampouco seja ela tão religiosa
quanto quer nossa autora . Porém, como
disse acima, minha concordancia com o
conteudo das ideias de Thamy Pogrebinschi
importa pouco.
Seu livro é um bom arrazoado sobre um
tema tão relevante e pouco conhecido fora
dos circuitos de especialistas. Ele traz um
aporte importante à ainda pequena
bibliografia brasileira sobre Hobbes. E por
isso tem de ser lido e discutido.
Vous aimerez peut-être aussi
- Especiarias e Plantas MedicinaisDocument101 pagesEspeciarias e Plantas MedicinaisJuceni RochaPas encore d'évaluation
- 20 Sucos MetabolicosDocument31 pages20 Sucos MetabolicosJuceni RochaPas encore d'évaluation
- Sucos EmagrecedoresDocument8 pagesSucos EmagrecedoresJuceni RochaPas encore d'évaluation
- PREGAÇÃO EXPOSITIVA - PR ITAMIR Fac. Teol. PerdizesDocument160 pagesPREGAÇÃO EXPOSITIVA - PR ITAMIR Fac. Teol. PerdizesJuceni RochaPas encore d'évaluation
- Evolucao Historica Do Direito A - Leal, Bruno BiancoDocument46 pagesEvolucao Historica Do Direito A - Leal, Bruno BiancoJuceni RochaPas encore d'évaluation
- Argumentação e RetóricaDocument32 pagesArgumentação e RetóricaJuceni RochaPas encore d'évaluation
- Wagner Luiz Teruel Dos Santos - Ministério Do Espírito Santo PDFDocument106 pagesWagner Luiz Teruel Dos Santos - Ministério Do Espírito Santo PDFJuceni RochaPas encore d'évaluation
- O Surgimento Da FilosofiaDocument20 pagesO Surgimento Da FilosofiaJuceni RochaPas encore d'évaluation
- Economia Política Da Pena - Marco AlexandreDocument21 pagesEconomia Política Da Pena - Marco AlexandrekikoserraPas encore d'évaluation
- A Ética Concriativa de GadamerDocument3 pagesA Ética Concriativa de GadamerMilka FonsecaPas encore d'évaluation
- Origens Da PDocument22 pagesOrigens Da PbrunocuisPas encore d'évaluation
- Caso Dos Tomates - RespostasDocument3 pagesCaso Dos Tomates - Respostasakfkagkdfgkl100% (2)
- Direitos e Deveres Do TrabalhadorDocument3 pagesDireitos e Deveres Do TrabalhadorsonicdreamPas encore d'évaluation
- Bem AventurançasDocument13 pagesBem AventurançasCícero Ferreira DamascenoPas encore d'évaluation
- Contrato JanainaDocument5 pagesContrato JanainaDaniel RochaPas encore d'évaluation
- Tratado para ImprimirDocument2 pagesTratado para ImprimirMarcoz BiblicoPas encore d'évaluation
- SIMPLIFIQUEDocument8 pagesSIMPLIFIQUELeandro MattaPas encore d'évaluation
- Carta Da Transdisciplinaridade1 PDFDocument4 pagesCarta Da Transdisciplinaridade1 PDFAdailson CostaPas encore d'évaluation
- Limites Legais para A Revogação Do Processo LicitatórioDocument4 pagesLimites Legais para A Revogação Do Processo LicitatórioGustavo LacerdaPas encore d'évaluation
- Apontamentos Processo Penal (João Gouveia de Caires) PDFDocument71 pagesApontamentos Processo Penal (João Gouveia de Caires) PDFJoão Mascarenhas de Carvalho100% (4)
- TCC - Vanessa Cristina Dasko - Yasmin Goncalves Bittar - A Etica Dos Advogados Dentro Das Redes Sociais, Destacando o TikTok, o Codigo de Etica Da OAB e ProvimentosDocument22 pagesTCC - Vanessa Cristina Dasko - Yasmin Goncalves Bittar - A Etica Dos Advogados Dentro Das Redes Sociais, Destacando o TikTok, o Codigo de Etica Da OAB e ProvimentosKarina MartinsPas encore d'évaluation
- Justificativa em Ação de Execução de AlimentosDocument5 pagesJustificativa em Ação de Execução de AlimentosRafael Almeida BaraunaPas encore d'évaluation
- Tjba - Caderno 3 - Entrância Intermediária - 23.05.13Document378 pagesTjba - Caderno 3 - Entrância Intermediária - 23.05.13Reinaldo GóesPas encore d'évaluation
- Tema 2 Origens Da Sociologia e o Pensamento de Durkheim, Weber e MarxDocument13 pagesTema 2 Origens Da Sociologia e o Pensamento de Durkheim, Weber e MarxAldenor FerreiraPas encore d'évaluation
- MoralDocument2 pagesMoralGustavo JardimPas encore d'évaluation
- Livro II Ordenações Filipinas Comentários Cândido Mendes de AlmeidaDocument146 pagesLivro II Ordenações Filipinas Comentários Cândido Mendes de AlmeidaJorge VillalobosPas encore d'évaluation
- Cantico de EntradaDocument2 pagesCantico de EntradaNatam Benicio0% (1)
- A Nova Ciência Das OrganizaçõesDocument108 pagesA Nova Ciência Das OrganizaçõesYuri Padilha100% (1)
- Relatorio Comissao Da Verdade 2014Document174 pagesRelatorio Comissao Da Verdade 2014Jeferson NicácioPas encore d'évaluation
- Documentos Medicos LegaisDocument42 pagesDocumentos Medicos LegaisDiego FerreiraPas encore d'évaluation
- É Proibido Proibir-SartreDocument40 pagesÉ Proibido Proibir-SartreRafaelMarquesPas encore d'évaluation
- Caderno de Estudos Da Lei Seca - Universitário e OAB (2022)Document1 pageCaderno de Estudos Da Lei Seca - Universitário e OAB (2022)Jessica Santana Reis25% (4)
- Estudos em RS - V.1 - VII JIRSDocument217 pagesEstudos em RS - V.1 - VII JIRSJulio RochaPas encore d'évaluation
- Althusser Sobre Levi StraussDocument9 pagesAlthusser Sobre Levi StraussPaulo BüllPas encore d'évaluation
- Lei Organica DiademaDocument131 pagesLei Organica DiademaDaniel Ferreira de SiqueiraPas encore d'évaluation
- A Santidade e o LarDocument3 pagesA Santidade e o LarProfessorluisfelipePas encore d'évaluation
- Nguyen Quoc Ding, Patrick Daillier e Alain Pellet - Direito Internacional Público PDFDocument222 pagesNguyen Quoc Ding, Patrick Daillier e Alain Pellet - Direito Internacional Público PDFbelahempkel624250% (4)
- Dissertacao Rosangela PDFDocument176 pagesDissertacao Rosangela PDFRosangelaMotaPas encore d'évaluation