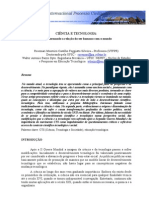Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
A Inconsistência Das Religiões
Transféré par
Douglas Naegele0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
128 vues13 pagesAnálise das religiões ocidentais modernas, do ponto de vista crítico das inconsistências
Titre original
A Inconsistência das Religiões
Copyright
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentAnálise das religiões ocidentais modernas, do ponto de vista crítico das inconsistências
Droits d'auteur :
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
128 vues13 pagesA Inconsistência Das Religiões
Transféré par
Douglas NaegeleAnálise das religiões ocidentais modernas, do ponto de vista crítico das inconsistências
Droits d'auteur :
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 13
A Inconsistência das Religiões.
Por Douglas Naegele
A religião caminha com a humanidade desde que a própria humanidade
começou a querer entender os fenômenos naturais, a natureza humana e,
principalmente, a finitude da vida. Três perguntas que permeiam e
impulsionam a História da humanidade, servem para nortear a origem toda e
qualquer religião: “Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos?”. Os
deuses surgem não como divindades poderosas, cheias de valores, altruísmos e
benevolência, mas como entidades quase humanas cheias de ciúmes, raivas e
ressentimentos, precisando ser agradadas a todo tempo. Antes de serem deuses,
essas entidades aparecem nas chamadas religiões primitivas, nos cultos aos
ancestrais, que fortaleciam a hierarquia do clã através da adoração aos
antepassados, muitas das vezes identificados com um determinado animal ou
com uma força da natureza, como os raios e trovões, por exemplo. Esses
ancestrais acabam sendo assim personificados em objetos de adoração, os quais
J. Long, em 1791, identificou como “totem”, como citado por J. G. Frazer, em
“Totemismo e Exogamia”, de 1910. Assim, os clãs passaram a ser conhecidos
pelos nomes de seus totens, ou seja, o clã do urso, assim ficou conhecido por ter,
simbologicamente, o urso como objeto totêmico. Ainda é possível, nos dias de
hoje, se verificar a existência dessas proto-religiões de culto totêmicos na
Austrália, Oceania e, também, no Brasil, onde o ritual do Quarup, das tribos do
Xingu, se destaca, conforme citam Orlando e Claudio Villas-Boas, em “Xingu:
Os Índios e Seus Mitos”, de 1990.
Sigmund Freud, em sua obra “Totem e Tabu”, de 1913, descreve essa
relação de culto e adoração do homem primitivo e os fenômenos naturais, como
um misto de horror e admiração, do mesmo modo que sustenta que a inerência
da morte a todos os seres vivos fez com que os primeiros agrupamentos
humanos a caracterizasse como um “mistério”, o qual deveria ter uma
explicação sobrenatural. Objetivamente, é nesse momento que surge a religião,
quando o explicável se junta ao inexplicável, as forças da natureza e suas
potências são atribuídas aos deuses. Deuses esses que as controlam e por isso
devem ser agradados, com oferendas e sacrifícios, já que, estando essas
divindades desagradadas, toda sorte de eventos catastróficos ocorreriam.
Dentro desse contexto, uma classe especial de membros desses clãs,
geralmente responsável pelas curas e o trato com as ervas, se torna intérprete da
vontade dos ancestrais. Esses xamãs formam a primitiva classe sacerdotal, que
detém o poder de curar os doentes, enfeitiçar os inimigos, interpretar sonhos e
compreender os sinais que os ancestrais enviavam aos homens. Na mediada em
que essa classe se desenvolve, a religião passa por um processo de sofisticação,
que envolve rituais cada vez mais elaborados e mais aperfeiçoados, a fim de se
tornarem um evento místico que deveria entreter e, ao mesmo tempo, causar
estupor e até temor por parte daqueles que o assistissem. Tal evento místico era
elaborado para marcar profundamente a mente da assistência, nesse sentido,
todo o ritual servia para prender a atenção de todos os espectadores, do mesmo
modo que também servia para demonstrar o poder do xamã e sua importância
na primitiva sociedade humana.
Com o passar do tempo, os clãs foram paulatinamente se misturando, e o
culto a dois, três, quatro totens, forçou o surgimento das primeiras religiões
politeístas. Os ancestrais, e o objeto totêmico que os caracterizava,
transformaram-se em deuses, responsáveis cada um há seu tempo pelo o bom
funcionamento de uma seqüência da vida cotidiana. Determinado deus era o
responsável pelo plantio e pela colheita, outro responsável pelo clima ou pela
caça, e assim por diante. Logo um panteão de divindades aparece, e deuses
específicos para profissões, classes sociais, alimentos se tornam comuns.
Essas relações, entre os homens e os deuses, se tornaram ainda mais
dependentes da classe sacerdotal que de tão consolidada exigiu a construção de
templos para cada um dos deuses existentes na sociedade a qual servia... Servia
e se servia, pois essa classe sacerdotal, agora não mais trabalhava, vivendo
apenas de cultuar e cuidar das oferendas que eram destinadas aos deuses
específicos de cada templo. Índia, Egito, Grécia, Itália, México e Peru são alguns
dos lugares onde esse tipo de religião politeísta proliferou e chegou ao seu ápice,
até que em um determinado memento histórico, esse tipo de religião entrou em
colapso e acabou sendo substituída por outra mais simples, sem tantos deuses,
mais fácil de cultuar e de controlar, principalmente por parte do Estado. E,
justamente por isso, o novo tipo de religião se torna mais forte, pois fornece ao
Estado o controle absoluto sobre tudo e sobre todos. No ocidente, o
cristianismo, a partir do judaísmo, e posteriormente o islamismo substituíram
os politeísmos existentes, enquanto que no oriente o confucionismo, o taoísmo e
o budismo se encarregaram de exercer o mesmo papel.
Para fortalecer as novas bases de sustentação religiosa, a nova classe
sacerdotal emergente, cria o mito da personificação de seu deus, ou de seu
representante aqui na Terra, codificando em livros “sagrados” a história de
como esse deus criou o mundo, o homem e, obviamente, escolheu o seu
representante entre a humanidade. Mas o que é “sagrado”? De acordo com os
estudiosos das religiões, esta é uma palavra-chave para o entendimento de todas
as religiões. Rudolf Otto, autor de “A Idéia do Sagrado”, de 1917, diz que
“sagrado é tudo aquilo que é diferente do que é comum, portanto não pode ser
descrito em termos comuns”, ou seja, o sagrado só o é para quem crê.
Assim, como no princípio de toda e qualquer crença, a verdade está na
confiabilidade daquele que a apresenta, por isso, o sagrado, que curiosamente
tem a mesma raiz das palavras secreto e segredo, se torna algo incompreensível
para o descrente, mas perfeitamente tangível para aquele que o cultua. E é sob
esse prisma que surge e se fortalece o mito. Moisés (ou Mosheh), Jesus (ou
Yeshuah), Maomé (ou Mohamed), Buda (ou Buddah), Confúcio (ou Kung Fu
Tsu) e Lao Tsé certamente são mitos, criados a partir diversos outros, muito
mais antigos, pertencentes a religiões desaparecidas e assimiladas pelas
religiões que os cultuam, seja como deuses, ou emissários destes.
O Monoteísmo no Ocidente:
Por vivermos em um país com a predominância da cultura e religiões
ocidentais, me deterei nos mitos e inconsistências das duas grandes religiões do
ocidente. Iniciarei, obviamente, com o judaísmo, por ser a mais antiga
manifestação monoteísta ainda viva e atuante, depois considerarei o
cristianismo mais atentamente, me detendo na inconsistência do mito cristão e
da própria história deste. Entretanto, focaremos as relações das classes
sacerdotais dessas religiões e seus mitos, criados e sustentados por essas
mesmas classes...
A classe sacerdotal que disseminou o monoteísmo entre os judeus criou,
através do mito de Moisés, o reencontro de seu deus, Yahweh (Iavé, Javé ou
Jeová), criador de todo o Universo, com o “povo escolhido”, no caso, os próprios
judeus. Freud dedicou-se, no final de sua vida, a um estudo profundo da figura
mítica de Moisés, que resultou no trabalho “Moisés e o Monoteísmo”, de 1935,
onde sugere que o homem Moisés, se é que ele existiu, teria uma origem egípcia
e fazia parte de uma classe sacerdotal, também monoteísta, extirpada da
sociedade dos faraós anos antes do tempo em que, segundo o relato bíblico,
aconteceu o êxodo.
Essa história merece ser aclarada... O fato histórico é que durante a XVIII
Dinastia faraônica, por volta dos anos 1400 a.C., sob a qual o Egito se tornou
uma potência mundial, um jovem faraó sobe ao trono, Amenófis IV, o qual
depois mudou seu nome para Akenathen, e foi o responsável pela maior
revolução cultural e religiosa ocorrida até então. Ele não só mudou o seu próprio
nome, como também, construiu e mudou a capital administrativa e religiosa do
império, e de modo dramático, impôs aos seus súditos uma nova religião, na
qual abolia o culto e a adoração a todos os deuses do panteão egípcio e os
substituiu pelo culto e a adoração a um deus único, Athen, o disco solar. Não
que a adoração ao sol fosse alguma novidade, pois os egípcios já a praticavam
através do culto ao deus Amon-Rá, que por sinal na época do Akenathen era o
deus mais popular, e seus templos o os mais prestigiados. O problema na
adoção de um único deus, em detrimento a existência de todos os outros, é que
se desempregou uma centena de sacerdotes e deixou desamparados alguns
milhares de fiéis, inclusive da própria nobreza. Tal atitude, obviamente, não se
mostrou uma medida popular. Todavia, por dezessete anos, tempo que durou o
reinado de Akenathen, templos foram fechados e o ofício religioso a qualquer
outro deus proibido. O fim do reinado de Akenathen se mostra um tanto
obscuro, mas sabe-se que houve uma rebelião popular, o faraó foi derrubado,
sua capital destruída e a antiga religião restaurada. O Egito entrou decadência,
perdeu territórios devido ao caos que se instalou ao longo do território e, por
fim, a gloriosa XVIII Dinastia se extinguiu. Nos anos que se seguiram,
gradativamente, a ordem foi restabelecida, os antigos deuses e suas respectivas
classes sacerdotais reconduzidas aos seus devidos lugares. Entretanto, é fácil de
compreender que os sacerdotes que se dedicaram à religião monoteísta de
Akenathen, diferentemente do monarca, não foram completamente
exterminados, apenas caíram em desprestígio e perderam poder, entrando em
desgraça.
Segundo Freud, na obra citada, Moisés teria sido um dos sacerdotes da
religião expurgada da sociedade egípcia. Não encontrando mais eco junto aos
próprios egípcios, Moisés teria se voltados para uma classe de pessoas,
considerada a escória daquela sociedade, os escravos semitas. A esse povo, ele
teria ensinado a religião monoteísta, que por sua vez, a recebe muito bem por
ser contrária à religião dominante, pertencente aos senhores egípcios. Por fim,
Moisés liderou esse povo, os hebreus, numa fuga das terras dos faraós, para a
“terra prometida, que emana leite e mel”.
A compreensão da importância de Moisés para a religião judaica é básica
para se entender sua estruturação histórica. Moisés, segundo a tradição judaico-
cristã, teria escrito a Torá, ou A Lei, no cristianismo é chamado de Pentateuco.
Este consiste nos cinco primeiros livros da Bíblia. E para nos aprofundarmos na
análise da inconsistência do mito judaico, primeiro temos que conhecer cada
um desses livros. O primeiro livro, conhecido como Gênesis (Bereshit, em
hebraico), narra a criação do Universo, do mundo em que vivemos, da vida e do
homem, pela vontade de Deus; depois a introdução do pecado no seio da
humanidade, a expulsão do homem da presença de Deus, o primeiro homicídio
e a destruição do mundo pela águas do dilúvio; por fim, Deus escolhe um
homem, Abraão, para, da descendência deste, criar um povo santo, exemplo
para todas as nações, mas que, segundo Deus, acabaria sendo escravizado nas
terras do Egito. É dada ainda a genealogia dos Patriarcas: Isaque e Jacó,
respectivamente, filho e neto de Abraão, e os doze bisnetos que dariam origem
às doze tribos. O segundo livro, o Êxodo (Shemot, em hebraico), é dedicado
exclusivamente a vida de Moisés, seu encontro com Deus, sua liderança durante
a fuga do Egito e o recebimento das “Tábuas da Lei”, ou Os Dez Mandamentos, a
construção da “Arca da Aliança”, e constituição do culto a Deus. O terceiro livro,
Levítico (Vaiicrá), praticamente legisla sobre a atuação da classe sacerdotal no
Tabernáculo, na condução da Arca da Aliança e os demais serviços de adoração.
O quarto livro, Números (Bemidbar), narra todo o recenseamento feito pelo
povo que se dirigia à Terra Prometida. O quinto livro, Deuteronômio (Devarim)
é a segunda codificação das Leis atribuídas a Moisés. Contudo, nos deteremos
nos dois primeiros livros, pois são de especial envergadura para a cristalização
do judaísmo e conseqüentemente da classe sacerdotal que o criou.
O Mito da Criação:
As grandes religiões ocidentais absorveram o mito da criação, conforme
narrado na Torá e, conseqüentemente, na Bíblia. Todavia, o próprio mito em si,
é muito anterior à formação do povo hebreu, ou judeu, como uma nação. O que
nos leva a supor que a classe sacerdotal israelita acolheu uma idéia preexistente
de uma civilização anterior, provavelmente, a Suméria. O documento escrito
mais antigo da humanidade, a Epopéia de Gilgamesh, encontrado e traduzido
na segunda metade do século XIX, pelo arqueólogo George Smith, narra a
criação do Universo e do homem com uma semelhança gigantesca à que nós
encontramos no livro bíblico de Gênesis. A exceção feita ao fato de, no mito
judaico, tudo haver sido apenas um ato de um único deus, enquanto no mito
sumério, há o envolvimento de várias divindades (N. K. Sandras: “A Epopéia de
Gilgamesh”, 1992). Portanto, a possibilidade de adaptação de um mito recebido
posteriormente à fuga do Egito, quando esta já fazia parte do imaginário hebreu,
é mais do que certa. Isso deve ter ocorrido, possivelmente, quando os hebreus
foram vencidos pelos caldeus e levados cativos para a Babilônia. Assim, a
primeira inconsistência da narrativa mosaica cai por terra, na mínima análise
científica.
N. K. Sandras, na obra citada, apresenta a relevante comparação entre
alguns outros aspectos contidos no Gênesis e na Epopéia de Gilgamesh. A
expulsão do homem da convivência com Deus e o Dilúvio, também, são
considerados, visto que, dadas as semelhanças entre as duas narrativas e a
preexistência da Epopéia de Gilgamesh, não resta dúvida de que o mito bíblico,
creditado a Moisés, nada mais é do que uma compilação, deliberadamente
alterada pela classe sacerdotal judaica, a fim de adequá-lo ao seu próprio
interesse.
É interessante ressaltar que o deus hebraico, no primeiro livro da Torá,
não tem o nome de Yahweh, mas “Elohim”, plural da palavra “Eloah”,
significando o plural algo como, “aqueles que vêm do alto”, ou, como preferem
alguns, “Elevados”. Talvez possamos notar uma alusão às divindades sumérias
que na Epopéia de Gilgamesh foram protagonistas destas passagens acima
citadas, no lugar reservado a Yahweh na saga judaica. No entanto, na Bíblia
cristã, em qualquer versão da língua portuguesa, tanto o verbete Yahweh,
quanto Elohim são traduzidos pelo verbete Deus, portanto é praticamente
impossível perceber tal incoerência, somente em algumas versões utilizadas
apenas para consultas de estudo, tais como a Bíblia de Genebra e a Bíblia de
Jerusalém, é que se pode fazer tal constatação.
Os Patriarcas e O Êxodo:
Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman no livro “A Bíblia Não Tinha
Razão”, de 2003, fazem um trabalho revelador sobre a arqueologia bíblica e a
cronologia dos fatos contidos, principalmente, na Torá. Através de um estudo
comparativo entre diversos autores, os quais não cabem aqui nominá-los,
apresentam a tese de que o texto bíblico, como nos foi legado, surgiu na
Jerusalém do século VII a.C.
Com relação à cronologia da existência dos Patriarcas, a saber: Abraão,
Isaque e Jacó, os autores não autenticam a existência física e histórica destes,
antes se atêm a constatar que certos detalhes, como a impossível presença de
camelos e filisteus no tempo em os precursores do povo hebreu teriam vivido,
são inquestionáveis anacronismos que devem ser considerados seriamente,
pois, se não são inserções posteriores às narrativas mais antigas, são, no
mínimo, mostras de que os textos datam de tempos muito mais recentes do que
pensavam alguns estudiosos. Sendo, portanto, oriundas dos séculos VIII e VII
a.C., mais possivelmente deste último. Finkelstein e Silberman argumentam que
determinadas cidades citadas na Torá como existentes na época dos Patriarcas,
apenas estão ali para firmarem um vínculo com os reinos que surgiriam
posteriormente à pretensa existência destes, mas perfeitamente cabíveis no
século VII a.C., os reinos de Davi e Salomão, e concluem que tanto Abraão,
quanto Isaque e Jacó, sequer eram parentes, mas que foram agrupados, pela
classe sacerdotal judaica do século VII a.C., para constituírem a base do épico
nacional israelita.
Quanto ao Êxodo, é sabido e muito documentado por pinturas e textos
egípcios, que migrações de povos de origem semítica, radicados onde hoje se
situa Israel, para as terras do Egito, durante épocas de seca nesta região,
aconteciam com certa constância desde a Idade do Bronze. Maneton,
historiador de origem grega e autor de “Aegyptiaca”, que viveu no século III
a.C., sob o reinado de Ptolomeu I, ou II, descreve a invasão do delta do Nilo por
um povo que ele chamou de “hicsos”, mal traduzido pelo próprio Maneton como
“reis-pastores”, mas que, hoje sabemos, significava “chefes estrangeiros”. Esse
povo, de origem semítica, viveu na cidade de Avaris e lá permaneceu por cerca
de 100 anos, até serem expulsos, possivelmente, no ano 1570 a.C. Maneton
credita aos hicsos a XV e a XVI Dinastias egípcias, mas vale lembrar que
Maneton não se baseou em nenhum documento histórico, apenas, de modo
deliberado, ordenou as dinastias egípcias por ordem de Ptolomeu, o qual
buscava legitimar-se junto ao povo egípcio. Entretanto, o que nos interessa
abordar agora é a semelhança do relato da partida dos hicsos do delta do Nilo,
com o êxodo hebreu, e a real possibilidade de José, segundo a Torá e a Bíblia,
filho de Jacó ter sido um alto funcionário da administração hicsa de Avaris. As
descobertas arqueológicas de Tell Ed-Daba, antiga Avaris, na década de 90,
mostram que a presença semita na região se deu paulatinamente, não havendo
uma invasão e sim um ciclo de ocupações, as quais levaram à prosperidade, logo
o desenvolvimento de uma administração de origem semita, chamemos de
hicsa, permitiria a chegada de um hebreu, José, a um alto posto da
administração hicsa. Todavia, existe aqui um problema, a Bíblia colocou o êxodo
em torno de 1440 a.C., data que se obtém pela comparação de dados bíblicos
com fontes extra-bíblicas. Mas, esta data não coincide com a expulsão dos
hicsos. Por isto, muitos estudiosos consideram-na simbólica apenas, e datam o
êxodo no século XIII a.C., na época de Ramsés II, fundados em testemunhos
egípcios indiretos, como a construção da cidade de Pi-Ramsés no delta do Nilo,
na qual trabalharam semitas, e na estela de Merneptah, filho e sucessor de
Ramsés II, que fala da presença de uma entidade de nome 'Israel' presente em
Canaã, no final do século XIII a.C. Porém, o que se sabe é que não existe nas
fontes egípcias da época menção alguma da presença de israelitas no Egito. Nem
ligados aos hicsos (séculos XVII-XVI a.C.), nem aos grupos semitas
mencionados nas Cartas de Tell el-Amarna (século XIV a.C.), nem a uma fuga
para Canaã (século XIII a.C.). O que se sabe é que não existe nenhum sinal de
ocupação do Sinai na época de Ramsés II ou predecessores imediatos; que não
existe sinal do êxodo em Kadesh-Barnea ou Ezion-Geber, nem nos outros
lugares mencionados na narrativa do êxodo, como Tel Arad, Tel Hesbon ou
Edom. Convém considerar, também, que as narrativas bíblicas do êxodo jamais
mencionam o nome do faraó que os israelitas enfrentaram, segundo as
afirmações do egiptólogo Donald B. Redford, em seu livro “Egito, Canaã e
Israel nos Tempos Antigos”, de 1992.
Por fim, a última consideração que faremos é sobre a travessia do Mar
Vermelho pelo povo hebreu, liderado por Moisés. Se considerarmos que tal
travessia tenha ocorrido, ela certamente não se deu no meio do Mar Vermelho,
como Hollywood nos fez pensar, no belíssimo “Os Dez Mandamentos”,
estrelado por Charlton Heston, em 1956. Apesar da bela fotografia e dos efeitos
especiais empregados na época, essa imagem está certamente
superdimensionada, caracterizando todo o poder de Deus.
A Bíblia de Jerusalém é uma tradução cristã da qual participaram
diversos acadêmicos de formação católica e protestante, por isso, em minha
opinião, mais isenta que outras traduções, já que buscou o consenso na
interpretação das Escrituras. A sua característica mais marcante é a tradução
literal, não obstante de trazer à baila algumas divergências com as traduções
mais amplamente usadas, aqui no Brasil a João Ferreira de Almeida
(protestante) e a Santa Bíblia da CNBB. E é exatamente nessas divergências que
reside a grande inconsistência do “milagre” do Mar Vermelho. A Bíblia de
Jerusalém, no livro do Êxodo, capítulo 13, versículos 17 e 18, relata a travessia
de modo completamente diferente das demais traduções, pois onde se lê, em
outras traduções, Mar Vermelho, ela cita o “mar de juncos” (yam sûf em
hebraico). Em nota de rodapé, os tradutores afirmam que “sûf” em egípcio
significa junco. A plausibilidade deste relato, agora traduzido como “mar de
juncos” reside na possibilidade de ter acontecido realmente na foz do rio Nilo,
ou seja, no seu delta, exatamente onde houve uma ocupação semita e onde está
situada a cidade de Tell Ed-Daba, antiga Avaris, capital hicsa. Sabemos que
nessa região, onde hoje se situa o Canal do Suez, havia diversas lagunas e
charcos que ligavam uns aos outros, até o Golfo de Suez que, por sua vez, faz
ligação com o Mar Vermelho. Wenner Keller, em seu livro “E a Bíblia Tinha
Razão”, edição consultada de 1964, localiza o local da travessia exatamente
onde nós propomos aqui, do mesmo modo que a própria Bíblia, qualquer que
seja a sua versão, põe em xeque a suposta travessia pelo meio do Mar Vermelho.
Basta apenas, seguirmos atentamente a narrativa contida no livro de Números,
no capítulo 33, do versículo 1 até o 49, onde a travessia é narrada de modo
completamente diferente, porém nos dando subsídios suficientes para
afirmarmos que o dito milagre, da maneira em que a classe sacerdotal judaica
propôs, sequer aconteceu.
A Escolha do Cristianismo:
A primeira perspectiva que devemos ter em mente, quando se trata do
cristianismo, é a de que o que temos hoje como a religião de 1/3 da humanidade,
não é nem de perto a seita judaica que surgiu no século I d.C. O cristianismo,
como hoje conhecemos, surge num momento histórico muito posterior ao
século ao que, pretensamente, Jesus teria vivido. O ano de 325 d.C. foi
fundamental para a consolidação de uma das vertentes do cristianismo
primitivo. Sim, uma das vertentes, pois desde seu nascedouro, o cristianismo, se
dividia em dois ramos distintos: um seguidor da mensagem da salvação pela fé
no Cristo, e outro que se baseava no autoconhecimento e na busca encontro com
Deus através da meditação. A primeira vertente, a vencedora, chamaremos de
ortodoxia (não confundir com a Igreja Ortodoxa de nossos dias) e a segunda,
chamaremos de gnóstica, pois os seguidores desta corrente cristã acreditavam
que somente o autoconhecimento (gnosis em grego) levaria o crente à salvação.
Voltemos, então, ao ano de 325 d.C....
Conta a história que o imperador romano Constantino reuniu na pequena
cidade de Nicéia, hoje Iznik, na província de Anatólia, atual Turquia, todos os
bispos da emergente religião cristã. Por ordem imperial, os bispos deveriam
chegar a um consenso sobre todos os aspectos divergentes entre as
comunidades cristãs que dirigiam. O primeiro ponto desta história é
comprovado e autenticado por documentos com datação de época, ou seja,
Constantino realmente forçou a realização do primeiro Concílio da Igreja,
porém carece de confirmação a informação de que “todos os bispos” da Igreja
atenderam e compareceram ao encontro, dirigido pessoalmente pelo imperador,
conforme publicam Jean-Michel Carrié e Aline Roussele, no livro “O Império
Romano em Mutação: De Severo à Constantino – 192 a 337”, de 1999. Isto por
que, como já dissemos, haviam duas correntes divergentes dentro da
cristandade. Suas diferenças extrapolavam a questão da salvação e em muitos
pontos, como a divindade de Jesus, por exemplo, as diferenças eram tão
gritantes que chegavam às raias da agressão física entre seus defensores. O que
se sabe, como fato comprovado, é que os bispos da vertente gnóstica, não
aceitavam a intervenção imperial nos assuntos da igreja, nem viam com bons
olhos a aproximação entre o Estado e a Igreja. Por outro lado, os defensores da
ortodoxia, criam nos enormes benefícios que já se faziam sentir desde 318 d.C.,
quando Constantino autorizou, através do “Édito da Tolerância”, a realização
de cultos cristãos livremente organizados, pondo fim a três séculos de
perseguições.
Reza a lenda que Constantino, se converteu ao cristianismo, no ano de
312 d.C., quando, antes de uma batalha decisiva pelo controle do império,
prestava culto ao sol, pois era adorador de Deus-Sol Invictus, deus da sabedoria
e representado pelo disco solar. Constantino teria tido a visão de uma cruz no
meio do sol, ou as duas primeiras letras gregas da palavra “Christos”. O
imperador teria ouvido ainda uma voz celestial que dizia: “Sob este símbolo
saireis vencedor”. E saiu. reunificando todo o exército romano e se tornando o
único soberano. Essa bonita história não traduz a verdade, isto por que, de
acordo com documentos da época, Constantino nunca se converteu, e de acordo
com a Enciclopédia Católica, edição de 1976, dias antes de sua morte ainda
prestou homenagens a Júpiter. Portanto, a inconsistência da unificação da
Igreja, sob Constantino, mostra o quanto houve manipulação no próprio mito, a
fim de fortalecer a classe sacerdotal cristã, mais precisamente a ortodoxia, que
se beneficiou diretamente dessa história.
Mas o que há de mais relevante na unificação da Igreja e a transformação
do cristianismo na religião oficial do império romano? Em primeiro lugar, a
unificação do território e a estabilidade social estavam em jogo, justamente pelo
fato de que cada província do império mantinha a devoção a uma determinada
divindade do extenso panteão romano. Mitra e Isis, que analisaremos mais
adiante seus paralelismos com o atual cristianismo, tinham a preferência da
população romana. Mitra era o escolhido pelas Legiões romanas, enquanto Isis
tinha a preferência das mulheres de Roma. Ambos tinham templos espalhados
por todo território imperial. Todavia, o que fez Constantino escolher a seita
cristã, em detrimento de seus mais fortes e óbvios concorrentes, de acordo com
Mircea Eliade, em “A História das Crenças e das Idéias Religiosas”, de 1992, foi
o fato de que haviam alguns aspectos excludentes tanto do mitraísmo, quanto da
adoração a Isis. No culto a Mitra, só eram aceitos homens que se sujeitariam a
uma iniciação, depois de serem apresentados por um membro mais antigo, fato
esse que excluía completamente as mulheres e outros homens que não fossem
apresentados à seita por um membro. No caso do culto a Isis, o fator excludente
era o de que apenas mulheres poderiam fazer parte do seita, além do fato pouco
aceitável para os homens de que, durante certa época do ano, as devotas de Isis
não podiam manter relações sexuais, causando transtorno familiares. Já o
cristianismo, tinha a seu favor a aceitação de ambos os sexos e nenhuma
restrição ao ato sexual, conquanto fosse mantido por pessoas casadas entre si.
Assim, a escolha do cristianismo se deu não por uma questão de fé, ou
conversão, mas por pura necessidade de controle religioso e político.
Roque Frangiotti, em “A História das Heresias – Séculos I-VIII”, de
1995, nos diz que no processo que resultou no Concílio de Nicéia, certamente,
Constantino se viu obrigado a tentar unificar os diversos entendimentos
cristãos. Ele sustenta que os gnósticos não deram tanta importância à
convocação imperial, portanto a presença dos bispos seguidores da ortodoxia
era numericamente superior. Nesse contexto, um dos pontos de divergência
irreconciliável dizia respeito à divindade de Jesus. Para os gnósticos Jesus era
homem, filho espiritual de Deus, concebido através de um ato carnal, mas
purificado pela “gnosis”, ou sabedoria de Deus, enquanto que para a ortodoxia,
Jesus era uma das personificações de Deus, que juntamente com o Espírito
Santo, completam a Trindade. Ário, bispo de Alexandria, diante do Concílio
defendeu a tese gnóstica e acabou acusado de heresia e execrado pelos demais.
Assim, a ortodoxia acabou vencedora do debate e, conseqüentemente, tornou-se
hegemônica no cristianismo e sua versão de Jesus é a que nós conhecemos.
A Possibilidade da Existência:
Dentro do campo das possibilidades, não nos custa sustentar a de que
Jesus, ou Yeshuah, fosse um ser humano real. Se ele realmente existiu, segundo
as duas genealogias encontradas na Bíblia, seja em Mateus ou em Lucas, Jesus
era descendente do rei Davi, logo, podemos afirmar que como membro da
nobreza, ele jamais poderia ter sido um simples carpinteiro. Aliás, não há uma
linha sequer que dê ênfase a essa afirmação, com exceção uma frase repetida
tanto no evangelho de Matheus (Mt. 13,55), quanto no de Marcos (Mc. 6,3), que
pode ter sido adicionada posteriormente para fortalecer a tese de que Jesus era
pobre e trabalhador. O fato é que, se Jesus existiu, e era descendente de Davi, e
certamente poderia reivindicar o trono da Judéia. O conflito de interesses se faz
no momento em Jesus se declara “Filho de Davi” e começa a arregimentar
seguidores, tanto na nobreza quanto nas camadas mais populares da sociedade
judaica, entrando em atrito direto com Roma, já que Marco Antônio, imperador
romano, entregou o trono da Judéia a Herodes, o Grande, em 37 a.C.
Sendo Jesus desdente de Davi, possivelmente postulante ao trono da
Judéia, movimentando massas, com apoio de uma parcela da nobreza, dos
coletores de impostos, dos zelotes (grupo político judeu que pregava a luta
armada contra Roma), esse homem obviamente não era bem quisto pelas forças
de ocupação imperiais. Para agravar a situação, Jesus pregava abertamente
contra as autoridades sacerdotais do Templo de Jerusalém e contra a parcela da
elite judaica mais subserviente ao poderio romano, os saduceus. Com tantos
inimigos poderosos, em todas as esferas de poder, Jesus, estava com seus dias
contados. A gota d’água foi a sua entrada “triunfal” em Jerusalém, quando foi
ovacionado por seus seguidores que, repetidamente, o chamavam de “Filho de
Davi”.
Sem querer entrar em controvérsia se o relato bíblico é verossímil ou não,
mas apenas nos atendo as evidências, podemos afirmar que houve uma
conspiração, muito bem arquitetada para levar Jesus até o seu julgamento. E
mais... Um julgamento romano, diante do interventor e autoridade maior da
ocupação imperial, Pôncio Pilatos. Ousando um pouco mais, diríamos que toda
a narrativa em que Pilatos teria “lavado as mãos”, nada mais é do que um
artifício posterior para inocentar Roma e culpar os judeus pela morte de Jesus,
agora o “Filho de Deus”.
A principal evidência está na própria crucificação em si, pois não existe
sequer um relato documentado na história do povo judeu, nem mesmo na
Bíblia, de que um condenado tenha sido crucificado. A punição mais grave
aplicada pelas autoridades judaicas, que levava à morte, era o apedrejamento. A
crucificação, por sua vez, era muito comum no tratamento que Roma
dispensava aos traidores do império. Então, se Jesus existiu, era postulante ao
trono da Judéia, o que contrariava os interesses de Roma, arrebanhava centenas
de seguidores, tinha ligações com os zelotes e se declarava abertamente
contrário à elite que apoiava Roma em Jerusalém, não nos resta outra opção,
senão a de que ele era um inimigo de Roma, logo passível de ser crucificado e
morto.
O Messias e O Mito:
Entre os séculos IV a.C. e I d.C., popularizou-se entre o povo israelita a
crença do advento da vinda do Messias, que seria um libertador da tirania
romana. Mas, de onde surge essa esperança? Com que embasamento se espera a
vinda de um líder?
Em primeiro lugar devemos entender o que significa a palavra Messias
(Mashiach em hebraico) e depois compreender a importância que esse título
ganhou com o passar dos anos. Literalmente, messias significa ungido, alguém
que recebeu a unção com óleo, ou seja, foi miticamente alçado à categoria de
autoridade. A primeira vez que isso ocorreu na história de Israel, foi quando o
profeta Samuel derramou azeite sobre a cabeça de Saul, que viria a ser o
primeiro rei dos judeus. Este ato simbolizava que Deus havia dado seu aval
sobre a autoridade de Saul como rei dos judeus. Pouco depois, por ter Saul
desobedecido a Deus, Samuel unge Davi, quando este ainda era um menino.
Mais tarde, Davi, como sabemos, viria se tornar rei de Israel. Ambos, Saul e
Davi eram messias, já que haviam sido ungidos por Samuel. Os reis que se
seguiram a Davi, também foram ungidos por algum profeta, lhes conferindo
autoridade sobre o povo israelita. Todavia, segundo o relato bíblico e as
evidências históricas, os judeus acabaram cativos na Babilônia e durante muito
tempo ficaram sem seus governantes. Os judeus viveram tempos difíceis, depois
do domínio babilônio, passaram para as mãos dos persas, depois para os grego-
macedônios, até que em 167 a.C. estoura uma revolta em Jerusalém, liderada
pelo sacerdote Matatias, que morre no ano seguinte. Um de seus filhos, Judas,
toma a frente da rebelião e conquista Jerusalém em 164 a.C., dando início a
linhagem dos Macabeus, que duraria até a invasão romana em 63 a.C.
É importante ressaltar que Matatias, era um sacerdote do Templo de
Jerusalém e, como mandava o costume da época, também era um ungido, ou
seja, um messias. Judas, depois da tomada de Jerusalém, assume o título de
soberano dos judeus e, seguindo a tradição, também, fora ungido como tal,
tornando-se um messias.
O significado da palavra messias tomou outro sentido, na medida em que
a necessidade da classe sacerdotal judaica, também, mudava. Seitas laicas
passaram a fazer suas próprias interpretações das profecias e popularizaram a
idéia da vinda de um rei, descendente de Davi, que seria o Messias que libertaria
a Judéia da opressão romana. E quando a seita cristã, depois da morte de Jesus,
precisou encontrar a força necessária para continuar existindo, morre o homem
Jesus e nasce o mito Jesus Cristo. Coincidentemente, ou não, o nome Jesus, ou
melhor, Yeshuah, significa “salvador”, que viria bem a calhar nas pretensões
daqueles que se faziam de novos líderes da pequena seita cristã.
Não é possível determinar quando houve a transformação do Jesus
histórico, se é que ele existiu, no personagem mítico, cheio de poderes
miraculosos. Muito menos se foi uma coisa deliberada ou não. Mas, podemos
afirmar, com muita certeza, que muitos dos milagres e das atitudes atribuídas a
Jesus, são na verdade adaptações da história outros personagens,
contemporâneos de Jesus, mas que caíram no esquecimento quando o
cristianismo se tornou a religião oficial do império romano.
Os Rivais de Jesus:
Nascido na cidade de Tiana, na Capadócia, atual Turquia, na província
romana da Ásia, no ano 2 a.C, a 13 de março. Apolônio de Tiana, segundo a
lenda teve seu nascimento anunciado à sua mãe por um emissário dos deuses.
Desde criança escolheu o ascetismo como filosofia de vida, depois quando
jovem, segundo o relato de Flavio Filóstrato, em “A Vida de Apolônio”, curou
enfermos, sarou feridas que não se fechavam, pregou a mensagem da paz e do
amor universal, e, segundo a fonte, quando já era adulto, em Roma, ressuscitou
a filha de um senador. Os textos que falam sobre Apolônio foram divulgados por
ordem de Julia Domna, esposa de Septímio Severo, imperador romano, que
encarregou Filóstrato de elaborar uma biografia do taumaturgo, a partir de
notas do próprio Apolônio que chegaram às suas mãos. Assim, como no caso
dos evangelhos cristãos, foram as cópias das cópias que tantas e tantas vezes
foram copiadas, que chegaram as nossas mãos.
Apolônio de Tiana teve inúmeros seguidores desde nobres romanos até
filósofos gregos. O imperador romano Adriano, mandou publicar sua obra por
todo o império. Aureliano, também imperador de Roma, dizia ter visões de
Apolônio que o orientava em diversas ocasiões.
Voltando ao campo das possibilidades, é possível que, quando o
cristianismo fora adotado como a religião do império, muitas das obras e
milagres atribuídos a Apolônio de Tiana, tenham sido adicionados aos feitos do
Cristo romano, a fim de que a figura de Jesus não fosse suplantada por
nenhuma outra.
Mas, vejamos outra figura, que por incrível que pareça consta inclusive
nos relatos do Novo Testamento...
Na região da Samaria, ao norte da Judéia, viveu um homem que assim
como Jesus, arregimentou centenas de seguidores, pregava o amor e paz
universal, curava os enfermos e que podia levitar e alçar o paraíso. Seu nome era
Simão, o mago.
Simão nos é apresentado na Bíblia, no livro dos Atos dos Apóstolos, onde
é retratado como um homem que enfeitiçara toda a Samaria e que praticava
magia. Certo dia, Pedro estava impondo a mão sobre os crentes e os revestindo
com o Espírito Santo. Simão viu a cena, se aproximou e pediu para também
receber o dom do Espírito Santo. Pedro respondeu que era preciso ter fé em
Jesus e renunciar ao mundo, Simão então tenta comprar a benção de Pedro,
que, obviamente, não aceita a propina e acusa Simão de blasfêmia. Esse ato, de
tentar comprar uma benção, é chamado hoje simonia, ou ato de Simão. O
evangelho gnóstico “Os Atos de Pedro”, datado do século II d.C., narra outro
embate entre Simão e Pedro, no qual Simão acaba sendo apedrejado pelos seus
próprios seguidores, agora convertidos a Jesus. Tendo em vista a preocupação
que a classe sacerdotal do cristianismo, responsável pela compilação dos textos
do Novo Testamento e dos Evangelhos Apócrifos, teve em difamar e denegrir a
imagem de Simão, o mago, fica claro a importância deste nos séculos iniciais da
Era Cristã. Tanto o é, que no ano 300 d.C. havia milhares de seguidores de
Simão na Síria, Egito e em Roma, onde o imperador Claudio, em 54 d.C.,
mandou erguer uma estátua com a seguinte inscrição: “Para Simão o Deus
Sagrado”. Todavia, depois da adoção do cristianismo como religião oficial do
império, o culto a Simão, o mago, assim como a Apolônio de Tiana, foi proibido.
A nova classe sacerdotal que emergiu e se fortaleceu com a adoção, por
parte do império romano, da seita cristã como a única religião permitida,
cumpriu eficazmente a tarefa de absorver qualidades, feitos e obras de outros
líderes espirituais e atribuí-los ao Cristo romano. No caso específico de Simão, a
idéia de repudiá-lo se estendeu por séculos, fazendo com teólogos, bispos e
clérigos se dedicassem a provar que Simão servia à Satanás...
No entanto, duas outras religiões rivalizavam com o cristianismo nos
primeiros séculos de nossa Era. O culto a Ísis e o mitraísmo. E é improvável que
essas religiões mais antigas tenham sido abandonadas pelo povo romano, logo
depois da adoção do cristianismo como religião oficial do império. O mais
provável, como veremos, é que tenham sido absorvidas pelo cristianismo, numa
jogada de mestre da classe sacerdotal da nova religião imperial.
Isis era uma deusa de origem egípcia, cujo culto foi levado para Roma
pouco depois que o Egito passou a ser uma província romana. Era costume de
Roma assimilar os deuses dos povos conquistados. O imperador Calígula ergueu
um templo para a deusa, no ano 40 d.C., o que serviu para popularizar o culto a
Isis. Com o tempo, por volta do ano 200 d.C., Isis se tornou tão popular que
chegou a ser cogitada como culto imperial. Mas, ela esbarrava no culto ao Sol
Invictus, o sol invencível, que era uma das designações de seu filho, Hórus, logo
ela estava sendo chamada de “Santa Mãe de Deus”, “Rainha do Céu” e de “Mãe
Virgem”, o que pode, certamente, remeter ao culto cristão a Nossa Senhora. As
imagens da deusa, datadas do século II d.C, como as recuperadas nas escavações
de Pompéia, mostram-na sempre com seu filho, Hórus, no colo, o que nos
remete a iconografia cristã da imagem da mãe de Jesus com o filho. No ano 500
d. C. todos os templos de Isis, existentes no território dominado pela igreja
romana, foram transformados em igrejas católicas dedicadas à Virgem Maria.
Quanto a Mitra, este era uma divindade de origem persa, mas que teve
similar na Índia. Chegou à Grécia pelas mãos dos soldados de Alexandre, o
Grande, e se espalhou por todo o Mediterrâneo. Entre os séculos II e IV de
nossa Era, o mitraísmo era a religião oficial dos soldados romanos e a divindade
protetora do império. Existem profundas semelhanças entre o mitraísmo e
cristianismo que conhecemos hoje, por exemplo: Mitra nasceu de uma virgem
no dia 25 de dezembro, aos 12 anos ensinava sua doutrina, aos 30 iniciou seu
ministério, tinha doze discípulos, dividiu uma última refeição com seus
discípulos antes de morrer, morreu e três dias depois ressuscitou e voltou a
Terra como “Filho de Deus”, e para terminar esse rol de coincidências, os
adeptos do mitraísmo ao final de seus cultos dividiam o pão e bebiam o vinho,
que simbolizavam a carne do deus e seu sangue. São coincidências demais para
não percebermos que as religiões de Isis e Mitra foram descaradamente
absorvidas pelo cristianismo.
Conclusão:
Coincidências à parte, o cristianismo, assim como judaísmo, estão
repletos de repetições das próprias origens. Parece que em algum momento
houve uma medição de força entre o judaísmo e o cristianismo. Pois enquanto
uma escritura mostra Moisés abrindo as águas do mar, a outra mostra Jesus
caminhando sobre as águas; em outra passagem do Antigo Testamento vemos o
profeta Elias multiplicar a farinha e o azeite da viúva pobre, em outra, no Novo
Testamento, Jesus multiplica os pães e os peixes para alimentar uma multidão;
mais à frente no Antigo Testamento o mesmo Elias ressuscita o filho da viúva, e
Jesus, no Novo Testamento, ressuscita diversas pessoas. O confronto é claro,
não há dúvidas, se nos dedicarmos com atenção aos textos bíblicos veremos que
os milagres do Novo Testamento são maiores e superiores do que os do Antigo
Testamento, o que nos comprova que a religião emergente, tentava suplantar a
original, tal como Sigmund Freud, analisa em “Moisés e o Monoteísmo”: o filho
tentando vencer o pai. É certo que tanto o judaísmo quanto o cristianismo
absorveram diversas posturas de religiões anteriores, como vimos. Seja de um
culto expurgado do Egito pelo judaísmo, seja do culto a Isis ou a Mitra, ou
mesmo da adição de obras e milagres a história de Jesus, pelo cristianismo. O
fato é que as classes sacerdotais que criaram e sustentam, ainda hoje, as
religiões, não só o judaísmo ou o cristianismo, bem como todas as outras
existentes, se beneficiam diretamente da fé despejada pelo crente na entidade
alvo de adoração. Karl Marx e Frederich Engels apresentaram diversas vezes a
religião como um entrave na luta de libertação da classe trabalhadora. Grosso
modo, somos obrigados a concordar, mas não vejo a religião em si como a fonte
de imobilização da classe trabalhadora nas lutas de conquistas de sua
emancipação política e econômica, como demonstraram Gustavo Gutierrez e
Leonardo Boff, em “A Teologia da Libertação e Cativeiro”, de 1980. Contudo,
apontar para as classes sacerdotais que se beneficiam diretamente da fé
humana, é sim o melhor caminho para provar que as inconsistências das
religiões estão seguramente arraigadas nos interesses daqueles que as dirigem.
Fontes não citadas no texto:
Bíblia de Referência Thompson, Edições Vida, 1992.
Conferência Teológica proferida por: Caroline R. Fontaine, Ph.D. do Andover Newton
Theological School; Marvin Mayer, professor de Religiões da Chapmann University;
Jonathan L. Reed, teólogo, autor do livro “In Search of Paul” , em Dallas, E.U.A, 2004.
Vous aimerez peut-être aussi
- Psicanálise, Linguistica e SemióticaDocument16 pagesPsicanálise, Linguistica e SemióticaDouglas NaegelePas encore d'évaluation
- Metodologia Do Ensino Superior - Universidade e SociedadeDocument91 pagesMetodologia Do Ensino Superior - Universidade e SociedadeDouglas NaegelePas encore d'évaluation
- Psicanáslise e NeurociênciaDocument11 pagesPsicanáslise e NeurociênciaDouglas Naegele100% (1)
- Metodologia de PesquisaDocument88 pagesMetodologia de PesquisaDouglas NaegelePas encore d'évaluation
- Neurose e PsicoseDocument33 pagesNeurose e PsicoseDouglas Naegele100% (3)
- A Importância Da Repetição Como Um Dos Conceitos Fundamentais Da PsicanáliseDocument15 pagesA Importância Da Repetição Como Um Dos Conceitos Fundamentais Da PsicanáliseDouglas Naegele100% (1)
- A Importância Da Pulsão Como Um Dos Conceitos Fundamentais Da Psicanálise.Document19 pagesA Importância Da Pulsão Como Um Dos Conceitos Fundamentais Da Psicanálise.Douglas Naegele100% (2)
- A Prosperidade em CristoDocument10 pagesA Prosperidade em CristoDouglas NaegelePas encore d'évaluation
- Como Nascem Os MitosDocument5 pagesComo Nascem Os MitosDouglas NaegelePas encore d'évaluation
- A Opção Pelos Pobres e A Renovação CarismáticaDocument6 pagesA Opção Pelos Pobres e A Renovação CarismáticaDouglas NaegelePas encore d'évaluation
- A Importância Da Homilética e Seus Desafios Na Sociedade PresenteDocument2 pagesA Importância Da Homilética e Seus Desafios Na Sociedade PresenteRenato RF100% (1)
- Recuperação - 6 Ano - 1Document1 pageRecuperação - 6 Ano - 1Viviane MagalhãesPas encore d'évaluation
- Ficha de Trabalho Nº 4 3283 O Menino SelvagemDocument4 pagesFicha de Trabalho Nº 4 3283 O Menino SelvagemmariaPas encore d'évaluation
- 1.O Que É UmbandaDocument20 pages1.O Que É UmbandaPaulo HenriquePas encore d'évaluation
- Dialogando Com Freire e VigotskiDocument14 pagesDialogando Com Freire e VigotskiGilson E Aziza SouzaPas encore d'évaluation
- Kazimir MalevichDocument39 pagesKazimir Malevichd0u9l45Pas encore d'évaluation
- Alguns Tópicos Da Arte Poética de AristótelesDocument3 pagesAlguns Tópicos Da Arte Poética de AristótelesJairo Nogueira LunaPas encore d'évaluation
- EXE A Peregrinação de Fernão Mendes PintoDocument5 pagesEXE A Peregrinação de Fernão Mendes Pintoquimdafaia59Pas encore d'évaluation
- Leitura e Producao Textual PucDocument2 pagesLeitura e Producao Textual Pucsaramachado89Pas encore d'évaluation
- Algo de CabindaDocument123 pagesAlgo de CabindaIván De Oxalá Macusé KànbínaPas encore d'évaluation
- Guia Prático para Descobrir Suas Creças Limitantes 1 PDFDocument17 pagesGuia Prático para Descobrir Suas Creças Limitantes 1 PDFbolinhaicm100% (5)
- Resolução 79 2018Document6 pagesResolução 79 2018Fernando CruzPas encore d'évaluation
- Biografia de Poe O Clássico Edgar Allan PoeDocument4 pagesBiografia de Poe O Clássico Edgar Allan PoeWalleska Bernardino SilvaPas encore d'évaluation
- O Devido Processo Legal de Internação Psiquiátrica Involuntária Na Ordem Jurídica Constitucional Brasileira - Revista Jus Navigandi - Doutrina e PeçasDocument9 pagesO Devido Processo Legal de Internação Psiquiátrica Involuntária Na Ordem Jurídica Constitucional Brasileira - Revista Jus Navigandi - Doutrina e PeçasHugo Franco de MirandaPas encore d'évaluation
- O Deficiente Visual e A Educação MusicalDocument13 pagesO Deficiente Visual e A Educação MusicalGleidianePas encore d'évaluation
- Pierre Weil - Os Mutantes PDFDocument162 pagesPierre Weil - Os Mutantes PDFAlcione Brandão100% (3)
- CIÊNCIA E TECNOLOGIA - Transformando A Relação Do Ser Humano Com o Mundo PDFDocument13 pagesCIÊNCIA E TECNOLOGIA - Transformando A Relação Do Ser Humano Com o Mundo PDFCleber Benedetti0% (1)
- Apostila de História Da Educação Física (2015.2) PDFDocument334 pagesApostila de História Da Educação Física (2015.2) PDFVinícius Mousinho de MedeirosPas encore d'évaluation
- As Consequências Do Imperialismo Na África e ÁsiaDocument1 pageAs Consequências Do Imperialismo Na África e ÁsiaangelapassarimPas encore d'évaluation
- Slides - Interpretação e Produção de TextosDocument37 pagesSlides - Interpretação e Produção de TextosAmanda OliveiraPas encore d'évaluation
- Fichamento Arte e IlusãoDocument3 pagesFichamento Arte e IlusãoIvyPas encore d'évaluation
- Henry Mintzberg Critica Fórmulas Prontas Do Planejamento Estratégico Entrevistas Negócios AdministradoresDocument7 pagesHenry Mintzberg Critica Fórmulas Prontas Do Planejamento Estratégico Entrevistas Negócios AdministradorespriscilaPas encore d'évaluation
- Fredric Jameson - Pós-Modernidade e Sociedade de ConsumoDocument11 pagesFredric Jameson - Pós-Modernidade e Sociedade de ConsumoPedro Santos80% (5)
- Origem e Formação Do EstadoDocument14 pagesOrigem e Formação Do EstadopangIoss100% (1)
- Histórico de AraquariDocument3 pagesHistórico de AraquarijuliaPas encore d'évaluation
- Extensao Counitaria IDocument17 pagesExtensao Counitaria Idércio nevesPas encore d'évaluation
- Estudo Sobre o Conceito de Obra MusicalDocument141 pagesEstudo Sobre o Conceito de Obra MusicalTiago MayerPas encore d'évaluation
- HARRISON Peter - Ciencia e Religiao - Construindo Os LimitesDocument33 pagesHARRISON Peter - Ciencia e Religiao - Construindo Os LimiteseuglarPas encore d'évaluation
- O Arcaísmo Como Projeto - ResumoDocument2 pagesO Arcaísmo Como Projeto - ResumoRebeca RochaPas encore d'évaluation
- GOLDMAN, Marcio - O Dom e A Iniciação RevisitadosDocument20 pagesGOLDMAN, Marcio - O Dom e A Iniciação RevisitadosYago Quiñones TrianaPas encore d'évaluation