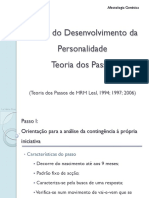Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Direito 09
Transféré par
ButhiTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Direito 09
Transféré par
ButhiDroits d'auteur :
Formats disponibles
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
ISSN 1519-1656
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA.
Jundia-SP: Sociedade Padre Anchieta il. 23cm. Semestral Inclui bibliografia
CDU 34(05)
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
EDITORIAL
com grande prazer que apresentamos o nononmero da nossa Revista da Faculdade de Direito do agora Centro Universitrio Padre Anchieta. Este , sem dvida, o fato mais importante do ano para todos aqueles que integram a famlia Anchieta. A transformao para Centro Universitrio traz consigo enormes responsabilidades para todos: alunos, professores, funcionrios e dirigentes, mas temos certeza de que, em breve, estaremos comemorando os primeiros frutos de tal mudana, com a ampliao dos horizontes para todos os cursos, ps-graduao, etc. Neste exemplar da Revista h muitos artigos interessantes para os leitores, abordando temas variados e atuais, como: a Conveno sobre a eliminao de todas as formas de discriminao contra a mulher; Um novo enfoque do acesso Justia; Autonomia da vontade, autonomia privada e livre iniciativa, sob a tica do Cdigo Civil de 2002; Caracterizao jurdico-ambiental do bairro So Bento, em Jundia; Fiana locatcia: a responsabilizao do garante at a entrega das chaves e a faculdade de exonerao do artigo 835 do Cdigo Civil; Justia Penal, classes sociais e a manipulao poltica da criminalidade; O cullto Ecologia e os Direitos Humanos; O Meio Ambiente na Constituio Federal; Responsabilidade Criminal dos Mdicos; Sociologia Jurdica ou Sociologia do Direito? e, finalmente, O Trabalho Infantil. Esperamos que possam ter, como sempre, uma agradvel leitura e uma fonte valiosa de consulta sobre doutrina. At o prximo exemplar. CONSELHO EDITORIAL
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
A REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA uma publicao semestral aberta colaborao de estudiosos e pesquisadores das Faculdades Padre Anchieta e de outras instituies. Os trabalhos publicados foram selecionados pelo Conselho Editorial, sendo os conceitos e opinies neles expressos de responsabilidade exclusiva de seus autores, aos quais deve ser requerida autorizao para a reproduo parcial ou total dos artigos, relatos de pesquisa etc.
Conselho Editorial Alexandre Barros Castro Cludio Antnio Soares Levada Joo Carlos Jos Martinelli Luiz Carlos Branco Mrcio Franklin Nogueira Paulo Eduardo Vieira de Oliveira Correspondncia R. Bom Jesus de Pirapora, 140, Centro, Jundia/SP. CEP. 13.207-660 Fax 4521-8444 ramal 238 Caixa Postal 240 anchieta@anchieta.br www.anchieta.br
Editorao DEPARTAMENTO DE PUBLICIDADE Escolas e Faculdades Padre Anchieta
Reviso Joo Antonio de Vasconcellos Tiragem 3.000 Revista da Faculdade de Direito Padre Anchieta. Pede-se permuta Pide-se canje We ask for exchange 4
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
NDICE A conveno sobre a eliminao de todas as formas de discriminao contra a mulher e o seu protocolo facultativo: impacto no direito Eliana Faleiros Vendramini Carneiro e Tatiana Lages Aliverti ....... 7 Um novo enfoque do acesso justia Jos Jair Ferraretto e Samuel Antonio Merbach de Oliveira ........ 25 Autonomia da vontade, autonomia privada e livre iniciativa: uma viso sob a tica do cdigo civil de 2002 Fernanda Pessanha do Amaral Gurgel ........................................ 37 Caracterizao jurdico-ambiental do bairro So Bento, Jundia-SP Eugnio Duarte Vieira Jnior e Rogrio Stacciarini ..................... 59 Fiana locatcia: a responsabilizao do garante at entrega das chaves e a faculdade de exonerao do artigo 835 do cdigo civil Cludio Antnio Soares Levada ................................................... 69 Justia penal, classes sociais e a manipulao poltica da criminalidade Vinicius Sampaio DOttaviano ..................................................... 75 O culto ecologia e aos direitos humanos provm da mesma raiz Joo Carlos Jos Martinelli .......................................................... 81 O meio ambiente na Constituio Federal Luciana Cordeiro de Souza .......................................................... 87 Responsabilidade criminal dos mdicos Lgia Priscila Dominicale ............................................................. 93 Sociologia Jurdica ou Sociologia do Direito? Glauco Barsalini ......................................................................... 107 Trabalho infantil Oris de Oliveira ........................................................................... 121 Normas para apresentao de originais ................................ 127
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
A CONVENO SOBRE A ELIMINAO DE ODAS DISCRIMINAO TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAO PRO OCOLO CONTRA A MULHER E O SEU PROTOCOLO FACULT TIVO: IMPACTO DIREITO FACULTATIVO: IMPACTO NO DIREITO BRASILEIRO Eliana Faleiros Vendramini Carneiro1 e Tatiana Lages Aliverti2
INTRODUO O presente artigo tem por objetivo o estudo de pontos relevantes da Conveno sobre a Eliminao de Todas as Formas de Discriminao contra a Mulher, seu Protocolo Facultativo e seus impactos no direito brasileiro. Inicialmente, sem a pretenso de esgotar o tema, faremos um apontamento objetivo de alguns momentos do cenrio histrico, internacional e nacional, no sentido de demonstrar que discriminao contra a mulher fato, no retrica. Em seguida, destacaremos as Conferncias Mundiais sobre a Mulher, que foram a mola propulsora a exigir um tratado sobre a matria, para analisarmos o teor da Conveno, incursionando pelo seu objetivo, seus mecanismos de monitoramento e suas adeses e reservas. Mereceu, tambm, nossa ateno o Protocolo Facultativo Conveno, importante evoluo no acesso das mulheres justia internacional. Por fim, demonstraremos importantes impactos desse tratado no direito brasileiro, considerando, especialmente, o Relatrio Nacional sobre o tema. I. HISTRICO I. 1. INTERNACIONAL O direito pela igualdade das mulheres se insere na problemtica dos direitos humanos.
Promotora de Justia de Vinhedo/SP. Mestranda em Direito Penal na PUC/SP. Instrutora de Ensino em Direito Penal na PUC/SP. 2 Advogada. Especialista em Direito Processual Civil pela PUC/SP. Mestranda em Direito Penal na PUC/SP. Professora de Direito Penal das Faculdades Padre Anchieta Jundia/SP. Professora de Direito Penal do Instituto de Ensino e Pesquisa de Cincias Jurdicas e Sociais So Paulo/SP.
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
Desde a Antiguidade a mulher vem sofrendo discriminaes. Na Grcia, elas e os escravos ocupavam a mesma posio social. Alm disso, o homossexualismo entre os homens era comum, ficando as mulheres reduzidas, exclusivamente, s funes de me, prostituta ou cortes. Em Roma, o paterfamilias legitimava o poder do homem sobre a mulher, a qual jamais chegou a ter poder de deciso no Imprio3. A Idade Mdia, no perodo que vai do fim do sculo XIV at meados do sculo XVIII, foi palco de uma das maiores perseguies contra a mulher: a caa as bruxas, quando a Igreja, atravs do Santo Ofcio (Inquisio), liderou o massacre, qualificado como verdadeiro genocdio contra o sexo feminino. H referncias de que no sculo XIV, em um nico dia, foram executadas trs mil mulheres4. O pretexto maior das perseguies era a cpula, pelas mulheres, com o demnio. A opresso e a discriminao poca eram tamanhas que as estatsticas de morte revelaram que, enquanto um homem era queimado vivo na fogueira da Inquisio, dez mulheres tinham o mesmo destino. A Inquisio perpetrou crimes silenciosos e permitidos, sendo Joana DArc um exemplo dessa poca. Embora tenha optado pela guerra e chefiado exrcitos buscando salvar a Frana contra os ingleses na Guerra dos 100 anos, foi acusada de feiticeira, o que ocultou o carter poltico de seu processo. Em 1789, com a Revoluo Francesa, e apesar dos inmeros movimentos na Europa, a mulher permanecia ainda socialmente em segundo plano, pois o homem continuava em destaque social. Com o fim do feudalismo e incio do capitalismo, a Frana tornou-se o palco de protestos, ocasio em que surgiu o movimento feminista. Em 1791, a francesa Marie Gouze (1748-1793), filha de um aougueiro do sul da Frana, que adotou o nome Olympe de Gouges para assinar panfletos e peties em uma variedade de frentes de luta, props, perante a Assemblia Nacional da Frana, a Declarao dos Direitos da Mulher e da Cidad, para igualar-se do homem, que antes fora aprovada. Por sua coragem e audcia, foi condenada morte, como revolucionria e mulher desnaturada, acabando guilhotinada. Interessante a existncia de documento antigo acerca do tema, especialmente porque, embora com as caractersticas do seu tempo, j utilizava expresses a que hoje damos realce: direitos inalienveis da mulher, expresso da vontade geral e dignidade5.
KRAMER, Heinrich; SPRENGER, James. O martelo das feiticeiras: Malleus Maleficarum. Traduo de Paulo Fres. 7. ed. Rio de Janeiro: Editora Rosa dos Tempos, 1991, p. 13. De acordo com o relato histrico de Rose Marie Muraro, na introduo do livro que traz o documento Malleus Maleficarum que foi o manual oficial da Inquisio para caa s bruxas durante quatro sculos novecentas bruxas foram executadas num nico ano na rea de Wertzberg, e cerca de mil na diocese de Como. Em Toulouse, quatrocentas foram assassinadas num nico dia; no arcebispado de Trier, em 1.585, duas aldeias foram deixadas apenas com duas mulheres moradoras cada uma. Muitos escritores estimaram que o nmero total de mulheres executadas subia casa dos milhes, e as mulheres constituam 85% de todos os bruxos e bruxas que foram executados. (in O martelo das feiticeiras: Malleus Maleficarum. Traduo de Paulo Fres. 7. ed. Rio de Janeiro: Editora Rosa dos Tempos, 1991, p. 13). 5 Prefcio do documento, intitulado Declarao dos Direitos da Mulher e da Cidad. Disponvel em http:// www.direitoshumanos.usp.br biblioteca virtual de Direitos Humanos da Universidade de So Paulo. Acesso em 14.04.03.
4
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
Em 1848 surgiu o Manifesto Feminista, inspirado no Manifesto Comunista de Marx, na Conveno de Seneca Falls, em Nova Iorque. As condies de trabalho eram ruins para os homens e muito piores para as mulheres. Foi nesse contexto que 129 mulheres tecels da Fbrica de Tecido Cotton de Nova Iorque, em 1857, iniciaram um movimento reivindicatrio por aumento salarial e reduo da jornada de trabalho, o que deu origem primeira greve organizada por mulheres. Os donos das fbricas norte-americanas patrocinaram um dos episdios mais absurdos da histria: as fbricas foram incendiadas e as operrias trancadas nas instalaes da tecelagem, morrendo queimadas. Da o Dia Internacional da Mulher 08 de maro6 data em que ocorreu a matana. As duas grandes Guerras Mundiais e o capitalismo garantiram, em parte, mais espao s mulheres no mercado de trabalho, pois foram empurradas para fora do lar, deixando de lado a condio de esposa e me para integrar o mercado de trabalho. A consolidao do capitalismo trouxe tambm o surgimento de lutas e organizaes pelos direitos da mulher, no s na Frana, mas na Amrica, na Inglaterra e na Alemanha. Nos anos seguintes foram consolidadas importantes conquistas femininas. Na Rssia, a Revoluo de 1917 garantiu s mulheres o direito ao voto. Um ano mais tarde as alems galgaram esse direito e, no ano seguinte, as norte-americanas ganharam o direito de ir s urnas. No Brasil, a participao feminina nas eleies foi permitida a partir de 1934, enquanto na Frana, na Itlia e no Japo s em 1.945. Na dcada de 40, Simone de Beauvoir, em seu livro O Segundo Sexo, acendeu o debate sobre o masculino e o feminino. Vinte anos depois o tema ganhou novo impulso, com o lanamento do livro A Mstica Feminina, de Betty Friedan, que fundou em 1966 o NOW, National Organization of Women. A Carta das Naes Unidas, de 1945, estabeleceu, dentre seus propsitos e princpios, conseguir uma cooperao internacional (...) para promover e estimular o respeito aos direitos humanos e s liberdades fundamentais para todos, sem distino de raa, sexo... (artigos 3 e 55, alnea c - grifos nossos). A ateno pela erradicao da discriminao, de qualquer natureza, contra a mulher, teve tambm como germe, no Direito Internacional, a Declarao Universal dos Direitos do Homem, de 1948, seja por todo o seu contedo, seja por nominao especfica: (...) Considerando que os povos das Naes Unidas reafirmaram, na Carta, sua
O Dia Internacional da Mulher foi criado em homenagem a 129 operrias que morreram queimadas em ao da polcia para conter manifestao em uma fbrica de tecidos. Essas mulheres pediam a diminuio da jornada de trabalho de 14 para 10 horas por dia e o direito licena-maternidade. Isso aconteceu no dia 08 de maro de 1857, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Desde ento, essa data tem sido referncia para homenagear as mulheres de todo o mundo em sua luta na busca de direitos e dignidade pessoal, social e profissional. Inmeros desafios j foram superados e certamente muitas conquistas ainda esto por vir, resultantes da fora e da coragem da mulher.
6
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
f nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos do homem e da mulher (...) Artigo II 1. Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta Declarao, sem distino de qualquer espcie, seja raa, cor, sexo, lngua, religio, (...) Artigo XVI 1. Os homens e as mulheres de maior idade, sem qualquer restrio de raa, nacionalidade ou religio, tm o direito de contrair matrimnio e fundar uma famlia. Gozam de iguais direitos em relao ao casamento, sua durao e sua dissoluo. (grifos nossos) Conforme destaque de Norberto Bobbio, a Declarao no vai e no pode ir alm da enunciao genrica, j que deve entender que, quando o texto fala em indivduos, refere-se indiferentemente a homens e mulheres7. Contudo, malgrado o extenso contedo genrico, permitimo-nos observar que o artigo referente ao casamento j se apresenta como enunciado em tema especfico. Flvia Piovesan tambm anota que a Declarao , em sua maioria, genrica. Anota, ainda, que existem posies no sentido de que o texto no apresentaria fora jurdica obrigatria e vinculante8, embora no compactue com tal viso. Mesmo com essa generalizao e com a problemtica positivista, inegvel que a Declarao Universal de 1948 deu expresso aos direitos humanos, projetando-se a numerosos e sucessivos tratados e instrumentos de proteo, nos planos global e regional9, o que no foi diferente com relao ao tema mulher, ou melhor, vem construindo o direito internacional da mulher. A Declarao Universal, contudo, foi juridicizada atravs do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Polticos e do Pacto Internacional dos Direitos Econmicos, Sociais e Culturais, aprovados em 1.966 (em vigor em 1976). Mais tarde, a Declarao Universal e os Pactos formariam a Carta Internacional de Direitos Humanos International Bill of Rights. Ambos os Pactos, em seus artigos 2, 1, reiteraram os termos do artigo II, 1, da Declarao Universal, acima transcrito. Seus artigos 3 dispem expressamente: Os Estados-partes no presente Pacto comprometem-se a assegurar a homens e mulheres igualdade no gozo de todos os direitos civis e polticos (sociais, econmicos e culturais) enunciados no presente Pacto. (grifos nossos) O artigo 23 do Pacto de Direitos Civis e Polticos reiterou os termos do artigo XVI da Declarao Universal, acima transcrito. O artigo 7, a, i, do Pacto de Direitos Econmicos, Sociais e Culturais determina que: Artigo 7 - Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de
7 8
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Traduo Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1.992, p. 35. PIOVESAN, Flvia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 4. ed. So Paulo: Max Limonad, 2000, p. 159. 9 CANADO TRINDADE, Antnio Augusto. Tratado de direito internacional dos direitos humanos. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1997, p. 58.
10
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
toda pessoa de gozar de condies de trabalho justas e favorveis, que assegurem especialmente: a) uma remunerao que proporcione, no mnimo, a todos os trabalhadores: (...) i) um salrio eqitativo e uma remunerao igual por um trabalho de igual valor, sem qualquer distino; em particular, as mulheres devero ter a garantia de condies de trabalho no inferiores s dos homens e receber a mesma remunerao por ele, por trabalho igual. (grifos nossos) Na cadeia histrica de pactos sobre os direitos da mulher, em 20 de dezembro de 1952, a Assemblia Geral da ONU aprovou a Conveno sobre os Direitos Polticos da Mulher, onde se iniciou uma especificao dos direitos, em campos claros, como o poltico. Nessa Conveno, cuidou-se, por exemplo, do mais basilar direito poltico, como o de votar e o da acessibilidade igualitria aos cargos pblicos. de se notar que, em relao ao restante da histria dos direitos em estudo, essa primeira Conveno relativamente antiga e demonstra esprito vanguardista. Os anos 60 e 70 foram marcados por vrios movimentos feministas, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Em 1975, as mulheres deram um grande passo e conseguiram que a ONU decretasse este como Ano Internacional da Mulher, o que revigorou o movimento feminista. Aps esses esforos, impulsionada pela proclamao de 1975 como o Ano Internacional da Mulher e pela realizao da Conferncia Mundial sobre a Mulher, a ONU, em 1979, aprovou a Conveno sobre a Eliminao de Todas as Formas de Discriminao contra a Mulher. Esta Conveno, no entanto, no tratou do tema violncia contra a mulher. Os anos 80 serviram para que os estudos sobre a condio da mulher fossem aprofundados, ocasio em que comearam a surgir os conceitos e a teoria de gnero. Em 1993, face sentida ausncia do tema violncia na Conveno acima mencionada, foi aprovada a Declarao sobre a Eliminao da Violncia contra a Mulher e, em 1994, a Conveno Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violncia contra a Mulher Conveno de Belm do Par. Finalmente, reforaram os direitos da mulher como partes inalienveis, integrais e indivisveis dos direitos humanos universais a Declarao e Programa de Ao de Viena, de 1993, e a Declarao e Plataforma de Ao de Pequim, de 1995. I. 2. NACIONAL O Brasil, paulatinamente, foi recepcionando o direito internacional (embora devendo ser observadas as diferentes datas), formatando parte do direito interno tambm baseado nas Convenes e Pactos. Em 13/08/1963, o Brasil ratificou a Conveno sobre os Direitos Polticos da Mulher (1952). Somente em 01/02/1984, ratificou a Conveno sobre a Eliminao
11
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
de Todas as Formas de Discriminao contra a Mulher (1979) e, em 24/01/1992, os Pactos Internacionais dos Direitos Civis e Polticos e o dos Direitos Econmicos, Sociais e Culturais. Finalmente, em 27/11/1995, ratificou a Conveno Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violncia contra a Mulher Conveno de Belm do Par. Observa-se que a Conveno sobre a Eliminao de Todas as Formas de Discriminao contra a Mulher foi ratificada antes mesmo dos Pactos Internacionais de Direitos, o que no se revela como malfico, pois, como visto anteriormente, so mais genricos quanto ao tema mulher. Como exigncia das Convenes ratificadas, coube ao Brasil viabilizar/tornar realizvel os direitos reconhecidos. Nesse diapaso, seguiram-se as leis e programas de ao internos, a serem analisados posteriormente, nos impactos no direito brasileiro. II. PRECEDENTES - AS CONFERNCIAS MUNDIAIS SOBRE A MULHER A Organizao das Naes Unidas - ONU - designou 1975 como o Ano Internacional da Mulher e estabeleceu os anos de 1976 a 1985 como a Dcada da Mulher10. Desde ento, realizaram-se as seguintes Conferncias Mundiais sobre a Mulher: Conferncia Mundial sobre a Mulher, na cidade do Mxico, Mxico, de 16 de junho a 02 de julho de 1975, que foi a mola propulsora a exigir um tratado sobre o tema; II Conferncia Mundial sobre a Mulher: Igualdade, Desenvolvimento e Paz, em Copenhague, Dinamarca, 1980; III Conferncia Mundial sobre a Dcada da Mulher, em Nairobi, Qunia, de 15 a 26 de julho de 1985. Durante essa Conferncia adotou-se, com unanimidade, o documento Estratgias Encaminhadas para o Futuro do Avano da Mulher; IV Conferncia Mundial sobre a Mulher: Ao para a Igualdade, o Desenvolvimento e a Paz, em Pequim, China, de 04 a 15 de setembro de 1995, qual compareceram mais de 180 pases e cerca de 35.000 pessoas. Foi o maior evento da ONU. A Plataforma de Ao aprovada reafirmou os avanos conseguidos pelas mulheres nas ltimas Conferncias, com destaque para os direitos sexuais e reprodutivos, bem como a incluso da discriminao racial/tnica como um obstculo igualdade e eqidade entre as mulheres. III. A CONVENO SOBRE A ELIMINAO DE TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAO CONTRA A MULHER - CEDAW11
O objetivo traado para a Dcada da Mulher foi o de obter plena participao da mulher na vida social, econmica e poltica. 11 Esta a sigla de Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.
10
12
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
Cabe lembrar que conveno sinnimo de tratado, pacto, protocolo, carta, convnio ou acordo internacional e, portanto, submete-se teoria geral dos tratados. So acordos de vontades, escritos, entre sujeitos de Direito Internacional, vinculando-os sob o primado da boa-f e da prevalncia da dignidade da pessoa humana. III.1. CONTEDO E OBJETIVO A Conveno um tratado internacional de direitos humanos que busca assegurar a igualdade entre homens e mulheres e eliminar a discriminao contra a mulher no exerccio de seus direitos civis e polticos, econmicos, sociais e culturais, tanto na esfera pblica como na privada. A Assemblia Geral das Naes Unidas, por meio dessa Conveno, reconheceu que a discriminao contra a mulher viola os princpios de igualdade de direitos e do respeito dignidade humana, constituindo-se em obstculo ao aumento do bem-estar da sociedade e da famlia, alm de dificultar o desenvolvimento das potencialidades da mulher. A presente Conveno veio a definir a discriminao contra a mulher, em seu artigo 1, como: Toda distino, excluso ou restrio baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exerccio da mulher, independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos poltico, econmico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo. Tem ela duplo objetivo: eliminar a discriminao e assegurar a igualdade entre homens e mulheres. Para tanto, trouxe pioneiros instrumentos, como a ao afirmativa, prevista em seu artigo 4, que autoriza a chamada discriminao positiva, mecanismo temporrio para acelerar o processo de igualao. Ressaltou o Relatrio Nacional sobre a Conveno, realizado em 2002, que, no Brasil, a discusso a respeito das aes afirmativas bastante recente, embora, a prpria Constituio - que contempla mais dispositivos que vedam a discriminao do que permitam a ao afirmativa - preveja duas delas, sendo a do artigo 7, inciso XX, relativa mulher12. As aes afirmativas, no entanto, foram adotadas no Brasil, primeiramente, na poltica. Por meio da Lei n 9.100/95, prescreveu-se a observncia da cota mnima de 20% para que mulheres integrassem as vagas de cada partido com
12
Como exemplos de aes afirmativas implementadas em relao proteo do mercado de trabalho da mulher, citamos: a) Lei n 9.799, de 26/05/1.999, que inseriu na Consolidao das Leis do Trabalho CLT dispositivos, proibindo, dentre outras, a publicao de anncio de emprego que faa referncia ao sexo, salvo quando a natureza da atividade exigir; a considerao do sexo como varivel determinante para fins de remunerao; a exigncia de atestado ou exame para comprovao de esterilidade ou gravidez, para admisso ou permanncia no emprego; b) Lei n 10.421, de 15/05/2.002, que alterou a CLT ao estender s mes adotivas o direito licenamaternidade e ao salrio-maternidade.
13
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
representatividade no Legislativo13. Mais tarde, a Lei n 9.504/97 determinou o mnimo de 30% e o mximo de 70% para candidaturas de cada sexo, em cada partido ou coligao. Os Estados-partes da Conveno assumem o compromisso de eliminao progressiva das formas de discriminao, assegurando, sempre, a igualdade de gnero. Vrios aspectos relativos discriminao so enfrentados pela Conveno: os artigos 7 e 8 referem-se aos direitos polticos; o artigo 9 ao direito nacionalidade; o artigo 10 ao direito educao; o artigo 11 aos direitos trabalhistas; o artigo 12 ao direito sade; o artigo 13 aos direitos econmicos; o artigo 14 ao direito da mulher em zonas rurais; o artigo 15 igualdade perante a lei; e, o artigo 16 igualdade no casamento. Como ensina Andrew Byrnes a Conveno em si mesma contm diferentes perspectivas sobre as causas de opresso contra as mulheres e as medidas necessrias para enfrent-las. Ela impe a obrigao de assegurar que as mulheres tenham uma igualdade formal perante a lei e reconhece que as medidas temporrias de ao afirmativa so necessrias em muitos casos, para que as garantias de igualdade formal transformem-se em realidade. Inmeras previses da Conveno tambm incorporam uma preocupao de que os direitos reprodutivos das mulheres devem estar sob o controle delas prprias, e que o Estado deve assegurar que as escolhas das mulheres no sejam feitas sob coero e no sejam elas prejudiciais, no que se refere ao acesso s oportunidades sociais e econmicas14. (grifos nossos) importante frisar que a CEDAW constitui o piso protetivo mnimo dos direitos das mulheres, no prejudicando quaisquer disposies das legislaes internas ou de outros tratados vigentes em cada Estado-parte, que sejam mais propcios obteno da igualdade entre homens e mulheres (artigo 23). A Conveno, entretanto, como ressalta Flvia Piovesan, no enfrentou a temtica da violncia contra a mulher de forma explcita15, causadora de grandes males sociais. Em 1993, sentida a falta, foi aprovada a Declarao sobre a Eliminao da Violncia contra a Mulher e, em 1994, a Conveno Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violncia contra a Mulher Conveno de Belm do Par, que inovou ao prescrever em seu artigo 12 o direito de petio como mecanismo de monitoramento, embora com regras formais. A Conveno Interamericana foi editada, no mbito da Organizao dos EsSegundo Maria Lcia de Santana Braga, na ltima dcada, a organizao da bancada feminina no Congresso Nacional contribuiu para tornar mais visvel a agenda das mulheres no Parlamento e na sociedade. (...) Entretanto, o resultado nas ltimas trs eleies (1996, 1998 e 2000) foi muito aqum e mostrou mais uma vez que sem o apoio institucional e financeiro dos partidos polticos a Lei de Cotas no sai do papel. (in A participao feminina nas instncias decisrias: limites e possibilidades. Disponvel em http://www.oab.org.br/comissoes/cnma/noticia/ noticia.asp?id=577. Acesso em 28.05.03). 14 BYRNES, Andrew apud PIOVESAN, Flvia. Temas de direitos humanos. 2. ed. So Paulo: Max Limonad, 2003, p. 208. 15 PIOVESAN, Flvia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 4. ed. So Paulo: Max Limonad, 2000, p. 189.
13
14
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
tados Americanos - OEA, em 09 de junho de 1994, assinada pelo Brasil nesta mesma data, porm ratificada somente em 27 de novembro de 1995, como primeiro tratado internacional de proteo aos direitos humanos, reconhecendo, de forma generalizada, a violncia contra a mulher. Violncia esta concebida como padro especfico, baseado no gnero que cause morte, dano ou sofrimento fsico, sexual ou psicolgico16 mulher, tanto na esfera pblica como privada. Nota-se o direito internacional adentrando nas casas das vtimas, o direito pblico no mais privado dos direitos, tamanha a importncia da tutela. III.2. MECANISMOS DE MONITORAMENTO Na esteira de seu duplo objetivo e fomentando o progresso interno dos Estados na aplicao da Conveno, ficou determinada a criao do Comit sobre a Eliminao da Discriminao contra a Mulher Comit da CEDAW composto por peritos eleitos por indicao dos Estados-partes, com exerccio a ttulo pessoal, para um mandato de 4 anos (artigo 17), tendo atribuio de examinar relatrios enviados pelos Estados, emitir opinies e recomendaes de carter geral, orientando os Estados na aplicao da Conveno. Conforme dispe o artigo 18 da Conveno, os Estados, no prazo de um ano da entrada em vigor do tratado em seu territrio e, posteriormente, pelo menos a cada quatro anos e toda vez que o Comit solicitar, devero encaminhar relatrios sobre as dificuldades encontradas e as medidas legislativas, judicirias, administrativas e outras adotadas na implementao da Conveno. Os relatrios so mecanismo de monitoramento limitado, na medida em que se resumem s exposies dos Estados-membros, ao contrrio de outros modelos previstos em Convenes. No tm poder judicial para sancionar o Estado descumpridor, nem para prever remdios apropriados. Contudo, a reviso pblica de relatrio, com parecer favorvel ou no, forma de pressionar o respectivo governo, com o chamado power of shame. Como analisa Andrew Byrnes, uma avaliao positiva em um frum internacional a respeito do desempenho e dos esforos de um Estado pode dar ensejo a progressos futuros. Uma avaliao crtica pode causar embaraos ao governo, no plano domstico e internacional, idealmente significando um incentivo para que se empenhe mais no futuro17. Assim, a Declarao de Viena, de 1993, determinou que os Comits disseminassem informaes necessrias que permitissem s mulheres fazerem uso mais efetivo dos procedimentos de implementao existentes, inclusive elaborando um protocolo optativo Conveno no sentido de introduzir o direito de petio e a comunicao interestatal.
16
O Brasil ainda no tem legislao que aborde a violncia psicolgica contra a mulher, o que causa freqentes mazelas femininas. Note-se que esta ausncia foi reconhecida pelo Relatrio Nacional sobre a Conveno, realizado em 2002. 17 BYRNES, Andrew apud PIOVESAN, Flvia. Temas de direitos humanos. 2. ed. So Paulo: Max Limonad, 2003, p. 210.
15
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
No demais lembrar que a CEDAW s previu os relatrios como mecanismo de monitoramento para viabilizar a ratificao pelos Estados de Conveno de tamanha importncia, ou seja, foi uma forma poltica para facilitar a sua vigncia. Aps maior conscientizao dessa importncia, j se demonstram necessrios outros mecanismos. III.3. O PROTOCOLO FACULTATIVO Diante da determinao da Declarao de Viena, foi elaborado e adotado pela Organizao das Naes Unidas ONU, em 06/10/1999, o Protocolo Facultativo Conveno sobre a Eliminao de Todas as Formas de Discriminao contra a Mulher - CEDAW, que s entrou em vigor no mbito internacional em 22 de dezembro de 200018. O Protocolo Facultativo um instrumento jurdico-procedimental, que no cria direito substantivo novo s mulheres, mas fortalece os j previstos na Conveno, uma vez que garante a elas o acesso justia internacional, recorrendo ao Comit da CEDAW, quando o Estado mostrar-se falho ou omisso na proteo dos direitos humanos consagrados na Conveno. Amplia-se, por meio do Protocolo Facultativo, o exerccio de cidadania das mulheres, uma vez que institui como mecanismos de monitoramento, alm dos relatrios, a petio e o procedimento investigativo. Tais mecanismos permitem o encaminhamento de denncias de violaes aos direitos previstos na Conveno e a instaurao de investigao em caso de graves ou sistemticas violaes Conveno. Ressalta-se que no so permitidas quaisquer reservas ao Protocolo (artigo 17). O Brasil assinou o Protocolo Facultativo em 13 de maro de 2001, data em que deu incio oficial ao processo de sua ratificao, cumprindo, com isso, os compromissos que assumira na Conferncia Mundial de Direitos Humanos (Viena, 1993) e na IV Conferncia Mundial sobre a Mulher (Pequim, 1995). Em 26 de abril de 2.001, o Executivo brasileiro enviou ao Congresso Nacional Mensagem Presidencial (MSC 0374/01) para aprovao do Protocolo Facultativo CEDAW. Entretanto, somente, em 12 de dezembro de 2001, o Projeto de Decreto Legislativo referente ao Protocolo Facultativo (PDC 1357/01) foi aprovado, por unanimidade, pelo Plenrio da Cmara dos Deputados Federais e encaminhado ao Senado Federal. No Senado Federal, o Projeto do Protocolo, agora sob o nmero PDS 1/02, foi aprovado, tambm, por unanimidade, na Comisso de Relaes Exteriores e Defesa Nacional, em 16 de abril de 2002, com base no parecer favorvel da relatora Senadora Emlia Fernandes (PT/RS) e, em seguida, encaminhado para votao
18
O Protocolo Facultativo s entrou em vigor em 2.000, porque, de acordo com o seu artigo 16, exigia-se o depsito de dez instrumentos de ratificao ou adeso junto ao Secretrio Geral das Naes Unidas.
16
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
em Plenrio. Em 25 de abril de 2002, entretanto, a votao em Plenrio no Senado Federal do Projeto do Protocolo Facultativo CEDAW foi adiada para o dia 05 de junho de 2002, em razo do documento Rejeio do Protocolo Facultativo CEDAW apresentado pela Conferncia Nacional dos Bispos do Brasil CNBB, nesse ato representada por seu secretrio-executivo, D. Raymundo Damasceno, ao Presidente da Casa na poca, Senador Ramez Tebet, e s senadoras e aos senadores na manh desse dia, antes da sesso do Plenrio. O documento apresentado pela CNBB declarava que se o Protocolo Facultativo fosse aprovado pelo Congresso Nacional colocaria em risco a soberania nacional, pois ao ser ratificado permitiria uma enorme ingerncia externa sobre assuntos internos. Alm disso, a Carta da CNBB afirmava que o Protocolo estimularia o lesbianismo, recomendaria a descriminalizao do aborto, defenderia a prostituio, dentre outros absurdos. Em 17 de maio de 2002, foi aprovada Moo de Apoio Aprovao do Protocolo Facultativo CEDAW em Plenria da VII Conferncia Nacional de Direitos Humanos, fornecendo subsdios para esclarecer e contestar alguns pontos da Carta da CNBB em relao aprovao do Protocolo Facultativo. A Moo rebateu as crticas formuladas pela CNBB, lamentando que os Bispos no tivessem condies de superar esteretipos e preconceitos arraigados na sociedade brasileira e, em especial, na ortodoxia catlica. As recomendaes do Comit abominadas pela CNBB, segundo a mesma Moo, buscavam eliminar os esteretipos na rea da sexualidade e da reproduo, fortemente desrespeitadores da autonomia e da liberdade de escolhas existenciais por parte das mulheres. De acordo com o texto Debate Protocolo Facultativo CEDAW: um compromisso internacional com os direitos humanos das mulheres, realizado em 21/ 05/2002, no Senado Federal, o Protocolo Facultativo no fere a soberania nacional, porque o sistema internacional de proteo aos direitos humanos dentro do qual o Protocolo Facultativo se insere parte do princpio de que a forma como um Estado trata os seus cidados e cidads no tema de exclusiva competncia nacional, mas de legtimo interesse internacional e, portanto, de que toda pessoa titular de direitos humanos protegidos na esfera internacional e deve poder a ela recorrer na medida em que o sistema nacional se mostrar falho ou omisso na proteo de seus direitos (Flvia Piovesan). E ainda, no domnio da proteo internacional dos direitos humanos, os Estados aderem aos tratados, contraindo obrigaes internacionais, no livre e pleno exerccio de soberania (Antnio Augusto Canado Trindade). Assim, a assertiva da CNBB de que o Protocolo ameaaria a soberania nacional no passava de mito e lobby criados pela Igreja Catlica para frear processos de avanos contra os estigmas que, infelizmente, ainda existem em relao s mulheres. Alm disso, as afirmaes feitas pela CNBB de supostos abusos nas reco-
17
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
mendaes do Comit da CEDAW em relao ao aborto, ao lesbianismo e prostituio so, segundo a Moo, equivocadas, pois no reproduzem o fiel intuito em que foram feitas, dando margem a interpretaes errneas sobre o papel da Conveno, do Comit e do Protocolo. Segundo Carole Paterman19, A Conveno no se refere expressamente ao aborto, mas estabelece a obrigao por parte dos Estados de oferecer informaes e todas as condies para um planejamento responsvel..., bem como, para que as mulheres tenham acesso aos servios de sade, pois ... o aborto clandestino o responsvel pelo maior ndice de mortalidade materna no Brasil e no mundo. Logo, o Comit recomendara a certos pases que diminussem as restries ao aborto, visando a defender o direito vida das mulheres. Quanto ao lesbianismo, continua Carole Paterman, a proibio por parte de alguns Estados s relaes homossexuais, ou at a no proteo jurdica destas relaes representa uma afronta condio de humanidade que (...) tem como pressuposto a diversidade, pois a heterossexualidade no e nunca foi a nica das opes humanas. O fato de ser a majoritria no pode justificar desrespeito a outras formas de vivncia sexual. De mais a mais no h que considerar patolgico o comportamento homossexual pois, inclusive h mais de uma dcada a OMS retirou a homossexualidade do elenco das patologias. Verifica-se, dessa forma, que o Comit no propunha a legalizao do lesbianismo, mas sim que tal prtica deixasse de ser considerada crime em alguns pases, como, por exemplo, no Quirquisto, j que a criminalizao do lesbianismo implica em discriminao. Vale lembrar que no Brasil o lesbianismo no considerado conduta criminosa. Em relao prostituio, ao contrrio do que a Carta da CNBB afirmara, a CEDAW no expressamente contrria a essa conduta, porm, insurge-se contra todas as formas de trfico de mulheres e explorao da prostituio feminina. O Protocolo Facultativo no propunha a legalizao da prostituio, mas sim que tal prtica deixasse de ser considerada crime em alguns pases, assim como no considerada crime no Brasil20. Superados todos os impasses e absurdos levantados pela CNBB em relao ao Projeto de Protocolo Facultativo CEDAW e constatado que o Protocolo constitua-se em importante instrumento de fortalecimento CEDAW, em 06 de junho de 2002, o Presidente do Senado Federal na poca, Senador Ramez Tebet, por meio do Decreto Legislativo n 107, aprovou o texto do referido Protocolo.
In Protocolo Facultativo: mais um passo rumo igualdade de direitos. O Cdigo Penal Brasileiro considera criminosas todas as condutas relacionadas com o favorecimento, a explorao e o trfico da prostituio, previstas no Captulo V, Ttulo VI, deste Estatuto. A conduta de se prostituir, em si, no considerada crime no Direito Penal Brasileiro.
20
19
18
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
Em 28 de junho de 2002, o Protocolo Facultativo foi ratificado21 pelo Brasil, constituindo-se em importante instrumento de renovao da vontade do Governo brasileiro em promover e proteger os direitos das mulheres. Por fim, importante ressaltar que, de acordo com a ltima atualizao da Division for the Advancement of Women das Organizaes das Naes Unidas ONU22, datada de 18/06/2004, 75 (setenta e cinco) pases j assinaram o Protocolo Facultativo CEDAW e 62 (sessenta e dois) j o ratificaram. III.4. ADESES E RESERVAS A Conveno teve ampla adeso, contando, neste ano, com 177 (cento e setenta e sete) Estados-partes, j havendo outras 98 (noventa e oito) assinaturas23. Essa caracterstica j despontava em 1996, quando havia 154 (cento e cinqenta e quatro) Estados-partes, s perdendo para a Conveno sobre os Direitos da Criana, com 195 (cento e noventa e cinco) Estados-partes no mesmo ano. Ostenta a Conveno outro recorde, embora desabonador: tem o maior nmero de reservas formuladas. Como conclui Rebecca Cook24, a Conveno pode ter maximizado sua aplicao universal ao custo de ter comprometido sua integridade. A questo legal acerca das reservas feitas conveno atinge a essncia dos valores da universalidade e integridade. O artigo com maior reserva o de nmero 29, que determina que as controvrsias entre os Estados-partes, com relao interpretao ou aplicao da Conveno, que no puderem ser dirimidas por meio de negociao, sero, a pedido de um deles, submetidas arbitragem. O segundo em reservas o artigo 16, que determina a adoo de medidas internas para eliminar a discriminao contra a mulher no casamento. Outras tantas reservas vm acerca de temas centrais como a ao afirmativa do artigo 4; a eliminao de preconceito e esteretipos do artigo 5; a eliminao de discriminao na vida poltica e pblica do pas do artigo 7; a igualdade nos direitos cidadania do artigo 9 e a discriminao na educao (artigo 10), no emprego (artigo 11), no crdito financeiro (artigo 13) e na plena capacidade legal (artigo 15). Chegou-se ao absurdo da reserva prpria definio de discriminao do
Nota-se que, em funo da divergncia quanto incorporao automtica do tratado ratificado no direito interno, o Presidente da Repblica ainda fez promulgar o Decreto n 4.316, de 30/07/2.002, com entrada em vigor em 28/09/2002, para as disposies do Protocolo no ordenamento interno. Mesmo diante da tese da incorporao no-automtica, louvvel a rapidez com que o Executivo tratou de elaborar o Decreto. 22 Disponvel em www.um.org/womenwatch/daw/cedaw/sigop.htm. Acesso em 23.08.04. 23 Segundo a Division for the Advancement of Women da ONU, 177 (cento e setenta e sete) pases j ratificaram a Conveno e 98 (noventa e oito) a assinaram. Disponvel em www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/states.htm. Acesso em 23.08.04. 24 COOK, Rebecca apud PIOVESAN, Flvia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 4 ed. So Paulo: Max Limonad, 2.000, p. 187.
21
19
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
artigo 1 e ao compromisso de erradic-la, do artigo 2. Por bvio, tais reservas contrariam o artigo 28, 2, da Conveno, que probe reserva incompatvel com o seu objeto e o seu propsito e a Conveno de Viena sobre o Direito dos Tratados. Como analisa Jos Augusto Lindgren Alves25, No se esmaece a importncia do documento para a comunidade internacional, mas adeso ao instrumento por parte de alguns pases so um ato despiciendo, seno um embuste. Parecenos, mesmo, um embuste, ratificao para ingls ver, e no um ato meramente a ser desprezado. Pelo contrrio, deve ser observado com grande ateno, uma vez que tal Estado faz crer o respeito aos direitos, sob o manto da legalidade internacional, mas comete discriminaes inaceitveis. O Brasil assinou a referida Conveno em 31/03/1981 e a ratificou em 01/02/ 1984, com reservas. O Brasil fez reserva ao artigo 15, 4, e ao artigo 16, 1, alneas a, c, g e h, segundo o ento Ministro Celso Lafer26, diante da dificuldade para implementao no pas, uma vez assimtrica a legislao interna referente aos direitos do homem e da mulher. Contudo, com o advento da Constituio Federal de 1.988, sanado o problema da legislao interna, o Decreto Legislativo n 26, de 22 de junho de 1994, retirou tais reservas. Por meio do Decreto n 4.377, de 13 de setembro de 2002, o Presidente da Repblica revogou o Decreto n 89.460, de 02 de maro de 1984, que promulgara da Conveno no Estado Brasileiro com reservas, fazendo-a valer na sua integralidade. III.5. IMPACTO NO DIREITO BRASILEIRO A populao brasileira majoritariamente formada por mulheres, especialmente nas regies urbanas. Uma vez ratificada a Conveno, rdua a tarefa de fazer valer a igualdade, reconhecida no prprio Relatrio Brasileiro como ainda distanciada da declarao formal. Mais rdua, ainda, se considerados outros fatores, como raa27 e classe social. A Conveno demonstrou ser uma verdadeira Carta Magna dos Direitos da Mulher, como analisou Fernando Henrique Cardoso28, coroando todo um caminho
ALVES, Jos Augusto Lindgren apud PIOVESAN, Flvia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 4. ed. So Paulo: Max Limonad, 2000, p. 188. 26 CEDAW: Relatrio Nacional Brasileiro: Conveno sobre a Eliminao de todas as Formas de Discriminao contra a Mulher, Protocolo Facultativo. Coordenao Flvia Piovesan e Silvia Pimentel. Braslia: Ministrio das Relaes Exteriores, Ministrio da Justia, Secretaria de Estado dos Direitos da Mulher, 2002, p. 11. 27 Em artigo publicado no IBCCRIM, em abril de 2003, Renato Srgio de Lima, Alessandra Teixeira e Jacqueline Sinhoretto reiteram: com as mulheres negras que a dupla via discriminatria se torna alarmante (...) mais um mecanismo de excluso em nossa sociedade. Estes dados ainda so consoantes com a renda mensal (...) as mulheres negras recebem o pior rendimento mdio, depois dos homens brancos, mulheres brancas e homens negros, nesta ordem. 28 CEDAW: Relatrio Nacional Brasileiro: Conveno sobre a Eliminao de todas as Formas de Discriminao contra a Mulher, Protocolo Facultativo. Coordenao Flvia Piovesan e Silvia Pimentel. Braslia: Ministrio das Relaes Exteriores, Ministrio da Justia, Secretaria de Estado dos Direitos da Mulher, 2002. p. 9.
25
20
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
de lutas anuais, perante a ONU e outros organismos internacionais, embora no possamos deixar de pontuar seu Protocolo Facultativo e a Conveno Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violncia contra a Mulher Conveno de Belm do Par como complementos necessrios. Para o Brasil no foi menor a importncia, especialmente tendo que apresentar seus Relatrios29 e arrumar a casa, com propostas de prticas efetivas. No se trata, como tambm ressaltou Fernando Henrique30, de uma nova preocupao de cunho assistencialista, mas de uma conscincia viva de cidadania, que se prope a romper, mediante prticas do Estado e da sociedade, com as estruturas arcaicas e com a injustia social. O tema mulher tem tamanha importncia, que se alastra pelas discusses de outras tantas Convenes, como aquelas contra a discriminao racial e os pactos internacionais. Prova disso que o Relatrio Paralelo ao Pacto Internacional de Direitos Econmicos, Sociais e Culturais - PIDESC - elaborado pelo CLADEM, abordou a discriminao contra a mulher e suas perspectivas nos mais diferentes aspectos, como: trabalho, salrio, sindicalizao, seguridade social, proteo da famlia, nvel de vida adequado, alimentao, moradia, sade fsica e mental, educao e cultura. Nesse processo, em nosso pas, no pode ser esquecida a Constituio Federal de 1988, e todos os debates que a precederam, certamente j contaminados pelo esprito, na matria ora analisada, da Conveno ratificada. Alm de seus termos universalistas ( comum a utilizao do termo todos), clebre a disposio entre os direitos e garantias fundamentais: todos so iguais perante a lei, sem distino de qualquer natureza (...) homens e mulheres so iguais em direitos e obrigaes (artigo 5, caput e inciso I). E, mais, a insero desses direitos dentre as clusulas ptreas (artigo 60, 4, inciso IV) e do reconhecimento dos direitos consagrados pelos tratados ratificados pelo Brasil como tambm direitos fundamentais (artigo 5, 2) e de aplicabilidade imediata (artigo 5, 1). Vrias Constituies Estaduais vieram a reforar o texto federal (p. ex. Par, Cear, So Paulo, Minas Gerais, Paraba, Gois, etc.), nos mais diferentes aspectos. Tambm merece destaque a Consolidao das Leis do Trabalho, que passou a garantir importantes direitos s mulheres, como remunerao durante licena-maternidade31 e proibio de demisso por gravidez32. Trouxe, tambm, alento o novo Cdigo Civil, em vigor desde 11 de janeiro
O primeiro Relatrio do Brasil, alm de contemplar os anos de 1984 a 2002, assumiu especial singularidade, pois envolveu a participao, no s do Governo, mas de entidades referenciais e pessoas militantes experts em direitos humanos no pas. 30 CEDAW: Relatrio Nacional Brasileiro: Conveno sobre a Eliminao de todas as Formas de Discriminao contra a Mulher, Protocolo Facultativo. Coordenao Flvia Piovesan e Silvia Pimentel. Braslia: Ministrio das Relaes Exteriores, Ministrio da Justia, Secretaria de Estado dos Direitos da Mulher, 2002. p. 9. 31 Verificar Lei n 8.861, de 25/03/1994. 32 Verificar Lei n 9.029, de 13/04/1995.
29
21
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
de 2003, que fez do antigo diploma nota do passado e extirpou graves vcios como, por exemplo, at porque semanticamente ilustrativo, o ptrio poder, que hoje poder familiar. A legislao federal vasta, especialmente a partir de 1989, sempre no esprito da Conveno. Mesmo assim, a legislao interna ainda contm dispositivos, especialmente do Cdigo Penal, refletindo uma tica discriminatria com relao mulher. Para que faamos justia, contudo, no podemos esquecer que est tramitando o Anteprojeto da Parte Especial do Cdigo Penal, que no se esqueceu de abolir algumas graves distores, como, por exemplo, o elemento mulher honesta do tipo penal de rapto33. Nem se diga de alguns resqucios na jurisprudncia que ainda sustentam a legtima defesa da honra34, garantindo a impunidade de assassinos de mulheres. Prova de que a mudana no e no deve ser s do legislador, nem deve partir s do Governo, questo de postura e conscincia social. H o entrave que o Relatrio Nacional chama de banalizao do problema na cultura da subalternidade feminina35. Na prtica, foram criados o Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres de So Paulo (1980), o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (1985) e as Delegacias Especializadas (a primeira em 1985). Hoje, so 97 Conselhos que, junto com o Conselho Nacional, participam dos eventos internacionais, fazem seminrios, campanhas na mdia, materiais de consulta, etc. Tambm cada Ministrio passou a contar com comisses voltadas para a mulher (p. ex. no Ministrio da Agricultura, a Comisso de Apoio Mulher Trabalhadora Rural). Sem prejuzo destas medidas, como orientao da prpria Conveno, tambm foram adotadas algumas aes afirmativas, como anteriormente citado. Vemos tais medidas como uma das formas de se atingir a igualdade, sempre dentro de sua caracterstica essencial de temporariedade, e com a cautela de cuidadosa anlise de sua melhor forma e abordagem.
O Relatrio Brasileiro aborda tal dispositivo, reconhecendo a existncia do vcio: no cabe subjugar o discernimento da mulher em relao a condutas sexuais, considerando-a passvel de ser ludibriada ou induzida a pratic-las. (...) Vale dizer ainda que tal conceito no aplicvel pela lei aos casos em que homens e meninos figuram como vtimas (CEDAW: Relatrio Nacional Brasileiro: Conveno sobre a Eliminao de todas as Formas de Discriminao contra a Mulher, Protocolo Facultativo. Coordenao Flvia Piovesan e Silvia Pimentel. Braslia: Ministrio das Relaes Exteriores, Ministrio da Justia, Secretaria de Estado dos Direitos da Mulher, 2002. p. 49). 34 O mesmo Relatrio Nacional, contudo, informa que, em 1999, apenas 15 acrdos foram proferidos analisando o tema legtima defesa da honra e, mesmo assim, 11 deles no acolheram a tese (p. 61-66). 35 CEDAW: Relatrio Nacional Brasileiro: Conveno sobre a Eliminao de todas as Formas de Discriminao contra a Mulher, Protocolo Facultativo. Coordenao Flvia Piovesan e Silvia Pimentel. Braslia: Ministrio das Relaes Exteriores, Ministrio da Justia, Secretaria de Estado dos Direitos da Mulher, 2002. p. 69.
33
22
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
CONCLUSO A disparidade de direitos no pas, no s quanto questo feminina, embora evidente, fora-nos reconhecer que passos esto sendo dados, especialmente com a mobilizao do Governo em comunho com as entidades no-governamentais. essencial ouvir a voz do povo, na medida em que dele so os direitos, para ele serviro e com ele todos cresceremos. A modificao no apenas legislativa; exige-se, sobretudo, uma mudana de pensamento, trajeto que ser longo, mas que j se iniciou. De qualquer forma, a Lei Mxima do pas j ditou os direitos humanos como regentes de suas relaes internacionais, trazendo para seu interior a nova postura de globalizao dos direitos, onde se insere o respeito s cidads mulheres. BIBLIOGRAFIA BANCALEIRO, Cludia. O feminismo no fim de sculo. Disponvel em http:// ultimahora.publico.pt/documentos/textos/mulher/histdois.html. Acesso em 14.04.03. BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Traduo Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992. BRAGA, Maria Lcia de Santana. A participao feminina nas instncias decisrias: limites e possibilidades. Disponvel em http://www.oab.org.br/comissoes/cnma/ noticia/noticia.asp?id=577. Acesso em 28.05.03. CANADO TRINTADE, Antnio Augusto. Tratado de direito internacional dos direitos humanos. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1997. CEDAW: Relatrio Nacional Brasileiro: Conveno sobre a Eliminao de todas as Formas de Discriminao contra a Mulher, Protocolo Facultativo. Coordenao Flvia Piovesan e Silvia Pimentel. Braslia: Ministrio das Relaes Exteriores, Ministrio da Justia, Secretaria de Estado dos Direitos da Mulher, 2002. DEBATE: Protocolo Facultativo CEDAW: Um compromisso internacional com os direitos humanos das mulheres. Contribuio AGENDE Aes em Gnero, Cidadania e Desenvolvimento. 21.05.2002. KRAMER, Heinrich; SPRENGER, James. O martelo das feiticeiras: Malleus Maleficarum. Traduo de Paulo Fres. 7. ed. Rio de Janeiro: Editora Rosa
23
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
dos Tempos, 1991. PIMENTEL, Silvia. Evoluo dos direitos da mulher. So Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1978. PIOVESAN, Flvia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 4. ed. So Paulo: Max Limonad, 2000. ________________. Temas de direitos humanos. 2. ed. So Paulo: Max Limonad, 2003. LIMA, Renato Srgio; TEIXEIRA, Alessandra; SINHORETTO, Jacqueline. Raa e gnero no fundamento da justia criminal. Boletim do IBCCRIM, ano 11, n 125, Abril, 2003.
24
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
NOV ENFOQUE UM NOVO ENFOQUE DO ACESSO JUSTIA Jos Jair Ferraretto * Samuel Antonio Merbach de Oliveira**
INTRODUO O desenvolvimento da cincia processual, operado nas ltimas dcadas pelo movimento por acesso a justia, representou a mais importante expresso de uma radical transformao do pensamento jurdico e das reformas normativas e institucionais em um nmero crescente de pases. Assim, importante ressaltar quanto ao movimento universal de acesso justia que a expresso acesso justia tem uma conotao peculiar e mais abrangente. No se limita o acesso ao ingresso, no Judicirio, das pretenses de potenciais lesados em seus direitos. Significa a efetiva prestao jurisdicional, com a entrega, real, da justa composio do conflito levado ao Judicirio. Com efeito, as mutaes que atingiram o processo civil foram desenvolvidas principalmente, por Mauro Cappelletti e Bryant Garth, em torno das denominadas trs ondas renovatrias, exemplificadas como a abertura da ordem processual aos menos favorecidos social e economicamente; a defesa de direitos e interesses supraindividuais; e, a racionalizao do prprio processo como um meio de torn-lo mais humano, participativo e menos burocrtico. Dessa forma, quando descrevemos sobre um novo enfoque do acesso justia, na verdade nos referimos terceira onda ou terceira fase do movimento de acesso justia, ou seja, ao momento em que as reformas devem ser empreendidas nos Cdigos existentes, mediante o emprego de tcnicas processuais diferenciadas, tais como a simplificao dos procedimentos e a criao de vias alternativas de soluo de controvrsias, a fim de tornar a Justia mais acessvel e clere, garantindo-se a plena realizao do direito material. Assim, observam-se diversas reformas nas leis processuais, visando agilizao do Poder Judicirio, onde se insere a questo de meios alternativos ao modelo tradicional de resoluo de conflitos: Conciliao e Mediao. A relativa informalidade, o fato de se resolver o conflito muitas vezes sem julgamento, de se permitir a continuao de um relacionamento prolongado, so algumas das vantagens destes meios de soluo de conflitos. As recentes alteraes no Cdigo de Processo Civil buscam a simplificao dos procedimentos possibilitando ao juiz a realizao de uma audincia preli* Mestre em Direito pela UNIP-Campinas, Professor da Faculdade de Direito Padre Anchieta e Advogado. ** Mestre em Direito pela PUC-Campinas, Mestre em Filosofia pela PUC-Campinas e Professor das Faculdades de Direito e de Administrao de Empresas Padre Anchieta.
25
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
minar para tentativa de conciliao e a maior interao entre o juiz e as partes, de forma a no se necessitar de grandes debates, grandes percias, que encaream e prolonguem demasiadamente os processos. A finalidade no fazer uma justia mais pobre, mas torn-la acessvel a todos, inclusive aos pobres, visando sempre a busca da verdade e da justia social do processo. Entretanto, a busca por mecanismos mais eficientes e baratos que visem desobstruir o acesso justia no pode prejudicar o direito das partes s garantias fundamentais do processo civil, como a de um julgador imparcial, do contraditrio, e, sobretudo, de serem julgadas em consonncia com os princpios e normas dispostos em uma ordem jurdica constitucional e democraticamente determinada. A terceira onda envolve todas as tentativas de tornar o Judicirio mais aprimorado, tendo por objetivo uma melhoria na prestao jurisdicional. Nesse contexto, pode-se afirmar que as reformas pontuais produzidas no excluem e no substituem as reformas sociais e polticas, sendo mesmo inteis em ambientes sociais profundamente injustos. Nem podem ser simplesmente transplantadas de um pas para outro, pois cada regio tem suas caractersticas prprias; tambm se deve evitar a especializao demasiada, uma vez que esta traz problemas bvios de dvidas de competncia e estreitamento das vises a respeito das questes. Entretanto, embora estejamos evidenciando o momento da terceira onda, de se questionar se as reformas sugeridas pelo Poder Judicirio real concentram ateno no sentido de uma verdadeira democratizao deste Poder com a efetiva garantia do cidado justia. Parece, realmente, que o mvel que ir concretizar o acesso justia reside, isto sim, na vontade poltica de transformar conquistas legais em conquistas efetivas. 1 - FORMAS DE SOLUO DE CONTROVRSIAS 1.1 - CONCILIAO O verbo conciliar encontra sua origem etimolgica no latim conciliatio, que significa composio de nimos em diferena (DORFMANN, 1989: 43). Exprime a composio amigvel sem que se verifique alguma concesso por qualquer das partes do pretenso direito alegado ou extino de obrigao civil ou comercial (desistncia da ao, renncia ao direito, reconhecimento do pedido) (FIGUEIRA JNIOR, 1999: 126). Durante um longo perodo, os mtodos informais de soluo das controvrsias foram considerados prprios das sociedades primitivas e tribais, enquanto o processo judicial representava importante conquista da civilizao. No obstante, atualmente assistimos ao ressurgimento da conciliao, que decorre, em grande parte, da crise da Justia. De fato, o grandioso progresso cientfico do direito processual no foi equivalente ao aperfeioamento do aparelho judicirio e da administrao da Justia.
26
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
A sociedade de massas gera conflitos de natureza coletiva ou difusa, dificilmente tratveis nos moldes clssicos da processualstica de carter individualista. Contudo, h outros problemas que tambm obstam o acesso justia, como: a demora, o custo e a burocracia processual, que afastam o cidado do Poder Judicirio, trazendo conseqncias prejudiciais sociedade. Diante dessa realidade, embora a conciliao no seja capaz de resolver todos os conflitos, pode contribuir para minimizar, sobretudo, os considerados como de pequena monta: os direitos dos consumidores, a composio dos danos mais leves, o direito de vizinhana, certas questes de famlia e as conexas ao crdito, dentre outros, podem encontrar na conciliao um instrumento adequado para uma pronta e pacfica soluo, aliviando o exerccio da funo jurisdicional, oferecendo baixos custos, alm da celeridade, e, o que mais importante, facilitando o acesso Justia. Como se sabe, temos a conciliao judicial, que a tentativa de conciliao judicial, realizada aps a instaurao do processo, e a conciliao pr-processual, entendida como instrumento alternativo de soluo dos litgios e como meio para evitar o processo. A priori, vamos abordar a conciliao judicial. O Cdigo de Processo Civil brasileiro instituiu como princpio genrico nas causas cveis o princpio da conciliao. Em todas as causas que tratarem sobre direitos disponveis, que so os direitos privados de natureza patrimonial, no incio da audincia o juiz tenta a conciliao das partes. Igual tentativa ser feita nas causas relativas a direitos de famlia desde que a matria comporte transao entre as partes e no haja ofensa ao interesse pblico (art. 447 e pargrafo nico). Tem ela natureza jurisdicional, funcionando o prprio juiz da causa como mediador; solucionada a lide, por acordo das partes, o ato resultante tem valor de sentena (art. 449), produzindo coisa julgada e s sendo rescindvel por ao rescisria (art. 485, VIII). Dispe a lei que o juiz determine de ofcio o comparecimento das partes audincia de instruo e julgamento, para antes dela tentar a conciliao (arts. 447, caput, e 448). Em virtude do pequeno xito da tentativa de conciliao, realizada apenas na audincia de instruo e julgamento a que as partes j chegam nervosas devido s atividades postulatrias, alguns juzes tm antecipado essa tentativa para momento sucessivo citao, conseguindo excelentes resultados. Segundo Cimino, a inovao, consistente na designao de audincia prvia de conciliao, dentro de 20 dias a partir da citao e durante o prazo para a resposta, tem proporcionado resultados satisfatrios. Obteve, assim, o magistrado 80% de acordos, no segundo semestre de 1979, perante a 2 Vara Distrital do Jabaquara (CIMINO, apud MORAES, 1991: 75). Observa-se que os melhores resultados da conciliao so obtidos nas questes de famlia, a par do disposto no Cdigo de Processo Civil; outros casos de conciliao vm previstos por leis especiais (separao judicial, divrcio e alimentos).
27
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
Tambm importante salientar que a ausncia da parte audincia de conciliao tida como a presuno de que a parte no deseja acordo, devendo o juiz considerar prejudicada essa fase processual e passar instruo e julgamento, e a falta da tentativa de conciliao pelo juiz no causa prejuzo s partes, as quais, podem a qualquer tempo transigir, no havendo motivo, portanto, para se decretar a nulidade. No Direito do Trabalho brasileiro, so previstos na Consolidao das Leis do Trabalho vrios dispositivos que exigem a conciliao. O art. 764 esclarece que os dissdios individuais ou coletivos submetidos apreciao da Justia do Trabalho sero sempre sujeitos conciliao. Os juzes e Tribunais do Trabalho empregaro sempre os seus bons ofcios e persuaso no sentido de uma soluo conciliatria de conflitos (art. 764, pargrafo 1). Inexistindo acordo, o juzo conciliatrio converter-se- obrigatoriamente em arbitral, quando o juiz proferir sentena (art. 764, pargrafo 2). Mesmo depois de encerrado o juzo conciliatrio, as partes podero celebrar acordo para pr fim ao processo (art. 764, pargrafo 3). Em dois momentos, a conciliao obrigatria: antes da apresentao da defesa (art. 846) e aps as razes finais (art. 850). Entretanto, no direito do trabalho brasileiro, a conciliao recebe inmeras crticas, pela forma como costuma ser conduzida, pressionando-se indevidamente o hipossuficiente. Nesse contexto, Jorge Luiz Souto Maior descreve que: Quanto ltima tendncia determinada pela terceira onda do acesso justia, de incentivo a prticas no judiciais de soluo dos conflitos individuais, entendemos que ela no se apresenta eficaz nas relaes jurdicas trabalhistas, pois o avano para essa idia pressupe, primeiro, a eficincia de outras que lhe so antecedentes, especialmente a que diz respeito aos servios de informao sobre os direitos sociais s classes que devem ser beneficiadas por eles, e segundo, a igualdade de condies das partes que se sujeitam a uma soluo dessa natureza. Esses pressupostos no se acham presentes na realidade brasileira (SOUTO MAIOR, 1998: 149-150). A tentativa de conciliao judicial no exclui a segunda espcie de conciliao, vista como alternativa ao processo e como meio de evit-lo. Ainda, com relao Justia Trabalhista, a Lei n. 9.958/2000 inovou no cenrio jurdico trabalhista, introduzindo as Comisses de Conciliao Prvia. Mesmo com a extino do juiz classista, o juzo trabalhista no perdeu seu carter conciliatrio. Entretanto, como sabemos, o juiz de carreira, diante de suas inmeras atividades, no dispe de tempo suficiente para gastar em cada audincia na tentativa de buscar a conciliao das partes, embora seja de sua obrigao ao menos lanar propostas de pacto. Por outro lado, a conciliao fora do juzo minimiza o elevado nmero de reclamaes trabalhistas, que so interpostas nas Varas do Trabalho. Entretanto, conforme descreve Jorge Luiz Souto Maior, a tentativa de conciliao na Comisso de Conciliao Prvia no pode ser tida como condio para o ingresso em juzo, seja porque a Lei n. 9.958/2000 assim no previu expressamente, seja porque, ainda que se pudesse vislumbr-la, por uma interpretao
28
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
ampliativa - o que no seria correto sob o ponto de vista da cincia hermenutica -, tal exigncia seria inconstitucional, por ferir a garantia do acesso justia (SOUTO MAIOR, 2000:140). Clvis Gorczevski afirma que: a conciliao extrajudicial, s vezes, se impe como condio prejudicial e obrigatria em certos tipos de processos; em outras, est disposio dos interessados, facultativa, porm, efetiva e til para resolver, sem crise de fadiga judicial, problemas de singular relevncia. Portanto, o terceiro (conciliador) pode ser imposto por uma lei ou eleito voluntariamente (GORCZEVSKI,1999: 27). Aps estas observaes, passamos a analisar os vrios sistemas de conciliao extrajudicial. Como exemplo de conciliao obrigatria temos a Constituio da Repblica Oriental do Uruguai, que no art. 225 estabelece: no se podr iniciar ningn pleito en materia civil sin acreditarse que se h tentado la conciliacin ente la Justicia de Paz, salvo las excepciones que estableciere la ley (GORCZEVSKI,1999:27). Em El Salvador, os processos sobre acidentes de trnsito sem leses s ingressam na fase judicial aps audincia de conciliao ante os Juzes de paz; na Colmbia, o Cdigo Processual Civil de 1989 determina a audincia de conciliao em todas as reas do direito, como pr-requisito para a fase judicial; no Chile, a legislao civil estabelece a tentativa de conciliao, realizada pelo Juiz de Direito, antes de prosseguir o feito; igual forma seguida na Costa Rica. Na Espanha, o ato de conciliao era tido como pressuposto de admissibilidade da ao (cujo cumprimento o juiz devia examinar antes de dar curso ao processo) at 1984, quando a reforma da legislao de processo civil tornou-o de natureza facultativa (GORCZEVSKI, 1999: 28). O modelo japons exemplo do largo uso da conciliao. Cortes de conciliao, compostas por dois membros leigos e (ao menos formalmente) por um juiz, existe h muito tempo no Japo, para ouvir as partes informalmente e recomendar uma soluo justa. A conciliao pode ser requerida por uma das partes, ou um juiz pode remeter um caso judicial conciliao. Embora seu uso e eficcia estejam em relativo declnio, a conciliao ainda muito importante no Japo. Nesse contexto os professores Kojima e Taniguchi salientam que as causas de famlia e as indenizaes por acidentes de veculos demonstram-se particularmente apropriadas ao processo de conciliao no Japo e talvez tambm o possam ser em outros pases (CAPPELLETTI & GARTH, 1998: 84). Isto posto, passamos a analisar a conciliao prvia extrajudicial no Brasil. A Constituio de 1824 estabeleceu a funo conciliativa prvia para os juzes de paz, honorrios e leigos, a qual era condio obrigatria para o incio de qualquer processo. Contudo, a instituio aos poucos foi perdendo importncia, at a transformao dos juzes de paz em rgo incumbido unicamente da habilitao e celebrao de casamentos. Dessa maneira, perdeu-se a oportunidade de se utili-
29
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
zar a instituio como uma forma de minimizar a litigiosidade e que poderia ter dado margem ao aprimoramento de institutos tais como os juizados de conciliao, de vizinhana, de bairros etc. Todavia, a sociedade moderna propicia e incentiva as vias alternativas de soluo de conflitos. A primeira experincia, neste campo, dirigiu-se s controvrsias prprias das relaes de consumo. A proliferao de rgos estatais de defesa do consumidor foi acompanhada pelo incremento s vias conciliativas, muito utilizadas principalmente nas cidades industrializadas, com excelentes resultados. importante salientar que a proteo ao consumidor, no Brasil, no se restringe ao usurio de produtos industrializados, mas compreende as relaes locatcias, securitrias, de utilizao de servios etc. Com efeito, foi a partir da instalao dos Juizados de Conciliao no Brasil que se pde sentir uma abertura das vias de ingresso justia no tradicional, tornando os canais conciliativos uma excelente alternativa em relao emperrada justia tradicional, uma vez que esses mtodos informais parecem atingir com maior eficincia e celeridade os novos interesses da moderna sociedade de consumo. De fato, foi na experincia dos Conselhos de Conciliao do Estado do Rio Grande do Sul, depois disseminados em outros estados do sul, que se colheram os dados empricos que conduziram elaborao da lei de pequenas causas. Isto posto, o xito ou no da conciliao extrajudicial se deve primordialmente a fatores sociolgicos e antropolgicos, tendo sido tambm indicada a importncia da anlise econmica do Direito, para efeito do estudo da relao custo benefcio aplicvel a toda reforma que pretenda introduzir procedimentos no contenciosos de soluo dos conflitos de interesse. Assim, a conciliao extrajudicial reduz os bices ao acesso Justia, sendo um poderoso instrumento de soluo de certos conflitos, alternativo ao processo, mas no excludente deste. Tambm visa maior racionalizao e eficincia na administrao da Justia, bem como pacificao social, compondo e prevenindo situaes de tenses, alm de propiciar a informao, a tomada de conscincia e a politizao que decorrem da orientao jurdica. Finalmente, sendo a conciliao fruto do dilogo, da tolerncia, da renncia recproca de pequenas exigncias ou at mesmo impertinncias, ela pode ser um caminho de acesso Justia, buscando tambm a humanizao do processo. 1.1.1 - CONCILIAO NOS JUIZADOS ESPECIAIS De fato, na Lei 9099/95, o sistema dos Juizados Especiais valoriza extremamente a conciliao (arts. 21/26 e 57), devendo ser buscada sempre, a todo o momento e no somente na audincia. Nada impede que o juiz, antes de proferir a sentena, volte a insistir na conciliao; nada impede que ela ocorra antes do julgamento do recurso. Com efeito, a lei valorizou a conciliao e no deseja somente a mera tenta-
30
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
tiva plida de acordo com simples indagao s partes sobre sua possibilidade. Deseja, sim, uma maior interao das partes com o conciliador ou juiz, desarmando-se os espritos, indicando-se os caminhos com sugestes e opes para a celebrao de um acordo que coloque fim demanda. A mudana no s de comportamento, antes de mentalidade. O rgo que representa a Justia sai de sua posio inerte e, mantendo evidentemente a igualdade das partes, formula hipteses, sugere formas de composio do litgio, adverte para os riscos em caso de prosseguimento do pleito, enfim, exerce atuao preponderante no entendimento das partes. Os conciliadores so elementos fundamentais para o bom desempenho dos Juizados Especiais. A finalidade principal do Juizado , na medida do possvel, buscar a conciliao das partes. No tocante rea criminal, o escopo fundamental do Juizado Especial Criminal obter, sempre que possvel, a reparao dos danos sofridos pela vtima e a aplicao de pena no privativa de liberdade. Nesse sentido, com muita propriedade descreve Mrcio Franklin Nogueira: Por isso, a proposta a ser formulada pelo Ministrio Pblico deve limitar-se somente a penas restritivas de direitos e multa. Seu espao de atuao limitado, ao contrrio do que ocorre no Direito NorteAmericano, em que vige em sua plenitude o princpio da oportunidade. O legislador ptrio, como j se disse, abriu um espao pequeno a este princpio. Como regra, em nosso sistema processual penal impera o princpio da legalidade (ou da obrigatoriedade da ao penal), admitindo-se, com a Lei 9099/1995, uma certa obrigatoriedade mitigada. (NOGUEIRA, 2003: 187). 1.2 - MEDIAO A mediao como forma alternativa de solucionar conflitos enquadra-se no pensamento de Mauro Cappelletti, uma vez que, ao contrrio da jurisdio tradicional, objetiva aproximar as partes, pois a autocomposio nasce e se encerra a partir das prprias partes, com a interveno de um terceiro imparcial, o mediador. A mediao ocorre quando um terceiro, chamado pelas partes, vem mediar o conflito, ouvindo as partes, aconselhando-as e fazendo propostas, para que se chegue a termo. As partes no esto obrigadas a aceitar as propostas, mas poder haver composio mediante o acordo de vontades. O mediador no tem poder de coao ou de coero sobre as partes; no toma qualquer deciso ou medida, apenas serve de intermedirio entre as partes. O mediador pode ser qualquer pessoa, mesmo sem conhecimentos jurdicos (MARTINS, 2001: 78). A mediao, em regra, extrajudicial. Todavia, tambm poder ser judicial. A mediao no se assemelha totalmente conciliao, embora haja semelhana entre ambas. Naquela, o mediador tenta aproximar os litigantes promovendo o dilogo entre eles a fim de que as prprias partes encontrem a soluo e ponham termo ao litgio. Funda-se a tcnica nos limites estritos da aproximao
31
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
dos contendores. Diversamente, na conciliao, o terceiro imparcial chamado a mediar o conflito, o conciliador, no s aproxima as partes como ainda realiza atividades de controle das negociaes, aparando as arestas porventura existentes, formulando propostas, apontando as vantagens ou desvantagens, buscando sempre facilitar e alcanar a autocomposio (FIGUEIRA JNIOR, 1999: 132). A mediao e as outras formas alternativas de solucionar conflitos no so um fenmeno novo, e sim uma adaptao do que j existia em outros momentos histricos, sendo redescobertas em virtude das crises dos sistemas judicirios. No Brasil, exemplificando, assistimos no somente a uma crise estrutural (instalaes), funcional (pessoal) e substancial (mtodos), do Poder Judicirio, como tambm a uma crise generalizada nas Instituies (educao, sade, previdncia social, economia etc.). Na antiga China, a mediao era o principal meio de resoluo de conflitos. Conforme Confcio, a melhor soluo de um litgio se dava atravs da persuaso moral e o acordo, e no sob coao. A mediao ainda bastante utilizada na Repblica Popular da China atravs dos Comits Populares. No Japo, a mediao tambm tem uma ampla aplicao nas leis e costumes; o lder de uma comunidade ajuda os membros a solucionar seus litgios. Devido globalizao, a mediao tem se propagado bastante nos pases de origem romano-cannica, ainda no muito simpticos a esse tipo de mecanismo, mas que aos poucos vm prestigiando esse instituto jurdico, atravs da criao de diversas cmaras voltadas a essa prtica. No Brasil, por exemplo, temos o Centro de Conciliao e Arbitragem da Cmara de Comrcio Argentino-Brasileira de So Paulo. No Paraguai, a Lei 1879/02 define a mediao em seu artigo 53: La mediacin es um mecanismo voluntrio orientado a la resolucin de conflictos, atravs del cual dos o ms personas gestionan por si mismas la solucin amistosa de sus diferencias, com la asistencia de um tercero neutral y calificado, denominado mediador. O artigo 54 acrescenta que: Podrn ser objeto de mediacin todos los asuntos que deriven de uma relacin contractual u outro tipo de relacin jurdica, o se vincule a ella, siempre que dichos asuntos sean susceptibles de transacin, conciliacin o arbitraje. Na Espanha existe o IMAC Instituto de Mediao, Arbitragem e Conciliao. Na Gr-Bretanha, o Servio Consultivo de Conciliao e Arbitragem funciona tambm como procedimento de mediao, pois muitas vezes os conciliadores tambm atuam como mediadores, propondo solues. Na Austrlia, o procedimento inicial na soluo dos conflitos a mediao. vedado o acesso do pblico s reunies. Se as partes chegam a uma soluo, podem apresentar um memorando do que foi acordado. Na mediao, por constituir um mecanismo consensual, as partes apropriamse do poder de gerir seus conflitos, diferentemente da Jurisdio estatal tradicional, onde este poder delegado aos profissionais do Direito, com preponderncia queles investidos das funes jurisdicionais. Contrariamente aos processos judiciais, que so
32
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
demorados e caros, o Instituto da Mediao tende a resolver os conflitos em um lapso de tempo muito menor do que levariam se fossem levados Justia tradicional, o que, por conseguinte, traz uma diminuio do custo indireto, pois, como sabemos, quanto maior a demora de um litgio, maiores sero os gastos para a sua soluo. No tocante ao nus financeiro, caber ao mediador esclarecer previamente os custos e honorrios para as partes. Os seus honorrios devero ser razoveis, considerando, dentre outras coisas, o servio da Mediao, o tipo e complexidade da matria, a especializao do mediador, o tempo necessrio para a concluso do processo, e a tabela de custos na comunidade em questo. A melhor maneira de se tratar de custos atravs do desenvolvimento de um acordo escrito constando os acertos em relao s despesas e honorrios. A mediao um processo informal, no qual as partes tm a oportunidade de debater os problemas que as envolvem, visando a encontrar a melhor soluo para elas. Inmeras vezes pessoas que possuem convivncia cotidiana (ou interesses ligados a relaes continuadas, tais como: vizinhana, famlia, emprego etc.) entram em discordncia por um motivo qualquer. Este o caso das relaes continuadas, no qual a questo que seria debatida na Justia tradicional uma, porm o verdadeiro conflito pode ser outro. O que ocorrer durante as reunies ser envolvido do mais absoluto sigilo. Esse dever tico do mediador de tal maneira pressuposto de sua atividade, que implicar, mediante compromisso assumido em conjunto com os mediados, o no envolvimento de seu testemunho em qualquer instncia, inclusive em juzo. Entretanto, este princpio ser desconsiderado quando o interesse pblico se sobrepuser ao das partes, ou seja, quando a quebra da privacidade for determinada por deciso legal ou judicial, ou ainda por uma atitude de poltica pblica. As decises tomadas pelas partes no necessitaro ser alvo de futura homologao pelo Judicirio. Tudo ser realizado conforme os interesses do mediados. Entretanto, pode-se produzir uma deciso totalmente injusta ou imoral, o que indicaria que houve alguma falha durante o procedimento de Mediao; ou, quando uma deciso tomada havendo comprovao de m-f, no processo, por qualquer das partes, ou pelo mediador, havendo prejuzo de uma das partes em relao s demais, poder o juiz togado, nesses casos, anular os resultados firmados. Quando da ocorrncia das decises neste sentido, entendem alguns que o mediador deve intervir, alertando para o fato. No compete ao mediador oferecer a soluo do conflito, porm de sua competncia a manuteno e a orientao do processo. Podem ser objeto da mediao todos os negcios que no incidam nas sanes da lei e no ofendam a moral e os bons costumes, ou seja, todos os negcios lcitos. Aqui, como em todos os contratos, os preceitos do art. 104, I a III, do Cdigo Civil. Nesse sentido podem ser objeto de corretagem todos os negcios, versem sobre coisas corpreas e incorpreas, mveis ou imveis, direitos e obrigaes. Assim, o art. 723 do Cdigo Civil estabelece que a mediao feita pelo corretor
33
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
deve ser executada dentro dos princpios de diligncia e prudncia de acordo com a natureza do negcio realizado. Devido a sua natureza de contrato acessrio, a mediao pode estar presente nas convenes humanas. Mediao h na compra e venda, na hipoteca, no penhor, na fiana, na locao de servios, na locao de coisas, na empreitada, na permuta, na edio, no mtuo, no seguro, na capitalizao, na anticrese etc. Resumindo, todos os contratos onerosos podem ser objeto de mediao. A medio tambm poder ser utilizada eficazmente em problemas relativos s questes do quotidiano, tais como discordncias entre membros de instituies de ensino ou lazer, discusses familiares e entre vizinhos e conflitos sobre o meio ambiente, que tm sido as principais matrias submetidas a esse processo, muito embora seja permitido discutir em tal processo praticamente qualquer conflito cuja tentativa de resoluo por meio desse mecanismo venha a interessar s partes. No Direito Trabalhista brasileiro, a mediao exercida pelo Ministrio do Trabalho e Emprego, atravs dos delegados e inspetores do trabalho, que atuando como mediadores na mesa-redonda tentam acordos entre as partes conflitantes. H mediaes nos conflitos coletivos, principalmente no caso de greve, quando qualquer dos interessados poder comunicar a existncia do conflito ao Ministrio, que convidar a parte contrria para uma reunio. Havendo entendimento, ser formalizado o acordo coletivo de conveno coletiva, finalizando a controvrsia. Em caso contrrio, o Ministrio enviar os autos para o Tribunal Regional do Trabalho, perante o qual ser processado dissdio coletivo. As normas sobre o procedimento observado pelo Ministrio nas mediaes so previstas na CLT, art. 616, e pela Portaria n. 3.097, de 17 de maio de 1988. De fato, a inadequao de certas estruturas tradicionais para a resoluo de conflitos de massas no tocante questo dos interesses transindividuais, bem como o crescimento do nmero de demandas, buscando assumir parte de causas referentes a relaes de consumo e locao, demonstram a eficcia da utilizao da mediao como forma de complemento da atividade jurisdicional. Assim, diante da necessidade de mtodos alternativos para a soluo de conflitos, a Mediao adota como proposta bsica, a atuao facilitadora da comunicao e da negociao entre pessoas, diminuindo os bices para um efetivo acesso Justia, colaborando para a humanizao do processo. CONCLUSO Os ensinamentos traados pelo processualista Mauro Cappelletti em sua obra Acesso Justia consagram a incessante peregrinao do mesmo em busca de novos rumos ou caminhos que tornem a Justia mais idnea e adequada Sociedade e aos homens do nosso tempo, caracterizando-se sempre por um compromisso de reforma, denominada de a terceira onda renovatria. Esta trata dos entraves formais e materiais que o obstacularizam, a problemtica quanto utilizao de diferentes tcnicas processuais para tornar a Justia mais acessvel, que 34
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
constitui o palco das atuais preocupaes dos processualistas modernos. Fala-se, portanto, de um novo enfoque de acesso Justia, enfoque este que reconhece a necessidade de correlacionar e adaptar o processo civil ao tipo do litgio. fundamental a reforma dos procedimentos judiciais em geral, com o emprego de tcnicas processuais diferenciadas, para tornar a Justia mais acessvel, com a simplificao dos procedimentos e a criao de vias alternativas de soluo de controvrsias. Os meios alternativos ao modelo tradicional de resoluo de conflitos, Conciliao e Mediao, com o desenvolvimento do movimento do acesso justia, vm adquirindo prestgio e importncia no mundo contemporneo. A conciliao, tambm como meio para evitar o processo, mediante solues de mediao institucionalizada, a qual pode funcionar como canal idneo para resolver certos conflitos, principalmente referentes a pequenos litgios: os direitos dos consumidores, a composio dos danos mais leves, o direito de vizinhana, certas questes de famlia e as conexas ao crdito e tantas outras contendas poderiam encontrar na conciliao o instrumento adequado para uma pronta e pacfica soluo. Embora no seja capaz de resolver todos os conflitos, pode contribuir para minimizar o exerccio da funo jurisdicional, oferecendo baixos custos, alm da celeridade, e, o que mais importante, facilitando o acesso Justia. Com efeito, sendo a conciliao fruto do dilogo, da tolerncia, da renncia recproca de pequenas exigncias ou at mesmo impertinncias, pode ser um caminho de acesso Justia, colaborando tambm para a humanizao do processo. A mediao como forma de soluo alternativa de conflitos enquadra-se muito bem no pensamento de Mauro Cappelletti a respeito de justia coexistencial, tendo-se em vista a busca da satisfao dos litigantes sem causar reflexos negativos comumente identificveis nas imposies dos julgados (ato de imprio marcado por violncia simblica), porquanto a autocomposio nasce e se encerra a partir das prprias partes, com a interveno de um terceiro imparcial, o mediador. Por fim, o acesso ordem jurdica justa, como acesso justia quer dizer acesso a um processo justo, a garantia de acesso a uma justia imparcial, que no s possibilite a participao efetiva e adequada das partes no processo jurisdicional, mas que tambm permita a efetividade da tutela dos direitos, consideradas as diferentes posies sociais e as especficas situaes de direito substancial. Acesso justia significa, ainda, acesso informao e orientao jurdicas e a todos os meios alternativos de composio de conflitos. BIBLIOGRAFIA CAPPELLETTI, Mauro & GARTH Bryant. Acesso Justia. Traduo de Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 1998.
35
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
DINAMARCO, Cndido Rangel. A Instrumentalidade do Processo. 7. ed. So Paulo: Malheiros Editores, 1999. _____________. Fundamentos do Processo Civil Moderno. 3. ed. So Paulo: Malheiros, 2000, v. 1. DORFMANN, Fernando Noal. As Pequenas Causas no Judicirio. Porto Alegre: Fabris, 1989. FIGUEIRA JNIOR. Joel Dias. Arbitragem, Jurisdio e Execuo. 2. ed. ver. e atual. do Manual de Arbitragem. So Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999. GAMA, Ricardo Rodrigues. Efetividade do Processo Civil. Campinas: Copola, 1999. GORCZEVSKI, Clvis. Formas Alternativas para Resoluo de Conflitos: a arbitragem no Brasil. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999. GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cndido Rangel; WATANABE, Kazuo (coords.). Participao e Processo. So Paulo: Revista dos Tribunais, 1988. MARTINS, Srgio Pinto. Direito Processual do Trabalho: doutrina e prtica forense; modelos de peties, recursos, sentenas e outros. 15. ed. So Paulo: Atlas, 2001. MORAES, Silvana de Campos. Juizado de Pequenas Causas. So Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1991. NERY JNIOR, Nelson & ANDRADE NERY, Rosa Maria. Cdigo de Processo Civil Comentado e legislao processual civil extravagante em vigor. 4. ed. rev. e ampl. So Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999. NOGUEIRA, Mrcio Franklin. Transao Penal. So Paulo: Malheiros, 2003. RODRIGUEZ, Jos Antonio Moreno. Arbitraje e Mediacin. Asuncin: Intercontinental, 2003. SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. Direito Processual do Trabalho: efetividade, acesso justia e procedimento oral. So Paulo: LTR, 1998. ______________. Temas de Processo do Trabalho. So Paulo: LTR, 2000.
36
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
UTONOMIA DA ONTADE, UTONOMIA AUTONOMIA DA VONTADE, AUTONOMIA PRIVAD ADA INICIATIV TIVA: PRIVADA E LIVRE INICIATIVA: UMA VISO SOB A TICA DO CDIGO CIVIL DE 2002 Fernanda Pessanha do Amaral Gurgel*
1. INTRODUO Tem-se, com o presente trabalho, o objetivo de mostrar o contedo e a abrangncia dos princpios da autonomia privada, da autonomia da vontade e da livre iniciativa, buscando-se, para tanto, suas perspectivas no atual sistema jurdico brasileiro, e, principalmente, sua concepo nesta nova etapa de reconstruo do Direito Privado. Desta feita, primeiramente se faz necessria uma breve anlise filosfica do conceito de liberdade, vez que se trata de valor inspirador para o tema ora proposto. Sob a tica jurdica propriamente dita, vale analisar os princpios informadores do sistema jurdico de Direito Privado, ressaltando, desde j, que a autonomia privada constitui um destes princpios basilares, estando atrelada ao valor mximo da Cincia Jurdica, qual seja, a dignidade da pessoa humana. Por seu turno, o estudo da evoluo do significado da autonomia privada nos sistemas jurdicos que se formaram ao longo da histria nos auxiliar na compreenso da dogmtica atual, notadamente na renovao legislativa trazida pelo Cdigo Civil de 2002. certa, ainda, a diferenciao existente entre os termos autonomia da vontade, autonomia privada e livre iniciativa, de forma que a caracterizao e aplicao de cada um deles compreendero anlise e discusso de grande relevncia. Posteriormente, abordar-se- a manifestao da autonomia privada nos atos jurdicos em geral, inclusive dentro da amplitude dos negcios jurdicos, quando ento falaremos da liberdade contratual. Nesse contexto, como adiante se mostrar, o negcio jurdico assume a feio de fonte do direito, sendo consideradas as disposies oriundas da autonomia privada como verdadeiras normas jurdicas, criadoras de direitos e obrigaes. Por fim, o perfil poltico-ideolgico do Cdigo Civil de 2002 impe nos atermos questo da heteronomia da vontade, acompanhando, neste passo, as diretrizes da socialidade e da eticidade sustentadas por MIGUEL REALE.
* Advogada, Mestranda em Direito Civil na PUC/SP, Professora assistente de Direito Civil na PUC/SP, Professora de Direito Civil da Faculdade de Direito Padre Anchieta de Jundia e da Faculdade de Direito do Centro Universitrio Capital.
37
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
Desse modo, a autonomia privada deve ser vista em consonncia aos novos valores inseridos no Cdigo vigente: funo social da propriedade, funo social do contrato e boa-f objetiva. Parece-nos, portanto, que todos estes aspectos compreendem uma tentativa de anlise da construo de um novo modelo jurdico, este tendente a se compatibilizar com o atual momento histrico, econmico e social brasileiro. 2. CONCEPO FILOSFICA DA LIBERDADE Antes de adentrarmos mais profundamente no aspecto jurdico da autonomia da vontade, da autonomia privada e da livre iniciativa, merecem destaque breves consideraes a respeito da concepo filosfica da liberdade. No perodo aristotlico, se dizia que a liberdade o poder de autodeterminao. Mais tarde, Kant utiliza a expresso autonomia da vontade, se referindo liberdade como o poder de dar-se leis e de agir de acordo com elas.1 Inspirada na concepo tomista, a liberdade est atrelada ao conceito de pessoa. Nas lies de WALTER MORAES, os bens que em Direito se qualificam como de personalidade so partes integrantes do homem in natura.2 Assim, pessoa um ser com caractersticas precisas: inteligente e livre, ou seja, dono do seu prprio ser.3 Podemos dizer, por conseguinte, que o homem, por natureza, um ser livre e racional. A liberdade e a conscincia so atributos fundamentais da pessoa humana, atravs dos quais o homem se torna capaz de escolher suas atividades e avaliar as conseqncias de seus atos. Buscando a definio de liberdade, JACY DE SOUZA MENDONA diz que a liberdade capacidade, fora, energia para poder eleger, dentre a multiplicidade dos bens disponveis, aquele que, segundo a viso, certa ou errada, se ajusta fome de ser que est no ato volitivo.4 Sob a perspectiva axiolgica, vemos que o homem possui a capacidade de apreciar os valores, sejam eles econmicos, ticos, utilitrios ou religiosos e, partindo deles, autodeterminar-se. Sendo assim, a liberdade um valor da natureza humana, e atravs dela se torna possvel a definio por outros valores. Por outro lado, vemos que a necessidade social e o bem comum exigem que a liberdade no adquira um significado ilimitado e irrestrito, de forma a possibilitar a convivncia e a pacificao social. Nessa tica, a liberdade deve se compatibilizar s exigncias do bem coApud ALVES, Glucia Correa Retamozo Barcelos. A reconstruo do direito privado: reflexos dos princpios, diretrizes e direitos fundamentais constitucionais no direito privado. Org. Judith Martins-Costa. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 222. 2 MORAES, Walter. Concepo Tomista de Pessoa. Revista dos Tribunais, v. 590, p. 14-23, dezembro de 1994. 3 HERVADA, Javier. Introduccion Critica al Derecho Natural. 9. ed. Navarra: Ediciones Universidad de Navarra, S.A., 1981, p. 116. 4 MENDONA, Jacy. O curso de Filosofia do Direito do Professor Armando Cmara. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1999, p. 64.
1
38
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
mum, o que, nas palavras de JOAO XXIII, representa o conjunto de todas as condies de vida social que consintam e favoream o desenvolvimento integral da personalidade humana.5 Em linhas gerais, trata-se da coexistncia harmnica das liberdades individuais, o que faz com que o Estado, atravs de suas atividades, desempenhe um papel limitador e regulador, sem, contudo, deixar de respeitar e privilegiar a pura manifestao da vontade como forma de concretizao da liberdade. 3. A AUTONOMIA PRIVADA COMO UM DOS PRINCPIOS INFORMADORES DO SISTEMA JURDICO DE DIREITO PRIVADO Os princpios gerais do Direito Privado so inspirados em princpios fundamentais do Direito, os quais, nas palavras de TERCIO SAMPAIO FERRAZ JR., representam uma reminiscncia do Direito Natural como fonte.6 Sem dvida, o sistema jurdico de Direito Privado tem por pressuposto a existncia de direitos fundamentais inerentes natureza humana, integrantes de princpios basilares e estruturais da Cincia do Direito.7 Falar-se, contudo, em princpios significa, outrossim, falar em valores. Os valores, tais quais a dignidade da pessoa humana e a liberdade, norteiam a formulao dos princpios. Nesse sentido, GIORGIO OPPO diz que os valores funcionam como idealidades civis que inspiram a ordem jurdica e os princpios so a assuno em forma de preceitos desses valores.8 Devemos, pois, sustentados nos ensinamentos de ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, dizer que so princpios de Direito Privado: princpio da dignidade da pessoa humana, princpio da boa-f objetiva, princpio da imputao civil dos danos e, por fim, o que constitui objeto do presente trabalho, princpio da autonomia privada. 9 No que concerne ao princpio da dignidade da pessoa humana, ensina, ainda, a ilustre autora, que ele a razo de ser do Direito, seu fundamento axiolgico, sendo a vida e a liberdade suas expresses mais extraordinrias. Em sendo assim, o sistema jurdico de Direito privado encontra seu substrato na dignidade da pessoa humana, fazendo com que o homem seja reconhecido como sujeito de direito.10
Apud Lins, Carlos Francisco B. R. Bandeira. Breves reflexes acerca do bem comum. Revista Justitia, ano XXXVIII, 4 trimestre de 1976, vol. 95, p. 55-64. 6 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introduo ao Estudo do Direito - tcnica, deciso, dominao. So Paulo: Atlas, 1988, p. 223. 7 Segundo Jos Puig Brutau (Fundamentos de Derecho Civil, Teoria Preliminar Introduccin al Derecho, Princpios generales del Derecho, Barcelona: Bosch Casa Editorial, S.A., 1989, p.216), no campo do Direito, os princpios so as diretrizes que justificam o carter racional de todo o ordenamento. 8 OPPO, Giorgio. Sui Principi Generali Del Diritto Privato. Revista de Diritto Civille, ano XXXVII, n. 1 , 1991, p. 475. 9 NERY, Rosa Maria de Andrade. Noes preliminares de direito civil. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 110-121. 10 Nesse sentido, Alexandre dos Santos Cunha (Dignidade da Pessoa Humana: conceito fundamental de Direito Civil in: A Reconstruo do Direito Privado: reflexos dos princpios, diretrizes e direitos fundamentais constitucionais no direito privado. Org. Judith Martins Costa. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 260) afirma: O princpio da dignidade da pessoa humana, no obstante sua incluso no texto constitucional, , tanto por sua origem quanto pela sua concretizao, um instituto basilar do direito privado. Enquanto fundamento primeiro da ordem jurdica constitucional, ele o tambm do direito pblico. Indo mais alm, pode-se dizer que a interface entre ambos: a vrtice do Estado de Direito.
5
39
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
Distanciando-se do direito romano, em que s se considerava o homem como sujeito de direitos quando fosse livre, cidado romano e independente do poder familiar, o sistema jurdico atual (art. 1 do Cdigo Civil de 2002) considera que toda pessoa capaz de direitos e deveres na ordem civil, sendo, portanto, sujeito de direito. A partir desta viso, ser sujeito de direito significa ser titular de direitos, considerando-se o respeito e a preservao da dignidade da pessoa humana o maior e mais absoluto de todos eles. Ou seja, a dignidade da pessoa humana o conjunto de condies necessrias para a preservao e desenvolvimento da personalidade humana, e todos os demais princpios de Direito Privado so decorrncias deste princpio fundamental e supremo. , portanto, a dignidade da pessoa humana valor e princpio basilar de toda a Cincia Jurdica, representando, ainda, nos termos do art. 1, inciso III, da Constituio Federal de 1988, um dos fundamentos da Repblica Federativa do Brasil. De outra parte, um segundo princpio de Direito Privado o princpio da boaf objetiva. Antes de mais, importa fazermos uma breve diferenciao entre a boa-f objetiva e a boa-f subjetiva. Segundo JUDITH MARTINS-COSTA, a boa-f subjetiva tem o sentido de uma condio psicolgica que normalmente se concretiza no convencimento do prprio direito, ou na ignorncia de se estar lesando direito alheio. Por outro lado, a boa-f objetiva deve ser entendida como regra de conduta fundada na honestidade, na retido e na lealdade.11 Nascida no direito romano, a boa-f objetiva foi inserida no Cdigo Civil de 2002 no art. 113: Os negcios jurdicos devem ser interpretados conforme a boa-f e os usos do lugar de sua celebrao. Com efeito, a boa-f objetiva, enquanto padro de conduta, assume trs distintas funes, quais sejam, a de cnone hermenutico-integrativo do contrato, a de norma de criao de deveres jurdicos e a de norma de limitao ao exerccio de direitos subjetivos.12 Posteriormente, baseado na noo de responsabilidade do sujeito de direitos e de penalidade s condutas humanas lesivas, tem-se o princpio da imputao civil dos danos, atravs do qual surge o dever de indenizar pelos danos causados aos bens ou direitos de outrem. Nessa rbita, distanciando-se do sistema de vingana pessoal e privada predominante nas antigas civilizaes, o atual sistema jurdico privado se fundamenta na responsabilidade civil dos danos. Assim, o ordenamento jurdico confere quele que foi lesado o direito de ser ressarcido pelos danos que lhe foram causados, estabelecendo, de outra parte, o dever de indenizar, imputvel ao causador do dano atravs de seu patrimnio.
MARTINS - COSTA, Judith. A boa-f no direito privado: sistema e tpica no processo obrigacional. So Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 412. 12 Idem, p. 427.
11
40
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
Por fim, luz dos valores de liberdade e de dignidade da pessoa humana, destacamos a autonomia privada como o ltimo dos princpios de Direito Privado.13 Por ora vlido mencionar que a autonomia privada princpio especfico do Direito Privado, o que se mostrar adiante, quando tratarmos da diferenciao existente entre o referido princpio e os princpios da autonomia da vontade e da livre iniciativa.14 Etimologicamente, autonomia o poder de estabelecer a sua prpria lei. Sob o prisma jurdico, a autonomia privada consiste em um poder de auto-regulamentao de interesses privados. A liberdade dos sujeitos de direito, refletida na esfera do Direito Privado, confere a eles um poder de disciplinar as relaes jurdicas em que figuram como titulares. Ensina ANA PRATA que a autonomia privada traduz-se, pois, no poder reconhecido pela ordem jurdica ao homem, prvia e necessariamente qualificado como sujeito jurdico, de juridicizar a sua atividade (designadamente, a sua atividade econmica), realizando livremente negcios jurdicos e determinando os respectivos efeitos.15 Para FRANCISCO AMARAL, a autonomia privada o poder que os particulares tm de regular, pelo exerccio de sua prpria vontade, as relaes de que participam, estabelecendo-lhes o contedo e a respectiva disciplina jurdica.16 Veja-se, pois, que a autonomia privada adquire o status de poder jurdico dos particulares. Em outras palavras, o poder de estabelecer normas jurdicas individuais reguladoras da atividade privada, cujo exerccio tem por finalidade a consecuo de fins particulares. Corroborando este entendimento, LUIGI FERRI afirma que a autonomia privada, quando se concretiza em negcios particulares, um poder concedido ao indivduo para a consecuo de fins privados.17 Ademais, tratando-se de um poder jurdico particular, a autonomia privada conduz liberdade de os particulares criarem, extinguirem e modificarem direitos. Ou seja, o poder de auto-regulamentao particular leva, outrossim, ao poder de definio dos efeitos e conseqncias jurdicas dos atos praticados. Estabelece-se, por sua vez, um duplo significado de autonomia privada. De um lado, assume um significado positivo, vez que se concretiza atravs da atuao particular. De outro, a autonomia privada adquire um significado negativo, tendo em vista que se reflete na impossibilidade de outros particulares ou do Estado intervirem ou regularem relaes jurdicas privadas, salvo nos casos em que a necessida13
Karl Larenz, em sua obra Metodologia da Cincia do Direito, 3. ed., Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian, p. 576, diz que a autonomia privada funciona, tambm, como princpio informador do sistema jurdico, isto , como princpio aberto, no sentido de que no se apresenta como norma de direito, mas como idia diretriz ou justificadora da configurao e funcionamento do prprio sistema jurdico. 14 PRATA, Ana. A tutela constitucional da autonomia privada. Lisboa: Livraria Almedina, p. 11. 15 AMARAL, Francisco. Direito Civil Introduo. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, p. 328. 16 FERRI, Luigi. La Autonomia Privada. Madri: Editorial Revista de Derecho Privado, 1969, p. 38 17 AMARAL, Francisco. Direito Civil Introduo. 2. ed. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, p. 334.
41
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
de social, expressamente prevista em normas cogentes, assim o autorize. A par disso, no se deve considerar a autonomia privada como princpio irrestrito e ilimitado, uma vez que a prpria convivncia social impe aos indivduos restries a este poder jurdico. Sendo tais limitaes um pressuposto para a garantia do bem comum e da paz social, cabe ao direito a funo de corrigir e equilibrar o poder jurdico da autonomia privada, na tentativa de compatibilizar interesses econmicos e sociais conflitantes. Nesse sentido, a autonomia privada, em sua concepo moderna, assume o carter de poder reconhecido pelo ordenamento jurdico aos particulares, nos limites traados pela ordem jurdica. Tais limites consubstanciam-se na predominncia de determinadas regras jurdicas imperativas em relao vontade manifestada, bem como na impossibilidade de o poder privado regular certas matrias ou relaes, consideradas, por sua natureza, de interesse pblico. Em suma, a manifestao da vontade individual deixa de ser vista como uma realidade intangvel em razo da agregao de novos valores ao sistema jurdico de Direito Privado, os quais emergem dos direitos fundamentais previstos na Constituio Federal, em especial a preservao da dignidade da pessoa humana, e de novas normas jurdicas inseridas na legislao civil vigente. 4. EVOLUO HISTRICA DA CONCEPO DE AUTONOMIA PRIVADA E AUTONOMIA DA VONTADE E O PERFIL HISTRICO ATUAL A concepo do princpio da autonomia privada sofreu, ao longo da histria, uma significativa evoluo, de forma que uma sntese acerca das etapas desta transformao nos auxiliar para a compreenso do significado atual deste princpio no nosso sistema jurdico. Observe-se, contudo, que a concepo de autonomia privada reflexo, em suas origens, da prpria concepo de contrato, tendo em vista que este instituto jurdico representa a maior e mais complexa manifestao da liberdade privada individual. Ademais, no obstante se tratar de conceitos com abrangncias distintas, como se analisar no presente trabalho, a autonomia privada e a autonomia da vontade so formas de manifestao da vontade, e, por isso, possuem identificaes na evoluo histrica de suas acepes. No direito romano temos a lex privata como primeira forma de manifestao do ius civile. A lex era uma declarao solene com valor de norma jurdica, baseada em um acordo entre declarante e destinatrio. Denota-se, deste perodo, um extremado apego ao aspecto formal da manifestao da vontade.18 O cristianismo, ao colocar o homem no centro das reflexes de ordem religi18
MARQUES, Cludia Lima. Contratos no Cdigo de Defesa do Consumidor: o novo regime das relaes contratuais. 4 ed. rev., atual. e ampl. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 44.
42
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
osa, filosfica e social, vem, atravs do Direito Cannico, a consagrar a declarao da vontade como fonte de obrigaes jurdicas. Assim, para os canonistas, a palavra dada conscientemente criava uma obrigao de carter moral e jurdico para o indivduo.19 Da fase do direito cannico deriva, outrossim, a teoria dos vcios do consentimento, uma vez que a vontade manifestada, isenta de vcios, ensejava a proteo divina da obrigatoriedade dos contratos. Ou seja, somente a vontade puramente declarada continha uma fora vinculante defendida pelos cnones da igreja catlica. Com a escola de direito natural, a idia da origem divina do direito substituise pela das liberdades naturais, que se consideram fundamento e fim do direito. MIGUEL REALE nos ensina que luz do Direito Natural, especialmente devido s idias de Kant, a pessoa humana tornou-se um ente de razo, uma fonte fundamental do direito, pois atravs de seu agir, de sua vontade, que a expresso jurdica se realiza.20 As idias de Kant influenciaram sobremaneira a Alemanha poca da sistematizao do direito. Tais idias foram uma das bases da formao da Willenstheorie, fazendo com que a vontade interna, manifestada sem vcios, fosse considerada a verdadeira fonte do contrato.21 A liberdade individual, sob a denominao de autonomia da vontade, revela seu pice com a Revoluo Francesa em 1789 e com a posterior fase de liberalismo econmico reinante nos sculos XVIII e XIX. A burguesia industrial encontra nos contratos uma forma de satisfazer os seus objetivos econmicos, na medida em que eles proporcionam a circulao de bens e servios. Sob o dogma da vontade livre, o capitalismo burgus fez assentar que o indivduo , na sociedade, um ser essencialmente livre, que somente pode se vincular e no pode sofrer nenhuma outra constrio seno aquelas que ele mesmo reconhece ou as que a ordem jurdica excepcionalmente, e de forma limitada e vaga, lhe assinala.22 Decorre da um perodo marcado pela mnima interveno estatal nas relaes particulares, no se concebendo, como regra quase absoluta, a imposio de deveres jurdicos aos sujeitos de direitos na sua esfera particular. Consagrado pelo Cdigo de Napoleo (1804), o princpio da autonomia privada, entendido na sua acepo mais abrangente, passa a ser princpio informador do sistema jurdico de Direito Privado. Em conseqncia, efetiva-se o reconhecimento dos direitos subjetivos e garante-se ao contrato o status de norma jurdica
REALE, Miguel. Nova fase do direito moderno. So Paulo: Saraiva, 1990, p. 61. MARQUES, Cludia Lima. Contratos no Cdigo de Defesa do Consumidor: o novo regime das relaes contratuais. 4. ed. rev., atual. e ampl. So Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 44. 21 MARTINS - COSTA, Judith. A boa-f no direito privado: sistema e tpica no processo obrigacional. So Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 203. 22 PRATA, Ana. A tutela constitucional da autonomia privada. Lisboa: Livraria Almedina, p. 115.
20
19
43
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
disciplinadora de relaes particulares, partindo de uma construo jurdica notadamente individualista e voluntarista, circunscrita ao princpio da fora obrigatria dos contratos. Na mesma linha, o Cdigo Civil alemo de 1896 (BGB) garante ao indivduo o poder jurdico da autonomia privada, conferindo-lhe uma ampla margem de liberdade, tanto na esfera do direito contratual, quanto no campo do direito de propriedade. Com efeito, sob esta tica foi formulada a concepo clssica de contrato. O liberalismo econmico dos sculos passados nos trouxe a idia do contrato como instrumento destinado satisfao de interesses puramente individuais, que gera, por sua fora normativa prpria, um poder de vinculao quase absoluto. Essas caractersticas modelaram o contedo jurdico de legislaes de vrios pases, inclusive o nosso Cdigo Civil de 1916. O sculo XX foi marcado pela transformao do Estado Liberal em Estado Social. O liberalismo econmico, nitidamente individualista, gerou uma enorme crise social, fundada, essencialmente, na desigualdade econmica existente entre as classes. Aps a primeira guerra mundial, e, principalmente, com a Constituio de Weimar, surgem os chamados direitos sociais, como elemento identificador do Estado Social. Cria-se, desta forma, um novo modelo poltico-jurdico, baseado no dever do Estado em garantir a todos os seus cidados um mnimo de bens materiais e culturais, ou propiciando que eles possam obt-los pelo seu trabalho (direito ao trabalho, direitos dos trabalhadores, liberdade sindical, direito de greve, direito sade, direito assistncia social, limitaes propriedade, etc...).23 A partir de ento, notria a preocupao dos Estados em formular sistemas jurdicos constitucionais norteados no apenas pela igualdade formal (concepo de que todos os homens so iguais perante a lei), mas tambm na igualdade material ou substancial (consubstanciada na efetiva igualdade entre os cidados e na imposio de deveres ao Estado no sentido de proporcionar mecanismos e instrumentos para o alcance desta igualdade). Em decorrncia dos novos princpios e direitos constitucionais, na esfera contratual, o Estado passa a assumir uma posio intervencionista, protecionista e reguladora, o que se d principalmente atravs de normas que garantem a paridade entre as partes da relao jurdica e a preservao de condies mnimas de dignidade da pessoa humana, alm de combater a m-f, o lucro desproporcional, e o aproveitamento da situao de desigualdade por uma das partes contratantes. Nesse contexto, o moderno Direito Privado, em consonncia com as transformaes histricas mundiais, se caracteriza pela adoo de alguns paradigmas: o Direito Privado como garantia de acesso a bens, o Direito Privado como limite ao poder e o Direito Privado como proteo do indivduo.24
23
24
Estes paradigmas so sustentados por Ricardo Luiz Lorenzetti, na obra Fundamentos do Direito Privado, So Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998. NERY, Rosa Maria de Andrade. Noes preliminares de direito civil. So Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2002, p. 119.
44
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
No que concerne autonomia privada, o cenrio jurdico atual nos mostra que normas imperativas permeiam a liberdade contratual das partes, em virtude do interesse pblico a que visam resguardar. 25 Nesta realidade, vislumbra-se a superao da tradicional dicotomia entre o Direito Pblico e o Direito Privado, existente desde o direito romano e evidenciada no perodo de codificao oitocentista, em que se colocavam como ramos distintos e separados da cincia jurdica. O que se denota, portanto, a necessidade de se caracterizarem como ramos complementares do direito, cujas normas jurdicas se interpenetram.26 Na viso de PIETRO PERLINGIERI, retorna-se s origens do direito civil como direito dos cidados, titulares de direitos frente ao Estado. Neste enfoque, no existe contraposio entre privado e pblico, na medida em que o prprio direito civil faz parte de um ordenamento unitrio.27 5. AUTONOMIA DA VONTADE, AUTONOMIA PRIVADA E LIVRE INICIATIVA: SEUS SIGNIFICADOS DISTINTOS A autonomia da vontade, a autonomia privada e a livre iniciativa so termos inspirados no valor jurdico da liberdade, refletido na manifestao da vontade individual e na possibilidade de escolha dentre vrias alternativas possveis. Entretanto, apesar de muitos autores no atentarem para a diferenciao existente entre estas expresses, possvel identificar elementos peculiares de distino, inclusive no que diz respeito abrangncia e aplicabilidade dos conceitos. 5.1. AUTONOMIA DA VONTADE A expresso autonomia da vontade tem sua origem no pensamento filosfico de Kant e est relacionada vontade real do sujeito no exerccio de sua liberdade, sendo entendida como um dos desdobramentos do princpio da dignidade da pessoa humana. Partindo dos ensinamentos de LUIGI FERRI, constata-se que a autonomia da vontade possui uma conotao subjetiva ou psicolgica, na medida em que representa o querer interno do sujeito de direitos, ou seja, a sua real vontade.28
Segundo Maria Celina B. M. Tepedino, no artigo denominado A caminho de um direito civil constitucional, in Revista de Direito Civil, n.65, 1993, a separao do direito pblico e privado, nos termos em que era posta pela doutrina tradicional, h de ser abandonada. A partio, que sobrevive desde os romanos, no mais traduz a realidade econmico-social, nem corresponde lgica do sistema, tendo chegado o momento de empreender a sua reavaliao. 26 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil. trad. de Maria Cristina De Cicco, 1. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 55. 27 FERRI, Luigi. La Autonomia Privata. Madri: Editorial Revista de Derecho Privado, 1969, p. 3-6. 28 NERY, Rosa Maria de Andrade. Noes preliminares de direito civil. So Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2002, p. 115-116.
25
45
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
Nesta viso, a autonomia da vontade faz surgir um princpio de coerncia entre a vontade interna e a vontade manifestada. O querer interno do sujeito de direito deve corresponder ao querer declarado, o que justifica a adoo da teoria dos vcios do consentimento pela teoria geral do Direito Privado, como forma de invalidao de ato ou negcio jurdico. 29 A autonomia da vontade possui um contedo nitidamente voluntarista, trazendo para a prpria manifestao da vontade a causa da produo de efeitos jurdicos.30 Nesse sentido, MISSES E HAYEK dizem que o contrato em si mesmo tem uma funo de ordenamento social, sobretudo no contexto de uma economia liberal. As partes sabem o que que lhes convm, e deve-se deix-las agir livremente porque dessa atuao desordenada, catica, se desenvolver a ordem social mais eficiente. 31 5.2. AUTONOMIA PRIVADA Em conformidade com o que foi analisado anteriormente ao tratarmos dos princpios informadores do Direito Privado, tem-se que a autonomia privada o poder jurdico normativo conferido s partes para auto-regulamentar as suas relaes jurdicas particulares, desde que obedecidos os limites impostos pela lei. Em outras palavras, a expresso autonomia privada deve ser utilizada significando o poder atribudo por lei aos indivduos para a criao de normas jurdicas capazes de definir o contedo e os efeitos do ato praticado. De outra parte, ANA PRATA diz que em uma perspectiva ampla, a autonomia privada se desdobra em dois aspectos essenciais: direito subjetivo e liberdade negocial. Porm, comumente se faz coincidir a autonomia privada com o segundo aspecto referido, isto , se tomam como sinnimos a autonomia privada e a liberdade negocial.32 Constata-se, pois, a partir da autonomia privada, a existncia de uma esfera de atuao do sujeito no mbito do Direito Privado. Nestes termos, concedido ao particular, enquanto legislador de seus prprios interesses, um espao para o exerccio de sua atividade jurdica.33 Tal anlise serve para mostrarmos que a autonomia privada princpio especfico de Direito Privado, com atuao primordial na esfera do Direito obrigacional, em especial no campo dos negcios jurdicos, dos quais o contrato seu maior
Segundo Roberto Senise Lisboa, a teoria voluntarista aquela segundo a qual a vontade humana o fundamento das obrigaes contratuais (Manual elementar de direito civil, 2. ed. rev. e atual. em conformidade com o Novo Cdigo Civil, So Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 38) 30 Apud Lorenzetti, Ricardo Luiz. Fundamentos do Direito Privado. So Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 544. 31 PRATA, Ana. A tutela constitucional da autonomia privada. Lisboa: Livraria Almedina, p. 15-16. 32 AMARAL, Francisco. Direito Civil Introduo. 2. ed. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, p. 337. 33 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introduo ao Estudo do Direito - tcnica, deciso, dominao. So Paulo: Atlas, 1988, p. 222.
29
46
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
exemplo. Por meio do contrato, se torna possvel a concretizao do poder jurdico de normatizar relaes jurdicas, estabelecendo o contedo e os efeitos desejados pelo sujeito. O fenmeno de criao de normas jurdicas destinadas a produzir efeitos escolhidos pelos sujeitos participantes do negcio jurdico no constatado, todavia, nos atos jurdicos em sentido estrito. Em se considerando que tais atos possuem seus efeitos previamente estabelecidos na lei, tem-se que a manifestao da vontade apta to somente a definir pela prtica do ato, no havendo qualquer liberdade na disposio do seu contedo e de suas conseqncias. A ttulo de ilustrao, temos o ato de reconhecimento de filho previsto no art. 1.607 do Cdigo Civil de 2002, em que h uma opo pela prtica do ato, cujos efeitos encontram-se previamente dispostos na lei. Apesar de o princpio da autonomia privada possuir uma maior aplicabilidade no Direito das obrigaes, ele se manifesta tambm em outras reas do Direito privado, ainda de forma muito mais restrita. De fato, temos no Direito de famlia a possibilidade, em determinados atos de natureza patrimonial, de as partes manifestarem uma certa margem de liberdade de estipulao. o que ocorre, por exemplo, na celebrao do pacto antinupcial pelos futuros cnjuges. Ainda, no Direito das Sucesses, o testador estabelece normas sobre a destinao do seu patrimnio, a despeito de estar vinculado ao cumprimento de formalidades legais e haver limitaes ao seu poder de testar. Neste passo, evidente o papel normativo dos atos de autonomia privada. Em conseqncia, as leis criadas pelos particulares assumem a feio de fonte do direito. A este respeito, TRCIO SAMPAIO FERRAZ entende que se tomarmos a expresso fonte do direito no sentido de fonte de emanao de normas tanto gerais, como individuais, as denominadas fontes negociais so fontes do direito como quaisquer outras.34 Feitas tais consideraes, nos resta analisar a origem de tal poder jurdico, de forma que existem controvrsias no sentido de ser a autonomia privada um poder oriundo da pura manifestao da vontade ou, em sentido oposto, de ser fruto da concesso do poder estatal atravs do ordenamento jurdico. Em outras palavras, referida anlise consiste em sabermos se o ordenamento jurdico reconhece a natural existncia da autonomia privada ou, sendo ela criada pela lei, a concede aos particulares. Nos fundamentos filosficos, assinalaram-se as seguintes formas de ver o problema: a soberania da vontade um princpio de Direito natural, anterior inclusive organizao do Estado ou, contrariamente, no h uma soberania pr-estatal, mas uma delegao do Estado autonomia privada.35
34 35
LORENZETTI, Ricardo Luiz. Fundamentos do Direito Privado. So Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 544. ASCENO, Jos de Oliveira. Teoria Geral do Direito Civil. v. III, Lisboa, 1992, p. 40-42.
47
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
Discorrendo sobre tal problemtica, JOS DE OLIVEIRA ASCENO nos relata que para Savigny h um papel passivo da ordem jurdica em relao vontade, enquanto que para Windscheid o decisivo no o querer do homem, mas a lei que dota o negcio de eficcia jurdica. Ao final, o autor revela a opinio de que o poder em que se cifra a autonomia, no sendo soberano, ter de ser reconhecido por um ordenamento superior. Assim, a autonomia privada o poder que tm os particulares de se dar um ordenamento, reconhecido por um ordenamento jurdico superior. 36 Nessa tica, melhor entendermos que a autonomia privada, enquanto poder, no possui os atributos da independncia absoluta e da originalidade e, por tal razo, as normas negociais no so absolutamente autnomas e independentes. Isto se deve ao fato de as normas negociais terem seu fundamento de validade nas normas legais. Assim, o negcio jurdico, como fonte normativa, est subordinado a um ordenamento jurdico superior.37 Podemos dizer, por conseguinte, que a autonomia privada, no sendo poder originrio, deve ser exercida nos limites estabelecidos pela lei. A livre manifestao da vontade permanece como regra, porm, compete ao Estado, atravs das funes legislativas e jurisdicionais, direcionar e intervir em relaes jurdicas contrrias a interesses sociais e de ordem pblica. , sem dvida, nesta diretriz que se enquadra o significado atual da autonomia privada no nosso sistema jurdico.38 Diante de tais consideraes, conclumos que as partes ao celebrarem o negcio jurdico possuem a liberdade de escolher os efeitos que pretendem produzir. Porm, a validade do ato negocial decorre da margem de liberdade concedida pela lei aos particulares para a auto-regulamentao de seus interesses e est subordinada aos limites legais estabelecidos. De toda a sorte, as normas de interveno da autonomia privada somente se justificam se considerarmos que no h uma soberania pr-estatal da autonomia privada, mas sim uma delegao do Estado aos particulares. 5.3. LIVRE INICIATIVA Ao tratarmos da autonomia privada, analisamos a conotao jurdica dessa expresso, inserindo-a dentre os princpios informadores do sistema jurdico de
36 37
FERRI, Luigi. La Autonomia Privada. Madri: Editorial Revista de Derecho Privado, 1969, p. 84. Tal panorama demonstrado claramente no nosso sistema jurdico por algumas legislaes: Lei 8.009/90 (que institui a impenhorabilidade do bem de famlia no intuito de proteger a moradia da famlia), pela Lei 8.078/90 (Cdigo de Defesa do Consumidor) e a incluso no Cdigo Civil de 2002 dos institutos da leso (art. 157), dos princpios da funo social do contrato (art. 421), da funo social da propriedade (art. 1.228, pargrafo 1), da boa-f objetiva (art. 422) e da resoluo do contrato por onerosidade excessiva (art. 478). 38 Na CF/88, a livre iniciativa encontra-se expressamente referida no art.1, inciso IV, como um dos fundamentos da Repblica Federativa do Brasil. Ademais, assim estabelece o pargrafo nico do art. 170 do nosso texto constitucional: Art. 170: A ordem econmica, fundada na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existncia digna, conforme os ditames da justia social, observados os seguintes princpios: (....) Pargrafo nico assegurado a todos o livre exerccio de qualquer atividade econmica, independentemente de autorizao de rgos pblicos, salvo nos casos previstos em lei.
48
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
Direito Privado. No h que se fazer, contudo, a mesma insero livre iniciativa, dado o aspecto econmico refletido nesta terminologia. luz da economia, a autonomia privada traduzida pela livre iniciativa. Ou seja, a liberdade individual, evidenciada no poder jurdico normativo dos particulares de reger seus prprios interesses, se manifesta no plano econmico atravs da livre iniciativa. Nesta ordem de idias, a livre iniciativa o poder consubstanciado na possibilidade de os particulares disciplinarem e definirem a sua atividade econmica, ou, em outras palavras, o livre exerccio da atividade econmica pelos particulares. No obstante o prisma econmico da livre iniciativa, certo que o exerccio da atividade econmica se faz atravs do instituto jurdico dos contratos. Na verdade, o contrato cumpre uma funo econmica, uma vez que instrumento necessrio para a regulao das atividades econmicas de produo, comercializao e consumo. De outra parte, inspirada na doutrina de Adam Smith e consagrada durante o perodo do liberalismo econmico do sculo XIX, a livre iniciativa , no nosso sistema constitucional, um dos fundamentos da Repblica Federativa do Brasil e um princpio geral da atividade econmica.39 Note-se, contudo, que o atual sistema econmico constitucional confere livre iniciativa um significado diverso daquele empregado no perodo individualista liberal, em que se preconizava a mnima interveno estatal nas relaes econmicas. Com a instituio do Estado Social, fundado nos direitos sociais e nos princpios de justia social e igualdade material, a economia passa a ser vista pela ordem jurdica sob o prisma da solidariedade social, se tornando necessria e obrigatria a interveno do Estado na ordem econmica para a concretizao destes dogmas. 40 Nesta realidade, a ordem constitucional do Estado Social estabelece princpios gerais com reflexos econmicos, alm de princpios especficos reguladores da atividade econmica. Concomitantemente, garante ao Estado a possibilidade de explorar diretamente a economia e de fiscalizar o seu exerccio pelos particulares.41
Segundo Eduardo Teixeira Farah, a diretriz da solidariedade social impe seja observado em toda e qualquer atividade empresarial um mnimo de racionalidade econmica, pois no haver justia econmica e pleno desenvolvimento se no for garantido um mnimo de equilbrio material no campo das relaes econmicas da sociedade. (Disciplina da empresa e princpio da solidariedade social: In A reconstruo do direito privado: reflexos dos princpios, diretrizes e direitos fundamentais constitucionais no direito privado. Org. Judith MartinsCosta. So Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2002, p. 679) 40 Referindo-se aos princpios constitucionais de ordem econmica, Joo Bosco Leopoldino da Fonseca diz que o Estado assumiu o encargo de promover o desenvolvimento nacional, quer atuando no domnio econmico, quer intervindo indiretamente. (Direito Econmico. 4. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 84.) 41 FONSECA, Joo Bosco Leopoldino da Fonseca. Direito Econmico. 4. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 87-95.
39
49
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
, pois, justamente neste contexto que se insere a Constituio Federal de 1988. Logo em seu art. 1, o nosso texto constitucional diz que so fundamentos da Repblica Federativa do Brasil: a soberania (inciso I), a cidadania (inciso II), a dignidade da pessoa humana (inciso III) e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (inciso IV). Sem dvida, tais princpios devem nortear todos os segmentos da atividade brasileira, inclusive o econmico. Posteriormente, no art. 3, esto dispostos os objetivos fundamentais da Repblica Federativa do Brasil: a construo de uma sociedade livre, justa e solidria (inciso I), a garantia do desenvolvimento nacional (inciso II), a erradicao da pobreza, da marginalizao e das desigualdades sociais e regionais (inciso III) e a promoo do bem de todos, sem preconceitos de raa, sexo, idade e quaisquer formas de discriminao (inciso IV). Ainda, nos art. 5 e 6, esto previstos os direitos individuais, coletivos e sociais. Por sua vez, o art. 170 da nossa Constituio traa a estrutura geral do ordenamento jurdico econmico, com fundamento na valorizao do trabalho humano e na livre iniciativa. Ademais, estabelece alguns princpios reguladores da atividade econmica: soberania nacional, propriedade privada, funo social da propriedade, livre concorrncia, proteo do consumidor, defesa do meio ambiente, reduo das desigualdades regionais e sociais, dentre outros.42 Ressalte-se, finalmente, que o art. 174 confere ao Estado o papel de agente normativo e regulador da atividade econmica, atravs do exerccio das atividades de fiscalizao, de incentivo e de planejamento. Todos estes preceitos constitucionais demonstram a realidade de um Estado intervencionista, tendente a regular e direcionar, no plano econmico, o exerccio da livre iniciativa.43 O intervencionismo estatal se faz atravs do exerccio das suas funes tpicas. Assim, ao Poder Executivo cabe tomar medidas polticas de direo econmica e fiscalizao. Toma-se, como exemplo, a criao das agncias reguladoras de setores econmicos. Ao Poder Legislativo compete a realizao de normas destinadas a intervir na liberdade de mercado e proteger setores menos privilegiados. A ttulo de ilustrao, temos o Cdigo de Defesa do Consumidor, como um microsistema de proteo e imposio de deveres de conduta, e o Cdigo Civil de 2002, que inseriu no novo texto os princpios da funo social do contrato (art. 421), da funo social da propriedade (art. 1.228, pargrafo 1) e da boa-f objetiva (art. 422). Por fim, ao Judicirio resta a tarefa de aplicar a lei a caso concreto, no intuito
Neste sentido, Pietro Perlingieri esclarece: O Estado tem a tafera de intervir e de programar na medida em que realiza os interesses existenciais e individuais, de maneira que a realizao deles , ao mesmo tempo, fundamento e justificao da sua interveno. (Perfis do Direito Civil, trad. De Maria Cristina De Cicco, 1. ed. rev. e ampl., Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 54). 43 FARAH, Eduardo Teixeira. Disciplina da empresa e princpio da solidariedade socia. In: A reconstruo do direito privado: reflexos dos princpios, diretrizes e direitos fundamentais constitucionais no direito privado. Org. Judith Martins-Costa. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 709.
42
50
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
de corrigir as distores das relaes econmicas e restabelecer o equilbrio entre as partes, o que se faz, por exemplo, atravs da reviso contratual. Todas as diretrizes apontadas evidenciam que a funo atual do Direito Privado, notadamente no segmento do Direito contratual, consiste em subordinar o ambiente econmico ordem econmica constitucional.44 Em ltima anlise, o sistema normativo constitucional e legal deve funcionar como instrumento diretivo da atividade econmica, o que nos faz concluir, que o Direito e a Economia no so segmentos distintos. A validade da atuao econmica depende necessariamente da sua congruncia com o Direito, apesar de tal realidade no se verificar em muitas das prticas comerciais e de consumo. 6. LIBERDADE CONTRATUAL Como j nos referimos, a autonomia privada princpio geral do Direito Privado, com manifestao em diversos segmentos. Sem dvida, a manifestao da autonomia privada se d em uma maior escala nos negcios jurdicos bilaterais, ou seja, nos contratos. Sendo assim, pode-se dizer que a liberdade contratual um reflexo da autonomia privada no ramo especfico do Direito contratual. Neste momento, mostra-se oportuno destacar os ensinamentos de ORLANDO GOMES. Utilizando-se da expresso liberdade de contratar, o doutrinador a conceitua como o poder dos indivduos de suscitar, mediante declarao da vontade, efeitos reconhecidos e tutelados pela ordem jurdica. Mais adiante, ele constata que o referido poder abrange trs poderes especficos, a saber: poder de auto-regncia de interesses, de livre discusso das condies contratuais e, por fim, de escolha do tipo de contrato conveniente atuao da vontade.45 Logo, a liberdade contratual possui uma menor abrangncia em relao autonomia privada por se traduzir em princpio particular do Direito contratual. Por sua vez, pode ser entendida como uma forma de garantir a eficcia do princpio da autonomia privada no mbito dos contratos atravs de poderes conferidos s partes contratantes na celebrao do pacto. 7. A AUTONOMIA PRIVADA ALIADA AOS NOVOS VALORES DO CDIGO CIVIL DE 2002 No decorrer do presente trabalho, por diversas vezes, nos reportamos aos novos princpios do Cdigo Civil de 2002, analisando-os sob a perspectiva histrica em que se inserem, estabelecendo a conexo existente entre eles e os direitos e princpios constitucionais vigentes, e definindo a funo que desempenham no atu-
GOMES, Orlando. Contratos. Atual. e notas de Humberto Theodoro Jnior. Rio de Janeiro: Forense, 1994, p. 22. MARQUES, Cludia Lima. Contratos no Cdigo de Defesa do Consumidor: o novo regime das relaes contratuais. 4. ed. rev., atual. e ampl. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 39.
45
44
51
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
al contexto do Direito Privado. Entretanto, devido a sua elevada importncia para a compreenso da autonomia privada, tentaremos, em uma breve anlise, discorrer sobre a aplicao de tais princpios no nosso sistema jurdico. Antes, porm, devemos dizer que na sistemtica do novo Cdigo, os contratos, como fruto da autonomia privada, deixaram de ser um espao reservado e protegido pelo Direito para a livre e soberana manifestao da vontade, para ser um instrumento jurdico mais social, controlado e submetido a uma srie de normas cogentes.46 O novo Cdigo altera substancialmente a concepo clssica de contrato, a qual foi trazida pelo legislador de 1916, sob a influncia do liberalismo do sculo XIX, em que se estabeleceu o imperativo da liberdade individual e o dogma mximo da autonomia da vontade. Com isso, a nova legislao civil, em consonncia com a ordem constitucional vigente, revela uma flexibilizao ao princpio da fora obrigatria dos contratos.47 Neste contexto, o Estado assume uma posio intervencionista em face da atuao particular, no intuito de preservar os interesses sociais e de ordem pblica. Na esfera contratual, o intervencionismo estatal se faz atravs das limitaes autonomia privada, que formam, em seu conjunto, medidas de dirigismo contratual. , portanto, o dirigismo contratual a interveno estatal nos negcios jurdicos, por meio de normas jurdicas restritivas e da reviso judicial dos contratos.48 O Cdigo Civil de 2002, ao estabelecer a funo social do contrato como limite autonomia privada (art 421), a boa-f objetiva a ser observada pelas partes na contratao (art. 422) e a funo social a ser desempenhada pela propriedade, (art. 1.228, pargrafo nico), adere, de forma concreta, sistemtica do dirigismo contratual. Trata-se de normas de contedo principiolgico, cuja funo dirigir e regular a manifestao da vontade particular, ao mesmo tempo em que conferem poderes ao Estado, atravs do Poder Judicirio, de intervir nas relaes privadas, no intuito de adequ-las aos ditames legais. Assim sendo, a funo social do contrato, a funo social da propriedade e a boa-f objetiva assumem a posio de verdadeiras clusulas gerais, assim entendidas como normas orientadoras que autorizam o juiz a adequar os valores por elas protegidos ao caso concreto, na busca da melhor soluo para o conflito de inte46
Esta realidade j se verificava anteriormente ao Cdigo Civil de 2002 em algumas legislaes, como o Cdigo de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). 47 Explica Maria Helena Diniz: A expresso dirigismo contratual aplicvel s medidas restritivas estatais que invocam a supremacia dos interesses coletivos sobre os meros interesses individuais dos contraentes, com o escopo de dar execuo poltica do Estado de coordenar os vrios setores da vida econmica e de proteger os economicamente mais fracos, sacrificando benefcios particulares em prol da coletividade, mas sempre conciliando os interesses das partes e os da sociedade. (Curso de direito civil brasileiro, v. 3: teoria das obrigaes contratuais e extracontratuais. 18. ed. rev. e atual. de acordo com o novo Cdigo Civil. So Paulo: Saraiva, 2003, p. 34.) 48 NERY JUNIOR, Nelson. Contratos no Cdigo Civil. Apontamentos Gerais. In: O novo Cdigo Civil: Estudos em homenagem ao professor Miguel Reale. Ives Gandra da Silva Martins Filho, Gilmar Ferreira Mendes, Domingos Franciulli Netto, coordenadores. So Paulo: LTR, 2003, p. 398.
52
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
resses. Em outras palavras, tais normas contm princpios gerais de direito, os quais devem ser aplicados pelo juiz atravs de um processo de instrumentalizao, em que valores abstratos passam a disciplinar, de forma concreta, as relaes particulares. Resta claro, ainda, que tais clusulas gerais possuem a natureza de ordem pblica e devem ser aplicadas de ofcio pelo juiz. Conforme as palavras de NELSON NERY, A clusula geral norma de ordem pblica e deve ser aplicada de ofcio pelo juiz. Com essa aplicao de ofcio, no se coloca o problema de deciso incongruente com o pedido (extra, ultra ou infra petita), pois o juiz, desde que haja processo em curso, no depende da parte para aplic-la a uma determinada situao. Cabe ao juiz, no caso concreto, preencher o contedo da clusula geral, dando-lhe a conseqncia que a situao concreta reclamar.49 No mbito da autonomia privada, a nova legislao civil, atravs das clusulas gerais, privilegia aspectos concretos da manifestao da vontade, em prejuzo do carter puramente formal do contrato. Ou seja, o contrato deixa de ser uma realidade perfeita e impossvel de sofrer alteraes no seu contedo, passando a ser analisado a partir de circunstncias pessoais e fatos concretos influenciadores da vontade manifestada. Sobre as clusulas gerais, JUDITH MARTINS-COSTA diz que so estes conceitos que permitiro ao aplicador da lei visualizar a pessoa concreta em suas concretas circunstncias, descendo, ento, do plano das abstraes ao terreno rico e multiforme do concreto, pois o mtodo da concreo apto para revelar a existncia da diversidade entre fases de que composto, dinamicamente, o iter obrigacional, permitindo assim que a diversidade material que esteja eventualmente na sua base conduza adoo da tutela jurdica adequada situao.50 No mesmo sentido, a brilhante viso de CLVIS DO COUTO SILVA: O Cdigo Civil, como Cdigo central, mais amplo que os cdigos civis tradicionais. que a linguagem outra, e nela se contm clusulas gerais, um convite para uma atividade judicial mais criadora, destinada a complementar o corpus juris vigente com novos princpios e normas. E, nesse sentido, o Cdigo Civil adquire progressivamente maiores dimenses do que os cdigos que tm a pretenso, sempre impossvel de ser atingida, de encerrar em sua disposio o universo do Direito.51 Nessa ordem de idias, vale ressaltar, por outro lado, a inovao trazida pelo Cdigo Civil de 2002, consistente na resoluo do contrato por onerosidade excesMARTINS - COSTA, Judith. Comentrios ao novo Cdigo civil, volume V, tomo I: do direito das obrigaes, do adimplemento e da extino das obrigaes. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 09. SILVA, Clvis Verssimo do Couto e. O Direito Privado brasileiro na viso de Clvis do Couto e Silva. Org. Vera Maria Jacob de Fradera. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, p. 31. 51 Importa destacar o art. 479, que prev uma alternativa para que no haja a resoluo por onerosidade excessiva e o art. 480 do CC/02, o qual estabelece a possibilidade de reviso contratual a fim de evitar a referida onerosidade: Art. 479: A resoluo poder ser evitada, oferecendo-se o ru a modificar eqitativamente as condies do contrato. Art. 480: Se no contrato as obrigaes couberem a apenas uma das partes, poder ela pleitear que a sua prestao seja reduzida, ou alterado o modo de execut-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva.
50 49
53
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
siva. Com previso no art. 478, o dispositivo admite a resoluo do contrato, em casos de execuo continuada ou diferida, se a prestao se tornar excessivamente onerosa para uma das partes ou com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinrios e imprevisveis. , pois, uma outra demonstrao de que o legislador considerou a possibilidade de fatos externos e circunstncias materiais concretas influenciarem na formao do contrato, a ponto de permitir a resoluo e a reviso contratual.52 De toda a sorte, vemos que o Direito Civil passa a adotar uma funo econmico-social, de forma a legitimar a interveno estatal nas relaes privadas, atravs do mecanismo judicial de reviso contratual. O aumento do nmero de normas de ordem pblica e de contedo limitativo da autonomia privada tem por objetivo a promoo da igualdade material e por conseqncia leva concretizao de uma economia mais dirigida e regulada. Em ltima anlise, o Direito Civil atual parte dos valores inseridos no novo Cdigo e dos princpios constitucionais de ordem civil para limitar o excesso de concentrao de renda e os abusos decorrentes do uso indevido de poder econmico. Esta foi a frmula adotada pelo legislador para a garantia das condies mnimas de dignidade da pessoa humana, sem deixar de preservar, de outro lado, a livre manifestao da vontade e o exerccio da autonomia privada. 8. CONCLUSO A anlise feita neste trabalho consistiu no apenas em diferenciar o contedo das expresses autonomia da vontade, autonomia privada e livre iniciativa, mas tambm foram bucados, de forma sinttica, o significado e a abrangncia do tema no contexto do Direito Privado contemporneo. O sistema jurdico atual tem como eixo central o princpio da dignidade da pessoa humana. Diante disso, a manifestao da vontade particular, tanto sob o prisma do Direito Privado, quanto sob a tica econmica, deve caminhar concomitantemente com este princpio. Ou seja, as relaes privadas devem pautar-se na concretizao do princpio da dignidade da pessoa humana. Com efeito, apesar das crescentes limitaes e restries, a autonomia privada continua sendo princpio fundamental do Direito Privado, e, para tanto, no podemos deixar de observar a sua elevada importncia dentro de qualquer sistema jurdico. Porm, constata-se a tendncia atual do legislador em elaborar um nmero cada vez maior de normas de ordem pblica representativas de medidas jurdicas de dirigismo contratual, na tentativa de buscar melhores condies de igualdade material e equilbrio social. Nesta perspectiva, o Direito Civil vigente se mostra mais flexvel e adaptvel
REALE, Miguel. O projeto do novo cdigo civil: situao aps a aprovao pelo Senado Federal. 2. ed. reform. e atual. So Paulo: Saraiva, 1999, p. 179.
52
54
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
s realidades sociais. O antigo apego clusula rebus sic stantibus cede lugar funo social e tica a ser exercida pelo Direito. Com muita preciso, MIGUEL REALE nos atenta para esta nova realidade do nosso ordenamento civil: Tendo como fulcro fundamental o valor da pessoa humana como fonte de todos os valores, houve uma mudana, da maior importncia. O novo Cdigo abandonou o formalismo tcnico-jurdico, superado, prprio do individualismo da metade do sculo, para assumir um sentido mais aberto e compreensivo, sobretudo numa poca em que os meios de informao so muito mais poderosos. 53 Em suma, a manifestao da vontade no Direito Privado est circunscrita a valores ticos (boa-f objetiva) e sociais (funo social do contrato e da propriedade) no plano da legislao civil ordinria e constitucional. Forma-se um sistema jurdico composto por princpios gerais de direito e harmonizador da esfera pblica e privada. A par de todas as consideraes realizadas, necessrio que todos estes valores e princpios reguladores da manifestao da vontade passem a orientar as partes no momento da celebrao do contrato e sejam amplamente reconhecidos pela jurisprudncia. A conjugao entre a finalidade tico-social do novo ordenamento jurdico positivo e a prtica jurdica essencial para a consagrao dos novos valores em uma sociedade acostumada com a concepo individualista do Cdigo anterior. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS ALVES, Glucia Correa Retamozo Barcelos. A reconstruo do direito privado: reflexos dos princpios, diretrizes e direitos fundamentais constitucionais no direito privado. Org. Judith Martins-Costa. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. AMARAL, Francisco. Direito Civil Introduo. 2. ed. Rio de Janeiro: Ed. Renovar. ASCENO, Jos de Oliveira. Teoria Geral do Direito Civil. v. III, Lisboa, 1992. BRUTAU, Jos Puig, Fundamentos de Derecho Civil, Teoria Preliminar Introduccin al Derecho, Princpios generales del Derecho, Barcelona: Bosch Casa Editorial, S.A., 1989. CUNHA, Alexandre dos Santos. Dignidade da Pessoa Humana: conceito fundamental de Direito Civil. In: A Reconstruo do Direito Privado: reflexos dos princpios, diretrizes e direitos fundamentais constitucionais no direito privado. Org. Judith Martins Costa. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.
55
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, v. 3: teoria das obrigaes contratuais e extracontratuais. 18. ed. rev. e atual. de acordo com o novo Cdigo Civil. So Paulo: Saraiva, 2003. FARAH, Eduardo Teixeira. Disciplina da empresa e princpio da solidariedade social. In: A reconstruo do direito privado: reflexos dos princpios, diretrizes e direitos fundamentais constitucionais no direito privado. Org. Judith MartinsCosta. So Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2002. FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introduo ao Estudo do Direito - tcnica, deciso, dominao. So Paulo: Atlas, 1988. FERRI, Luigi. La Autonomia Privada. Madri: Editorial Revista de Derecho Privado, 1969. FONSECA, Joo Bosco Leopoldino. Direito Econmico. 4. ed. rev. e atual.. Rio de Janeiro: Forense, 2002. GOMES, Orlando. Contratos. Atual. e notas de Humberto Theodoro Jnior. Rio de Janeiro: Forense, 1994. HERVADA, Javier. Introduccion Critica al Derecho Natural. 9. ed. Navarra: Universidad de Navarra, S.A., 1981. LARENZ, Karl. Metodologia da Cincia do Direito. 3. ed. Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian. LINS, Carlos Francisco B. R. Bandeira. Breves reflexes acerca do bem comum. Revista Justitia, ano XXXVIII, 4 trimestre de 1976, vol. 95, p. 55-64. LISBOA, Roberto Senise. Manual elementar de direito civil. 2. ed. rev. e atual. em conformidade com o Novo Cdigo Civil. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. LORENZETTI, Ricardo Luiz. Fundamentos do Direito Privado. So Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. MARQUES, Cludia Lima. Contratos no Cdigo de Defesa do Consumidor: o novo regime das relaes contratuais. 4. ed. rev., atual. e ampl. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.
56
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
MARTINS - COSTA, Judith. A boa-f no direito privado: sistema e tpica no processo obrigacional. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. _______________ Comentrios ao novo Cdigo civil, volume V, tomo I: do direito das obrigaes, do adimplemento e da extino das obrigaes. Rio de Janeiro: Forense, 2003. MENDONA, Jacy. O curso de Filosofia do Direito do Professor Armando Cmara. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1999. MORAES, Walter. Concepo Tomista de Pessoa. Revista dos Tribunais, v. 590, p. 14-23, dezembro de 1994. NERY JUNIOR, Nelson. Contratos no Cdigo Civil. Apontamentos Gerais. In: O novo Cdigo Civil: Estudos em homenagem ao professor Miguel Reale. Ives Gandra da Silva Martins Filho, Gilmar Ferreira Mendes, Domingos Franciulli Netto, coordenadores. So Paulo: LTR, 2003. NERY, Rosa Maria de Andrade. Noes preliminares de direito civil. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. OPPO, Giorgio. Sui Principi Generali Del Diritto Privato. Revista de Diritto Civille, ano XXXVII, n. 1. , 1991, p. 475. PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil. trad. de Maria Cristina De Cicco. 1 ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. PRATA, Ana. A tutela constitucional da autonomia privada. Lisboa: Livraria Almedina, REALE, Miguel. Nova fase do direito moderno. So Paulo: Saraiva, 1990. __________________ O projeto do novo cdigo civil: situao aps a aprovao pelo Senado Federal. 2. ed. reform. e atual. So Paulo: Saraiva, 1.999. SILVA, Clvis Verssimo do Couto e. O Direito Privado brasileiro na viso de Clvis do Couto e Silva. Org. Vera Maria Jacob de Fradera. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. TEPEDINO, Maria Celina. A caminho de um direito civil constitucional. In: Revista de Direito Civil, n. 65, 1993.
57
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
58
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
CARACTERIZAO JURDICO-AMBIENTAL CARACTERIZAO JURDICO-AMBIENTAL DO BAIRRO SO BENTO, JUNDIA-SP Eugnio Duarte Vieira Jnior* Rogrio Stacciarini**
I. INTRODUO 1.1. FUNDAMENTOS A devastao ambiental no marca exclusiva de nossos dias. Apenas a percepo jurdica deste fenmeno at como conseqncia de um bem jurdico novo, denominado meio ambiente de explicitao recente. A proteo do meio ambiente, desde os mais remotos tempos, vem sendo objeto de preocupao de todos os povos, valendo lembrar, a ttulo de ilustrao, que noes precursoras sobre biodiversidade e conservao das espcies animais podem ser encontradas no Gnesis. O Deuteronmio j proibia o corte de rvores frutferas, mesmo em caso de guerra, com pena de aoite para os infratores (MILAR, 2001: 94). De acordo com TUCCI et al. (2000; 27) o homem, desde a sua origem, convive com as condies naturais do planeta, tanto no seu uso como na sua sobrevivncia. Filsofos gregos tentaram erroneamente explicar o ciclo hidrolgico; apenas Marcus Vitruvius Pollio, 100 a.C, apresentou conceitos prximos do entendimento atual do ciclo hidrolgico. Admitia-se que o mar alimentava os rios atravs do subsolo. At no incio deste sculo ainda existiam pessoas que questionavam o conceito moderno do ciclo hidrolgico. Em 1950, a populao estimada no planeta era de 2,5 bilhes, que, segundo projees, atingir mais de 8 bilhes no ano de 2025, no havendo dvida de que a populao ser um dos maiores fatores de degradao do meio ambiente. (FIORILLO, 2002: 03). STACCIARINI (2002), argumenta e estabelece uma discusso entre as competncias municipais e a preservao ambiental (sob a tica dos recursos hdricos), para o contexto de rea municipal junto ao Estado de So Paulo e preceitos da Lei 9.433/97, discutindo a exeqibilidade e real papel a que se cumpre o Plano Diretor Municipal e formas de uso e ocupao do solo, simulando uma proposta de gesto dos recursos hdricos.
*
Graduando em Direito pelo Centro Universitrio Padre Anchieta, Especializao em Administrao Rural pela EAESP-FGV (Gvpec),Tcnico em Administrao Rural e Recursos Hdricos pela ETE Benedito Storani e Tcnico em Agrimensura pela ETEVAV, Consultor em Administrao Rural, Rua Nicola Rivelli, 42, Vila Bela, Jundia-SP, CEP 13209-620, fone: (11) 4586-3883, e-mail: piu_saobento@hotmail.com. ** Engenheiro Civil, Mestre e Doutor em gua e Solo pela FEAGRI/UNICAMP, Coordenador e Professor do Curso Tcnico em Recursos Hdricos da ETE Benedito Storani do Centro Paula Souza. Consultor na rea de Planejamento e Gesto de Recursos Hdricos, e-mail: rogeriostacciarini@hotmail.com.
59
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
A legislao brasileira deve ser interpretada e readequada, se for o caso, para melhor favorecer a aplicao dos instrumentos vigentes para qualificao do processo de proteo de reas ambientais de interesse e articulao com a atual escala de referncia fsico-territorial denominada Bacias Hidrogrficas, combinando-se as formas de desenvolvimento nas reas municipais e formas de urbanizaao. A cincia tem cumprido o seu papel no que tange tecnologia e mecanismos de interveno prtica e operacional no planejamento e gesto do meio ambiente e recursos hdricos. Vale ressaltar os avanos observados no geoprocessamento, biologia e infra-estrutura para caracterizao analtica das guas. 1.2. DIREITO BRASILEIRO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HDRICOS A palavra direito no usada com sentido nico. Pelo contrrio, comumente empregada em vrios sentidos. O vocbulo deriva-se do latim directum, encontrando-se a mesma raiz em rex, regnum, regere, regula. O direito representaria, assim a conformidade com a regra, ou, por outra, com a retido, com a linha reta do dever (PAUPERIO, 1995: 35). O Direito Brasileiro prescreve um conjunto de normas gerais, de forma a limitar a conduta humana e a organizao das sociedades, apresentando solues para os conflitos e aplicao de sanes, anteriormente previstas, na busca do bem comum. O Direito uma realidade histrica, um dado contnuo, provm da experincia. S h uma histria e s pode haver uma acumulao de experincia valorativa dentro da sociedade. No existe Direito fora da sociedade (Ubi societas, ibi ius, onde existe a sociedade, existe o direito). A Norma a expresso formal do Direito: disciplinadora das condutas e enquadrada no Direito vigente (VENOSA, 1999: 24). Este autor, de forma complementar, destaca que entre os vrios objetivos das normas, o primordial conciliar o interesse individual, egosta por excelncia, com o interesse coletivo. No Brasil, as primeiras formulaes legisladoras disciplinadoras do ambiente vo ser encontradas na legislao portuguesa que vigorou at o advento do Cdigo Civil, em 1916. O que se pode garantir, tambm assegurado por FIORILLO (2002), que a Constituio Federal tratou da competncia legislativa sobre as guas, como indicador da qualidade ambiental, em diferentes dispositivos, permitindo interpretaes variadas sobre o tema. Com base no art. 24 da CF, a melhor interpretao de que a competncia para legislar sobre normas gerais atribuda Unio, cabendo aos Estados e ao Distrito Federal legislar complementarmente e ao Municpio suplementarmente, com base no art. 30, II, da CF. Com isso, pode-se afirmar que: ...a normatividade dos Estados sobre a gua fica, porm, dependendo do que dispuser a lei federal, definirem os padres de qualidade da gua e os critrios de classificao das guas de rios, lagos, lagoas, etc. Os Estados no podem estabelecer condies diferentes para cada classe de gua, nem inovar no que concerne ao sistema de classificao.
60
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
Na viso contempornea, em tendncias sobre a gesto dos recursos naturais e instrumentos jurdicos, institui-se o Direito Ambiental, como portador de um novo paradigma, adequando-se evoluo do crescimento demogrfico e anseios dos grupos sociais. Segundo VEROCAI (1986, apud ANTUNES, 2000: 165), Direito Ambiental o processo de aprendizagem e comunicao de problemas relacionados interao dos homens com seu ambiente natural. o instrumento de formao de uma conscincia, atravs do conhecimento e da reflexo sobre a realidade ambiental. Assim, pode-se tambm considerar que o espectro desta pesquisa localiza-se dentro da hierarquia jurdica, enquadrando-se na classificao determinada pelo Direito Ambiental dentro do Direito Constitucional, segundo o ordenamento jurdico brasileiro. Desta feita, a associao entre gesto ambiental e de recursos hdricos e ordenamento jurdico pode tornar-se uma publicao vivel para utilizao, a ser aprimorada por profissionais e rgos que se relacionam gesto ambiental, e que tratam da interpretao sobre o legado prescrito no Direito Brasileiro, garantindo o suporte a outros projetos e extenso de pesquisas. Pretende-se contribuir para o exerccio da cidadania, subsidiando padres cognitivos e formativos, de forma a alargar o campo e horizonte deste e de novos conhecimentos, na complexa questo de se garantir os recursos naturais em quantidade e qualidade, capazes de suprir s necessidades das geraes futuras. Para tanto, e como parcela amostral representativa do contexto desta pesquisa, considerou-se como referncia para desenvolvimento da formulao de uma breve discusso a rea denominada Bairro So Bento, localizada no Municpio de Jundia-SP, e importante cone da histria, cultura e meio ambiente deste referido municpio. II. OBJETIVO O presente trabalho tem por objetivo desenvolver uma anlise do atual cenrio ambiental do Bairro So Bento, contextualizando a importncia histrica dessa rea e propondo diretrizes gesto planejada junto ao Municpio de Jundia-SP. III. MATERIAL E MTODOS 3.1. OBJETO DE ESTUDO O Municpio de Jundia uma regio de referncia histrica no Estado de So Paulo, sendo importante rea aporte da imigrao italiana, dando lugar ao desenvolvimento de uma poltica econmica fundamentalmente voltada agricultura. Adotou-se o Bairro So Bento como espectro de anlise por conjugar um relevante contexto histrico dentro da rea municipal e origem agrcola, sendo a VITICULTURA predominante at os dias de hoje, formado basicamente por duas grandes propriedades, Fazenda So Bento - Mosteiro So Bento - SP e Irmos Carbonari S/A, Comercial Industrial e Agrcola, da famlia Carbonari.
61
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
A rea abriga tambm importantes nascentes, incluindo a formao inicial do Crrego So Bento, sendo fundamentais os volumes de gua (vazes), que por sua vez colaboram para a regularizao da vazo do Rio Jundia. Assim sendo, a rea representada pelo Bairro So Bento no deve ser traduzida apenas pela relevncia local, enquanto patrimnio histrico, mas combinar-se o atributo ambiental, visto ser Jundia-SP referncia dentro dos Comits de Bacia Hidrogrfica Piracicaba, Capivari e Jundia CBH-PCJ. As Leis 7663/91 e 9433/97, respectivamente Estadual e Federal, representam os instrumentos legais na gesto de recursos hdricos, nos quais tem-se o respaldo da adoo da Bacia Hidrogrfica como escala fsico-territorial para a gesto de recursos hdricos. Logo, justifica-se a escolha do Bairro So Bento como objeto de estudo, mas que no deve ser compreendido isoladamente, e nem como integrante apenas da rea municipal, mas como parte do todo, aqui se fazendo mencionar pela nova e importante escala de gesto ambiental, para o caso da realidade brasileira, que a Bacia Hidrogrfica. 3.2. METODOLOGIA Esse estudo fundamentou-se em um levantamento bibliogrfico na rea tcnica, jurdica e de planejamento em meio ambiente. De forma complementar, foram levantados e associados os instrumentos jurdicos, dispostos por: - Constituio Federal do Brasil de 1988; - Cdigo de guas de 1934; - Lei 6938 de 1981, que dispe sobre a Poltica Nacional de Meio Ambiente e institui o Sistema Nacional de Meio Ambiente, integrando rgos Federais, Estaduais e Municipais, responsveis pela proteo ambiental; - Cdigo Florestal alterado pela Lei 7803 de 1989, que valoriza e impe a preservao obrigatria e permanente de florestas e outras vegetaes naturais situadas ao longo dos rios ou de qualquer curso dgua; - Lei 7663/91 que estabelece a Poltica Estadual de Recursos Hdricos; - Lei 9433/97 que estabelece a Poltica Nacional de Recursos Hdricos; - Lei 2507/81 que reza o Plano Diretor do Municpio de Jundia-SP; - Lei Orgnica Municipal Jundia-SP, de 5 de Abril de 1990. Foram realizadas visitas in situ, possibilitando a identificao real do atual cenrio de ocupao e caracterizao das formas de ocupao, expressando a inter-relao dessa situao s premissas do Plano Diretor Municipal e preceitos da Lei Orgnica. IV. RESULTADOS E DISCUSSES Os resultados iniciais da pesquisa indicam uma organizao histrica sobre
62
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
a evoluo da legislao e recursos hdricos no Brasil, sendo aqui representada por uma sntese, relevante para a discusso dos resultados finais e tendncias para a rea de estudo e elaborao de diretrizes. A Constituio Federal de 1891 apenas se limitou a outorgar competncia para legislar sobre o Direito Civil; assim, o Cdigo Civil de 1916 trouxe em seu bojo, prescries legais especficas sobre meio ambiente e guas, porm apenas preocupando-se com a propriedade privada, no havendo uma preocupao de preservao ou impactos. Promulgada a Constituio de 1934, considerada a primeira que trouxe inerentemente em seu texto a preocupao com os aspectos econmicos e de desenvolvimento industrial, energtico, tudo o que pudesse trazer desenvolvimento para o Brasil, tanto que os bens naturais, como gua, riquezas do subsolo, minerao, metalurgia, energia hidroeltrica, florestas, caa e pesca e a sua explorao passaram a ser de domnio da Unio na competncia legislativa. Com a edio do Cdigo de guas (1934), considerado o primeiro diploma legal onde o Poder Pblico disciplinou o aproveitamento industrial das guas, em especial o aproveitamento e explorao da energia hidrulica, j foi algo significativo para a poca e denotando avanos na questo ambiental. Em vista das demandas e de mudanas institucionais, tal ordenamento jurdico no foi capaz de incorporar meios para combater o desequilbrio hdrico e os conflitos de uso, tampouco de promover meios adequados para uma gesto descentralizada e participativa, exigncias dos dias de hoje. A promulgao da Constituio Federal de 1946 passou a valorizar mais os trs Poderes e os municpios. Com o crescimento industrial o Brasil foi deixando de ser essencialmente agrcola e mais dependente da gerao de energia eltrica; o Poder Pblico passou a regulamentar os servios em geral, dando nfase utilizao dos recursos hdricos na navegao. No final da dcada de 40 e at meados da dcada de 60, foram criadas vrias leis infraconstitucionais, nas quais a maior preocupao era com a organizao, a estruturao e a construo de uma malha energtica nacional. O prximo grande marco foi a Promulgao da Constituio de 1988, a primeira a abordar, de forma expressa, dispensando um Captulo somente para tratar do tema do direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. No seu Art. 225, e em concordncia com a Lei Orgnica do Municpio de Jundia-SP, expressa que Todos tm direito ao Meio Ambiente ecologicamente equilibrado, que um bem de uso comum e essencial boa qualidade de vida, impondo-se comunidade e, em especial, ao Poder Pblico Municipal, o dever de defend-lo e preserv-lo para o benefcio das geraes futuras. Neste contexto, vale associar, o Cdigo Florestal foi alterado valorizando e impondo a preservao obrigatria e permanente de florestas e outras vegetaes naturais situadas aos longo dos rios ou de qualquer curso de gua. A Constituio Federal determinou que o Poder Pblico deve tomar todas as medidas bsicas para defender o meio ambiente ecologicamente equilibrado, de forma
63
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
que todas as condutas realizadas por particulares, pessoas jurdicas de direito pblico ou privado, sero obrigadas a reparar pelo dano causado. Ao nosso entender, tratou-se de um belssimo instrumento, surpreendente no ordenamento jurdico mundial, a viabilizar a imediata reparao dos danos causados ao patrimnio ambiental, independente de quem quer que seja o responsvel pela ofensa (responsabilidade objetiva). A Constituio Federal de 1891 implantou no Brasil tanto a Federao quanto a Repblica. Deu destaque Declarao de Direitos Humanos e implantou o Habeas Corpus, mas tambm foi omissa quanto ao tema que ora tratado. Esta Carta Poltica, na viso de ANTUNES (2000: 366), apenas limitou-se a definir a competncia federal para legislar sobre Direito Civil, no qual se pode incluir a atribuio legislativa sobre meio ambiente e guas, principalmente, quando elas so enfocadas sob o prisma do regime de propriedade que sobre elas incide. Com efeito, o Cdigo Civil Brasileiro de 1916, elaborado sob aquela ordem constitucional, dotado de um vasto nmero de artigos voltados para o assunto. Tratando-se da questo ambiental, a questo em si delicada, porque de um lado exige medidas de preservao da natureza no seu estado natural, evitando poluio e impactos e, por outro, o desenvolvimento econmico, que aspirado por todos como forma de desenvolver a economia, a questo agrcola e, se no for devidamente regularizado, trar sacrifcios ao meio ambiente, questo que no de fcil soluo. A Lei N 9.433, de 8 de janeiro de 1977, institui a Poltica Nacional de Recursos Hdricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hdricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituio Federal, e altera o art. 1 da Lei n 8.001, de 13 de maro de 1990, que modificou a Lei n 7.990, de 28 de dezembro de 1989 (MACHADO, 2002: 272). Em 1998 foi sancionada a Lei n 9.605, de 12/02/98, conhecida como Lei de Crimes Ambientais, que dispe sobre as sanes penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e a Lei n 9.648, de 27/05/ 1998, que ratifica a compensao financeira de 6% a ser paga por titular de concesso ou autorizao para explorao de potencial hidrulico aos estados e aos municpios em que se localize o aproveitamento, ou que tenham reas alagadas por guas de reservatrio; ainda em 1998, estabelecido em 03/06/1998, pelo Decreto n 2.612, o regulamento do Conselho Nacional de Recursos Hdricos CNRH; e tambm, estabelecida em 05/06/1998, pelo Decreto n 2.619, a estrutura regimental do Ministrio do Meio Ambiente, dos Recursos Hdricos e da Amaznia Legal; 1999 Reorganizada a Administrao Federal pela Medida Provisria n 1911 - 8, de 29/07/1999 (texto original: MP n 1.795 de 01/01/1999). Todo esse contexto, traduzindo os instrumentos jurdicos, representa o escopo do desenvolvimento desta pesquisa; a discusso apresentada e o resultado dos instrumentos jurdicos que so relacionados anteriormente devem ser compreendidos para a questo do Bairro So Bento, junto ao Municpio de Jundia-SP. As visitas in loco permitiram perceber que nos ltimos dez anos ocorreu a formao de dois loteamentos irregulares dentro da rea de abrangncia represen-
64
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
tada pelo Bairro So Bento tipicamente contemplado como rea de domnio agrcola conforme reza o Plano Diretor Municipal. Os condomnios Santo Expedito e Acerola, conseqncia desses loteamentos irregulares, no possuem rede de esgoto; todas as guas de tanque, pia e fossas so lanadas in natura a cu aberto, podendo nos perodos de chuva atingir o manancial representado pelo Crrego So Bento. O precedente da instalao dessa rea de urbanizao, na abrangncia do Bairro So Bento, pode implicar no parcelamento indevido dessa rea, paradoxalmente contrapondo-se s premissas da Legislao Municipal. Isso quer dizer que o Plano Diretor Municipal Lei 2507/81, no seu Art. 21, reconhece como reas de proteo ambiental, no seu pargrafo nico: reas de proteo ambiental so as que se caracterizam pela existncia de recursos hdricos que no podem ser agravados pelo uso imprprio do solo do vale, acidente geogrfico, comunidades biticas, formaes geolgicas e outros elementos de importncia para a preservao da ecologia. No Art. 22 dessa mesma Lei, tambm verifica-se a meno sobre reas de preservao cultural, histrica, paisagstica, artstica ou arqueolgica, como sendo aquelas sujeitas a regime urbanstico prprio, visando sua preservao. Os resultados tambm indicam, de acordo com a Lei 2507 de 1981 Plano Diretor Municipal, que a rea do municpio setorizada, correspondendo a caractersticas prprias da aptido (ou no) do espao, mas atendendo a finalidades especficas, reconhecidas como Zoneamentos. O Bairro So Bento, e toda a sua abrangncia, enquadrado na Seo II da Lei 2507/81 que reza sobre os setores do Municpio de Jundia, correspondendo categoria S10, que significa Uso agrcola, com unidades mnimas de um hectare (1 ha). Esse resultado acena para a presso exercida pelo crescimento demogrfico, ocupando-se de reas previstas para outras finalidades e, conseqentemente, implicando na preservao dos mananciais, visto se tratar de formas de ocupao no planejadas. Aqui, faz-se relevante compor os elementos jurdicos elaborados por estudos tcnico-cientficos e doutrinrios a exemplo de VEIGA et al. (1980) apud SETTI (2002: 102), que sintetizou os princpios orientadores da gesto de guas de forma racional do uso, controle e proteo. A capacidade de autodepurao dos cursos de gua deve ser considerada como um recurso natural cuja utilizao legtima, devendo os benefcios resultantes dessa utilizao reverter para a coletividade; a utilizao dos cursos de gua como meio receptor de efluentes rejeitados no deve, contudo, provocar a ruptura dos ciclos ecolgicos que garantem os processos de autodepurao. SETTI (2002: 103) diz que o transporte, diluio e depurao de efluentes so considerados usos dos recursos hdricos. Os corpos de gua tm uma capacidade de assimilao de resduos que deve ser obedecida sob pena de haver poluio e degradao das guas. Essa capacidade de assimilao deve ser adequada-
65
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
mente rateada entre a sociedade, evitando o seu comprometimento unilateral. A gesto de guas deve abranger tanto as guas interiores superficiais e subterrneas como as guas martimas costeiras. Esse princpio introduz na gesto de guas a unidade do ciclo hidrolgico, que acarreta a inviabilidade de gerir separadamente o que naturalmente unificado. A qualidade das guas interiores afetar a qualidade das guas costeiras. A gesto quantitativa e qualitativa das guas superficiais afetar a quantidade e a qualidade das guas subterrneas e vice-versa (SETTI, 2002: 103). A gesto dos recursos hdricos deve considerar a estreita ligao existente entre os problemas de quantidade e qualidade das guas. Esse princpio amplia o anterior ao evidenciar que os aspectos qualitativos da gua so indissociveis dos aspectos quantitativos (SETTI, 2002: 104). A gesto dos recursos hdricos deve processar-se no quadro do ordenamento do territrio, visando a compatibilizao, nos mbitos regional, nacional e internacional, do desenvolvimento econmico e social com os valores do ambiente. O ordenamento territorial estabelece a compatibilizao entre a disponibilidade e a demanda de uso dos recursos ambientais, evitando conflitos e promovendo a articulao de aes (SETTI, 2002:104). A crescente utilizao dos recursos hdricos bem como a unidade destes em cada bacia hidrogrfica, acentuam a incompatibilidade da gesto de guas com sua propriedade privada. Os instrumentos de gesto ambiental e de recursos hdricos, para a realidade brasileira e do Estado de So Paulo, mostram-se avanados, todavia, ainda h uma precariedade na conscincia coletiva e nas formas de operacionalizao desses mecanismos. Os resultados desta pesquisa representam a necessidade de uma ateno especial para o Bairro So Bento, conforme indicam as concluses, traduzindo uma amostra do universo municipal de Jundia-SP. V. CONCLUSES De forma inicial, pode-se observar a discusso estabelecida nesta pesquisa como uma coletnea de informaes e alegaes, dentro da temtica meio ambiente, recursos hdricos, preceitos do direito brasileiro e instrumentos municipais de gesto para o caso de Jundia-SP, tendo-se como exemplo o Bairro So Bento. O Direito uma realidade histrica, um dado contnuo, provm da experincia. S h uma histria e s pode haver uma acumulao de experincia valorativa dentro da sociedade. No existe Direito fora da sociedade (Ubi societas, ibi ius, onde existe a sociedade, existe o direito). A norma a expresso formal do Direito, disciplinadora das condutas e enquadrada no Direito vigente (VENOSA, 1999:24). Assim, conclui-se que o Bairro So Bento, conforme matrculas de registro, 79.387, 45.618 e 23.452, abrange uma rea de 150 hectares, sendo que deste total 4% j foram ocupados por bairros residenciais, ora irregulares, em concordncia ao 66
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
instrumentos municipais de gesto Plano Diretor e Lei Orgnica. A rea do Bairro So Bento tambm abriga importantes nascentes que alimentam a regularizao da vazo de gua do Rio Jundia e portanto integrando a sistemtica de gesto dos recursos hdricos em mbito da Bacia Hidrogrfica. Os instrumentos de defesa processual dos recursos hdricos, a exemplo da ao popular e ao civil pblica, implicam na concluso de que as responsabilidades e punies tm tendncia a se apresentar em mbito local, assim como podem servir de instrumentos de fortalecimento do poder local, com o propsito de se garantir a preservao dos recursos hdricos. A proximidade aos problemas oferece maiores condies de visualizao de alternativas e implementao de solues reais, propiciando agilidade e incremento s polticas de recursos hdricos. Destaca-se a importncia das responsabilidades jurdicas sobre os municpios como escala de referncia dentro do processo de gesto. A aplicao dos resultados poder ser compreendida atravs do conhecimento das legislaes pertinentes, de diagnsticos, de planejamentos, de estudos localizados e viveis dentro de cada limitao, buscando-se a preveno, promoo e desenvolvimento de tecnologias atualizadas em que os recursos sirvam ao homem na sua sustentabilidade, mas ao mesmo tempo que este devolva de forma equilibrada natureza as aes necessrias que sustentem o equilbrio ecolgico. O direito difuso, ou coletivo, estabelecido pela Constituio de 1988, possibilitou elaborar leis de forma a abarcar uma nova realidade na interpretao deste direito maior, isto , transindividual. A lei maior oportunizou que se tratasse dos bens ambientais, dentre eles as guas, de forma superior, elevando o seu valor, dos quais os titulares somos ns, o Povo brasileiro, ligados por circunstncias de fato, e, dentro da normatividade a existncia de um bem de natureza indivisvel, no podendo ser fragmentado, porque a lei assim o determina, ou, por vontade das partes, independente de serem pblicas ou privadas, conhecidos como direitos metaindividuais. O exemplo do Bairro So Bento, em Jundia-SP, um forte indcio da necessidade do planejamento e oportunidade socializao dos problemas ambientais, indicando que a proposio de solues deve ser gerida na mesma dimenso, sobretudo como forma de se garantir o legado cultural e de recursos hdricos. mais vivel o uso da oportunidade de se organizar, enquanto sociedade capaz de administrar seus problemas locais e com respectivo respaldo jurdico, a se ter que abrir mo dos instrumentos de defesa processual do arcabouo jurdico, tendo como referncia o Bairro So Bento, para Jundia-SP. VI. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 4.ed. rev. ampl. e atual. Rio de Janeiro : Lmen Jris, 2000. BRASIL. Constituio Federal. 4.ed. rev., atual. e ampl. So Paulo : Revista dos Tribunais, 2003. 67
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
_______. Lei 9.443. Poltica Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hdricos, 1997. FIORILLO, Celso Antnio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 3.ed. So Paulo: Saraiva, 2003. GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito das guas e meio ambiente. So Paulo: cone, 1993. JUNDIA-SP. Lei 2507. Plano Diretor Municipal, Jundia-SP, 1981. _______. Lei Orgnica Municipal, Jundia-SP, 05 de Abril de 1990. MACHADO, Paulo Affonso Leme. Recursos Hdricos: direito brasileiro e internacional. So Paulo : Malheiros Editores, 2002. MILAR, dis. Direito do Ambiente. 2.ed. atual. e ampl. Braslia: Revista dos Tribunais, 2001. PAUPERIO, A. M. Introduo ao estudo do direito. 3 ed., Rio de Janeiro: Forense, 1997. SETTI, Arnaldo A. et al. Introduo ao Gerenciamento de Recursos Hdricos. Agncia Nacional de guas. Braslia, 2002. _______. A Necessidade do Uso Sustentvel dos Recursos Hdricos. Ministrio do Meio Ambiente, dos Recursos Hdricos e da Amaznia Legal, 1994. SILVA, Jos Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 4.ed. So Paulo : Malheiros, 2002. STACCIARINI, R. Avaliao da qualidade dos recursos hdricos junto ao Municpio de Paulnia, Estado de So Paulo, Brasil. Tese de doutoramento, Faculdade de Engenharia Agrcola, UNICAMP, Campinas-SP. 241 p. TUCCI, Carlos E. M. (org.) et al. Hidrologia: cincia e aplicao. Porto Alegre : Ed. Universidade/UFRGS, 2001. VEIGA da Cunha, et al. Gesto da gua: Princpios fundamentais e sua aplicao em Portugal. Fundao Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1980. VENOSA, S. S. Direito Civil: teoria geral e introduo ao direito romano. 5. ed., So Paulo: Atlas, 1999.
68
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
LOCA OCATCIA: FIANA LOCATCIA: A RESPONSABILIZAO DAS CHAVES DO GARANTE AT ENTREGA DAS CHAVES FACULDADE EXONERAO ARTIGO E A FACULDADE DE EXONERAO DO ARTIGO 835 DO CDIGO CIVIL Cludio Antnio Soares Levada*
I O TEMA EM DISCUSSO Com o advento do Cdigo Civil de 2002, intensificou-se o debate sobre o alcance do artigo 39 da Lei 8245/91, que rege o inquilinato, e os limites de sua aplicao nos casos de prorrogao automtica do contrato residencial celebrado por tempo determinado. E isto porque o artigo 835 do novo Cdigo dispe, expressamente, ser possvel ao fiador exonerar-se da fiana que tiver assinado sem limitao de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiana, durante sessenta dias aps a notificao do credor. J o artigo 39 da lei inquilinria estabelece que, Salvo disposio contratual em contrrio, qualquer das garantias da locao se estende at a efetiva devoluo do imvel. Dentre essas garantias encontra-se a fiana, evidncia, que pela prtica do mercado imobilirio sempre se estende at a efetiva devoluo do imvel, at porque, como regra geral, a norma do artigo 39 robustecida por clusula contratual que invariavelmente prev a responsabilizao do fiador at a entrega das chaves do imvel locado. Tambm a Smula 214 do E. Superior Tribunal de Justia acirrou a controvrsia, ao dispor que O fiador na locao no responde por obrigaes resultantes de aditamento ao qual no anuiu, o que vem sendo interpretado como aplicvel hiptese de renncia do direito do fiador exonerao, para vedar-se essa possibilidade de renncia e, mais, considerar-se invivel a prorrogao da fiana, sem anuncia expressa do fiador, aps o trmino do prazo contratual avenado. O presente trabalho ocupa-se em examinar essa controvrsia e opinar sobre ela, em face da natureza do contrato acessrio de fiana e do posicionamento clssico e atual da doutrina e da jurisprudncia a respeito do tema. II O ARTIGO 835 DO CDIGO CIVIL O artigo 835 do atual Cdigo Civil apresenta como grande diferena em
* Mestre em Direito Civil/USP; Doutorando/PUC-SP, professor titular de Direito Civil da Faculdade de Direito Padre Anchieta, de Jundia, e convidado do COGEAE-PUC/SP, no mdulo de Contratos.
69
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
relao ao artigo 1500 do CC de 1916 a possibilidade de exonerao da garantia pelo fiador por mera notificao ao credor no caso, o locador, simplesmente remanescendo a obrigao pelos efeitos da fiana por sessenta dias aps essa notificao, a qual, evidncia, prescinde de fundamentao ou motivao, j que prevista como ato de convenincia do fiador (e juzo de convenincia de adequao e oportunidade, somente). Antes, no CC de 1916, exigia-se no artigo 1500 a exonerao por ato amigvel, portanto bilateral, ou por sentena declaratria da exonerao, portanto com a imprescindvel propositura de ao judicial, e correspondente fundamentao inicial a ser analisada caso a caso pelo juiz. Como a fiana caracteriza-se como contrato acessrio, sua exonerao equivale a uma resilio unilateral, por via de denncia, que se consubstancia na citada notificao ao locador. Ato de convenincia, sempre que o quiser o fiador. Nessas circunstncias, vlida a renncia aposta nos contratos de locao, pela qual o fiador remanesce responsvel at efetiva entrega das chaves, por tempo ilimitado, mesmo que no tenha anudo expressamente na prorrogao do contrato que garante? E o artigo 39 da Lei 8245/91 prevalece sobre a possibilidade de denncia contratual a qualquer tempo, ainda que a faculdade de exonerao no tenha sido prevista no contrato? preciso diferenciar duas situaes no exame do tema: primeiro, analisarse a ausncia de anuncia expressa na prorrogao do contrato locatcio, havendo no entanto clusula de responsabilizao at efetiva entrega das chaves; segundo, se, mesmo havendo a clusula citada, responsabilizando o fiador at devoluo do imvel, ainda assim poder ele exonerar-se a qualquer tempo, no exerccio da faculdade estabelecida no artigo 835 do Cdigo Civil. Nem sempre essa distino tem sido feita com clareza, tratando-se porm de situaes diversas, a serem tratadas com a respectiva diversidade. III A ALEGADA NECESSIDADE DE ANUNCIA DO FIADOR PRORROGAO DO CONTRATO DE LOCAO A Smula 214 do STJ afirma, genericamente, no responder o fiador por obrigaes decorrentes de aditamento ao qual no anuiu. Seu alcance tem abrangido o prazo original do contrato e sua prorrogao, para excluir da lide o fiador que no tenha anudo, expressamente, continuidade da relao locatcia. A existncia eventual de clusula prevendo a responsabilizao do garantidor at efetiva devoluo das chaves tem sido desconsiderada, como exemplo trecho do v. acrdo seguinte, do STJ, que faz meno expressa ao entendimento sumular citado: 2 Tem prevalecido o entendimento neste Superior Tribunal de Justia no sentido de que o contrato acessrio da fiana deve ser interpretado de forma restritiva, vale dizer, a responsabilidade do fiador fica delimitada a encargos do pacto locatcio originariamente estabelecido. A pror-
70
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
rogao do contrato sem a anuncia dos fiadores, portanto, no os vincula. Irrelevante, acrescente-se, a existncia de clusula de durao da responsabilidade do fiador at a efetiva entrega das chaves.1 O entendimento acima justifica-se enquanto vigorava o artigo 1500 do CC de 1916, em face do qual a exonerao do fiador era limitada s hipteses de acordo entre as partes ou de sentena que declarasse o fiador exonerado, evidncia situaes restritas e que dificultavam sobremaneira ao fiador a extino da garantia prestada. Nas circunstncias do antigo Cdigo, correto aplicar-se a Smula 214 do STJ hiptese de prorrogao do contrato locatcio e, ainda, compreensvel ter-se como irrelevante a clusula de responsabilizao do fiador se a este era dificultada a exonerao da garantia que houvera dado ao incio do contrato. J agora, porm, basta ao fiador, uma vez prorrogado o contrato, notificar simplesmente o locador para exonerar-se, no lhe sendo exigida a propositura de demanda para ver declarada a excluso de sua responsabilidade. A extrema facilidade com que a lei prev sua exonerao no justifica a continuidade da aplicao da Smula 214 hiptese de prorrogao da avena locatcia, com a devida vnia, mormente se o fiador espontaneamente obrigou-se at a devoluo efetiva das chaves do imvel locado, com o que j est dada a concordncia, tacitamente, eventual prorrogao do contrato. O fiador pode, doravante, terminado o prazo originrio do contrato, desvincular-se quando quiser, como visto por um critrio de mera convenincia pessoal, desnecessria qualquer justificativa de sua conduta. Enfatize-se que no se trata de dar fiana interpretao extensiva, em desacordo com norma expressa que determina o contrrio, haja vista a natureza benfica do contrato (artigo 1483 do CC de 1916; artigo 819 do Cdigo atual: A fiana dar-se- por escrito, e no admite interpretao extensiva). Trata-se, a uma, de se considerar que, estando em jogo interesses meramente patrimoniais, disponveis e transacionveis, nada obsta que o fiador se obrigue pelo tempo que julgar conveniente, at porque poder desobrigar-se a qualquer momento, findo o contrato; e, a duas, trata-se de constatar que o fiador, ao aceitar clusula de responsabilizao at entrega das chaves, sabe perfeitamente que a prorrogao do contrato automtica e sempre poder ocorrer, como no mais das vezes ocorre; sua anuncia prorrogao j foi dada, na verdade, ao prestar a garantia com a referida clusula de responsabilizao delimitada entrega do imvel locado. como temos julgado, v.g., na Apelao sem Reviso n 826956-0/2 (2 TACSP, 10 Cmara; v.u.): Se o fiador responsabilizou-se at a entrega das chaves, findo o prazo do contrato cabe a ele diligenciar e pleitear a exonerao da garantia prestada, se lhe convier, pois esta em princpio perdura at a entrega do imvel, nos termos do artigo 39 da lei 8245/91.
1
REsp. n 83566; Rel. Min. Hamilton Carvalhido; DJ 04.02.2002; p. 576.
71
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
Apelo improvido.2 No mesmo sentido a doutrina de Lauro Laertes de Oliveira:3 Se o fiador responsabilizou-se at a entrega das chaves, desnecessrio avis-lo de que o perodo inicial da locao findou e ocorreu prorrogao. Cabe a ele diligenciar e pleitear a exonerao, se lhe convier. Achamos estar a razo com Clvis Bevilqua. A fiana prestada no contrato de locao at a entrega das chaves inexoravelmente sem limitao de tempo. Do mesmo sentir o abalizado Gildo dos Santos4: Em princpio, a fiana compreende todos os acessrios da dvida principal, incluindo as despesas judiciais, desde a citao do devedor, como do direito comum (CC, art. 1486), mas possvel seja limitada no tempo e no valor, condies que devem constar expressamente no contrato de garantia, pois do contrrio, a responsabilidade do garante vai at a efetiva devoluo do bem. Mesma opinio ainda a do mestre maior Pontes de Miranda: Se a fiana diz: at a entrega das chaves, sem aludir ao tempo do contrato, - persiste com a prorrogao.5 E esta a hiptese em discusso, pois claro que se a fiana houver sido prestada por tempo certo, limitado (at o dia x), no valer em caso de prorrogao contratual; prestada, porm, at devoluo do imvel, a anuncia tcita com a eventual prorrogao evidente e insofismvel, apesar de o contrato de fiana ser interpretado restritivamente, o que no impede a constatao de evidncias de clareza meridiana, data venia. Repita-se que a outrora difcil exonerao do garantidor hoje faclima, ato unilateral sem explicao de seus motivos, por mera notificao ao locador. Cabe ao fiador faz-lo e, tendo-se obrigado at entrega das chaves do imvel locado, anuiu, sim, eventual prorrogao do contrato, sem que do fato decorra qualquer infrao aos artigos 835 ou 819 do Cdigo Civil, ou que se fira o esprito que norteou a edio da Smula 214 do E. STJ.6
No mesmo sentido o julgado por ns relatado e citado por NELSON NERY JR. e ROSA MARIA NERY, em Cdigo Civil Anotado e Legislao Extravagante, 2. ed., 2003, Edit. RT., p. 466, relativo Apelao n 637.6050/7, 10 Cm., 2 TACSP, v.u., j. de 22.5.2002, com expressa meno ao artigo 835 do Cdigo Civil. 3 Da Fiana, Saraiva, 2. ed., 1986, p. 77. 4 Locao e Despejo, 4. ed., Edit. RT, 2002, p. 203. 5 Tratado de Direito Predial, vol. IV, Locao e Prorrogao, 1956, Editor Jos Konfino, p. 317. 6 Com respeito a tal Smula, j tivemos a oportunidade de julgar no mesmo sentido, antes mesmo de sua edio, ao defender que O contrato de fiana benfico e no admite interpretao extensiva em desfavor do fiador. Assim, exige-se anuncia expressa deste para manter a garantia, se reajustados os aluguis, por acordo de locador e locatrio, acima dos ndices legais de reajuste, que so matria cogente. Se ausente a anuncia expressa, o fiador no se exonera, mas tem sua obrigao reduzida aos valores obtidos com a aplicao dos ndices legais de reajuste. Agravo n 501.313, 10 Cmara, 2 TACSP, j. 3.12.1997; in NELSON NERY e ROSA MARIA NERY, op. cit., p. 463.
72
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
IV A IRRENUNCIABILIDADE FACULDADE PREVISTA NO ARTIGO 835 DO CDIGO CIVIL Se, de um lado, defende-se que o fiador, ao obrigar-se at a entrega das chaves, na verdade anuiu prorrogao do contrato, no se aplicando a Smula 214 do STJ pela facilidade com que pode ele exonerar-se da garantia prestada, por outro defende-se que essa faculdade, antes prevista no artigo 1500 do CC de 1916, e hoje estabelecida no artigo 835 do novo Cdigo, irrenuncivel, podendo ser exercida a qualquer tempo pelo fiador aps a prorrogao do contrato. Frise-se bem serem situaes distintas: uma, a possibilidade de obrigar-se o fiador at a entrega das chaves, o que pode incluir, e quase sempre inclui, o perodo de prorrogao contratual; outra, o fato de que, prorrogado o contrato, e remanescendo a responsabilidade do fiador, em princpio at entrega das chaves, no entanto pode ele, quando lhe convier, e sempre que lhe convier, exonerar-se sem necessidade outra que no o envio de notificao ao locador, expondo seu mero juzo de oportunidade desnecessrias razes para o ato no tocante extino da garantia. A clusula contratual de renncia realmente ineficaz em face do carter nitidamente cogente do artigo 835 do Cdigo Civil e da natureza benfica do contrato acessrio de fiana. Como muito bem j se decidiu, em v. acrdo relatado pelo ilustre Juiz Irineu Pedrotti, as circunstncias pessoais que motivaram a prestao da garantia podem ter mudado com o tempo, fazendo com que o elo de confiana original tenha desaparecido, a justificar a exonerao do garante; confira-se trecho do citado aresto, que sintetiza bem as correntes que debatem o tema: A desistncia da faculdade de exonerao prevista no artigo 1.500 do Cdigo Civil questo jurdica dividida na doutrina e na jurisprudncia. Uma corrente, que se afigurava predominante, sustenta que o direito exonerao da fiana renuncivel porque disponvel e de ndole exclusivamente patrimonial. Outra que vem despontando com maior fora nos ltimos anos entende que irrenuncivel o direito assegurado no artigo 1.500 do Cdigo Civil, de sorte que inoperante a disposio contratual que afasta a incidncia do preceito. (...) preciso considerar o carter eminentemente pessoal da garantia que, ordinariamente, dada de favor em razo do relacionamento ou conhecimento prximo do fiador com o afianado. A faculdade de exonerao (prevista na lei) atende a circunstncia de no mais persistirem aqueles especiais laos entre os partcipes da avena. A sucesso dos dias, dos meses e dos anos, pode trazer mudanas no primitivo interesse do fiador em ajudar ou amparar o afianado. Desconsiderar essa realidade conden-lo, exatamente aquele que no desfruta qualquer vantagem da locao, em obrigao indefinida no tempo, o que pode ser incompatvel com os princpios gerais do direito.7
2 TACSP, 10 Cm., Agravo n 753.438-0/8, v.u., j. 18.9.2002; in NELSON NERY JR. e ROSA MARIA NERY, op. cit., p. 466.
7
73
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
Note-se no haver coliso ou antinomia entre a regra do artigo 835 do CC e o artigo 39 da Lei do Inquilinato. Esta diz apenas que, salvo disposio contrria no contrato, as garantias da locao estendem-se at efetiva devoluo do imvel e se estendem, realmente; j a regra do artigo 835 do CC permite ao fiador exonerar-se da garantia prestada antes disso, faculdade que, no utilizada, far com que se aplique a norma da lei inquilinria, somente no se admitindo a renncia possibilidade de exonerao dada a natureza cogente de tal norma e a considerao ao carter estritamente pessoal da garantia desaparecidos os motivos que levaram prestao da fiana, no deve e no pode esta permanecer perpetuamente no tempo, em flagrante contradio prpria finalidade do instituto e sua natureza benfica.8 O que o artigo 835 do Cdigo Civil fez (e, nesse ponto, o artigo 1500 do CC de 1916 j fazia) foi, apenas, inserir outra exceo ao artigo 39 da lei 8245/91. Alm da possibilidade de previso contratual, tambm a previso legal de exonerao da garantia antes da devoluo do imvel locado. Coexistem as normas, conseqentemente, para situaes fticas distintas. V CONCLUSES 1. Que o artigo 819 do CC atual deve ser interpretado restritivamente da prpria lei e decorre, igualmente, da natureza benfica do contrato de fiana; 2. Nada obstante, ao aceitar clusula contratual de responsabilizao at entrega das chaves, est o fiador aceitando tambm a eventual prorrogao do contrato locatcio, no se podendo dizer que no tenha anudo a tal prorrogao, pois a expresso at entrega das chaves evidncia contempla tal possibilidade; 3. Em conseqncia, e dada a extrema facilidade com que pode o fiador exonerar-se, agora, da garantia prestada aps o prazo original do contrato, no de se aplicar a Smula 214 do STJ ao tema, j que o fiador obrigou-se pelo tempo que julgou conveniente e, da mesma forma, poder a qualquer tempo desobrigar-se; 4. Tratando-se a norma do artigo 835 do Cdigo Civil de disposio cogente, e considerado o carter pessoal da garantia prestada, no vlida a renncia faculdade de exonerao nela prevista, podendo o fiador exercer sempre esse direito, uma vez desaparecidos os motivos pessoais que o levaram a prestar a fiana; 5. A exonerao garantia prestada ato unilateral e desmotivado do fiador, configurando denncia contratual a ser exercida a qualquer tempo aps o vencimento originrio do contrato locatcio.
J FRANCISCO CARLOS ROCHA DE BARROS enxerga coliso frontal entre o art. 39 da Lei do Inquilinato e o art. 1483 do CC de 1916 (819, Cdigo atual), por entender indispensvel ajuste expresso para que a responsabilidade do fiador ultrapasse o prazo estipulado no contrato de locao, afirmando que No silncio, ao contrrio do que proclama o artigo sob anlise, a fiana fica limitada ao prazo do contrato. (Comentrios Lei do Inquilinato, 2. ed., Saraiva, 1997, p. 187.
74
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
JUSTIA PENAL, CLASSES SOCIAIS E A DA CRIMINALID ALIDADE MANIPULAO POLTICA DA CRIMINALIDADE Vinicius Sampaio DOttaviano*
Gostaria de deixar claro que no pretendo simplesmente discorrer sobre o carter discriminatrio da Justia Criminal. Uma afirmativa dessa natureza mera repetio de algo que est a saltar os olhos. Minha preocupao , sobretudo, tentar examinar as razes bsicas da discriminao e ver se existe algum meio de corrigi-la. Desde logo surge um problema complicado: que crime e quem criminoso? A criminologia at hoje no conseguiu definir com clareza seu objeto. Passamos por cima dessa dificuldade e construmos interpretaes eruditas e tericas a respeito de algo que ignoramos. Na verdade, a nica definio aceitvel a do crime como comportamento em contradio com o dispositivo da lei penal. Crime no nada alm do comportamento contrrio a uma norma proibitiva do Cdigo Penal. Quem o criminoso? quem pratica o crime? Este um equvoco monumental que produziu atraso extraordinrio na criminologia. Na verdade, criminoso no quem pratica o comportamento proibido pela lei, mas o indivduo reconhecido como tal pelo aparelho de represso criminal. preciso considerar essa ruptura entre conceitos quando se pretende analisar coerentemente o sistema penal. Um fazendeiro do interior mata dois ou trs ndios para limpar sua terra e sepulta os mortos. Como no h autoridade policial, ningum sabe. Esse homem praticou delito, mas no criminoso. O exemplo fundamental para a crtica da famosa ligao entre pobreza e criminalidade. A causa do crime no a pobreza. Mas a prpria lei penal. Podemos imediatamente imaginar que, se h crime sem autoria, existe certa disparidade entre o nmero de crimes efetivamente praticados: o nmero de criminosos realmente qualificados como tal. Aqui, neste nosso to simptico ambiente acadmico/intelectual, a maior parte das pessoas pertence aos estratos tanto baixo, como o mdio e o alto da sociedade. Provavelmente muito poucas tiveram infrao denunciada polcia. Mas pergunto se todos estamos realmente isentos da prtica de pelo menos uma infrao. Ser que jamais algum de ns cometeu ao criminosa ou desobedeceu aos preceitos penais? Vamos listar alguns comportamentos considerados delituosos pela lei: com* Ps-Graduando em Arte/Educao pelo Instituto de Artes da Unicamp. Licenciatura em Psicologia pelas Faculdades Padre Anchieta. Licenciatura em Dana pela Unicamp. Licenciatura em Filosofia pela PUC-Campinas e Bacharelando em Direito pelas Faculdades Padre Anchieta de Jundia.
75
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
prar de contrabandistas; fumar maconha; cheirar cocana; ingerir, sem estar efetivamente doente, excitantes e tranqilizantes; levar para casa papel, lpis ou qualquer material da repartio em que se trabalha; dar dinheiro a guarda de trnsito ou a fiscal; molhar a mo de funcionrio pblico para agilizar um processo; emitir cheque sem fundos; receber cheques sem fundos como garantia de dvida; cometer adultrio; praticar ou contribuir para o aborto; fornecer ou usar atestado mdico assegurador de doena inexistente para abono de faltas e ou justificativa de falta no emprego; dirigir sem habilitao; vender moeda no cmbio negro etc. Verificamos que, parte alguns ingnuos, h, neste contexto, uma quantidade razovel de reincidentes. No obstante, nenhum de ns criminoso. Isto demonstra que praticar crime uma coisa e ser criminoso outra. Pode-se imaginar que essa desproporo deve-se a uma gradao dos crimes: alguns so menos graves do que outros. Mas as estatsticas de homicdios dissipam as dvidas. Que concluses podemos tirar desse tipo de circunstncia? H um universo imenso de delitos e um nmero reduzido de criminosos. Do momento da infrao at o reconhecimento do infrator h uma perda: grande quantidade de infraes ficar no que os criminlogos chamam de cifra negra da criminalidade, fora da ordem formal. Apenas um reduzido nmero de crimes esclarecido, chegando-se a reconhecer o criminoso como delinqente. Um famoso criminologista ingls trabalhou muito tempo com um mtodo de criminologia positivista, de conceitos ticos, como o de criminosos natos. Mas diante da evidncia fornecida pela dimenso da cifra negra, deu uma guinada radical e passou a acentuar um dado fundamental: provavelmente o sistema penal parece no ter o menor interesse em diminuir a cifra negra. A Polcia, os promotores, os juzes e os estabelecimentos carcerrios sucumbiriam caso tivessem de lidar com todos os que realmente praticam infraes. preciso, portanto, que se faa uma seleo entre atos criminosos praticados e os atos que sero pinados desse universo, merecendo a classificao de delinqncia. Sabemos que, para se reconhecer o criminoso, num nvel formal, preciso que o ato praticado chegue cincia da autoridade policial e que esta faa registro do fato, que realize uma investigao recolhendo provas concludentes, inclusive sobre o elemento acusado. necessrio que tudo seja formalizado por meio da instaurao de um inqurito policial, fase preliminar de todo processo criminal, salvo rarssimas excees. Depois disso, acaba a atividade da Polcia e o processo vai para juzo. necessrio que o promotor oferea denncia contra o indicado e finalmente que, ao apreciar a causa, o juiz prolate uma deciso condenatria, reconhecendo no acusado um delinqente. Quero examinar aqui a fase policial desse processo, em que a polcia efetua uma seleo dos delitos. Ao contrario do que se julga, a polcia tem posio de superioridade com relao ao sistema judicirio, porque os promotores e os juzes s examinaro o material que ela fornece. Se a polcia no remete o inqurito, eles no tem como trabalhar. Quem realiza a primeira seleo dos delitos, portanto, a polcia.
76
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
Na fase policial, podemos reconhecer quatro elementos fundamentais na determinao da autoria de um delito. O primeiro a visibilidade da infrao: se o delito praticado num lugar pblico, como um campo de futebol, uma praa, um botequim ou um hospital; onde h maior assiduidade dos policiais, a polcia mais facilmente ter a cincia da infrao. Se ocorre em local de difcil acesso, um apartamento, um escritrio, um clube, um bar gr-fino, a polcia raramente presencia as infraes. S saber se for cientificada por algum dos participantes do episdio. O fato de a pessoa viver mais a cu aberto, portanto, torna-a mais vulnervel ao olhar policial. fcil perceber, neste primeiro corte, quem so os favorecidos: as classes mdia e alta; os desfavorecidos: as classes populares. Em seguida, h o problema do esteretipo do delinqente. Todo mundo pratica infrao, mas a ideologia nos transmite uma imagem do delinqente: negro, pardo ou mulato, com mos e ps grandes, a cara meio torta, olhar enviesado, mau vestido, etc. Vincula-se, tambm, de imediato, pobreza e crime. No s o criminoso geralmente pobre, como o pobre geralmente o criminoso. A atividade policial concentra-se sobre as pessoas reconhecidas no esteretipo do criminoso, e cujo nmero reforado pelo critrio de visibilidade do crime. No primeiro filtro purificador passa um nmero muito maior de pobres do que ricos. Outro mtodo de determinar o autor da infrao a violncia. Se possvel submeter o indicado a hbeis interrogatrios capazes de faz-lo confessar, a prova do processo fica muito boa. Esse negcio de polcia tcnica, cientfica, conversa fiada. A prova que realmente se consegue contra algum a confisso. Ao contrrio das classes mdia e alta, os pobres no tm imunidade contra a violncia policial. Finalmente, h o problema da corrupo. Quando voc dispe de dinheiro para dar no se apuram as coisas. S d dinheiro quem tem. A corrupo funciona como seleo dos tipos de infratores que sero reconhecidos como criminosos. O sistema deseja, portanto, dispor de uma justia que trabalhe de forma violenta, corrupta e com esteretipos fornecidos pela ideologia. Esse problema no conjuntural, mas institucional. Todas as campanhas feitas e toda a energia gasta no sentido de alterar o funcionamento da justia, fazendo-a funcionar de maneira igualitria, perda de tempo, porque o sistema penal parece desejar a justia que a est. As autoridades tentam nos convencer de que esse problema uma questo de conjuntura. No verdade. Para essa sociedade em que vivemos, a meu ver desnutrida de valores, deveres e tica, a justia parece estar funcionando magnificamente bem. Sabem por que isso sempre ocorreu, ocorre e infelizmente parece que ainda ocorrer e muito? A histria tem mostrado muito claramente o exguo espao deixado pelas classes dominantes s classes oprimidas. Refiro-me ao espao de representao, de participao, de escolha e deciso. Em poca como a atual, em que o Estado passa por reformulaes importantes nas reas poltica e econmica, saindo de
77
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
dcadas de autoritarismo, cabe refletir sobre a profundidade dessas mudanas e sua influncia no cotidiano social. A violncia se presta bem a isso. Tem sido um dos temas mais comentados nos quatro cantos do pas, embora nem sempre da mesma forma. que no h violncia, h violncias. A violncia no consiste numa mesma desgraa igualmente imposta a todas as vtimas pelo mesmo tipo de autor. urgente esquadrinhar criteriosamente manifestaes de violncia, bem como caractersticas de vtimas e autores. Para tal, necessrio passar os olhos por mecanismos do Estado, bastidores de boa parte da formulao violenta encenada em nosso meio social. Em que consiste a violncia? A primeira reao a essa pergunta lembra sempre a praga dos assaltos e dos atos de violncia sexual, para em seguida exigir punio mais contundente, no raro a prpria pena de morte. Ou seja, para grande maioria da populao a violncia est associada criminalidade violenta. Tem sido possvel observar que isto ocorre mesmo em setores mais esclarecidos ou intelectualizados, atingindo de forma indiscriminada gregos e troianos. Trata-se, sem dvida, de observao superficial e excludente, de etiquetar a criminalidade como nica forma de comportamento anti-social que deve ser temida e reprimida. Ela legitima a continuidade da prtica de deixar margem da lei uma srie de situaes negativas sociedade e define previamente os autores da sensao de violncia, difusa ou no, apreendida no meio social. Se violncia a criminalidade violenta, ento violncia no a poluio que assola nossos rios, nossas plantaes, nossos centros urbanos, nossa alimentao, nossos tmpanos, nossa paisagem. Violncia tambm no a incerteza do mercado financeiro, flagelado pelas inumerveis fraudes e falcatruas. No a educao esdrxula e elitista que pretende domesticar os brasileiros das mais diversas localidades sob um mesmo padro, absolutamente alienado de seu cotidiano. No o sistema de assistncia mdica, ou as dezenas de milhes de menores oficialmente assumidos como carentes, ou a evaso da moeda, ou a incoerncia de algumas taxaes (como a do imposto territorial rural), ou as mltiplas formas de contrabando. No so violncia os presuntos natalinos, anunciados ao preo de meio salrio mnimo, que, de fato, o salrio mximo de assustadora percentagem da populao. Migrao no violncia, da mesma forma que a falta de participao poltica real dos cidados, a absoluta falta de acesso a decises, nem mesmo as diretamente relacionadas sua prpria vida. Em sntese, a estrutura socioeconmica e poltica, que determina a realidade, no transparece como violncia. Esta caracterizada apenas como roubo, o estupro, o homicdio, especialmente quando no foram praticados por ricos contra pobres, por policiais ou por maridos ciumentos. Nestes casos trata-se de acidente, dever ou defesa da honra. Os indivduos das camadas economicamente desfavorecidas costumam ser apontados como autores de atos de fora contra a pessoa e o patrimnio. Apenas eles so encontrados nas prises. Seu aspecto inconfundvel: em tudo seme-
78
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
lhante aos das pessoas que transitam pelo pas, ocupadas nas piores tarefas do mundo do trabalho, mendigando ou buscando oportunidades de emprego. Um perfil que, seja do ponto de vista fsico, seja do comportamental, corresponde ao da grande maioria da populao brasileira. Usando uma aproximao rpida, temos uma classe social inteira colocada sob julgamento e suspeita permanentes. Assim, j sabemos quem prov a violncia. Temos, portanto, um tipo de comportamento e um autor de comportamento previamente eleitos e estereotipados sobre os quais recai nossa revolta. Compartilhar com eles o cotidiano social significa lutar para bani-los ou isol-los. A ns, das classes abastadas/acadmicas, autores das definies e das regras legais que organizam o Estado, cabe, pois, estabelecer o controle desses cidados. Assim, o direito penal acaba criando uma solidariedade de algumas classes contra outras, vistas como potencialmente perigosas. Cabe ainda lembrar que o conceito de violncia, tal como tem sido propagado, refere-se apenas realidade urbana. Enquanto a ateno da populao est voltada para os meninos de rua que roubam nossas bolsas, a rea rural assiste a contendas cujo significado scio-poltico fundamental. Nessas lutas cotidianas, incontveis pessoas perdem a vida ou a esperana, populaes indgenas so varridas do mapa ou do planeta, a legislao que fizemos totalmente desrespeitada ou utilizada para que se perpetrem injustias profundas. Fora das reas das grandes cidades, o flagelo no o do assalto ou do estupro, e o homicdio faz parte de outro quadro demonstrativo. Ser uma soluo da questo central a da posse e uso da terra? Talvez, quem sabe? Uma soluo a meu ver paliativa, para que mazelas como a ausncia de moradia, o analfabetismo, as doenas endmicas, as conseqncias do desemprego, a resignao ao salrio mnimo e a migrao no continuem sendo a nica possibilidade de existncia... Pacfica. REFERNCIAS BIBLIOGRAFIAS ARANHA, M. L. A. & MARTINS, M. H. P. Filosofando (Introduo Filosofia). (1994) 2. ed. So Paulo: Editora Moderna Ltda. BRUNO, Anibal. Direito Penal. Parte Geral. (1967) 3. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense. volume 1. DEMO, Pedro. Introduo Metodologia da Cincia. (1991) 5. ed. So Paulo: Editora Atlas S. A. GEWANDSZNAJDER, Fernando. O que o mtodo cientfico. (1989) 1.ed. So Paulo: Editora Pioneira. 79
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
JAPIASSU, H, & MARCONDES, D. Dicionrio Bsico de Filosofia. (1990). 1. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. ____________. Nascimento e Morte das Cincias Humanas. (1998). 2. ed. , Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves Editora Ltda. JESUS, Damsio E. de. Direito Penal. Parte Geral. (1995). 19. ed.. So Paulo: Editora Saraiva. volume 1. KELEMAN, John. Padres de Mobilidade. (1985). 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Vozes. KUHN, Thomas S. A Estrutura das Revolues Cientficas. (1973). 2. ed. So Paulo: Editora Perspectiva. MARQUES, Jos Frederico. Tratado de Direito Penal.(1997). Campinas So Paulo: Bookseller. v. 2. MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal. (2003). Parte Geral. 19. ed. So Paulo: Atlas. v. 1. NORONHA, Edgard Magalhes. Direito Penal. (2001). 36 ed. So Paulo: Saraiva. PELUSO, Lus Alberto. Cincia e avaliao moral: Subsdios para um enfoque utilitarista. (1993). In: Reflexo, Instituto de Filosofia, Campinas: Editora Puccamp numero 55-56, pginas: 48-62. WELZEL, Hans. O Novo Sistema Jurdco-Penal. (2001). Trad. Luiz Regis Prado. So Paulo: Revista dos Tribunais. WESSELS, Johannes. Direito Penal (aspectos fundamentais). (1976). Parte Geral. Trad. Juarez Tavares. Porto Alegre: Fabris.
80
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
O culto ecologia e aos direitos humanos pro raiz pr ovm da mesma r aiz Joo Carlos Jos Martinelli*
I- CONSERVAO AMBIENTAL Mais do que nunca preciso que as pessoas se conscientizem da importncia da preservao dos recursos naturais e do ambiente como um todo, sob pena de se tornarem inviveis, em pouco tempo, prpria sobrevivncia humana. evidente que o homem sempre buscou estabelecer relaes entre si e a natureza. No entanto, em nome de um suposto avano cientfico nos campos tcnicos, acabou rompendo esse trajeto, destruiu ecossistemas, exterminou espcies e continua a colocar em risco a possibilidade de vida no planeta, tendo a Revoluo Industrial apressado o ritmo de uma nova era, mas esta evoluo tambm acrescentou novas fontes poluidoras. A reao veio de forma impiedosa, quer pelas bruscas transformaes climticas, como a chuva cida, a desertificao ou o buraco na camada de oznio, quer pela variedade e quantidade de doenas ou molstias tpicas dos resduos que infestam o ar que respiramos. Por isso, mais do que nunca, devemos despertar e cultivar o ideal de conservao ambiental, propagando a conscincia ecolgica para que a natureza que ainda existe consiga se recompor com equilbrio e em carter permanente. II- DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL Apesar de a Constituio Federal do Brasil determinar em seu art. 225 que o Poder Pblico e a coletividade tm o dever de defender e proteger os bens de uso comum e de dispormos de uma moderna legislao que regulamenta a matria (Lei de Crimes Ambientais - Lei 9.712/98), ainda prevalece em quase todos os segmentos um manifesto descaso com os problemas de ordem ambiental, fomentado, inclusive, pela morosidade da Justia e de sua conseqente impunidade - caracterstica de alguns equivocados instrumentos jurdicos que costumeiramente procrastinam ou tumultuam os feitos, beneficiando exclusivamente os que transgridem as regras sociais. Tal desleixo, todavia, tem gerado srios problemas que requerem no apenas um redirecionamento no eventual progresso tecnolgico, mas uma mudana de postura em relao ao processo produtivo, comercial e de prestao de servios, bem como do papel do Estado como agente regulador, a fim de alcanarmos um urgente modelo de desenvolvimento sustentvel - aquele que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer as necessidades das geraes futuras, conforme conceito estabe* Advogado, jornalista, escritor, professor da Faculdade de Direito Padre Anchieta, mestrando em Direito Processual Civil e presidente da Academia Jundiaiense de Letras Jurdicas.
81
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
lecido pela Comisso Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Esse propsito suscita, entre outras medidas imediatas, a paralisao das agresses quilo que cerca ou envolve os seres vivos e a todos os seus efeitos, como a escassez das riquezas da natureza no renovveis (minerais, madeiras de lei, etc), as emisses de gases e o efeito estufa, a reduo da biodiversidade, a fome e a pobreza generalizadas e, principalmente, as relaes manifestamente desiguais entre as naes desenvolvidas, as em desenvolvimento e as subdesenvolvidas. Destaque-se, a ttulo ilustrativo, que em 1972 a Conferncia da ONU sobre o Ambiente Humano em Estocolmo procurou reconciliar desenvolvimento e conservao de recursos naturais, sendo que o conceito de ecodesenvolvimento (Ignacy Sachs) passou a ser denominado desenvolvimento sustentvel (Relatrio Brudtland - 1987). III- TICA AMBIENTAL O que ocorrer com a Terra recair sobre os filhos da Terra. O homem no tramou o tecido da vida; ele simplesmente um de seus fios. Tudo o que fizer ao tecido, far a si mesmo... (Chefe Seattle, 1854). Considerando essas afirmaes, pode-se dizer que a responsabilidade tica que recai sobre ns muito grande. Questes cujas solues dependem de atitudes de cooperao e solidariedade, e de uma tomada de posio da importncia da ao individual para o bem coletivo, e da ao local para o resultado global, vislumbram-se como essenciais e iminentes. Resta nos compenetrarmos de que a proteo ao meio ambiente no uma tarefa exclusiva das autoridades, mas um compromisso de toda a sociedade, para que, conciliando as expectativas ambientalistas e desenvolvimentistas, contribua de forma concreta com os objetivos inseridos na concepo de desenvolvimento sustentvel, que , reiterese, aquele que supre as indispensabilidades presentes sem afetar a habilidade das pessoas de suprir, em tempos vindouros, o que lhes for indispensvel subsistncia. Lutar para viver num meio saudvel tornou-se medida racional do cidado, tanto quanto pugnar pelos direitos humanos mais elementares. IV- CONSCINCIA ECOLGICA A palavra ecologia foi criada em 1869 por um bilogo alemo chamado Ernest Haeckel, que reuniu duas palavras do grego: oiks, que significa casa, ou, em sentido mais amplo, ambiente, local onde se vive; e logos, que pode ser traduzido por cincia, estudo. Dessa maneira, ECOLOGIA A CINCIA QUE ESTUDA AS RELAERS ENTRE SERES VIVOS E OS AMBIENTES EM QUE VIVEM. Nessa trilha, ressaltese, surgiu a Conscincia Ecolgica, ou seja, a preocupao em se lutar para manter, nesses ambientes, o equilbrio natural, que garante a continuao da vida sobre a Terra. Em muitos pases, tal atributo passou a ser objeto de uma poltica governamental, e neles existem leis que procuram preservar a natureza, e ainda incitou o surgimento de organizaes representativas que pressionam as autoridades e as pessoas a man-
82
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
terem o equilbrio ecolgico, como a Fundao SOS Mata Atlntica em nosso pas. V- PERSPECTIVAS SOMBRIAS O meio que habitamos vem sendo constantemente violado e a situao piora a cada dia, inexistindo formas de retard-la. Necessitamos manter, ao mximo, o que Deus nos outorgou e, aqum dos diplomas legais, cujo cumprimento no adequadamente fiscalizado pelos rgos competentes, que as atenes se voltem para ns mesmos, possveis vtimas desse massacre incontrolvel do Universo, que, injustificadamente argumentam, efetivado em nosso benefcio e para o desenvolvimento tecnolgico em geral. Mike Davis, autor de Holocaustos Coloniais, declarou: A ditadura da dvida sobre o mundo em desenvolvimento tem sido um dos maiores desastres ambientais da histria mundial. Muitos pases, do Brasil Indonsia, mergulharam num ciclo vicioso ao tentar rolar suas dvidas de acordo com as regras do FMI e do Banco Mundial: a super-produo de produtos primrios derruba os preos e os obriga a produzir mais ainda para manter sua capacidade de pagamento... por isso que as florestas tropicais esto desaparecendo e os oceanos esto se tornando desertos biolgicos... A Amrica Latina e a frica exportam um volume de produtos muito maior do que em 1970, mas seus salrios estagnaram ou caram...Como inmeros agrnomos e ecologistas tm advertido, as taxas atuais de explorao de guas, terras e nutrientes so insustentveis. A infra-estrutura ecolgica est se desintegrando1. Indagado a respeito de novos holocaustos coloniais, o escritor respondeu que o futuro ser definido por trs variveis totalmente no lineares: eventos climticos extremos (que aconteciam apenas uma vez por sculo ou at por milnio) transformados em norma, fazendo as secas globais repetirem ou ultrapassarem os nveis da era vitoriana; megacidades ambiental e socialmente instveis, cuja sustentao e evoluo a longo prazo so imprevisveis; uma ordem econmica neoliberal cada vez mais totalitria, impingida pela hegemonia militar dos EUA e at mesmo terrorismo nuclear. Nesta trilha, embasado em Mike Davis, o juiz Jos Renato Nalini, completou :Em todo o mundo, desde os anos 70, o consumo ilimitado das classes abastadas dos pases ricos no s saqueia o presente como empobrece o futuro. No sculo XXI, pode se tornar realidade o pesadelo de economistas do sculo XIX - o crescimento capitalista detido por limites naturais. Que podem estar na gua, mais do que nos combustveis fsseis ou na fertilidade do solo2. VI- SADAS Diante deste quadro sombrio, o prprio Jos Renato Nalini indagou: haver saEntrevista revista Carta Capital de 24.04.2002. Palestra proferida em 22.04.2002 no Palcio da Justia de Jundia, sobre o tema TICA AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL, numa promoo da Escola Paulista da Magistratura, coordenadoria de Jundia.
2 1
83
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
da para problemas to graves? E respondeu: Pregar a ascese utopia. A alternativa o desenvolvimento sustentvel, tendo a Conferncia da ONU sobre o Ambiente Humano em Estocolmo, no ano de 1972, proclamado a reconciliao entre o desenvolvimento e a conservao de recursos naturais. O ento vigente conceito de ecodesenvolvimento foi substitudo pelo de desenvolvimento sustentvel, concebido como a capacidade de as geraes presentes atenderem suas necessidades sem comprometer a capacidade de as futuras tambm o fazerem. Desta forma, o paradigma ecossocialista deve prevalecer sobre o do capital-expansionista, pelo prprio bem da humanidade. Em termos de Brasil, o magistrado acrescentou que devem ser observadas trs contribuies para o futuro ecologicamente sustentado: a biodiversidade, o potencial de gua potvel e a riqueza das substncias farmacolgicas, abordando a importncia de cada uma delas: BIODIVERSIDADE - A maior do planeta: 60 mil espcies de plantas; 2,5 milhes de espcies de artrpodes (insetos, aranhas, centopias, etc.); 2000 espcies de peixes e 300 de mamferos; nmero inimaginvel de microorganismos, responsveis pelo equilbrio da natureza. Na sociedade de informao, essa biomassa representar riqueza maior do que o carvo e o petrleo na civilizao industrial. GUA - No sculo XXI, o que o petrleo foi no sculo XX. gua potvel o recurso mais escasso da natureza. S 4% da massa hdrica do planeta gua doce. Menos de 1% gua potvel. Em nosso pas h 47% da riqueza hdrica da Terra, o que poder torn-lo a potncia das guas, capaz de saciar a sede do mundo inteiro e saldar, com vantagem, toda a sua dvida externa. SUBSTNCIAS FARMACOLGICAS - H necessidade de se evitar a quimicalizao dos alimentos e remdios. O Brasil, com seus ecossistemas, apresenta riqueza natural sem precedentes: 55 mil espcies vegetais, sendo 20 mil, s na Amaznia, endmicas. Para comparar: o Mxico tem 3 mil, o Reino Unido menos de 100, a Alemanha 16 e a Sua 2 (Pesquisador Elisaldo Carlini, do Centro Brasileiro de Informaes sobre Drogas Psicotrpicas - CEBRID, da Unifesp). Em seguida, o Dr. Nalini informou que a extrao dos frutos das palmeiras (aa, buriti, bacaba, pupunha, cupuau, etc.), da castanha do Par, o ltex da seringueira, os leos e colorantes vegetais, as substncias alcalides para a farmacologia e outras de valor herbicida e fungicida, rende mais do que o desflorestamento furioso, ordem de 15 hectares por minuto. E alertou que o conhecimento acumulado por indgenas e caboclos sobre ervas medicinais, valorizado pela pesquisa cientfica, poderia dar novo rumo medicina mundial. VII- COMO EFETIV-LAS? Com raro brilhantismo, Nalini apontou algumas solues obteno dos propsitos ecolgicos: territorializar a sustentabilidade ambiental e dar sustentabilidade ao desenvolvimento do territrio. Ou seja: fazer com que as atividades produtivas contribuam efetivamente para o aperfeioamento das condies de vida da populao e prote-
84
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
jam o patrimnio biogentico a ser transmitido s geraes futuras. E criticou a situao predominante: parece que estamos na mo contrria: crescer cada vez mais e perder qualidade de vida. preciso incorporar o marco ecolgico em todas as decises. Compreender que est esgotado um estilo de desenvolvimento ecologicamente depredador, socialmente perverso, politicamente injusto, culturalmente alienado e eticamente repulsivo. Por outro lado, a Justia deve se aprimorar na busca de se concretizarem as medidas legais j editadas. E vale ressaltar que, desde o final do ano passado, o pas conta com o primeiro TRIBUNAL ARBITRAL DE JUSTIA AMBIENTAL, localizado na cidade do Rio de Janeiro e que se constitui numa relevante manifestao a favor da preservao do meio ambiente, galgada num rgo destinado a solucionar lides envolvendo pessoas fsicas e jurdicas, de uma maneira mais gil e eficiente, com base na Lei 9.307/96, que instituiu o Juzo Arbitral - um sistema de soluo pacfica dos litgios, das controvrsias existentes entre pessoas, fsicas ou jurdicas, de tal sorte a torn-lo rpido e discreto, contribuindo sensivelmente reduo do trabalho dos juzes togados. Ele composto por juristas e tcnicos especializados em diversas reas ambientais, capazes de elaborar laudos reconhecidos e vlidos, tendo por objetivo principal a efetivao de acordos entre as partes em conflito, as quais, em momento anterior, assinaram um documento dando poderes a um rbitro. Aps efetivada a composio, ela deve ser cumprida, j que o inadimplente poder responder por seus atos na justia comum e, tratando-se de crimes, denunciado pelo Ministrio Pblico. Em declaraes imprensa, o presidente do Tribunal, juiz Alfredo Rodrigues, afirmou que tudo est sendo elaborado de modo gradativo, pois a Nao ainda no possui uma estrutura adequada para trabalhar com questes desta natureza, mas que um grande passo foi dado sua concretizao. Em nosso pas, apesar de a Constituio Federal determinar em seu art. 225 que o Poder Pblico e a coletividade tm o dever de defender e proteger os bens de uso comum, e de dispormos de uma moderna legislao que regulamenta a matria, ainda prevalece em quase todos os segmentos um manifesto descaso com os problemas de ordem ambiental, fomentado inclusive, pela morosidade da Justia e de sua conseqente impunidade - caracterstica de alguns equivocados remdios jurdicos que costumeiramente procrastinam ou tumultuam os feitos, beneficiando exclusivamente os que transgridem as regras sociais, podendo a arbitragem provocar uma celeridade no setor. VIII- CONCLUSES A qualidade de vida se caracteriza hoje como um bem essencial existncia dos seres vivos em geral, principalmente sobrevivncia dos humanos. A questo, todavia, no pode se exaurir apenas com a promulgao e vigncia de diplomas legais especficos. preciso aparelhar os rgos responsveis para se fiscalizar concretamente o seu cumprimento; dot-los de tcnicos especializados, capazes de detectar e solucionar os problemas; impor as medidas cabveis aos transgressores, que muitas
85
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
vezes so os prprios agentes do poder pblico, no recuar frente s investidas econmicas e interesses meramente consumistas. Invoquemos aqui Jos de Sampaio Gos, diretor de Meio Ambiente da Sociedade Rural Brasileira (SRB): O modelo econmico do mundo moderno no se preocupa em respeitar o modelo econmico da natureza, pois despreza o fato que o nosso planeta tem uma capacidade limitada para produzir os recursos naturais que utilizamos. A continuar nesse caminho, faremos o planeta naufragar sob o peso de nossas exigncias3. No podemos continuar utilizando bens e servios ambientais sem atribuir-lhes o devido valor, incluindo sua depreciao. A natureza finita se transforma em mercadoria e por isso mesmo agrava o atual quadro de excluso social, de misria. A finitude dos recursos naturais inversamente proporcional ao seu valor econmico. Numa poca marcada pelo individualismo, mas na qual a aspirao ecolgica faz parte do exerccio da cidadania, a proteo do meio ambiente no uma tarefa exclusiva das autoridades, mas um compromisso de toda a sociedade, devendo-se estabelecerem programas de conscientizao diretamente comprometidos com a formao de um sentimento de co-responsabilidade e participao ativa diante do problema de degradao scio-ambiental. Na realidade, a luta para viver num meio saudvel, contra a barbrie promovida pelas indstrias, pelo descaso de milhares de pessoas, pela especulao imobiliria e por inmeros outros fatores respaldados em contingncia exclusivamente comerciais, tornou-se um recurso racional do cidado. Ningum em s conscincia pode mais aceitar passivamente os atentados que vm sendo praticados e que trazem graves prejuzos para toda a sociedade, comprometendo o patrimnio natural que devemos legar para as futuras geraes. As novas idias precisam encontrar campo para germinar, dentro da dinmica da evoluo humana, devendo ser passveis de cobrana judicial. Apoiada nessa concepo, surgiu a conscincia ecolgica, uma noo indispensvel ao bem-estar dos seres vivos, concebida nos pases democrticos. Reportemo-nos Luiza Nagib Eluf, promotora de justia em So Paulo e ex-secretria nacional dos Direitos da Cidadania do Ministrio da Justia: Respeitar o planeta em que vivemos, juntamente com outras espcies, respeitar a si prprio(a) e s pessoas em geral. assimilar normas de convivncia harmnica, sem as quais no haver futuro. As atrocidades e as agresses gratuitas, mesmo que cometidas contra um vegetal, merecem total reprovao, tanto em forma de lei, quanto sob a forma de presso da opinio pblica. A violncia e a prepotncia no fazem parte do mundo em que queremos viver4.
3 4
O Estado de So Paulo - Suplemento Agrcola - G-2, 28/1/98 O Estado de So Paulo A-2, 28.03.1997.
86
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
O MEIO AMBIENTE NA CONSTITUIO FEDERAL Luciana Cordeiro de Souza*
A Constituio Federal consagrou e elevou o meio ambiente clusula ptrea, reconhecendo assim a existncia do Direito Ambiental. O Direito ao meio ambiente vem como projeo do direito vida, direito fundamental da pessoa humana. Na verdade, temos o estudo do direito vida dentro do capitalismo, que vem trazer limitaes prpria iniciativa privada e ao direito propriedade. No que antes da Constituio Federal no se tutelasse o meio ambiente, mas s a partir do Texto Constitucional esta proteo se consolidou, vez que a Constituio Federal promulgada em 05 de outubro de 1988 recepcionou a Lei da Poltica Nacional de Meio Ambiente (Lei Federal n. 6938/81). 1- FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS: Art. 225. TODOS TM DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO, BEM DE USO COMUM DO POVO E ESSENCIAL SADIA QUALIDADE DE VIDA, IMPONDO-SE AO PODER PBLICO E COLETIVIDADE O DEVER DE DEFEND-LO E PRESERV-LO PARA AS PRESENTES E FUTURAS GERAES. 1.1- EXPLICANDO A ESTRUTURA DO ARTIGO 225 DA CF Muitas vezes, lemos um artigo de lei sem prestarmos ateno no real sentido, ou melhor, na significao das suas palavras e na interligao existente entre os ordenamentos jurdicos, mais ainda, dentro do prprio sistema constitucional. Assim, propomos um estudo dos elementos constitutivos do Direito Ambiental, presentes no art. 225 da CF/88. Direito: ao se dizer que o Meio Ambiente direito de todos, significa que como tal este bem jurdico deve ser tratado. A CF elevou o Meio Ambiente condio de um direito de todos. Todos: referente titularidade desse direito, significando que o meio ambiente ao mesmo tempo de cada um e de todos, no sentido de que o conceito ultrapassa a
*
Advogada ambientalista. Bolsista CAPES. Mestre e doutoranda em Direito Ambiental pela PUC/SP. Professora de Cincias Polticas da Faculdade de Direito Padre Anchieta e de Direito Civil da Universidade Paulista. Scia Fundadora da Associao dos Professores de Direito Ambiental do Brasil APRODAB.
87
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
esfera do indivduo para repousar sobre a coletividade. Conclui-se que a CF identifica a palavra todos na expresso povo que se apresenta em seguida. E, em sendo o povo o titular deste direito, encontramos no art. 1. da CF sua importncia ( o poder emana do Povo); temos no art. 5. da CF, caput, a determinao constitucional de que todos so iguais, sejam brasileiros ou estrangeiros residentes no Pas, para fins do exerccio dos direitos fundamentais ali estabelecidos, direito vida, igualdade, propriedade etc. Ento, os brasileiros e estrangeiros residentes no pas so os titulares do direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. E ao se falar de meio ambiente, embora uno, para melhor compreenso ele se apresenta sobre quatro aspectos: a) MEIO AMBIENTE ARTIFICIAL: compreendido pelo espao urbano construdo, est diretamente relacionado ao conceito de cidade, encontramos sua tutela mediata no art. 225 da CF, e imediata nos arts. 182 e seguintes, com a regulamentao dos arts. 182 e 183 da CF por meio do Estatuto da Cidade, uma Lei de Poltica Urbana - Lei n.10.257/ 01, trazendo em seu art. 1., pargrafo nico que estabelece normas de ordem pblica e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurana e do bem-estar dos cidados, bem como do equilbrio ambiental; b) MEIO AMBIENTE CULTURAL: tambm encontramos sua tutela mediata no art. 225 da CF, e imediata no art. 216 da CF, que traduz a histria de nosso povo, a sua formao, cultura, e, portanto, os prprios elementos identificadores de sua cidadania; c) MEIO AMBIENTE DO TRABALHO: constitui o local onde as pessoas desempenham suas atividades laborais, remuneradas ou no, cujo equilbrio est baseado na salubridade do meio e na ausncia de agentes que comprometam a incolumidade fsico-psquica dos trabalhadores, que est tutelado mediatamente pelo 225 da CF, e imediatamente pelos arts. 220, VII e 7., XXXIII da CF; d) MEIO AMBIENTE NATURAL: constitudo por solo, gua, ar atmosfrico, flora e fauna, que encontra guarida mediata no 225 da CF, e imediata no 225, pargrafo 1., incisos I e VII. O meio ambiente VIDA, sendo visto e tutelado em todos os seus aspectos, quer se buscando uma forma de viver bem nas cidades, utilizando-se de instrumentos para cuidar dos espaos construdos, sua urbanizao, dotando-as de equipamentos pblicos que as tornem mais saudveis, quer buscando a salubridade dos ambientes de trabalho, para que o trabalhador possa laborar e levar o po de cada dia para casa sem o risco de adoecer e/ou adquirir doena profissional que o impea de levar uma vida saudvel, e ainda preservando a histria de seu povo, sua cultura, bem como protegendo as matas, o solo, o ar e a gua, elementos vitais para a existncia do ser humano e demais seres vivos na face da Terra, pois a natureza possui uma interdependncia entre seus recursos naturais. Ao se falar em ecologicamente equilibrado temos certo que em razo dessa interdependncia existente entre os diversos aspectos do meio ambiente necessrio que haja sempre um equilbrio em seus ecossistemas, uma vez que no se tutela o
88
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
meio ambiente pelo meio ambiente, mas visando sadia qualidade de vida. J sabemos que o meio ambiente um direito de todos, povo brasileiro, que ao ser chamado de bem de uso comum do povo nos remete a uma nova modalidade de bem, uma vez que somente conhecamos o bem que, se no era meu ou de outra pessoa, era ento do Estado. a primeira vez que se fala sobre bem sem relacionar com propriedade. Relaciona-se o homem ao bem, sem propriedade. E no bastou ao legislador constituinte simplesmente trazer tona o bem ambiental como bem difuso - pertencente a todos, ele fez mais ao disciplinar que este bem deveria ser tambm essencial sadia qualidade de vida, associou, dessa forma, diretamente o bem ambiental pessoa humana, deixando claro ser ela a destinatria final do direito ambiental, que sua tutela a vida, e primordialmente a vida do homem. a chamada viso antropocntrica do direito ambiental, criticada por muitos que no entendem que o homem est no centro das relaes jurdicas, que o destinatrio da norma constitucional a pessoa humana, aquela que tem direitos e garantais fundamentais, direitos humanos, e a Constituio que garante isto pessoa humana. O objeto do direito ambiental tutelar o meio ambiente para que o homem possa viver com dignidade, a dignidade insculpida no art. 1., inciso III, da CF, que um dos fundamentos da Repblica Federativa do Brasil. E viver com dignidade ter ao menos o direito aos direitos sociais relacionados no artigo 6. da Constituio, o qual chamamos de piso vital mnimo, pois so os valores essenciais que preenchem o homem, a dignidade da pessoa humana... So eles: direito educao, sade, ao trabalho, moradia, ao lazer, segurana, previdncia social, proteo maternidade e a infncia, a assistncia aos desamparados. Sem isso, no se pode falar em dignidade da pessoa humana, pois o prprio legislador constituinte no falou simplesmente em qualidade de vida, ele acrescentou um plus, fala em sadia, com sade, saudvel, e estar gozando de sade no simplesmente ausncia de doenas, mas equilbrio fsico e mental. Desta feita, retornamos ao artigo 225 da CF para examinarmos os princpios e instrumentos de proteo ambiental existentes; o primeiro deles a ser destacado o Princpio do Desenvolvimento Sustentvel, que orienta toda a proteo ambiental; quando est disposto que: preserv-lo para as presentes e futuras geraes. Nessa frase, o legislador procurou evidenciar que o desenvolvimento sustentvel um princpio norteador. Vivemos num mundo capitalista, onde tudo tem preo, h o lucro, e no art. 170, VI, da CF, Da ordem econmica e financeira, encontramos a defesa do meio ambiente como um princpio balizador dessa ordem econmica, com o fim de assegurar a todos existncia digna. Ento, h a necessidade precpua de coexistncia do capitalismo versus defesa ambiental, ou seja, da livre iniciativa versus vida digna, ou o lucro versus a felicidade. Dever existir um equilbrio nesta equao. A preservao ambiental e o desenvolvimento econmico devem coexistir, de tal modo que a ordem econmica no inviabilize um meio ambiente ecologicamente equilibrado e sem que este obste o desenvolvimento econmico. Acreditamos que a parte final do artigo 225
89
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
soa como poesia, a poesia do amanh, da perpetuidade do homem, de que nossos filhos e netos podero continuar vendo o sol se pr etc. Tem cheiro de esperana... Na seqncia podemos destacar o princpio da preveno ou tambm chamado da precauo, que vem de forma explcita no caput do art. 225 da CF, dever de preserv-lo e defend-lo; um princpio de vital importncia, uma vez que a preveno a melhor maneira de se garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado, passvel de vida com dignidade, uma vez que na maioria das vezes o dano ambiental se torna irreparvel. S para exemplificar, eu estou escrevendo sobre guas subterrneas, e num Congresso tcnico de hidrogelogos eles estavam discutindo formas de despoluio dos aqferos, e ficou bem claro que, at o momento, se houver uma contaminao no h tcnicas de despoluio. Aqui vale o ditado, melhor prevenir do que remediar. O meio ambiente degradado raramente consegue voltar ao seu status quo ante. Dentro deste princpio da preveno podemos destacar importantes aliados: a educao e a informao ambiental inserida no art. 225, inciso VI, da CF, que pode ser uma das formas mais baratas de prevenir os danos ambientais, pois desde a infncia a criana tem que aprender a respeitar o meio ambiente. Certa feita, tive a oportunidade de ler um livro com o seguinte ttulo: Tudo o que eu devia saber na vida, aprendi no Jardim da Infncia; e verdade, l aprendemos as regras bsicas de convivncia comunitria, de responsabilidades com as nossas coisas e com as dos outros etc., e isso no esquecemos mais. Assim como entender que somos parte da natureza, como um membro o do corpo. E a, enfatizo a necessidade de sermos agentes multiplicadores, ensinando e falando sobre preservao ambiental dentro de casa, para os nossos vizinhos etc. Um importante instrumento de preveno aos danos ambientais o chamado ESTUDO PRVIO DE IMPACTO AMBIENTAL, previsto no art. 225, inciso IV, da CF, e de acordo com a Lei 6.938/81 (Lei da Poltica Nacional de Meio Ambiente) e com as resolues CONAMA que disciplinam sua forma, o mesmo sempre exigido para a instalao de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradao ambiental. um importante instrumento porque por meio dele so feitos diversos estudos com relao aos impactos negativos da obra atravs de equipe de profissionais de diversas reas, que apontam os impactos e relacionam as medidas mitigadoras dos mesmos. Porm, infelizmente temos notcias de obras do Poder Pblico cujo EIA (ou EPIA) foi totalmente encomendado de forma a mascarar e suprimir dados, a fim de licenciar estas determinadas obras, mas como ao estudo dado publicidade, e as falhas foram descobertas, todo o empreendimento pretendido foi suspenso por meio de medida judicial suscitada pela coletividade, pois temos na sociedade civil uma importante defensora dessa garantia constitucional, vez que esse estudo, EIA ou EPIA, no estava cumprindo o seu papel. Ainda, vale acrescer que os impactos analisados por equipe multi e interdisciplinar referem-se a todos os efeitos que determinada obra possa vir a causar, efeitos esses de ordem social, econmica, no tocante a sade, psicolgica, etc. pois o meio ambiente, como visto, o Todo que forma a Vida.
90
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
No pargrafo 3. do art. 225 da CF, encontramos a figura do poluidor pagador, o que no significa que pagando-se pode-se poluir, nada disso, h neste princpio duas rbitas de alcance: busca evitar a ocorrncia dos danos ambientais - carter preventivo; e outra, ocorrido o dano, visa a reparao - carter repressivo. Junto a esta figura podemos destacar o usurio pagador e o temos no art. 19 da Lei da Poltica Nacional de Recursos Hdricos (Lei n. 6938/81), que consiste na cobrana pelo uso da gua. preciso esclarecer que hoje s pagamos pela entrada e o afastamento da gua das nossas casas; essa cobrana pelo uso uma forma de desenvolvimento sustentvel, pois hoje sabemos tambm que a gua j no mais um bem infinito; constatou-se sua finitude, tanto que h previses que, por volta do ano 2025, 2/3 (dois teros) da populao mundial sofrero com a falta dgua. As regies chamadas de reas de mananciais, por possurem gua, sofrem com uma legislao de uso do solo muito restritiva, e com isso seu desenvolvimento econmico fica prejudicado. Com a cobrana do uso da gua, acreditamos que teremos uma forma de gesto adequada desse bem, bem como propiciar que os recursos financeiros obtidos com essa cobrana tenham aplicao prioritria na bacia hidrogrfica onde foram gerados, colaborando-se diretamente para a melhoria ambiental dos municpios da regio, propiciando a esses municpios um desenvolvimento sustentvel. O pargrafo 3. do art. 225 da CF traz que a responsabilidade ser objetiva, ou seja, o poluidor responder pelo dano independentemente de aferio de culpa, bem como traz que esta responsabilidade solidria. Estabelece ainda que a responsabilidade constitucional ambiental se dar nas esferas penal, administrativa e civil concomitantemente, quer seja o poluidor pessoa fsica ou jurdica. Voltando ao caput do art. 225 da CF, encontramos no Texto que: impe ao Poder Pblico o dever de defender e preservar o meio ambiente extramos da o princpio da obrigatoriedade da interveno do Estado, que no pode ficar omisso frente a ameaa ou leso de bens ambientais. Ainda, que a Constituio estabelece competncia legislativa concorrente sobre assuntos do meio ambiente Unio, aos Estados e ao Distrito Federal, estando limitado Unio o estabelecimento de normas gerais, aos estados e ao Distrito Federal a suplementao dessas normas gerais, e aos Municpios a suplementao da legislao federal e da estadual no que couber. J quanto competncia material, esta comum a todos os entes da Federao. Da mesma forma, esta imposio legal de defender e preservar o meio ambiente se d tambm coletividade, surgindo da o princpio da participao, princpio esse que faz de todos ns agentes cidados, ou seja, no basta irmos s urnas e depositarmos nossos votos, urge participarmos, e o artigo 225 da CF, nos impe esse dever de participao. 2- CONCLUSES Diante dessas breves consideraes a respeito da interpretao do art.
91
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
225 da Constituio Federal de 1988, pudemos perceber que o Texto Constitucional protegeu o meio ambiente em todas as suas formas, mostrando que ao se tutelar o meio ambiente est se tutelando o direito Vida; que se trata de um direito e de um dever, tanto do Poder Pblico como da Coletividade, bem como observamos que no captulo do Meio Ambiente, h a enumerao dos princpios que visam busca da qualidade de vida, trazendo ainda os instrumentos para a defesa e proteo do Meio Ambiente. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS BRASIL, Constituio da Repblica Federativa do Brasil: Promulgada em 05 de outubro de 1988. 22. ed. So Paulo: Saraiva, 2000. FIORILLO, Celso Antonio Pacheco & RODRIGUES, Marcelo Abelha. Manual de Direito Ambiental e Legislao Aplicvel. 2. ed. So Paulo: Max Limonad, 1999. FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. O direito de antena em face do direito ambiental no Brasil. So Paulo: Saraiva. 2000. _________. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. So Paulo: Saraiva. 2000. LEME, Paulo Affonso Machado. Direito Ambiental Brasileiro. 7. ed. So Paulo: Malheiros, 1998. MIRRA, lvaro Luiz Valery. Impacto Ambiental Aspectos da Legislao Brasileira. So Paulo: Oliveira Mendes, 1998. SOUZA, Luciana Cordeiro de. gua: Bem Ambiental. Dissertao de Mestrado apresentada na PUC/SP em 2001, 246 p. _________. O estudo prvio de impacto ambiental como instrumento de defesa do meio ambiente. Revista da Faculdade de Direito Padre Anchieta, Jundia, So Paulo, Ano IV, n. 7, p. 21-44. _________. Poluio das guas Doces: Responsabilidade Constitucional Ambiental. In: FIGUEIREDO, Guilherme Jos Purvin (coord.) Direito Ambiental em debate. APRODAB. So Paulo: ADCOAS, 2004, p. 177-188.
92
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
RESPONSABILIDADE CRIMINAL RESPONSABILIDADE CRIMINAL DOS MDICOS Lgia Priscila Dominicale*
INTRODUO O presente trabalho monogrfico traz baila o ntimo relacionamento da Medicina com o Direito, isto , a cincia mdica e a cincia jurdica. Tanto uma como a outra tm como objetivos precpuos resguardar a vida humana. Embora tenham este ntimo relacionamento, existem diversas condutas mdicas que necessitam de uma efetiva regulamentao jurdica a fim de assegurar a relao mdico-paciente e, em ltima anlise, punir o mdico pelas faltas por ele cometidas. Tais faltas podem ser definidas e sancionadas em trs mbitos diversos: administrativo (responsabilidade profissional), civil (responsabilidade civil) e penal (responsabilidade criminal), os quais podem tanto coexistir como existir isoladamente. Todavia, o que se pretende com o presente trabalho to somente demonstrar a responsabilidade criminal dos mdicos nos crimes contra a vida. Porm, para que isto seja feito com certa propriedade necessrio abordarmos tambm, ainda que superficialmente, as questes ticas e cveis. No podemos deixar escapar anlise os pressupostos da responsabilidade criminal, isto , os requisitos que devem ser preenchidos para que exista a responsabilizao penal: a culpa, elemento essencial dos crimes mdicos, bem como suas modalidades; o erro, seja ele inescusvel ou escusvel, bem como a prova destes. Insta consignar que, apenas a ttulo de ilustrao, constar tambm no presente trabalho uma nova tendncia no que tange a responsabilidade criminal, a qual seja, a teoria da imputao objetiva. I RESPONSABILIDADE MDICA Na antiguidade, o desempenho do mdico estava sob a proteo divina, com o seu marcado carter de religiosidade e de magia. O curar ou no o doente, o salvar ou no a vida estavam na dependncia de Deus. Nos primrdios do sculo passado, a Medicina desfrutava de um conceito de tal ordem que os seus profissionais estavam alm do bem e do mal, tanto que uma premissa bsica dos mdicos era: o sol alumia seus sucessos e a terra esconde
Bacharelanda em Direito pela FADIPA em 2003.
93
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
seus erros e desastres. Com efeito, a no ser um ou outro caso excepcional, normalmente o judicirio no era chamado para resolver pendncias entre o paciente e seu mdico. Mudaram-se os tempos. A relao de confiana mdico-paciente esvaiu-se a tal ponto que, na viso de alguns tcnicos, o profissional da Medicina passou a ser fornecedor de servios e o paciente consumidor.2 Algo de curioso sucedeu: a principio, o desempenho profissional era simples, pois as doenas normalmente venciam a luta contra a cincia, instrumentada em conhecimento escasso e tcnica rudimentar. A cobrana, em decorrncia disto, era mnima. Na medida em que os progressos da Medicina venceram etapas, a atuao tcnica, por paradoxal que parea, ganhou em complexidade, aumentando-se a cobrana. A Medicina foi despida da aura sacral que a cobria, e os seus eleitos, semideuses, vestiram a roupa do homem comum, sendo capazes de acertos, mas tambm de erros, falveis, como os demais seres humanos. Por isso, a atividade passou a ser objeto de disciplinamento em normas legais diversas, tais como as legislaes tica, civil e penal. Dessa forma, o mdico viu-se compelido a cumprir as disposies ticas, civis e penais, sob pena de ser responsabilizado profissional, civil e penalmente por seus atos. Isso decorre de um princpio jurdico segundo o qual todas as pessoas so obrigadas a responder por danos causados a terceiros, a fim de que sejam resguardados os interesses dos indivduos no seio da coletividade. Responsabilidade mdica pode ser definida como a obrigao que podem sofrer os mdicos em virtude de certas faltas por eles cometidas no exerccio de sua profisso, faltas estas que geralmente comportam um triplo efeito: administrativo, civil e penal. Sob este ltimo aspecto, o mdico se v, diante de um delito, sujeito a uma determinada pena. Quanto ao aspecto civil, acarretando o dano fsico um prejuzo econmico, impe-se um pagamento em dinheiro como forma de indenizao. Segundo explicita Genival Veloso Frana, existe uma corrente contrria a qualquer responsabilidade uma vez que a Medicina possui um mandato ilimitado junto cabeceira do doente, ao qual s pode aproveitar essa condio. Entre as razes apresentadas a fundamentar tal posio alegam: O diploma mdico uma prova inconteste de competncia e o profissional no poder ser julgado em cada novo caso; O temor s punies levaria a uma inibio e a um entrave ao progresso cientfico, tornando-se a Medicina uma cincia tmida e rotineira; Os tribunais leigos no teriam capacidade cientfica para julgar os feitos mdicos com preciso e equidade; A Medicina no uma cincia que tem a exatido da Matemtica e, por isso, varia em seus aspectos pessoais e circunstanciais. 3
2 3
tica, Moral e Deontologia Mdicas, Rio de Janeiro: Ed. Guanabara, 1997. p. 38. FRANA, Genival Veloso. Direito mdico, So Paulo: Fundao BYK, 1994. p.236.
94
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
Tais argumentos so carentes de fundamento porque, pela simples razo de o mdico ter um diploma, no se exime de seu estado de falibilidade. Por outro lado, a lei no entrava o progresso de nenhuma cincia, ao contrrio, ela a ampara e protege. O que realmente compromete o progresso da Medicina a irresponsabilidade mdica. E, ainda, os tribunais no so leigos nem incompetentes, pois, quando os juzes avaliam as faltas dos mdicos, manifestam-se, como visto anteriormente, depois de ouvir os prprios mdicos (peritos), que so, em tese, os olhos da lei. Finalmente, embora no haja na Medicina a exatido fria da Matemtica, sempre existe um critrio de previsibilidade, a fim de se afastarem os erros considerados evitveis. Dessa forma, superada a tese da irresponsabilidade mdica, passemos agora anlise das esferas da responsabilidade mdica. De um modo geral, responsabilidade a obrigao de assumir as conseqncias de ao prpria ou na dependncia das circunstncias alheias. Assim, aquele que o sujeito da ao poder responder por ela perante as autoridades competentes, arcando com o nus de suas descries.4 Da mesma forma que a responsabilidade criminal j exposta anteriormente, a responsabilidade mdica necessita de pressupostos para que possa existir. Segundo Delton Croce Jnior, em suma, so trs os elementos exigidos para a caracterizao da responsabilidade mdica: agente, ato e culpa. O agente: Por evidente, s pode ser o mdico responsvel, que se encontram na plena posse de suas faculdades mentais, portanto em grau de prever as conseqncias das prprias aes, posto que se for o dano produzido por indivduo desprovido de habilitao tcnica ou de habilitao legal, alm da responsabilidade civil responder, no foro criminal, pelo delito de curandeirismo ou de exerccio ilegal da Medicina. O ato: O dano dever ser conseqente de um ato mdico lcito. Caso o facultativo utilize a sua profisso para praticar dolosamente um ato ilcito, responder independentemente de sua profisso, como qualquer cidado, seja qual for a natureza de seu mister. A culpa: Como j explicitado, a conduta voluntria (ao ou omisso) que produz um resultado (evento) antijurdico no querido, mas previsvel e excepcionalmente previsto, que poder, com a devida ateno, ser evitado.5 Verifica-se, assim, que o mdico, com apenas uma conduta (ao ou omisso) de que resulte um dano, poder sofrer reflexos jurdicos de responsabilidade em trs searas: administrativa (tica), civil e criminal. 1.1 RESPONSABILIDADE CRIMINAL A responsabilidade penal do mdico a conseqncia ordinria da comis4 5
MORAES, Ivany Novah, Erro mdico e a lei. 4. ed. So Paulo: Lejus, 1998, p. 355. CROCE, Delton. Erro Mdico e o Direito, So Paulo: Ed. Oliveira Mendes, 1997. p. 9
95
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
so (por ao ou omisso) de um delito e implica para o culpvel a obrigao de submeter-se pena que a lei estabelecer. Para a existncia do delito, como exposto nos captulos anteriores, so necessrios alguns elementos: existncia de uma ao, sua tipicidade e sua ilicitude. Dessa forma, constituem-se crimes ou infraes penais apenas as condutas pessoais (individuais ou em grupos) previstas nas leis penais, ou seja, tipificadas6. Verifica-se ento que, por fora dos princpios bsicos expressos no art. 5, XXXIX, CF, c.c. art. 1 do CP, sem previso prvia e expressa de conduta vedada, no h infrao penal a apurar e punir. A responsabilidade criminal sempre decorre da culpa em sentido amplo. Nela se encontram o dolo e a culpa stricto sensu. No caso em tela, por tratar-se da responsabilidade criminal dos mdicos, trabalharemos somente com os delitos culposos pois, como j mencionado anteriormente, na medida em que o mdico comete um crime doloso, ou seja, ao/omisso voluntria e desejada, neste momento, sua conduta deixa de ser profissional passando ele a atuar como um cidado comum, no atuando, assim, como profissional da Medicina. A culpa na atividade mdica consubstancia-se no chamado erro mdico. Como visto anteriormente, existem duas formas de erro: inevitvel (escusvel) e evitvel (inescusvel). O erro inevitvel no constitui conduta culposa, uma vez que, nestes casos, o agente toma todos os cuidados objetivos necessrios mas, mesmo assim, sua conduta encerra em alguma leso ao bem juridicamente tutelado. Assim sendo, havendo o erro inevitvel, exclui-se o dolo e a culpa, no sendo o agente responsabilizado pelo resultado lesivo. O contrrio o que ocorre no erro evitvel. Nessas ocasies, o agente pode evitar o evento danoso (resultado lesivo), porm no toma as cautelas exigveis, infringindo o dever de cuidado objetivo que a ele era devido. A infrao ao cuidado objetivo provoca, como j estudado, a ocorrncia da imprudncia, negligncia ou impercia, constituindo-se assim a culpa stricto sensu. Nessas hipteses, ento, o mdico responder criminalmente pelos resultados danosos advindos de sua conduta errnea, ou seja, culposa. Existe hoje uma forte tendncia no Direito Penal que o Direito Penal Mnimo, ou seja, aquele aplicado mediante o Princpio da Interveno Mnima. A principal teoria que estuda tal fenmeno a Teoria da Imputao Objetiva, assunto novo e extremamente complexo mas que sob a tica das condutas mdicas no poderia deixar de ser abordado. Teoria da imputao objetiva significa, num conceito preliminar, atribuio de uma conduta ou de um resultado normativo a quem realizou um comportamento criador de um risco juridicamente proibido7. Apia-se na idia de que o resultado normativo s pode ser imputado a quem realizou uma conduta geradora de um
SEBASTIO, Jurandir. Responsabilidade civil, criminal e tica, Ed. Del Rey, 1998, Belo Horizonte, MG. p. 21. JAKOBS, Guinther. A imputao objetiva no direito penal. Traduo de Andr Lus Calegari. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 25.
7 6
96
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
perigo juridicamente reprovado ao interesse jurdico e de que o evento deve corresponder quele que a norma incriminadora procura proibir. Trabalha com os conceitos de risco permitido (excludente da tipicidade) e risco proibido (relevncia penal da conduta). Nessa teoria so utilizados como mtodos auxiliares os princpios da confiana, da proibio de regresso e do consentimento da vtima. De acordo com a teoria da imputao objetiva, o resultado normativo s pode ser atribudo ao sujeito quando: A conduta criou ao bem juridicamente tutelado um risco no autorizado e relevante; O risco converteu-se no resultado jurdico que a norma incriminadora visa a proibir, sendo imprescindvel que o evento normativo tenha refletido, como sua realizao, o risco criado pelo comportamento que a norma procura impedir. A Teoria da Imputao Objetiva, a nosso ver, surgiu com o escopo de ser um novo filtro ao liame entre a conduta e o resultado. De acordo com essa teoria, no basta, para que se reconhea o nexo causal, o primeiro filtro da causalidade fsica, apurada pelo critrio de eliminao hipottica, nem o segundo filtro consubstanciado no dolo ou culpa urge ainda que o agente, com sua conduta, tenha criado para o bem jurdico um risco acima do permitido. A verificao do nexo causal, aps passar pelos filtros da eliminao hipottica e da causalidade psquica, depende ainda de a conduta do agente ter incrementado um risco para o bem jurdico. A Teoria da Imputao Objetiva visa restringir a incidncia do nexo causal, e no propriamente imputar a conduta tpica ao agente. Trata-se, conforme j salientamos, de mais de uma limitao questo da causalidade, atravs de critrios normativos que se coadunam com a prpria funo do Direito Penal, que deve limitar-se a reprimir as aes que criam para o bem jurdico um risco desaprovado, que evolui para a produo de um resultado que se pudesse evitar. Imputao objetiva significa atribuir a algum a realizao de uma conduta criadora de um relevante risco juridicamente proibido e a produo de um resultado jurdico8. A expresso imputao objetiva no se confunde com responsabilidade objetiva (excluda do direito brasileiro), que significa responder o autor pelo resultado de um crime, ainda que no o tenha causado dolosa ou culposamente, bastando, simplesmente, o nexo causal. A teoria da imputao objetiva pretende incluir em todos os tipos penais um elemento normativo implcito, qual seja, o juzo de imputao objetiva. Assim, no haver fato tpico, tanto dos crimes comissivos ou omissivos, materiais, formais ou de mera conduta, quando o agente, mesmo realizando a conduta descrita no tipo penal, tiver se comportado dentro de seu papel social, ou seja, fizer exatamente o que a sociedade dele espera. Em outras palavras, no haver fato tpico quando a conduta do agente nada mais representar do que um comportamento absolutamente normal e esperado, visto que, nesses casos, o risco criado para a violao do
8
JESUS, Damsio E. Imputao objetiva, 2. ed. So Paulo: Saraiva, 2002. p. 34.
97
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
bem jurdico torna-se um risco tolerado ou permitido. Haver, ento, fato tpico somente quando o agente, com seu comportamento, criar um risco fora do que a coletividade espera, aceita ou se dispe a tolerar, ou seja, um risco juridicamente proibido. A adequao social funciona como um pressuposto da imputao objetiva, na medida em que um fato socialmente adequado corresponder a um comportamento tolerado ou permitido, no se podendo falar em risco proibido, pois faltaria um elemento do fato tpico, gerando, conseqentemente, a atipicidade da conduta.9 Embora a adequao social seja sua premissa bsica, a imputao objetiva no se esgota com ela. Tambm no haver imputao do resultado naturalstico, quando este no estiver dentro da linha de desdobramento causal, ou seja, quando o resultado no estiver sob o domnio causal do agente. O princpio da confiana tambm influencia diretamente na imputao objetiva, pois se o agente ficou dentro de seu papel social, confiando que o outro ficaria no seu, no pode ser responsabilizado pela traio deste ltimo. Exemplo: o mdico confia que o auxiliar vai lhe passar um bisturi esterilizado; se isto no ocorrer e o paciente morrer de infeco, o cirurgio no ter criado um risco proibido e, assim, no responder pelo resultado. A sociedade no exige que ele confira a higienizao durante a operao, entendo ser natural que o mdico confie em seu enfermeiro e, conseqentemente, o fato atpico por ausncia de imputao objetiva. O mesmo ocorre com o princpio da auto-responsabilidade do lesionado. Se a vtima, com plena capacidade de consentir, aceita colocar-se em situao de risco, como, por exemplo, sujeitando-se a uma cirurgia esttica perigosa, tal perigo socialmente permitido, de modo que o autor do convite fica exonerado de eventual resultado danoso (eventual choque anafiltico). No haver tambm imputao pelo resultado quando o agente acompanha a finalidade da norma e se orienta no sentido de diminuir o perigo para o bem jurdico. tambm o caso do mdico que, ante um caso complicado em que o paciente corre risco de morte, intervm cirurgicamente, causando a morte do paciente. Esse resultado (morte) no imputado ao agente, visto que, com seu comportamento, procurou proteger o bem jurdico tutelado, diminuindo o seu risco de leso, causando porm um resultado danoso que a ele no ser imputado por tentar diminuir o risco. Pela teoria da imputao objetiva, os tipos penais incriminadores passam a conter um elemento normativo, qual seja, a imputao objetiva, de modo que sem ela o resultado ou a conduta so atpicos. Conseqentemente, nos delitos materiais passa-se a exigir que o agente tenha realizado uma conduta criadora de um risco juridicamente proibido a um objeto jurdico, bem como produzido um resultado (tambm jurdico) que corresponda sua realizao.
9
PRADO, Luiz R. Teorias da imputao objetiva do resultado. So Paulo: RT, 2002. p. 57.
98
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
Da a importncia da conceituao de risco permitido e proibido, considerando que o risco permitido conduz atipicidade e o risco proibido, quando relevante, tipicidade. De acordo com a teoria da imputao objetiva, independentemente de dolo e culpa, um resultado no poder jamais ser imputado ao autor se no estiver presente, pelo menos, um destes elementos: criao de um risco proibido para o resultado; comportamento voltado a aumentar a situao de risco proibido. Assim, s haver imputao do resultado ao autor do fato se tal resultado tiver sido provocado por uma conduta criadora de um risco juridicamente proibido ou se o agente, com seu comportamento, tiver aumentado a situao de risco proibido e, com isso, gerado o resultado. Por outro lado, mesmo contribuindo para a produo do resultado, se o autor agiu de modo a ocasionar uma situao de risco permitido ou tolervel, o resultado no lhe poder ser imputado.10 Por risco permitido devemos entender todos os perigos criados por condutas decorrentes do desempenho normal do papel social de cada um. Certos comportamentos, dada a sua importncia para a sociedade ou pela sua absoluta naturalidade, nada mais representam do que atos normais da vida cotidiana, os quais, ainda que provoquem naturalisticamente algum dano, no podem ser atribudos ao autor. Considerando que o risco inerente ao progresso e ao convvio da coletividade, o Estado, atravs das normas jurdicas e das regras tcnicas, estabelece limites diante da necessidade de no impor proibio absoluta prtica de atividades arriscadas, porm benficas sociedade. Desta forma, a distino entre risco permitido e proibido (lcito ou ilcito) obtida em funo desse limite imposto pelo Estado e no pela prpria gravidade do risco. Ponto importante no que tange responsabilidade mdica frente Teoria da Imputao Objetiva o Princpio da Confiana. Trata-se de uma derivao especializada do risco permitido, possuindo caractersticas prprias que o tornam insuscetvel de ser absorvido, quer pelo risco permitido, quer pela adequao social. Est intimamente ligado ao critrio do papel social desempenhado pelos cidados individualizados. um princpio especialmente aplicvel no trfego de veculos automotores, no trabalho em equipe de profissionais e na realizao dolosa ou culposa por parte de terceiros. Est embasado na afirmao de que toda pessoa pode supor que os demais respeitaro as mesmas normas regulamentares, ou seja, confia-se no outro porque se sabe que ele tambm ter que desenvolver cuidados em ordem de proteger de perigos todos os membros da sociedade. Neste mbito encontra-se inserta a conduta dos mdicos que atuam sempre em equipe como, por exemplo, numa cirurgia em que cada mdico possui sua funo e cada qual confia plenamente em seu companheiro. De acordo com o princpio da confiana, no realiza conduta tpica quem,
10
JESUS, Damsio E. de. Op. cit., p. 88.
99
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
agindo de acordo com o direito, envolve-se em situao em que terceiro, descumprindo seu dever de cuidado, permite a produo de resultado danoso, no obstante o conhecimento geral de que as pessoas cometem erros. Observa-se aqui a excluso da tipicidade da conduta. Tema de alta relevncia no que tange responsabilidade criminal do mdico luz da Teoria da Imputao Objetiva o consentimento da vtima para que o mdico possa agir. Embora o consentimento do ofendido no se encontre expresso no CP como causa excludente da tipicidade ou da ilicitude, sua importncia no que se refere a apurao da responsabilidade penal ponto pacfico entre os penalistas contemporneos. No entanto, a ausncia de regulamentao legal d margem a relevantes discusses doutrinrias. Com a teoria da imputao objetiva, h uma tendncia de conceder ao consenso da vtima maior relevncia no terreno da tipicidade e no da antijuridicidade. Os penalistas esto comeando a considerar que a contribuio do ofendido na pratica do fato, mediante consentimento, nas hipteses em que o tipo no menciona o dissentimento, deve produzir efeito no plano da tipicidade, excluindo-a e no a ilicitude. Alm do consentimento, h aes em que a vtima tambm participa do fato danoso, hipteses estas que a doutrina classifica como aes a prprio risco. Sob a gide desse tema, esto tambm aquelas aes em que o lesionado expese unilateralmente ao risco, de maneira que o evento jurdico s pode ser interpretado como obra sua e no como efeito de quem criou ou favoreceu a situao arriscada. Nessas ocasies, de acordo com as circunstncias do fato, no se atribui o resultado ao terceiro. Pelo acima exposto conclui-se que o mdico somente seria responsabilizado pelo evento danoso sofrido pelo paciente se, com sua conduta, o tivesse colocado em situao de risco no permitido (proibido) sem que este tivesse consentido. Dessa forma, verifica-se que, pela Teoria da Imputao Objetiva, o mdico jamais seria responsabilizado uma vez que sempre age com o consentimento do paciente e, nas raras vezes em que age sem o consentimento deste, est agindo de acordo com os parmetros estabelecidos pelo risco permitido, uma vez que a interveno mdica aceita socialmente. Em que pese a importncia cientfica da teoria supramencionada, no tem ela aplicao prtica nos dias atuais, uma vez que incompatvel com o Sistema Penal em vigor. O que prevalece hoje a responsabilizao criminal do mdico quando este agir de acordo com o erro evitvel (inescusvel), uma vez que, nestes casos, agir com imprudncia, negligncia ou impercia, razo pela qual dever ser punido criminalmente. A responsabilidade criminal deve ser amplamente aplicada para que os mdicos procedam de acordo com as diligncias necessrias para com seus pacientes, pois a responsabilidade profissional, por si s, no seria capaz de coibir a displicncia do comportamento mdico frente sociedade.
100
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
No entanto, embora a responsabilidade criminal deva ser amplamente aplicada, existem dois casos em que deve ser excluda, por fora de determinao legal, ou seja, quando houver caso fortuito e fora maior. Apesar de a conduta do mdico ser correta e adequada aos seus deveres profissionais, podem ocorrer resultados danosos como conseqncia de fatos estranhos, no tendo aquele profissional condies nem de prev-los nem de impedilos. So consideradas como incidncia de caso fortuito as ocorrncias extraordinrias e excepcionais, alheias vontade e ao do mdico e que guardam caractersticas de imprevisibilidade e inevitabilidade11. Como exemplo de tais situaes, pode-se citar o caso do mdico que prescreve medicamento de uso corrente e o resultado se mostra diferente do usual podendo levar o paciente morte. Ou, ainda, quando ele emprega procedimento habitual e o paciente apresenta reao imprevista. No que diz respeito atuao mdica, importante tambm no confundir caso fortuito com conduta negligente ou imprudente. Da, salta aos olhos mais uma vez a anlise da diligncia despendida por aquele profissional no cumprimento de sua prestao obrigacional. O mau resultado advindo por caso fortuito reveste-se das caractersticas da inevitabilidade e de imprevisibilidade, enquanto um mau resultado advindo por imprudncia, negligncia ou impercia seria plenamente evitvel, se fosse outra a conduta do profissional, ou seja, se tivesse ele adotado uma postura correta e diligente. A fora maior, em sentido genrico, constitui-se em um poder ou uma razo mais forte do que aquela que atua, sendo decorrente da irresistibilidade de um determinado fato que, por sua potencialidade exacerbada, vem impedir a realizao, ou modificar o cumprimento de uma obrigao, qual estava adstrito o devedor12. Contudo, os efeitos jurdicos, tanto no caso fortuito quanto da fora maior, so assemelhados, em razo da impossibilidade de serem evitados, j que nenhuma fora os pode impedir de atuar. A nica diferenciao que no caso fortuito um evento sem previso enquanto que a fora maior previsvel, mas inevitvel. Dessa forma, observando que os dois casos supra expostos fogem ao controle, no s do mdico, mas tambm de qualquer cidado, no h que se falar em responsabilidade criminal, pois no Direito Penal Brasileiro no h responsabilidade se o agente no agiu ao menos com culpa.
11 12
SEBASTIO, Jurandir. Op. cit., p. 199. SEBASTIO, Jurandir. Op. cit., p. 199.
101
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
CONCLUSO A Medicina tem como finalidade precpua a investigao das mais diversas entidades nosolgicas e o estabelecimento condutas no sentido de manter ou restituir a sade dos indivduos. , em suma, uma profisso a servio da sade do ser humano e da coletividade. O Direito uma cincia social que existe para regulamentar a vida em sociedade e tambm os conflitos a ela inerentes atravs de normas jurdicas que podem ou no ser de cunho moral. As duas cincias entrelaam-se na medida em que o Direito passa a regular e tambm fiscalizar as relaes jurdicas existentes entre mdicos e pacientes, evitando que entre eles surjam conflitos ou, ainda, solucionando os conflitos existentes. H certas condutas tomadas pelo mdico que, luz da legislao brasileira, especialmente aquelas descritas no Cdigo Civil, Cdigo de tica Mdica e Cdigo Penal, geram responsabilidade jurdica, podendo ela ser civil, tico-profissional e/ ou criminal. Nos trs mbitos de responsabilidade, que so independentes entre si, so necessrios trs requisitos indispensveis: conduta, resultado e nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. Em especial na esfera criminal, para que a um agente seja atribuda a prtica de um delito necessrio que existam os seguintes requisitos: conduta (dolosa ou culposa), tipicidade (subsuno da conduta norma jurdica) e antijuridicidade da conduta (contrariedade da conduta com os ditames morais e legais). Da mesma forma existe um requisito para que ao agente seja aplicada a sano correspondente ao delito por ele praticado. Tal requisito a culpabilidade. Em nosso sistema penal somente so punveis os fatos resultantes de conduta dolosa ou culposa, sendo que dolosa aquela em que o sujeito ativo quer o resultado (leso ou perigo de leso ao bem jurdico penalmente tutelado) ou assume o risco de produzi-lo, e conduta culposa aquela em que o agente inobserva o dever de cuidado objetivo criando um resultado danoso no querido e no previsvel subjetivamente que, tomando as cautelas necessrias, poderia ter sido evitado. Observa-se aqui a diferena entre o sistema penal vigente e aquele proposto pela teoria da imputao objetiva, pela qual haver responsabilidade quando o agente, com seu comportamento, colocar em risco um bem juridicamente tutelado, causando-lhe leso, havendo responsabilidade independentemente da inteno do agente (dolo ou culpa). Ponto no menos importante do trabalho no que tange existncia ou no de responsabilidade aquele que trata do erro e suas modalidades. Vimos que o erro escusvel no autoriza a responsabilidade criminal, pois o sujeito ativo, nesses casos, toma todas as cautelas necessrias e, mesmo assim, o resultado lesivo ocorre, enquanto que no erro inescusvel o sujeito ativo no toma todos os cuidados necessrios a evitar o resultado e este acaba ocorrendo, casos estes em
102
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
que existe a responsabilidade criminal. Importante ressaltar tambm que para que o sujeito ativo (mdico) seja submetido s penas descritas nos tipos que descrevem a conduta por ele praticada, necessrio que haja sido condenado por sentena irrecorrvel, sendo que, para que isso ocorra, ser necessrio o devido processo legal, no qual conferido ao acusado o direito ampla defesa, pelo qual este defende-se buscando a absolvio. Em todos os casos mdicos sub judice nos quais se discute a responsabilidade criminal exige-se prova inequvoca do dolo, culpa ou erro inescusvel do mdico para autorizar a sua condenao e, na maioria das vezes, tal prova pericial e, em alguns casos, acaba sendo maculada pelo fenmeno do corporativismo mdico. Dessa forma, conclui-se que haver responsabilidade criminal quando a conduta do mdico estiver subsumida a um tipo penal (tipicidade), for antijurdica (contrria ao Direito) e causar danos a terceiros (vtima). A conduta do mdico, para autorizar a responsabilidade criminal, dever ser dolosa, culposa ou proveniente de erro inescusvel, os quais devero ser provados em processo judicial, respeitando-se o princpio do due process of law, colhendo-se as provas necessrias elucidao da questo, ainda que estas estejam maculadas pelo corporativismo mdico. Advindo a sentena condenatria irrecorrvel, ou seja, a sentena penal condenatria transitada em julgado, observar-se- a culpabilidade, bem como seus pressupostos, para que seja aplicada a pena imposta ao criminoso, neste caso, mdico criminoso. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal, 6. ed. So Paulo: Saraiva, 1999. COUTINHO, Lo Meyer. Responsabilidade tica, Penal e Civil do Mdico, 1. ed. Braslia: Braslia Jurdica, 1997. CROCE JNIOR, Delton. Erro Mdico e o Direito. So Paulo: Oliveira Mendes, 1997. DINIZ, Maria Helena, Curso de direito civil brasileiro, vol. 7. Responsabilidade civil. 13. ed. So Paulo: Saraiva, 1999. FRAGOSO, Heleno Cludio. Lies de direito penal parte especial arts. 121 a 212 do CP. Rio de Janeiro: Forense,1983. FRANA, Genival Veloso. Direito mdico, So Paulo: Fundao BYK, 1994.
103
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
____. Comentrios ao cdigo de tica mdica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998. GIOSTRI, Hildegard Taggesell. Responsabilidade mdica, Vol.V, Curitiba: Juru, 2001. GOMES, Hlio. Medicina legal, 15. ed. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos S.A, 1998. JAKOBS, Gunther. A imputao objetiva no direito penal. Traduo de Andr Lus Calegari. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. JESUS. Damsio E. de. Direito Penal Parte Geral. 8. ed.So Paulo: Saraiva, 2000. _____.Imputao Objetiva. 2. ed. So Paulo: Saraiva, 2002. MAGALHES, Jos Calvet de. Responsabilidade penal do mdico. So Paulo: Livraria Acadmica Saraiva S.A., 1946. MARQUES, Jos Frederico. Tratado de Direito Penal Parte Especial. So Paulo: Saraiva, 1961. MIRABETE, Jlio Fabbrini. Manual de direito penal parte geral, Vol. I. So Paulo: Atlas, 2000. _____.Manual de direito penal parte especial, Vol. II. So Paulo: Atlas, 2001. MONTALVO, A. Siqueira. Erro Mdico, Reparao do dano material, esttico e moral (teoria, legislao e jurisprudncia), vol. I. _____. Erro Mdico, Reparao do dano material, esttico e moral (teoria, legislao e jurisprudncia), vol. II. So Paulo: Julex, 1997. MORAES, Ivany Novah de. Erro Mdico e a Lei. 4. ed. So Paulo: Lejus, 1998. NETO, Jos Kfouri. Culpa Mdica e nus da prova. So Paulo: RT, 2002. PETROIANU, Andy. tica, Moral e Deontologia Mdicas. Rio de Janeiro: Guanabara, 1997.
104
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro parte especial arts. 121 a 183, Vol. II. So Paulo: RT, 2002. _____. Teorias da Imputao Objetiva do Resultado. So Paulo: RT, 2002. SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite. Transplante de rgos e eutansia. So Paulo: Saraiva, 1992. SEBASTIO, Jurandir. Responsabilidade civil, criminal e tica. Belo Horizonte: Del Rey, 1998. SGUIM, Elida. Biodireito. 3. ed. Rio de Janeiro: Lmen Jris, 2001.
105
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
106
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
SOCIOLOGIA SOCIOLOGIA SOCIOLOGIA JURDICA OU SOCIOLOGIA DO DIREITO? * Glauco Barsalini**
Aos amigos Dalton Tffoli Tavolaro e Solange Pierro Tavolaro (in memorian), por quem tenho um carinho muito especial. 1. INTRODUO A Sociologia serve para auxiliar as pessoas a refletir sobre a vida, principalmente a vida social, aquela em que todos ns nos inserimos, queiramos ou no. O socilogo Wright Mills, em seu livro A imaginao sociolgica, afirma: O que precisam (os seres humanos nota do autor), e o que sentem precisar, uma qualidade de esprito que lhes ajude a usar a informao e a desenvolver a razo, a fim de perceber, com lucidez, o que est ocorrendo no mundo e o que pode estar acontecendo dentro deles mesmos. essa qualidade, afirmo, que jornalistas e professores, artistas e pblico, cientistas e editores esto comeando a esperar daquilo que poderemos chamar de imaginao sociolgica. E continua: a imaginao sociolgica capacita seu possuidor a compreender o cenrio histrico mais amplo, em termos de seu significado para a vida ntima e para a carreira exterior de numerosos indivduos. Permite-lhe levar em conta como os indivduos, na agitao de sua experincia diria, adquirem freqentemente uma conscincia falsa de suas posies sociais. (p. 11) Sendo assim, sabemos que fundamentos conceituais da Sociologia Clssica so importantssimos para o desenvolvimento da imaginao sociolgica. Tais conceitos constituem o que poderamos chamar de alicerces para o raciocnio que se pretende cientfico no campo das cincias humanas. Por meio do contato com as idias de evoluo social, movimentos dinmico e esttico, organicismo, fato social, conscincia coletiva, anomia, solidariedade orgnica e mecnica elaboradas pelos positivistas; dos conceitos de ao social, relao social e tipo ideal, ancorados na subjetividade humana e no historicismo analtico, criando-se com isso o mtodo compreensivo, weberiano; e, finalmente, do extenso estudo sobre a histria humana fundamentado no mtodo dialtico, originando o materialismo histrico, e, com ele, toda uma profunda anlise sobre a economia dos povos como infra-estrutura das relaes polticas, das culturas, das religies, e dos direitos das
*
Este texto uma adaptao da monografia apresentada, em 2002, como exigncia parcial para obteno do ttulo de Bacharel em Cincias Jurdicas e Sociais Banca Examinadora da Faculdade de Direito da PUC de Campinas sob a orientao do Prof. Ms. Arnaldo Lemos Filho. ** Professor da Faculdade de Direito Padre Anchieta.
107
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
civilizaes, estudo este desenvolvido pelo marxismo, que se pode chegar a uma compreenso racional-cientfica do mundo, que se pode enxergar o que aparentemente no existe, ver o invisvel, compreender, enfim, cientificamente o que est por trs das relaes sociais, religiosas, econmicas e polticas que se estabelecem entre os seres humanos, ou seja, elaborar a imaginao sociolgica. A imaginao sociolgica , portanto, a capacidade de entendimento cientfico do universo e de criao intelectual do novo, daquilo que pode ser realizado no futuro. Deve-se ressaltar, todavia, que o desempenho de qualquer outro tipo de conhecimento, do religioso, do artstico, do filosfico, e do senso-comum, absolutamente legtimo. No sabe mais o cientista que o homem do campo; no sabe mais, portanto, o socilogo que o lavrador ou o operrio. Sabe, apenas, de modo diferente. Queremos dizer, com isso, que aqueles que no desenvolvem a imaginao sociolgica simplesmente no desenvolvem a capacidade de compreenso do mundo segundo os parmetros da cincia social. Todavia, se o Direito uma cincia, aqueles que o estudam devem necessariamente desenvolver o raciocnio cientfico, e, se, ainda mais, o Direito configura a Cincia Jurdica e Social, devem os que se inclinam a estud-la poder raciocinar sobre os objetos de tal cincia de modo apropriado, ou seja, ser capazes de desempenhar a imaginao sociolgica. A Sociologia Jurdica , no nosso entendimento, a cincia3 que busca compreender as relaes entre o ordenamento jurdico e os acontecimentos sociais, entre o conjunto de formulaes tericas a respeito da lei, de um lado, e da realidade social, de outro lado. a cincia, portanto, que quer compreender, dentre outros elementos, a eficcia social do Direito. No universo de uma das formas de compreenso do que a Sociologia Jurdica, o importante jurista Hans Kelsen afirma: O objeto da Jurisprudncia Sociolgica (leia-se Sociologia Jurdica - nota do autor) no so as normas jurdicas em seu especfico sentido de afirmaes de dever ser mas a conduta jurdica (ou antijurdica) dos homens. Supe-se que estas regras so da mesma classe que as leis da natureza e, portanto, que, como elas, proporcionam os meios para predizer os sucessos futuros dentro da comunidade jurdica, conduta futura que ser caracterizada como Direito (...) A Jurisprudncia Normativa (leia-se Cincia Jurdica nota do autor) versa sobre a validez do Direito; a Jurisprudncia Sociolgica sobre sua eficcia. (p. 18 - 19) Questo controversa no seio da Sociologia Jurdica contempornea a que diz respeito definio de seu prprio nome. Muito se tem discutido sobre o termo que deve definir a cincia que estuda as relaes entre o Direito e a Sociedade.
H autores que entendem que a Sociologia Jurdica ramo da Sociologia Geral; j outros defendem que a Sociologia Jurdica ramo da Cincia Jurdica. Para ns, diferentemente, a Sociologia Jurdica ou do Direito desponta como uma cincia, e no apenas um ramo de outra cincia. Est se consolidando, e aos poucos ganhando o status de cincia, desenvolvendo mtodos prprios, enfim, adquirindo a estatura de cincia.
3
108
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
Os manuais de Sociologia Jurdica ou Sociologia do Direito trazem diferentes definies sobre tais termos. Alguns se utilizam indiscriminadamente de um e do outro, entendendo significarem ambos a mesma coisa. Outros fazem distines, atribuindo ao termo Sociologia Jurdica um significado e ao termo Sociologia do Direito outro significado. Outros autores, ainda, trazem definies diversas, contrastando Sociologia do Direito com Sociologia no Direito, ou ento introduzindo o termo Conceito Sociolgico do Direito, ou mesmo Sociologia Aplicada ao Direito. Nossa tarefa, neste trabalho, revelar tal discusso, traando um panorama desse debate, procurando, didaticamente, torn-lo mais claro para aqueles que se empenham em estudar a Sociologia Jurdica brasileira.4 Para tanto, utilizamos os trabalhos de Celso A. Pinheiro de Castro; Adriana A. Loche, Helder R. S. Ferreira, Lus Antnio F. Souza e Wnia Pasinato Izumino; Roberto Lyra Filho, Jos Eduardo Faria e Celso Fernandes Campilongo; Boaventura de Sousa Santos; Ana Lcia Sabadell; Miguel Reale; Pedro Scuro Neto; Srgio Cavalieri Filho; Eliane Botelho Junqueira e Luciano Oliveira; Miranda Rosa; e A. L. Machado Neto. Reservamo-nos, tambm, o direito de realizar uma leitura crtica sobre as relaes conceituais e prticas entre juristas e socilogos, ainda que com o risco de estarmos emitindo, em alguns momentos, juzos de valor. 2. SOCIOLOGIA JURDICA OU SOCIOLOGIA DO DIREITO? Contemporaneamente, tem sido feita a distino entre a Sociologia Jurdica e a Sociologia do Direito. Mas, afinal de contas, o que a Sociologia Jurdica? Celso A. Pinheiro de Castro associa o termo Sociologia Jurdica ao termo Sociologia aplicada ao Direito, definindo-a como. aquela que estuda fenmenos jurdicos configurados valores, modelos definidos em normas e integrados na estrutura social vigente nos aspectos patentes investigando as conexes em nvel de latncia (p. 178). A definio, bastante abrangente, afirma que existem fenmenos jurdicos postos no ordenamento jurdico, como tambm existem aqueles que se produzem socialmente, no seio da sociedade, a partir das relaes sociais efetivas. Tais produes sociais, que so jurdicas, relacionam-se com as produes de carter institucional, que so as leis. Dessa forma, faz-se necessrio investigar tais relaes. H autores, todavia, que fazem distino entre Sociologia Jurdica e Sociologia do Direito. Adriana A. Loche, Helder R. S. Ferreira, Lus Antnio F. Souza e Wnia Pasinato Izumino defendem que a Sociologia Jurdica um campo mais
Procuramos utilizar parte expressiva dos manuais de Sociologia Jurdica disponveis no mercado de livros nacionais, a fim de confrontar o pensamento de tais formuladores a respeito do conceito Sociologia Geral e Sociologia Jurdica .
109
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
amplo que os estudos da Sociologia do Direito, inclui outras formas de justia e de jurisdio (p. 45). Os autores identificam esse ramo da cincia social com o Pluralismo Jurdico, entendendo que o Direito criado na sociedade, no se encerrando absolutamente no ordenamento jurdico. A Sociologia Jurdica se encarregaria de estudar tal fenmeno, enxergando-o na sociedade. Para tais autores, a Sociologia do Direito, por sua vez, restringe-se a anlises institucionais e de conduta, anlises adstritas eficcia do Direito. Nas suas palavras, a Sociologia do Direito tem mais o sentido tcnico da reflexo sobre as interaes, recorrncias, contradies e ambigidades existentes entre o sistema formal de justia e as prticas e concepes sociais a respeito da justia, do Estado e do direito. Em outros termos, ela se preocupa com as ambigidades existentes entre lei e ordem, entre regra formal e prticas informais, entre Estado e sociedade, entre direito positivo e direitos sociais, enfim entre legalidade e legitimidade. (p. 47) Tal distino entre a Sociologia Jurdica e a Sociologia do Direito tem proximidade, se no for uma decorrncia da conceituao elaborada pelo professor Roberto Lyra Filho, utilizada tambm em trabalhos dos professores Jos Eduardo Faria e Celso Fernandes Campilongo. Roberto Lyra Filho afirma: Falamos em Sociologia do Direito, enquanto se estuda a base social de um direito especfico. Por exemplo, Sociologia do Direito a anlise da maneira por que o nosso direito estatal reflete a sociedade brasileira em suas linhas gerais (de poucas contradies e mnima flexibilidade, dado o sistema, ainda visceralmente autoritrio, de pequenas aberturas, controladas, como um queijo suo, perpetuamente a enrijecer-se, no receio de que os ratinhos da oposio alarguem os buracos). Toda aquela velha estrutura ento se desvenda como elemento condicionante, que pesa sobre o pas, obstacularizando as remodelaes, sob a presso simultnea das classes e grupos nacionais dominantes e das correlaes de foras internacionais, interessadas em que ao imperialismo no escape to gordo quinho. Sociologia Jurdica, por outro lado, seria o exame do Direito em geral, como elemento do processo sociolgico, em qualquer estrutura dada. Pertence Sociologia Jurdica, por exemplo, o estudo do Direito como instrumento, ora de controle, ora de mudanas sociais; da pluralidade de ordens normativas, decorrentes da ciso bsica em classes, com normas jurdicas diversas no direito estatal e no direito dos espoliados, formando conjuntos competitivos de normas, no contraste entre o direito dessas classes (at de grupos oprimidos, que a Sociologia do Direito e a Sociologia Jurdica realizam uma espcie de intercmbio permanente, mas difcil admitir que sejam idnticas as duas tarefas cientficas). (apud FARIA & CAMPILONGO, p. 27) A Sociologia Jurdica, para tais autores, implica, portanto, na concepo de que as pessoas, as comunidades, enfim, a sociedade, formula o seu prprio direito, independentemente da existncia ou no de um determinado ordenamento jurdico institucionalizado, criado por um Estado que se considera representante da
110
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
vontade geral. Tal ramo das cincias humanas se encarrega, portanto, de estudar esse fenmeno jurdico: o pluralismo jurdico, ou seja, as diversas, as variadas formas de se criar e recriar, elaborar e reelaborar o direito, referenciando sua conduta nessa forma de direito, e no necessariamente no direito estatal posto, no direito positivado. A respeito dessa forma de enxergar o universo jurdico muito nos ensina o professor portugus Boaventura de Sousa Santos, em seu texto Notas sobre a Histria Jurdico-Social de Pasrgada, extrato de sua tese de doutorado intitulada Law Against Law: Legal Reasoning in Pasargada Law, que revela uma extensa pesquisa a respeito das relaes sociais e jurdicas estabelecidas em uma comunidade de moradores de favela do Rio de Janeiro, na qual demonstra que tal comunidade formula um direito local, a ele se submetendo, apesar de, na interpretao do autor, tratar-se de um direito frgil, muito distinto do estatal positivado. O autor mostra os conflitos constantes que se estabelecem entre os moradores da favela e a polcia, distanciando-os cabalmente da possibilidade de acessarem esse organismo estatal para a garantia de sua segurana. Durante dcadas, a polcia v a favela como reduto de bandidos e desocupados, invadindoa com freqncia, colocando muitas vezes em risco a vida de trabalhadores e ameaando sua moradia. Boaventura de Sousa Santos mostra, tambm, o distanciamento que existe entre o universo dos moradores da favela e o sistema judicirio. Foram recorrentes depoimentos em que tais pessoas expressaram sua desconfiana em relao aos advogados e o juzo que fazem dos magistrados, considerando-os sujeitos de uma elite muito distante de sua realidade e portanto sem capacidade de entend-la o suficiente para julgar qualquer lide que ocorresse entre eles. Apesar de, para o professor, a organizao de Pasrgada, a favela, ser ainda baseada numa pluralidade de redes de ao social frouxamente estruturadas (p. 94), poca em que escreveu o texto, incio da dcada de 1970, tal comunidade geria suas prprias formas de direito, estabelecendo regras de conduta e leis internas que garantiam um certo tipo de equilbrio na convivncia entre as pessoas e uma forma de se dirimirem conflitos internos que por dcadas se pautou e vem se pautando, infelizmente, na brutalidade. A pesquisadora Ana Lcia Sabadell5 constata que a maioria dos autores no faz a distino entre os termos Sociologia Jurdica e Sociologia do Direito, e que, por isso, muito difcil impor uma distino terminolgica. Ressalta, porm, que h duas abordagens distintas da Sociologia Jurdica: a Sociologia do Direito e a Sociologia no Direito. Tanto os socilogos do direito quanto os que se filiam sociologia no direito se consideram socilogos-juristas, e concebem que a Sociologia Jurdica que praticam um ramo da Sociologia Geral. Os socilogos do direito buscam interpretar o sistema jurdico, entendendo
5
Em seu livro Manual de Sociologia Jurdica: introduo a uma leitura externa do Direito, So Paulo: RT, 2000.
111
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
que a Sociologia do Direito (ou Sociologia Jurdica) externa a ele. Acreditam que tal cincia deve analisar o Direito, todo o sistema jurdico, de forma imparcial. Os adeptos da Sociologia no Direito, por sua vez, consideram, diferentemente, que as decises jurdicas devem estar pautadas nos estudos sociolgicos que demonstram o que a sociedade acha efetivamente certo ou errado, de modo que a sentena deve se basear no que reflete a sociedade, no se restringindo aos limites da lei escrita. O professor Miguel Reale, em seu livro Filosofia do Direito, por sua vez, no distingue Sociologia Jurdica de Sociologia do Direito, reservando acentuada crtica ao que intitula de sociologismo jurdico. Afirma: Sob a rubrica de sociologismo jurdico (...) reunimos todas as teorias que consideram o Direito sob o prisma predominante, quando no exclusivo, do fato social, apresentando-o como simples componente dos fenmenos sociais e suscetvel de ser estudado segundo nexos de causalidade no diversos dos que ordenam os fatos do mundo fsico. O sociologismo jurdico traduz uma exacerbao ou exagero da Sociologia Jurdica, pois esta, quando se contm em seus justos limites, no pretende explicar todo o mundo jurdico atravs de seus esquemas e leis, at ao ponto de negar autonomia Jurisprudncia, reduzindo-a a uma arte de bem decidir com base nos conhecimentos fornecidos pelos estudiosos da realidade coletiva. (p. 434) prudente no se supor que todo o Direito se reduz a fato social, como queria mile Durkheim6. Evidentemente o Direito compreende, alm de motivaes sociais, caractersticas institucionais, que ainda que sejam fruto de fico, assumem carter de realidade no mundo moderno. Queremos dizer com isso que o Estado, fico poltica criadora e ao mesmo tempo assentada sobre o Direito, neste caso identificado com o ordenamento jurdico, outra elaborao ficta do ser humano, existe realmente, na medida em que se compe de um enorme aparelho burocrtico que atua direta e indiretamente sobre a vida de todos os indivduos a ele submetidos. Desse modo, pode-se afirmar tranqilamente que o Direito enquanto conjunto de regras positivadas, ou seja, ordenamento jurdico posto, existe e se aplica com maior ou menor eficcia sobre as pessoas, de tal modo que se justifica a existncia de uma cincia jurdica. Se todo o Direito fosse somente fato social, no seria necessria a criao de tal cincia, bastando, para entend-lo em absoluto, a Sociologia, cincia que estuda os fatos sociais segundo os positivistas. A respeito da distino entre cincia jurdica e sociologia, Pedro Scuro Neto define: A Sociologia Jurdica, pois, no se limita a entender reaes norma jurdica (...) Ela aborda tanto o carter geral do Direito que prevalece em uma poca
Para melhor compreenso, ver DURKHEIM, mile, Divises da Sociologia: as cincias sociais particulares, in: FERNANDES, Florestan (coord.) & RODRIGUES, Jos Albertino (org.). Durkheim. Sociologia.7. ed., So Paulo: tica, 1995; e DURKHEIM, mile. O Direito como smbolo visvel da conscincia coletiva, in: MACHADO NETO, A. L.; MACHADO NETO, Zahid. O direito e a vida social. So Paulo: Companhia Editora Nacional, 1966.
6
112
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
determinada e as mudanas que afetam esse carter de uma situao histrica para a outra, quanto se interessa pelos processos nos quais leis e normas so forjadas (...) Desse ponto de vista, no interessa se um pai incestuoso revela pouca ou nenhuma considerao pela moral da sociedade ou se possui uma conscincia peculiar acerca de seus deveres familiares. Para o Direito o que importa , de um lado, a probabilidade de a sua conduta ser condicionada por uma norma jurdica ou de esta ser conseqncia e, de outro, a reao do sistema de justia, das instituies que qualificam essa mesma conduta como objeto do Direito, como um sinal para que um gigantesco aparato de represso e retribuio comece a mover-se, para deter-se somente quando o processo judicial estiver concludo. Por sua vez, a Sociologia Jurdica analisa o efeito e as conseqncias das regras do Direito, observando a sociedade do ponto de vista cientfico, visando descrever seus traos essenciais e seus processos do modo mais objetivo possvel. Isso requer abordar os processos sociais no limite da nossa capacidade e de uma perspectiva histrica e comparativa to abrangente quanto possvel, verificando opinies com dados empricos acessveis e atravs de anlises tericas precisas e coerentes. No obstante, a Sociologia Jurdica tem em vista no apenas o elemento coercitivo da norma jurdica, o ato que esta regula, mas tambm processos compulsivos mais abrangentes: como o incrvel fascnio que sobre todos exercem as atitudes que contradizem as normas e insinuam a existncia de algo mal resolvido entre sociedade, violncia, criminalidade e desvios de conduta em geral. (p. 85 - 86) Derivamos desse trecho uma diferena fundamental entre a cincia jurdica e a sociologia jurdica ou do direito: a primeira examina a ao do Estado sobre aquele que provocou a mquina jurdica, querendo ou no faz-lo, alm de formular, internamente, teses a respeito da justia e da lgica do ordenamento jurdico; a segunda, por sua vez, analisa os efeitos sociais da aplicao da lei, e as interpretaes que a sociedade faz do ordenamento jurdico, alm, claro, de buscar compreender a fora de influncia da conscincia coletiva (e aqui lembre-se o conceito de mile Durkheim) sobre a criao e manuteno da lei. Srgio Cavalieri Filho no distingue Sociologia Jurdica de Sociologia do Direito, trabalhando com a idia de Conceito Sociolgico do Direito. Acredita que o Direito fato social que se manifesta como uma das realidades observveis na sociedade. fenmeno social, assim como a linguagem, a religio, a cultura, que surge das inter-relaes sociais e se destina a satisfazer necessidades sociais, tais como prevenir e compor conflitos. (p. 21) Para o autor, a Sociologia desenvolve um conceito sobre o Direito, pois o estuda, j que ele compe objeto de pesquisa dessa cincia social. O ramo da Sociologia que estuda o Direito a Sociologia Jurdica. ela capaz de formular conceitos sociolgicos do Direito. Mas a Sociologia Jurdica no cumpre um papel meramente acadmico, distante da realidade, tendendo neutralidade. Cavalieri Filho afirma que a Sociologia Jurdica deve influir na prpria tomada de deciso do
113
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
juiz, possibilitando-lhe aplicar o direito em consonncia com as necessidades sociais, em suas palavras visto que, conhecendo-as, poder, sem desrespeitar as leis da hermenutica, atravs de uma interpretao ora extensiva, ora restritiva, ou mesmo atravs da analogia, fazer o direito acompanhar as evolues sociais. (p. 44). O autor defende, portanto, que a Sociologia Jurdica deve ter um carter atuante e no meramente analtico. A essa postura, Miguel Reale denomina sociologismo jurdico, como vimos anteriormente. Todavia, apesar de advogarmos aqui a tese de que o Direito no somente fato social, o conceito, por outro lado, de uma sociologia do direito ou jurdica militante, que no s busque compreender a realidade social em face da aplicao da lei, mas tambm traga subsdios para as decises judiciais muito importante, e a ele fazemos coro. O sistema judicirio deve se deixar penetrar de leituras sobre o universo geral da sociedade, deve estar sensvel a tais constataes, adotando como subsdios das sentenas dados de realidade pesquisados pela sociologia, pois, afinal de contas, o litgio ou qualquer motivo que tenha demandado a tutela jurisdicional no est de forma alguma descoladO de um contexto social mais amplo. Individualizar a sentena se faz muitas vezes necessrio para que se realize a justia. Todavia, individualiz-la, sem levar em considerao o universo social, cultural, poltico, econmico, religioso e ideolgico que cerca o sentenciado ou at mesmo a prpria sentena, constitui, no mais das vezes, um risco, quando o valor maior almejado a prpria justia. E se a histria e principalmente a filosofia influenciam sobremaneira o processo de tomada de deciso judicial, por que no dizer que as teses sociolgicas tambm a merecem espao? Discusso que se afina com esta faz a professora Eliane Botelho Junqueira. Ao debater a formao do acadmico de Direito e as normas estipuladas pelo Ministrio da Educao por meio da Portaria no. 1.886/94 que entrou em vigor em maro de 1997, que dizem tambm respeito insero da Sociologia Jurdica nos cursos de Direito, ela lembra uma afirmao de Paulo Lbo, ex-Presidente da Comisso de Ensino Jurdico do Conselho Federal da OAB e ex-membro da Comisso de Especialistas de Ensino do Direito do MEC, sobre o esprito de tal dispositivo, que define a Sociologia Jurdica como matria e no disciplina: Esclarea-se que matria no se confunde com disciplina. Esta continente e aquela contedo. A disciplina pode at conter integralmente a matria, por exemplo, a disciplina Direito Tributrio, quando nica, pode absorver toda a matria correspondente, mas no se confundem. A matria Direito Ambiental pode estar dispersa em vrias disciplinas, sem esta denominao, ou agrupada em uma nica disciplina; a matria Direito Civil pode estar desdobrada em vrias disciplinas, com esta denominao, acrescida de signos distintos como algarismos romanos (apud JUNQUEIRA, p. 21) Com base em tal conceito, Junqueira defende que os cursos de Direito devem incorporar em suas diferentes disciplinas (Direito Civil, Direito Penal, Direito
114
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
Constitucional, dentre outras, estas, prprias da Cincia Jurdica) discusses no somente doutrinrias com um vis dogmtico, mas tambm debates jurdico-sociolgicos sobre a matria jurdica, ou seja, a Sociologia Jurdica, enquanto matria que , deve permear todas as disciplinas do Direito, contribuindo para uma formao mais ampla e abrangente do estudante, o que, naturalmente, podemos concluir, conduzir formao de futuros operadores do direito com mais apurada sensibilidade s questes sociais, culturais, polticas, econmicas e religiosas que rodeiam os implicados em qualquer pendncia judicial, acumulando habilidades para desenvolver outros olhares sobre a lide, o que talvez possa, em alguma medida, aproxim-los mais da realizao da justia. Na impossibilidade de se criar tal sistema interativo e transdisciplinar, Junqueira contenta-se com a elevao da Sociologia Jurdica ao status de disciplina, ressaltando, todavia, que dever ento estudar as instituies jurdicas (seria ela uma Sociologia Aplicada), vendo a si mesma como um ramo da Sociologia e no parte da teoria do Direito, podendo ser denominada de Sociologia das Organizaes, ou Poder Judicirio e Resoluo de Conflitos, dentre outras. Tratar-se-a, tal disciplina, como lembra o professor Luciano Oliveira7, de um saber construdo a partir do campo das cincias sociais, tambm chamada de Sociologia do Direito por Eliane Junqueira, em contraponto Sociologia Jurdica, que , para a professora, um saber crtico sobre a prtica jurdica destinado a abrir a cabea de alunos excessivamente dogmticos. Luciano Oliveira, ressalta, todavia, que a discusso dos termos Sociologia do Direito ou Sociologia Jurdica, na tentativa de diferenci-los, intil, pois a Portaria n. 1.886/94 a define com o nome de Sociologia Jurdica. Seja ela uma matria, seja ela uma disciplina, seu nome institucionalmente estabelecido Sociologia Jurdica, que, para Oliveira, a sociologia que faz a crtica do nosso direito e das nossas instituies judicirias, visando realizao da justia (p. 11 - 12). Se por um lado a cincia jurdica demonstra forte resistncia a incorporar o pensamento sociolgico no seio das discusses por ela consideradas centrais, por outro lado, da mesma forma, nota-se que a Sociologia no raramente adota certa postura de desprezo em relao ao Direito e Cincia Jurdica. Sobre isso, o clssico da Sociologia Jurdica brasileira, Miranda Rosa observa: O terico do Direito procura obter o grau mais alto de coerncia interna com um mnimo de mudana no seu sistema conceptual, de modo a contribuir para a manuteno da mxima segurana jurdica, ou seja, da possibilidade de prever a aplicao de normas e princpios jurdicos aos casos particulares. Dessa maneira, criada uma impresso de que o ncleo do Direito constitudo em grande parte de princpios permanentes, incidindo as transformaes principalmente sobre aspectos perifricos ou secundrios da ordem jurdica ou, ento, operando as mudanEm seu texto Que (e para qu) Sociologia? Reflexes a respeito de algumas idias de Eliane Junqueira sobre o ensino da Sociologia do Direito (ou seria Sociologia Jurdica?) no Brasil. In: Duas reflexes sobre a Sociologia Jurdica, Caderno do IDES (Instituto Direito e Sociedade), Srie Pesquisa n. 8, maio de 2000. (xerox).
7
115
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
as mais importantes segundo modos preestabelecidos e gradualmente, sem afetar a unidade interna do sistema. Logo, se novas cogitaes invadem o seu mundo de valores e formas de conduta, de regras formando um todo sistemtico, alternando-lhe a maneira de apresentao e insistindo na adoo de mtodos experimentais, no estudo, no da norma em si e em relao a outras normas do mesmo e de outros sistemas igualmente integrados, mas da norma em relao com a realidade do meio social em que ocorre, de que resultado e que, por sua vez, ela condiciona e modifica, fcil concluir que sua natural reao seja de hostilidade. No menos verdade, entretanto, que os socilogos se tm mostrado curiosamente frios em relao ao desenvolvimento da Sociologia do Direito. Parece que o fato de ter o Direito sido, por muito tempo e como foi dito, a principal, se no a nica, cincia social verdadeiramente desenvolvida, e o fato de que os juristas, em certa fase, foram numerosos e muito atuantes nos passos mais importantes para a formao da prpria Sociologia como cincia, despertaram alguns ressentimentos e certas reservas intelectuais entre os socilogos. Alm disso, o chamado imperialismo sociolgico de Comte, com a tendncia de imergir o Direito na sociologia, aceito com variaes por muitos outros importantes nomes dos estudos sociolgicos, rejeitou por bastante tempo a idia de que se pudesse falar de uma Sociologia Jurdica. (p. 8) O professor Arnaldo Lemos Filho, em seu texto As Cincias Sociais e o Processo Histrico8, mostra que o perodo anterior industrializao reflete a predominncia da Filosofia Histrica, ou seja, de um modo de pensar o mundo de forma filosfica. O Direito, ento, se constitua como um elaborado conceitual, por um lado, e, por outro lado, como uma prtica calcada em estudos filosficos e histricos. Nesse caldo de cultura jurdica, filosfica e histrica, conforme ressalta Miranda Rosa, que se d incio Sociologia, forma de pensamento social que se define cientfica, criada, como j vimos, por Auguste Comte. O terico elabora um verdadeiro mtodo cientfico, que se desenvolve e oferece fundamentos para outros campos do pensamento social, inclusive para o Direito, fornecendo subsdios importantes s formulaes do neokantiano Hans Kelsen e de Ross, proeminncias do Positivismo Jurdico do sculo XX e formuladores de bases importantes da cincia jurdica contempornea. Importa aqui notar, entrementes, que Miranda Rosa, assim como A. L. Machado Neto9, no faze distino alguma entre Sociologia Jurdica e Sociologia do Direito. Para ns, como o leitor j deve ter notado, no h tambm diferenas entre tais termos. Vimos a falta de consenso existente entre os diversos autores que transitam no terreno da cincia social que relaciona a Sociologia com a Cincia Jurdica. Celso A. Pinheiro de Castro trabalha com o conceito de Sociologia Aplicada ao Direito. Na linha da definio de Roberto Lyra Filho, Jos Eduardo Faria e
8 9
In: MARCELINO, Nelson (org.). Introduo s Cincias Sociais. Campinas: Papirus, 1995. No livro Sociologia Jurdica. 6. ed. So Paulo: Saraiva, 1987.
116
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
Celso Fernandes Campilongo, os autores Adriana A. Loche, Helder R. S. Ferreira, Lus Antnio F. Souza e Wnia Pasinato Izumino fazem distino entre Sociologia Jurdica e Sociologia do Direito. Ana Lcia Sabadell, por sua vez, define os termos Sociologia do Direito e Sociologia no Direito. Miguel Reale distingue Sociologia Jurdica de Sociologismo Jurdico e Srgio Cavalieri Filho fala em Conceito Sociolgico do Direito. Tem-se, com isso, que o estudante de Direito ou de Sociologia tende a ficar confuso diante de tantas definies distintas, principalmente levandose em considerao que dentre esses autores, a maioria produz manuais de Sociologia Jurdica ou do Direito voltados para esse pblico. Defendemos que a cincia social que relaciona a sociologia cincia jurdica, e busca compreender as relaes existentes entre o direito e a sociedade, pode ser chamada de Sociologia Jurdica ou de Sociologia do Direito. O que importa, em nossa concepo, a compreenso de que tal cincia debrua-se sobre trs questes fundamentais: o pluralismo jurdico, o acesso justia e a eficcia do Direito. Acreditamos ser possvel aproximar socilogos de juristas e vice-versa, afastando o rano preconceituoso dos primeiros de que os juristas so incapazes de compreender a realidade social, e, por outro lado, o dos juristas de que os socilogos so meros produtores de divagaes, cujas produes e teses so sobremaneira distantes da realidade que permeia a vida das pessoas. Chamamos a ateno para a necessidade de que socilogos adquiram maior noo do universo jurdico, da importncia do Direito na vida de todos ns, conhecendo alguns princpios e fundamentos da cincia do Direito que lhes possibilitem compreender melhor ainda a prpria realidade social; e, por outro lado, a necessidade de que juristas incorporem cada vez mais em sua formao uma ampla capacidade crtica de entendimento dos fenmenos sociais, desenvolvam com certa destreza a imaginao sociolgica, evitando-se, com isso, o que, por muitas vezes pode ocorrer, a mera reproduo de um discurso predominantemente tcnico e de fundamentos calados em fragmentos, s vezes dispersos, de raciocnios filosficos. Talvez, mais que os socilogos, os juristas tm um papel em nossa sociedade de fundamental importncia, dado o poder que o exerccio de sua profisso lhes outorga. So os juristas que defendem ou pedem a condenao de pessoas; so eles que autuam indivduos quando estes cometem algum ilcito; so eles que, enfim, prolatam as sentenas, decidindo os destinos de algum ou de uma comunidade ou mesmo de toda a sociedade. Dessa forma, imprescindvel e de extrema importncia uma formao ampla no campo da Filosofia, da Histria e tambm da Sociologia para o jurista. Possuir a imaginao sociolgica, ou seja, refletir de modo crtico a realidade social condio sine qua non para que o jurista possa construir a justia, e, quando lhe couber o importante papel de decidir, realizar a justia. Acreditamos que Cincia Jurdica e Sociologia podem se aproximar, e vis-
117
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
lumbramos a possibilidade de formulao de um mtodo que propicie tal aproximao. Para ns, bastante claro que a formao do socilogo lhe permite compreender o fenmeno social Direito, e estudar a eficcia social da lei positivada e das relaes entre o Direito e o desenvolvimento scio-econmico (eficcia do Direito), como tambm tem ele formao terica para estudar a questo do acesso da populao mais pobre justia (acesso justia), e entender as distintas formas que a sociedade encontra de criar e realizar direito (pluralismo jurdico). O socilogo, todavia, no desenvolve a aptido de manejar a lei, e nem mesmo de compreender a sua eficcia quando se trata de sua aplicao para a resoluo de lides judiciais. Esse tipo de formao o jurista possui, j que constitui tarefa mesmo deste profissional o manejo da lei e sua aplicao. O jurista, todavia, no tem sido preparado para compreender as questes da eficcia social do Direito; a premncia do acesso justia de que as populaes mais pobres carecem; e nem tampouco as diferentes formas de se produzir, reproduzir e praticar o direito criadas e realizadas pelos diferentes segmentos e classes da sociedade, faltando-lhe um olhar antropolgico mais apurado. Sobre esse ltimo aspecto, tende o jurista contemporneo a classificar, sem muito zelo, prticas paralelas aos ditames da lei positivada como atos ilcitos e portanto passveis de penalizao. Urge, portanto, uma aproximao mais acurada entre esses dois campos das cincias humanas. 3. CONSIDERAES FINAIS Neste trabalho procuramos evidenciar as diferentes concepes terminolgicas sobre a Sociologia Jurdica ou do Direito, demonstrando que mais importante do que atribuir a ela diferentes nomes, apoiando-se cada um deles em conceitos distintos, compreender que tal cincia se assenta sobre esses diferentes conceitos, podendo levar um s nome: Sociologia Jurdica ou Sociologia do Direito. Importa entender que a Sociologia Jurdica ou do Direito estuda as relaes entre o Direito e a Sociedade, o ordenamento jurdico e os acontecimentos sociais, alm de estabelecer relaes entre a Cincia Jurdica e a Sociologia. Como vimos, h uma flagrante falta de consenso entre os diversos autores que transitam no terreno da Sociologia Jurdica ou do Direito: Celso A. Pinheiro de Castro trabalha com o conceito de Sociologia Aplicada ao Direito. Na linha da definio de Roberto Lyra Filho, Jos Eduardo Faria e Celso Fernandes Campilongo, os autores Adriana A. Loche, Helder R. S. Ferreira, Lus Antnio F. Souza e Wnia Pasinato Izumino fazem distino entre Sociologia Jurdica e Sociologia do Direito. Ana Lcia Sabadell, por sua vez, define os termos Sociologia do Direito e Sociologia no Direito. Miguel Reale distingue Sociologia Jurdica de Sociologismo Jurdico e Srgio Cavalieri Filho fala em Conceito Sociolgico do Direito. Miranda Rosa,
118
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
bem como A. L. Machado Neto, todavia, no faz distino alguma entre Sociologia Jurdica e Sociologia do Direito. Em nossa viso, tal dissenso, apesar de justificvel, pois pautado em debate srio, contribui para confundir o estudante de Sociologia Jurdica, que fica sem saber exatamente muitas vezes o que realmente est estudando. Assim, acreditamos ser mais didtico chamar a cincia ora discutida de Sociologia Jurdica ou do Direito, compreendendo que, basicamente, seu objeto de estudo a eficcia do direito, o pluralismo jurdico e o acesso justia. E somente na medida em que socilogos e juristas compreenderem a necessidade de aproximarem-se uns dos outros, no sentido de que se estabelea uma sintonia fina entre os diferentes campos em que se inscrevem, tanto no que toca ao debate de carter terico-cientfico, quanto na prpria atuao prtica do direito, que efetivamente a Sociologia Jurdica cumprir seu papel primordial: o de subsidiar a doutrina jurdica e a sua prtica, e o de contribuir para a teoria sociolgica e a sua aplicao, pelo menos no que concerne ao universo jurdico que envolve as relaes entre os seres humanos. 4. BIBLIOGRAFIA CASTRO, Celso A. Pinheiro de. Sociologia do Direito. 6. ed. So Paulo: Atlas, 1999. CAVALIERI FILHO, Srgio. Programa de Sociologia Jurdica: voc conhece? 10. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002. DUAS REFLEXES SOBRE A SOCIOLOGIA JURDICA - CADERNOS DO IDES Instituto Direito e Sociedade, Srie Pesquisa, n. 8, maio de 2000. (xerox) FARIA, Jos Eduardo & CAMPILONGO, Celso Fernandes. A Sociologia Jurdica no Brasil. Porto Alegre: Srgio Antonio Fabris Editor, 1991. FERNANDES, Florestan (coord.) & RODRIGUES, Jos Albertino (org.). Durkheim. Sociologia.7. ed. So Paulo: tica, 1995. LEMOS FILHO, Arnaldo. As Cincias Sociais e o Processo Histrico. In: MARCELINO, Nelson (org.). Introduo s Cincias Sociais. Campinas: Papirus, 1995. LOCHE, Adriana A.; FERREIRA, et. al. Sociologia Jurdica: estudos de Sociologia, Direito e Sociedade. Porto Alegre: Sntese, 1999.
119
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
MACHADO NETO, A. L. Sociologia Jurdica. So Paulo: Saraiva, 1987. MACHADO NETO, A. L.; MACHADO NETO, Zahid. O direito e a vida social. So Paulo: Companhia Editora Nacional, 1966. MILLS, C. Wright. A Imaginao Sociolgica. 5. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1975. REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 17. ed., So Paulo: Saraiva, 1996. SABADELL, Ana Lcia. Manual de Sociologia Jurdica: introduo a uma leitura externa do Direito. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. SCURO NETO, Pedro. Manual de Sociologia Geral e Jurdica: lgica e mtodo do Direito, problemas sociais, comportamento criminoso, controle social. So Paulo: Saraiva, 1999. SOUTO, Cludio & FALCO, Joaquim. Sociologia e Direito: textos bsicos para a disciplina de Sociologia Jurdica. So Paulo: Pioneira, 1999.
120
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
TRABALHO INFANTIL TRABALHO INFANTIL Oris de Oliveira*
INTRODUO Noberto Bobbio observa que a Declarao dos Direitos Humanos contm em germe a sntese de um movimento dialtico, que comea pela universalidade abstrata dos direitos naturais, transfigura-se na particularidade concreta dos direitos positivos e termina na universalidade no mais abstrata, mas tambm ela concreta dos direitos positivos universais (A Era dos Direitos, Rio de Janeiro. Campus, 1992, p. 30). O Prembulo da Conveno sobre Direitos da Criana (1989) a situa na particularidade concreta dos direitos positivos. As normas internacionais concernentes idade mnima, por sua vez, so os desdobramentos do que dispe o art. 32 da mesma Conveno: estabelecimento de uma idade ou idades mnimas para admisso em empregos como medidas legislativas, administrativas e educacionais para proteger a criana contra a explorao econmica. As normas concernentes ao trabalho infantil devem, pois, primeiramente ser colocadas na perspectiva de preservao de direitos humanos da criana . juridicamente relevante, embora bvio inter doctos, saber que a inteligncia das normas s perfeita na perspectiva de sua teleologia, ou seja, do(s) valor (es) que visam preservar. Nelas enfocar apenas o VAZIO criado pelo NO jurdico uma leitura pauprrima, embora comum. O valor a preservar o de SER CRIANA, com direito sade, convivncia familiar e social, ao lazer, ao brincar, ao acesso (regresso), permanncia e sucesso nos estudos, portanto a uma escola de qualidade. As pesquisas quantitativas e qualitativas enfocando os aspetos cultural, sociolgico, econmico, sanitrio mostram que as crianas e adolescentes que se envolveram no trabalho prematuro foram e so privados desses direitos. I- CAUSAS H consenso que o trabalho infantil como realidade sociolgica no se explica por unicausalidade. O histrico (passado e presente) processo de produo capitalista a causa fundamental da explorao da mo-de-obra infantil. Desde a implantao da revoluo industrial no final do sculo XVIII a burguesia industrial e, mais tarde, a agrria se capitalizaram e se capitalizam tambm com uma voraz e
*
Juiz do Trabalho (1 Regio) aposentado; professor de direito do trabalho nas Faculdades de Direito USP, UNESP, UNIFRAN. Membro do Conselho Consultor da Fundao ABRINQ, Pelos Direitos da Criana e do Adolescente.
121
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
desumana utilizao da mo-de-obra infanto-juvenil. H quem creia que este processo, que no seria intrinsecamente mau, pode ser melhorado com reformas substancialmente iguais, mas com outra nomenclatura, s propostas pelo socialismo utpico do sculo XIX. Fatores imediatos condicionantes podem ser apontados entre outros: a pobreza (indiscutivelmente um dos mais fortes); a cultura (aceitao da fatalidade da pobreza e como sina do pobre); carncia de ofertas de escolaridade de qualidade; inexistncia de polticas pblicas consistentes e perseverantes. Os fatores se interagem de tal maneira que, em certas circunstncias, h predomnio de um sobre outros, mas sempre criando um crculo vicioso. II - CONCEITO DE TRABALHO INFANTIL H certa complexidade na conceituao do trabalho infantil. A- TRABALHO Importa saber qual interpretao se dar aos termos qualquer trabalho do Inc. XXXIII do art. 7 da C.F. Referindo-se todo esse artigo ao trabalho em regime de emprego, pode-se sistematicamente interpretar que a proibio do Inc. XXXIII se limita ao efetuado na relao empregatcia. Os efeitos prticos de tal interpretao assumem carter acadmico de vez que a ratificada Conveno 138 explicita que as normas nela contidas se aplicam admisso a emprego ou trabalho (art. 1 ) em qualquer ocupao( art. 2) seja qual for o regime jurdico. Tambm as normas do ECA sobre trabalho ( art. 60 a 69) no se restringem ao trabalho em regime de emprego. Pode-se perguntar se as normas da Conveno 138 comportam excees. Os artigos 4 e 5 permitem que pases excluam de sua aplicao nmero limitado de categorias ou limitem o alcance da aplicao. O Brasil, ao ratificar a Conveno 138, no fez nenhuma ressalva. O art. 6 explicitamente excepciona de sua aplicao os trabalhos que se realizam em programas de qualificao profissional, ainda que em alternncia em centro de formao e na empresa; nesta, porm, com a idade mnima de 14 anos. Cabe uma indagao sobre o trabalho que filhos e filhas executam (ou deveriam executar) auxiliando nas tarefas caseiras no ambiente familiar, no entorno da casa, no prprio domiclio, portanto no para terceiros, servios em cuja execuo todos, inclusive os homens, devem colaborar, de tal maneira que no se onere demais a dupla jornada da mulher. Dentro de parmetros de razoabilidade, sem ofensa a outros direitos (escolaridade, lazer), tais trabalhos no so proibidos e fazem parte de um processo de socializao, de integrao na vida social do grupo a que a criana pertence, como bem aponta Elias
122
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
Mendelievich.2 A incidncia de numerosos programas de televiso de que crianas e adolescentes participam como atores tem suscitado questes sobre licitude de tais trabalhos. Devem ser observadas as normas do art. 149 do ECA (disciplina por portaria, autorizao caso a caso) e do art. 8 da Conveno (casos individuais), devendo os conselhos tutelares, a promotoria pblica e o juizado da infncia e da adolescncia cumprir suas obrigaes sobre os abusos ocorrentes. Atendendo pedido de uma emissora de televiso, a Fundao ABRINQ (ouvidos pais, psiclogos, pedagogos, juristas, profissionais da rea) produziu um protocolo de livre adeso apontando o que correto observar na participao de crianas e adolescentes em tais exibies. B- INFANTIL A Declarao dos Direitos da Criana define: (...) entende-se por criana (nio, enfant, child) todo ser humano menor de 18 anos de idade, salvo se, em conformidade com a lei aplicvel criana, a maioridade seja alcanada antes. A Conveno 182 sobre piores formas de trabalho infantil estende sua proteo criana (nio, enfant, child) com idade inferior a 18 anos. . A Conveno 138 da OIT no explicita o conceito de criana, mas a proteo nela contemplada se restringe idade de 18 anos. Tambm a norma constitucional e o ECA limitam a disciplina da idade mnima aos 18 anos. Literalmente seria infantil todo trabalho executado na faixa etria inferior a 18 anos e equivocadamente se deduziria que seria proibido e deveria ser eliminado. Todavia as normas internacionais e nacionais fixam no interior desta faixa etria vrios nveis, permitindo que o adolescente possa trabalhar a partir de 15 ou 14 anos dentro de parmetros bem especificados. No Brasil, o trabalho permitido a partir dos 14 como aprendiz e dos 16 anos como trabalho comum (fora do processo de aprendizagem). A Conveno da OIT fixa vrias idades mnimas de admisso: a bsica para admisso ao emprego e ao trabalho (15 ou 14 anos) (art. 2); superior (18 anos) para trabalhos que prejudiquem a sade, a segurana e a moral, com possibilidade de ser permitido a partir dos 16 anos se for proporcionada instruo ou formao adequada (art. 3); inferior (13 ou 12) anos para trabalhos leves (art. 7).3 A Constituio Federal fixa as idades diversamente: a bsica (16 anos) para trabalhos fora de processo de qualificao; a inferior (14 anos) cobre duas hiptese: proibio de qualquer trabalho, mas permisso em regime de aprendizagem; superior (18 anos) para insalubres e perigosos, no abrindo exceo para
El trabajo de los Nios, Oficina Internacional del Trabajo, primeira edio, 1980, p.3. Os adjetivos bsica, superior e inferior so adotados pelos Expertos na Aplicao de Convenes e Recomendaes.
3
123
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
menores, mesmo havendo instruo e formao adequada. O Estatuto da Criana e do Adolescente acrescenta proibio de trabalhos penosos e realizados em locais prejudiciais formao e ao desenvolvimento fsico, psquico, moral e social. Sintetizando, harmonizando sistematicamente os comandos da norma internacional ratificada e de outras normas brasileiras, mas levando em considerao restries maiores da legislao ptria: infantil e juridicamente proibido o trabalho executado abaixo das idades previstas em lei: 14 anos em qualquer emprego ou ocupao; 16 anos fora de processo de qualificao profissional (aprendizagem); 18 anos para trabalhos insalubres, perigosos, penosos, prejudiciais ao desenvolvimento fsico, psquico, social e moral. III- PIORES FORMAS DE TRABALHO INFANTIL medida que as aes do IPEC (International Program on Elimination Child Labour) se desenvolveram, percebeu-se que o trabalho infantil em quase todos os pases assume formas de alta agressividade. No Brasil as primeiras pesquisas , aes e programas se voltaram para trabalhos mais agressivos como os do corte da cana, da utilizao da cola txica no setor caladista, de servios e em locais de carvoarias, da indstria fumageira. A Conveno 182 houve por bem qualificar tais trabalhos como piores formas, no deixando dvida at gramaticalmente de que as demais no eram boas, portanto, nem tolerveis, nem aceitveis, nem boas. O art. 3 da Conveno relaciona as seguintes piores formas: a) escravido ou prticas anlogas escravido, venda de crianas, servido por dvidas, condies de servos, trabalho forado ou obrigatrio includo para utilizao em conflitos armados; b) recrutamento para prostituio, produo de material pornogrfico e atividades pornogrficas; c) utilizao e recrutamento de crianas para atividades ilcitas tais como produo e trfico de drogas; d) trabalho que por sua natureza ou condies afete a sade, a segurana e a moralidade. Cada Estado-membro deve explicitar as modalidades ocorrentes em seu territrio e dar absoluta prioridade ao combate, eliminao, erradicao destas formas.. IV- TRABALHO INFANTIL DOMSTICO - TID. Nos ltimos anos a OIT vem promovendo pesquisas e ampla mobilizao em vrios pases, inclusive no Brasil, enfocando o TID. Pesquisas qualitativas realizadas em vrias capitais estaduais brasileiras tm revelaes nada alvissareiras. Entre 10 e 17 anos havia em 1998 no Brasil o expressivo nmero de
124
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
556.237 crianas e adolescentes no emprego domstico (95% mulheres; 10.49% sobre o total de pessoas no emprego domstico). Juridicamente, os mesmos princpios e normas internacionais e nacionais que regem o trabalho infantil em geral se aplicam ao emprego domstico. Vrios fatores especficos afetam o TID: no interior das residncias cujo acesso resguardado pela inviolabilidade; maior possibilidade de assdio sexual e moral sem possibilidade ou coragem de denunciar; duraes de jornada que, de fato, se no impossibilitam a freqncia escola, inviabilizam o aproveitamento escolar; convvio social limitado sobretudo para as crianas que moram na casa do empregador; falta de qualificao profissional para enfrentar outras alternativas de trabalho oferecidas pelo mercado; resqucios escravocratas de quem deseja ter uma mucama sua disposio sem delimitao de durao de jornada; persistncia em algumas regies do emprego domstico camuflado pelo apadrinhamento ou pela figura da guarda. V- PROTEO JURDICA DOS TRABALHADORES INFANTIS Ainda que proibido o trabalho infantil, o direito protege as crianas e adolescentes que o executam no s com aes que visam imediatamente no permitir continuidade da atividade, mas tambm garantindo-lhes todos os direitos decorrentes da relao jurdica na qual se envolvem Se a relao de emprego, no momento em que so afastados a criana e o adolescente, tm eles todos os direitos garantidos pelas normas celetistas e de leis extravagantes (13 salrio, FGTS, etc.), com anotao da Carteira de Trabalho e Previdncia Social (CTPS) e recolhimento das verbas previdencirias. Configurada a hiptese do adolescente continuar trabalhando ultrapassada a fase da proibio, h acessio temporis, portanto, um s contrato para os efeitos legais e convencionais pertinentes. J se decidiu vrias vezes, com razo: no se pode invocar uma norma de proteo trabalhista ou previdenciria, apontar a irregularidade (nulidade se quiserem) da contratao para desproteger o trabalhador infantil e enriquecer-se ilicitamente. VI- ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL Em termos imediatos a Conveno 138 no exige que os pases consigam abolir o trabalho infantil miraculosamente. um desafio para anos. O art. 1 exige que os pases membros se comprometam a seguir uma poltica nacional que assegure a efetiva abolio, hoje considerada como umas das exigncias dos Princpios e Direitos Fundamentais do trabalho relacionados na Declarao da OIT de 1998. Antes da implementao do IPEC no Brasil o trabalho infantil no existia na
125
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
agncia nacional, exceto rpidas referncias acadmicas idade mnima, tudo o mais demonstrando haver uma passividade cultural de aceitao. No faltaram os que viam nele uma soluo em vez de um problema, de uma chaga. As primeiras pesquisas mostrando fatos, ainda que feitas com absoluta objetividade, foram taxadas de radicais, ou tentou-se esconder a queto debaixo do tapete. O IPEC criou uma mobilizao e uma articulao envolvendo rgos governamentais e no governamentais, contando com a estrutura implantada pelo ECA de Conselhos Tutelares, de Conselhos de Direitos em mbito nacional, estadual, regional, municipal. Nesta caminhada merece destaque a atuao de fruns regionais e sobretudo do Frum Nacional de Eliminao e Erradicao do Trabalho Infantil, que conta com a presena de numerosas entidades e instituies. A ANAMATRA bem cedo se fez presente e tem dado contribuio relevante. Deve ser destacada a colaborao importantssima do UNICEF que, embora atuando em faixa prpria, com nfase na educao, muito contribui com programas paralelos que reforam a luta contra o trabalho infantil, forjando o slogan:- Lugar de criana no nem na rua nem no trabalho mas na escola de qualidade. Uma lio se pode tirar desta mobilizao que se iniciou em 1992: a fase de s denunciar teve seu tempo e sua importncia. Hoje o combate ao trabalho infantil s ter efeito se for propositivo, preenchendo o no jurdico, ao menos com medidas compensatrias (programas - no aes isoladas- tais como os de renda mnima para pais, de bolsas (escola, famlia), de atividades de complementao escolar ), respaldadas por polticas pblicas cumprindo o que dispe o art. 227 da Constituio (resumo proposital da Conveno dos Direitos da Criana, cujos principais tpicos em estudo j eram conhecidos na fase de anteprojeto do ECA): a erradicao do trabalho infantil dever da famlia, da sociedade, do Estado, para garantir, com absoluta prioridade, o direito vida, sade, educao, ao lazer, cultura, dignidade, ao respeito, liberdade, convivncia familiar e comunitria.
126
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
PARA APRESENTAO NORMAS PARA APRESENTAO DE ORIGINAIS
1. A Revista da Faculdade de Direito tem por finalidade a publicao de trabalhos e estudos referentes Jurdica, conforme apreciao de seu Conselho Editorial. Os conceitos, informaes e pontos de vista contidos nos trabalhos so de exclusiva responsabilidade de seus autores. 2. Os trabalhos podero ser elaborados na forma de artigos (inditos), relatos de pesquisa ou experincia, pontos de vista, resenhas bibliogrficas ou entrevistas. Quando se tratar de relato de pesquisa, dever obedecer seguinte organizao: introduo, metodologia (sujeitos, material e procedimento), resultados, discusso, referncias bibliogrficas e anexos. 3. Os trabalhos devero ser redigidos em programa Word for Windows 7.0, espao duplo, fonte Arial Normal, tamanho 12, folha A4, com 2,5cm de margem (esquerda, direita, superior e inferior). Devero ter, no mximo, 20 pginas. 4. Um disquete 3,5" e duas cpias impressas (com contedo e formato idnticos) devem ser enviados Secretaria da Faculdade de Direito Padre Anchieta, Av. Dr. Adoniro Ladeira, 94 - Jundia - SP (Km 55,5 da Via Anhanguera) 5. A capa dever conter, na seguinte seqncia, o ttulo do trabalho, em pargrafo centralizado (TODAS AS LETRAS MAISCULAS). Abaixo do ttulo, em pargrafo centralizado, o tipo de publicao (artigo, relato de pesquisa, resenha etc.). Abaixo, em pargrafo justificado, dever vir o sobrenome do autor (TODAS AS LETRAS MAISCULAS), seguido do nome completo (separados por vrgulas), sua mais alta titulao acadmica e atuao profissional, endereo completo, telefone e, se tiver, o endereo eletrnico. Para trabalhos com mais de um autor, os sobrenomes devem ser colocados em ordem alfabtica ou apresentados, primeiro, aqueles que mais contriburam para a execuo do trabalho e, em seguida, os colaboradores. 6. A primeira pgina dever conter, como cabealho, o ttulo do trabalho, em pargrafo centralizado (TODAS AS LETRAS MAISCULAS). Abaixo do ttulo, dever vir o nome completo do autor. A titulao acadmica e a atuao profissional do autor devero vir em forma de nota de rodap, inserida aps o sobrenome. No caso de mltiplos autores, a ordem deve ser idntica da capa. Abaixo do cabealho, apresentar o resumo do trabalho (mximo 20 linhas), 5 palavras-chave, abstract e key words. 7. Quadros, tabelas, fotos e figuras devero ser devidamente identificadas com numerao, ttulos e legendas. 8. As citaes, no texto, devero ser seguidas da respectiva referncia, entre parnteses, contendo o sobrenome do autor (TODAS AS LETRAS MAISCULAS) e o ano da publicao. Exemplo: (BOSSA, 1994). 9. As citaes literais, no texto, devero ser apresentadas entre aspas e seguidas da respectiva referncia, incluindo-se a(s) pgina(s). Exemplo: (BOSSA, 1994: 32). 127
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO PADRE ANCHIETA
Ano V - N o 9 - Novembro/2004
10. As citaes literais com mais de trs linhas devero ser redigidas em pargrafo destacado, com 1cm de recuo esquerdo e direito, letra tipo Arial Normal, fonte 10. 11. As referncias bibliogrficas, no final do texto, sero limitadas aos trabalhos realmente lidos e citados no corpo do trabalho, obedecendo, preferencialmente, ao seguinte padro: sobrenome do autor (TODAS AS LETRAS MAISCULAS), nome do autor, ano da publicao (entre parnteses), ttulo completo da obra (em itlico), local de publicao e editora. Exemplo: STORER, I.T.; USINGER, L.R.; STEBBINS, C.R. & NYBAKKEN, W.J. (1998). Zoologia Geral. So Paulo: Cia. Editora Nacional.
128
Vous aimerez peut-être aussi
- Desejo e Engano - R. Albert Mohler JRDocument134 pagesDesejo e Engano - R. Albert Mohler JRRaissa OliveiraPas encore d'évaluation
- EBOOKDEIXEELEAPAIXONADOPORVOCEDocument27 pagesEBOOKDEIXEELEAPAIXONADOPORVOCEdfhvjPas encore d'évaluation
- Curso NoivosDocument41 pagesCurso NoivosVini de Jesus90% (10)
- FOUCAULT, M. Subjetividade e VerdadeDocument167 pagesFOUCAULT, M. Subjetividade e VerdadeMargareth Laska de OliveiraPas encore d'évaluation
- Celebrando A VidaDocument48 pagesCelebrando A VidaMagna Negreiros100% (1)
- Sexologia Gnóstica para o Casal Iniciante - Arcano AZFDocument8 pagesSexologia Gnóstica para o Casal Iniciante - Arcano AZFJulesPas encore d'évaluation
- SCL 90 RDocument3 pagesSCL 90 RsuzanalucasPas encore d'évaluation
- Tratado Elementar Da Magia Prática - PapusDocument61 pagesTratado Elementar Da Magia Prática - PapusHohenhein7Pas encore d'évaluation
- Betaísmo Do SantuárioDocument8 pagesBetaísmo Do SantuárioUrso JeffPas encore d'évaluation
- ALMEIDA, Thiago de - Reflexões Conceitos, Estereótipos e Mitos Acerca Da VelhiceDocument12 pagesALMEIDA, Thiago de - Reflexões Conceitos, Estereótipos e Mitos Acerca Da VelhiceRaíssa CoutoPas encore d'évaluation
- A Importância Da Educação Sexual Nas Escolas BrasileirasDocument2 pagesA Importância Da Educação Sexual Nas Escolas BrasileirasFilipe EmanuelPas encore d'évaluation
- ElianeKogut PDFDocument0 pageElianeKogut PDFtrpessoaPas encore d'évaluation
- Artigo 2Document7 pagesArtigo 2Marlene dos Santos SilvaPas encore d'évaluation
- Dentes Artificiais em Protese RemovivelDocument14 pagesDentes Artificiais em Protese RemovivelFernando ScPas encore d'évaluation
- RUBIN. Pensando Sobre Sexo - FichaDocument8 pagesRUBIN. Pensando Sobre Sexo - FichaDiego SouzaPas encore d'évaluation
- A Quimica Do Amor PDFDocument7 pagesA Quimica Do Amor PDFJoão MartinezPas encore d'évaluation
- Reflexões Sobre Desenraizamento E Bioetica NovoDocument10 pagesReflexões Sobre Desenraizamento E Bioetica NovoAndré OliveiraPas encore d'évaluation
- ABC Do BudismoDocument19 pagesABC Do BudismoRodgerPas encore d'évaluation
- Como Emagrecer Fazendo SexoDocument99 pagesComo Emagrecer Fazendo SexoJoão FilhoPas encore d'évaluation
- Abordagem Clínica À Teoria Dos Passos Na AfectologiaDocument48 pagesAbordagem Clínica À Teoria Dos Passos Na AfectologiaDiana NevesPas encore d'évaluation
- Apostila Masculina IDocument22 pagesApostila Masculina ILidiane Rodrigues de Castro LemesPas encore d'évaluation
- Cartilha Enfrentamento Às Violências de Gênero Do IFRS E BookDocument40 pagesCartilha Enfrentamento Às Violências de Gênero Do IFRS E BookAlba Cristina Couto dos Santos SalatinoPas encore d'évaluation
- RODA DE CONVERSA - NamoroDocument4 pagesRODA DE CONVERSA - Namorolucas.taiba2Pas encore d'évaluation
- Resumo - 273870 Adriane Sousa - 23438070 Eca Novo II Aula 03 Crimes em Especies Artigos 228 Ao 244 B IIDocument11 pagesResumo - 273870 Adriane Sousa - 23438070 Eca Novo II Aula 03 Crimes em Especies Artigos 228 Ao 244 B IIpatriciaPas encore d'évaluation
- Departamento Pessoal Atualizado 2019Document166 pagesDepartamento Pessoal Atualizado 2019Gisele OliveiraPas encore d'évaluation
- Contos Muito OrdináriosDocument50 pagesContos Muito OrdináriosCDMCOELHODEMORAES100% (1)
- Alfa Pesquisa Sobre A Multa Por Adultério No Sul de AngolaDocument33 pagesAlfa Pesquisa Sobre A Multa Por Adultério No Sul de AngolaMwene VunonguePas encore d'évaluation
- Posições SexuaisDocument2 pagesPosições SexuaisEderneyPas encore d'évaluation
- 7 SEMANAS DE DISCIPULADO RUG - NOVO CONVERTIDO (1) - Cópia - CópiaDocument8 pages7 SEMANAS DE DISCIPULADO RUG - NOVO CONVERTIDO (1) - Cópia - CópiaMiltonJesusSilvaPas encore d'évaluation
- Vulnerabilidade e AdolescenciaDocument8 pagesVulnerabilidade e AdolescenciaDeniseBarrosPas encore d'évaluation