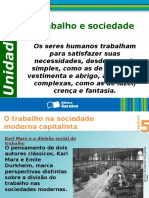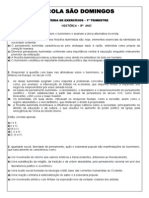Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Foucalt
Transféré par
Cassia DinizTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Foucalt
Transféré par
Cassia DinizDroits d'auteur :
Formats disponibles
A Ordem do Discurso. (L Ordre du discours, Leon inaugurale ao Collge de France prononce le 2 dcembre 1970, itions Gallimard, Paris, 1971.
.) Traduo de Edmundo Cordeiro com a ajuda para a parte inicial do Antnio Bento.
No discurso que hoje eu devo fazer, e nos que aqui terei de fazer, durante anos talvez, gostaria de neles poder entrar sem se dar por isso. Em vez de tomar a pa lavra, gostaria de estar sua merc e de ser levado muito para l de todo o comeo possv el. Preferiria dar-me conta de que, no momento de falar, uma voz sem nome me pre cedia desde h muito: bastar-me-ia assim deix-la ir, prosseguir a frase, alojar-me, sem que ningum se apercebesse, nos seus interstcios, como se ela me tivesse acena do, ao manter-se, um instante, em suspenso. Assim no haveria comeo; e em vez de se r aquele de onde o discurso sai, estaria antes no acaso do seu curso, uma pequen a lacuna, o ponto do seu possvel desaparecimento. Preferiria que atrs de mim houvesse (tendo h muito tomado a palavra, dizendo antec ipadamente tudo o que eu vou dizer) uma voz que falasse assim: "Devo continuar. Eu no posso continuar. Devo continuar. Devo dizer palavras enquanto as houver. De vo diz-las at que elas me encontrem. At elas me dizerem estranha dor, estranha falt a. Devo continuar. Talvez isso j tenha acontecido. Talvez j me tenham dito. Talvez j me tenham levado at ao limiar da minha histria, at porta que se abre para a minha histria. Espantar-me-ia que ela se abrisse." H em muitos, julgo, um desejo semelhante de no ter de comear, um desejo semelhante de se encontrar, de imediato, do outro lado do discurso, sem ter de ver do lado de quem est de fora aquilo que ele pode ter de singular, de temvel, de malfico mesm o. A este querer to comum a instituio responde de maneira irnica, porque faz com que os comeos sejam solenes, porque os acolhe num rodeio de ateno e silncio, e lhes impe , para que se vejam distncia, formas ritualizadas. O desejo diz: "Eu, eu no queria ser obrigado a entrar nessa ordem incerta do disc urso; no queria ter nada que ver com ele naquilo que tem de peremptrio e de decisi vo; queria que ele estivesse muito prximo de mim como uma transparncia calma, prof unda, indefinidamente aberta, e que os outros respondessem minha expectativa, e que as verdades, uma de cada vez, se erguessem; bastaria apenas deixar-me levar, nele e por ele, como um barco deriva, feliz." E a instituio responde: "Tu no deves ter receio em comear; estamos aqui para te fazer ver que o discurso est na ordem das leis; que sempre vigimos o seu aparecimento; que lhe concedemos um lugar, que o honra, mas que o desarma; e se ele tem algum poder, de ns, e de ns apenas, que o recebe." Mas talvez esta instituio e este desejo no sejam mais do que duas rplicas a uma mesm a inquietao: inquietao face quilo que o discurso na sua realidade material de coisa ronunciada ou escrita; inquietao face a essa existncia transitria destinada sem dvida a apagar-se, mas segundo uma durao que no nos pertence; inquietao por sentir nessa a ctividade, quotidiana e banal porm, poderes e perigos que sequer adivinhamos; inq uietao por suspeitarmos das lutas, das vitrias, das feridas, das dominaes, das servid s que atravessam tantas palavras em cujo uso h muito se reduziram as suas rugosid ades. Mas o que h assim de to perigoso por as pessoas falarem, qual o perigo dos discurs os se multiplicarem indefinidamente? Onde que est o perigo? * esta a hiptese que eu queria apresentar, esta tarde, para situar o lugar ou talve z a antecmara do trabalho que fao: suponho que em toda a sociedade a produo do discu rso simultaneamente controlada, seleccionada, organizada e redistribuda por um ce rto nmero de procedimentos que tm por papel exorcizar-lhe os poderes e os perigos, refrear-lhe o acontecimento aleatrio, disfarar a sua pesada, temvel materialidade. claro que sabemos, numa sociedade como a nossa, da existncia de procedimentos de excluso. O mais evidente, o mais familiar tambm, o interdito. Temos conscincia de q ue no temos o direito de dizer o que nos apetece, que no podemos falar de tudo em qualquer circunstncia, que quem quer que seja, finalmente, no pode falar do que qu er que seja. Tabu do objecto, ritual da circunstncia, direito privilegiado ou exc lusivo do sujeito que fala: jogo de trs tipos de interditos que se cruzam, que se
reforam ou que se compensam, formando uma grelha complexa que est sempre a modifi car-se. Basta-me referir que, nos dias que correm, as regies onde a grelha mais s e aperta, onde os quadrados negros se multiplicam, so as regies da sexualidade e a s da poltica: longe de ser um elemento transparente ou neutro no qual a sexualida de se desarma e a poltica se pacifica, como se o discurso fosse um dos lugares on de estas regies exercem, de maneira privilegiada, algumas dos seus mais temveis po deres. O discurso, aparentemente, pode at nem ser nada de por a alm, mas no entanto , os interditos que o atingem, revelam, cedo, de imediato, o seu vnculo ao desejo e o poder. E com isso no h com que admirarmo-nos: uma vez que o discurso a psicanl ise mostrou-o , no simplesmente o que manifesta (ou esconde) o desejo; tambm aquilo que objecto do desejo; e porque e isso a histria desde sempre o ensinou o discur so no simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominao, mas aquilo pelo qual e com o qual se luta, o prprio poder de que procuramos assenhorear-nos . H na nossa sociedade outro princpio de excluso: no j um interdito, mas uma partilha e uma rejeio. Penso na oposio da razo e da loucura (folie). Desde os arcanos da Idade Mdia que o louco aquele cujo discurso no pode transmitir-se como o dos outros: ou a sua palavra nada vale e no existe, no possuindo nem verdade nem importncia, no pod endo testemunhar em matria de justia, no podendo autentificar um acto ou um contrat o, no podendo sequer, no sacrifcio da missa, permitir a transubstanciao e fazer do po um corpo; ou, como reverso de tudo isto, e por oposio a outra palavra qualquer, so -lhe atribudos estranhos poderes: o de dizer uma verdade oculta, o de anunciar o futuro, o de ver, com toda a credulidade, aquilo que a sagacidade dos outros no c onsegue atingir. curioso reparar que na Europa, durante sculos, a palavra do louc o, ou no era ouvida, ou ento, se o era, era ouvida como uma palavra verdadeira. Ou caa no nada rejeitada de imediato logo que proferida; ou adivinhava-se nela uma razo crdula ou subtil, uma razo mais razovel do que a razo das pessoas razoveis. De q alquer modo, excluda ou secretamente investida pela razo, em sentido estrito, ela no existia. Era por intermdio das suas palavras que se reconhecia a loucura do lou co; essas palavras eram o lugar onde se exercia a partilha; mas nunca eram retid as ou escutadas. A nunca um mdico ocorrera, antes do final do sculo XVIII, saber o que era dito (como era dito, por que que era dito isso que era dito) nessa pala vra que, no obstante, marcava a diferena. Todo esse imenso discurso do louco recaa no rudo; e se se lhe dava a palavra era de modo simblico, no teatro, onde se apres entava desarmado e reconciliado, j que a representava a verdade mascarada. Dir-me-o que hoje tudo isto j acabou ou que est em vias de acabar; que a palavra do louco j no est do outro lado da partilha; que j tem uma existncia e uma validez; que , pelo contrrio, nos coloca de sobreaviso; que procuramos nela um sentido, o esboo ou as runas de uma obra; e que somos capazes de a surpreender, palavra do louco, naquilo que ns prprios articulamos, nessa minscula fenda por onde aquilo que dizem os nos escapa. Mas uma tamanha ateno no prova que a antiga partilha no se exera ainda ; basta pensar em toda a armadura de saber por intermdio da qual ns deciframos ess as palavras; basta pensar na rede de instituies que permite a qualquer um mdico, ps icanalista escutar essa palavra, e que permite simultaneamente ao paciente traze r, ou desesperadamente reter, as suas prprias palavras; basta pensar em tudo isso para suspeitar que a partilha, longe de se ter apagado, se exerce de outra mane ira, atravs de linhas diferentes, por intermdio de novas instituies e com efeitos qu e no so j os mesmos. E mesmo quando o prprio papel do mdico apenas o de escutar com teno uma palavra, por fim, livre, sempre a partir da manuteno da cesura que se exerc e a escuta. Escuta de um discurso que investido pelo desejo, e que se julga a si mesmo pela sua maior exaltao ou maior angstia possudo de terrveis poderes. Se par urar os monstros necessrio o silncio da razo, basta que ele se mantenha alerta e a partilha permanece. 1. Talvez seja arriscado considerar a oposio do verdadeiro e do falso como um terceiro sistema de excluso, a par daqueles de que acabo de falar. Como que se p ode razoavelmente comparar o constrangimento da verdade com as partilhas referid as, partilhas que partida so arbitrrias, ou que, quando muito, se organizam em tor no de contingncias histricas; que no so apenas modificveis, mas esto em perptuo desl mento; que so sustentadas por todo um sistema de instituies que as impem e as recond uzem; que, ao fim e ao cabo, no se exercem sem constrangimento, ou pelo menos sem
um pouco de violncia. claro que, colocando-nos, no interior de um discurso, ao nvel de uma proposio, a pa rtilha entre o verdadeiro e o falso no nem arbitrria, nem modificvel, nem instituci onal, nem violenta. Mas, numa outra escala, se nos pusermos a questo de saber, no interior dos nossos discursos, qual foi, qual , constantemente, essa vontade de verdade que atravessou tantos sculos da nossa histria, ou, na sua forma muito gera l, qual o tipo de partilha que rege a nossa vontade de saber, ento talvez vejamos desenhar-se qualquer coisa como um sistema de excluso (sistema histrico, modificve l, institucionalmente constrangedor). Partilha historicamente constituda, por certo. Pois, ainda nos poetas gregos do sc ulo VI, o discurso verdadeiro no sentido forte e valorizado da palavra , o discur so verdadeiro pelo qual se tinha respeito e terror, ao qual era necessrio submete r-se, porque reinava, era o discurso pronunciado por quem de direito e segundo o ritual requerido; era o discurso que dizia a justia e atribua a cada um a sua par te; era o discurso que, profetizando o futuro, no apenas anunciava o que haveria de passar-se, mas contribua para a sua realizao, obtinha a adeso dos homens e desse modo se entretecia com o destino. Ora, um sculo mais tarde, a maior das verdades j no estava naquilo que o discurso era ou naquilo que fazia, mas sim naquilo que o discurso dizia: chegou porm o dia em que a verdade se deslocou do acto ritualiza do de enunciao, eficaz e justo, para o prprio enunciado: para o seu sentido, a sua forma, o seu objecto, a sua relao referncia. Entre Hesodo e Plato uma certa partilha se estabeleceu, separando o discurso verdadeiro e o discurso falso; nova partilh a, uma vez que da em diante o discurso verdadeiro deixa de ser o discurso valioso e desejvel, uma vez que o discurso verdadeiro j no o discurso ligado ao exerccio do poder. O sofista encurralado. Sem dvida que esta partilha histrica deu nossa vontade de saber a sua forma geral. No deixou porm de deslocar-se: as grandes mutaes cientficas podem talvez ler-se, por vezes, enquanto consequncias de uma descoberta, mas podem ler-se tambm como apare cimentos de novas formas da vontade de verdade. H sem dvida uma vontade de verdade no sculo XIX, que no coincide com a vontade de saber que caracteriza a cultura cls sica, nem pelas formas que pe em jogo, nem pelos domnios de objectos aos quais se dirige, nem pelas tcnicas em que se apoia. Voltemos um pouco atrs: na viragem do sc ulo XVI para o sculo XVII (e na Inglaterra sobretudo) apareceu uma vontade de sab er que, antecipadamente em relao aos seus contedos actuais, concebia planos de obje ctos possveis, observveis, mensurveis, classificveis; uma vontade de saber que impun ha ao sujeito que conhece (e de algum modo antes de toda a experincia) uma certa posio, um certo olhar e uma certa funo (ver em vez de ler, verificar em vez de comen tar); uma vontade de saber que prescrevia (e de um modo mais geral do que qualqu er instrumento determinado) o nvel tcnico onde os conhecimentos deveriam investirse para serem verificveis e teis. Tudo se passa como se a partir da grande partilh a platnica a vontade de verdade tivesse a sua prpria histria, que no j a das verdades que constrangem: histria dos planos de objectos a conhecer, histria das funes e pos ies do sujeito que conhece, histria dos investimentos materiais, tcnicos, instrument ais do conhecimento. Ora esta vontade de verdade, tal como os outros sistemas de excluso, apoia-se num a base institucional: ela ao mesmo tempo reforada e reconduzida por toda uma espe ssura de prticas como a pedagogia, claro, o sistema dos livros, da edio, das biblio tecas, as sociedades de sbios outrora, os laboratrios hoje. Mas tambm reconduzida, e de um modo mais profundo sem dvida, pela maneira como o saber disposto numa soc iedade, como valorizado, distribudo, repartido e, de certa forma, atribudo. Evoque mos aqui, e a ttulo simblico somente, o antigo princpio grego: a aritmtica tratada n as sociedades democrticas, porque ensina as relaes de igualdade, mas a geometria ap enas deve ser ensinada nas oligarquias, dado que demonstra as propores na desigual dade. E creio que esta vontade de verdade, por fim, apoiando-se numa base e numa distr ibuio institucionais, tende a exercer sobre os outros discursos continuo a falar d a nossa sociedade uma espcie de presso e um certo poder de constrangimento. Estou a pensar na maneira como a literatura ocidental teve de apoiar-se, h sculos a esta parte, no natural, no verosmil, na sinceridade, e tambm na cincia numa palavra, no discurso verdadeiro. E estou a pensar, igualmente, na maneira como as prticas ec
onmicas, codificadas como preceitos ou receitas, eventualmente at como moral, proc uraram, desde o sculo XVI, fundamentar-se, racionalizar-se e justificar-se numa t eoria das riquezas e da produo. Penso ainda na maneira como um todo to prescritivo quanto o sistema penal foi encontrar os seus alicerces ou a sua justificao, em pri meiro lugar, claro, numa teoria do direito, e depois, a partir do sculo XIX, num saber sociolgico, psicolgico, mdico, psiquitrico: como se na nossa sociedade a prpria palavra da lei s pudesse ter autoridade por intermdio de um discurso de verdade. Dos trs grandes sistemas de excluso que incidem sobre o discurso, a palavra interd ita, a partilha da loucura e a vontade de verdade, foi no terceiro que eu mais m e demorei. Pois na sua direco que os primeiros se tm constantemente encaminhado, h s ulos a esta parte; porque, cada vez mais, ele visa tom-los a seu cargo, para ao a ssim os modificar e fundar; porque, se os dois primeiros se tornam cada vez mais frgeis, mais incertos, na medida em que agora so atravessados pela vontade de ver dade, esta, pelo contrrio, cada vez mais se refora, tornando-se mais profunda e ma is incontornvel. E no entanto, sem dvida dela que menos se fala. Como se a vontade de verdade e as suas peripcias fossem mascaradas pela prpria verdade na sua explicao necessria. E a razo disso talvez seja esta: se, com efeito, o discurso verdadeiro j no , desde os G regos, aquele que responde ao desejo ou aquele que exerce o poder, o que que, no entanto, est em jogo na vontade de verdade, na vontade de o dizer, de dizer o di scurso verdadeiro o que que est em jogo seno o desejo e o poder? O discurso verdad eiro, separado do desejo e liberto do poder pela necessidade da sua forma, no pod e reconhecer a vontade de verdade que o atravessa; e a vontade de verdade que de sde h muito se nos imps tal, que a prpria verdade que a vontade de verdade quer ma cara a vontade de verdade. Por tudo isto, os nossos olhos s vem uma verdade que riqueza, fecundidade, fora doc e e insidiosamente universal. E, ao invs, no vemos a vontade de verdade enquanto p rodigiosa maquinaria destinada a excluir. Todos aqueles que, de uma ponta a outr a da nossa histria, procuraram contornar essa vontade de verdade, interrogando-a e voltando-a contra a verdade, precisamente onde a prpria verdade procura justifi car o interdito e definir a loucura, todos eles, de Nietzsche a Artaud e a Batai lle, devem servir-nos hoje de sinais, soberbos sem dvida, para o nosso trabalho. *
Evidentemente que h outros procedimentos de controlo e de delimitao do discurso. Aq ueles de que falei at agora exercem-se, de algum modo, a partir do exterior; func ionam como sistemas de excluso; dizem respeito sem dvida parte do discurso em que esto implicados o poder e o desejo. Pode-se, julgo, isolar outro grupo. Procedimentos internos, dado que so os prprios discursos a exercer o seu controlo; procedimentos que funcionam sobretudo enqua nto princpios de classificao, de ordenamento, de distribuio, como se se tratasse, ago ra, de dominar uma outra dimenso do discurso: a do acontecimento e a do acaso. Na frente, o comentrio. Suponho, mas sem estar muito certo disso, que no h nenhuma sociedade onde no existam narrativas maiores, que se contam, se repetem, e que se vo mudando; frmulas, textos, coleces ritualizadas de discursos, que se recitam em c ircunstnc ias determinadas; coisas ditas uma vez e que so preservadas, porque susp eitamos que nelas haja algo como um segredo ou uma riqueza. Em suma, pode suspei tar-se que h nas sociedades, de um modo muito regular, uma espcie de desnvel entre os discursos: os discursos que "se dizem" ao correr dos dias e das relaes, discurs os que se esquecem no prprio acto que lhes deu origem; e os discursos que esto na origem de um certo nmero de novos actos de fala, actos que os retomam, os transfo rmam ou falam deles, numa palavra, os discursos que, indefinidamente e para alm d a sua formulao, so ditos, ficam ditos, e esto ainda por dizer. Sabemos da sua existnc ia no nosso sistema de cultura: so os textos religiosos ou jurdicos, so tambm esses textos curiosos, quando pensamos no seu estatuto, a que se chama "literrios"; e n uma certa medida tambm, os textos cientficos. Est bem que este desnvel no estvel, no constante, no absoluto. No h, por um l goria dos discursos fundamentais ou criadores, dada de uma vez para sempre; e no h, por outro lado, a massa dos outros que repetem, glosam e comentam. H muitos tex tos maiores que se dispersam e desaparecem, e h comentrios que por vezes vm ocupar
o lugar primordial. Mas se verdade que os seus pontos de aplicao podem mudar, a fu no permanece; e o princpio de um desnvel incessantemente accionado. O apagamento rad ical deste desnvel no pode ser seno jogo, utopia ou angstia. Jogo do comentrio, mane ra de Borges, comentrio que consiste num reaparecimento palavra a palavra (mas de sta vez solene e esperada) daquilo que comenta; e ainda o jogo de uma crtica que falaria at ao infinito de uma obra inexistente. Sonho lrico de um discurso que ren asce, absolutamente novo e inocente, em cada um dos seus pontos, e que reaparece , a todo o momento, com toda a frescura, a partir das coisas, dos sentimentos ou dos pensamentos. Angstia como a de um doente de Janet, para o qual o menor enunc iado era como se fosse uma "palavra do Evangelho", refgio de inesgotveis tesouros de sentido e que merecia ser indefinidamente retomado, recomeado, comentado: "Qua ndo penso, dizia ele ao ler ou ao ouvir, quando penso nessa frase, que foge para a eternidade, e que eu talvez no tenha ainda compreendido por completo." Mas como no ver que se trata tambm a de anular um s dos termos da relao e no, de mod lgum, da supresso da prpria relao? Relao que se modifica permanentemente pelo tempo f ra; relao que adquire, numa dada poca, formas mltiplas e divergentes; a exegese jurdi ca muito diferente (e isto desde h muito tempo) do comentrio religioso; basta uma n ica obra literria para dar lugar, simultaneamente, a tipos de discurso muito dife rentes: a Odisseia, enquanto texto primeiro, repetido, na mesma poca, na traduo de Brard, em muitas explicaes de textos, no Ulisses de Joyce. De momento, naquilo a que chamamos globalmente um comentrio, quero limitar-me a i ndicar que o desnvel entre o texto primeiro e o texto segundo desempenha dois papi s solidrios. Por um lado, permite construir (e indefinidamente) novos discursos : o pendor do discurso primeiro, a sua permanncia, o seu estatuto de discurso semp re reactualizvel, o sentido mltiplo ou escondido de que ele passa por ser o detent or, a reserva ou a riqueza essencial que lhe so atribudas, tudo isso funda uma pos sibilidade aberta de falar. Mas por outro lado, quaisquer que sejam as tcnicas us adas, o comentrio no tem outro papel seno o de dizer finalmente aquilo que estava s ilenciosamente articulado no texto primeiro. O comentrio deve, num paradoxo que e le desloca sempre mas de que nunca se livra, dizer pela primeira vez aquilo que j tinha sido dito entretanto, e repetir incansavelmente aquilo que, porm, nunca ti nha sido dito. O emaranhar indefinido dos comentrios trabalhado do interior pelo sonho de uma repetio mascarada : no seu horizonte, no h talvez mais nada seno aquilo que estava no ponto de partida, a simples recitao. O comentrio, ao dar conta das ci rcunstncias do discurso, exorciza o acaso do discurso : em relao ao texto, ele perm ite dizer outra coisa, mas com a condio de que seja esse mesmo texto a ser dito e de certa forma realizado. Pelo princpio do comentrio, a multiplicidade aberta, os imprevistos, so transferidos daquilo que corria o risco de ser dito para o nmero, a forma, a mscara, a circunstncia da repetio. O novo no est naquilo que dito, mas n contecimento do seu retorno. Julgo que h um outro princpio de rarefaco do discurso. Que at certo ponto complement r do primeiro. Trata-se do autor. Entendido o autor, claro, no como o indivduo que fala, o indivduo que pronunciou ou escreveu um texto, mas como princpio de agrupa mento do discurso, como unidade e origem das suas significaes, como lastro da sua coerncia. Este princpio no funciona em qualquer lugar, nem de maneira constante : e xistem, nossa volta, muitos discursos que circulam sem que o seu sentido ou a su a eficcia estejam em poder de um autor, a que seriam atribudos : palavras do dia a dia, que se apagam de imediato ; decretos ou contratos que tm necessidade de sig natrios, mas no de autor, receitas tcnicas que se transmitem no anonimato. Mas nos literatura, filosofia, cincia vemos qu domnios em que a atribuio a um autor usual ssa atribuio no desempenha sempre o mesmo papel ; na ordem do discurso cientfico, a atribuio a um autor era, na Idade Mdia, indispensvel, pois era um indicador de verda de. Considerava-se que o valor cientfico de uma proposio estava em poder do seu prpr io autor. Desde o sculo XVIII que esta funo se tem vindo a atenuar no discurso cien tfico : j no funciona seno para dar um nome a um teorema, a um efeito, a um exemplo, a um sndroma. Em contrapartida, na ordem do discurso literrio, e a partir da mesm a poca, a funo do autor tem vindo a reforar-se : a todas essas narrativas, a todos e sses poemas, a todos esses dramas ou comdias que circulavam na Idade Mdia num anon imato mais ou menos relativo, a todos eles -lhes agora perguntado (e exige-se-lhe s que o digam) donde vm, quem os escreveu ; pretende-se que o autor d conta da uni
dade do texto que se coloca sob o seu nome ; pede-se-lhe que revele, ou que pelo menos traga no seu ntimo, o sentido escondido que os atravessa ; pede-se-lhe que os articule, com a sua vida pessoal e com as suas experincias vividas, com a his tria real que os viu nascer. O autor o que d inquietante linguagem da fico, as suas unidades, os seus ns de coerncia, a sua insero no real. Sei o que me vo dizer: "Mas voc fala do autor, que a crtica reinventa quando j tarde , quando a morte chegou e j no resta nada seno uma massa emaranhada de coisas inint eligveis ; necessrio pr um pouco de ordem em tudo isso, imaginar um projecto, uma c oerncia, uma temtica que procurada na conscincia ou na vida de um autor que, com ef eito, talvez um tanto fictcio. Mas isso no impede que ele no tenha existido, o auto r real, esse homem que irrompe pelo meio de todas as palavras usadas, que trazem em si o seu gnio ou a sua desordem." Seria absurdo, claro, negar a existncia do indivduo que escreve e que inventa. Mas eu penso e isto pelo menos a partir de uma certa poca que o indivduo que comea a e screver um texto, no horizonte do qual gira uma obra possvel, retoma sua conta a funo do autor : o que escreve e o que no escreve, o que desenha, mesmo a ttulo de ra scunho provisrio, como esboo da obra, aquilo que ele deixa e que cai como as palav ras do dia-a-dia, todo esse jogo de diferenas prescrito pela funo autor, tal como e le a recebe da sua poca, ou tal como, por sua vez, a modifica. Pois ele pode muit o bem perturbar a imagem tradicional que se tem do autor; a partir de uma nova p osio do autor que ele recortar, em tudo aquilo que ele teria podido dizer, em tudo aquilo que ele diz todos os dias, a todo o instante, o perfil ainda oscilante da sua obra. O comentrio limitava o acaso do discurso com o jogo de uma identidade que tinha a forma da repetio e do mesmo. O princpio do autor limita esse mesmo acaso com o jog o de uma identidade que tem a forma da individualidade e do eu. Ser necessrio tambm reconhecer naquilo a que se chama as "disciplinas" no as cincias um outro princpio de limitao. Princpio esse tambm relativo e mvel. Princpio que perm construir, mas com base num jogo delimitado. A organizao das disciplinas ope-se tanto ao princpio do comentrio quanto ao do autor. Ao do autor, uma vez que uma disciplina se define por um domnio de objectos, um conjunto de mtodos, um corpo de proposies consideradas verdadeiras, um jogo de regr as e de definies, de tcnicas e de instrumentos : tudo isto constitui uma espcie de s istema annimo disposio de quem quer ou pode servir-se dele, sem que o seu sentido o u a sua validade estejam ligados ao seu inventor. Mas o princpio da disciplina ope -se tambm ao do comentrio : numa disciplina, diferentemente do comentrio, no est supo sto partida que um sentido o que deve ser redescoberto, nem est suposto que uma i dentidade que deve ser repetida ; est suposto antes aquilo que necessrio para a co nstruo de novos enunciados. Para que haja disciplina, preciso, por conseguinte, qu e haja a possibilidade de formular, e de formular indefinidamente, novas proposies . Mas h mais ; e h mais, sem dvida, para que haja menos : uma disciplina no a soma de tudo aquilo que pode ser dito de verdadeiro a propsito de qualquer coisa ; nem me smo o conjunto de tudo aquilo que, a propsito de um mesmo dado, pode, pelo princpi o de coerncia ou sistematizao, ser aceite. A medicina no constituda pela totalidade o que se pode dizer de verdadeiro sobre a doena ; a botnica no pode ser definida pe la soma de todas as verdades que dizem respeito s plantas. H duas razes para isso : em primeiro lugar, a botnica ou a medicina, como qualquer outra disciplina, so fe itas tanto de erros quanto de verdades, erros que no so resduos ou corpos estranhos , mas que tm funes positivas, uma eficcia histrica, um papel muitas vezes indistinto do das verdades. Mas por outro lado, para que uma proposio pertena botnica ou patol gia, preciso que ela responda a condies que em certo sentido so mais estritas e mai s complexas do que a pura e simples verdade: em todo o caso, a outras condies. A p roposio deve dirigir-se a um plano de objectos determinado : a partir do final do sculo XVII, por exemplo, para que uma proposio fosse "botnica" era necessrio que diss esse respeito estrutura visvel da planta, ao sistema das suas semelhanas prximas e longnquas ou mecnica dos seus fluidos (e j no podia conservar, como era ainda o caso no sculo XVI, os seus valores simblicos, ou o conjunto das virtudes ou propriedad es que lhe eram reconhecidos na Antiguidade). Mas, no pertencendo a uma disciplin a, uma proposio deve utilizar instrumentos conceptuais ou tcnicas de um tipo defini
do ; a partir do sculo XIX, uma proposio deixava de ser uma proposio de medicina, fic ava "fora da medicina" e ganhava um valor de fantasma individual ou de fantasia popular, se empregasse noes ao mesmo tempo metafricas, qualitativas e substanciais (como as de obstruo, lquidos aquecidos ou slidos ressequidos) ; ela podia, ela devia apelar, pelo contrrio, a noes igualmente metafricas, mas construdas com base noutro modelo, funcional e fisiolgico este (era a irritao, a inflamao ou a degenerescncia do tecidos). H mais ainda : para pertencer a uma disciplina, uma proposio deve poder inscrever-se num certo tipo de horizonte terico : basta lembrar que a procura da lngua primitiva, que foi um tema plenamente aceite at ao sculo XVIII, era suficient e, na segunda metade do sculo XIX, para fazer sucumbir qualquer discurso, no digo no erro, mas na quimera e no devaneio, na pura e simples monstruosidade lingustic a. No interior dos seus limites, cada disciplina reconhece proposies verdadeiras e fa lsas ; mas repele para o outro lado das suas margens toda uma teratologia do sab er. O exterior de uma cincia est mais e menos povoado do que julgamos : certamente que h a experincia imediata, os temas imaginrios que trazem e reconduzem incessant emente crenas sem memria ; mas talvez no haja erros em sentido estrito, porque o er ro no pode surgir e ser avaliado seno no interior de uma prtica definida ; em contr apartida, h monstros que circulam e cuja forma muda com a histria do saber. Numa p alavra, uma proposio tem de passar por complexas e pesadas exigncias para poder per tencer ao conjunto de uma disciplina; antes de se poder diz-la verdadeira ou fals a, ela deve estar, como diria Canguilhem, "no verdadeiro". Perguntmo-nos muitas vezes como que os botnicos e os bilogos do sculo XIX no puderam ver que era verdadeiro o que Mendel dizia. Mas Mendel falava de objectos, usava mtodos, colocava-se num horizonte terico que eram estranhos biologia da sua poca. S em dvida que Naudin, antes dele, j tinha avanado a tese segundo a qual os traos here ditrios eram discretos ; porm, por novo ou estranho que fosse este princpio, ele po pelo menos a ttulo de enigma do discurso biolgico. Mendel, por seu dia fazer parte lado, constitui o trao hereditrio enquanto objecto biolgico absolutamente novo, gr aas a uma filtragem que nunca tinha sido utilizada at a : ele isola o trao hereditrio da espcie, isola-o do sexo que o transmite ; e o domnio em que o observa a srie in definidamente aberta das geraes onde ele aparece e desaparece segundo regularidade s estatsticas. Novo objecto, que convoca novos instrumentos conceituais e novos f undamentos tericos. Mendel dizia a verdade, mas no estava "no verdadeiro" do discu rso biolgico da sua poca : no era com base nessas regras que se formavam os objecto s e os conceitos biolgicos ; para que Mendel entrasse no verdadeiro e para que as suas proposies surgissem (em boa parte) exactas foi necessrio toda uma mudana de es cala, o desenvolvimento de todo um novo plano de objectos em biologia. Mendel er a um monstro verdadeiro, o que fazia com que a cincia no pudesse falar dele ; ao p asso que Schleiden, por exemplo, cerca de trinta anos antes, ao negar a sexualid ade vegetal em pleno sculo XIX, fazia-o segundo as regras do discurso biolgico e c om isso formulava apenas um erro disciplinado. Pode sempre acontecer que se diga o verdadeiro no espao de uma exterioridade selvagem ; mas no se est no verdadeiro sem que se obedea s regras de uma "polcia" discursiva que temos de reactivar em cad a um dos seus discursos. A disciplina um princpio de controlo da produo do discurso. Fixa-lhe limites pelo j ogo de uma identidade que tem a forma de uma reactualizao permanente das regras. Tem-se o hbito de ver na fecundidade de um autor, na multiplicidade dos comentrios , no desenvolvimento de uma disciplina, recursos infinitos para a criao dos discur sos. Talvez, mas no deixam de ser princpios de constrangimento ; e provvel que no se possa reconhecer o seu papel positivo e multiplicador se no tomarmos em consider ao a sua funo restritiva e constrangedora. * Existe, creio, um terceiro grupo de procedimentos que permitem o controlo dos di scursos. No se trata desta vez de dominar os poderes que eles detm, nem de exorciz ar os acasos do seu aparecimento ; trata-se de determinar as condies do seu empreg o, de impor aos indivduos que os proferem um certo nmero de regras e de no permitir , desse modo, que toda a gente tenha acesso a eles. Rarefaco, agora, dos sujeitos falantes ; ningum entrar na ordem do discurso se no satisfizer certas exigncias, ou
se no estiver, partida, qualificado para o fazer. Mais precisamente : as regies do discurso no esto todas igualmente abertas e penetrveis ; algumas esto muito bem def endidas (so diferenciadas e so diferenciantes), enquanto outras parecem abertas a todos os ventos e parecem estar colocadas disposio de cada sujeito falante sem res tries prvias. Gostaria de lembrar uma anedota sobre este tema, to bela que receamos que ela sej a verdadeira. Ela congrega numa nica figura todos os constrangimentos do discurso : os constrangimentos que limitam os seus poderes, os que refreiam os seus apar ecimentos aleatrios, os que seleccionam os sujeitos falantes. No incio do sculo XVI I, o Shogun tinha ouvido dizer que a superioridade dos europeus na navegao, no comr cio, na poltica, na arte militar era devida ao conhecimento das matemticas. Quis a poderar-se desse saber to precioso. Como lhe tinham falado de um marinheiro ingls que possua o segredo desses discursos maravilhosos, f-lo vir ao seu palcio e a o ret eve. A ss com ele, recebeu lies. Aprendeu as matemticas. Guardou para si prprio o pod er destas e viveu at muito velho. S houve matemticos japoneses no sculo XIX. Mas a a nedota no fica por aqui : tem a sua vertente europeia. Com efeito, a histria prete nde que o marinheiro ingls, Will Adams, era um autodidacta : um carpinteiro que, por ter trabalhado num estaleiro naval, tinha aprendido geometria. Ser necessrio v er nesta narrativa a expresso de um dos grandes mitos da cultura europeia? Ao sab er monopolizado e secreto da tirania oriental, a Europa oporia a comunicao univers al do conhecimento, o intercmbio indeterminado e livre dos discursos. claro que este tema no resiste ao exame. O intercmbio e a comunicao so figuras posit vas que funcionam no interior de sistemas complexos de restrio ; e sem dvida que no podem funcionar independentemente destes. A forma mais superficial e mais visvel destes sistemas de restrio constituda por aquilo que se pode agrupar sob o nome de ritual ; o ritual define a qualificao que devem possuir os indivduos que falam (e q ue, no jogo do dilogo, na interrogao, na recitao, devem ocupar determinada posio e f ular determinado tipo de enunciados) ; define os gestos, os comportamentos, as c ircunstncias e todo o conjunto de sinais que devem acompanhar o discurso ; o ritu al fixa, por fim, a eficcia, suposta ou imposta, das palavras, o seu efeito sobre aqueles a quem elas se dirigem, os limites do seu valor constrangedor. Os discu rsos religiosos, jurdicos, teraputicos, e em parte tambm os polticos, no so dissociv desse exerccio de um ritual que determina para os sujeitos falantes, ao mesmo te mpo, propriedades singulares e papis convenientes. Com um funcionamento que em parte diferente, as "sociedades de discurso" tm por f uno conservar ou produzir discursos, mas isso para os fazer circular num espao fech ado, e para os distribuir segundo regras estritas, sem que os detentores do disc urso sejam lesados com essa distribuio. Um dos modelos arcaicos disto -nos dado pel os grupos de rapsodos que detinham o conhecimento dos poemas a recitar, ou event ualmente a fazer variar e transformar ; mas ainda que o fim deste conhecimento f osse uma recitao que era afinal de contas ritual, ele estava pelos exerccios de memr ia, muitas vezes complexos, que implicava protegido, defendido e conservado num grupo determinado ; a aprendizagem dava acesso, ao mesmo tempo, a um grupo e a u m segredo que a recitao manifestava, mas no divulgava ; no se trocavam os papis entre a fala e a escuta. Claro que j no existem semelhantes "sociedades de discurso", com este jogo ambguo d o segredo e da divulgao. Mas no nos enganemos ; mesmo na ordem do discurso verdadei ro, mesmo na ordem do discurso publicado e liberto de todo o ritual, exercem-se ainda formas de apropriao do segredo e de no-intermutabilidade. Talvez o acto de es crever, tal como est hoje institucionalizado no livro, no sistema da edio e na pers onagem do escritor, seja um acto que se d numa "sociedade de discurso", difusa ta lvez, mas seguramente constrangedora. A diferena do escritor, que por si prprio op osta permanentemente actividade de qualquer outro sujeito falante ou escritor, o carcter intransitivo que ele atribui ao seu discurso, a singularidade fundamenta l que ele, h muito tempo j, confere "escrita", a dissimetria afirmada entre a "cri ao" e qualquer outra utilizao do sistema lingustico, tudo isto manifesta, na sua form ulao, (e tende de resto a reconduzir no jogo das prticas) a existncia de uma certa " sociedade de discurso". Mas existem muitas outras, que funcionam de outro modo, segundo um outro regime de exclusivos e de divulgao : pensemos no segredo tcnico ou cientfico, pensemos nas formas de difuso e de circulao do discurso mdico ; pensemos
naqueles que se apropriaram do discurso econmico e poltico. O que constitui as doutrinas (religiosas, polticas, filosficas) , primeira vista, o inverso de uma "sociedade de discurso" : nesta, o nmero dos indivduos falantes, m esmo quando no estava fixado, tendia a ser limitado ; e era entre eles que o disc urso podia circular e ser transmitido. A doutrina, pelo contrrio, tende a difundi r-se ; e pelo pr em comum de um nico conjunto de discursos, que os indivduos, to num erosos quanto o quisermos imaginar, definem a sua pertena recproca. Aparentemente, a nica condio requerida o reconhecimento das mesmas verdades e a aceitao de uma cer a regra mais ou menos flexvel de conformidade com os discursos validados ; se as doutrinas fossem apenas isto, elas no seriam diferentes das disciplinas cientficas , e o controlo discursivo diria respeito unicamente forma ou ao contedo do enunci ado, no ao sujeito falante. Ora, a pertena doutrinal pe em causa ao mesmo tempo o e nunciado e o sujeito falante, e um por intermdio do outro. Pe em causa o sujeito f alante por intermdio e a partir do enunciado, como o provam os procedimentos de e xcluso e os mecanismos de rejeio que intervm quando um sujeito falante formulou um o u vrios enunciados inassimilveis ; a heresia e a ortodoxia no provm de uma fantica ex agerao dos mecanismos doutrinais; heresia e ortodoxia pertencem-lhes fundamentalme nte. Mas, inversamente, a doutrina pe tambm em causa os enunciados a partir dos su jeitos falantes, na medida em que ele vale sempre como sinal, manifestao e instrum ento de uma pertena prvia pertena de classe, de estatuto social ou de raa, de nacion alidade ou de interesse, de luta, de revolta, de resistncia ou de aceitao. A doutri na liga os indivduos a certos tipos de enunciao e interdita-lhes, por conseguinte, todos os outros ; mas, em reciprocidade, serve-se de certos tipos de enunciao para ligar indivduos entre si, e desse modo os diferenciar de todos os outros. Ela ef ectua uma dupla sujeio : dos sujeitos falantes ao discurso, e dos discursos ao gru po, pelo menos virtual, dos indivduos falantes. Finalmente, numa escala muito maior, podem reconhecer-se grandes clivagens naqui lo a que se poderia chamar a apropriao social dos discursos. A educao pode muito bem ser, de direito, o instrumento graas ao qual todo o indivduo, numa sociedade como a nossa, pode ter acesso a qualquer tipo de discurso ; sabemos no entanto que, na sua distribuio, naquilo que permite e naquilo que impede, ela segue as linhas q ue so marcadas pelas distncias, pelas oposies e pelas lutas sociais. Todo o sistema de educao uma maneira poltica de manter ou de modificar a apropriao dos discursos, c m os saberes e os poderes que estes trazem consigo. Eu sei perfeitamente que a separao que tenho vindo a fazer entre rituais da fala, sociedades de discurso, grupos doutrinrios e apropriaes sociais, demasiado abstract a. Na maior parte das vezes esto ligados uns aos outros e so como grandes edifcios que asseguram a distribuio dos sujeitos falantes nos diferentes tipos de discurso e asseguram a apropriao dos discursos a certas categorias de sujeitos. Numa palavr a, so os grandes procedimentos de sujeio do discurso. O que , no fim de contas, um s istema de ensino seno uma ritualizao da fala, seno uma qualificao e uma fixao dos p os sujeitos falantes ; seno a constituio de um grupo doutrinal, por difuso que seja ; seno uma distribuio e uma apropriao do discurso com os seus poderes e os seus sabe res? O que a "escrita" (a dos "escritores") seno um sistema de sujeio semelhante, q ue assume talvez formas um pouco diferentes, mas em que as grandes decomposies so a nlogas? Ser que o sistema jurdico, o sistema institucional da medicina, tambm eles, pelo menos em alguns dos seus aspectos, no so sistemas semelhantes de sujeio do disc urso? * Pergunto-me se um certo nmero de temas da filosofia no vieram responder a estes jo gos de limitao e excluso, e, talvez tambm, refor-los. Vieram responder-lhes, primeiro, ao proporem uma verdade ideal enquanto lei do d iscurso e uma racionalidade imanente enquanto princpio do seu encadeamento, e tam bm ao reconduzirem uma tica do conhecimento que s promete a verdade ao desejo da prp ria verdade e ao poder de a pensar. E vieram refor-los por uma denegao que incide, desta vez, sobre a realidade especfica do discurso em geral. Depois de os jogos e o comrcio dos sofistas terem sido excludos, depois de, com ma ior ou menor segurana, se terem anulado os seus paradoxos, parece que o pensament
o ocidental esteve sempre de guarda para que o discurso ocupasse o mais pequeno espao possvel entre o pensamento e a palavra; esteve de guarda para que esse disco rrer entre pensar e falar surgisse apenas como um certo legado ; um pensamento q ue estaria revestido com os seus signos e que se tornaria visvel pelas palavras, ou seriam as prprias estruturas da lngua em aco, inversamente, que produziriam um ef eito de sentido. Esta eliso da realidade do discurso no pensamento filosfico, muito antiga, assumiu muitas formas no decurso da histria. Voltmos a encontr-la recentemente em vrios tem as que nos so familiares. possvel que o tema do sujeito fundador permita elidir a realidade do discurso. O sujeito fundador, com efeito, est encarregue de animar directamente com as suas p retenses as formas vazias da lngua; ele que, ao atravessar a espessura ou a inrcia das coisas vazias, capta, na intuio, o sentido que se encontra a depositado ; ele i gualmente que, para alm do tempo, funda horizontes de significao que a histria em se guida s ter de explicitar, horizontes onde as proposies, as cincias, as unidades dedu tivas encontraro no fim de contas o seu fundamento. Na sua relao com o sentido, o s ujeito fundador dispe de sinais, de marcas, de vestgios, de letras. Mas para os ma nifestar no tem necessidade de passar pela instncia singular do discurso. O tema que combina com este, o tema da experincia originria, desempenha um papel a nlogo. Supe que, ainda antes da experincia se ter assenhoreado de si mesma na forma de um cogito, haveriam significaes prvias, no rs da experincia, j ditas, de certa fo ma, que percorreriam o mundo, o disporiam nossa volta e o abririam desde logo a uma espcie de primitivo reconhecimento. A possibilidade de falar do mundo, de fal ar dentro dele, de o designar e de o nomear, de o julgar e de finalmente o conhe cer na forma da verdade, tudo isso teria o seu fundamento, para ns, numa cumplici dade primeira com ele. Se o discurso, na verdade, existe, ento, na sua legitimida de, o que que pode ele ser seno uma discreta leitura? As coisas murmuram j um sent ido que a nossa linguagem apenas tem de erguer ; e a linguagem, desde o seu proj ecto mais rudimentar, fala-nos de um ser do qual ela seria a nervura. Creio que o tema da mediao universal tambm uma maneira de elidir a realidade do dis curso. E isto apesar da aparncia. Pois parece que, primeira vista, encontrando-se por toda a parte o movimento de um logos que eleva as singularidades at ao conce ito e que permite conscincia imediata revelar, finalmente, toda a racionalidade d o mundo, o prprio discurso que colocamos no centro da especulao. Mas este logos, a bem dizer, feito de um discurso j dado, ou, em vez disso, so as prprias coisas e os acontecimentos que se tornam discurso, de modo insensvel, ao revelarem o segredo da sua prpria essncia. O discurso nada mais do que o reflexo de uma verdade que e st sempre a nascer diante dos seus olhos; e por fim, quando tudo pode tomar a for ma do discurso, quando tudo se pode dizer e o discurso se pode dizer a propsito d e tudo, porque todas as coisas que manifestaram e ofereceram o seu sentido podem reentrar na interioridade silenciosa da conscincia de si. Por conseguinte, quer seja numa filosofia do sujeito fundador, numa filosofia da experincia originria ou numa filosofia da mediao universal, o discurso no passa de u m jogo, jogo de escrita no primeiro caso, de leitura no segundo, de intercmbio no e este intercmbio, esta leitura e esta escrita somente pem em aco os terceiro caso signos. Na sua realidade, ao ser colocado na ordem do significante, o discurso a nula-se. Aparentemente, que civilizao respeitou mais o discurso do que a nossa? Onde que ma is e melhor se honrou o discurso? Onde que, ao que parece, mais radicalmente se libertou o discurso dos seus constrangimentos e se universalizou? Ora, parece-me que sob esta aparente venerao do discurso, sob esta aparente logofilia, esconde-s e uma espcie de temor. Tudo se passa como se os interditos, as barragens, as entr adas e os limites do discurso tivessem sido dispostos de maneira a que, ao menos em parte, a grande proliferao do discurso seja dominada, de maneira a que a sua r iqueza seja alijada da sua parte mais perigosa e que a sua desordem seja organiz ada segundo figuras que esquivam aquilo que mais incontrolvel ; tudo se passa com o se se tivesse mesmo querido apagar as marcas da sua irrupo nos jogos do pensamen to e da lngua. H sem dvida na nossa sociedade, e imagino que em todas as outras, co m base em perfis e decomposies diferentes, uma profunda logofobia, uma espcie de te mor surdo por esses acontecimentos, por essa massa de coisas ditas, pelo surgime
nto de todos esses enunciados, por tudo o que neles pode haver de violento, de d escontnuo, de batalhador, de desordem tambm e de perigoso, por esse burburinho inc essante e desordenado do discurso. E se quisermos no digo eliminar esse temor mas analisar as suas condies, o seu jogo e os seus efeitos, preciso, creio, resolvermo-nos a tomar trs decises, em relao s q ais o nosso pensamento, hoje, resiste um pouco, e que correspondem aos trs grupos de funes que acabo de mencionar : interrogar a nossa vontade de verdade ; restitu ir ao discurso o seu carcter de acontecimento ; finalmente, abandonar a soberania do significante. *
So estas as tarefas, ou antes, alguns temas que orientam o trabalho que gostaria de fazer aqui nos prximos anos. Podemos de imediato assinalar certas exigncias de mtodo que eles convocam. Em primeiro lugar, um princpio de inverso: onde julgamos reconhecer, segundo a tra dio, a fonte dos discursos, onde julgamos reconhecer o princpio da sua fuso e da sua continuidade, nessas figuras que parecem desempenhar um papel positivo, como a do autor, a da disciplina, a da vontade de verdade, necessrio reconhecer nelas, e m vez disso, o jogo negativo de um recorte e de uma rarefaco do discurso. Mas, uma vez desvendados os princpios de rarefaco, uma vez que os deixmos de conside rar como instncia fundamental e criadora, o que que se descobre debaixo deles? Se r necessrio admitir a plenitude virtual de um mundo de discursos ininterruptos? aq ui que necessria a interveno de outros princpios de mtodo. Um princpio de descontinuidade: que haja sistemas de rarefaco no quer dizer que aqum deles, ou para-alm deles, reine um grande discurso ilimitado, contnuo e silencioso , discurso que, por via desses sistemas, se encontraria reprimido ou recalcado, e que teramos de reerguer, restituindo-lhe a palavra. No necessrio imaginar um no di to ou um impensado que percorre e entrelaa o mundo com todas as suas formas e tod os os seus acontecimentos, o qual teramos de articular, ou, finalmente, pensar. O s discursos devem ser tratados como prticas descontnuas que se cruzam, que s vezes se justapem, mas que tambm se ignoram ou se excluem. Um princpio de especificidade: no dissolver o discurso num jogo de significaes prvias ; no imaginar que o mundo nos mostra uma face legvel que apenas teramos de decifra r ; ele no cmplice do nosso conhecimento ; no h uma providncia pr-discursiva que o te para ns. necessrio conceber o discurso como uma violncia que fazemos s coisas, em todo o caso como uma prtica que lhes impomos ; e nessa prtica que os aconteciment os do discurso encontram o princpio da sua regularidade. Quarta regra, a da exterioridade: no ir do discurso at ao seu ncleo interior e esco ndido, at ao centro de um pensamento ou de uma significao que nele se manifestasse ; mas, a partir do prprio discurso, do seu aparecimento e da sua regularidade, ir at s suas condies externas de possibilidade, at ao que d lugar srie aleatria des ntecimentos e que lhes fixa os limites. Quatro noes devem servir, por conseguinte, de princpio regulador anlise: a de aconte cimento, a de srie, a de regularidade, a de condio de possibilidade. Vemos que esta s noes esto em oposio, termo a termo, a outras: o acontecimento criao, a srie u regularidade originalidade, e a condio de possibilidade significao. Estas quatro mas noes (significao, originalidade, unidade, criao) tm dominado, de uma maneira ger a histria tradicional das ideias, na qual, de comum acordo, se procura o ponto d a criao, a unidade de uma obra, de uma poca ou de um tema, a marca da originalidade individual e o tesouro indeterminado das significaes ocultas. Acrescentarei apenas duas observaes. Uma diz respeito histria. Credita-se frequente mente a histria contempornea pelo facto de ter retirado os privilgios outrora conce didos ao acontecimento singular e de ter feito aparecer as estruturas da longa d urao. Certamente. Mas mesmo assim no estou certo de que o trabalho dos historiadore s tenha sido feito precisamente nessa direco. Ou antes, no penso que haja uma razo i nversa entre a notao do acontecimento e a anlise da longa durao. Parece que, pelo con trrio, ao apertar at ao extremo o caroo do acontecimento, ao conduzir o poder de re soluo da anlise histrica at aos preos dos comestveis, at aos actos notariais, at a stos de parquia, at aos registos porturios analisados ano a ano, semana a semana, f oi assim que se viram despontar, para-alm das batalhas, dos decretos, das dinasti
as ou das assembleias, os fenmenos espessos de alcance secular ou plurissecular. A histria, no modo como praticada hoje em dia, no se afasta dos acontecimentos, pe lo contrrio, ela alarga-lhes incessantemente o campo ; descobre incessantemente n ovas camadas, mais superficiais ou mais profundas ; isola incessantemente conjun tos novos, em que os acontecimentos so por vezes numerosos, densos e substituveis, e por vezes raros e decisivos : desloca-se das variaes quase quotidianas dos preos at s inflaes seculares. Mas o importante que a histria no considere um acontecimen sem definir a srie de que ele faz parte, sem especificar o modo de anlise de que e sta srie depende, sem procurar conhecer a regularidade dos fenmenos e os limites d e probabilidade da sua emergncia, sem se interrogar sobre as variaes, as inflexes e o comportamento da curva, sem determinar a condies de que elas dependem. claro que h j muito tempo que a histria no procura compreender os acontecimentos pelo jogo da s causas e dos efeitos na unidade informe de um grande devir, vagamente homogneo ou rigidamente hierarquizado ; mas no o faz para, em vez disso, encontrar estrutu ras anteriores, estranhas, hostis ao acontecimento. F-lo para estabelecer as dive rsas sries, entrecruzadas, muitas vezes divergentes mas no autnomas, que permitem c ircunscrever o "lugar" do acontecimento, as margens do seu acaso, as condies do se u aparecimento. As noes fundamentais que agora se impem no so as da conscincia e da c ntinuidade (com os problemas da liberdade e da causalidade que lhes so correlativ os), j no so as do signo e da estrutura. So as do acontecimento e da srie, com o jogo de noes que lhes esto ligadas ; regularidade, acaso, descontinuidade, dependncia, t ransformao ; por intermdio deste conjunto de noes que esta anlise do discurso se ar ula com o trabalho dos historiadores e de maneira nenhuma com a temtica tradicion al que os filsofos de ontem tomam ainda por histria "viva". Mas por isso tambm que esta anlise coloca problemas filosficos, ou tericos, provavel mente temveis. Se os discursos devem ser tratados em primeiro lugar enquanto conj untos de acontecimentos discursivos, qual o estatuto que preciso dar noo de aconte cimento, que muito raramente foi tida em considerao pelos filsofos? Claro que o aco ntecimento no nem substncia nem acidente, nem qualidade, nem processo ; o aconteci mento no da ordem dos corpos. Mas, mesmo assim, de modo nenhum o acontecimento im aterial ; sempre ao nvel da materialidade que ele adquire efeito, que ele efeito ; e consiste, tem o seu lugar, na relao, na coexistncia, na disperso, no recorte, na acumulao, na seleco de elementos materiais ; o acontecimento no nem o acto nem a pr priedade de um corpo ; produz-se como efeito de uma disperso material, e produz-s e numa disperso material. Digamos que a filosofia do acontecimento deveria encami nhar-se na direco, primeira vista paradoxal, de um materialismo do incorporal. Por outro lado, se os acontecimentos discursivos devem ser tratados segundo sries homogneas mas descontnuas umas em relao s outras, qual o estatuto que necessrio da este descontnuo? No se trata, bem entendido, nem da sucesso de instantes no tempo, nem da pluralidade dos diversos sujeitos pensantes ; trata-se de cesuras que qu ebram o instante e o dispersam numa pluralidade de posies e de funes possveis. Esta d escontinuidade atinge e invalida as mais pequenas unidades tradicionalmente reco nhecidas ou as que menos facilmente so contestadas: o instante e o sujeito. E, nu m nvel inferior a essas unidades, independentemente delas, preciso conceber relaes entre as sries descontnuas que no so da ordem da sucesso (ou da simultaneidade) numa fora das filosofias do sujeito e do tempo (ou vrias) conscincia ; preciso elaborar uma teoria das sistematizaes descontnuas. Finalmente, se verdade que estas sries d scursivas e descontnuas tm, cada uma delas, dentro de certos limites, a sua regula ridade, sem dvida que j no possvel estabelecer, entre os elementos que as constituem , vnculos de causalidade mecnica ou de necessidade ideal. preciso aceitar, na prod uo dos acontecimentos, a introduo do acaso como categoria. Mais uma vez se sente a a ausncia de uma teoria que permita pensar as relaes do acaso com o pensamento. De modo que o pequeno desnvel que nos propomos introduzir e fazer actuar na histri a das ideias, e que consiste em tratar dos discursos enquanto sries regulares e d istintas de acontecimentos e no em tratar das representaes que possam existir atrs d os discursos, nesse pequeno desnvel, receio reconhecer qualquer coisa como uma pe quena (e odiosa talvez) maquinaria que permite introduzir na prpria raiz do pensa mento o acaso, o descontnuo e a materialidade. Triplo perigo que uma certa forma de histria procura conjurar narrando o contnuo desdobrar de uma necessidade ideal. Trs noes que devero permitir ligar a histria dos sistemas de pensamento prtica dos
storiadores. Trs direces que o trabalho de elaborao terica dever seguir. *
Ao seguir estes princpios e ao ater-me a este horizonte, as anlises que me proponh o fazer dispem-se em duas perspectivas. De um lado, a perspectiva "crtica", que pe em aco o princpio de inverso : procurar distinguir as formas de excluso, de limitao e apropriao a que me referi atrs ; mostrar como que se formaram, a que necessidades vieram responder, como que se modificaram e deslocaram, qual o constrangimento que exerceram efectivamente, em que medida que foram modificadas. De outro lado, a perspectiva "genealgica", que pe em aco os outros trs princpios: como que se for am as sries de discurso, se por intermdio, ou com o apoio, ou apesar dos sistemas de excluso ; qual foi a norma especfica de cada srie e quais foram as suas condies de aparecimento, de crescimento, de variao. A perspectiva crtica em primeiro lugar. Um primeiro grupo de anlises poderia incid ir naquilo que designei como funes de excluso. Estudei anteriormente uma dessas funes num perodo determinado : tratava-se da partilha entre a loucura e a razo na poca c lssica. Mais tarde, poderemos tentar analisar um sistema de interdito de linguage m : aquele que diz respeito sexualidade, desde o sculo XVI at ao sculo XIX ; de for ma alguma se trataria de ver como que esse sistema desapareceu progressivamente e felizmente ; mas como que ele se deslocou e rearticulou desde a prtica da confi sso, em que as condutas interditas eram nomeadas, classificadas e hierarquizadas, e da maneira mais explcita possvel, at ao aparecimento, muito tmido no incio, lento, da temtica sexual na medicina e na psiquiatria do sculo XIX; certamente que estas demarcaes so ainda um pouco simblicas, mas pode-se desde j assegurar que as divises so aquelas em que hbito acreditar e que os interditos no tiveram sempre o lugar qu e se imagina. No imediato, gostaria de deter-me no terceiro sistema de excluso. Consider-lo-ei d e duas maneiras. Por um lado, gostaria de descobrir como que foi feita esta esco lha da verdade e tambm como que ela foi repetida, reconduzida, deslocada uma verd ade no interior da qual ns estamos retidos, mas que por ns incessantemente renovad a ; deter-me-ei inicialmente na poca da sofstica e do seu incio com Scrates, ou pelo menos com a filosofia platnica, para ver como que o discurso eficaz, o discurso ritual, o discurso que detm poderes e perigos, como que ele se orientou pouco a p ouco na direco de uma partilha entre discurso verdadeiro e discurso falso. Deter-m e-ei em seguida na viragem do sculo XVI para o sculo XVII, na poca em que apareceu, na Inglaterra sobretudo, uma cincia do olhar, da observao, do relato, uma certa fi losofia natural sem dvida inseparvel do estabelecimento de novas estruturas poltica s, inseparvel tambm da ideologia religiosa : uma nova forma de vontade de saber, s eguramente. Finalmente, o terceiro ponto de referncia ser o incio do sculo XIX, com os grandes actos fundadores da cincia moderna, a formao de uma sociedade industrial e a ideologia positivista que a acompanha. Trs cortes na morfologia da nossa von tade de saber ; trs etapas do nosso filistinismo. Gostaria tambm de retomar a mesma questo, mas sob um ngulo completamente diferente : medir o efeito do discurso com pretenses cientficas o discurso mdico, o discurso psiquitrico, o discurso sociolgico tambm sobre o conjunto de prticas e discursos pre scritveis que constitui o sistema penal. O estudo dos exames psiquitricos e do seu papel na penalidade servir de ponto de partida e de material de base para esta a nlise. ainda nesta perspectiva crtica, mas num outro nvel, que pode ser feita a anlise dos procedimentos de limitao dos discursos, dos quais designei h pouco o princpio do au tor, o princpio do comentrio e o da disciplina. Pode-se pensar, nesta perspectiva, num certo nmero de estudos. Penso, por exemplo, numa anlise que incidiria na histr ia da medicina do sculo XVI ao sculo XIX ; no se trataria tanto de assinalar as des cobertas feitas ou os conceitos utilizados, mas de apurar como que os princpios d o autor, do comentrio e da disciplina actuaram na construo do discurso mdico e em to das as instituies que o suportam, o transmitem e o reforam ; procurar saber como qu e se exerceu o princpio do grande autor : Hipcrates, Galeno, claro, mas tambm Parac elso, Sydenham ou Boerhaave ; como que se exerceu e at tarde, no sculo XIX a prtic do aforismo e do comentrio, como que essa prtica foi pouco a pouco substituda pela prtica do prprio caso a analisar, pela recolha de casos, pela aprendizagem clnica
sobre um caso concreto ; e finalmente, qual o modelo em que a medicina procurou constituir-se como disciplina, apoiando-se primeiro na histria natural, depois na anatomia e na biologia. Poderemos tambm procurar ver a maneira como a crtica e a histria literrias dos sculos XVIII e XIX constituram a personagem do autor e a figura da obra, utilizando, mo dificando e deslocando os processos da exegese religiosa, da crtica bblica, da hag iografia, das "vidas" histricas ou lendrias, da autobiografia e das memrias. E ser t ambm necessrio, um dia, estudar o papel que Freud desempenha no saber psicanaltico, certamente muito diferente do de Newton na Fsica (e de todos os fundadores de di sciplina), muito diferente tambm do papel que pode desempenhar um autor no campo do discurso filosfico (mesmo que esteja, como Kant, na origem de uma nova maneira de filosofar). So alguns dos projectos quanto ao aspecto crtico da tarefa, quanto anlise das instnc ias de controlo discursivo. Em relao ao aspecto genealgico, este diz respeito formao efectiva dos discursos, seja no interior dos limites do controlo, seja no exteri or deles, seja, o mais das vezes, de um e de outro lado da delimitao. A crtica anal isa os processos de rarefaco, mas tambm de reagrupamento e unificao dos discursos ; a genealogia estuda a sua formao, que simultaneamente dispersa, descontnua e regular . A bem dizer, estas duas tarefas no so nunca totalmente separveis ; no h, de um lado , as formas de rejeio, de excluso, de reagrupamento ou de atribuio ; e depois, do out ro lado, num nvel mais profundo, o brotar espontneo dos discursos, que, imediatame nte antes ou depois da sua manifestao, so submetidos seleco e ao controlo ( o que s de, por exemplo, quando uma disciplina ganha a forma e o estatuto de discurso ci entfico) ; e inversamente, as figuras de controlo podem formar-se no interior de uma formao discursiva (como a crtica literria enquanto discurso constitutivo do auto r) : toda a tarefa crtica, interrogando as instncias de controlo, deve ao mesmo te mpo analisar as regularidades discursivas por intermdio das quais aquelas se form am ; e toda a descrio genealgica deve ter em conta os limites actuantes nas formaes r eais. Entre a tarefa crtica e a tarefa genealgica, a diferena no est tanto no objecto ou no domnio, mas no ponto a atacar, na perspectiva e na delimitao. Referi-me h pouco a um possvel estudo : o dos interditos que atingem o discurso da sexualidade. Em todo o caso, seria difcil e abstracto levar a cabo este estudo s em analisar o conjunto dos discursos literrios, religiosos ou ticos, biolgicos e mdi cos, e jurdicos igualmente, discursos onde se trate da sexualidade, ou onde ela s e encontre nomeada, descrita, metaforizada, explicada, julgada. Estamos muito lo nge de ter constitudo um discurso unitrio e regular sobre a sexualidade ; talvez n unca conseguiremos atingir isso e talvez no seja nessa direco que nos dirigimos. Po uco importa. Os interditos no tm a mesma forma e no funcionam da mesma maneira no d iscurso literrio e no discurso da medicina, no discurso da psiquiatria ou no disc urso da direco de conscincia. E, inversamente, estas diferentes regularidades discu rsivas no reforam, no contornam ou no deslocam da mesma maneira os interditos. Por c onseguinte, o estudo s se poder fazer com base nas pluralidades de sries onde os in terditos vm intervir, e que, pelo menos em parte, so diferentes em cada srie. Poderemos considerar tambm as sries de discursos que no sculo XVI e XVII eram conce rnentes riqueza e pobreza, moeda, produo, ao comrcio. A, temos de haver-nos com ciados muito heterogneos, formulados pelos ricos e pelos pobres, pelos sbios e pel os ignorantes, pelos protestantes ou pelos catlicos, pelos administradores reais, pelos comerciantes ou pelos moralistas. Cada qual tem a sua forma de regularida de, e igualmente os seus sistemas de constrangimentos. Nenhum de entre eles pref igura exactamente essa outra forma de regularidade discursiva que que ir assumir o aspecto de uma disciplina e que se chamar "anlise das riquezas" e depois "econom ia poltica". Foi no entanto a partir desses sistemas de constrangimentos que se f ormou uma nova regularidade, a qual retomou ou excluu, justificou ou afastou algu ns dos seus enunciados. Pode-se pensar tambm num estudo que incidiria nos discursos concernentes heredita riedade e que se podem encontrar repartidos ou dispersos, at ao incio do sculo XX, em disciplinas, observaes, tcnicas e receitas diversas ; tratar-se-ia de mostrar qu al o jogo de articulaes por intermdio do qual essas sries se vieram a recompor na fi gura, epistemologicamente coerente e reconhecida pela instituio, da gentica. esse t rabalho que tem vindo a ser realizado por Franois Jacob, com um brilho e uma cinci
a inigualveis. As descries crticas e as descries genealgicas devem alternar, apoiar-se umas nas outr s e completar-se. A parte crtica da anlise prende-se com os sistemas de envolvimen to do discurso ; ela visa assinalar e distinguir esses princpios de prescrio, de ex cluso, de raridade do discurso. Digamos, jogando com as palavras, que ela pe em prt ica uma aplicada desenvoltura. A parte genealgica da anlise prende-se, pelo contrri o, com as sries da formao efectiva do discurso : visa capt-lo no seu poder de afirmao e no entendo com isso um poder que estaria em oposio ao poder de negar, mas o pode r de constituir domnios de objectos, em relao aos quais se poder afirmar ou negar pr oposies verdadeiras ou falsas. Chamemos positividades a esses domnios de objectos ; e digamos, jogando segunda vez com as palavras, que se o estilo crtico era o da desenvoltura estudiosa, o humor genealgico ser o de um positivismo feliz. Em todo o caso, h pelo menos uma coisa que deve ser sublinhada : assim entendida, a anlise do discurso no vai revelar a universalidade de um sentido, mas trazer lu z do dia a raridade que imposta, e com um poder fundamental de afirmao. Raridade e afirmao, raridade da afirmao e de maneira nenhuma uma generosidade contnua do senti o ou uma monarquia do significante. E que os que tm lacunas de vocabulrio venham agora dizer se isso lhes soa melhor e tanto mais quanto no lhes diz respeito que isto estruturalismo. *
Se no tivesse a ajuda de modelos e outros apoios, sei que no teria podido levar a cabo estas investigaes de que procurei apresentar-vos o esboo. Julgo dever muito a Dumzil, uma vez que foi ele que me incitou ao trabalho numa idade em que eu pensa va ainda que escrever era um prazer. Mas devo muito tambm sua obra ; que ele me p erdoe se me afastei do seu sentido ou se me desviei do rigor dos seus textos, qu e hoje nos dominam ; foi ele que me ensinou a analisar a economia interna de um discurso de forma completamente diferente da exegese tradicional ou do formalism o lingustico; foi ele que me ensinou a assinalar, pelo jogo das comparaes, de um di scurso a outro, o sistema das correlaes funcionais ; foi ele que me ensinou a desc rever as transformaes de um discurso e as relaes com a instituio. Se pretendi aplicar um mtodo semelhante a discursos diferentes dos discursos lendrios ou mticos, essa i deia veio-me sem dvida por ter diante dos olhos os trabalhos dos historiadores da s cincias, e sobretudo os de Canguilhem ; a ele que eu devo a compreenso de que a histria da cincia no se detm forosamente na alternativa : ou crnica das descobertas, u descrio das ideias e das opinies que rodeiam a cincia pelo lado da sua gnese indeci sa ou pelo lado das suas consequncias exteriores ; mas que se pode, que se deve f azer a histria da cincia enquanto um todo simultaneamente coerente e transformacio nal de modelos tericos e de instrumentos conceptuais. Mas penso que a minha dvida, em grande parte, em relao a Jean Hyppolite. Sei que ao s olhos de muitos a sua obra est subordinada ao reino de Hegel, e que a nossa poca , quer pela lgica ou pela epistemologia, quer por Marx ou por Nietzsche, procura escapar a Hegel : e aquilo que h pouco procurei dizer a propsito do discurso muito infiel ao logos hegeliano. Mas para que se escape realmente a Hegel necessrio que se aprecie exactamente o q ue nos custa esse afastamento ; necessrio que se saiba at onde, insidiosamente tal vez, ele se aproximou de ns ; necessrio que se saiba o que h ainda de hegeliano naq uilo que nos permite pensar contra Hegel ; e necessrio que se avalie em que medid a que a nossa aco contra Hegel no ser talvez ainda uma armadilha que o prprio Hegel os coloca e no termo da qual ele nos espera, imvel, noutro lugar. Ora, se so muitos os que esto em dvida para com J. Hyppolite, porque ele percorreu de modo infatigvel para ns, antes de ns esse caminho pelo qual nos separamos de Heg el, pelo qual nos afastamos, e pelo qual somos reconduzidos a ele de outra manei ra, e depois somos novamente forados a deix-lo. J. Hyppolite tinha tido o cuidado, em primeiro lugar, de dar uma presena a essa g rande sombra de Hegel, sombra um tanto fantasmagrica, que vagava desde o sculo XIX e com a qual nos debatamos obscuramente. Foi com uma traduo, a traduo da Fenomenolog ia do Esprito, que J. Hyppolite deu a Hegel essa presena ; e que Hegel est presente nesse texto em francs, prova-o a consulta que foi feita pelos alemes, procurando compreender melhor aquilo em que se tornava num instante, pelo menos a verso alem.
J.Hyppolite procurou e percorreu todas as sadas deste texto, como se a sua preocu pao fosse esta: pode-se ainda filosofar ali onde Hegel j no possvel? Pode ainda exis ir uma filosofia que no seja hegeliana? Aquilo que no hegeliano no nosso pensament o necessariamente no-filosfico? E aquilo que anti-filosfico forosamente no-hegel Quanto a essa presena de Hegel que J. Hyppolite nos ofereceu, ele no procurou ape nas fazer-nos a sua descrio histrica e meticulosa: pretendia tambm fazer dela um esq uema de experincia da modernidade ( possvel pensar maneira hegeliana as cincias, a h istria, a poltica e o sofrimento de todos os dias?), e pretendia fazer da nossa mo dernidade, inversamente, a experincia do hegelianismo e, nesse passo, da filosofi a. Para Hyppolite, a relao com Hegel era o lugar de uma experincia, de um afrontame nto em que nunca h a certeza de que a filosofia saia vencedora. Ele no se servia d o sistema hegeliano como se se tratasse de um universo de certeza ; via nele o r isco extremo da filosofia. Da, penso eu, os deslocamentos que operou, no digo no interior da filosofia hegeli ana, mas sobre sobre ela, e sobre a filosofia tal como Hegel a concebia ; da tambm toda uma inverso de temas. Em vez de conceber a filosofia enquanto totalidade qu e finalmente capaz de se pensar a si prpria e de se reapropriar no movimento do c onceito, J.Hyppolite fazia filosofia tendo como fundo um horizonte infinito, uma tarefa sem termo : levantando-se sempre cedo, a sua filosofia nunca estava beir a de se concluir ao fim do dia. Tarefa sem termo, por conseguinte, tarefa sempre recomeada, votada forma e ao paradoxo da repetio : a filosofia, para J.Hyppolite, enquanto pensamento inacessvel da totalidade, era o que podia haver de repetvel na extrema irregularidade da experincia ; era o que se d e se subtrai, enquanto ques to que incessantemente retomada na vida, na morte, na memria : era desse modo que o tema hegeliano da realizao da conscincia de si era transformado num tema da inter rogao repetitiva. Mas, dado ser repetio, a filosofia no era ulterior ao conceito ; no tinha de prosseguir o edifcio da abstraco, devendo manter-se sempre precavida, romp er com as generalidades adquiridas e pr-se em contacto com a no-filosofia ; devia aproximar-se, o mais perto possvel, no daquilo que a realiza, mas daquilo que a pr para as p ecede, daquilo que ainda no despertou a sua preocupao ; ela devia retomar ensar, no para as reduzir a singularidade da histria, as racionalidades regionais da cincia, a profundidade da memria na conscincia ; surge assim o tema de uma filos ofia presente, inquieta, mbil ao longo da sua linha de contacto com a no-filosofia , no existindo seno por sua causa e revelando o sentido que essa no-filosofia tem p ara ns. Ora, se a filosofia est nesse repetido contacto com a no-filosofia, o que o comeo da filosofia? Ser que a filosofia j est a, secretamente presente naquilo que n filosofia, comeando a formular-se a meia voz no murmrio das coisas? Mas, sendo as sim, talvez o discurso filosfico no tenha razo de ser ; ou deve comear com uma fundao simultaneamente arbitrria e absoluta? Vemos que o tema hegeliano do movimento ade quado ao imediato substitudo pelo tema do fundamento do discurso filosfico e da su a estrutura formal. Finalmente, ltimo deslocamento que J.Hyppolite operou na filosofia hegeliana : se a filosofia deve comear como discurso absoluto, o que que se passar com a histria, e que comeo esse que comea com um indivduo singular, numa sociedade, numa classe s ocial, no meio das lutas? Estes cinco deslocamentos, na medida em que levam a filosofia hegeliana at ao lim ite extremo e na medida em que a fazem passar para o outro lado dos seus prprios limites, convocam, umas a seguir s outras, todas a grandes figuras da filosofia m oderna que Jean Hyppolite no deixou de confrontar com Hegel : Marx com as questes da histria, Fichte com o problema do comeo absoluto da filosofia, Bergson com o te ma do contacto com a no-filosofia, Kierkegaard com o problema da repetio e da verda de, Husserl com o tema da filosofia enquanto tarefa infinita ligada histria da no ssa racionalidade. E, para alm destas figuras filosficas, podemos distinguir todos os domnios de saber que J.Hyppolite invocava em torno das suas prprias questes : a psicanlise com a estranha lgica do desejo, a teoria da informao e a sua aplicao na a ise dos seres vivos, numa palavra, todos os domnios a partir dos quais se pode co locar a questo de uma lgica e de uma existncia que no pram de atar e desatar os seus laos. Penso que esta obra, articulada em alguns livros maiores, e mais ainda, investid a em investigaes, no ensino, numa perptua ateno, num alerta e numa generosidade perma
nentes, numa responsabilidade aparentemente administrativa e pedaggica (quer dize r, na realidade, duplamente poltica), cruzou, formulou os problemas mais fundamen tais da nossa poca. Somos muitos os que estamos infinitamente obrigados para com ele. por dele ter recebido, sem dvida, o sentido e a possibilidade daquilo que fao, por muitas vezes me ter esclarecido quando eu tateava s cegas, por essa razo que colo co o meu trabalho sob o seu signo e que o evoco ao terminar a apresentao dos meus projectos. na sua direco, para essa falta onde ao mesmo tempo experimento a sua au sncia e a minha prpria imperfeio que se cruzam as questes que agora me coloco. Dado que lhe devo tanto, compreendo que, ao convidarem-me a ensinar aqui, a esco lha que os senhores fizeram , em boa parte, uma homenagem que lhe fazem ; estou-v os reconhecido, profundamente, pela honra que me deram, e no menos o estou pelo q ue a ele devido nesta escolha. Se no me sinto altura da tarefa de lhe suceder, se i, no entanto, e se essa felicidade nos pudesse ter sido dada, que teria sido, n esta tarde, encorajado pela sua indulgncia. E compreendo melhor por que que tive h pouco tantas dificuldades em comear. Sei ag ora qual a voz que eu gostaria que me precedesse, que me conduzisse, que me conv idasse a falar e que se alojasse no meu prprio discurso. Sei o que que havia de t emvel em tomar a palavra, dado que o fazia neste lugar, onde o escutei, e onde el e j no est para me escutar.
Vous aimerez peut-être aussi
- A participação feminina na Grécia AntigaDocument31 pagesA participação feminina na Grécia AntigaCassia DinizPas encore d'évaluation
- A Aliança Entre Monarquia, Aristocracia e Burguesia No Processo de Centralização PolíticaDocument29 pagesA Aliança Entre Monarquia, Aristocracia e Burguesia No Processo de Centralização PolíticaCassia DinizPas encore d'évaluation
- Simulado 1 Ano III BimestreDocument2 pagesSimulado 1 Ano III BimestreCassia DinizPas encore d'évaluation
- Captulo05 130404212458 Phpapp01Document21 pagesCaptulo05 130404212458 Phpapp01Cassia DinizPas encore d'évaluation
- GeoAtividadeContinenteAsiáticoDocument2 pagesGeoAtividadeContinenteAsiáticoCassia Diniz83% (6)
- História da Grécia Antiga e da Democracia AtenienseDocument8 pagesHistória da Grécia Antiga e da Democracia AtenienseCassia DinizPas encore d'évaluation
- História RomanaDocument2 pagesHistória RomanaCassia DinizPas encore d'évaluation
- Atividade 6 Ano A India AntigaDocument2 pagesAtividade 6 Ano A India AntigaCassia Diniz89% (9)
- Mitos Da Criação RefeitosDocument3 pagesMitos Da Criação RefeitosCassia DinizPas encore d'évaluation
- Trabalho e SociedadeDocument17 pagesTrabalho e SociedadeIsrael PinheiroPas encore d'évaluation
- Ficha Atividade Clima 2Document3 pagesFicha Atividade Clima 2Cassia Diniz0% (1)
- Cultura e Sociedade na EscolaDocument2 pagesCultura e Sociedade na EscolaCassia DinizPas encore d'évaluation
- Capítulo 01Document17 pagesCapítulo 01PortuguêsJurídicoPas encore d'évaluation
- Ficha Atividade GréciaDocument2 pagesFicha Atividade GréciaCassia Diniz100% (1)
- Ficha Atividades Filosofia - As CienciasDocument2 pagesFicha Atividades Filosofia - As CienciasCassia DinizPas encore d'évaluation
- Atividade 1 Ano Socio Individuo e SociedadeDocument2 pagesAtividade 1 Ano Socio Individuo e SociedadeCassia DinizPas encore d'évaluation
- Ati Geo8 Uni3 o Continente AmericanoDocument4 pagesAti Geo8 Uni3 o Continente AmericanoSandra PaesPas encore d'évaluation
- Crise ameaça bem-estar europeuDocument2 pagesCrise ameaça bem-estar europeuCassia Diniz100% (1)
- Ficha CartografiaDocument4 pagesFicha CartografiaCassia DinizPas encore d'évaluation
- Gloria Historia 8ano 802 803Document5 pagesGloria Historia 8ano 802 803Cassia DinizPas encore d'évaluation
- Iluminismo 8o AnoDocument6 pagesIluminismo 8o AnoRenata Vieira da CunhaPas encore d'évaluation
- Historia 1e2Document12 pagesHistoria 1e2Natália Tereza100% (1)
- Exercícios de História Movimentos NativistasDocument22 pagesExercícios de História Movimentos NativistasEmanuelle FerreiraPas encore d'évaluation
- Historia 8u113 ColoniasDocument3 pagesHistoria 8u113 ColoniasCarlos SoaresPas encore d'évaluation
- Ficha de Estudo III - Iib - 8 AnoDocument1 pageFicha de Estudo III - Iib - 8 AnoCassia DinizPas encore d'évaluation
- Filosofia Vestibular UFUDocument4 pagesFilosofia Vestibular UFUGustavo De Pádua BrazãoPas encore d'évaluation
- Biomas Terrestres e BrasileirosDocument13 pagesBiomas Terrestres e BrasileirosVanessa CottaPas encore d'évaluation
- Sociologia Ensinomdio 131010104851 Phpapp01Document95 pagesSociologia Ensinomdio 131010104851 Phpapp01cpssantosPas encore d'évaluation
- Ficha de Estudo I - Iib - 8 AnoDocument2 pagesFicha de Estudo I - Iib - 8 AnoCassia DinizPas encore d'évaluation
- Ficha de Estudo II - Iib - 8 AnoDocument1 pageFicha de Estudo II - Iib - 8 AnoCassia DinizPas encore d'évaluation
- Memórias de um cavalinho de pauDocument8 pagesMemórias de um cavalinho de pauceuvazPas encore d'évaluation
- Rascunho Gabarito Concurso PMSSDocument8 pagesRascunho Gabarito Concurso PMSSCinthia Lopes CarneiroPas encore d'évaluation
- Boleto 1Document1 pageBoleto 1Guilherme Souza BritoPas encore d'évaluation
- DRX LivroDocument52 pagesDRX LivroKaue VergaraPas encore d'évaluation
- Regime Jurídico Do MPTDocument79 pagesRegime Jurídico Do MPTMurilo Henrique BedorePas encore d'évaluation
- Processos de fabricação por fundiçãoDocument58 pagesProcessos de fabricação por fundiçãoJose MatosPas encore d'évaluation
- Guia ARARAQUARA OK-1Document34 pagesGuia ARARAQUARA OK-1Bruno Tosetto Piva NetoPas encore d'évaluation
- Como ganhar dinheiro com educação digitalDocument42 pagesComo ganhar dinheiro com educação digitalNicolau AraújoPas encore d'évaluation
- Marcelobernardo Fevereiro 2010 Gramaticaportugues 102 PDFDocument3 pagesMarcelobernardo Fevereiro 2010 Gramaticaportugues 102 PDFMarco GuimarãesPas encore d'évaluation
- Teorias do desenvolvimento infantil em três perspectivasDocument94 pagesTeorias do desenvolvimento infantil em três perspectivasLidiAnaBoas100% (1)
- Jujutsu Kaisen - Capítulo 03 - Ler MangáDocument1 pageJujutsu Kaisen - Capítulo 03 - Ler Mangáramosemily688Pas encore d'évaluation
- Ditongos e divisão silábicaDocument2 pagesDitongos e divisão silábicaLane TorquatoPas encore d'évaluation
- Processos Vitais das PlantasDocument4 pagesProcessos Vitais das PlantasBruno Correia100% (1)
- Como se relacionar com amigas sem entrar na friendzoneDocument7 pagesComo se relacionar com amigas sem entrar na friendzonevalentebauruPas encore d'évaluation
- Plano de Aula ÁguaDocument8 pagesPlano de Aula ÁguaDalila VieiraPas encore d'évaluation
- UntitledDocument9 pagesUntitledAdriano BritoPas encore d'évaluation
- Tese Antonio Gilberto Abreu de Souza PDFDocument376 pagesTese Antonio Gilberto Abreu de Souza PDFJaqueline VieiraPas encore d'évaluation
- Infográfico Das Comunidades Quilombolas Do Estado Da ParaíbaDocument2 pagesInfográfico Das Comunidades Quilombolas Do Estado Da ParaíbaTMMHPas encore d'évaluation
- Eu Vos Farei Pescadores de Homens - Lucas 5:1-11Document2 pagesEu Vos Farei Pescadores de Homens - Lucas 5:1-11Marden Italiano Corrêa100% (2)
- A HISTÓRIA DA LINGUIÇADocument8 pagesA HISTÓRIA DA LINGUIÇARodrigo PrietoPas encore d'évaluation
- História da Enfermagem emDocument18 pagesHistória da Enfermagem emGUADALUPE SENA67% (3)
- Dm2casodefarmaco 160628202437Document59 pagesDm2casodefarmaco 160628202437shapedPas encore d'évaluation
- Fatores retenção talentosDocument2 pagesFatores retenção talentosadriano vanzaPas encore d'évaluation
- Cultura MS 2010 AlcinópolisDocument92 pagesCultura MS 2010 Alcinópolisajaolio-1Pas encore d'évaluation
- Perfil Comportamental e Preferencia Cerebral em ExcelDocument13 pagesPerfil Comportamental e Preferencia Cerebral em Excelblay212Pas encore d'évaluation
- Resultado ExamesDocument5 pagesResultado ExamesContato ScalePas encore d'évaluation
- Proposta Curricular Educação InfantilDocument204 pagesProposta Curricular Educação InfantilCristina Marin100% (1)
- Aula04 EAD PDFDocument24 pagesAula04 EAD PDFRayron RibeiroPas encore d'évaluation
- Manual Ar Condicionado PortátilDocument32 pagesManual Ar Condicionado PortátilSelenita VoshinPas encore d'évaluation
- Projeto de Extensão - PedagogiaDocument8 pagesProjeto de Extensão - PedagogiaAndreia RodriguesPas encore d'évaluation