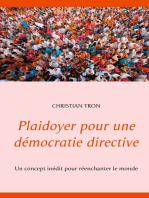Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Artigo Sobre Violencia Urbana
Artigo Sobre Violencia Urbana
Transféré par
JosyAneCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Artigo Sobre Violencia Urbana
Artigo Sobre Violencia Urbana
Transféré par
JosyAneDroits d'auteur :
Formats disponibles
Dimenses, vol. 27, 2011, p. 2-22.
ISSN: 2179-8869
Violncia urbana
*
CLEIA SCHIAVO WEYRAUCH
Universidade Estadual do Rio de Janeiro
Resumo: O Brasil se destaca por ser um dos cinco pases de maior
concentrao de renda do planeta com suas cidades transformadas em
territrios loteados entre aqueles que detm o poder, onde poder poltico se
confunde com poder econmico. Embora existam vrios tipos de violncia
urbana, este artigo concentra-se nas manifestaes vinculadas s situaes de
pobreza na cidade, dado que o processo de municipalizao definido pela
Constituio de 1988 delegou aos governos municipais a responsabilidade de
geri-las democraticamente. A hiptese central que orienta o artigo que a
retrica constitucional no alterou a segregao socioespacial j existente: as
piores reas da cidade, as mais problemticas, foram compulsoriamente
designadas populao de baixa renda, onde os transportes, as escolas, os
postos de sade ficam longe de atend-la satisfatoriamente. Assim, a
violncia urbana essencialmente exercida pelos poderes das cidades e do
pas, que em vez de torn-las valor de uso social reforam sua dimenso de
valor de troca, transformando-a em mercadoria a quem compr-la melhor.
Palavras-chave: Violncia; Cidade; Brasil; Polticas pblicas.
Rsum: Le Brsil se distingue comme l'un des cinq pays avec la plus grande
concentration de richesses dans le monde, avec ses villes transformes
en territoires partags par ceux qui dtiennent le pouvoir et o le pouvoir
politique se confond avec le pouvoir conomique. Bien qu'il existe des
diffrents types de violences urbaines, cet article se concentre sur les
vnements lis la pauvret dans la ville, tant donn que le processus de
municipalisation dfini par la Constitution de 1988, avait dlgu aux
gouvernements municipaux la responsabilit de les grer
dmocratiquement. L'hypothse centrale leve par cet article cherche
dmontrer que la rhtorique constitutionnelle n'a pas chang la sgrgation
socio-spatiale existante: les pires quartiers de la ville, les plus
problmatiques, ont t designs la population faible revenu, des quartiers
o les transports, les coles, les units de sant, sont loin de rpondre aux
3 UFES Programa de Ps-Graduao em Histria
demandes de manire satisfaisante. Ainsi, la violence urbaine est
principalement exerce par les pouvoirs des villes et pays, lesquels,au lieu de
leur rendre valeur d'usage social renforcent la dimension de leur valeur
d'change, en le transformant en une marchandise ceux qui
l'achtent mieux.
Mots-cls: Violence ; Ville ; Brsil ; Politque.
violncia urbana se manifesta de diversas formas, individual e/ou
coletivamente, segundo a natureza do espao pblico e/ou privado,
da qualidade de seu processo de produo, urbanizao e, sobretudo,
do nvel de privao de sua populao no campo da sobrevivncia e dos
direitos sociais. As formas histricas de violncia tambm variam segundo o
design urbanstico do espao, da qualidade do seu sistema sociopoltico
cultural, do nmero de habitantes em um dado territrio e da conscincia
comunitria de seus habitantes. A cidade como lugar das desigualdades se
intensifica em certos contextos histricos, a exemplo o da consolidao do
capitalismo e suas consequentes transformaes. Este quadro colabora na
interiorizao da violncia na medida do grau de frustrao com base nas
aspiraes e bloqueios advindos tanto do desejo de qualidade de vida quanto
dos estmulos da sociedade de consumo dirigido. Alm disso, produo de
riqueza e violncia urbana caminham juntas, a primeira, por sua natureza,
produz riscos que se evidenciam na cidade. Sejam eles: ambientais
(degradao socioambiental como aquecimento global, escassez de gua
potvel, poluio do ar etc.), sociais (baixa qualidade de vida, desemprego,
ausncia de equipamentos de sade e educao etc.), de transporte e
segurana pblica e muitos outros. Hoje, a crise urbana planetria, com a
criminalidade atingindo os grandes centros urbanos, e acentuada no atual
momento histrico pelas polticas previdencirias e fiscais implementadas
nos pases afetados. A globalizao intensificou mais ainda a dimenso de
troca da cidade onde o crime organizado comercializa crianas, adolescentes,
mulheres, trabalhadores, drogas como coisas idnticas a mercadorias a serem
vendida a quem der mais. A violncia urbana tornou-se um fenmeno
sistmico alimentado pela economia, pela poltica que expressa a dinmica
global da estrutura capitalista sobretudo em pases como os da Amrica
Latina onde o nvel de concentrao de renda espantoso. Na luta urbana
A
Dimenses, vol. 27, 2011, p. 2-22. ISSN: 2179-8869 4
pela conquista do valor de uso da cidade est implcita a luta pela democracia,
e consequentemente pelos direitos humanos.
Introduo
Nas primeiras dcadas do sculo XX a Sociologia e algumas cincias
afins operavam com as categorias campo e cidade como se elas fossem
naturais e no construdas pela cincia; uma concepo dualista que sugeria
uma distncia intransponvel entre as duas realidades. Ao contrrio desta
postura, a Sociologia nos seus primrdios (meados do sculo XIX) concebia
a sociedade como uma unidade viva sujeita a mudanas, rupturas e leis cujo
estudo deveria ser aprofundado a bem da estabilidade social. Nessa linha,
grandes tericos criaram narrativas como as de Augusto Comte, Marx,
Engels, Spencer, Max Weber, Simmel, Durkheim e outros que, movidos pela
tentativa de explicao/compreenso dos fenmenos sociais, pensaram
reduzir a realidade a teorias com o intuito de analisar e agir socialmente por
meio de adequados instrumentos de controle poltico-institucional. Esses
estudiosos produziram conceitos clssicos de anlise at hoje em vigor na
medida em que vocalizaram interesses dinmicos e protagonismos no interior
de uma sociedade marcada por rupturas, continuidades e descontinuidades
histricas.
A cidade industrial da virada dos sculos XIX-XX, transformou-se
em cenrio por excelncia das contradies socioeconmicas: de um lado
riquezas galopantes foram se acumulando graas explorao do operariado,
de outro uma pobreza crescente visvel nas ruas pela circulao de uma
massa de desamparados institucionais distante do mnimo necessrio
sobrevivncia humana. F. Engels descreve com clareza o caos social presente
nas cidades inglesas do sculo XIX onde as ruas exibiam uma populao
sujeita violncia pela falta de emprego, habitao digna e, de modo geral, de
atendimento social. A fome, a desnutrio, a prostituio e a delinquncia
grassavam nos segmentos mais pobres da populao como narra Charles
Dickens
1
sobre a cruel saga de crianas e adolescente nas ruas de Londres.
Em 1730, o escritor Daniel Defoe j reclamava ao prefeito de Londres no
mais haver segurana nas casas e nas ruas.
De fato, o fenmeno identificado como urbano nada mais foi do que
o espetculo da misria expresso a olhos vistos diante da ausncia de polticas
5 UFES Programa de Ps-Graduao em Histria
que dessem conta daquela incontrolvel e indita desordem social. A urbs
transformou-se em um espao de intranquilidade, territrio por excelncia da
ao de um capitalismo industrial selvagem responsvel pela desagregao de
estruturas tradicionais que vinculavam os homens aos seus territrios de
origem. Os centros das cidades transformaram-se em cenrios de horror e
violncia, de revolta e indignao e a leitura que se fez durante dcadas foi
que a cidade como espao por excelncia do fenmeno urbano era um
subproduto da industrializao, esquecendo sua historicidade ao longo dos
sculos. Em verdade, o cenrio da cidade moderna do capitalismo industrial
acirrou a discusso sobre justia e direitos sociais na esteira do marxismo, que
se construiu alimentado pelas desigualdades sociais e pela pobreza presentes
naquele tempo histrico. A questo da justia social ganhou um novo vigor
na base da crtica ao capital, este responsvel por movimentos
revolucionrios que mudaram o design poltico do mundo aps 1917. Outras
linhas de anlises sociolgicas esquivaram-se de criticar as assimetrias sociais
urbanas com base em uma crtica ao capitalismo. Preferiram ressaltar o
espao urbano como espao da civilizao e da cultura, do conhecimento e
do poder, da racionalidade ao contrrio da rea rural, espao do buclico e
do incivilizado.
***
A violncia tambm esteve presente na cidade do mundo antigo e
medieval, a ltima, antecessora da moderna cidade do capitalismo industrial.
Com relao ao medievo, ao contrrio de alguns autores que o romantizam,
Jacques Le Goff assinala a presena da violncia em seu contexto:
A cidade da Idade Mdia um espao fechado. A muralha a
define. Penetra-se nela por portas e nela se caminha por ruas
infernais que, felizmente, desembocam em praas paradisacas.
Ela guarnecida de torres, torres das igrejas, das casas dos ricos
e da muralha que a cerca. Lugar de cobia, a cidade aspira
segurana. Seus habitantes fecham suas casas chave,
cuidadosamente, e o roubo severamente punido (LE GOFF,
1998, p. 15).
Assolada frequentemente pelos bandos urbanos, a cidade medieval
fez da segurana sua obsesso e cada corporao de ofcio tinha que oferecer
um contingente para sua proteo. Os pobres que nela habitavam eram
Dimenses, vol. 27, 2011, p. 2-22. ISSN: 2179-8869 6
atendidos por ordens mendicantes e pela municipalidade, que cada vez mais
os colocava fora dos limites da cidade. Assim mesmo a cidade medieval
conseguiu exprimir o princpio da liberdade e da fraternidade e sua maneira,
ela foi um ensaio para realizar em sculos posteriores o ideal da liberdade,
igualdade, fraternidade (LE GOFF, 1998, p. 91). Interessante observar que
nas cidades medievais organizaram-se corporaes de oficio, instituies
responsveis pela organizao do trabalho artesanal constitudas pelos
mestres, oficiais e aprendizes. Os mestres comandavam os oficiais que faziam
o trabalho especializado, pelo qual recebiam um salrio. Do ponto de vista
econmico e poltico a experincia medieval representou um avano na
medida em que fez renascer a cidade, lcus da liberdade e do pensamento, e
tambm das universidades. Ficaram famosas, a partir do sculo XII, as
cidades italianas como Florena, Veneza, Npoles onde se desenvolveu uma
economia com base em avanadas regras econmicas em concomitncia com
a expanso do seu comrcio no Mediterrneo.
Henri Lefebvre acentuou a experincia urbana medieval como
orgnica, certamente em comparao ao mundo das distores do
capitalismo ocidental. Em verdade, a experincia de cidadania vivida por
algumas cidades medievais inaugurou, embora em ponto pequeno, o
protagonismo do cidado na cidade.
Alguns arautos da justia social apresentaram suas ideias democrticas
durante a Idade Mdia, rejeitando a concepo da existncia como expiao
do homem frente aos seus pecados originais. Marslio de Pdua, por
exemplo, via a arbitrariedade do governante como um fator de desordem
social, alm disso julgava que os cidados diante dela teriam o direito de se
rebelar. Para ele somente com a existncia de um padro de justia
conjugado a uma autoridade capaz de impor obedincia que se torna
possvel a realizao da paz civil (PDUA, 1995, p. 25). A teologia e direitos
constituam esferas distintas.
Os nomes de Campanella
2
e Joaquim de Fiore tambm representam
pensamentos voltados para o encaminhamento dos problemas humanos no
plano da imanncia e no da transcendncia, como pregava a Igreja oficial.
As guerras, as epidemias, as doenas acabaram por controlar a densidade
populacional dessa cidade, e facilitar seu controle poltico institucional
A Revoluo Industrial constrangeu, em parte, o avano democrtico
das cidades medievais, na medida em que a tornou espao da explorao
radical onde os homens foram transformados como simples mercadorias,
7 UFES Programa de Ps-Graduao em Histria
vendedores de sua fora de trabalho. A cidade industrial viu a pobreza elevar-
se categoria de misria e o grande grupo de desempregados nela presente
assumir diante da elite a imagem da classe perigosa.
O marxismo de ento, assentado na concepo de tempo histrico
revolucionrio, relegou o conceito de espao categoria subalterna,
tornando-o cego s questes sociais na sua especificidade. Para que pensar
nos problemas espaciais da cidade se o tempo revolucionrio os resolveria no
plano do socialismo?
***
Foi nos Estados Unidos da Amrica que o espao acabou sendo
abordado pelas caractersticas apresentadas pela revoluo industrial
americana, uma delas o favorecimento imigrao em massa. Levas de
estrangeiros aproveitaram a existncia de uma malha ferroviria substantiva,
responsvel pelos seus transportes de leste a oeste do pas, que acabou por
colaborar com a formao de um exrcito de reserva de mo de obra do qual
se aproveitaram os gananciosos empresrios americanos.
Em meados do sculo XIX trs foras em crescimento colaboraram
para o intenso desenvolvimento industrial nos EUA: a disseminao do
transporte de massa, a aplicao de inovaes tecnolgicas e econmicas
produo industrial e os movimentos demogrficos internos e externos.
Alm, claro, da valorizao do trabalho e do lucro legado da ideologia
religiosa americana. Com isso, as cidades, alm de incharem, criaram
periferias de difcil controle que escapavam ao estilo de administrao at
ento utilizados.
O espao, concebido na perspectiva do modo de produo
capitalista, foi objeto de anlise da Escola de Chicago, nascida no local onde
nomes e firmas como Mc Cormick, Armour, Marshall Field, Sears Roebuck,
Montogmery Ward davam o tom de explorao e brutalidade da urbs mais
industrial dos EUA. O lucro presidia os destinos no s da cidade de
Chicago, mas de outras que se industrializavam com intensidade na esteira de
um capitalismo desenfreado cego aos direitos humanos de sua populao.
O que importava em Chicago sempre podia ser medido,
contado ou pesado, fosse nos milhares de alqueires de trigo
embarcados para o leste, nos milhes de cabea de gado de
trem at os armazns do sindicato para a indstria de carne ou
Dimenses, vol. 27, 2011, p. 2-22. ISSN: 2179-8869 8
nas toneladas de ao produzidas pelas usinas em Gary
(Homberger in BRADBURY, MC FARLANE, 1989, p. 120).
O clima social da populao ameaada pelas lutas entre gangues e as
frequentes greves provocavam insegurana na populao da cidade. O
choque de culturas entre americanos e imigrantes
3
e destes entre si aliado
insegurana do mercado de trabalho tornou o territrio da cidade de Chicago
um insuportvel espao de convivncia. Na dcada de 1920, Frederik
Thrasher afirma na sua tese de doutorado, a existncia de gangues que
agrupavam 25 mil adolescentes e jovens adultos.
4
Uma babel de lnguas,
expresso de uma multiplicidade de cdigos culturais, dificultou a interao
social entre a populao local. Da o tema da interao simblica
5
ter sido
importante no sentido da assimilao e da aculturao dos imigrantes
sociedade americana.
Em 1900, o nmero de imigrantes ultrapassou os nascidos na cidade
de Chicago provocando distrbios generalizados. O grande problema da
Escola de Chicago,
6
que ultrapassava o problema local, referia-se
assimilao de milhes de imigrantes Amrica do Norte. Paralelamente o
crime organizado, a exemplo a Mfia, arrebanhou um contingente
significativo desses imigrantes envolvendo um sem nmero de recm-
chegados s suas hostes. As mfias italiana e irlandesa disputavam e dividiam
entre si os territrios da cidade, o nome de Alphonsus Capone (Al Capone),
tornou-se tema de livros e filme como os Intocveis
7
dirigido, em 1987, por
Brian de Palma.
8
Da sociedade do trabalho urbana
Na dcada de 1980 eclode, nos EUA, uma nova revoluo que
alterou o processo produtivo com base nas emergentes tecnologias da
informao.
9
Segundo Manuel Castells (1999):
A tecnologia da informao para esta revoluo o que as
novas fontes de energia foram para as revolues industriais
sucessivas: do motor a vapor a eletricidade, dos combustveis
fsseis e at mesmo a energia nuclear visto que a gerao e a
distribuio de energia foram o elemento principal de base
industrial.
9 UFES Programa de Ps-Graduao em Histria
Castells,
10
ao contrrio da Escola de Chicago, concentrou sua anlise
na produo social do espao a partir da concepo de que ele determinado
pelas foras produtivas e pelas relaes de produo que delas se originam.
Nessa abordagem, a questo social se funde questo urbana, e, em
decorrncia, a cidade a incorpora no curso dos processos de metropolizao
e globalizao. Nascida da economia informacional, a cidade global mais
poderosa do que a metrpole baseada no desenvolvimento industrial, na
medida do seu grau de influncia sobre outros centros urbanos. Ela exige
uma dinmica acelerada no campo das tecnologias da comunicao, no
sentido de conectar informaes entre grandes companhias, conglomerados
multinacionais e bolsas de valores que possuam influncia na economia
mundial. Para isso, a cidade global precisa da proximidade de centros
universitrios e de pesquisa de alta tecnologia alm de transportes e vias
expressas de alta qualidade. Igualmente, possuir uma dimenso planetria
estabelece conexo entre os interesses econmicos mundiais em tempo real.
Necessrio afirmar que somente algumas cidades podem, no sentido estrito,
denominar-se globais; no Brasil, apenas So Paulo pode ser assim qualificada,
o que no exclui que as outras cidades sejam estruturalmente afetadas pelo
processo de globalizao.
A economia informacional nascida dessa Revoluo baseia-se na
mesma lgica do capitalismo da era industrial. Ela expressa, contudo, sua
avanada reestruturao. Na dcada de 1980
11
difunde-se o uso do
computador e com ele se instala um novo tipo de sensibilidade social que
aproxima a populao, mesmo a distncia. Essa aproximao exige um novo
tipo de aprendizado em equipamentos cada vez mais complexos. Um novo
tipo de excluso emerge com os analfabetos informacionais
12
que, aliados aos
desempregados industriais, circulam pelas ruas da cidade vendendo produtos
de ocasio. Substitui-se o conceito de periferia pelo de fractalidade da
pobreza, que se traduz no derramamento desta pelas ruas da cidade. O
aumento da criminalidade faz com que a cidade se enclausure, encha-se de
grades nos edifcios e nas praas; nas casas, as trancas transformam-nas em
verdadeiras fortalezas. As ruas, territrios de trabalho dos excludos, so
tambm de roubos, sequestros e crimes de todos os tipos. A violncia faz a
populao recolher-se noite ao interior das casas, enquanto uma populao
de rua, identificada como criminosa, se instala sob as marquises e viadutos
da cidade. A resistncia desta populao se revela na ocupao de prdios
abandonados, na organizao em movimentos (Movimento dos Sem Teto. p.
Dimenses, vol. 27, 2011, p. 2-22. ISSN: 2179-8869 10
e.); os invasores invadem prdios
13
onde se alojam homens, mulheres e
crianas em fuga dos imprevistos das ruas. De modo geral, so biscateiros
que vivem das oportunidades dadas pela cidade congestionada e habitam as
antigas reas centrais. Na cidade do Rio de Janeiro, a globalizao, entretanto,
provocou um redesenho desta rea, na medida em que, ao projetar o
Teleporto,
14
o governo Cesar Maia (1993) props expandir o projeto de
requalificao urbanstica e paisagstica da rea central da cidade acentuado
com os projetos vinculados ao Pacote Olmpico para as Olimpadas de 2016.
A proposta de implantao do Teleporto da cidade do Rio de Janeiro na
Cidade Nova, prximo rea central da cidade, sustentava-se na
possibilidade desse projeto (um conjunto de edifcios inteligentes) vir a
interferir na recuperao urbana no seu entorno (WEYRAUCH, 2002, p.
119). As obras previstas voltadas execuo do Pacote Olmpico iro no s
mudar de vez a fisionomia da rea como afastar para bem longe a populao
pobre que ali se escondia.
Para atender o dficit habitacional o Governo promoveu nessa rea
projetos, como exemplo o Morar Carioca voltado para uma populao mais
favorecida como a classe mdia emergente, deixando de fora os de renda
inferior. A globalizao generaliza a urbanizao e com ela rompem-se os
limites entre pblico e privado. A casa torna-se agora um possvel espao de
produo e a rua um espao dormitrio e de circulao de mercadoria.
***
O tema da urbanizao generalizada leva Henri Lefebvre a afirmar
que o tecido urbano prolifera, estende-se, corri os resduos da vida agrria
(LEFEBVRE, 2002, p. 17). E, nesta sociedade, denominada urbana, em que
os interesses poltico-econmicos se voltam para o consumo da cidade
pensada como uma unidade como valor de troca haja visto, entre outras
coisas, a produo de espetculos que nela ocorrem. A precariedade de sua
dimenso social (como valor de uso social) fica mascarada, sem que a
populao, de modo geral, se d conta de sua radicalidade. Desfaz-se, na
prtica, a diferena entre rural e urbano na medida do alto grau de
urbanizao acentuado pelo processo de globalizao que torna a rea rural
mera extenso da urbana. A tecnologia invade o campo, como prova o
crescimento do agrobusiness responsvel por expulsar para a cidade os
trabalhadores margem do novo processo. L, esses trabalhadores
11 UFES Programa de Ps-Graduao em Histria
engrossam a mo de obra desqualificada distante dos novos empregos da era
da informao e do conhecimento. O trabalho intermitente passa a ser a
sada para a maioria deles.
Quanto s conquistas polticas obtidas na Constituio de 1988,
muitas permaneceram como retrica. Na prtica, o conceito de mximo
possvel foi substitudo pelo de mnimo possvel, com a implementao de
polticas compensatrias voltadas para o atendimento precrio populao
de baixa renda. Apenas um remdio para os desequilbrios gerados pelos
processos de acumulao do capital.
Esse mesmo tipo de analogia fez Marx quando comparou o contedo
da Declarao dos Direitos Humanos e a realidade vivida pelo proletariado
durante a Revoluo Industrial contraposto ao belo discurso da justia social,
a cruel realidade regida pelo medo e a insegurana.
No plano habitacional, o dficit continua expressivo. Sete anos
passados da criao do Ministrio das Cidades (2003), a instituio celebrou a
reduo do dficit habitacional de 7,9 milhes para 7,2 milhes de moradia.
15
Na prtica, uma irrisria reduo, j que a habitao a mais emblemtica
das questes sociourbanas. A superao do dficit social pela populao da
cidade passa tambm pela conquista de um nvel qualitativo de sade,
educao e um meio ambiente adequado a uma vida saudvel. Alm dessas
carncias, outros srios problemas convivem na cidade, como as injustias
sociais contra crianas e adolescentes, mulheres, negros, ndios, gays e outros
tantos grupos em busca de cidadania.
O Mapa da Violncia 2011 no Brasil registra sobre a explorao
sexual de crianas e adolescentes:
No marco da mobilizao pelo Dia Nacional de Combate ao
Abuso e Explorao Sexual de Crianas e Adolescentes 18
de maio , o governo federal divulgou levantamento com mapa
das denncias sobre explorao sexual de crianas e
adolescentes. O estudo aponta a existncia de delaes desses
crimes em 2.798 municpios brasileiros, sendo que a regio
Nordeste apresenta o maior nmero de municpios (34%),
seguida pelo Sudeste (30%), Sul (18%), CentroOeste (10%) e
Norte (8%).
16
J com relao mulher esse mapa informa: Uma em cada cinco
brasileiras declara j ter sofrido algum tipo de violncia por parte de um
Dimenses, vol. 27, 2011, p. 2-22. ISSN: 2179-8869 12
homem. A cada 15 segundos uma mulher espancada por um homem no
Brasil.
Vale lembrar que o patriarcalismo no Brasil disseminado em todas as
esferas sociais vem encontrando resistncia na sociedade civil e na poltica,
cujo exemplo significativo foi a criao da Lei Maria da Penha
17
surgida em 7
de agosto de 2006. A ex-rainha do lar, agora chefe de domiclio
compulsoriamente obrigada a enfrentar no s a sua frustrao, mas a de
seus familiares no quotidiano das cidades. Na prtica, ela incorpora, na
dimenso privada, os efeitos da instabilidade urbana, com todos os riscos que
ela comporta, e so muitos. Mora em rea de risco, enfrenta mltiplas
jornadas, sempre fica refm da precariedade dos servios pblicos
arriscando-se inclusive em seu direito de ir e vir para garantir, na maior parte
das vezes, sozinha o sustento de suas famlias, que continuam a ser
compostas de suas crianas, seus doentes e seus idosos.
No Brasil, a criminalidade entre jovens espantosa, haja vista as suas
presenas no trfico de drogas e no assalto a coletivos, como demonstrado
nos acontecimentos do dia 10 de agosto ltimo, quando um nibus, no
centro da cidade do Rio de Janeiro, foi assaltado por alguns jovens cujas
idades no chegavam a 30 anos. Outros exemplos idnticos acontecem
diariamente nas cidades: perdidos, sem referncia e sem formao adequada
os jovens transgridem as regras como um todo pela impossibilidade de
mover-se confortavelmente nesta nova era histrica.
O Mapa da Violncia 2011 mostra que os avanos da violncia
homicida no Brasil tiveram como eixo a vitimizao de jovens. Os estados
mais afetados por essa vitimizao foram Pernambuco, Rio de Janeiro e
Esprito Santo. Diz o mapa:
Se a magnitude de homicdios correspondentes ao conjunto da
populao j pode ser considerada muito elevado, a relativa ao
grupo jovem adquire carter de epidemia. Os 34,6 milhes de
jovens que o IBGE estima que existiam no Brasil em 2008
representavam 18,3% do total da populao. Mas, os 18.321
homicdios que o Datasus registra para esse ano duplicam
exatamente essa proporo: 36,6% indicando que a vitimizao
juvenil alcana propores muito srias.[...] na faixa de 20 aos
24 anos de idade a taxa de homicdios gira em torno de 63
homicdios em 100 jovens.
13 UFES Programa de Ps-Graduao em Histria
Vale destacar que entre os negros as taxas so mais altas. Diz a
pesquisa: Se na populao branca a taxa de homicdio de 20,6 em 100 mil,
na populao negra de 34,0 em 100 mil, isto , a proporo de vtimas de
comcios entre a populao parda ou negra 65,38 superior a branca.
O segmento jovem da populao brasileira est encurralado,
suicidam-se, matam-se, so atropelados e mortos no trnsito, lutam por vagas
em instituies legais ou ilegais, no fundo sobre eles rebate a perversidade de
um sistema que no encontrou o real caminho da democracia, conceito
vilipendiado pelo mau uso que dele se faz. A rebelio do sculo XXI
protagonizada pelos jovens, seja no formato da resistncia civil seja no da
revolta, pelo fato de as instituies sociopolticas estarem aqum das
respostas s suas reivindicaes. Necessrio se faz politizar a poltica, dado
que o desinteresse da sociedade por ela vem colaborando para a formao de
feudos polticos a partir dos quais so eleitos como representantes dos
parlamentos municipal, estadual e nacional homens que defendem seus
crimes e interesses na esfera pblica. Na verdade, a violncia estrutural do
capitalismo aliou-se da cultura da violncia nas vrias esferas do social, em
uma cadeia perversa de resultados em que no se distinguem incio e fim. No
fundo, a violncia da urbs expressa uma combinao de causas que elevam as
frustraes da populao ao nvel da revolta. Trabalhadores vez por outra
depredam trens, vans e nibus, so homens e mulheres que, pressionados
pelos estrangulamentos da cidade, vem potencializados seus problemas
especficos e reagem at criminalmente quando chegam ao seu limite.
Na verdade, o Brasil chegou era da globalizao com uma
populao com problemas acumulados do perodo colonial e da sociedade
industrial e j anuncia demandas prprias nova era sem que sua cidade e
populao tenham atingido um padro urbano e de cidadania em
consonncia recproca. A ausncia de um padro urbano de qualidade clara
quando se observa uma favela onde os moradores habitam em tal grau de
contiguidades impeditivo de um nvel de sanidade necessria vida. O que
dizer de determinados edifcios com espaos interiores mnimos e
praticamente colados uns aos outros; tambm da populao espremida no
metr, nos trens e das ruas tomadas pelos carros que impedem os passantes a
circular; dos bueiros que explodem sob os nossos ps, das vias
congestionadas por excessos de carros.
Os problemas urbanos da cidade como: locomoo,
congestionamento, precariedade dos servios de saneamento (gua, esgoto e
Dimenses, vol. 27, 2011, p. 2-22. ISSN: 2179-8869 14
resduos slidos), poluio sonora e ambiental, especulao imobiliria do
espao funcionam como uma varivel negativa, como afirmou a Deputada
Aspsia Camargo no Seminrio por ela coordenado sobre Saneamento
Ambiental. Alternativas jurdico-institucionais para os servios de
saneamento no Estado do Rio de Janeiro tm sido apreciadas na Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.
Na sociedade urbana h uma transversalidade que passa pela
privatizao da cidade, sua m gesto e todas as carncias expressas nos
movimentos sociais, sejam eles de raa, gnero ou classe, em uma dinmica
cheia de imprevistos cujo cenrio base a urbanizao generalizada do
mundo. Muito se tem ainda a estudar sobre o assunto, sobretudo sobre a
multiplicidade de dialticas que ocorrem no espao urbano. Mas, a crise
tambm tem seu lado positivo, ou seja, o da repolitizao da sociedade
atravs da comunicao em redes: so idosos, mulheres jovens que da
privacidade de suas casas organizam protestos polticos, como provam os
ltimos acontecimentos na Europa.
Qual a mudana fundamental que temos observados nos
ltimos anos? A passagem de um sistema [...] dominado pela
comunicao de massa, e centrado nos meios de comunicao
de massas para um sistema que eu chamo de autocomunicao
de massas atravs da internet (CASTELLS, 2011).
Na Europa, as praas de algumas cidades tm mostrado a revolta dos
jovens em busca de emprego e voz poltica; os com escolaridade alta buscam
manter o nvel de garantias j conquistadas. Os exemplos de Atenas, Madri,
Paris e, por ltimo, Londres, trazem tona uma revolta sem precedentes
contra os poderes constitudos que no lograram alcanar resultados
satisfatrios para a conquista, de uma vida digna. Se na Espanha a revolta
pacfica, como mostra o exemplo da Praa Sintagma, os exemplos da Frana
e agora de Londres so violentos. De modo geral so jovens filhos de pais
desempregados, alguns deles imigrantes com reduzido horizonte de trabalho.
Nos acontecimentos dos dias 9 e 10 de agosto ltimo, o que se viu em
Londres foi uma juventude saqueando lojas e queimando uma cidade que
circunscreve parte deles em guetos a bem do controle da economia. O tema,
ainda pouco estudado, fica aberto discusso.
15 UFES Programa de Ps-Graduao em Histria
Consideraes finais
O Brasil se destaca por ser um dos cinco pases de maior
concentrao de renda do planeta com suas cidades transformadas em
territrios loteados entre aqueles que detm o poder, onde poder poltico se
confunde com poder econmico.
O professor Reinaldo Guimares, do Instituto de Economia da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, afirma em seu artigo Reduo da
desigualdade de renda no governo Lula: anlise comparada:
Brasil, Honduras, Bolvia e Colmbia, tm os mais elevados
coeficientes de desigualdade na Amrica Latina, que tem, na
mdia, elevados coeficientes de desigualdade pelos padres
internacionais; [] o Brasil experimenta melhora marginal na
sua posio no ranking mundial dos pases com maior grau de
desigualdade entre meados da ltima dcada do sculo XX e
meados da primeira dcada do sculo XXI visto que sai da 4
posio dos pases mais desiguais para a 5 posio.
Pelo padro capitalista adotado no Brasil, no de surpreender a
irrisria diminuio da desigualdade que, somada s tmidas polticas sociais
(habitao, sade, educao de proteo s crianas, mulheres e idosos),
colocam sob o crivo da suspeita a afirmao de uma real democracia no pas.
A fala de Ellen Wood (1995) no livro Democracia contra o capitalismo refora,
nesse sentido o pargrafo anterior: o capitalismo parece atestar diariamente
sua incapacidade de universalizar os direitos humanos. violncia pela
privao de bens essenciais soma-se aquela de bens suprfluos, estimulada
pela propaganda tpica de uma sociedade de consumo dirigido. Nessa
sociedade, a expresso cidadania apresenta-se ao nvel superficial e externo
pela exibio de produtos enaltecidos pela mdia; o desejo em torno deles
mascara o real sentido da democracia no pas. Mata-se por um tnis, celular
ou qualquer produto que d ao usurpador a aparncia de um cidado
integrante da sociedade das grifes.
Embora existam vrios tipos de violncia urbana, este artigo
concentra-se nas manifestaes vinculadas s situaes de pobreza na cidade,
dado que o processo de municipalizao definido pela Constituio de 1988
delegou aos governos municipais a responsabilidade de geri-las
democraticamente. A retrica constitucional no alterou a segregao
socioespacial j existente: as piores reas da cidade, as mais problemticas,
Dimenses, vol. 27, 2011, p. 2-22. ISSN: 2179-8869 16
foram compulsoriamente designadas populao de baixa renda, onde os
transportes, as escolas, os postos de sade ficam longe de atend-la
satisfatoriamente.
At que ponto os direitos sociais inscritos na Constituio de 1988
esbarram na dinmica do capitalismo que abocanha os melhores pedaos do
solo urbano e deixa para as camadas pobres as reas imprprias
urbanizao, reas vizinhas aos cursos de gua, denominadas de APP (reas
de Preservao Permanente) pelo Cdigo Florestal e as reas com
declividades inadequadas.
A luta pelo direito cidade prossegue, seja por meio das
reivindicaes j citadas seja em nome de um democrtico Plano Diretor da
cidade, que no caso do Rio de Janeiro, a pretexto da Copa de 2014 e/ou das
Olimpadas de 2016 vem dilapidando reas de proteo ambiental. Lotes em
reas de convergncia de riachos foram vendidos lotes molhados para
atender aos interesses daqueles envolvidos na execuo do Pacote Olmpico.
Os interesses do grande capital internacional se debruam sobre as cidades
que negam aos seus cidados territrios saudveis de convvio, formao e
atendimento social.
A violncia urbana essencialmente exercida pelos poderes das
cidades e do pas, que em vez de torn-las valor de uso social reforam sua
dimenso de valor de troca transformando-a em mercadoria a quem compr-
la melhor. O sentido democrtico de cidade est em jogo: por falta de
segurana no trabalho, operrios morrem aos magotes; jovens compram
drogas nas portas das escolas; nas escolas e hospitais faltam profissionais e
equipamentos nos campos da sade e educao; mulheres so espancadas...
tudo isso e muito mais, sem que nenhuma resposta institucional contundente
seja feita.
Na transio da sociedade do trabalho sociedade urbana (da
informao ou do conhecimento), cabe o resgate histrico da funo
social que os espaos urbanos geraram na populao: a possibilidade de uma
existncia livre e participativa, de cultura e de segurana. Este o legado que
as cidades trouxeram para o sculo XXI e que no pode ser esquecido.
17 UFES Programa de Ps-Graduao em Histria
Referncias
ABREU, Maurcio (org.). Natureza e Sociedade no Rio de Janeiro. Rio
de Janeiro: Coleo Biblioteca Carioca, 1992.
______. Evoluo Urbana do Rio de Janeiro. Prefeitura da Cidade do
Rio de Janeiro, SMU/Iplanrio, 3. ed., 1997.
ACSELRAD, Henri (org.) A durao das cidades: sustentabilidade e risco
nas polticas urbanas. Rio de Janeiro: DP&A, 2001.
BRADBURY, Malcom; MCFARLANE, James. Guia geral do
modernismo. So Paulo: Cia das Letras, 1989.
ENGELS, F. A. A situao da classe trabalhadora na Inglaterra. So
Paulo: Global , 1985.
GUIMARES, Eduardo. Reduo da desigualdade de renda no governo
Lula: anlise comparada. <http://eduardoguimaraes.com.br>.
GOTTDIENER, Mark. A Produo Social do Espao Urbano. So
Paulo: Edusp, 1993.
CASTELLS, Manuel . A questo urbana. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
2000.
_______. A sociedade em rede. V. I e II. So Paulo: Paz e Terra, 199.
CHUDACOFF, Howard. A evoluo da sociedade urbana. Rio de
Janeiro: Zahar, 1977.
COULON, Alain. A escola de Chicago. Campinas/SP: Papyrus, 1995.
COUTINHO, Ronaldo; Bonizzato, Luigi . Direito da Ci dade.Rio de
Janeiro; Ed,Lmen, 2007
Dimenses, vol. 27, 2011, p. 2-22. ISSN: 2179-8869 18
DAVIS, Mike. Cidade de quartzo So Paulo: Pgina Aberta, 1993.
DICKENS, Charles. Oliver Twist. Rio de Janeiro: Melhoramentos,
2007.
HARVEY, David. A Condio Ps-Moderna. So Paulo: Loyola, 1993.
______. Caminhos e Fronteiras. So Paulo: Brasiliense, 1957.
IANNI, Octavio. Estado e Planejamento Econmico no Brasil (1930-1970). Rio de
Janeiro: Ed. UFRJ, 2010.
INSTITUTO SANGARI; MINISTRIO DA JUSTIA. Mapa da Violncia
2011, <http://www.sangari.com/mapadaviolencia/> , 2011.
KOWRICK, Lucio. Viver em risco. Sob a vulnerabilidade socioeconmica e
civil. So Paulo: Ed. 34, 2009.
LAMAS, Jos P. G. Morfologia urbana e desenho da cidade. Lisboa:
Fundao Calouste Gulbenkian, Junta de Investigao Cientfica e
Tecnolgica, 1992.
LEFEBVRE, Henri. A revoluo urbana. Belo Horizonte: Editora
UFMG, 2002.
______. O Direito Cidade. So Paulo: Moraes, 2001.
LE GOFF, Jacques. Por amor s cidades: conversaes com Jean Lebrun. So Paulo:
Fundao Editora da Unesp, 1999.
______ . Histria e Memria. 4. e. Campinas/SP: Unicamp, 1996.
19 UFES Programa de Ps-Graduao em Histria
MARX, Murillo. Cidade no Brasil, terra de quem? So Paulo:
Edusp/Nobel , 1991.
NORA, Pierre. Entre histria e memria: a problemtica dos lugares. Revista Projeto
Histria. So Paulo, v. 10, p. 7-28, 1993. Revista do Programa de Estudos
Ps-Gradudos em Histria e do Departamento de Histria da PUC-SP
(Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo).
PDUA, Marslio. O Defensor da Paz. Petrpolis/RJ: Vozes, 1995.
PECHMAN, Robert Moses. Gnese do mercado urbano de terras, a
produo de moradias e a formao dos subrbios no Rio de Janeiro .
Dissertao de Mestrado. Rio de Janeiro: IPPUR/UFRJ, 1985.
POULANTZAS, Nicos. Poder poltico e classes sociais. So Paulo: Ed. Paz e
Terra, 1977.
RIBEIRO, Luiz Cesar; SANTOS JUNIOR, Orlando Globalizao
Fragmentao e Reforma Urbana, Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1994.
SANTOS, Milton. Tcnica, Espao e Tempo: Globalizao e Meio Tcnico
Cientfico Informacional. So Paulo: Hucite, 1994.
SOUZA, Marcel Lopes de MTHRASHER, Frederic. (1943), The gang: a
study of 1313 gangs in Chicago structure of an italian slum. Chicago, University of
Chicago Press (4a ecl. de 1993).udar a cidade . Ed. Bertrand Brasil, 202,
RJ
THRASHER, Frederic. (1943), The gang: a study of 1313 gangs in Chicago structure
of an italian slum. Chicago, University of Chicago Press (4a ecl. de 1993).
THRASHER, Frederik. Definitionsof gangs.
<http://www.uic.edu/orgs/kbc/Definitions /thrasher.html>.
Dimenses, vol. 27, 2011, p. 2-22. ISSN: 2179-8869 20
VAZ, Lilian Fessler. Modernidade e moradia: Habitao coletiva no Rio
de Janeiro/sculos XIX/XX. Rio de Janeiro: Faperj/7 Letras, 2002.
VELHO, Gilberto. A utopia urbana. Um estudo de antropologia social .
Rio de Janeiro: Zahar, 1989.
WEBER, Max. Cincia e Poltica: duas vocaes . So Paulo: Cultrix,
1985.
WOOD, Ellen. Democracia contra o capitalismo. Rio de Janeiro:
Boitempo. 1995.
WEYRAUCH, Cleia Schiavo. Rio de Janeiro, um sculo de cidade:
da sociedade do trabalho sociedade da informao. Revista de
Cincias Sociais, v. 38, p. 161, ANO 2002 .
______ . Deus abenoe esta baguna. Rio de Janeiro: Comunit, 2009.
WEYRAUCH , Cleia Schiavo ,; ZETTEL, Jayme (org.). Memria,
Cidade e Cultura Rio: UERJ/IPHAN, 1997.
Notas
*
Artigo submetido avaliao em 26 de julho de 2011 e aprovado para publicao em 24 de
agosto de 2011.
1
Charles Dickens narra em seu livro Oliver Twist as pssimas condies da classe operria na
Inglaterra e ainda revela os males sociais da era Vitoriana. Sua sensibilidade para as questes
sociais so decorrentes da sua prpria experincia de menino pobre no contexto da primeira
metade do sculo XIX.
2
Campanella nascido em Stilo na Calbria foi considerado hertico pela igreja aps ter
escrito o livro Filosofia demonstrada pelos sentidos (1591). Anos depois (1598) projetou uma
comunidade republicana na Calbria presidida por princpios naturalistas (WEYRAUCH ,
Cleia Schiavo , 2009, p. 69)
3
As imigraes irlandesa, alem, polonesa e italiana constituram os maiores grupos tnicos
presentes na cidade de Chicago.
4
THRASHER, Frederik. Definitions of gangs.
21 UFES Programa de Ps-Graduao em Histria
5
Como o nome indica, o interacionismo simblico sublinhou a natureza simblica da vida
social: as significaes sociais devem ser consideradas como produzidas pelas atividades
interativas dos agentes (Blumer, 1969, p. 5, in COULON, 1995, p. 19).
6
Quando em 1892, surgiu a Universidade de Chicago, a cidade tornara-se juntamente com
Nova York e Filadlfia uma das trs maiores cidades americanas, com uma assombrosa taxa
de crescimento: o povoado que contava com 4.470 habitantes no recenseamento de 1840, e
representava ento a fronteira oeste dos Estados Unidos, tinha 1 milho e cem mil 50 anos
depois, em 1890, e chegaria a ter 3 milhes e meio em 1930 (COULON, 1995 , p. 11).
7
Em uma selvagem Chicago dos anos 1930, o jovem policial Eliot Ness decide bater de
frente com o crime organizado do temido Al Capone recrutando alguns homens sem medo
para neutralizar o trfico de bebidas do criminoso durante a lei seca americana (sinopse do
filme no site Telecinerio).
8
A Mfia de Nova York serviu de tema do filme O poderoso chefo dirigido por Frank Ford
Copolla, em 1972.
9
No livro A sociedade em rede, Castells diz: entre as tecnologias da informao incluo o
conjunto convergente de tecnologias em microeletrnica, computao,
telecomunicaes/radiodifuso e optoeletrnica.
10
A teoria do espao consiste em uma especificao de uma teoria geral da organizao
social na medida em que ela se articula com o espao. Isto , no existe uma teoria especfica
do espao, mas simplesmente um desdobramento e especificao da teoria da estrutura
social, a fim de explicar as caractersticas da forma social particular, o espao, e de sua
articulao com outras foras e processos, historicamente dados (GOTTIDIENER, 1993, p.
120).
11
Na dcada de 1980 a Apple Computers alcanou um significativo nmero de vendas e
tambm a Macintosh lanou uma unidade de fcil manipulao (CASTELLS, 1999 )
12
A insero qualitativa ao mercado de trabalho exige o conhecimento permanente, cada vez
mais sofisticado em relao s novas tecnologias da informao. A exigncia da informao
veloz transforma-se em tema preferencial deste novo capitalismo e dela depende a
produtividade das empresas.
13
Na primeira dcada do sculo XXI o Movimento dos Sem Teto movido pela necessidade
de se abrigar ocupou vrios prdios e deu a eles nomes simblicos como: Chiquinha
Gonzaga, Zumbi dos Palmares, O quilombo das guerreiras, Carlos Mariguella, Nelson
Mandela e Manoel Congo (Dissertao de mestrado de Elaine de Freitas, UERJ, 2007).
14
No projeto estratgico da cidade do Rio de Janeiro estava prevista a conexo do Teleporto
com o Porto de Sepetiba.
15
Fiori, Pedro;Fix, Mariana --Pacote habitacional de Lula a privatizao da poltica Urbana in
WWW..correiocidadania.com.br
16
Dados apresentados pela atual ministra de Direitos Humanos Maria do Rosrio.
17
Lei Maria da Penha Disposies Preliminares . Art. 1
o
Esta Lei cria mecanismos para
coibir e prevenir a violncia domstica e familiar contra a mulher, nos termos do 8
o
do art.
226 da Constituio Federal, da Conveno sobre a Eliminao de Todas as Formas de
Violncia contra a Mulher, da Conveno Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a
Violncia contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela Repblica
Federativa do Brasil; dispe sobre a criao dos Juizados de Violncia Domstica e Familiar
Dimenses, vol. 27, 2011, p. 2-22. ISSN: 2179-8869 22
contra a Mulher; e estabelece medidas de assistncia e proteo s mulheres em situao de
violncia domstica e familiar. Art. 2
o
Toda mulher, independentemente de classe, raa,
etnia, orientao sexual, renda, cultura, nvel educacional, idade e religio, goza dos direitos
fundamentais inerentes pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e
facilidades para viver sem violncia, preservar sua sade fsica e mental e seu
aperfeioamento moral, intelectual e social.
Vous aimerez peut-être aussi
- Exposé MilitaireDocument5 pagesExposé Militairecharou007Pas encore d'évaluation
- La Sociologie UrbaineDocument225 pagesLa Sociologie Urbaineh@ss@n6655Pas encore d'évaluation
- Cours UrbanismeDocument41 pagesCours UrbanismeSarah Salmi100% (2)
- Utopia, le manifeste: Penser et agir pour un monde habitableD'EverandUtopia, le manifeste: Penser et agir pour un monde habitablePas encore d'évaluation
- Cours UrbanismeDocument93 pagesCours Urbanismefadoua saddiqePas encore d'évaluation
- Sociologie de L'habitatDocument9 pagesSociologie de L'habitatأحمد أمين العلويPas encore d'évaluation
- La Domination PoliciereDocument204 pagesLa Domination PoliciereArthedainkPas encore d'évaluation
- Cours N° 2 Histoire Des Théories Urbaines2Document8 pagesCours N° 2 Histoire Des Théories Urbaines2Ana IsePas encore d'évaluation
- Système de Santé Dans Le MondeDocument4 pagesSystème de Santé Dans Le Monderossso100% (1)
- Management JaponaisDocument16 pagesManagement Japonaisimanita100% (5)
- Rebuilt - INTRODUCTION AU PHENOMENE URBAINDocument6 pagesRebuilt - INTRODUCTION AU PHENOMENE URBAINAna IsePas encore d'évaluation
- LEFEBVRE, H. Quand La Ville Se Perd Dans La Metamorphose PlanetaireDocument3 pagesLEFEBVRE, H. Quand La Ville Se Perd Dans La Metamorphose PlanetairevalterlucPas encore d'évaluation
- Remy AlainDocument36 pagesRemy AlainCláudio Smalley100% (1)
- Ville Berceau de Violence A LevelDocument2 pagesVille Berceau de Violence A LevelazairrusPas encore d'évaluation
- Ijias 18 210 04Document9 pagesIjias 18 210 04sami anzarPas encore d'évaluation
- Dysfonctionnements Internes Et Externes: Face AuxDocument7 pagesDysfonctionnements Internes Et Externes: Face AuxYassir BoukhdimiPas encore d'évaluation
- DÉSORDRES URBAINS Francois - RangeonDocument8 pagesDÉSORDRES URBAINS Francois - RangeonGwladys BettoPas encore d'évaluation
- Politique, Télévision Et Nouveaux Modes de Représentation en Amérique LatineDocument36 pagesPolitique, Télévision Et Nouveaux Modes de Représentation en Amérique LatineJesús Martín BarberoPas encore d'évaluation
- Guerre des lignes de faille: Guerre des lignes de faille – Stratégies des conflits modernesD'EverandGuerre des lignes de faille: Guerre des lignes de faille – Stratégies des conflits modernesPas encore d'évaluation
- R SennetDocument4 pagesR SennetdiscomolinoPas encore d'évaluation
- Citoyenneté Et Civilité Aujourd'Hui Quelques ÉclaircissementsDocument1 pageCitoyenneté Et Civilité Aujourd'Hui Quelques ÉclaircissementsZineb FikriPas encore d'évaluation
- Métropolisation Et Territoire. Éclairage Conceptuel Les Nouvelles Utopies UrbainesDocument14 pagesMétropolisation Et Territoire. Éclairage Conceptuel Les Nouvelles Utopies Urbainesing.mata1506Pas encore d'évaluation
- 1 PBDocument19 pages1 PBgtaPas encore d'évaluation
- 1 PBDocument22 pages1 PBAsmaa El azharPas encore d'évaluation
- Publique, La Documentation Française, Paris, 2000: Les Banlieues Populaires Entre Intégration, Affiliation Et ScissionDocument11 pagesPublique, La Documentation Française, Paris, 2000: Les Banlieues Populaires Entre Intégration, Affiliation Et Scissionpriscila müller leriasPas encore d'évaluation
- Camalon-Creissen Discours Et Programme Pour Saint-Andre 2020Document35 pagesCamalon-Creissen Discours Et Programme Pour Saint-Andre 2020Zinfos974100% (1)
- Cours D - UrbanismeDocument107 pagesCours D - UrbanismeAnis MeftehPas encore d'évaluation
- Gestion Des Espaces Urbains Dans Les PedDocument85 pagesGestion Des Espaces Urbains Dans Les PedFr Arnold MbPas encore d'évaluation
- Metropoles 2562 3 La Ville Comme Machine A MobiliteDocument27 pagesMetropoles 2562 3 La Ville Comme Machine A MobiliteЕлена ТрубинаPas encore d'évaluation
- Arrif Abdelmajid Ville Coloniale MarocDocument16 pagesArrif Abdelmajid Ville Coloniale MarocAhmed KabilPas encore d'évaluation
- Anthropo de La Ville Dans La VilleDocument14 pagesAnthropo de La Ville Dans La VilleKaborePas encore d'évaluation
- L'approche Culturelle de La GlobalisationDocument38 pagesL'approche Culturelle de La GlobalisationJesús Martín Barbero100% (2)
- Mulaire L'urbanisationDocument28 pagesMulaire L'urbanisationchristopherromulus509Pas encore d'évaluation
- La Grande Transformation Histoire1Document5 pagesLa Grande Transformation Histoire1arnaudolliboPas encore d'évaluation
- Coudurier LivbrestDocument328 pagesCoudurier LivbrestseznekPas encore d'évaluation
- De Ma Ville À Notre Ville: Les Enjeux D'une Nouvelle Urbanité PlurielleDocument19 pagesDe Ma Ville À Notre Ville: Les Enjeux D'une Nouvelle Urbanité PlurielleEric MvogPas encore d'évaluation
- 00 - MVT (ESSEC France - TALLAND) - Sociologie UrbaineDocument98 pages00 - MVT (ESSEC France - TALLAND) - Sociologie Urbaineech-charqaouyPas encore d'évaluation
- CM Géographie UrbaineDocument10 pagesCM Géographie UrbaineahmatadamguidamPas encore d'évaluation
- Introduction À La Sociologie Urbaine - 2e Éd. (Jean-Marc Stébé, Hervé Marchal) - 1Document297 pagesIntroduction À La Sociologie Urbaine - 2e Éd. (Jean-Marc Stébé, Hervé Marchal) - 1Fadi ES FahdPas encore d'évaluation
- Un Regard Sur La Colombie. Les Medias Et Le ConflitDocument70 pagesUn Regard Sur La Colombie. Les Medias Et Le ConflitPablo Andrés CastellPas encore d'évaluation
- Société CivileDocument24 pagesSociété CivileSebastien GeorgesPas encore d'évaluation
- Cours de Droit de L'urbanisme Et de L'aménagement Du Territoire 2020-2021Document25 pagesCours de Droit de L'urbanisme Et de L'aménagement Du Territoire 2020-2021life is beautiful MsPas encore d'évaluation
- Espace Et Théories Sociologiques RésuméDocument4 pagesEspace Et Théories Sociologiques RésuméZiyad MorinoPas encore d'évaluation
- Sociologie UrbaineDocument9 pagesSociologie UrbaineIngrid ArianePas encore d'évaluation
- La Vulnérabilité Des Villes Au TerrorismeDocument11 pagesLa Vulnérabilité Des Villes Au TerrorismeRudic DomencoPas encore d'évaluation
- Plaidoyer pour une démocratie directive: Un concept inédit pour réenchanter le mondeD'EverandPlaidoyer pour une démocratie directive: Un concept inédit pour réenchanter le mondePas encore d'évaluation
- Des Métropoles Inégales Et en Mutation: Theme 1 La Métropolisation: Un Processus Mondial DifférenciéDocument5 pagesDes Métropoles Inégales Et en Mutation: Theme 1 La Métropolisation: Un Processus Mondial DifférenciémayaPas encore d'évaluation
- Cou Rs-Urb Anisme - WatermarkDocument41 pagesCou Rs-Urb Anisme - WatermarkNesrine EllouzePas encore d'évaluation
- MétropolisationDocument2 pagesMétropolisationsimon974.richardPas encore d'évaluation
- CIRAD - Pratiques Et Politiques de La Ville Solidaire / Dihal - PucaDocument291 pagesCIRAD - Pratiques Et Politiques de La Ville Solidaire / Dihal - PucaDélégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement des personnes sans abri ou mal logées (Dihal)Pas encore d'évaluation
- Economie Spatiale Lespace Produit Francois PlassardDocument20 pagesEconomie Spatiale Lespace Produit Francois PlassardJinOtakuPas encore d'évaluation
- Bensaid, D. La Democratie A VenirDocument10 pagesBensaid, D. La Democratie A VenirGustavo Bustos GajardoPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 - Cours I.Document6 pagesChapitre 1 - Cours I.YassinePas encore d'évaluation
- Marges et marginalités au Brésil: Espaces, pouvoir et sociétéD'EverandMarges et marginalités au Brésil: Espaces, pouvoir et sociétéPas encore d'évaluation
- Histgeo Programme TermDocument5 pagesHistgeo Programme Terminfo rap galsen officielPas encore d'évaluation
- Kulturindustrie by Theodor W. Adorno, Max HorkheimerDocument51 pagesKulturindustrie by Theodor W. Adorno, Max HorkheimerJean-Paul Friedrich NgabuPas encore d'évaluation
- Gentrification Et Paupérisation Des MétropolesDocument16 pagesGentrification Et Paupérisation Des MétropolesN. BoutiraPas encore d'évaluation
- Geographie Sociologie Urbaine Premiere Annee - 1Document33 pagesGeographie Sociologie Urbaine Premiere Annee - 1Wilhem loukibouPas encore d'évaluation
- Résumé Karl Marx Et IIDocument1 pageRésumé Karl Marx Et IIKokou Gaston OSOUPas encore d'évaluation
- Villes en Mutation - Brahim BenyoucefDocument18 pagesVilles en Mutation - Brahim BenyoucefRBGHPas encore d'évaluation
- Ethique L1 - Chap 2Document15 pagesEthique L1 - Chap 2PharellePas encore d'évaluation
- TENZIN NyimaDocument2 pagesTENZIN Nyimanyimay311Pas encore d'évaluation
- Les États-Unis D'amérique (USA) : Étude Physique, Humaine Et ÉconomiqueDocument8 pagesLes États-Unis D'amérique (USA) : Étude Physique, Humaine Et Économiquecheicknadiarra037Pas encore d'évaluation
- Voc 5Document485 pagesVoc 5lrivisobjPas encore d'évaluation
- 5 La Paire USD JPYDocument12 pages5 La Paire USD JPYSamamo Dasilva100% (1)
- JoDocument3 pagesJosekkaidropPas encore d'évaluation
- Esclaves Et Église MémoireDocument617 pagesEsclaves Et Église MémoirefabiolaPas encore d'évaluation
- Fiche de Lecture. de La Démocratie en Amérique - TocquevilleDocument5 pagesFiche de Lecture. de La Démocratie en Amérique - TocquevilleLouis BergPas encore d'évaluation
- Bonnes Feuilles ArabesqueDocument9 pagesBonnes Feuilles ArabesqueaekPas encore d'évaluation
- Rje 111 0031Document26 pagesRje 111 0031huguesdiahi23Pas encore d'évaluation
- SONASIDDocument16 pagesSONASIDBch Amiinoo0% (1)
- L'economie Mondiale, 2019, Cepii PDFDocument100 pagesL'economie Mondiale, 2019, Cepii PDFabderrrassoulPas encore d'évaluation
- About America EcosystemDocument9 pagesAbout America EcosystemCac SiguerPas encore d'évaluation
- Tout Ce Que Vous Avez Toujours Voulu Savoir À Propos de La Patate Douce PDFDocument105 pagesTout Ce Que Vous Avez Toujours Voulu Savoir À Propos de La Patate Douce PDFAnouar Mohamadou100% (1)
- Alin 31371500 2020Document28 pagesAlin 31371500 2020Manuella NdongoPas encore d'évaluation
- Elihu Katz Sxi Interpretations de La Serie DallasDocument20 pagesElihu Katz Sxi Interpretations de La Serie DallasAlainzhuPas encore d'évaluation
- Les Relations EstDocument2 pagesLes Relations EsthenryPas encore d'évaluation
- Les Intellectuels Et Les Responsabilités de La Vie Publique, Par Noam ChomskyDocument11 pagesLes Intellectuels Et Les Responsabilités de La Vie Publique, Par Noam ChomskyPaulo MarcelinoPas encore d'évaluation
- Sur Congres International de Haiti 2Document15 pagesSur Congres International de Haiti 2lou3bePas encore d'évaluation
- X E SaidDocument12 pagesX E SaidNovelPas encore d'évaluation
- Les États-Unis: Logiques D'Intervention Extérieure: Le Dessous Des CarDocument7 pagesLes États-Unis: Logiques D'Intervention Extérieure: Le Dessous Des CarYounes LakhalPas encore d'évaluation
- 2 Une Aire Culturelle LAmérique Des PlantationsDocument11 pages2 Une Aire Culturelle LAmérique Des PlantationsT MuschelPas encore d'évaluation